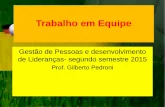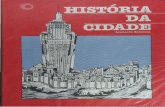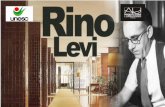motoboys, circulação e trabalho precário na cidade de são ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of motoboys, circulação e trabalho precário na cidade de são ...
MOTOBOYS, CIRCULAÇÃO E TRABALHO PRECÁRIONA CIDADE DE SÃO PAULO
Ricardo Barbosa da Silva*
RESUMO:A atividade profissional dos motoboys aparece como produto e necessidade de um contexto históricode fin de siècle, revelando parte das transformações socioespaciais na cidade de São Paulo na transiçãodo século XX para o XXI, e encarnando dois pólos de um mesmo problema a partir da nova condiçãoda cidade e do mundo do trabalho.PALAVRAS-CHAVE: Cidade; Espaço; Circulação, Trabalho Precário, Motoboys
ABSTRACT:The professional activity of motoboys appears as product and necessity of a historical context of fin desiècle, revealing part of the socio-spatial transformations in the city of São Paulo in the transistion ofcentury XX for the XXI, embodying two poles of the same problem from the new condition of the cityand the world of the work.KEYWORDS: City; Space; Circulation Precarious Work, Motoboys
Introdução
A atividade profissional dos motoboys éum fenômeno urbano bastante recente: tem suasorigens em meados da década de 80 e impulsodefinit ivo nos prelúdios da década de 90(OLIVEIRA, 2003, p. 38) e, indubitavelmente, écada vez mais integrado à paisagem urbana dacidade de São Paulo.
Porém, devido ao seu rápido e exponencialcrescimento1, aliado à dinâmica e a natureza desua atividade profissional, os motoboys passama ser alvos certos e constantes nas mais diversascontrovérsias nas ruas e avenidas de São Paulo,pondo ainda mais combustão no seu conflituosono trânsito.
São justamente os motoboys no trânsitoque, entre insultos e gentilezas, entre agressõesfísicas e morais, entre um acidente e outro, entreum retrovisor que cai e uma porta que amassa,aceleram forte, pois, antes de tudo, a entregaprecisa chegar ao seu destino certo e no tempo
previsto. São eles, os chamados cachorrosloucos2, que expõem vivas as estratégias e aslógicas do capitalismo contemporâneo comoforma de garantir no espaço as exigências dacirculação fluída, de modo a garantir acumulaçãosempre ampliada do sistema capitalista na cidadede São Paulo.
E é nesta relação tênue entre o motoboye a cidade, entre as exigências do tempo e limitesdo espaço, entre a expectativa e a satisfação dasentregas rápidas, entre o luxo e a precariedade,entre o imprescindível e o estigmatizado, entre avida e o desalento da morte, que a atividadeprofissional dos motoboys liga-se a uma novaprática socioespacial na cidade de São Paulo.
E é sobre essa nova prática em uma novacondição da cidade e do mundo do trabalho queesta análise deter-se-á. É neste sentido que esteartigo visa demonstrar que a problemática daatividade dos motoboys não começa e nemencerra em si mesma. Não pretende classificá-
* Mestrando em Geografia Humana pelo DG/USP. Orientando da Profª Amália Inês G. de Lemos. E-mail: [email protected]
GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, pp. 41 - 58, 2009
42 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, 2009 SILVA, R.B.
los enquanto heróis ou vilões do trânsitopaulistano. Nem mesmo associar seu modusoperandi no trânsito como resultado,estritamente, de sua imperícia e imprudênciaindividual. Mas, antes de tudo, compreender essaatividade profissional como produto e necessidadede um contexto histórico de fin de siècle, querevelam parte das transformações socioespaciaisna cidade paulistana na transição do século XX,já que contraditoriamente é submetida e reproduzas estratégias e as racionalidades do capitalismocontemporâneo como forma de garantir asexigências da circulação fluida no espaço,possibilitando realização de parte do consumo emescala ampliada na cidade de São Paulo.
Essa análise a partir da atividadeprofissional dos motoboys permite, então,anal isar parte das transformaçõessocioespaciais na cidade paulistana na transiçãodo século XX para o XXI, encarnando dois pólosde um mesmo problema: uma nova condiçãoda cidade e do mundo do trabalho, traduzindoassim, uma nova prática socioespacial,definindo certos usos, formas de apropriação,intensidade de circulação e as condições deacessibilidades ao espaço urbano.
Na Garupa do Trabalho Precário:características e condições de trabalho dosmotoboys
O mundo contemporâneo, que despontaembalado por uma nova etapa do capitalismona transição do século XX para o XXI, revela-se permeado por transformaçõessocioespaciais, reagindo, dialeticamente, naestrutura da sociedade, da economia e doespaço geográfico.
Mas essas transformações não seapresentam como ruptura do sistemacapitalista (HARVEY, 1996, p.164). Nem mesmoaparecem dando cabo à centralidade dacategoria trabalho na contemporaneidade(ANTUNES, 2003, p. 83). Ao contrário, no fundo,o estabelecimento desse processo revela-secomo um estágio superior do desenvolvimentoantagônico das forças produtivas do capitalismomoderno, que se traduz na transição – não
substituição – de um modelo de acumulaçãofordista para um de acumulação flexível(HARVEY, 1996; ANTUNES, 2003; SOJA, 1993).
À primeira vista, as transformações noregime de acumulação parecem vincular-seestritamente aos escopos da economia, de fato,espraia-se na emergência de novas práticassociais e políticas, de novos padrões de consumoe um crescente setor de serviços, ditando umasérie de novas mudanças nas práticaseconômicas, políticas, culturais e espaciais(HARVEY, 1996, p. 140; GOTTDIENER, 1990, p.59; BENKO, 1996).
No fundo, esse novo modelo deacumulação, que se reveste do jargão flexível3,evidencia o histórico processo antagônico docapitalismo que se impinge, dialeticamente,através da estratégia de precarização do trabalhode modo a diminuir os custos produtivos(CACCIAMALI, 2002; MARTINS, 1994, p. 109;ALVES, 2000, p. 24) que articulada a umasociedade de mercado, embala a cidade inteirasob um ritmo cada vez mais acelerado do giro docapital, dando gás a uma nova prát icasocioespacial sob a batuta do consumismo.
E é sobre as transformaçõessocioespaciais na cidade e no mundo do trabalhoque a atividade profissional dos motoboys setraduz como um ângulo privilegiado de análise.Pois essa atividade - impulsionada pelas altastaxas de desemprego (Gráfico 1), pelo intensocrescimento do setor de serviços (Gráfico 2), pelaimplosão e junção de velhas e novas normas deregulamentações do trabalho, pelas novaspráticas socioespaciais, voltadas para o consumodesenfreado em um espaço onde a exigência é acirculação sempre fluída, - conecta-se a umadensa rede informacional articulada a uma espéciede gestão da circulação no espaço urbano, quevisa garantir a circulação fluída de mercadorias,pessoas e informações que de forma mais oumenos aguda vem revelando as condições e ascontradições de uma das mais predatóriasatividades profissionais da cidade de São Paulo,principalmente, para um verdadeiro batalhão demotoboys que se enquadram no precário mundodo trabalho.
Motoboys, circulação no espaço e trabalho precário na cidade de São Paulo, pp. 41 - 58 43
A categoria profissional, usualmente,chamada de motoboys recebe diversasdenominações pela sociedade. E como se tratade trabalhadores que despertam sentimentos quevariam do amor ao ódio muito rapidamente,alguns se limitam a tentar denominá-lossimplesmente de motociclistas ou motoqueiros,outras tantos, não se prestam a mais do queestigmatizá-los, sendo chamados por um semnúmero de pessoas – inclusive por eles mesmos– de cachorros loucos.
No caso da Prefeitura do Município de SãoPaulo, a Lei Nº 14.491, de 27 de julho de 2007,no Art. 3º,VII, retrata-os a partir do termomotofrete, que se refere à: “modalidade detransporte remunerado de pequenas cargas ouvolumes em motocicleta, com equipamentoadequado para acondicionamento de carga, nelainstalado para esse fim”. Em 2003, o Ministériodo Trabalho e Emprego, define essa categoria apartir da Classificação Brasileira de Ocupações,no registro nº 5191-10, “Motocicl ista notransporte de documentos e pequenos volumes– Motoboys” (MINISTÉRIO DO TRABALHO EEMPREGO, 2006).
Entretanto, nesta pesquisa, adenominação utilizada será a de motoboys, umavez que, não é a nossa intenção buscar uma
melhor definição etimológica para esta categoriaprofissional. A palavra motoboy, de origeminglesa, é um neologismo composto pela junçãode duas palavras (motorcycle = moto e boy=garoto). É muito provável que as transformaçõesno mundo do trabalho tenham contribuído para aproliferação do motoboy, que seria uma espéciede metamorfose circulante do antigo office-boy.Sabe-se que o termo motoboy em si, carregaalgumas imprecauções no que se refere àcaracterização dessa atividade. Apesar da maioriadeles pertencerem ao sexo masculino, não dáconta de explicar o fato de muitas mulheresocuparem postos nessa atividade, como também,exclui uma parcela considerável de adultos quedesempenham esta função. Entrementes, dianteda força que o termo motoboy carrega tantopositivamente quanto negativamente, servir-se-á dele para melhor ilustrar a problemática dessaclasse trabalhadora.
De modo geral, essa é uma atividaderelativamente recente na dinâmica urbana de SãoPaulo. Conforme Gilvando Oliveira relata:
A ocupação surgiu no Brasil, no início da décadade 80, mais precisamente no ano de 1984. Oprimeiro empresário de serviços de moto-entrega que se tem notícia foi Arturo Filosof,um argentino que, em 1984, trouxe a idéia de
Fonte: SEADE-DIEESE.Organizado por Ricardo Barbosa da Silva.
0
2
4
68
10
12
14
16
18
20
Taxa de Desemprego - Cid. de São Paulo, 1985-2007%
0
10
20
30
40
50
60
70
Distribuição dos Ocupados por Setor de Atividade Cid. de São Paulo, 1988-2007
Indústria Comércio Serviços
%
1. Gráfico 2. Gráfico
Fonte: Convênio SEADE-DIEESE.Organizado por Ricardo Barbosa da Silva.
44 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, 2009 SILVA, R.B.
Buenos Aires para São Paulo, onde fundou aDiskboy. Sua empresa levou alguns meses parareceber a primeira encomenda, mas em 1985já era amplamente conhecida na cidade, sendonoticiada em vários jornais e revistas nacionais(2003, p. 38).
Neste momento, a Diskboy era aproprietária da frota de motos, todavia nãodemorou muito para ela tornar-se destaque narelação das empresas que mais cometeraminfrações no trânsito: com 119 metros de multas[...] Essas infrações levaram a empresa a vendersua frota de 80 motos e contratar motociclistacom moto própria, para se livrar das multas epor entender que o motoboy proprietário de seuveículo devia tornar-se mais responsável notrabalho (Ibid. p. 38).
Atualmente, a maioria, de um universoaproximado de 200 mil motoboys na cidade deSão Paulo, é proprietária de suas motocicletas.Para eles possuir uma motocicleta tornou-seum ponto de partida para a inserção nestaatividade profissional, funcionando como umdos atributos de seleção nas empresas. Foiassim que contou o motoboy Marcos, de 27anos, que nos disse: “tem que ter moto, senão, não trabalha. Geralmente a maioria temsua moto própria. Se não tiver moto a empresanem aceita. A empresa não quer ter vínculonenhum”. Questionei-o se a maioria dos motoboysera dona da sua própria motocicleta, eleconfirmou: “a maioria tem, uns 90% ou mais”.Além disso, a maior parte deles tem que arcarcom as despesas de sua motocicleta. Sobre esteassunto, o motoboy Carlos Eduardo, de 26 anos,confirma: “a maioria dos motoboys, uns 80%, temque bancar as despesas da moto”. Entre essasdespesas incluem-se equipamentos de segurança(capacete, colete, luvas, botas, mata-cachorro –equipamento para proteção de membrosinferiores –, antena – equipamento para proteçãoda integridade do condutor contra linhas de cerolde pipas, fios e cabos aéreos), as despesas coma manutenção e os reparos na motocicleta, alémé claro, do combustível para abastecê-la.
A motocicleta como ponto de partida parao exercício da atividade dos motoboys foi
possibilitado, em parte, pela maior facilidade desua aquisição. Comprar uma motocicleta zeroquilômetro de baixa cilindrada, como por exemploo modelo Honda CG 150 Titan 4, custaaproximadamente R$6.200,00, podendo serfinanciada em até 48 parcelas em média deR$260,00, sem contar, que o Banco do Brasilconcedeu uma linha de crédito de R$100 milhõespara financiamentos de motos de até R$8.500,voltadas especificamente aos motoboys5 - estevalor, superior ao preço da motocicleta, já levaem consideração os equipamentos necessários eobrigatórios para o desempenho da função demotoboy. Além disso, os motoboys têm a opçãodo consórcio com inúmeras parcelas e com jurosmais convidativos, podendo parcelar a moto em72 prestações de R$110,006.
De modo geral pode-se auferir que ocrescimento da frota de motocicletas é umfenômeno nacional, impulsionado evidentementepelas características socioespaciais particularesde cada lugar. As motocicletas têm um usobastante variado no território brasileiro,e mais doque isso, elas vêm reforçando e alterando algunshábitos. Usadas para lazer e veraneio nas maisrecônditas localidades desse país, ela possibilitaaos mais pobres algo até algum tempo atrásreservado aos mais abastados. No meio rural, apaisagem antes tomada por animais que serviamde transportes e às mais variadas funções,mudou. Hoje eles foram relegados à própria sortesob o revés dos peões de duas rodas. Naspequenas e médias cidades, como também, nasperiferias socioespaciais de algumas grandescidades, já funcionam o serviço de moto-táxi7,justamente em espaços sociais que ainda estocama confiança e solidariedade entre os pares, semcontar que nas perifer ias as motocicletasconseguem vencer uma geografia toda particular,baseada numa emaranhada trama de ruas e vielasque se acotovelam num território esquecido pelopoder político. Nas grandes cidades, como diriaJane Jacobs8 (1961) o lugar “cheio de estranhos”(full of strangers), o perigo de assalto que oanonimato proporciona e a iminência de acidentesde trânsito é o gás para a motocicleta proliferarmenos como moto-táxi do que como meio detransporte sob conta e risco do indivíduo que a
Motoboys, circulação no espaço e trabalho precário na cidade de São Paulo, pp. 41 - 58 45
pilota fugindo do ineficiente transporte público dametrópole e, também, como uma importantefonte de trabalho e renda para um contingenteimenso de motoboys, incluídos nas hastesprecárias do mundo do trabalho.
Não por acaso, no Brasil, em 2000,conforme dados do Departamento Nacional deTrânsito (Denatran), circulavam cerca de3.550.177 de motocicletas, já em 2008, o númerochegou a 11.045.686, representando umcrescimento em torno de 305% no período citado.Sendo que em 2008 as motocicletas no Estado ecidade de São Paulo representavam,respectivamente, aproximadamente 23% e algoem torno de 6 % do total da frota brasileira9.
Neste mesmo roldão a frota demotocicletas na cidade de São Paulo vemapresentando um intenso crescimento. Segundoo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo(Detran-SP), em 2000, a frota chegava a 348.098motocicletas, passando para 658.973motocicletas, em 2008, o que representa umacréscimo aproximado de 90% no período. Semcontar que a participação da motocicleta notrânsito subiu de 7%, em 2000, para 11%, em2008, do total dos veículos na cidade de SãoPaulo, o que representa cerca de 58% deaumento10 (Gráfico 3).
Mesmo sem uma evidência mais rigorosado ponto de vista empírico que comprove o
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Participação de Motocicletas 7 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 9,3 10,1 11
Frota de Motocicletas 348098 377805 405969 437515 470195 503937 499686 569806 658973
0
2
4
6
8
10
12
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Evolução da Frota e da Participação de Motocicletas no Trânsito -Cidade de São Paulo, 2000 a 2008.
%
3. Gráfico
Fonte: DETRAN-SPOrganizado por Ricardo Barbosa da Silva.
46 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, 2009 SILVA, R.B.
crescimento e o tamanho mais próximo possívelda realidade acerca da atividade profissional dosmotoboys, é inegavelmente um fenômeno urbanovisto à olhos nus nas ruas e avenidas das grandescidades do Brasil. Em entrevista a nós concedida,Gilberto Almeida dos Santos, o “Gil”, Presidentedo Sindicato dos Mensageiros Motociclistas,Ciclistas e Moto-Taxistas do Estado de São Paulo,disse-nos assim sobre a questão: “creio que entre200 e 250 mil só na cidade de São Paulo”. Destemontante, indubitavelmente, a atividade dosmotoboys representa uma parcela consideráveldesse mercado. Segundo Aldemir Martins deFreitas, o “Alemão”, Presidente do Sindicato dosTrabalhadores Motociclistas da Cidade de São
Paulo, há uma estimat iva que a cada dezmotocicletas Honda CG de baixa cilindradavendidas, sete são para os motoboys.
Deste universo de motocicletas,indubitavelmente, a atividade dos motoboyscompõe-se de uma parcela considerável. Em umestudo publicado pela Companhia de Engenhariade Tráfego - CET11, em 2002, foram entrevistados999 motociclistas na cidade de São Paulo, dessescerca de 66% eram motoboys e 34% deles erammotociclistas (usavam a moto como meio detransporte ou lazer). Em outro estudo publicadopela CET12, em 2003, dos 1141 motociclistasentrevistados, 62% eram motoboys e 38% erammotociclistas13 (Gráfico 5).
0 10 20 30 40 50 60 70
Motociclista
Motofretista
33,4
66,6
37,6
62,4
Principal Uso da Motocicleta
2002 2001
%
0 20 40 60 80 100
Fem.
Masc.
0,3
99,7
1,1
98,9
Sexo dos Condutores
2002 2001
%
5. Gráfico 6. Gráfico
Fonte: CET, 2002-2003Organizado por Ricardo Barbosa da Silva.
Fonte: CET, 2002-2003Organizado por Ricardo Barbosa da Silva
Neste esteio, quando a questão refere-seao gênero é patente o predomínio do sexomasculino, os números que giram em torno de 99%do total (Gráfico 6). No que se refere àescolaridade, pode ser verificado que 40% dosmotoboys possuem o Ensino Fundamental II, 26%o Ensino Médio e 10% têm Ensino Superior.Porcentagens relat ivamente abaixo quandocomparadas às dos motociclistas, nas quais 24%deles possuem o Ensino Fundamental II, 47% oEnsino Médio e 28% o Ensino Superior (Gráfico 7).
Um dos quesitos que salta aos olhosconcerne à faixa etária dos motoboys, observa-
se um predomínio de jovens entre 20 e 24 anos,que representam 32% do total. E ainda, seagruparmos aqueles da faixa etária de 18 a 29percebe-se um predomínio de 77%. Já no quetange aos motociclistas há um predomínio de 22%entre 25 e 29 anos. Contudo, somando-os de 18a 29 anos chega-se a 51% do total. Em síntese,pode-se auferir em relação ao uso demotocicletas, que é um fenômeno com maiorpresença entre os jovens, entrementes, se aanálise se limita aos motoboys, percebe-se ofenômeno marcante que de 10 motoboys,aproximadamente 8 são jovens14(Gráfico 8).
Motoboys, circulação no espaço e trabalho precário na cidade de São Paulo, pp. 41 - 58 47
Para Heloísa Mart ins, da Cia. deEngenharia de Tráfego (CET), a atividade dosmotoboys aparece como uma oportunidadepara os jovens com baixa qualificação que nãoconseguiram se inserir no mercado de trabalho:
eu acho que o trabalho do motofrete surgiuem São Paulo como uma oportunidade, parauma grande quantidade de jovensdesempregado sem qualificação, que devidoo desenvolvimento das forças produtivasatualmente a falta de qualificação vai manteressa gente sem emprego. Cada vez énecessário ter um diferencial para se colocarno mercado de trabalho, então, pessoal quesó fez o ensino médio, não fala bem oportuguês, não apresenta nada de diferente,fica entre a opção de trabalhar comoajudante, auxiliar ou coisas assim e ganhaaté 500 reais por mês. O motofretista temhoje um piso de 650 reais, ele aluga amotocicleta e ganha produtividade, se elefizer mais entregas, tem lá motofretistas quechegam a ganhar 2000 reais, essa é umaexcelente profissão pra quem não temopção.
Mas a necessidade de sal ientar oexpressivo percentual de jovens na garupa de
motocicletas faz necessário frisar que estaatividade comporta pelo menos duas gerações.Obviamente, sem buscar uma general izaçãodefinidora, pode-se notar a primeira geração, queé resultado direto do processo de reestruturaçãoprodutiva na metrópole de São Paulo, que levoumi lhares de trabalhadores na condição dedesempregados, muitas vezes, sem opção a sealocar nesta atividade profissional – que, àprincípio, para muitos deles não representavamais do que um trabalho provisório. Mas devidoàs escassas oportunidades no mercado detrabalho, boa parte deles permaneceu nestaatividade – o que sem dúvida lhes confere o títulode pioneiros. Em entrevista a Natércio, 41 anos,apesar de trabalhar desde 1993, disse-me tinhagente com mais tempo do que ele nestaatividade, porém explicou-me como foi o inícioda atividade: “no começo não era a metade doque era antes. Hoje o pessoal se vêdesempregado, a opção é comprar uma moto etrabalhar de motoqueiro”. Perguntei-o se foraassim com ele, então respondeu: “quando eucomecei, eu estava desempregado. Mas eu játinha uma moto. Ai passou um rapaz e perguntouse eu queria trabalhar, tava desempregado, mechamou, ai eu fui; na situação que eu tava,pagando aluguel”.
0
10
20
30
40
50
60
Ens. Fundamental II Ens. Médio Superior
Escolaridade dos Condutores
Motociclistas Motrofretistas
%
0
5
10
15
20
25
30
35
< 18 18-19 20-24 25-29 30-34 45 e + Nr
Faixa Etária dos Condutores
Motociclista Motofretista
7. Gráfico 8. Gráfico
Fonte: CET, 2003Organizado por Ricardo Barbosa da Silva
Fonte: CET, 2003Organizado por Ricardo Barbosa da Silva
48 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, 2009 SILVA, R.B.
No trabalho de campo observa-se que atodo instante a primeira geração de motoboystentava diferenciar-se da segunda geração nãotanto pela idade, mas pelo maior traquejo evivência no violento trânsito urbano. Para DINIZ(2003, p.16), os motoboys mais experientes:“encontram no saber acumulado e na redesolidária tecida com seus pares um meio paraatenuar a densidade do trabalho e evitar osacidentes”.
Já a segunda geração, aparecebasicamente relacionada aos jovens que na suamaioria não conseguiram (e não vêmconseguindo) inserção em outra at ividadeformal no mercado de trabalho e, sem muitasopções, foram se aventurar como motoboy notrânsito urbano da metrópole. São eles, muitasvezes, os cachorros loucos que pilotam de formaperigosa e imprudente, expondo-seeminentemente aos riscos do trânsito urbanode São Paulo. É justamente, neste sentido, queo motoboy Irlei, 38 anos, relata-nos sobre aquestão: “o cara mais novo corre por que nãotem experiência. A empresa chega no cara ediz ‘é pra ontem’. As vezes nem é tão urgente.Eu mesmo já peguei serviço aqui e ele falou‘vai lá que é da diretoria e é urgente’, peguei,fui lá cadê o cara, tava viajando, era até umfinal de semana prolongado”. Ainda sobre otema, Natércio fala: “a diferença dessa garotadahoje, entre 18 a 25 anos, pra eles é aventura.É pegar o serviço e sair que nem doido na rua.Para eles é só temporário até achar um outro esair. Em seguida, perguntei se mesmo com todasua experiência ele também não cometia algumabuso, aí me disse: “não eu ando devagar, quemmais corre são os mais jovens de 18 a 25 anos,são estes quem geralmente estão caídos nochão, ainda mais a maioria são esporádicos”.Porém, para Carlos, 22 anos, justifica: “pessoalmesmo que pega o ônibus, pessoal vê a gentepassando rápido, o pessoal acha que omotoqueiro tá fazendo aquilo por que émotoqueiro é tudo cachorro loco, mas não, agente tem que acelerar não tem jeito”.
No fundo, a partir dessa maior exposiçãoe pressão a que são submetidos no espaço e no
tempo, os jovens motoboys traduzem-se comoagentes de uma nova cartografia urbana, já quecarregam o ímpeto e a rebeldia peculiar da idadeque lhes são caracter íst icas, somadas àsracionalidades e lógicas das exigências dacirculação rápida que lhes são impostas a queos impõem. Assim, muito jovens motoboysmontam em suas motocicletas tentando driblaras estatísticas da violência urbana nas periferiaspobres para virar estatística no violento trânsitono coração da metrópole de São Paulo.
Embora os jovens motoboys mereçamatenção especia l devido às condições detrabalho e aos riscos iminentes a que sãosubmetidos, o que prevalece, em ambasgerações e independente do gênero, é a lógicado acelerador , da pressa desmedida,possibilitada por um processo de produçãocapitalista que visa à reprodução do espaçocomo espaço f luído, das v ias expressasdest inadas à dinamização da ci rculação,distribuição e das trocas de mercadorias. Éassim que os motoboys são impulsionados aace lerar, a costurar em zigue-zague seupercurso, de maneira rápida e eficiente.
E é sob essa lógica que se garante parteda circulação rápida de uma infinidade demercadorias de lojas diversas, de shoppingscenters, do setor varejista, de séries infindáveisde mercadorias vendidas pelo telefone ou pelainternet; ou mesmo, possibilitam a realização deentregas e de coletas de toda ordem vinculadasao setor financeiro. Assim também, realiza-seentregas e coletas para cartórios, de examesmédico-laboratoriais; sem contar, as redes dealimentação e fast-food, lanchonetes e pizzariasdas mais sofist icadas às mais simples; asfloriculturas, joalherias e, até mesmo, objetosdiversos que remetem a valores sentimentais.
A atividade dos motoboys torna-seinstrumento de mediação entre a voracidade deprodução e consumo, deslocado do fator deprodução dos desejos e necessidades frívolas quecomandam o ato de consumir numa cidadecontemporânea. É essa racionalidade que impõea milhares de motoboys a necessidade de acelerara mais de cem quilômetros por hora, de rodarem
Motoboys, circulação no espaço e trabalho precário na cidade de São Paulo, pp. 41 - 58 49
mais de 200 quilômetros por dia, muitas vezes,em dupla (ou tripla) jornada – chegando a cumpriraté 16 horas de trabalho – mesmo, que no limite,vidas sejam ceifadas em nome dessa lógicahiperexploratória.
É neste sentido que a metrópole de SãoPaulo na transição do século XX para XXI, locusdas estratégias globais da nova etapa docapitalismo articulado a um papel preponderantedo mundo precário do trabalho, constitui-se,simultaneamente, como centro dinâmico davalorização do capital e locus da pobreza e dosproblemas sociais, em especial, das condiçõessempre cambiantes e instáveis dos empregos, dedesempregos, trabalhos precários, informais eoutras tantas formas de inserção no mundo dotrabalho.
É justamente nesta nova fase famigeradado sistema capitalista, na qual o desemprego maisdo que cíclico, revela-se, antes de tudo, comoestrutural (HOBSBAWN, 2003 p. 403; ANTUNES,1995, p. 49; ALVES, 2000, p. 259), ou, entendidode outro modo, empregos perdidos não seriammais repostos nem com os ciclos de crescimentoeconômico (GRANOU, 1975, p. 14; HOBSBAWN,2003, p. 403). Mais do que isso, o caso brasileiroremete a contradições mais sobressalentes, emque a expansão do desemprego estrutural acabouproduzindo uma estrutura social sui generis enaqual o precário de exceção vira a regra (CASTEL,2005; OLIVEIRA, 2003).
Circulação no Espaço como Exigênciada Fluidez
Essas novas prát icas socioespaciaisdi tadas pela transição de regimes deacumulação, no fundo, passariam a deixar cadavez mais suas marcas expressas no espaçourbano. O arquét ipo dessa nova condiçãourbana traduzia-se pelo estabelecimento dascidades mundiais, vinculadas ao setor financeiroe de serviços (LENCIONE, 1998, p. 31; LEMOS;2004, p. 119; SASSEN, 1993, p. 188; CASTELLS1999, p. 476; CARLOS, 2001, p. 21).
É dessa forma que São Paulo, de locus eentreposto da indústria, passa a assumir cada
vez mais a preponderância do setor de serviços.Milton Santos, analisando a realidade objetivabrasileira das grandes metrópoles como SãoPaulo, sublinha seus antagonismos por eledenominados de “modernidade incompleta”:
Nela se justapõem e superpõe trocas deopulência, devido à pujança da vidaeconômica e suas expressões materiais esinais de desfalecimento, graças ao atrasodas estruturas sociais e políticas. Tudo quehá de mais moderno pode aí ser encontrado,ao lado das ocorrências mais gr itantes(SANTOS, 1990, p. 13).
É nesta medida que, São Paulo, no eixodas cidades mundiais, revela a mais grassacontradição da engenharia neoliberal, baseadana multiplicação do consumo em escala global,concomitante, à proeminência dos problemassociais de toda ordem. É nesse espaço urbanoproduzido de modo a garantir a realização dociclo do capital no espaço, já que “sem acirculação de bens não há circulação doexcedente” (SANTOS, 2003, p. 144), que osmotoboys são lançados como importantesinstrumentos de realização dessa racionalidade.Isso porque os imperativos atuais da circulaçãono espaço, que se apoiam em novas formas,funções e processos e se inscrevem no espaço,baseados na lógica na qual a circulação passa aser a exigência (Ibid., p. 275; Idem, 2003, p.144) e o consumo a ordem (LEFEBVRE, 1969,p. 25; Idem, 1991, p.77), lançam os motoboys,sempre no limite do ponteiro do relógio, comomediadores dessa voracidade consumista demercadorias e imediatista entrega de toda sorte.
É por este viés que a atividade dosmotoboys na transição do século XX para o XXItorna-se um ângulo privilegiado de análise demodo a revelar as instâncias e as lógicas depoder econômico e político na cidade. Estaslógicas revelam-se de maneira mais evidente apartir das instâncias de poder do Estado queaparecem como um dos elos fundamentais, querno sent ido da real ização do processo dereprodução do espaço, suas infraestruturas,como também, organizando e controlando ofluxo diário de pessoas e veículos; gerindo a
50 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, 2009 SILVA, R.B.
velocidade, punindo os excessos e os conflitos,vigiando qualquer alteração que possa fugir deseu domínio e controle.
Porém uma cidade que se embala pelasracionalidades do consumo exacerbado,privilegiando historicamente um modelo decirculação baseado no automóvel (SANTOS, 2005,p.106; SCARLATO, 1981, p. 94; SCHOR, 1999,p. 41; OLIVA, 2004) quando pára15 – mesmo queprovisoriamente – irrita os motoristas, ospassageiros, os transeuntes; inviabil iza ocomércio, a distribuição, a troca, a realização docapital. E, é neste interregno, que a figura domotoboys torna-se imprescindível. Uma atividadeatravés da qual, por suas características, a lógicada circulação, a princípio, não é suspensa. Pois,em primeiro lugar, mesmo a cidade contando comum verdadeiro aparato a fim de garantir arealização da circulação e do consumo, estásubmetida aos mais variados problemas pontuais(condições climáticas adversas, acidentes detrânsito, manifestações públicas, etc.) eestruturais (construção e melhoramentos deavenidas e ruas, pontes, viadutos e túneis,melhoramento dos transportes públicos, etc). Emsegundo lugar, independente das condições detráfego, lento ou rápido, das condições climáticas,com chuva ou sol, os motoboys passam emdisparada, soberanos, acelerando, buzinando,explodindo motores, serpenteando entre um carroe outro nas ruas e avenidas da grande cidadepaulistana.
Todavia, os motoboys não são infalíveis.O tombo, o choque, faz a eficácia e a pressatransformarem-se em choro, em desalento. Todosparam. Irresolutos, os motoboys observam maisum no asfalto. Entrementes, a lógica que pareciasuspensa no seu limite último ganha um novofôlego com mais um motoboy acionado pelaempresa para retirar e entregar o envelope ou amercadoria qualquer, daquele que ainda sobre oasfalto agoniza à espera de resgate, já que, antesde tudo, a entrega precisa chegar ao seu destinopreviamente combinado. A este respeito, omotoboy Donizete, 32 anos, conta-nos: “Se derepente você cai, você vai ficar largado na camae ninguém quer saber, ninguém vai te dar auxilio
nenhum, coloca outro no lugar. Às vezes pega oseu documento do chão [...] vem outro motoboyda mesma empresa e pega o documento do chãoe sai véio”. Questionado se já havia acontecidocom ele, disse-me: “já me mandaram fazer isso.Um amigo nosso caiu aqui no elevado (Costa eSilva) e me ligaram pra ver onde eu estava; euestava perto da praça da República e pediramque eu fosse lá pegar o trabalho pra terminar, sóque eu cheguei lá e esperei o resgate chegar, eleia ser atendido e depois eu fui fazer. Eu mesmonão acabei fazendo da forma que eles pediram.Pela empresa eu ia lá, pegava os documentos edeixava ele lá”.
Destarte, para além do estabelecimentodessa nova prática socioespacial, onde o fugaz, oefêmero, o ritmo alucinante e frenético do dia-a-dia impresso no espaço que, em grande medida,vai caracterizando e ditando o surgimento dosmotoboys como produto e necessidade da cidadede São Paulo na transição do século XX para oXXI, esta atividade revela-se, ainda, como umadas profissões de maiores riscos de acidentes comvítimas e acidentes fatais na cidade de São Paulo.
Não por acaso, aliando as condiçõesobjetivas da cidade e do mundo do trabalho,equacionadas a certas facilidades de se obter umamotocicleta, além do intenso incremento da frotade motocicleta, essa atividade acabou trazendoconsigo um aumento substancial de acidentes detrânsito envolvendo moto. Para se ter uma ideiada dimensão desse problema, em 2006 ocorreram11.286 (32% do total) acidentes com vítimas,cerca de 30 acidentes por dia, já em 2007 essenúmero passou para 15.193(55% do total),aproximadamente 41 acidentes com vítimas pordia (gráfico 9).
Do ponto de vista espacial, dos 11.286(32% do total) acidentes com vítimas na cidadede São Paulo, em 2006, apesar de bemdistribuídos, pode-se verificar em algumasavenidas uma maior concentração. Sejuntarmos as duas marginais, o número deacidentes com vítimas chegou a 789, na RadialLeste esse número chegou a 379, na Av. 23 demaio ocorreram 369 acidentes, na Av. Aricanduva251 acidentes com vítimas (mapa 1). Em relação
Motoboys, circulação no espaço e trabalho precário na cidade de São Paulo, pp. 41 - 58 51
aos acidentes fatais, em 2006, foramregistrados 380 óbitos, algo próximo de 1 mortede motociclista por dia, desses – selecionadosem 76 corredores – destacam-se as marginaiscom 37 óbitos (20 na Marginal Pinheiros e 17na Marginal Tietê), as avenidas Aricanduva eSen. Teotônio Vilela com 12 mortes em cada
uma delas, a Estr. M’ Boi Mirim com 11acidentes fatais, a Av. Interlagos com 8, a Av.Robert Kennedy com 7 acidentes fatais, a Av.dos Bandeirantes com 6 e as avenidas CarlosCaldeira Filho, do Estado, Jacu-Pêssego, RadialLeste, Sadume Ivone e Sapopemba com 5óbitos (mapa 2).
9. Gráfico
374406
368405
318 345380
466
0
100
200
300
400
500
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Frota e Acidentes de Motocicleta, 2000 a 2007
Frota de Motocicletas Morte de Motociclistas
Fonte: CET/DETRANOrganizado por Ricardo Barbosa da Silva
E esses acidentes envolvendo motocicletasem São Paulo, mais do que os altos custos – queatingem a ordem de R$ 373 milhões de reais porano16 – traduzem imediatamente um custoincomensurável, relacionado à perda da vidahumana para a família de um ente querido, sendoos motoboys uma de suas principais vítimas, jáque devido à natureza de sua at ividadeprofissional, arriscam-se constantemente noperigoso trânsito da metrópole paulistana. Por issoé preciso repensar o espaço enquanto usoconsciente e social para fazer frente à ditaracionalidade e eficiência do sistema capitalistaque vem ceifando às tontas a vida de nossos
jovens e adultos, cheios de sonhos e esperançade um horizonte melhor.
É assim que esta abordagem insere-se natentativa de superar uma discussão maissuperficial – e, muitas vezes, preconceituosa eestigmatizante –, sobre o surgimento e a dinâmicadessa nova atividade profissional na cidade deSão Paulo, com a intenção de contribuir àcompreensão dessa atividade para além de umsentido de espontaneidade, como também,deslocar o foco constantemente ligado aosconflitos no trânsito do espaço urbano da cidadepaulistana. O que denota uma maneira possível– não única – de revelar mais consistentemente
52 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, 2009 SILVA, R.B.
a prática socioespacial da atividade profissionaldos motoboys inserida nas lógicas e estratégias
das relações sociais que reproduzem o espaçourbano e as suas próprias relações.
Mapa 1
54 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, 2009 SILVA, R.B.
Considerações Finais
A atividade profissional dos motoboys,originada em meados da década de 80 e commaior intensidade nos prelúdios da década de 90,aparece como produto e necessidade de umcontexto histórico do capitalismo contemporâneo,revelando parte das transformaçõessocioespaciais na cidade paulistana na transiçãodo século XX para o XXI, encarnando dois pólosde um mesmo problema a partir da nova condiçãoda cidade e do mundo do trabalho.
Essas transformações socioespaciaisanalisadas a partir da atividade profissional dosmotoboys, além da possibilidade de uma novacondição da cidade e do mundo do trabalho,traduzem, também, uma nova prát icasocioespacial que a partir das exigências dacirculação e do consumo em escala ampliada nacidade, vêm definindo os usos, as formas deapropriação, a intensidade de circulação e ascondições de acessibilidades.
Todavia, se por um lado, essa nova práticasocioespacial, vinculada às racionalidades dacirculação e do consumo, tem no espaço seuelemento fundamental à sua realização, por outrolado, é nesse mesmo espaço que as contradiçõeslatentes manifestam-se, no limite último,dirimindo a própria essência da vida humanadesses trabalhadores e trabalhadoras nas ruas eavenidas da metrópole de uma das maneiras maisbrutais: ceifando-as.
Este artigo buscou enfatizar a questão daatividade profissional dos motoboys como produtoe necessidade das transformações socioespaciaisda cidade de São Paulo, traduzindo muito bemuma nova condição da cidade e do mundo dotrabalho. É nesta ordem de considerações queentendemos que a atividade profissional dosmotoboys pode revelar a cidade em trânsito parao século XXI, como uma problemática que remete
à compreensão das práticas socioespaciais damaneira pela qual a sociedade vem concebendo,usando e se apropriando do espaço.
Uma nova prática socioespacial deveriamais do que apontar a mitigação das condiçõesde trabalho dos motoboys e, sim, repensar umanova espacialidade e reinventar novas formas detrabalho. É preciso refletir sobre a atividadecaótica dos motoboys no trânsito de São Paulo,que no limite da lógica da circulação submetetrabalhadores e trabalhadoras a sua desventuramáxima: a perda da vida.
Portanto, faz-se necessário uma novapráxis em uma sociedade que vive cada vez maisconfinada em suas casas, em seus carros,distanciando-se vertiginosamente da dimensãomaior do sentido da vida e do uso consciente dacidade e não por acaso banaliza mecanicamentea sucessão de quedas dos motoboys nas ruas eavenidas da cidade de São Paulo.
Por fim, temos a noção de que estasindicações não pretendem esgotar quaisquerdiscussões e abordagens possíveis. Entrementes,ensejamos que nossa pequena contribuiçãocolabore com o entendimento da atividade dosmotoboys na cidade de São Paulo. Cremos queas soluções para esta atividade não se encerramem medidas pontuais e paliativas, mas sim, numadiscussão em sentido amplo relacionada ao usoda cidade, da apropriação consciente e criativade seus espaços, e quem sabe incitar a discussãosobre o direito de uso do espaço de forma maisconsciente, ou mesmo repensar novas relaçõessociais que coloque em outro patamar aimportância que o trabalho pode representar paraalém de uma atividade que exponha a vida demilhares de trabalhadores e trabalhadoras, àscustas de uma dita racionalidade capitalista e,quem sabe assim, as pessoas compreendam quesão parte integrante dessa problemática e da suasuperação.
Motoboys, circulação no espaço e trabalho precário na cidade de São Paulo, pp. 41 - 58 55
1 Apesar da carência de um estudo especifico quevise quantificar a atividade profissional dosmotoboys, segundo o Presidente do Sindicato dosMensageiros Motociclistas, Ciclistas e Moto-Taxistasdo Estado de São Paulo (Sindimoto-SP), Gilbertodos Santos, em entrevista disse-nos que existem“entre 200 e 250 mil só na cidade de São Paulo”.
2 Maneira pejorativa pela qual muitos motoboys sãodenominados, principalmente aqueles queprimam pela imperícia nas ruas e avenidas deSão Paulo.
3 Conforme Robert (CASTEL, 2005, p. 517) a“flexibilização é uma maneira de nomear essanecessidade do ajustamento do trabalhadormoderno a sua tarefa”. Porém, para ele oconceito abre um leque que pode se referir tantoà “polivalência” dos trabalhadores em se ajustaràs mais diversas funções internas da empresa,quanto “subcontratação” se for externa (Castel,Ibid., 517).
4 Em 2008, a motocicleta Honda CG 125 FAN e aHonda CG 150 T itan, representaram,respectivamente, 22,2% e 24,6% do total devendas, isto é, algo em torno de 47% de todo omercado nacional de motocicletas. Fonte: http://abraciclo.com.br/dsuploads/ven2008.pdf.Acessado em 06/08/09.
5 Cf. Jornal Agora São Paulo, 28 de maio de 2009.Segundo a matéria, esse crédito poderá serconcedido pelo Banco do Brasil e CaixaEconômica Federal aos motoboys desde queestejam regular izados junto aos órgãoscompetentes.
6 No consórcio Honda, a moto pode sair por sorteio– saem 13 motos de um grupo fechado de 900pessoas – ou por um lance que varia de 25 a30%. Fonte: www.honda.com.br. Acessado em06/08/2009.
7 Refere-se ao transporte de pessoas através deuma motocicleta, especialmente, como umfenômeno mais localizado em cidades pequenase médias, com exceção do Rio de Janeiro. Porém,mesmo que instigante, não é intenção destapesquisa desenvolver as razões socioespaciaispara o desenvolvimento dessa atividade no Riode Janeiro e não em São Paulo.
8 Jane JACOBS. Morte e vida de grandes cidades,1961.
9 O total da frota de motocicletas no ano de 2008 éreferente ao total no mês de dezembro.www.denatran.gov.br, http://w w w 2 . c i d a d e s . g o v . b r / r e n a e s t /detalheNoticia.do?noticia.codigo=120. Acessadoem 06/08/2009.
10 Conforme metodologia do Detran-SP, a frota demotocicleta inclui, além das próprias motocicletas,ciclomoto, motoneta, motociclo, triciclo equadriciclo. Os dados tem como referência o mêsde janeiro de cada ano. http://www.detran.sp.gov.br/frota/frota.asp. Acessadoem 06/08/2009.
11 Perfil dos condutores de motocicletas. Monitoraçãoda segurança. Companhia de Engenharia deTráfego. Diretoria de operações – DO.Superintendência de Projetos – SPR. Gerencia deProjetos Viarios – GPV/Pesquisa/março de 2002.
12 Perfil dos condutores de motocicletas. Monitoraçãoda segurança. Companhia de Engenharia de Tráfego.Diretoria de operações – DO. Superintendência deProjetos – SPR. Gerencia de Projetos Viários – GPV/Pesquisa/setembro de 2003.
13Porém, mesmo em posse desses dados não épossível generalizar e afirma que os motoboyscompõem a maioria do universo dos motociclistasna cidade paulistana, isso porque é relativamentemais fácil encontrar os motoboys que circulam ese estabelecem por mais tempo nas ruas eavenidas do que aqueles que usam a motocicletapara o trabalho e lazer.
14 Jovem é conceituado pela Organização das NaçõesUnidas (ONU) como o grupo etário de 15 a 24anos, embora reconheça a possibilidade devariação de país para país, conforme as“circunstâncias polít icas, econômicas esocioculturais” (ONU, 1995). No Brasil, o Estatutoda Criança e do Adolescente – ECA – consideraadolescentes aqueles que têm entre 12 e 18 anosincompletos (Brasil, 1990). Já o Plano Nacional daJuventude, em tramitação no Congresso Nacional,dirige-se à faixa etária de 15 a 29 anos (Brasil,2004). Segundo o Censo Demográfico do IBGE,
Notas
56 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, 2009 SILVA, R.B.
em 2000, havia 2.956.211 pessoas entre 15 e 29anos na cidade de São Paulo, que corresponde a28,3% da população. Assim, conforme Cubides C.,Humberto et al, (1990), entendemos que o campoda juventude não está restrito a uma fasebiológica, mas sim a um tempo social construídopelas condições socioculturais de cada país. Assim,o recorte temporal refere-se ao contexto particularbrasileiro e da atividade profissional que se trata,no caso dos motoboys entre 18 a 29 anos. A títulode esclarecimento recortamos a partir dos dezoitoanos, já que é a idade mínima para concessão daCarteira Nacional de Habilitação (CNH), categoriaA, conforme o Código Brasileiro de Trânsito (art.140), mesmo tendo ciência que muitos trabalhamativamente antes dos dezoito e, portanto, sem aCNH.
15Não por acaso que a maior ocupação dos espaçospor automóveis em detrimento dos transportescoletivos vem influenciando diretamente nos altosíndices de congestionamento registrados na cidadede São Paulo. Mais recentemente, em junho de2009, o recorde de congestionamento chegou àmarca dos 293 km de lentidão, conforme http://
www1. folha .uo l .com.br/ fo lha/cot id iano/ult95u579653.shtml. Acessado em 11/08/2009.
16 http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/224.Acessado em 05/08/2008. Este estudo levou emconsideração a pesquisa do Ipea (Instituto dePesquisas Aplicadas) para calcular quanto asociedade perde com desastres no trânsito urbanoe tendo os dados atualizados a partir da variaçãodo IGP-M, índice que mede a inflação, entre 2003e 2008. Desse total gasto com acidentesenvolvendo motocicleta, R$323.317.0004,85referem-se aos acidentes com vítimas (R$22.768,80 cada vítima) e R$ 49.916.526,80 aoscidentes fatais (R$143.069,13 cada vítima). Nestaestimativa é analisada também a composição doscustos do total dos custos com os acidentes demotocicletas, R$ 160 milhões (43%) referem-seà perda de produtividade das pessoas envolvidasnas ocorrências, R$112 milhões (30%) à danos apropriedade (veículos), R$ 60 milhões (16%)vinculam-se aos custos médicos (tratamento ereabilitação), R$ 41 milhões (11%) ligados a outroscustos (judiciais, congestionamentos, impactofamiliar, etc.).
Referências Bibliográficas
ALVES, Giovanni. O Novo (e Precário) Mundo doTrabalho: reestruturação produtiva e crise dosindicalismo. São Paulo: FAPESP: BoitempoEditorial, 2000.
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaiosobre as metamorfoses e a centralidade do mundodo trabalho. São Paulo: Cortez, Campina: 2003.
BENKO, Georges. Economia, Espaço eGlobalização. São Paulo: Hucitec, 1996.
CACCIAMALI, Maria. Globalização e Processo deInformalidade. Economia e Sociedade, IE,UNICAMP, São Paulo, n.14 , p. 153-175,jul.2000.
CACCIAMALI, Maria C. e BRITTO, André.Flexibilização Restrita e Descentralizada dasRelações de Trabalho no Brasil. Revista Brasileirade Estudos do Trabalho, vol.2, n.2, 2002. p.91-120
CARLOS, Ana Fani. Espaço-Tempo na Cidade. SãoPaulo: Ed. Contexto, 2001.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questãosocial: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes,2003.
CASTELLS, Manuel. Sociedade em Rede. A Erada Informação. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
COMPANHIA DE ENGENHARIA E TRÁFEGO – CET.Motocicletas – Evolução do número em circulação,1995/2001.
______.Evolução do Número em Circulação,Acidentes e Vítimas. Monitoração da Segurança,20001.
______.São Paulo Reduz os Acidentes de Trânsito.Ações de segurança.
______.Desempenho do Sistema Viár io.Monitoração da Fluidez, vol. 2003.
Motoboys, circulação no espaço e trabalho precário na cidade de São Paulo, pp. 41 - 58 57
COMPANHIA DE ENGENHARIA E TRÁFEGO – CET.Acidentes de Trânsito Fatais no Município de SãoPaulo, 2005.
______. Pesquisa Qualitativa Motociclista. Clubde Pesquisa Opinião & Mercado, 2005.
______. Locais mais Perigosos de São Paulo.Sumário de Dados, 2006.
______. Mortes em Acidentes de Trânsito noMunicípio de São Paulo, 2006
CARLOS, Ana Fani. Espaço-Tempo na Cidade. SãoPaulo: Ed. Contexto, 2001.
DINIZ, Eugênio Pacelli Hatem. Entre as Exigênciasde tempo e os Contrangimentos do Espaço: Ascondições acidentogênicas e as estratégias deregulamentação dos motociclistas profissionais.Dissertação (Mestrado em Engenharia daProdução) UFMG. Minas Gerais, 2003.
GOTTDIENER, Mark. A Teoria da Crise e aReestruturação sócio-espacial: o caso dos EUA.In: Orgs. PRETECEILLE, Edmund e VALLADARES,Lícia. A Reestruturação Urbana. São Paulo: Nobel,1990.
HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna – UmaPesquisa sobre as Origens da Mudança Cultural.São Paulo: Ed. Loyola, 1996.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breveséculo XX (1914-1991). São Paulo: Companhiadas Letras, 2003.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA– IPEA. Impactos sociais e econômicos dosacidentes de trânsito nas aglomerações urbanasbrasileiras. Brasília, 2003
LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade. São Paulo:Documentos, 1969.
______. A Vida Cotidiana no Mundo Moderno. SãoPaulo: Ática, 1991.
LENCIONE, Sandra. Mudanças na Metrópole deSão Paulo (Brasil) e Transformações Industriais.Revista do Departamento de Geografia nº 12,p.27-42, 1998.
LEMOS, Amália Inês Geraiges de. São Paulo: AMetrópole Financeira da América do Sul. In:
Geografias de São Paulo: A Metrópole do SéculoXXI. Orgs. Carlos, Ana Fani & Oliveira, AriovaldoUmbelino. São Paulo: Contexto, 2004.
MARTINS, He loísa H. A Tercei r i zação noContexto da G lobalização da Economia .Araraquara, 1994. In Temas/ org. Blass, LeilaSilva. Araraquara: Unesp, 1994.
MARTINS, Renato; DOMBROWSKI, Osmir et al.Mapa do Trabalho Informal na Cidade de SãoPaulo. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo,2000.
MARX, Karl. O Capital – Crítica da EconomiaPolítica. Livro Primeiro. O processo de produçãodo capital. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1998.
______. O Capital – Crítica da Economia Política.Livro Segundo. O processo de circulação docapital. Vol.III. Rio de Janeiro: CivilizaçãoBrasileira, 1970.
OLIVA, Ja ime Tadeu. O Automóvel comoElemento Constituinte e Constituidor da Cidadede São Paulo. Doutorado (Geografia Humana)USP. São Paulo, 2004.
OLIVEIRA, Gilvando Conceição. Trabalho,Vitimização e criminilização no cotidiano demotoboy de Salvador. Dissertação (Mestrado emSaúde Pública) UFBA. Salvador, 2003.
OLIVEIRA, Francisco. Crítica à Razão Dualista:O Ornitorrinco. São Paulo: Ed. Boitempo, 2003
POCHMANN, Márcio. A Inserção Ocupacional eo Emprego dos Jovens. São Paulo: ABET, 1998.
SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, Tempo.Global ização e Meio Técnico-Cient íf i coInformacional: Ed. Hucitec. São Paulo, 1994.
______.A Natureza do Espaço – Técnica etempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp.2002.
______.Urbanização Brasileira: Edusp. SãoPaulo, 2005.
SCARLATO, Francisco Capuano. A expansão daIndústria Automobilística e Metropolização deSão Paulo. Mestrado (Geografia Humana) USP.São Paulo, 1981.
58 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Edição Especial, 2009 SILVA, R.B.
SCHOR, Tatiana O Automóvel e a cidade de SãoPaulo: a territor ialização do processo demodernização (e de seu colapso). Mestrado(Geografia Humana) USP. São Paulo, 1999.
SOJA, Edward W. Geografias Pós-modernas.A reafirmação do espaço na teoria socialcrítica. Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro,1993.
Trabalho enviado em outubro de 2009
Trabalho aceito em dezembro de 2009