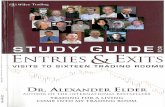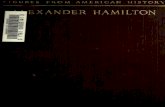TRADUÇÃO E CIRCULAÇÃO DAS OBRAS DE ALEXANDER ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of TRADUÇÃO E CIRCULAÇÃO DAS OBRAS DE ALEXANDER ...
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE HISTÓRIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
GABRIEL DE ABREU MACHADO GASPAR
“EM INGLÊS BRILHASTE, EM PORTUGUÊS AGORA BRILHAS”:
TRADUÇÃO E CIRCULAÇÃO DAS OBRAS DE ALEXANDER POPE NO MUNDO
LUSO-BRASILEIRO (1769-1819)
NITERÓI
2020
GABRIEL DE ABREU MACHADO GASPAR
“EM INGLÊS BRILHASTE, EM PORTUGUÊS AGORA BRILHAS”:
TRADUÇÃO E CIRCULAÇÃO DAS OBRAS DE ALEXANDER POPE NO MUNDO
LUSO-BRASILEIRO (1769-1819)
Dissertação apresentada à Banca Examinadora
como requisito parcial para obtenção do título
de Mestre em História do Programa de Pós-
graduação em História da Universidade Federal
Fluminense.
ORIENTADOR:
Prof. Guilherme Pereira das Neves
NITERÓI
2020
AGRADECIMENTOS
Aos meus pais, Paulo, Grace e Eloíde, que me impulsionaram durante toda a vida
e nunca permitiram que eu me desviasse de meus objetivos.
A Ana Paula, madrinha, preceptora intelectual e exemplo de que a luta, resistência
e retidão caminham juntos. Com Fabiano, seu marido e meu padrinho, constitui exemplo
constante de companheirismo e amor.
A Viviani, pelo apoio e paciência de sempre. Ao tentar enxergar o melhor de mim,
foi capaz de me transformar desde o momento que nossas trajetórias se uniram. Desta
união, nasceu Daniel, que bagunçou e reorganizou nossa vida novamente. De sua família,
passei a contar com Cristina, Toni, Gleice e “meus pequenos” Totonho e Cléo. Por tudo
isso, serei incapaz de agradecê-la o suficiente.
A Savanah por seu ouvido atento e disposição em ajudar. Agradeço também pela
ajuda na tabulação dos dados que originaram os gráficos e tabelas fundamentais para as
reflexões empreendidas nesta dissertação.
A Rodrigo e Leonardo pela lembrança constante dos desafios que envolvem o
convívio familiar e pela certeza da capacidade de superarmos todos eles. A Léo e Oneyda,
sua esposa, sou grato pela confiança de apadrinhar o amado Theo.
A Guilherme Pereira das Neves, orientador desde os idos de 2014, agradeço por
ter caminhado ao meu lado ao longo dos anos. Através de sua erudição, generosidade e
responsabilidade, ensinou-me os ofícios do historiador e do professor.
A Luciano Figueiredo, orientador da Bolsa de Iniciação Científica durante a
graduação, sou grato pelo aprendizado desta experiência e pela primeira leitura que fez
do projeto de pesquisa que originou este trabalho.
Às professoras Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves e Anita Correia Lima de
Almeida, agradeço pelas generosas observações quando do Exame de Qualificação e pelo
aceite em retornar para a banca de defesa.
Aos professores Rodrigo Bentes Nunes Monteiro (UFF), André de Melo Araújo
(UnB), Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (UERJ), Ana Carolina Delmas (UERJ),
Bruna Soalheiro (UERJ), Gladys Sabina Ribeiro (UFF), Beatriz Piva Momesso (UFF) e
Renato Franco (UFF), sou grato pelas discussões e leituras durante os cursos e disciplinas
realizadas no primeiro ano do mestrado. Cada um a sua maneira contribuiu com
sugestões, observações e reflexões sobre o tema deste trabalho.
A Yasmin Bragança, amiga e presença constante neste percurso, agradeço a
parceria e amizade que me deram força para seguir nos momentos de dúvida e aflição.
Sem você, certamente a vida teria tomado outros rumos.
A Hayanne Porto, companheira de sempre, por todas as conversas, desabafos e
cantorias. Sua leveza e bom humor serviram de desenfado quando tudo parecia mais
complicado.
A Pedro Henrique Carvalho, amigo e companheiro de orientação, sou grato pela
companhia e pela disposição em me ouvir durante as idas à universidade e nas nossas
duradouras discussões sobre os temas de pesquisa.
A Alan Dutra, amigo e parceiro de tantos projetos intelectuais ao longo desta
jornada, agradeço pela oportunidade e paciência em me escutar quando tudo parecia sem
sentido.
A Juceli Silva, sinônima de mãe em Niterói, por todos as conversas, conselhos e
broncas que me colocavam de volta no caminho quando me desviava dele.
A Arthur Fernandes, Beatriz Abreu e Lucas Machado, amigos desde os tempos de
escola, agradeço por todo carinho e afeto devotados ao longo da vida.
A Silvana Siqueira, tia que se tornou grande amiga, agradeço o apoio e ajuda
fundamental para a conclusão da graduação e do mestrado.
A Ana Cleide Camilo, que sempre cuidou de mim com carinho e zelo em Niterói.
A Luciana Barreto, que tive o prazer de reencontrar no último ano e passou a zelar
por mim em Campos.
Aos novos amigos e velhos companheiros da Revista Cantareira, Alan Dutra,
Aline Monteiro, Aimée Schneider, Maria Isabel Rauntenberg, Carolina Bezerra, Hevelly
Acruche, Juliana Magalhães, Mariana Virgolino, Matheus Fernandes, Matheus Basílio,
Nathália Fernandes, Naria Mota e Clarisse Pereira.
A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ) pela Bolsa de Mestrado Nota 10, cujos recursos foram fundamentais
para a consecução deste trabalho.
Aos servidores e coordenadores do Programa de Pós-graduação em História da
Universidade Federal Fluminense (PPGH/UFF) pela prontidão e cordialidade com que
lidaram com todas as solicitações ao longo destes anos.
Finalmente, em tempos de injustos ataques, agradeço à Universidade Federal
Fluminense por ser símbolo do papel formador exercido pelas instituições públicas de
ensino superior deste país.
Os historiadores nos devem dizer como o rio abriu seu caminho,
em meio a quais obstáculos e dificuldades.
Franco Venturi
RESUMO
Ao longo da segunda metade do Setecentos, o mundo luso-brasileiro assistiu ao
surgimento de uma profusão de traduções para a língua portuguesa de livros provenientes
das mais diversas regiões. Dentre elas, encontravam-se diversas obras do poeta inglês
Alexander Pope (1688-1744). O objetivo do presente trabalho é de analisar estas
traduções a luz das contribuições metodológicas da história do livro e da história do
pensamento político. Para tanto, elegeu-se a tradução do Ensaio sobre a Crítica (1810)
feita por Fernando José de Portugal (1750-1817), principal ministro da Corte de D. João
na América. Assim, buscou-se situá-las em seu contexto de publicação, examinar as
estratégias de tradução escolhidas por D. Fernando e abordar a circulação da obra.
Palavras-chave: tradução; ilustração; Alexander Pope;
ABSTRACT
Throughout the second half of the 18th century, the Portuguese-Brazilian world witnessed
the emergence of a profusion of translations into Portuguese of books from different
regions. Among them, there were several books written by the English poet Alexander
Pope (1688-1744). The aim of the present dissertation is to analyze these translations in
the light of the methodological contributions of the history of the book and the history of
political thought. For this purpose, the translation of the Essay on Criticism (1810) by
Fernando José de Portugal (1750-1817), main minister of the Court of D. João in America,
was chosen. Thus, we sought to place them in their context of publication, examine the
translation strategies chosen by D. Fernando and address the circulation of the work.
Key-words: translation; enlightenment; Alexander Pope;
SUMÁRIO
Introdução .......................................................................................................... p. 14
Capítulo 1. Livros e Práticas de Leitura na Europa Moderna: a obra de
Alexander Pope ..............................................................................
p. 17
1.1. Leitura e agentes do livro: editores, impressores e livreiros .......................... p. 18
1.1.1. Uma revolução impressa? ................................................................... p. 26
1.1.2. Entre tipógrafos e livreiros: a produção dos livros ............................... p. 31
1.1.3. Os livreiros e a circulação das obras impressas .................................. p. 37
1.1.4. A posse do livro e as práticas da leitura ............................................... p. 39
1.2. Alexander Pope: poesia, traduções e livros na Inglaterra .............................. p. 46
1.2.1. A Inglaterra entre a Revolução Gloriosa e as Luzes ............................. p. 47
1.2.2. Da vida e da obra de Alexander Pope ..............................................
p. 55
Capítulo 2. Traduzindo as Luzes: a circulação de livros estrangeiros no
mundo luso-brasileiro da segunda metade do Setecentos ..........
p. 62
2.1. O Reformismo Ilustrado e o ambiente cultural setecentista ........................... p. 64
2.2. Tipografias, gentes do livro e o mercado livreiro português .......................... p. 79
2.3. Obras estrangeiras traduzidas em português ................................................. p. 87
2.4. Letrados em busca da tradução perfeita .........................................................
p. 103
Capítulo 3. Alexander Pope cruza o Atlântico: livros e tradução no Brasil
Joanino (1808-1819) .......................................................................
p. 119
3.1. O ambiente letrado do Brasil no tempo de D. João: imprensa, livros e
gazetas .................................................................................................................
p. 119
3.2. Entre o Real Serviço e as Letras: a trajetória de Fernando José de Portugal
(1752-1817) .........................................................................................................
p. 123
3.2.1. As leituras do Marquês .......................................................................... p. 126
3.3. A tradução do Ensaio sobre a Crítica (1810) de Alexander Pope ................. p. 133
3.3.1. A circulação das traduções de Alexander Pope no mundo luso-
brasileiro (1759-1819) ........................................................................
p. 134
3.3.2. Aspectos editoriais da obra: os paratextos e seus sentidos ..................... p. 141
3.3.3. A tradução de Fernando José de Portugal em perspectiva comparada:
permanências e alterações ...................................................................
p. 147
3.4. Circulação e difusão do Ensaio sobre a Crítica (1810) ................................. p. 155
Considerações Finais ......................................................................................... p. 161
Anexo. Obras de Alexander Pope traduzidas em Língua Portuguesa
(1759-1819) .........................................................................................................
p. 165
Fontes .................................................................................................................. p. 171
Referências Bibliográficas ................................................................................ p. 179
13
LISTA DE GRÁFICOS, TABELAS E FIGURAS
TABELA 1. Produção de livros impressos por meio século, 1454-1800 (em
milhares de livros) ................................................................................................
p. 24
GRÁFICO 1. A imprensa periódica em Portugal (1706-1815) .............................. p. 71
GRÁFICO 2. Livros nos catálogos das lojas e livrarias portuguesas (1777-1799)... p. 85
GRÁFICO 3. Obras traduzidas para a Língua Portuguesa (1750-1800) ................. p. 89
GRÁFICO 4. Temas das obras traduzidas para a Língua Portuguesa por década
(1750-1800) .........................................................................................................
p. 90
GRÁFICO 5. Assuntos das obras traduzidas para a Língua Portuguesa (1750-
1800) ....................................................................................................................
p. 92
GRÁFICO 6. Idiomas originais das obras traduzidas para a Língua Portuguesa
(1750-1800) .........................................................................................................
p. 98
GRÁFICO 7. Perfil socioprofissional dos tradutores identificados (por número de
obras) (1750-1800) ..............................................................................................
p. 100
GRÁFICO 8. Cidades de impressão das obras traduzidas para a Língua
Portuguesa (1750-1800) ......................................................................................
p. 102
GRÁFICO 9. Obras impressas na Impressão Régia do Rio de Janeiro (1808-1822) p. 121
GRÁFICO 10. Temas das obras remetidas por Diogo Borel a Fernando José de
Portugal (1812 e 1813) .........................................................................................
p. 132
FIGURA 1. Frontispício do Ensaio sobre a Crítica (1810) ................................... p. 142
14
INTRODUÇÃO
Pope! Revives: Monumento egrégio,
Que mais de um Povo te adquirisse os cultos,
Acabou de erigir-te
de um sábio Conde o Gênio.
Inglês brilhaste, e Português agora
Brilhas nos trajos do Idioma Luso
Perdes-te? Não. É a mesma
Tua alma, e graça, e força.1
Assim escreveu em julho de 1812 o Frei João da Costa Faria em uma ode a
Fernando José de Portugal e Castro, ministro da Corte joanina, pelas traduções do Ensaio
sobre a Crítica (1810) e Ensaios Morais (1811) de Alexander Pope publicadas na
Impressão Régia do Rio de Janeiro. Célebre poeta inglês da virada do século XVII para
o XVIII, versões em língua portuguesa de seus poemas e odes circulavam no mundo luso-
brasileiro sob as formas manuscrita e impressa desde fins da década de 1750. Nesse
sentido, o tema desta dissertação é a recepção e circulação das obras de Pope no contexto
do Reformismo Ilustrado da segunda metade do Setecentos e da subsequente
transmigração da Corte para a América em princípio da centúria seguinte.
Diante da impossibilidade de esmiuçar adequadamente todas as traduções
publicadas no recorte cronológico deste trabalho, elegeu-se aquelas feitas por Fernando
José de Portugal, importante administrador colonial e principal componente do primeiro
ministério organizado por D. João no Rio de Janeiro. Inspirado na história do pensamento
político preconizada por Skinner e Pocock, partiu-se do pressuposto de que a correta
1 O Patriota, jornal litterario, politico, mercantil etc. do Rio de Janeiro, nº. 5, maio, 1813. p. 35.
15
compreensão de um texto político ou filosófico se relaciona não apenas com o
“significado do que foi dito, mas também a intenção que o autor em questão pode ter tido
ao dizer aquilo que disse”2.
Além de entender a questão da intencionalidade, é preciso saber também o que os
enunciadores estão a fazer no momento em que afirmam, escrevem ou publicam seus
escritos. Segundo Marcelo Jasmin, reconhecido estudioso do assunto, “disso resulta que
a correta compreensão de uma idéia ou teoria só poderia se dar pela sua apreensão no
interior do contexto em que foram produzidas. Resulta também”, continua ele, “que o
objeto de análise historiográfica é deslocado da ideia para o autor, do conteúdo abstrato
da doutrina para a ação ou performance concreta do ator num jogo de linguagem
historicamente dado”3. Em suma, como bem sintetizou J. G. A. Pocock,
Era necessário, Skinner dizia, saber o que o autor estava fazendo: o que
ele pretendia fazer (o significado para si) e o que ele tinha conseguido
fazer (o significado para os outros). O ato e seu resultado haviam
ocorrido em um contexto histórico, constituído em primeiro lugar pela
linguagem do discurso em que o autor escrevera e fora lido4.
Assim, o presente trabalho encontra-se dividido em três capítulos. O primeiro
capítulo aborda questões relacionadas à produção e circulação do livro, considerando os
autores, tradutores, editores, tipógrafos e livreiros. Amparado na historiografia do tema,
na primeira parte do capítulo é desenvolvida uma discussão acerca do surgimento da
imprensa, sua difusão pelo continente europeu e o papel dos diversos atores sociais ao
longo do processo de edição e produção do livro. A segunda parte enfatiza a trajetória de
Alexander Pope (1688-1744), poeta inglês da Augustan Age, e o contexto de produção de
2 SKINNER, Quentin. Significação e compreensão na história das ideias. In: ____. Visões da política: sobre
os métodos históricos. Algés: DIFEL, 2005. p. 113. 3 JASMIN, Marcelo Gantus. História dos conceitos e teoria política e social: referências preliminares.
Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, vol. 20, n. 57, 2005. p. 28, grifos no original. 4 POCOCK, J. G. A. Quentin Skinner: a história da política e a política da história. Topoi. Revista de
História. Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, 2012. p. 197, grifos no original.
16
sua obra: a Inglaterra entre fins do século XVII e início do século XVIII, marcada pela
Revolução Gloriosa de 1688 e pela Ilustração.
O segundo capítulo discorre sobre a tradução de obras estrangeiras para a língua
portuguesa em meio ao reformismo ilustrado que caracterizou o mundo luso-brasileiro da
segunda metade do século XVIII. Primeiramente, discute-se, com base na historiografia,
as políticas reformistas dos reinados de D. José I (1750-1777), D. Maria I (1777-1799) e
a regência do príncipe D. João (1799-1815), bem como o mercado livreiro português da
época. Em seguida, apresenta-se um panorama geral das traduções para o português entre
1750 e 1800 a partir dos dados contidos na resenha cronológica de Antonio Augusto
Gonçalves Rodrigues5. Por fim, refletiu-se acerca dos usos e concepções da tradução nos
prefácios, cartas, jornais e dicionários escritos pelos letrados portugueses entre 1750 e
1820.
O terceiro capítulo da dissertação analisa a tradução do Ensaio sobre a Crítica
(1810) de Alexander Pope feita por Fernando José de Portugal e Castro (1752-1817). Para
tanto, discutem-se o ambiente letrado do Brasil joanino, a trajetória administrativa do
tradutor e o modo como as obras foram traduzidas por ele. Finalmente, o capítulo trata da
circulação e tradução das obras de Alexander Pope no mundo luso-brasileiro, entre 1759,
quando foi realizada a primeira tradução, e 1819, ano de publicação da tradução do Ensaio
sobre o Homem pelo Barão de São Lourenço.
5 RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha cronológica
das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-1834. Lisboa:
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
17
CAPÍTULO 1
LIVROS E PRÁTICAS DE LEITURA NA EUROPA MODERNA:
A OBRA DE ALEXANDER POPE
Seu Gabinete! De que Autores está
fornecido? Milorde é curioso de livros, não
de Autores; ele vos leva em roda a mostrar-
vos a data de cada um nas costas: este
imprimi-os Aldo, aqueles encaderno-os Du
Suëil! Alguns, reparai, são de pergaminho;
e o resto tão bons para o que Sua Senhoria
sabe; mas são de pau. Debalde buscas aí
Locke ou Milton: estas estantes não admitem
livro algum moderno.
- Alexander Pope6
Os versos acima foram extraídos da quarta epístola dos Ensaios Morais, publicada
em 1731, por Alexander Pope. Neles, o poeta satirizava o hábito aristocrático de fazer
grandiosas coleções de livros, uma vez que seu acúmulo não se convertia em um hábito
de leitura para compreensão de seu conteúdo. Ademais, Pope criticava o falso gosto que
certos leitores nutriam pela impressão, encadernação e até mesmo pelo papel. A
importância era tamanha que muitos chegavam a guarnecer suas estantes com livros de
madeira! Nas palavras do poeta, “muitos gostam principalmente da elegância da
6 POPE, Alexander. Ensaios Moraes de Alexandre Pope em Quatro epístolas a diversas pessoas traduzidos
em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, e do Traductor. Rio de Janeiro:
Impressão Régia, 1811. p.175.
18
impressão, ou da encadernação; alguns levam isto a ponto de mandarem encher as
prateleiras muito altas de livro de pau pintados”7.
De fato, desde a invenção dos tipos móveis e subsequente difusão da imprensa,
uma enxurrada de livros inundou a Europa e depois o mundo inteiro. Antes de percorrer
rios e estradas a caminho de seus leitores, os livros passavam pelas mãos de diversos
agentes, como autores, editores, censores, impressores e livreiros. Nesse sentido, a
primeira parte deste capítulo dedica-se à compreensão do movimento de difusão da
imprensa pelo continente europeu e ao processo de edição, impressão e leitura de um livro
durante o período moderno. A segunda parte, por sua vez, aborda a trajetória de Alexander
Pope (1688-1744) e o contexto de produção de sua obra: a Inglaterra entre fins do século
XVII e início do século XVIII, marcada pela Revolução Gloriosa de 1688 e pela
Ilustração.
1.1 LEITURA E AGENTES DO LIVRO: EDITORES, IMPRESSORES E LIVREIROS
Entre 1436 e 1439, Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), ourives originário da
Mogúncia, juntou-se a Hans Riffe, André Dritzehn e André Heilmann para trabalharem
em um empreendimento “novo” e “custoso” que envolvia livros. Entrementes, a morte de
Dritzehn fez com que seus herdeiros requisitassem sua parte na sociedade, proposta que
Gutenberg recusou. A contenda foi levada ao Conselho de Strasbourg, que decidiu a favor
do ourives8. Os documentos do famoso processo de Strasbourg de 1439 tornaram-se
fundamentais para os estudiosos da invenção da imprensa e dos tipos móveis. Segundo
7 POPE, Alexander. Ensaios Moraes de Alexandre Pope em Quatro epístolas a diversas pessoas traduzidos
em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, e do Traductor. Rio de Janeiro:
Impressão Régia, 1811. p. 174. Nota ao verso 133. 8 Cf. CHILDRESS, Diana. Johannes Gutenberg and the Printing Press. Minneapolis: Twenty-First Century
Books, 2008. p. 37-41.
19
Febvre & Martin, “ficamos sabendo por ele que os segredos de Gutenberg se
relacionavam a três objetos diferentes: o polimento das pedras, a fabricação de espelhos
(...) e uma ‘arte nova’ pela qual se utiliza uma prensa, ‘peças’ (...), formas de chumbo (...)
e, enfim ‘coisas relativas à ação de prensar’”9.
Por volta de outubro de 1448, Gutenberg retornou à Mogúncia, sua cidade natal,
e contraiu, em 1450, um empréstimo com Johann Fust (c. 1410-1466), um rico
comerciante, com o objetivo de financiar seu “trabalho dos livros”. Algum tempo depois,
associou-se também a Peter Schöffer (c. 1425-1503), possivelmente um calígrafo, copista
e antigo estudante da Universidade de Paris. A partir daí, as narrativas divergem e tornou-
se difícil descobrir o desenrolar dos acontecimentos em certa oficina da Mogúncia na
década de 145010. Seja como for, entre 1450 e 1455, algumas oficinas funcionavam nesta
região utilizando como instrumentos a prensa e, mais significativo ainda, os tipos móveis.
Durante este período, saíram dos prelos destas oficinas um número significativo de obras:
as Gramáticas de Donato; calendários; “cartas de indulgência” do Papa Nicolau V; a
famosa Bíblia de 42 linhas; a Bíblia de 36 linhas em três volumes in-fólio; o Saltério de
Mogúncia; o Missal de Constança; dentre outras11.
Os inventores da imprensa, contudo, não gozaram de sua exclusividade por muito
tempo. Em 1458, Carlos VII de França (1403-1461) enviou um certo Jenson, moleiro de
Tours, à Mogúncia para descobrir os planos de Gutenberg. Não obstante as tentativas de
espionagem, foram os próprios impressores germânicos os responsáveis por ensinarem à
Europa a arte da impressão. Os clérigos foram igualmente importantes para a expansão
9 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p.107. 10 Para uma imprecisa cronologia dos acontecimentos que redundaram na “invenção da imprensa”, ver:
CHILDRESS, Diana. Johannes Gutenberg and the Printing Press. Minneapolis: Twenty-First Century
Books, 2008. p. 138-141. 11 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 111-114.
20
da tipografia. Desde os últimos anos do século XV, religiosos católicos passaram a
encomendar a impressão de textos sagrados, obras de teologia, escritos da Antiguidade
Clássica e manuais de devoção popular. Em vista disso, as Bíblias foram os livros mais
célebres impressos na Mogúncia12.
Além da Igreja, outras instituições foram significativas na difusão da arte de
imprimir pelo continente. As universidades ofereciam um grupo de leitores e
consumidores de livros. Não por acaso, em 1470, Jean Heynlin (1430-1496), então prior
da Universidade de Sorbonne, convidou mestres tipógrafos germânicos para fundarem a
primeira oficina tipográfica de Paris. Mais tarde, na Alemanha, em fins do século XVI, a
criação da Universidade de Leiden provocou o nascimento de um dos mais famosos
centros tipográficos da Europa13.
Os mestres impressores não foram atraídos apenas pelo público religioso e
universitário. Os juristas, concentrados em cidades que sediavam tribunais e outras
instituições, converteram-se em importantes clientes de livreiros. Na França, cidades que
abrigavam um Parlamento ou Palácio de Justiça, como Paris, Rouen, Poitiers, atraíram e
sediaram incontáveis livreiros e tipografias. As cidades mercantis que estabeleciam
relações comerciais com diversas capitais europeias, reuniam negociantes, artesãos e,
também editores e livreiros14.
É surpreendente acompanhar o ritmo cronológico da expansão da imprensa. Se
entre 1455 e 1460, oficinas pouco conhecidas funcionavam na Mogúncia; na década de
1460, a imprensa se espalhou pela Alemanha e chegou à França e Itália. Em 1480,
12 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 259-264. 13 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p.267-268. 14 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 269-271.
21
conforme os dados de Febvre & Martin, cerca de dois decênios após os primeiros
impressos, prelos funcionavam em mais de cem cidades na Europa: “umas cinquenta na
Itália, cerca de trinta na Alemanha, cinco na Suíça, duas na Boêmia, nove na França, oito
na Holanda, cinco na Bélgica, oito na Espanha, uma na Polônia e quatro na Inglaterra”15.
Ao longo do século XVI, as novas técnicas continuaram a se difundir em ritmo
acelerado pela Europa. A Península Itálica, sobretudo a cidade de Veneza, emergiu como
o principal centro editorial da época, com cerca de quinhentas oficinas tipográficas,
capazes de imprimir dezoito milhões de cópias16. Conforme demonstra Brian Richardson,
Gabriel Giolito (1508-1578), um dos mais famosos editores e livreiros italianos do
Cinquecento, produziu e vendeu em suas livrarias situadas em Veneza, Bolonha, Ferrara
e Nápoles mais de oitocentos títulos, dentre eles a famosa edição de 1555 da obra de
Dante Alighieri publicada pela primeira vez sob o título A Divina Comédia17.
Além das cidades italianas, os prelos germânicos funcionavam em cerca de 140
cidades durante o século XVI. Os efeitos da Reforma Protestante começaram a ser
percebidos a partir de 1520. Em algumas cidades, como Leipzig por exemplo,
impressores de escritos reformadores foram perseguidos e se viram obrigados a migrarem
para outras regiões. Wittenberg, sede da igreja na qual Lutero pregou suas famosas 95
teses, tornou-se um centro editorial com inúmeras oficinas, que imprimiam traduções,
sermões, panfletos e escritos efêmeros relacionados à causa protestante18.
15 FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 273-274. 16 Cf. BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2003. p. 147. 17 Cf. RICHARDSON, Brian. Print Culture in Renaissance Italy: The Editor and the Vernacular Text,
1470-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 150-154. 18 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 278-279 e p. 283. Sobre a questão da difusão da Bíblia na Reforma
Protestante, ver: BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras,
1989. p. 246-257.
22
A imprensa permitiu que os publicitas luteranos alcançassem uma larga audiência
através da publicação de panfletos que criticavam Roma e o papado e divulgavam a
mensagem da fé renovada. Lutero converteu-se, por razões óbvias, no principal autor
destes impressos. Segundo estimativa de Mark Edwards Jr., cerca de 20% dos panfletos
impressos entre 1500 e 1530 foram escritos pelo reformador luterano. A demanda era
tamanha que em 1524 os impressores da cidade Leipzig, localizada nos domínios de um
príncipe católico, solicitaram ao Conselho da cidade autorização para imprimir e vender
impressos luteranos. Nesse sentido, foi a imprensa que tornou possível a persuasão e
conversão dos fiéis em maior escala a abraçarem o novo entendimento cristão da
Reforma19.
Em fins do século XVI, sobretudo a partir de 1570, a distribuição dos centros de
edição europeus foi novamente afetada por questões religiosas e políticas. A Reforma
promovida pelo Concílio de Trento (1545-1563) determinou a unificação e revisão dos
textos litúrgicos, renovando a “edição católica”. Grandes casas impressoras, financiadas
pela Igreja ou por monarcas católicos, obtiveram o monopólio de impressão destas obras.
Foi o caso, por exemplo, da célebre tipografia dos Plantin-Moretus, que publicou em
Antuérpia um grande volume de livros corrigidos que circularam por toda Europa e pela
América20.
Desde as primeiras décadas do século XVII, Amsterdã, na República Holandesa,
substituiu Veneza como principal centro e mercado livreiro da Europa. Entre 1675 e 1699,
mais de 270 livreiros e impressores atuaram na cidade. Dos prelos de tipografias da capital
holandesa saíam obras e escritos em diferentes idiomas, como holandês, latim, francês,
19 Cf. EDWARDS JR., Mark U. Printing, Propaganda, and Martin Luther. Berkeley: University of
California Press, 1994. p. 1-15. 20 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 285.
23
inglês, alemão, russo, dentre outros21. Tal era o volume de publicações em francês, por
exemplo, que “desde o final do século XVII, Amsterdam se torna, logo depois de Paris,
o segundo centro de edição francesa”22.
Enquanto a imprensa se difundia, o mundo se ampliava através da expansão
marítima e descoberta dos territórios americanos. Juan de Zumárraga (1468-1548),
primeiro bispo do México, solicitou a aprovação para instalação de fábricas de papel e
uma tipografia. Em 1539, o México recebeu sua primeira prensa e seu primeiro impressor,
Juan Pablo. Em 1584, um impressor italiano que havia trabalhado no México instalou-se
em um colégio em Lima a convite dos religiosos jesuítas que o administravam. Ao longo
do século XVII, outros tipógrafos também se estabeleceram nestas cidades. Nas Treze
Colônias inglesas, a primeira oficina tipográfica começou a funcionar em 1638 em torno
da Baía de Massachusetts, na Nova Inglaterra. Em ritmo lento, outras casas impressoras
foram instaladas em Boston (1674), Filadélfia (1685), Jamestown (1682) e Nova York
(1693)23.
Durante o século XVIII, a imprensa também floresceu na Inglaterra, a partir do
impacto da nova legislação da Revolução Gloriosa de 168824. Até 1730, os britânicos
importavam mais livros do que exportavam. Décadas depois, em 1777, Londres possuía
mais de 70 livreiros, mais do que qualquer outra cidade europeia do período25. A partir
da segunda metade do Setecentos, Londres assistiu a um boom de periódicos. Apenas em
21 Cf. BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2003. p. 148. 22 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 288. 23 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 300-302. 24 Em 1695 foi revogado o Ato de Licenciamento, fato que inaugurou, segundo Roy Porter, um período de
relativa liberdade de imprensa. Cf. PORTER, Roy. Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern
World. London: Penguin Books: 2000. p. 94-95. 25 Cf. BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2003. p. 150.
24
1782, por exemplo, o Post Office despachou mais de três milhões de cópias de jornais
londrinos pelo país. Dez anos depois, este volume dobrou e, em 1796, foram distribuídas
a partir de Londres mais de oito milhões de cópias impressas de periódicos26.
A crescente instalação de casas impressoras em cidades europeias e americanas
entre as últimas décadas do século XIV e o século XVIII levanta outra ordem de questões
relativas ao volume dos livros publicados. Buringh e Zanden empreenderam um estudo
com o objetivo de reconstituir o desenvolvimento do livro em termos quantitativos de
longo prazo. A partir de cálculos e estimativas com informações de edições e tiragem, os
autores apresentaram a produção de livros impressos a cada meio século:
TABELA 1
Produção de livros impressos por meio século, 1454-1800
(em milhares de livros)
Região 1445-
1500
1501-
1550
1551-
1600
1601-
1650
1651-
1700
1701-
1750
1751-
1800
Grã-
Bretanha 208 2,807 7,999 32,912 89,306 89,259 138,355
Irlanda 0 0 4 268 1,341 8,586 17,598
França 2,861 34,736 39,084 61,257 85,163 73,631 157,153
Bélgica 394 1,963 5,720 4,334 7,203 3,016 4,817
Países
Baixos 473 1,045 2,842 15,009 30,149 40,950 53,063
Alemanha 3,227 15,603 3,112 40,553 57,708 78,205 116,814
Suíça 400 3,312 5,786 1,988 1,656 1,277 4,615
Itália 4,532 16,719 41,641 35,067 43,293 37,930 75,500
Espanha 463 2,205 2,306 4,631 7,088 9,124 16,304
Suécia 6 34 49 2,080 3,756 6,654 21,305
Polônia 1 63 146 1,807 2,062 3,468 9,208
26 Cf. RAVEN, James. The Book Trades. In: RIVERS, Isabel (Ed.). Books and Their Readers in Eighteenth-
century England: New Essays. London, New York: Continuum, 2001. p. 24.
25
Outros a 22 530 718 1,000 2,310 2,974 14,067
Rússia 0 0 0 123 165 1,275 12,367
TOTALb 12,589 79,017 138,427 200,906 331,035 355,073 628,801
a Áustria, Hungria, Portugal, República Tcheca e Escandinávia. b Exceto a Rússia.
Fonte: BURINGH, Eltjo & ZANDEN, Jan Luiten van. Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and
Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centuries. The
Journal of Economic History, Cambridge, vol. 69, no. 2, june 2009. p. 417.
A partir dos dados expostos na TABELA 1, constata-se o intenso crescimento da
produção de livros a partir da difusão da imprensa e dos tipos móveis. Buringh & Zanden
estimam que foram impressos, ao longo do Setecentos, cerca de um bilhão de livros. O
“ano de pico” da produção livreira do período foi 1790, quando mais de 20 milhões de
cópias saíram dos prelos europeus. Apesar de os manuscritos terem sobrevivido à
invenção da imprensa, como veremos a seguir, o número de incunábulos, impressos
produzidos durante a segunda metade do século XV, já era 150% maior que o volume de
manuscritos produzidos durante todo o Quatrocentos27.
De acordo com a interpretação de Buringh & Zanden, o consequente barateamento
dos livros após a difusão dos tipos móveis em meados do século XV explicaria este
aumento significativo na produção impressa. A diminuição do tempo de produção e a
utilização do papel, mais barato que outras matérias-primas como o velino, fez com os
custos de produção de um livro diminuísse cerca de dois-terços ou mais28. A queda nos
27 Cf. BURINGH, Eltjo & ZANDEN, Jan Luiten van. Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and
Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centuries. The
Journal of Economic History, Cambridge, vol. 69, no. 2, june 2009. p. 417-419. 28 Cf. BURINGH, Eltjo & ZANDEN, Jan Luiten van. Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and
Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centuries. The
Journal of Economic History, Cambridge, vol. 69, no. 2, june 2009. p. 440.
26
preços finais dos livros e de outros impressos efêmeros facilitou o acesso de leitores, o
que gerou a formação de um maior mercado capaz de consumir estes materiais29.
Ademais, os dados estimados comprovam as hipóteses de difusão da imprensa
apresentadas anteriormente. Durante o Renascimento, argumentam Buringh & Zanden, a
Itália emergiu como o mais importante centro de produção livreira. No século XVI, a
Reforma Protestante aumentou significativamente a impressão de livros em regiões da
Suíça e Alemanha. No início da centúria seguinte, o norte da Holanda tornou-se uma
importante área na geografia da imprensa. Entre 1650 e 1750, a Grã-Bretanha converteu-
se na mais importante área da impressão da Europa. Na segunda metade do século XVIII,
a França retomou a liderança devido à Ilustração30.
1.1.1. Uma revolução impressa?
Entre 1979 e 1983, Elizabeth Eisenstein publicou duas obras fundamentais para a
compreensão das transformações advindas do advento da imprensa: The Printing Press
as an Agent of Change (1979) e The Printing Revolution in Early Modern Europe
(1983)31. Nesta última, hoje clássica, a autora argumenta, como sugere o título, que a
invenção dos tipos móveis representou uma verdadeira revolução na cultura escrita32.
Primeiramente, Eisenstein ressalta o crescimento da produção dos livros durante o “salto
29 Cf. BURINGH, Eltjo & ZANDEN, Jan Luiten van. Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and
Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centuries. The
Journal of Economic History, Cambridge, vol. 69, no. 2, june 2009. p. 432. 30 Cf. BURINGH, Eltjo & ZANDEN, Jan Luiten van. Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and
Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centuries. The
Journal of Economic History, Cambridge, vol. 69, no. 2, june 2009. p. 422-423. 31 EISENSTEIN, Elizabeth L. The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural
Transformations in Early-Modern Europe. 2 v. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
EISENSTEIN, Elizabeth L. The Printing Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge
University Press, 1983. 32 Cf. EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna.
São Paulo: Editora Ática, 1998. p. 17.
27
do manuscrito ao impresso”. Em termos de qualidade, os primeiros incunábulos
procuraram reproduzir fielmente um manuscrito. Se não havia grandes mudanças visíveis
nos primeiros impressos, os modos de produção se transformaram completamente. Além
das novas técnicas, como a fundição de tipos móveis e a prensagem manual dos livros,
surgiu um novo tipo de estrutura física: a loja ou a tipografia, capaz de agrupar os
trabalhadores capacitados para o trabalho e incentivar novas formas de trocas culturais
entre eles. As novas formas de colaboração entre os trabalhadores eram reguladas pelo
mestre-impressor, considerado por Eisenstein “como ponte entre vários universos”33.
Em seguida, a autora considera as mudanças comerciais. Nos primeiros anos após
o advento da imprensa, os livros impressos circularam no âmbito dos canais dos livros
manuscritos. Pouco tempo depois, os livreiros localizaram novos pontos de distribuição;
catálogos e folhetos de vendas circularam em diversas regiões; os próprios livros se
difundiram da Renânia a outros pontos do mundo. Em fins do século XV, Peter Schöffer
(c. 1425-1503), que havia sido sócio de Gutenberg, comandava uma eminente tipografia
na Mogúncia, com uma grande organização de vendas, que se estendia a Paris34.
Além das transformações no volume, na produção e da comercialização dos livros,
Eisenstein aborda a revolução ocorrida no interior da própria “cultura escrita”. Em
primeiro lugar, muda-se o próprio padrão de pensamento. Do tempo do glosador e do
comentarista, figuras características do período medieval, passou-se a uma “era de
intensas referências cruzadas entre um livro e outro”. O crescente acesso a um número
33 EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna. São
Paulo: Editora Ática, 1998. p. 36-37 e p. 40. 34 Cf. EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna.
São Paulo: Editora Ática, 1998. p. 41.
28
maior de livros concedia aos letrados a possibilidade de consultar e comparar diferentes
textos35.
Em segundo lugar, inspirada nas considerações de George Sarton (1884-1956),
um dos criadores da história da ciência, Eisenstein enfatiza a questão da “padronização”
propiciada pela imprensa. Apesar das cópias dos incunábulos não serem precisamente
iguais e idênticas, “a cultura criada pela imprensa em suas origens foi suficientemente
uniforme, de modo que podemos medir sua diversidade”36. Além disso, continua a autora,
as cópias “eram uniformes o suficiente para que os estudiosos localizados em regiões
distintas pudessem corresponder-se a respeito de uma determinada citação, e assim
permitir que as mesmas emendas e erros fossem localizados por muitos olhos”37.
As decisões editoriais também contribuíram para reorganizar o modo de pensar
dos leitores em relação à “cultura escrita”. O uso de livros impressos para referência e a
constante impressão de catálogos e índices contribuíram para a difusão da ordem
alfabética38. A numeração das páginas, sinais de pontuação, divisão em seções, títulos e
índices auxiliaram na reorganização do modo de pensamento e da informação após o
advento da imprensa39.
Por fim, Eisenstein destaca a importância da “fixidez tipográfica” ofertada pela
imprensa. Os manuscritos, inclusive aqueles utilizados como guia de referência, não
permaneciam preservados sem adulterações levadas a cabo pelos copistas. Além disso,
35 EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna. São
Paulo: Editora Ática, 1998.Citação extraída da p. 59. 36 EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna. São
Paulo: Editora Ática, 1998. p. 23. 37 EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna. São
Paulo: Editora Ática, 1998. p. 68. 38 Cf. EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna.
São Paulo: Editora Ática, 1998. p. 80-81. 39 Cf. EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna.
São Paulo: Editora Ática, 1998. p. 89.
29
estes registros constantemente se desgastavam com o uso e com as condições do ambiente
em que estavam, como a umidade, os insetos e até mesmo o fogo. Com a imprensa, ao
contrário, a durabilidade do material tornou-se questão de segundo plano. A partir do uso
do papel, a preservação passou a estar assegurada pela enorme quantidade de impressos
produzida40.
Desde sua publicação, a tese de Elizabeth Eisenstein suscitou diversas críticas e
importantes reinterpretações41. Inicialmente, Roger Chartier sugere relativizar a oposição
entre “cultura impressa” e “cultura escribal” uma vez que “a impressão, pelo menos nos
quatro primeiros séculos de sua existência, não causou o desaparecimento nem da
comunicação manuscrita nem da publicação manuscrita”42. Ao contrário de
desaparecerem, os manuscritos tornaram-se objetos de novos usos, que também se
relacionavam com a imprensa. Os impressos, por diversas vezes, traziam espaços em
branco para a escrita em almanaques, formulários e contratos43.
Segundo Fernando Bouza, se o impresso se articulava durante a Época Moderna
à difusão e fixação, o manuscrito teve seus usos associados “à maior solenidade ou
privacidade do texto em questão, por um lado, ou com a necessidade de manter em aberto
a sua estrutura, por outro”44. Apesar de não permitirem uma ampla difusão, as cópias
manuscritas de um texto circulavam em circuitos específicos de copistas e leitores e
possuíam mobilidade e transmissão consideráveis45.
40 Cf. EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna.
São Paulo: Editora Ática, 1998. p. 95. 41 Para além das perspectivas apresentadas a seguir, ver a crítica empreendida por Anthony Grafton acerca
dos dois volumes publicados originalmente em 1979. GRAFTON, Anthony. The Importance of Being
Printed. The Journal of Interdisciplinary History, Cambridge, Vol. 11, No. 2, outono, 1980. 42 CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 105. 43 Cf. CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 105. 44 BOUZA, Fernando. Comunicação, conhecimento e memória na Espanha dos séculos XVI e XVII.
Cultura, Revista de História e Teoria das Ideias, Lisboa, v. 19, segunda série, 2002. p. 135. 45 Cf. BOUZA, Fernando. Comunicação, conhecimento e memória na Espanha dos séculos XVI e XVII.
Cultura, Revista de História e Teoria das Ideias, Lisboa, v. 19, segunda série, 2002. p. 136.
30
A contínua produção de manuscritos e sua flexibilidade levanta, segundo Chartier,
questões relacionadas à alegada padronização propiciada pela imprensa sugerida por
Eisenstein. A existência de folhas corrigidas e não corrigidas em cópias da mesma edição;
a profusão de notas marginais adicionadas pelos leitores que tornavam única sua cópia; a
variedade de textos encadernados à maneira do leitor; indicam, para Chartier, que
o texto impresso era, portanto, aberto a mobilidade, flexibilidade e
variação, mesmo que apenas pelo fato de que, em uma época em que as
tiragens permaneciam limitadas (entre 1.000 e 1.750 exemplares por
volta de 1680, segundo alguém do ramo, o impressor Alonso Victor
Paredes), o sucesso, daí a reprodução, de uma obra supunha edições
múltiplas, que nunca eram idênticas46.
Ademais, é preciso ressaltar que, apesar do título da obra clássica de Lucien
Febvre e Henri-Jean Martin, L’apparition du livre (1958), que o livro não surgiu com a
impressão. Além das inovações propiciadas pelos tipos móveis, pela prensa e pelas
inovações textuais, o códice surgiu entre os séculos II e IV. Foi a concepção de livro
unitário que surgiu, segundo Chartier, com a invenção de Gutenberg entre os séculos XIV
e XV, que reunia um objeto material, a obra e o autor47. Apesar de ter herdado concepções
de estrutura básica do livro manuscrito, o livro impresso trazia modificações
significativas que impactaram a relação entre o leitor e o escrito impresso. É o caso, por
exemplo, da introdução de prefácios, posfácios, cartas ao leitor e comentários,
denominados paratextos editoriais por Gérard Genette48.
Em que pesem as importantes divergências acerca do papel da imprensa e as
mudanças advindas da invenção dos tipos móveis por Gutenberg, parece razoável supor
que a crescente oferta e difusão de livros impressos pela Europa ao longo da Época
Moderna causou um impacto significativo nas relações sociais, econômicas e culturais.
46 CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 107. 47 Cf. CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 122-
123. 48 Cf. GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. p. 10.
31
A partir das considerações de Chartier e Bouza, ressaltam-se os diferentes usos dos
impressos e a nova utilização dos manuscritos. Como bem sintetizou Daniel Roche, “o
impresso não tem o mesmo papel para todos, e as formas mistas permanecem muito
numerosas, propícias à circulação entre o oral e o lido, o visual e a comunicação
multiplicada pela tipografia”49. A partir de agora, resta-nos compreender o intrincado
caminho percorrido pelo livro, desde sua produção, passando pela comercialização e pela
leitura quando chegava às mãos do leitor moderno.
1.1.2 Entre editores e tipógrafos: a produção dos livros
Ao caminhar por uma rua de Barcelona, o engenhoso fidalgo de La Mancha se
deparou com uma placa “Aqui se imprimem livros”, que anunciava a existência de uma
imprensa. Após entrar na casa, conta Cervantes, Dom Quixote acompanhou todo o
processo de impressão: “viu a tiragem numa parte, a emenda em outra, a composição
nesta, a revisão naquela; em suma, todo aquele mecanismo que nas grandes imprensas se
mostra”. Avistou ainda “uma caixa de tipos e perguntava que era aquilo que ali se fazia;
davam-lhe conta os tipógrafos, admirava-se e passava adiante” 50.
Partindo do pressuposto de que “autores não ‘escrevem’ livros” e de que “o texto
passa por muitas operações para tornar-se um livro”, é preciso investigar o modo como
os livros impressos eram produzidos na Época Moderna51. Além disso, como propôs
Donald McKenzie, o livro é “produto da agência [atuação] humana em contextos
altamente voláteis” e seus aspectos físicos contribuem para a construção do significado
49 ROCHE, Daniel. As práticas da escrita nas cidades francesas do século XVIII. In: CHARTIER, Roger
(Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 191. 50 CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de La Mancha. Edição Ilustrada por Gustavo Doré. 2 v. Rio de
Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2016. 51 CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 260.
32
do texto pelo leitor52. Nesse sentido, “a forma material dos livros, os elementos não
verbais da anotação tipográfica dentro deles e a própria disposição do espaço têm uma
função expressiva na transmissão do significado”53.
Durante o Antigo Regime, o processo de publicação de uma obra esteve
diretamente relacionado à questão dos privilégios. Com o advento da imprensa, os
editores começaram a solicitar privilégios que lhes oferecessem o monopólio da
impressão e venda de suas obras por um certo tempo. Inicialmente, o autor cedia seu
manuscrito em troca de um determinado número de exemplares, que poderiam ser
vendidos por ele. Algum tempo depois, muitos autores passaram a vender a um impressor
ou livreiro seu manuscrito por dinheiro em espécie54. Na Inglaterra setecentista, por
exemplo, Samuel Johnson (1709-1784) recebeu 1.575 libras adiantadas pelo seu
Dicionário da Língua Inglesa (1755), David Hume (1711-1776) embolsou 1.400 libras
pelo terceiro volume da História da Grã-Bretanha (1759) e William Robertson (1721-
1793) recebeu um adiantamento de 3.400 libras pela História de Carlos V (1792)55.
Na França, o direito exclusivo de reproduzir um texto era uma concessão régia
administrada pela Direction de la Librairie e registrada na Communauté des Libraires et
des Imprimeurs de Paris. Ao conceder este privilégio, o rei não só autorizava a publicação
da obra, como aprovava seu conteúdo e a recomendava por intermédio dos censores56.
52 MCKENZIE, Donald Francis. Bibliografia e Sociologia dos Textos. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2018. p. 15. 53 MCKENZIE, Donald Francis. Bibliografia e Sociologia dos Textos. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2018. p. 30. 54 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 251-254. 55 Cf. BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2003. p. 150. 56 Cf. DARNTON, Robert. O Iluminismo como Negócio. História da Publicação da Enciclopédia, 1775-
1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 32.
33
Nesta imbricada relação entre privilégio e censura, frequentemente obras estrangeiras
eram proibidas para proteger o monopólio dos editores e impressores de Paris57.
Em Londres, o editor, na posse do manuscrito do autor, encaminhava o registro
da obra no Entry Book da Stationers’ Company, que desde 1557 recebera autonomia do
rei para tratar do setor dos livros. Os registros buscavam proteger o investimento do editor
e assegurar seus direitos sobre ele58. Contudo, segundo McKenzie, foram poucos os
títulos publicados no século XVII, por exemplo, registrados no livro da companhia. Isso
ocorria porque os editores não investiam no registro de obras efêmeras, como panfletos e
notícias. Portanto, apesar dos privilégios, textos circulavam também sem licença59.
É preciso salientar, contudo, que a existência do sistema de privilégios não
impediu que as obras protegidas fossem constantemente impressas por outros editores. A
partir de 1650, instala-se na rede internacional do livro europeu uma verdadeira guerra
comercial. Os impressores holandeses tornaram-se especialistas em contrafações de livros
impressos em Paris “graças à ausência de um regulamento internacional em matéria de
privilégio e de edição”60.
Depois que saiu da pena do autor, o manuscrito ainda sofria intervenções de
diversos atores, como os editores, impressores e revisores. Segundo Chartier, “decisões
referentes a aspectos materiais do texto eram, portanto, claramente atribuídas aos
57 Cf. ROCHE, Daniel. A censura e a indústria editorial. In: DARNTON, Robert & ROCHE, Daniel (Orgs.).
A Revolução Impressa: A Imprensa na França, 1775-1800. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 1996. p. 26. 58 Cf. LIMA, Verônica Calsoni. “Impresso para ser vendido na Crown em Pope’s Head Alley”: Hanna
Allen, Livewell Chapman e a disseminação de panfletos radicais religiosos durante a Revolução Inglesa
(1646-1665). Dissertação (Mestrado em História) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2016. p. 35-36. 59 Cf. MCKENZIE, Donald Francis. Printing and publishing 1557-1700: constraints on the London book
trades. In: BARNARD, John; MACKENZIE, Donald; BELL, Maureen (Eds.). The Cambridge History of
the Book in Britain, vol. 4. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p. 563-566. 60 FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 341.
34
múltiplos agentes envolvidos no processo de publicação”61. Na Espanha do Século de
Ouro, por exemplo, a pontuação era feita pelos compositores ou revisores. Os revisores
preparavam a cópia para a impressão e constantemente acrescentavam acentos, letras
maiúsculas e sinais de pontuação. Nesse sentido, os compositores e revisores intervinham
durante todo o processo de impressão, que incluía a preparação da cópia, leitura da prova,
correções no prelo, compilação de errata e até mesmo correções à mão em cada exemplar
impresso62.
Depois de alterada e revisada, a cópia manuscrita seguia para o processo de
impressão, que tinha lugar em uma tipografia ou casa impressora. As tipografias
modernas se dividiam em duas partes: la casse, onde os tipos eram compostos, e la presse,
onde as folhas eram impressas63. Na primeira, o compositor reunia os caracteres,
comumente chamados de tipos, em páginas e em grupos de páginas. A fôrma, formada
pelo conjunto de páginas de acordo com o tamanho do livro final, era utilizada na prensa
na fase seguinte da produção: a impressão. A técnica de composição manual acima
descrita apresentou pouca variação desde a difusão da invenção de Gutenberg. Os
instrumentos continuaram basicamente os mesmos: os tipos, que eram guardados nas
caixas e subdivididos nos caixotins, e o componedor, um pequeno recipiente alongado
onde são colocados os tipos que compõem uma linha. As linhas eram agrupadas em uma
pequena bandeja chamada galé, que organizava as páginas, posteriormente reunidas e
amarradas nas fôrmas64.
61 CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 163. 62 Cf. CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 163-
165. 63 Cf. DARNTON, Robert. O Iluminismo como Negócio. História da Publicação da Enciclopédia, 1775-
1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 176. 64 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 120.
35
Após a composição, as fôrmas seguiam para a impressão, cujo instrumental
fundamental era a prensa. O funcionamento era simples: a matriz, isto é, as páginas de
caracteres, era colocada sobre o mármore e recebia tinta. Depois, a folha era posta sobre
os caracteres e a prensa é posta em funcionamento. A folha de papel, comprimida pela
platina contra a matriz, recebia a impressão dos caracteres. Este sistema, com algumas
modificações, foi empregado nas diversas regiões da Europa desde a metade do século
XV ao século XVIII65. Neste período, conforme salientam Febvre & Martin,
a tradicional prensa de duas batidas sofreu apenas modificações de
detalhes; durante cerca de três séculos os tipógrafos de contentaram
com esse instrumento sólido no qual imprimiam com uma velocidade
que nos espanta: cada dia, os companheiros dos séculos XVI e do século
XVII, que trabalham de doze a dezesseis horas, deviam recolocar de
2500 a 3500 folhas (impressas de um só lado, é verdade); assim, eles
conseguiam tirar na prensa de duas batidas uma folha a cada vinte
segundos66.
O processo de impressão era gerido e organizado pelo mestre-impressor, que
podia ser um impressor ou um livreiro. Ao longo dos tempos modernos, muitos homens
exerciam tais funções simultaneamente. Ainda que muitos livreiros raramente editassem
livros, a maioria dos impressores possuíam uma loja de livros e cuidavam da
comercialização dos exemplares impressos em sua tipografia. Seja como for, o caso mais
comum, segundo Febvre & Martin, era o do pequeno impressor que possuía apenas um
ou dois prelos em sua casa. Durante o processo de impressão, ele contratava outros
tipógrafos, companheiros e aprendizes67.
Cabia ao mestre-impressor resolver uma questão importante em qualquer
empreendimento: o preço de custo. Prensas, caixas, galés e fontes, isto é, o material base
65 Cf. Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p.124-126. 66 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 130. 67 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 225-226.
36
da oficina, não representavam o maior obstáculo. O maior desafio se apresentava no
momento da edição de uma obra68. Em um livro, evidentemente, a matéria-prima era o
papel, que custava muito caro durante o período moderno e seu preço representava
aproximadamente o mesmo custo da impressão e da mão-de-obra. Não por acaso,
frequentemente, os impressores recorriam a atores externos para contraírem empréstimos
ou financiarem seus empreendimentos editoriais69.
Durante o “antigo regime tipográfico”, como o chamou Chartier, desde meados
do século XV ao início do século XIX, o texto principal de um livro era impresso
primeiro. As porções preliminares e finais de uma determina obra, como tabelas, índice,
erratas, saíam do prelo depois. O mesmo acontecia com os prefácios, dedicatórias e
prólogos, denominados paratextos por Gérard Genette70. Por isso, relações distintas
tinham lugar entre estes materiais preliminares de diferentes origens e funções. Segundo
Chartier, nos paratextos, encontramos ligação entre o autor e seus leitores e protetores,
no prólogo e na dedicatória; entre o monarca e o autor; entre os censores e ministros que
concediam o privilégio ao editor; dentre outras71.
O processo de edição, revisão e impressão de uma obra é fundamental para moldar
o sentido que os leitores constroem durante o ato da leitura72. Ainda que provavelmente
não se dessem conta disto, os leitores do período moderno concediam grande importância
à qualidade técnica de uma obra. “Antes de comprar um livro”, afirma Darnton, “os
leitores do Antigo Regime inspecionavam cuidadosamente a mercadoria, sentindo as
68 Cf. RAVEN, James. The Book Trades. In: RIVERS, Isabel (Ed.). Books and their Readers in Eighteenth-
century England: New Essays. London, New York: Continuum, 2001. p.11. 69 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 194-195, p. 197. 70 Cf. GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. p. 9-10. 71 Cf. CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 239-
240. 72 Cf. MCKENZIE, Donald Francis. Bibliografia e Sociologia dos Textos. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2018. p. 30.
37
páginas entre os dedos, olhando-os contra a luz, averiguando a forma dos caracteres, a
clareza da impressão, a largura das margens e a elegância visual da obra como um todo”73.
Resta descobrir como os livros eram comercializados, vendidos e chegavam às mãos dos
leitores.
1.1.3 Os Livreiros e a circulação das obras impressas
O termo “livreiro” possuía amplo significado entre os séculos XV e XVIII e
abarcava outras ocupações, como a de editor, impressor ou vendedor de livros74. Os
grandes livreiros-editores reuniam ao seu redor pequenos livreiros que se encarregavam
das redes comerciais que abasteciam o mercado livreiro em diversas regiões. É o caso,
por exemplo, da oficina de Plantin Moretus em Antuérpia. Fundada no século XVI, a
oficina obteve apoio de conselheiros de Filipe II (1527-1598) e recebeu o monopólio da
edição de boa parte dos livros litúrgicos tridentinos na Espanha e suas colônias. Neste
período, Plantin reuniu centenas de operários, depósitos e livreiros correspondentes em
diversas cidades da Europa, como Frankfurt, Paris, Lyon, Nuremberg, Veneza e Madrid75.
No caso do grande empreendimento da Enciclopédia in-quarto publicada entre
1777 e 1779 em Genebra e Neuchâtel, por exemplo, os editores vendiam assinaturas aos
livreiros, que então revendiam aos clientes. Mensagens ao público eram veiculadas pelos
editores, constantemente encerradas com a fórmula “Pode-se subscrever nos principais
73 DARNTON, Robert. O Iluminismo como Negócio. História da Publicação da Enciclopédia, 1775-1800.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 150. 74 Cf. RAVEN, James. The Book Trades. In: RIVERS, Isabel (Ed.). Books and their Readers in Eighteenth-
century England: New Essays. London, New York: Continuum, 2001. p. 14-15. 75 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 211-212. Para a circulação destes impressos nos impérios ibéricos,
ver: THOMAS, Werner; STOLS, Eddy; KANTOR, Iris; FURTADO, Júnia (Orgs.). Um Mundo Sobre
Papel. Livros, Gravuras e Impressos Flamengos nos Impérios Português e Espanhol. São Paulo: EdUSP,
2014.
38
livreiros de cada cidade”76. Os livreiros distribuíam também prospectos das obras em suas
lojas e publicavam anúncios em periódicos locais77.
Havia também o livreiro negociante, que atuava como editor, mas não como
impressor. Neste ofício, o livreiro escolhia os textos, negociava com os autores e escolhia
um tipógrafo ou casa impressora capaz de imprimir a obra. Além disso, atuava na venda
e na distribuição dos exemplares através de sua gama de correspondentes. Exemplo disso
é a trajetória de Laurent Anisson (1600-1672), importante editor de Lyon no século XVII,
que enviou um de seus filhos para realizar alianças e contratos de vendas e distribuição
de livros em várias regiões da Europa, como Basileia, Colônia, Frankfurt, Antuérpia,
Espanha e Itália78.
Desta forma, os livreiros frequentemente recorriam a agentes que percorriam
grandes e pequenas cidades em busca de clientes. Em posse de folhas de anúncios,
prospectos e cartazes com listas de obras, os agentes chegavam às cidades e vendiam os
livros que seriam entregues posteriormente. Desta forma, eles estabeleciam contatos
importantes para a venda de edições futuras79.
Em vista disso, a construção de uma rede comercial além das fronteiras de seu
país era fundamental para um livreiro bem-sucedido do Antigo Regime. Contudo, era
necessário que este dominasse um sistema de transporte dos livros. Neste período, os
custos do transporte eram elevados e os fardos de livros precisavam romper vários
76 DARNTON, Robert. O Iluminismo como Negócio. História da Publicação da Enciclopédia, 1775-1800.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 209. 77 DARNTON, Robert. O Iluminismo como Negócio. História da Publicação da Enciclopédia, 1775-1800.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 210. 78 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 227-229. 79 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 321.
39
entraves para chegarem ao seu destino80. Os expedidores cuidavam do transporte das
folhas em carretos, barcaças, navios e correio. Os livros, conta Robert Darnton, “eram
geralmente enviados em folhas soltas, de modo que o comprador podia encaderná-los de
acordo com seu gosto e seu bolso. Eles eram transportados em grandes fardos
embrulhados em bastante papel, e facilmente sofriam estragos com a chuva e o atrito das
cordas”81.
Quando os “fardos” chegavam em bom estado ao seu destino, era preciso realizar
o pagamento pelos livros ali contidos. Na falta de uma organização bancária consistente,
os livreiros recorriam às “trocas de livros por livros” e notas promissórias82. As “letras de
câmbio”, como eram chamadas as promissórias, integravam um sistema tradicional que
envolvia complicadas trocas financeiras entre vários livreiros83.
Assim, o mercado de livros estava repleto de atores que não correspondiam
unicamente às funções que hoje lhe são atribuídas. Não raro, os papéis de editores,
livreiros e impressores se confundiam. Antes de chegarem aos leitores, seus
consumidores finais, as folhas que compunham os livros passavam por muitas mãos desde
a escrita do manuscrito, a revisão, a composição, a impressão, a venda e o transporte.
1.1.4 A posse do livro e as práticas de leitura
Em 1768, veio à luz o tratado De la santé des gens de lettres escrito pelo médico
suíço Samuel Auguste Tissot (1728-1797). “Além de doenças nervosas, as letras
80 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 317-319. 81 Cf. DARNTON, Robert. O que é história dos livros? In: DARNTON, Robert. O Beijo de Lamourette:
mídia, cultura e revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 125-126. 82 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 319-320. 83 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. p. 320.
40
produzem uma infinidade de outros males”, escrevia o médico na obra que versava sobre
os perigos que a leitura trazia para a saúde, principalmente aos homens de letras. Segundo
Tissot, alguns livros podiam causar anemia, asma, problemas estomacais, cálculos renais
e até mesmo sífilis84. As palavras de Tissot ilustram uma das diversas concepções de
leitura que circulavam nas sociedades da Época Moderna desde a difusão da imprensa e
o consequente crescimento na produção livreira85. As práticas de leitura foram
significativamente alteradas desde a invenção de Gutenberg e, por isso, possuem uma
historicidade86.
Durante os tempos medievais, difundiu-se o hábito de ler coletivamente em voz
alta. Em algum momento entre os séculos IX e XI os monges dos scriptoria abandonaram
a cópia oralizada e, no século XIII, os universitários também aderiram à leitura em
silêncio. Foi apenas a partir do século XIV, com a invenção da imprensa, que a leitura
silenciosa se estendeu às camadas laicas da sociedade. Segundo Chartier, durante os
tempos modernos, a leitura oral e a silenciosa coexistiram e não devem, portanto, ser
reduzidas à dois grandes modelos opostos87.
Na maioria das cidades francesas do século XVIII, por exemplo, Daniel Roche
constata a “importância da leitura partilhada e no aparecimento das formas coletivas de
acesso”. Era corrente a leitura coletiva no âmbito de festejos de associações e confrarias
religiosas; o compartilhamento de cadernos técnicos e a troca de livros populares. A
população urbana francesa lia também nos cartazes, nas cartas pessoais e nos letreiros das
84 No original, lê-se “Outres les maledies de nerfs que cause l’étude en derangeant les nerfs, elle produit
une infinité d’autres maux”. TISSOT, Samuel Auguste David. De la santé des gens de lettres; par M. Tissot.
Lausana: Chez J. F. Bassompierre, 1768. p. 34-35. 85 Cf. CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 119. 86 Cf. EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa Moderna.
São Paulo: Editora Ática, 1998. p. 50. DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.).
A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 204. 87 Cf. CHARTIER, Roger. Do livro à leitura. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São Paulo:
Estação Liberdade, 2011. p. 82.
41
ruas. Nos cestos dos ambulantes que perambulavam pelas vilas francesas, encontravam-
se não apenas livros, mas pasquins, livretos, canções e ocasionais escritos políticos88.
Ao analisar as representações da leitura nas artes plásticas, Chartier observa uma
contradição. Se por um lado, dominam quadros e estampas que representam o ato de ler
enquanto prática privada, por outro, circulam também representações que fazem dela um
ato coletivo e cerimonial. A pintura francesa setecentista privilegiou cenas da leitura
feminina e romanesca na intimidade. Outros pintores, por seu turno, retrataram cenas de
leitura em voz alta entre uma família ou membros de uma comunidade89. É o caso do
célebre quadro A Leitura da Bíblia (1755) de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), que hoje
repousa no Museu do Louvre. Greuze pinta a cena de um pai, sentado à mesa, que lia as
Sagradas Escrituras para seus filhos, que o ouviam atentamente90.
Entre os séculos XV e XVIII, a leitura ocorria em diferentes espaços. Muitas
vezes, acontecia durante um encontro popular ao redor do fogo, nomeado como veillée
na França e Spinnstube na Alemanha. Os pais liam para seus filhos e familiares em suas
salas, e os religiosos para seus fiéis nas igrejas. Na Inglaterra, durante o século XVIII,
proliferaram sociedade filosóficas, científicas e literárias, beef-houses (precursores dos
restaurantes), coffee-houses (casas de café) e public houses (tavernas) que se converteram
em espaço de sociabilidade, discussão e leitura entre os letrados da época91.
88 Cf. ROCHE, Daniel. As práticas da escrita nas cidades francesas do século XVIII. In: CHARTIER, Roger
(Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 197-199. Citação extraída da p. 197. 89 Cf. CHARTIER, Roger. Do Livro à Leitura. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São
Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 90-92. 90 GREUZE, Jean-Baptiste. La Lecture de la Bible. Pintura a óleo. Paris, Musée du Louvre, 1755.
Disponível em: https://www.louvre.fr/en/reading-bible-jean-baptiste-greuze. Acessado em 17/04/2019. 91 Cf. DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 222. Sobre o processo de ampliação dos espaços públicos
de lazer e sociabilidade na Inglaterra, ver: SOARES, Luiz Carlos Soares. A Albion Revisitada. Ciência,
religião, ilustração e comercialização do lazer na Inglaterra do século XVIII. Rio de Janeiro: 7Letras,
2007. Em especial, o capítulo “Comercialização do lazer, ampliação dos espaços públicos de diversão e
novas formas de sociabilidade: uma outra dimensão da Ilustração inglesa”.
42
Segundo Chartier, o crescente volume de impressos e seu consequente
barateamento fez com que leitores europeus se familiarizassem com o livro enquanto
propriedade pessoal, o que fez crescer o número de possuidores de bibliotecas92. Apesar
da redução em seu preço, os livros não eram artigos baratos. Não por acaso, as bibliotecas
tornaram-se espaços de leitura por excelência. Segundo Peter Burke, as bibliotecas
Bodleian em Oxford, a Ambrosiana em Milão e a Agostiniana em Roma permitiam livre
acesso aos leitores desde o século XVII. Entre 80 e 100 leitores frequentavam a Biblioteca
Mazarina em Paris em 164893. Robert Darnton comenta o caso da Bibliotèque du Roi, em
Paris. Ainda que seus frequentadores, dentre eles um certo Denis Diderot, não pudessem
levar seus livros, eles gozavam de uma hospitalidade curiosa: o bibliotecário abria-lhes
as portas duas manhãs por semana e até oferecia uma refeição antes do fim do dia94.
Além da utilização de bibliotecas, muitos letrados associavam-se a clubes de
leitura, também chamados de cabinets littéraires ou Lesegesellschaften. P. J. Bernard, um
pequeno livreiro da região da Lorena, anunciava em 1779 seu clube literário, que chegou
a contar com duzentos frequentadores oriundos da gendarmerie local:
Ele gostaria que, mediante uma subscrição certa e invariável, os
senhores Gendarmes encontrassem em seu estabelecimento todos os
recursos literários que pudessem encontrar. Uma casa cômoda, grande,
bem iluminada e aquecida, que estará aberta todos os dias das nove
horas da manhã até o meio-dia e da uma hora da tarde até as dez da
noite, oferecendo desde agora aos amadores dois mil volumes que serão
aumentados em quatrocentos a cada ano95.
Uma hipótese importante acerca da leitura na Época Moderna refere-se à
“revolução da leitura”, ocorrida entre a segunda metade do século XVIII e a primeira
92 Cf. CHARTIER, Roger. As Práticas da Escrita. In: CHARTIER, Roger (Org.). História da Vida Privada,
vol. 3. Da Renascença ao Século das Luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 132. 93 Cf. BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2003. p. 160. 94 Cf. DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 215. 95 DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 241.
43
metade do século XIX. Engelsing e Hall vislubram, na Alemanha e na Nova Inglaterra,
respectivamente, a passagem de uma leitura intensiva ou tradicional a uma outra,
denominada extensiva, caraterizada pelo contato com um amplo número de textos96. Até
meados do século XVIII, os leitores europeus se apropriavam repetidamente de um
número reduzido de livros, como a Bíblia, os almanaques e pequenas obras devocionais.
Entre 1750 e 1850, ao menos na Alemanha e na Nova Inglaterra, uma nova maneira de
ler surgiu. A nova prática consistia na leitura de variados textos individualmente,
sobretudo romances e jornais97.
Esta hipótese foi recorrentemente discutida no âmbito da historiografia das
práticas de leitura. A partir do estudo de um leitor de Rousseau (1712-1778), Robert
Darnton ressalta a permanência de uma “leitura refletida e repetida dos clássicos”. Além
de jornais e romances, “longe de abandonar a leitura intensiva, aplica-se a ela de todo o
coração”98. Roger Chartier questiona a validade do modelo de Engelsing e Hall para os
reinos católicos, nos quais a leitura da Bíblia pelos leigos, por exemplo, não era
estimulada. “Em terra católica, os clérigos são os intermediários obrigatórios entre a
Palavra divina e os fiéis, e nenhum livro tem aí uma importância existencial semelhante
96 ENGELSING, R. Der Bürger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland, 1550-1800. Stuttgart, 1974.
HALL, D. Introduction: the Uses of Literacy in New England, 1660-1850. In: JOYCE, W.; HALL, D.;
BROWN E HENCH, R. (Orgs.). Printing and Society in Early America. Worcester: American Antiquarian
Society, 1983. Apud CHARTIER, Roger. Do Livro à Leitura. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da
Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 85. 97 Cf. CHARTIER, Roger. Do Livro à Leitura. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São
Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 85-86. DARNTON, Robert. A leitura rousseauista e um leitor “comum”
no século XVIII. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.
p. 167. BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 2003. p. 161. DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A
escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 216-217. 98 DARNTON, Robert. A leitura rousseauista e um leitor “comum” no século XVIII. In: CHARTIER, Roger
(Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 168.
44
à da Bíblia entre os reformados”. Apesar disso, Chartier destaca a existência de leituras
intensivas fortes na França, principalmente de almanaques, notícias e folhetins99.
Após discutir brevemente as práticas, as representações e locais da leitura durante
a Época Moderna, é preciso refletir sobre o que Darnton chamou de seu “processo
interno”, isto é, o modo como os leitores compreendem e constroem o sentido das
palavras. A dificuldade das fontes é o primeiro empecilho para o historiador que se
aventura nessa seara. É necessário considerar as descrições contemporâneas da leitura em
livros, cartas, pinturas e gravuras100. Como sugere Goulemot, os relatos biográficos
podem revelar a forma como alguns leitores concebiam e empreendiam a leitura101.
Além disso, o historiador pode investigar os relatórios de censores, as práticas de
ensino da leitura nos colégios da época e até mesmo as notas escritas à margem pelos
leitores. Os anúncios e prospectos de livros em jornais e gazetas são úteis, uma vez que,
segundo Robert Darnton, “no século XVIII, os anunciantes presumiam que seus clientes
se preocupavam com a qualidade física dos livros. Tanto compradores quanto vendedores
compartilhavam do mesmo modo de um conhecimento tipográfico que atualmente está
quase extinto” 102.
A partir do uso de diversas dessas fontes, alguns historiadores foram capazes de
compor estudos micro analíticos acerca do modo como os leitores liam entre os séculos
XV e XVIII. Carlo Ginzburg seguiu os rastros de Domenico Scandella (1532-1599),
vulgo Menocchio, um moleiro friuliano queimado por ordens do Santo Ofício no século
99 Cf. CHARTIER, Roger. Do Livro à Leitura. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São
Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 87. 100 Cf. DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 221. 101 Cf. GOULEMOT, Jean Marie. Da leitura como produção de sentidos. In: CHARTIER, Roger (Org.).
Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 107. 102 DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 225.
45
XVI. A partir da vasta documentação inquisitorial, o historiador italiano demonstrou a
leitura ativa e a interpretação que Menocchio dava aos textos que lia, formando uma
cosmogonia própria. Entre as perguntas dos inquisidores e as respostas do acusado,
Ginzburg deixou entrever um estrato profundo da cultura popular, combinado com
leituras de diversas obras, como evangelhos, breviários, crônicas e livros de viagem103.
Os aspectos materiais do livro impresso, como sugeriu Donald McKenzie,
impactavam a construção de sentido do leitor104. Roger Chartier, demonstra a validade
desta assertiva a partir do estudo da Bibliothèque Bleue. Desde fins do século XVI,
impressores de Troyes passaram a editar obras de diversos gêneros sob uma capa azul de
baixo preço: livros de devoção, romances, contos, obras de utilidade, dentre outros105. Os
editores intervinham nestes livros azuis, modificando sua apresentação a partir da
multiplicação dos capítulos, o aumento do número de parágrafos e a redução e
simplificação dos episódios narrados. Segundo Chartier, “a leitura implícita postulada
através de um tal trabalho é uma leitura capaz de apreender somente enunciados simples,
lineares, cerrados”106.
Por vezes, os próprios autores guiavam os leitores comuns em seus livros. É o
caso, por exemplo, de um certo Jean Ranson, comerciante de La Rochelle, e os livros de
Rousseau (1712-1778). Segundo Robert Darnton, nos prefácios de La Nouvelle Héloïse,
Rousseau orientava seus leitores a uma leitura ativa e criadora, que rompia com a
103 GINZURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela
Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. Especialmente os capítulos “11. Opiniões...saíram da
minha própria cabeça”; “12. Os livros”; “13. Leitores da aldeia”; “14. Folhas impressas e ‘opiniões
fantásticas’” e “16. O templo das virgens”. 104 Cf. MCKENZIE, Donald Francis. Bibliografia e Sociologia dos Textos. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2018. p. 30. 105 Cf. CHARTIER, Roger. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: Editora Unesp,
2004. p. 261-264. 106 Cf. CHARTIER, Roger. Do Livro à Leitura. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São
Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 104.
46
literatura tradicional e influenciava diretamente o cotidiano e a vida familiar107. Não por
acaso, nas cartas trocadas entre Ranson e a Société Typographique de Neuchâtel entre
1774 e 1785, constata-se que aquele leu Rousseau e incorporou suas ideias na estrutura
de sua vida profissional e familiar, inclusive na educação de seus filhos. Outros leitores
enviaram cartas a Rousseau, que contavam suas reações diante da leitura, o que se
configurou como “a primeira onda gigantesca de correspondência de admiradores na
história da literatura”108.
Os exemplos apresentados ilustram a multiplicidade de diferentes práticas de
leituras e formas de apropriação, como propõe Roger Chartier, que tiveram lugar na
Europa ao longo da Época Moderna109. O livro impresso percorria um longo caminho
antes de chegar às mãos dos ávidos leitores, desde a pena do seu autor aos prelos dos
impressores e tipógrafos. Todo este processo influenciava, como demonstram as
contribuições de Robert Darnton e Donald McKenzie, o modo pelo qual os leitores
construíam o sentido e o significado do que liam em seus próprios universos mentais,
muito distantes do que conhecemos atualmente110.
1.2. ALEXANDER POPE: POESIA, TRADUÇÕES E LIVROS NA INGLATERRA
Consoante à metodologia da história do pensamento político preconizada por
Quentin Skinner, “o contexto social constitui o quadro de análise fundamental que nos
107 Cf. DARNTON, Robert. A leitura rousseauista e um leitor “comum” no século XVIII. In: CHARTIER,
Roger (Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. p. 152, 156 e 166. 108 DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 205. 109 Cf. CHARTIER, Roger. O Mundo como Representação. Estudos Avançados. São Paulo, vol. 5, n.11.
jan/abr, 1991. p. 177-180. 110 Cf. DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 238. MCKENZIE, Donald Francis. Bibliografia e
Sociologia dos Textos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2018.
47
permite saber quais os significados que alguém poderia ter tentado comunicar” 111. Nesse
sentido, é preciso apresentar o contexto em que Alexander Pope escreveu sua imensa
obra: a Inglaterra entre fins do século XVII e o início do século XVIII.
1.2.1 A Inglaterra entre a Revolução Gloriosa e as Luzes
‘Tis well an Old Age is out,
And time to begin a New
- John Dryden112
Os versos acima, escritos por John Dryden (1631-1700) em 1700, compõem a
cena intitulada “The Second Masque” de uma de suas comédias satíricas. Nela, o poeta
inglês faz uso de duas alegorias clássicas: Janus, divindade romana das mudanças e
transições, e Chronos, personificação mitológica do tempo. O que o trecho nos revela,
fundamentalmente, é a percepção das transformações que tiveram lugar na Inglaterra
desde as últimas décadas do século XVII.
Diante do temor do monarca Jaime II (1633-1701), da dinastia Stuart, restaurar o
catolicismo e alterar a balança política, os partidos Whig e Tory, ainda que opostos, se
comprometeram a mudar o curso da história da inglesa com o objetivo de preservar suas
propriedades e privilégios enquanto elite política. Os partidos buscavam também proteger
suas posições de autoridade e influência no campo político e, temendo outra guerra civil,
como a desencadeada em 1640, não viram outra maneira senão pelo fortalecimento da
monarquia. Ao mesmo tempo, o Parlamento mostrava-se ansioso para resguardar seu
111 SKINNER, Quentin. Significação e compreensão na história das ideias. In: _____. Visões da Política
sobre os Métodos Históricos. Algés: Difusão Editoiral, 2005. p. 124. 112 DRYDEN, John. Poetry, Prose and Plays selected by Douglas Grant. London: Hart-Davis, 1952.
48
poder constitucional ancestral. Os substitutos do monarca católico seriam sua filha Maria
(1662-1694) e seu marido, Guilherme de Orange (1650-1702), ambos protestantes. Após
longas discussões sobre as atribuições de Guilherme, se este seria regente, consorte ou
rei, a reunião parlamentar de 1689 decidiu, em uma tentativa de legitimação do novo
regime, que Jaime II havia abdicado de sua posição e Guilherme e Maria seriam os
herdeiros da Coroa113.
A historiografia aponta as diversas repercussões dos acontecimentos de 1688 e
1689 na história inglesa nas décadas seguintes. Lawrence Stone, em meio ao retorno da
narrativa, destacou a instabilidade ocasionada pelas duas revoluções na Inglaterra
seiscentista e procurou analisá-las de forma conectada. Se em 1640, o Direito Divino da
monarquia foi demolido quando o rei Carlos I (1600-1649) foi posto em julgamento; em
1688, os poderes régios foram enfraquecidos e o Parlamento se transformou na instituição
fundamental para o governo da nação. A partir de 1688, a sociedade inglesa fragmentou-
se entre dois grandes partidos: Whigs e Tories, que discordavam em matérias religiosas,
constitucionais, econômicas e militares114.
No âmbito do marxismo britânico, para Christopher Hill, “a Revolução de 1688
significou um momento crucial na história econômica, política e institucional” da
Inglaterra115. No campo econômico, este ano marcou o fim do antigo estilo de monopólio
comercial através das companhias de modelo exportador e o início da experiência do
113 Cf. DICKINSON, H. T. The Eighteenth-Century Debate on the ‘Glorious Revolution’. History. The
Journal of the Historical Association. Volume 61, Issue 201, February 1976. p. 29. 114 Cf. STONE, Lawrence. The Results of the English Revolutions of the Seventeenth Century. In:
POCOCK, J. G. A. (Ed.). Three British Revolutions. 1641, 1688, 1776. Princeton: Princeton University
Press, 1980. p. 23, p. 49-53. 115 HILL, Christopher. O Século das Revoluções, 1603-1714. São Paulo: Editora Unesp, 2012. p. 281.
49
livre-comércio. Além disso, a década de 1690 se configurou como um período de
projeção, desenvolvimento e prosperidade industrial116.
No âmbito político, segundo Hill, a Revolução Gloriosa marcou a restauração do
poder à classe tradicional dominante, os nobres e os ricos comerciantes. A assinatura da
Bill of Rights (1689) pelo Parlamento representou um bem-sucedido acordo entre os dois
partidos políticos, os Whigs e os Tories. Além disso, significou também a garantia da
religião, das leis e das liberdades do reino, antes da escolha do novo monarca, questão
fundamental naquele contexto. Ainda que vaga, a declaração cerceou as pretensões régias
de suspensão de leis e de exercício de seu poder ilimitado. O parlamento também passou
a exercer seu controle através das finanças: verbas para fins específicos deviam ser
votadas individualmente117.
J. G. A. Pocock, historiador do pensamento político, defende que a Revolução de
1688 não emergiu das instabilidades oriundas da longa guerra civil que se estendeu
durante as quatro ou cinco décadas anteriores. Na verdade, aponta o autor, a condição
principal para os acontecimentos de 1688 foi a fragilidade da estrutura da Igreja
Anglicana, que pôs em xeque a monarquia e o governo das elites política e eclesiástica118.
Além disso, merece destaque a reorganização financeira e militar do Estado inglês após
1688, fundamental para consolidação de seu papel principal nas grandes guerras ocorridas
na Europa, como a Guerra da Liga de Augsburgo (1688-1697), e na própria presença do
velho continente na América.
116 Cf. HILL, Christopher. O Século das Revoluções, 1603-1714. São Paulo: Editora Unesp, 2012. p. 281-
285. 117 Cf. HILL, Christopher. O Século das Revoluções, 1603-1714. São Paulo: Editora Unesp, 2012. p. 295-
298. 118 Cf. POCOCK, J. G. A. The significance of 1688: some reflections on Whig history. In: ____. The
Discovery of Islands. Essays on British History. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 115.
50
Esta reorganização foi composta pela instituição de um exército permanente e pela
criação de um sistema de crédito público capaz de mantê-lo119. A mudança apontada por
Pocock é ainda mais profunda do que parece. Trata-se da transição entre um Estado
caracterizado por longas guerras de religião para uma era marcada pela Razão de Estado
e, fundamentalmente, pela Ilustração. Em suas palavras,
a Inglaterra estava deixando o mundo da guerra civil e social e entrando
naquele da razão de estado europeia; estava passando de uma era das
Guerras de Religião e penetrava na da Ilustração, na qual os estados
eram capazes de controlar seus exércitos e suas tendências
fragmentadas relativas à guerra religiosa e civil. Isto representou o fim
das políticas hobbesianas; ou melhor, a vitória do Leviatã120.
A sociedade comercial, dinâmica, composta por novos grupos sociais, que
emergiu da Revolução Gloriosa demandava, segundo Paul Langford, um novo código de
condutas e de maneiras capaz de sua regulação121. Não por acaso, as repercussões da
Revolução Gloriosa fizeram-se sentir no âmbito moral e religioso. Segundo Lawrence
Stone, “houve, portanto, uma grande mudança na mentalidade à medida que as antigas
crenças erodiam lentamente; como resultado, na década de 1730, o clima político,
religioso e moral da Inglaterra era completamente diferente do que tinha sido em
1688”122. A principal transformação, aponta o historiador britânico, foi o
119 Cf. POCOCK, J. G. A. The significance of 1688: some reflections on Whig history. In: ____. The
Discovery of Islands. Essays on British History. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 123. 120 No original, lê-se: “England was leaving the world of civil and social war and entering that of European
reason of state; was passing out of the age of Wars of Religion and entering that of Enlightenment, in which
states were capable of controlling their armies and their own fissiparous tendencies towards religious and
civil war. It was the end of Hobbesian politics; or rather, it was the victory of Leviathan”. POCOCK, J. G.
A. The significance of 1688: some reflections on Whig history. In: ____. The Discovery of Islands. Essays
on British History. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 123. 121 Cf. LANGFORD, Paul. Eighteenth-Century Britain. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford
University Press, 2000. p. 4. 122 No original, lê-se: “There was thus a major shift in mentalité as old beliefs slowly eroded, as a result of
which by the 1730s the political, religious, and moral climate of England was altogether different from
what it had been in 1688”. STONE, Lawrence. The Results of the English Revolutions of the Seventeenth
Century. In: POCOCK, J. G. A. (Ed.). Three British Revolutions. 1641, 1688, 1776. Princeton: Princeton
University Press, 1980. p. 72, grifos no original.
51
desenvolvimento de uma nova escala de valores, em que a moral individual suplantava o
dogma religioso.
Também Roy Porter defende que as repercussões da Revolução Gloriosa
trouxeram uma revolução nas consciências. Após 1688, foram incorporados os principais
objetivos do pensamento ilustrado: a liberdade pessoal sob o habeas corpus, a norma da
lei, o poder do Parlamento e a tolerância religiosa. Apesar de argumentar que a Revolução
não foi uma “solução final” para o consenso político, Porter defende que as concepções
ilustradas não objetivavam subverter o sistema e sim mantê-lo. Caracterizada pelo seu
pragmatismo, a Ilustração inglesa expressou uma “nova mentalidade e novos valores
morais, novos cânones de gosto, estilos de sociabilidade e visões da natureza humana”123.
Ainda no âmbito moral, J. G. A. Pocock defende que entre 1688 e 1776, a questão
política central não era o direito de oposição ao governo, “mas se um regime fundado no
direito de nomeação de cargos públicos, ou ‘patronagem’, dívida pública e
profissionalização das forças armadas não corromperia tanto governantes quanto
governados”124. Por isso, a discussão sobre a corrupção da época transferiu-se para o
âmbito do paradigma da virtude e da afirmação de um novo ideal de cidadão, virtuoso em
relação ao bem público e independente de qualquer relação que pudesse torná-lo
corrupto125.
123 No original, lê-se “new mental and moral values, new canons of taste, styles of sociability and views of
human nature”. PORTER, Roy. Enlightenment: Britain and Creation of the Modern World. London:
Penguin Books: 2000. p. 14. Para uma discussão historiográfica acerca das Luzes inglesas ver: SOARES,
Luiz Carlos Soares. A Albion Revisitada. Ciência, religião, ilustração e comercialização do lazer na
Inglaterra do século XVIII. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. Especialmente o capítulo “Novas perspectivas
para os estudos sobre a Ilustração inglesa”. GASPAR, Gabriel de Abreu Machado. A Luz que vem do
Norte: perspectivas historiográficas sobre a Ilustração Inglesa. Temporalidades – Revista de História, Belo
Horizonte, Edição 28, v. 11, n. 1, set./dez. 2018. 124 POCOCK, J. G. A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP: 2003. p. 96. 125 Cf. POCOCK, J. G. A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP: 2003. p. 96.
52
Neste novo contexto comercial que emergia, argumenta Pocock, os ideais de
virtude cívica e romana não eram compatíveis com o comércio. Por isso, “a virtude foi
redefinida (...) com a ajuda do conceito de ‘maneiras’”126. Como as novas relações
possuíam natureza social e não política, os indivíduos não desenvolviam “virtudes” e sim
“maneiras”. O objetivo do comércio, então, era o de refinar as paixões e polir as
maneiras127.
A ampliação dos espaços públicos de lazer e o surgimento de novas formas de
sociabilidade também marcaram os novos tempos, respondendo às demandas destes
novos grupos sociais em ascensão. Teatros, casas de café, tavernas, museus e galerias
converteram-se em espaços de excelência de discussão e pontos de encontro entre
políticos, filósofos e letrados da época. Joseph Addison (1672-1719), ensaísta britânico
fundador do periódico The Spectator (1711-1714), buscou unir o “homem do mundo” ao
“homem de letras”, ao retirar os eruditos de seus gabinetes universitários e trazer a
filosofia para os clubes e reuniões. Luiz Carlos Soares destaca também o papel das
sociedades filosóficas, científicas e literárias no âmbito do fenômeno de ampliação dos
espaços de sociabilidade e discussão128.
Outra ressonância cultural fundamental da Revolução Gloriosa foi a revogação
em 1695 do Ato de Licenciamento, que representou o fim da censura pré-publicação e a
inauguração de um período de relativa liberdade de imprensa. Conforme ressalta Porter,
“Esta excepcional liberdade de expressão desencadeou guerras impressas que
concederam às batalhas mentais suas energias duradouras, e que levaram os ativistas
126 POCOCK, J. G. A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP: 2003. p. 96. 127 Cf. POCOCK, J. G. A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP: 2003. p. 97. 128 Cf. SOARES, Luiz Carlos Soares. A Albion Revisitada. Ciência, religião, ilustração e comercialização
do lazer na Inglaterra do século XVIII. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. p. 150-151.
53
esclarecidos a devorar seus próprios pais”129. Neste clima “de liberdade de expressão e
ausência de censura, desde o reinado de William III e Mary II”, segundo Luiz Carlos
Soares, “os editores de livros e periódicos puderam se lançar a sua atividade sem nenhum
temor ou receio, situação esta que contrastava com a dos países da Europa
Continental”130.
Na Inglaterra, jornais e periódicos proliferaram durante o século XVIII. Este boom
da imprensa, segundo Porter, foi responsável por trazer à tona uma nova intelligentsia,
separada dos religiosos anglicanos e diretamente vinculada ao público em geral através
dessa indústria de publicação. Os escritores, ligados ao público, passaram a se projetar
como os olhos, ouvidos e voz do povo inglês. A imprensa deste período exerceu um papel
primordial na formação da opinião pública britânica e compartilhava o ideal de educar e
instruir a sociedade131.
Um dos mais bem-sucedidos projetos editoriais das décadas após 1688 foi o The
Spectator, fundado em 1711 por Joseph Addison (1672-1719) e Richard Steele (1672-
1729)132. Segundo Maria Lúcia Pallares-Burke, o periódico diário não disfarçava seu
papel moralizador e “era o seu poder de corrigir modos de pensar e de agir viciosos,
faltosos ou inapropriados e de redirigi-los para os caminhos da razão e da civilidade”. O
129 No original, lê-se “this exceptional freedom of expression sparked print wars which gave the battles for
minds their enduring energies, and which led enlightened activists ultimately to devour their own parents”.
PORTER, Roy. Enlightenment: Britain and Creation of the Modern World. London: Penguin Books: 2000.
p. 31-32. 130 SOARES, Luiz Carlos Soares. A Albion Revisitada. Ciência, religião, ilustração e comercialização do
lazer na Inglaterra do século XVIII. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. p. 151. 131 Cf. PORTER, Roy. Enlightenment: Britain and Creation of the Modern World. London: Penguin Books:
2000. p. 94-95. 132 PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. The Spectator. O Teatro das Luzes. Diálogo e imprensa no
século XVIII. São Paulo: HUCITEC, 1995. p. 15.
54
jornal de Addison e Steele alcançou um sucesso singular e, até o fim do século XVIII, já
havia sido traduzido para o alemão, holandês, italiano e francês133.
No âmbito literário, a Inglaterra assistiu à ascensão do romance enquanto gênero
textual, decorrente, segundo Ian Watt, de um novo clima de experiência social e moral do
século XVIII britânico134. O método narrativo do romance, o “realismo formal”, foi
profundamente impactado pela filosofia da época em que surgiu, principalmente pelas
ideias de Locke (1632-1704) e Hume (1711-1776). Watt relaciona o surgimento do
romance às alterações sensíveis no público leitor da Inglaterra setecentista. Apesar de
continuar restrita, a escala social do grupo de leitores do início do século XVIII passou a
ser mais ampla, englobando até comerciantes e donos de lojas. Sem dúvida, houve uma
importante alteração no centro de gravidade social, que colocava a classe média em
posição predominante entre os leitores ingleses. Este processo teve um efeito geral na
consolidação do romance, uma forma mais fácil de entretenimento literário135.
Impactados pela substituição do mecenas aristocrático pelo livreiro comercial e da
independência em relação à tradição crítica da Literatura, os romancistas deste período,
como Daniel Defoe (1660-1731) e Samuel Richardson (1689-1761), conseguiram
expressar com maior liberdade as necessidades deste novo público que se formava136.
Em suma, é possível concluir que os ecos da Revolução Gloriosa de 1688 são
fundamentais para a compreensão da história do século XVIII inglês. As transformações
políticas e econômicas deste período impactaram profundamente o mundo cultural. A
133 PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. The Spectator. O Teatro das Luzes. Diálogo e imprensa no
século XVIII. São Paulo: HUCITEC, 1995. p. 19-20. Citação extraída da p. 17. 134 Cf. WATT, Ian. A Ascensão do Romance. Estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo:
Companhia das Letras, 1990. 135 Cf. WATT, Ian. A Ascensão do Romance. Estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo:
Companhia das Letras, 1990. p. 44-45. 136 Cf. WATT, Ian. A Ascensão do Romance. Estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo:
Companhia das Letras, 1990. p. 54.
55
ascensão das classes médias urbanas pôs em marcha o processo de comercialização da
cultura e ampliou o interesse pelas artes. A revogação do Ato de Licenciamento em 1695
retirou as amarras que prendiam a produção literária e inaugurou um período de relativa
liberdade editorial. Jornais e livros proliferaram e tornaram-se mais baratos durante todo
o século XVIII, e seus escritores, conforme apontou Roy Porter, se projetaram como os
olhos, ouvidos e, principalmente, a voz do povo inglês137.
Além disso, a Inglaterra Setecentista assistiu à emergência de uma nova
moralidade, distinta do ethos aristocrático e claramente marcada pelos ideais de polidez
e virtude, conforme destaca Jeremy Black138. Os letrados preocupavam-se com a perda
da virtude e da ordem social e questionavam os perigos do consumo exacerbado e dos
vícios da ganância139. A Ilustração Inglesa possuiu um caráter pragmático e pedagógico,
preocupado com a instrução e educação dos homens140. Foi neste contexto de mudanças
e transformações que Alexander Pope escreveu boa parte de sua obra.
1.2.2 Da vida e da obra de Alexander Pope
Alexander Pope nasceu na Inglaterra em 21 de maio de 1688, em meio à
Revolução Gloriosa, e é considerado um dos maiores poetas britânicos do século
XVIII141. Filho de um comerciante católico e de sua segunda esposa, foi, por isso,
137 Cf. PORTER, Roy. Enlightenment: Britain and Creation of the Modern World. London: Penguin Books:
2000. 138 Cf. BLACK, Jeremy. A Subject for Taste: Culture in Eighteenth-century. Londres: Hambledon and
London, 2005. 139 Cf. LEÓN, Laila Luna Liano de. William Hogarth e o moderno objeto moral: educação, moral e gosto
na Inglaterra do século XVIII. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e
Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. p. 28. 140 Cf. PORTER, Roy. Enlightenment: Britain and Creation of the Modern World. London: Penguin Books:
2000. PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. The Spectator. O Teatro das Luzes. Diálogo e imprensa
no século XVIII. São Paulo: HUCITEC, 1995. 141 Para uma completa biografia de Alexander Pope, ver o clássico MACK, Maynard. Alexander Pope: A
Life. New Haven: Yale University Press, 1988.
56
proibido de frequentar escolas e universidades e teve de ser educado no âmbito doméstico
por padres e letrados142. Estes religiosos ensinaram ao jovem Pope conhecimentos de
língua grega, incluindo o alfabeto e um pouco de gramática. Quando completou 12 anos,
sua família mudou-se para a vila de Binfield e o futuro poeta recebeu aulas de francês e
italiano143.
Aos dezesseis anos, Pope mudou-se para Londres e publicou, em 1709, as
Pastorals. A poesia pastoral era um gênero longevo, cujas origens remontavam à
Antiguidade Clássica e suas primeiras cidades. Dois anos depois, em 1711, trouxe a luz
An Essay on Criticism, seu primeiro grande trabalho independente e publicado de forma
anônima. O Ensaio sobre a Crítica foi o primeiro esforço didático e satírico de Alexander
Pope no sentido de apontar os caminhos para uma crítica sólida e construtiva, baseada
nos ensinamentos de Horácio (65 a. C.-8 a. C.) e Nicolas Boileau (1636-1711)144.
Ainda em 1711, Pope publicou Messiah no Spectator e a primeira versão do
poema Rape of the Lock (A Violação da Madeixa), uma sátira à futilidade do mundo
inglês da época145. Nos anos seguintes, saem a luz Windsor Forest (1713), o Temple of
Fame (1715) e a famosa epístola Eloise to Abelard (1717), que apareceu na primeira
coleção de seus trabalhos. O período entre os anos de 1710 e 1717 foi de prolífica
142 Cf. JOHNSON, Samuel; MULLAN, John (edit.). The Lives of the Poets: A Selection. Nova York: Oxford
University Press, 2009. p. 347. A aprovação do primeiro Test Act (Lei do Teste, 1673) impôs testes
religiosos aos que buscavam patentes militares a marinha e exército, o que excluía protestantes dissidentes
e católicos. Em 1678, o segundo Teste Act exclui-os da vida parlamentar, ao exigir testes nas Casas do
Parlamento. Ao mesmo tempo, as duas grandes universidades de Cambridge e Oxford passaram a exigir
testes de seus professores e dissentes. Mesmo o Toleration Act (Lei de Tolerância, 1689) não garantiu total
tolerância completa aos Protestantes não-conformistas trinitários e aos Católicos Romanos, cujas proibições
foram mantidas. Cf. SOARES, Luiz Carlos. Ciência, religião e ilustração: as academias de ensino dos
Dissidentes Racionalistas inglesses no século XVIII. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 41, n.
21, p. 173-200, 2001. 143 Cf. ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p.
11-12. 144 Cf. BAINES, Paul. The Complete Critical Guide to Alexander Pope. Londres: Routledge, 2000. p. 49. 145 Cf. ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p.
xi-xii.
57
atividade editorial de Pope e refletiu uma época de transição na impressão de livros na
Inglaterra. Segundo Felicity Rosslyn, passava-se de um tempo marcado pelo mecenato da
Corte para aquele dos escritores que buscavam patrocínio entre as facções políticas do
reino146.
Ademais, Pope buscava conquistar seu próprio sustento através de suas obras e,
por isso, negociou firmemente com livreiros e autorizou constantemente a reimpressão
de suas obras. Não por acaso, em 1713, o poeta envolveu-se na tradução da Ilíada de
Homero, cujos volumes foram publicados entre 1715 e 1720147. A tradução inglesa mais
recente da Ilíada datava de 1660 e John Dryden (1631-1700), apesar de ter traduzido o
primeiro volume, não sobreviveu o suficiente para completar esta empresa. Por este
esforço tradutório, Pope recebeu 5 mil libras, o que permitiu que vivesse de modo
confortável pelo resto de sua vida148.
Em 1718, após a morte de seu pai, Alexander Pope mudou-se com sua mãe para
uma luxuosa residência em Twickenham, ao sudoeste de Londres. Ali o poeta podia
exercitar seu gosto pela arquitetura e jardinagem. Além disso, nesta residência Pope
recebeu seus amigos e hóspedes importantes. A casa em Twickenham figurou em vários
de seus poemas e imitações dos clássicos149.
Devido ao sucesso da tradução da Ilíada, com o auxílio de alguns colaboradores,
Pope iniciou seu trabalho de tradução da Odisséia de Homero. Os volumes publicados
entre os anos 1725 e 1726 traziam, segundo Vizioli, “textos belos e refinados, bem ao
146 Cf. ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p.
28. 147 BARNARD, John (Ed.). Alexander Pope: The Critical Heritage. Londres: Taylor & Francis e-Library,
2005. p. 7. 148 Cf. ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p.28-
29. 149 Cf. ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p.77-
79.
58
gosto da época, mas que pouco têm em comum com a força primitiva dos versos de
Homero”150. Segundo Samuel Johnson, “esta é, certamente, a mais nobre versão do poeta
que o mundo já viu, e sua publicação deve, por isso, ser considerada um dos grandes
eventos nos anais do conhecimento”151.
Contudo, os críticos foram implacáveis e questionaram seu conhecimento da
língua grega e, principalmente, suas qualificações como digno tradutor de Homero152.
Anne Dacier (1645-1720), filóloga e tradutora francesa de Homero, criticou duramente a
tradução de Pope. “Reina ali, em toda parte”, apontava ela, “uma imaginação muito viva
e parece-me que este autor sucumbiu ao defeito que ele próprio critica, o de que a
imaginação muitas vezes se precipita, quando anda sozinha”153. Mesmo assim, as edições
de Homero garantiram o sucesso público e a independência financeira a Alexander Pope
e contribuíram para o refinamento de seu estilo, fortemente impactado por essa
experiência de tradução154.
A publicação de seus livros e seu trabalho tradutório fizeram com que Alexander
Pope circulasse com desenvoltura entre a sociedade inglesa, que variava desde os
membros de famílias da Catholic gentry aos poetas de seu tempo, como Joseph Addison
(1672-1719), Richard Steele (1672-1729), Jonathan Swift (1667-1745) e John Gay (1685-
150 VIZIOLI, Paulo. Alexander Pope: o Poeta da Razão. In: POPE, Alexander; VIZIOLI, Paulo (Ed.).
Poemas de Alexander Pope. Edição Bilíngue. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. p. 21. 151 No original, lê-se “It is certainly the noblest version of the poetry which the world has ever seen; and its
publication must therefore be considered as one of the great events in the annals of Learning”. JOHNSON,
Samuel; MULLAN, John (edit.). The Lives of the Poets: A Selection. Nova York: Oxford University Press,
2009. p. 365. 152 Cf. JOHNSON, Samuel; MULLAN, John (edit.). The Lives of the Poets: A Selection. Nova York: Oxford
University Press, 2009. p. 362. 153 DACIER, Anne Le Fevre. Reflexões sobre a primeira parte do prefácio do Sr. Pope à Ilíada de Homero.
Tradução de Claudia Borges de Faveri. Scientia Traductionis. Florianópolis, n.10, 2011. p. 50. 154 Cf. VIZIOLI, Paulo. Alexander Pope: o Poeta da Razão. In: POPE, Alexander; VIZIOLI, Paulo (Ed.).
Poemas de Alexander Pope. Edição Bilíngue. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. p. 21.
59
1732). Apesar de circular entre Whigs e Tories ao mesmo tempo, Pope nunca se filiou a
nenhum destes partidos155.
Em 1728, Alexander Pope demonstrou sua força satírica através da publicação de
Dunciad, um poema heroico-cômico que atacava os muitos inimigos literários do poeta.
Os livros se voltavam contra Lewis Theobald (1688-1744), qualificado como “asno”,
letrado que havia criticado duramente a edição das obras de William Shakespeare (1564-
1616) organizada por Pope em 1725156. Segundo Samuel Johnson, a obra chegou a ser
apresentada em 1729 aos monarcas ingleses pelo primeiro-ministro, Robert Walpole
(1676-1745)157. O poema foi constantemente alterado até 1742, sempre incorporando
novos desafetos e introduzindo polêmicas. Felicity Rosslyn conta que os ataques a Pope
eram tão corriqueiros que o poeta organizou seis grandes volumes que reuniam os
panfletos ofensivos para consultas e citações durante a escrita de suas sátiras158.
Em 1730, o poeta confidenciou a Joseph Spence (1699-1768), seu amigo, a ideia
de escrever quatro livros que abordassem as principais questões morais e éticas de seu
tempo:
Eu havia pensado em completar meu trabalho ético em quatro livros. O
primeiro, você sabe, é sobre a natureza do homem. O segundo teria sido
sobre o conhecimento e seus limites. Aqui teria entrado um Ensaio
sobre Educação, parte do qual eu inseri no Dunciad. O terceiro teria
tratado do governo, tanto eclesiástico e civil – e isto foi o principal
motivo de tê-lo interrompido. Eu não poderia dizer o que teria dito sem
provocar cada igreja na face da terra, e eu não tinha vontade de viver
sempre em água fervente. Esta parte entraria em meu Brutus, que já está
todo planejado, e até algumas das falas mais materiais escritas em prosa.
O quarto teria sido sobre moralidade, em oito ou nove de seus ramos
155 Cf. ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p.
30-31. 156 Cf. VIZIOLI, Paulo. Alexander Pope: o Poeta da Razão. In: POPE, Alexander; VIZIOLI, Paulo (Ed.).
Poemas de Alexander Pope. Edição Bilíngue. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. p. 26-27. 157 Cf. JOHNSON, Samuel; MULLAN, John (edit.). The Lives of the Poets: A Selection. Nova York: Oxford
University Press, 2009. p. 383. 158 Cf. ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p.
79.
60
principais, quatro dos quais teriam sido os dois extremos de cada uma
das virtudes cardeais159.
Não por acaso, entre os anos de 1733 e 1734, foi publicado o Essay on Man
composto por quatro epístolas para integrar o sistema de moral e ética acima descrito160.
Na Epístola I, Pope aborda a natureza e o estado do homem em relação ao universo,
buscando apresentar o lugar do ser humano na cadeia da criação enquanto um
microcosmo. Na segunda epístola, o poeta enfatiza o próprio indivíduo a partir do “amor
próprio” e da “razão” e argumenta que as paixões, manifestações deste “amor”, devem
ser reguladas pela “razão”. Na Epístola III, o autor relaciona homem e sociedade,
defendendo que a sociedade humana, quando organizada pela razão, encontra-se em
perfeita sintonia com a natureza. Por fim, na quarta epístola, Pope observa o homem em
relação à “felicidade”, que apenas pode ser alcançada através da virtude e da obediência
ao esquema universal e natural161.
A publicação do Ensaio sobre o Homem teve uma grande repercussão e originou
uma famosa crítica escrita por Jean-Pierre Crousaz (1663-1759). No Examen de l'essai
de M. Pope sur l'homme (1737), o teólogo e filósofo suíço argumentava que as posições
de Pope no Ensaio tinham como objetivo afastar o gênero humano da Revelação e da
Religião. O suíço atacava o esquema mental de Pope, que apresentava virtude e felicidade
159 No original, lê-se: “I had once thought of completing my ethic work in four books. The first, you know,
is on the nature of man. The second would have been on knowledge and its limits. Here would have come
in an Essay on Education, part of which I have inserted in the Dunciad. The third was to have treated of
government, both ecclesiastical and civil - and this was what chiefly stopped my going on. I could not have
said what I would have said without provoking every church on the face of the earth, and I did not care for
living always in boiling water. This part would come into my Brutus, which is all planned already, and even
some of the most material speeches writ in prose. The fourth would have been on morality, in eight or nine
of the most concerning branches of it, four of which would have been the two extremes to each of the
cardinal virtues”. Apud ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave
Macmillan, 1990. p. 98. 160 Cf. JOHNSON, Samuel; MULLAN, John (edit.). The Lives of the Poets: A Selection. Nova York: Oxford
University Press, 2009. p. 389. 161 Cf. VIZIOLI, Paulo. Alexander Pope: o Poeta da Razão. In: POPE, Alexander; VIZIOLI, Paulo (Ed.).
Poemas de Alexander Pope. Edição Bilíngue. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. p. 22-23.
61
como aspectos puramente racionais do Homem, como propôs Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716)162.
Em conjunto com o Essay on Man, Alexander Pope publica seus Moral Essays,
outra obra que integra o referido sistema de ética e moral almejado por ele. Os Ensaios
Morais são compostos por quatro epístolas publicadas entre 1731 e 1735: Epístola a
Cobham, “Do Conhecimento e Caracteres do Homem”; Epístola a uma Senhora, “Dos
Carcteres das Mulheres”; Epístola a Bathusrt, “Do Uso das Riquezas”; Epístola a
Burlington, “Do Uso das Riquezas”163.
Ainda na década de 1730, Pope editou sua correspondência privada (1735-1737),
publicou suas Imitations of Horace (1733-1738) e alguns volumes de Sátiras (1738). No
início dos anos 1740, foi publicada a última revisão do poema satírico Dunciad (1743).
Durante o processo de revisão de seus trabalhos para uma última publicação completa, o
poeta percebeu que sua saúde declinava. Como descreveu uma de suas amigas, Alexander
Pope faleceu em 30 de maio de 1744 enquanto dormia. Nesta noite encerrou-se a vida de
um dos maiores poetas ingleses do século XVIII164.
162 Cf. JOHNSON, Samuel; MULLAN, John (edit.). The Lives of the Poets: A Selection. Nova York: Oxford
University Press, 2009. p. 391-392. 163 Cf. POPE, Alexander. Ensaios Moraes de Alexandre Pope em Quatro epístolas a diversas pessoas
traduzidos em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, e do Traductor. Rio de
Janeiro: Impressão Régia, 1811. 164 Cf. ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p.
131-135, p. 143, p. 154-156.
62
CAPÍTULO 2
TRADUZINDO AS LUZES:
A CIRCULAÇÃO DE LIVROS ESTRANGEIROS NO MUNDO LUSO-BRASILEIRO
DA SEGUNDA METADE DO SETECENTOS
Nature and Nature’s Laws lay hid in Night.
God said, Let Newton Be! And all was Light.
- Alexander Pope165
O século XVIII constituiu um novo ambiente marcado pelas idéias ilustradas e
por grandes movimentos de pensamento que se manifestavam desde as últimas décadas
do século XVII. As novidades do pensamento político e filosófico do século XVII
determinaram uma crise, definida por Paul Hazard, como “crise de consciência
europeia”166, acompanhada de uma revisão crítica das ideias e instituições “no sentido de
uma renovação radical das estruturas da sociedade e do Estado”167. As instituições
passaram a estar sujeitas a uma revisão sistemática, cujo objetivo era determinar as leis
do bem estar e da ordem pública e eliminar os obstáculos para o desenvolvimento social.
A sociedade moderna, que emergia dessa crise do final do século XVII, desejava, de
forma consciente, maximizar os recursos e potenciais para o avanço e melhora dos meios
de vida168.
165 POPE, Alexander. Epitaph Intended for Sir Isaac Newton In Westminster-Abbey. In: POPE, Alexander;
ROGERS, Pat (org.). Alexander Pope. The Major Works. Including The Rape of The Lock and the Dunciad.
Nova York: Oxford University Press, 2008. p. 242. 166 HAZARD, Paul. A Crise da Consciência Europeia, 1680-1715. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015. 167 ASTUTI, Guido. O absolutismo esclarecido em Itália e o Estado de Polícia. In: HESPANHA, Antonio
Manuel (Org.). Poder e instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1984. p. 252. 168 RAEFF, Marc. The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth- and
Eighteenth-Century Europe: An Attempt at a Comparative Approach. The American Historical Review,
Washington, Vol. 80, n. 5, 1975. p. 1222.
63
Ao longo do Século das Luzes, os letrados discutiam e dialogavam sobre os mais
diversos temas sem recorrerem a uma “língua universal” ou franca que mediasse as
discussões. Ao contrário, conforme demonstram Lucien Febvre e Henri Martin, o Latim
havia perdido sua preeminência tanto na escrita em verso quanto em prosa169. Neste
contexto, as línguas vernáculas ascenderam como veículos de transmissão de textos e
ideias para os novos públicos que emergiam170. Nessas condições, a diversidade das
línguas faladas nas diferentes regiões do mundo tornava necessário o ato de traduzir171.
Ao longo do Século das Luzes, a filosofia de Voltaire e Rousseau; as belas letras de Pope
e Richardson; as obras de autores clássicos e medievais como Homero, Cícero e
Shakespeare se difundiram pelo continente europeu por meio da tradução172.
Segundo Fania Oz-Salzberger, o número de traduções cresceu substancialmente
em diversos estados europeus e atingiu seu pico nas três últimas décadas do século XVIII.
Paris, Londres e Leipzig estabeleceram-se como os grandes centros de tradução da
Europa. Outras cidades como Nápoles, Dublin, Edimburgo, Copenhagen, Estocolmo,
Berlim e São Petersburgo também produziram um número significativo de traduções
vernáculas173. O mundo luso-brasileiro não permaneceu alheio a este movimento e seu
mercado livreiro assistiu a uma profusão de traduções ao longo do Setecentos. Assim,
este capítulo abordará a recepção das Luzes através das traduções em meio ao reformismo
que caracterizou o mundo luso-brasileiro do período. Nesse sentido, serão apresentados
um panorama geral do mercado livreiro português e os fluxos e tendências gerais sobre a
169 Cf. FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2017. 170 Cf. OZ-SALZBERGER, Fania. The Enlightenment in Translation: Regional and European Aspects.
European Review of History—Revue europe´enne d’Histoire, Vol. 13, No. 3, 2006. p. 387. 171 Cf. RICOEUR, Paul. Sobre a tradução. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. p. 34. 172 Cf. OZ-SALZBERGER, Fania. The Enlightenment in Translation: Regional and European Aspects.
European Review of History—Revue europe´enne d’Histoire, Vol. 13, No. 3, 2006. p. 387. 173 Cf. OZ-SALZBERGER, Fania. The Enlightenment in Translation: Regional and European Aspects.
European Review of History—Revue europe´enne d’Histoire, Vol. 13, No. 3, 2006. p. 388-392.
64
tradução entre 1750 e 1800. Por fim, discutem-se os usos e concepções de tradução
presentes nos paratextos editoriais dos letrados e tradutores do período174.
2.1.O REFORMISMO ILUSTRADO E O AMBIENTE CULTURAL PORTUGUÊS SETECENTISTA
No mundo luso-brasileiro, a recepção, com tons próprios, das mudanças
propiciadas pelas Luzes tornou-se possível com a ascensão de Sebastião José de Carvalho
e Melo como principal ministro de D. José I, monarca português entre 1750 e 1777175.
Nascido em 1699, Carvalho e Melo pertencia “a uma geração de funcionários e
diplomatas de mente aberta, que haviam refletido muito sobre a organização do império
e sobre as técnicas mercantilistas”176. Não por acaso, foi indicado para o cargo por D.
Luís da Cunha (1662-1749), importante embaixador do reinado de D. João V (1689-
1750)177. Em seu Testamento Político, escrito na década de 1740, pouco antes da subida
de D. José ao trono, orientava “para a [secretaria] do Reino Sebastião José de Carvalho e
Melo, cujo génio paciente, especulativo e ainda que sem vício, um pouco difuso, se acorda
com o da nação”178.
Entre 1739 e 1743, Carvalho e Melo esteve em Londres e passou a investigar as
razões e técnicas da superioridade comercial e naval inglesa. Assente em suas leituras e
observações, ele vislumbrou a influência dos britânicos em seu país como a causa básica
174 Cf. GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. 175 Para uma discussão acerca da atribuição de Sebastião José de Carvalho e Melo e das funções dos
ministros e secretarias na segunda metade do século XVIII, ver: SUBTIL, José. Pombal e o Rei: valimento
ou governamentalização? Ler História, Lisboa, no. 60, 2011. 176 MAXWELL, Kenneth. Pombal e a nacionalização da economia luso-brasileira. In: MAXWELL,
Kenneth (Org.). Chocolates, Piratas e outros Malandros: Ensaios Tropicais. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
p. 89-90. 177 Cf. FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia
Ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 233. 178 CUNHA, Luís da. Testamento Político ou Carta Escrita pelo grande D. Luiz da Cunha ao Senhor Rei
D. José I. antes do seu Governo ... Lisboa: Impressão Régia, 1820.
65
dos problemas portugueses e uma das principais razões para a bonança britânica179.
Ademais, sua atuação como embaixador em Viena entre 1745 e 1749 permitiu a
observação do início do processo de transformações e fortalecimento do absolutismo
ilustrado no Império Austríaco. Ao longo destas experiências diplomáticas, o futuro
Marquês de Pombal teve contato com correntes do mercantilismo inglês, do cameralismo
austríaco e do absolutismo francês180. O protagonismo de Carvalho e Melo na
reconstrução de Lisboa após o terremoto que assolou a cidade em novembro de 1755
abriu caminho para sua ascensão enquanto principal ministro de D. José I. Desde então,
passou a articular um amplo programa de reformas econômicas e políticas no Império
português181.
O bom governo das finanças e da fiscalidade constituía matéria de fundamental
importância no reformismo pombalino, o que se converteu no estabelecimento do Erário
Régio e do sistema de Juntas da Administração da Real Fazenda em 1761. Se antes os
rendimentos eram controlados pelas diversas repartições da administração, sobretudo as
Câmaras, e pelos tribunais e conselhos, a partir da lei de 22 de dezembro de 1761 o Erário
Régio passou a constituir o ponto central de arrecadação da Real Fazenda. No âmbito dos
domínios ultramarinos, sua estrutura era composta pelas Juntas da Fazenda, formadas
pelo Vice-rei, pelo Chanceler da Relação e demais provedores, procuradores e escrivães.
Segundo Miguel Dantas da Cruz, o estabelecimento do Erário Régio no âmbito das
179 Cf. MAXWELL, Kenneth. Pombal e a nacionalização da economia luso-brasileira. In: MAXWELL,
Kenneth (Org.). Chocolates, Piratas e outros Malandros: Ensaios Tropicais. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
p. 90-91 e 99. 180 Cf. CARDOSO, José Luís & CUNHA, Alexandre Mendes. Discurso econômico e política colonial no
Império Luso-brasileiro (1750-1808). Tempo, Niterói, v. 17, n. 31, 2011. p. 71-73. FALCON, Francisco
José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia Ilustrada. São Paulo: Editora Ática,
1993. p. 308-310. 181 Cf. FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia
Ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 384-386. MAXWELL, Kenneth. Pombal e a nacionalização
da economia luso-brasileira. In: MAXWELL, Kenneth (Org.). Chocolates, Piratas e outros Malandros:
Ensaios Tropicais. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 90-91 e 99.
66
reformas pombalinas “tratou-se de um claro sinal da natureza centralizadora da sua
política que não terá tido equivalente no quadro da reforma política e institucional”. Por
meio dele, “Pombal não só restringiu autonomias e jurisdições, como fez canalizar para
o Erário parte substancial da decisão política sobre matérias antes dispersas e, até certo
ponto, corporativamente defendidas”182.
Em relação aos domínios imperiais e, especialmente para a América Portuguesa,
as reformas, segundo José Luís Cardoso e Alexandre Mendes Cunha, evidenciaram “uma
preocupação clara com o fortalecimento e o controle nacional das riquezas oriundas do
comércio ultramarino, o que implicava a criação de novas instituições, bem como a
definição de estratégias específicas para a política colonial”183. Já em dezembro de 1750,
a coleta do quinto real sobre a produção aurífera foi reformada através da criação das
Casas de Fundição, onde todo o ouro seria fundido a partir de então. Em abril do ano
seguinte, foram criadas as Casas de Inspeção da Bahia, do Rio de Janeiro, de Pernambuco
e do Pará, com o objetivo de regular a produção e comercialização do açúcar e do tabaco,
importantes produtos coloniais184. Além disso, com o objetivo de maximizar e controlar
a produção no ultramar, foram criadas a Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão
(1755) e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba (1759)185.
Em termos administrativos, a sede do Governo Geral do Estado do Brasil foi
transferida de Salvador para o Rio de Janeiro (1763) e extinguiu-se o Estado do Grão-
Pará e Maranhão, que foi incorporado como capitania-geral ao Estado do Brasil (1772).
182 CRUZ, Miguel Dantas da. Pombal e o Império Atlântico: impactos políticos da criação do Erário Régio.
Tempo, Niterói, v. 20, 2014. p. 23. 183 CARDOSO, José Luís & CUNHA, Alexandre Mendes. Discurso econômico e política colonial no
Império Luso-brasileiro (1750-1808). Tempo, Niterói, v. 17, n. 31, 2011. p. 76-77. 184 Cf. MAXWELL, Kenneth. Pombal e a nacionalização da economia luso-brasileira. In: MAXWELL,
Kenneth (Org.). Chocolates, Piratas e outros Malandros: Ensaios Tropicais. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
p. 100-101. 185 Cf. FALCON, Francisco José Calazans. Pombal e o Brasil. In: TENGARRINHA, José (Org.). História
de Portugal. Bauru: Edusc; São Paulo: UNESP; Portugal: Instituto Camões, 2000. p. 157.
67
Após a instituição do Real Erário em 1761, foram organizadas Juntas de Fazenda em cada
uma das capitanias-gerais. Segundo Francisco Falcon, tais reformas tinham por objetivo
“fortalecer e afirmar o poder real, racionalizar o aparelho administrativo em busca de sua
maior eficiência, suprimir os abusos”, o que “pressupunha o respeito às hierarquias e uma
estrita obediência às ordens régias”186.
No âmbito cultural, merecem destaque as reformas pombalinas na área da
educação, iniciada com a expulsão dos padres jesuítas e o fechamento de seus colégios
em todo o império. Tratava-se do início da “intervenção secularizadora do Estado no
campo do ensino”, segundo Ana Cristina Araújo187. O Alvará de 28 de junho de 1759
decretava o fim dos colégios jesuíticos e instituía uma reforma nas aulas e estudos das
letras, chamadas de Estudos Menores. Nas Instruções para os professores das disciplinas,
anexas ao alvará, criava-se o posto de Diretor Geral dos Estudos e regulava-se a
contratação de professores régios de latim, grego, retórica e hebraico188. A implantação
das novas diretrizes para os estudos menores nos domínios ultramarinos inseriu-se,
segundo Anita Correia Lima de Almeida, em “um projeto mais geral da Coroa portuguesa
de ‘civilização’ de seus súditos em áreas extra-européias, baseado na tentativa de unificar
a formação de suas camadas letradas”189.
Ainda em 1759, foi instituída a Aula de Comércio, cujo objetivo era o de difundir
técnicas e conhecimentos necessários às atividades administrativas e mercantis entre
negociantes, comerciantes e funcionários. Em 1761, foi criado o Real Colégio dos Nobres
186 FALCON, Francisco José Calazans. Pombal e o Brasil. In: TENGARRINHA, José (Org.). História de
Portugal. Bauru: Edusc; São Paulo: UNESP; Portugal: Instituto Camões, 2000. p. 161. 187 Cf. ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 54. 188 Cf. FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia
Ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 432. 189 ALMEIDA, Anita Correia Lima de. Aulas régias no império colonial português: o global e o local. In:
LIMA, Ivana Stolze & CARMO, Laura do (Orgs.). História Social da Língua Nacional. Rio de Janeiro:
Casa de Rui Barbosa, 2008. p. 70.
68
para educar e disciplinar os jovens da aristocracia portuguesa. As atividades letivas
iniciaram-se em 1766, após a contratação de professores estrangeiros e a instalação de
modernos laboratórios e outros equipamentos de ensino. Segundo Cruz & Pereira, “esse
conjunto de ações e seus desdobramentos buscavam assegurar o estabelecimento do
ensino laico e do dirigismo régio nas questões educacionais na metrópole e na colônia”190.
As reformas pombalinas na educação tiveram seu ápice nas mudanças
empreendidas na Universidade de Coimbra. Em dezembro de 1770, com o objetivo de
reformular os estatutos da Universidade, criou-se a Junta de Providência Literária,
formada pelo Cardeal da Cunha (1715-1783), por D. Francisco de Lemos de Faria Pereira
Coutinho (1735-1822), então Reitor; D. Fr. Manuel do Cenáculo Vilas Boas (1724-1814),
Presidente da Real Mesa Censória; José Seabra da Silva (1732-1813), dentre outros. Em
setembro do ano seguinte, foi determinada a suspensão dos estudos em Coimbra, para que
se reiniciassem posteriormente sob os novos estatutos191.
No dia 22 de setembro de 1772, os sinos de Coimbra badalaram em anúncio à
chegada de Sebastião José de Carvalho e Melo, feito Marquês de Pombal em 1770, e seu
extenso cortejo. Durante sua estada na cidade, o principal ministro de D. José havia
entregue os estatutos reformados da Universidade de Coimbra. As quatro antigas
faculdades – Teologia, Canônes, Leis e Medicina – foram reestruturadas e atualizadas.
Além disso, foram criadas as faculdades de Matemática e Filosofia, “responsáveis pela
mais notável das alterações nas antigas grades curriculares: a entrada do método científico
190 CRUZ, Ana Lúcia Rocha Barbalho da & PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Contra o notório sistema
de ignorância artificial: a reforma pombalina da Universidade de Coimbra. In: SANTOS, Antonio Cesar de
Almeida (Org.). Ilustração, cultura escrita e práticas educativas. Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2016. p.
15-16. 191 Cf. FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia
Ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 436-437.
69
experimental em redutos onde prevalecia o princípio de autoridade”192. Assim, segundo
Javier Fernandez Sebastián, a reforma da Universidade de Coimbra significou a
renovação dos estudos jurídicos e a adoção do método experimental nas ciências. Além
disso, a partir das reformas educacionais, incluindo a criação das Aulas do Comércio e
do Colégio dos Nobres, a Coroa converteu-se no principal agente educador do reino193.
As reformas educacionais, conforme salientou Francisco Falcon, estiveram
constantemente articuladas ao controle e à vigilância sobre a produção literária e
artística194. Na esteira das reformas promovidas em outros estados europeus setecentista,
surgiu a Real Mesa Censória em lei de 5 de abril de 1768, que apresentava a unificação
do aparato censório, a subordinação direta à Coroa e a manutenção da ofensiva aos
jesuítas. No período anterior, a censura no mundo luso-brasileiro estava, conforme Luiz
Carlos Villalta, associada à Contrarreforma e à Reforma Católica e era exercida pelo
Ordinário (ou Juízos Eclesiásticos), pela Inquisição e pelo Desembargo do Paço195.
O Regimento da Real Mesa Censória de 1768 preconizava as quinze condições de
obras a serem proibidas. Primeiramente, as escritas por ateus, protestantes e que negassem
a fé católica e a obediência ao Papa. Além disso, seriam proibidas obras que tratassem de
magia, feitiçaria ou que apoiassem a superstição e o fanatismo. Os livros filosóficos,
contrários à moral e costumes, as sátiras e as leituras políticas, que tratassem do “sistema
maquiavélico” e de críticas ao despotismo também seriam proibidas. O mesmo ocorreria
192 CRUZ, Ana Lúcia Rocha Barbalho da & PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Contra o notório sistema
de ignorância artificial: a reforma pombalina da Universidade de Coimbra. In: SANTOS, Antonio Cesar de
Almeida (Org.). Ilustração, cultura escrita e práticas educativas. Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2016. p.
19. 193 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier. Península Ibérica. In: FERRONE, Vincenzo & ROCHE, Daniel
(Eds.). Diccionario Histórico de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 1998. p. 348. 194 Cf. FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia
Ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 441. 195 Cf. VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do Livro no Mundo Luso-brasileiro sob as Luzes: Reformas, Censura
e Contestações. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 171-175.
70
com obras que utilizassem a Bíblia em orientação diversa da Igreja e misturassem os
dogmas da fé. Foram proscritos os livros de autoria dos “Pervertidos Filósofos destes
últimos tempos” e aquelas publicadas anonimamente na Holanda e Suíça sobre o
Sacerdócio e o Império196.
Em 24 de setembro de 1770, veio à luz o mais importante edital que se voltou
contra os Ilustrados e os pensadores e filósofos modernos, especialmente os expoentes do
deísmo, materialismo e ateísmo. Dentre os autores, constavam Pierre Bayle (1646-1706),
Thomas Hobbbes (1588-1679), Denis Diderot (1713-1784), Jean de La Fontaine (1621-
1695), Bernard Mandeville (1670-1733), François Fenélon (1751-1715), Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778), Baruch Espinosa (1632-1677), John Toland (1670-1722),
Voltaire (1684-1778), dentre outros. Outros editais e catálogos proibiram obras de
d’Alembert (1717-1783), Jacques Pierre Brissot (1754-1793), o conde de Buffon (1707-
1788), Cesare Beccaria (1738-1794), John Locke (1632-1704), Jean-François Marmontel
(1723-1799), Thomas Paine (1737-1809), William Robertson (1721-1793), Edward
Gibbon (1737-1794) e Samuel-Auguste Tissot (1728-1797)197. Apesar das proibições,
muitas dessas obras circularam em Portugal através da concessão de licenças para a
leitura, estudadas por Luiz Carlos Villalta, e, sobretudo, pelo comércio clandestino de
livros estrangeiros, que se instalou no mundo luso-brasileiro.
Para além das reformas educacionais e censórias empreendidas durante o
Consulado Pombalino, as décadas de 1750 e 1760 representam, no plano cultural,
segundo Ana Cristina Araújo, “um ponto de viragem na recepção das diferentes correntes
196 Cf. VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do Livro no Mundo Luso-brasileiro sob as Luzes: Reformas, Censura
e Contestações. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 180, p. 190-191. 197 Cf. VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do Livro no Mundo Luso-brasileiro sob as Luzes: Reformas, Censura
e Contestações. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 180, p.212-214; p. 216.
71
de pensamento europeu”198. Na esteira de Franco Venturi, a autora chama a atenção para
a importância dos jornais, cartas e livros para o movimento das Luzes setecentistas. A
imprensa periódica portuguesa apresentava um importante crescimento desde 1740,
conforme demonstra o GRÁFICO 1, elaborado a partir dos dados de João Luís Lisboa. Os
periódicos surgidos na segunda metade do século XVIII “reflectem preocupações
estéticas, académicas, filosóficas, literárias e económicas ou mesmo religiosas”199.
GRÁFICO 1
A imprensa periódica em Portugal (1706-1815)200
FONTE: LISBOA, João Luís. Ciência e Política: Ler nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Instituto
Nacional de Investigação Científica, Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1991.
p. 178.
A expansão do periodismo é afetada entre 1765 e 1777, após a suspensão da
Gazeta de Lisboa (1762) e da prisão de seu redator, o poeta Pedro António Correia Garção
198 ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 19. 199 ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 68. 200 É preciso ressaltar que a regência extraoficial do Príncipe D. João principiou em 1792. Em 10 de
fevereiro deste ano, foi publicada declaração em que o príncipe se encarregava do despacho em nome da
rainha D. Maria. Cf. PEDREIRA, Jorge & COSTA, Fernando Dores. D. João VI. Lisboa: Círculo de
Leitores, 2009. p. 66-67.
0 20 40 60 80 100
D. João (Regência: 1799-1815)
D. Maria I (1777-1799)
D. José I (1750-1777)
D. João V (1706-1750)
91
17
15
5
Número de Periódicos
72
(1724-1772)201. Ainda assim, no início do reinado de D. José, circulou o efêmero O
Anónimo (1752-1754), dirigido por Bento Morganti, inspirando no The Spectator (1711-
1712) de Richard Steele (1672-1729) e Joseph Addison (1672-1719). Na década seguinte,
veio à luz a Gazeta Literária (1761-1762), redigida por Francisco Bernardo de Lima. O
periódico apresentava preocupações próximas ao enciclopedismo francês e publicava
notícias e traduções de extratos de livros estrangeiros. A Gazeta Literária inaugurava
também o espaço de publicação de cartas de leitores, formando um espaço de opinião e
discutia ideias de importantes autores dos tempos modernos, como Voltaire (1694-1778),
Bayle (1647-1706), Hobbes (1588-1679), Pufendorf (1632-1694), dentre outros202.
Apesar de tudo, há grande controvérsia na historiografia a propósito do caráter
ilustrado das reformas engendradas por Sebastião José de Carvalho e Melo203.
Certamente, o poderoso ministro de D. José atuou em meio ao contexto reformista que
caracterizou outros estados europeus do Setecentos, sobretudo na Espanha e Áustria204.
A expulsão dos jesuítas (1759) por exemplo, representou, conforme salientou Francisco
Falcon, a “afirmação de uma autoridade real, civil, laica, sobre uma autoridade
eclesiástica que viera até então mantendo e ampliando sua influência e seu controle”205.
201 Cf. ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de. Modalidades de Leitura das Luzes no Tempo de Pombal.
Separata da Revista de História, Centro de História da Universidade do Porto, Porto, Vol. X, 1990. p. 124-
125. 202 Cf. ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. Sobre O Anónimo, ver p. 69-71. Sobre a Gazeta Literária, ver p. 71-77. 203 Cf. FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia
Ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993. MAXWELL, Keneneth. Marquês de Pombal: Paradoxo do
Iluminismo. São Paulo: Paz e Terra, 1996. ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal.
Temas e Problemas. Lisboa: Livros Horizonte, 2003. NOVAIS, Fernando. O Marquês de Pombal, a
História e os Historiadores. Revista População e Sociedade, Porto, Cepese, no.16, Edições Afrontamento,
2008. 204 Cf. NOVAIS, Fernando. O Marquês de Pombal, a História e os Historiadores. Revista População e
Sociedade, Porto, Cepese, no.16, Edições Afrontamento, 2008. p. 33. 205 FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia Ilustrada.
São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 424. Sobre o regalismo, ver: SOUZA, Evergton Sales. Igreja e Estado
no Período Pombalino. Lusitania Sacra, Lisboa, no. 23, jan.-jun. 2011.
73
No âmbito cultural, se, por um lado, a Reforma da Universidade de Coimbra
permitiu a introdução de novidades da filosofia ilustrada, a criação da Real Mesa Censória
procurou estatizar a censura e implementar, sem muito sucesso, maior controle sobre a
atividade letrada206. Em suma, o reformismo levado a cabo no reinado de D. José I
caracterizou-se pelo esforço de centralização do poder régio em Portugal durante a
segunda metade do século XVIII. Tomando de empréstimo as palavras de Francisco
Falcon, durante o ministério pombalino, se claridades se propagaram, muitas
obscuridades persistiram207.
Em 24 de fevereiro de 1777, faleceu D. José I, o Reformador, e sua filha subiu ao
trono português como D. Maria I. A historiografia liberal portuguesa, segundo Fernando
Novais, tratou tal transição como a Viradeira, um período de retrocessos em que se
anulam o reformismo político, cultural e econômico inaugurado pelo Marquês de
Pombal208. Em que pesem as rupturas e as permanências no reinado mariano, questiona
Francisco Falcon:
E a “viradeira”? [...] E houve? Em que consistiu? Afora as vinditas
pessoais, afora um passageiro recrudescimento de religiosidade mais ou
menos beata em certos círculos cortesãos, onde está o desfazer da
‘obra’, ou seja, de todas as práticas da governação pombalina?209
Nesse sentido, o reinado mariano não representou uma ruptura radical com o período
pombalino. Segundo Luiz Carlos Villalta, homens da administração josefina se
mantiveram, como por exemplo Martinho de Melo e Castro (1716-1795), Ministro do
206 Cf. ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 19-20. VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do Livro no Mundo Luso-brasileiro sob as
Luzes: Reformas, Censura e Contestações. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 502-503. 207 FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia Ilustrada.
São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 488. 208 Cf. NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808).
São Paulo: Hucitec, 1979. p. 9-10. 209 FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e Monarquia Ilustrada.
São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 225.
74
Ultramar; Diogo Pina Manique (1733-1805), antigo colaborador que se tornou Intendente
Geral de Polícia; José Seabra da Silva (1732-1813), nomeado Ministro do Reino em 1788,
dentre outros210.
Durante o reinado de D. Maria I e subsequente regência do príncipe D. João, as
Luzes se difundiram, em tons próprios, no seio de uma elite letrada e intelectual211. Em
1779 foi criada a Academia Real das Ciências de Lisboa, ensejada por D. João de
Bragança, 2º. Duque de Lafões (1719-1806) e pelo Abade Correia da Serva (1751-1826).
Entre os sócios fundadores, encontravam-se importantes letrados portugueses do período,
como Domingos Vandelli (1735-1816), Antonio Soares Barbosa (1734-1801), Pe.
Teodoro de Almeida (1722-1804), Pe. Antonio Pereira de Figueiredo (1725-1797), dentre
outros212. Difundidas no continente europeu ao longo dos tempos modernos, as academias
se tinham convertido em espaços importantes de sociabilidade para troca de informações
e discussão de ideias entre os letrados213. O discurso proferido por Correia da Serva na
sessão solene de abertura da Academia Real das Ciências de Lisboa, realizada a 4 de julho
de 1780, apresentava a atuação da instituição em diversas frentes:
Aqui uns descobrem manuscritos ... ali outros os traduzem, com gosto,
outros os publicam com elegância. Lá estarão aqueles observando os
minerais, as águas, as plantas, numa palavra, a natureza, quando da
outra parte estão outros tentando experiências, fazendo observações,
imaginando projetos: aqui se formam novos instrumentos, e máquinas,
ali se reformam, e aperfeiçoam as já conhecidas; acolá se verão outros
trabalhando com incansável aplicação nas matemáticas e no cálculo,
outros fazendo fáceis as doutrinas mais espinhosas, e difíceis,
semeando na mocidade o gosto, a crítica, o desejo de estudar e saber214.
210 Cf. VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do Livro no Mundo Luso-brasileiro sob as Luzes: Reformas, Censura
e Contestações. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 142. 211 Cf. NEVES, Guilherme Pereira das. Do império luso-brasileiro ao império do Brasil (1789-1822). Ler
História, Lisboa, no. 27-28, 1995. 212 Cf. ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 108, nota 34. 213 Cf. NEVES, Guilherme Pereira das. Academias. In: VAINFAS, Ronaldo (Dir.). Dicionário do Brasil
Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 14. 214 Discurso de fundação da Academia das Ciências de Lisboa citado em IRIA, Alberto. A fundação da
Academia das Ciências de Lisboa. In: História e desenvolvimento da ciência em Portugal. Lisboa:
75
O memorialismo desenvolvido e estimulado pela Academia Real das Ciências de
Lisboa procurou realizar um levantamento das condições naturais e econômicas do Reino
e dos domínios ultramarinos215. Em razão disso, ao longo dos anos, a Academia
desenvolveu uma intensa atividade editorial. Não por acaso, desde 1784, passou a contar
com uma tipografia, cujos prelos imprimiram importantes obras escritas por seus sócios
ou oriundas dos sucessivos concursos organizados pela Academia. A partir de 1788, teve
início uma série de publicações periódicas que marcaram o ambiente letrado e científico
português: as Efemérides Náuticas (1788), as Memórias Econômicas (1789), as
Memórias de Literatura (1792) e as Memórias da Academia Real das Ciências (1797)216.
No âmbito da imprensa periódica, entre o reinado mariano e a regência joanina,
floresceram no reino português mais de uma centena de periódicos, conforme apresentou
anteriormente o GRÁFICO 1. Dentre eles, destaca-se o Jornal Encyclopedico dedicado à
Rainha N. Senhora, e destinado para instrucção geral com a noticia dos novos
descobrimentos em todas as Sciencias e Artes (1779-1793). Dividido em oito seções
temáticas, a publicação abordava temas relacionadas à filosofia, medicina, história
natural, economia, literatura e política. Estavam entre seus colaboradores regulares:
Bento José de Sousa Farinha, sócio da Academia das Ciências de Lisboa e professor régio
de Filosofia; José da Costa e Sá, professor régio de gramática e latim; Antonio de
Almeida, cirurgião da Real Câmara; Francisco Luís Leal, professor régio de filosofia;
Joaquim Henriques de Paiva, médico e acadêmico. O Jornal Enciclopédico representou
Academia das Ciências de Lisboa, 1986, v. 2. Apud LAMBERT, Marina. Real Academia das Ciências de
Lisboa. O Arquivo Nacional e a História Luso-brasileira. Disponível em:
http://historiacolonial.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4015:co
mentario-real-academia-das-ciencias-de-lisboa&catid=91&Itemid=331. Acessado em 20/06/2019. 215 Cf. NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808).
São Paulo: Hucitec, 1979. p. 224-225. 216 Cf. SILVA, José Alberto Teixeira Rabelo da. A Academia Real das Ciências de Lisboa (1779-1834):
ciências e hibridismo numa periferia europeia. Tese (Doutoramento em História e Filosofia das Ciências)
– Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2015. p. 151 e p. 155, p. 173.
76
a difusão do enciclopedismo francês em Portugal, uma vez que partilhava da intenção
pedagógica de divulgação dos avanços científicos e filosóficos do Século das Luzes. Nele
encontram-se referenciados autores como Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778),
Diderot (1713-1784), D’Alembert (1717-1783), Condillac (1714-1780) e Adam Smith
(1723-1790)217.
Ao longo do Setecentos, o teatro recebeu atenção especial dentre as representações
artísticas. Na França, particularmente, segundo Franklin de Matos, letrados como Voltaire
e Diderot associaram o ideal pedagógico das luzes à dramaturgia218. Em Portugal, além
do já existente Teatro do Bairro Alto, o Antigo (1720), foram fundados, na segunda
metade do século XVIII, o Teatro da Rua dos Condes (1765) e o Teatro Salitre (1782)219.
Além destes, foi inaugurado, durante a regência de D. João, em 30 de junho de 1793, o
Teatro de São Carlos, sob os auspícios de Diogo Ignácio Pina Manique, então Intendente
Geral de Polícia220. O fenômeno de difusão de peças da dramaturgia estrangeira,
sobretudo italiana e francesa, foi acompanhado pela ampla circulação impressa, como
veremos adiante, de folhetos e libretos em verso ou em prosa221.
Um ímpeto reformista decididamente ilustrado ganhou fôlego com a ascensão de
Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-1812) à Secretaria de Estado da Marinha e do Ultramar
em 1796, cargo que ocupou até 1801, quando se viu indicado para a presidência do Real
Erário. Afilhado de batismo do Marquês de Pombal, foi educado por Miguel Franzini (c.
217 Cf. ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 78-79, 83-84. 218 Cf. MATTOS, Franklin de. A querela do teatro no século XVIII: Voltaire, Diderot, Rousseau. O que
nos faz pensar, Rio de Janeiro, no. 25, 2009. p. 8-10. 219 Cf. LEVIN, Orna Messer. A rota dos entremezes: entre Portugal e Brasil. ArtCultura, Uberlândia, v. 15,
n. 27, jul.-dez. 2013. p. 182. 220 Cf. MEIRELLES, Juliana Gesuelli. Política e Cultura no governo de D. João VI (1792-1821). Tese
(Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2013. p. 96-98. 221 Cf. LEVIN, Orna Messer. A rota dos entremezes: entre Portugal e Brasil. ArtCultura, Uberlândia, v. 15,
n. 27, jul.-dez. 2013. p. 188-189.
77
1730-1810), tutor italiano do herdeiro de D. José I e, posteriormente, no Real Colégio dos
Nobres. Em 1773 matriculou-se no curso jurídico da Universidade de Coimbra
reformada, onde teve contato com as novidades da jurisprudência, da matemática e da
física newtoniana. Durante sua missão diplomática em Turim, entre 1779 e 1796, segundo
Nívia Pombo, Sousa Coutinho consolidou sua formação intelectual e passou a organizar
suas principais questões e propostas para o reino português, para onde retornaria ao ser
indicado para o importante ministério dos domínios ultramarinos222.
Imbuído de ideias ilustradas e de suas experiências no estrangeiro, Rodrigo de
Sousa Coutinho articulou um amplo programa de “luminosas reformas executadas por
homens inteligentes e capazes de formar sistemas bem-organizados, e cuja utilidade seja
por todos sentida e experimentada”223. O ministro concedeu especial atenção aos
domínios ultramarinos e sua proteção. Em sua famosa Memória sobre o melhoramento
dos domínios de Sua Majestade na América (1797/1798), justificava a importância
fundamental da conservação dos vastos domínios portugueses no continente224. Nas
palavras de Sousa Coutinho, “os domínios de Sua Magestade na Europa não formam
senão a capital e o centro das suas vastas possessões. Portugal reduzido a si só, seria
dentro de um breve período uma província de Espanha”, enquanto podia “figurar
conspícua e brilhantemente entre as primeiras potências da Europa”225. Para a
manutenção destes domínios, o Secretário chamava atenção para os cinco pontos que
precisavam ser observados:
222 Cf. POMBO, Nívia. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Pensamento e ação político-administrativa no
Império Português (1778-1812). São Paulo: Hucitec, 2015. p. 37-39, p. 129 223 MAXWELL, Kenneth. A geração de 1790 e a idéia do império luso-brasileiro. In: MAXWELL, Kenneth
(Org.). Chocolates, Piratas e outros Malandros: Ensaios Tropicais. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 182. 224 Para a análise pioneira sobre a Memória, ver: NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na Crise
do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). São Paulo: Hucitec, 1979. p. 233-239. 225 SILVA, Andrée Mansuy-Diniz (Org.). D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos, económicos e
financeiros (1783-1811). Lisboa: Banco de Portugal, 1993. vol. 2, p. 48.
78
1º a segurança e defesa das mesmas capitanias; 2º princípios luminosos
de administração que segurem e afiancem o aumento das suas culturas
e comércios; 3º a imparcial distribuição da justiça, que é a primeira base
que segura a tranquilidade interior dos Estados; 4º o aumento e
prosperidade das rendas reais, que são evidentemente os primeiros e
essenciais meios da prosperidade e segurança das monarquias e dos
estados em geral; 5º um sistema militar terrestre e marítimo que evite
todo o susto de qualquer concussão interior ou exterior226.
Para a consecução de seus audaciosos planos, Sousa Coutinho mobilizou diversos
letrados luso-brasileiros com o objetivo de fornecerem informações práticas que
servissem para basear suas reformas. Homens como José Vieira Couto, José Teixeira da
Fonseca, João Manso Pereira, Joaquim Veloso Miranda, Manuel Ferreira da Câmara,
dentre outros, foram incumbidos de coletar e realizar investigação acerca das mais
variadas questões mineralógicas e metalúrgicas acerca dos recursos naturais da América
Portuguesa, como o sal, o cobre e o salitre. A esses naturalistas, letrados e membros da
administração que se reuniram em torno da figura de Rodrigo de Sousa Coutinho,
Kenneth Maxwell deu o nome de “geração de 1790”. Estes homens apresentaram
perspicácia e racionalidade na observação dos problemas coloniais227. Nesse sentido,
segundo Maria Odila da Silva Dias, tinha lugar uma estreita ligação entre as ideias
ilustradas e uma política da Coroa portuguesa que a colocava em prática228. Disso decorre
o caráter “pragmático” das Luzes portuguesas apontado por Sérgio Buarque de Holanda.
Em suas palavras, “nada mais significativo, ao contrário, do que a chusma de naturais do
Brasil que então se devotam afincadamente às ‘realidades práticas’ e às próprias ciências
aplicadas”229.
226 SILVA, Andrée Mansuy-Diniz (Org.). D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos, económicos e
financeiros (1783-1811). Lisboa: Banco de Portugal, 1993. vol. 2, p. 51. 227 Cf. MAXWELL, Kenneth. A geração de 1790 e a idéia do império luso-brasileiro. In: MAXWELL,
Kenneth (Org.). Chocolates, Piratas e outros Malandros: Ensaios Tropicais. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
p. 184. 228 Cf. DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Aspectos da Ilustração no Brasil. In: DIAS, Maria Odila Leite da
Silva. A interiorização da metrópole e outros estudos. São Paulo: Alameda, 2009. p. 60. 229 Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Introdução. Obras econômicas de Joaquim José de Azeredo
Coutinho (1794-1804). São Paulo: Companhia Editoria Nacional, 1966. p. 14.
79
Assim se desenvolveu, no seio desta elite ilustrada, os planos de criação de um
império luso-brasileiro com o objetivo de manter a unidade política entre Portugal e
Brasil. A ideia nasceu, nas palavras de Guilherme Pereira das Neves, “de uma arguta
percepção, propiciada pelas Luzes, das novas condições políticas e mentais da segunda
metade do século XVIII, aguçada pela independência das treze colônias inglesas da
América, e posteriormente, pela Revolução Francesa”230. Segundo Maria de Lourdes
Viana Lyra, o reformismo ilustrado luso-brasileiro de fins do século XVIII “indicou com
precisão o novo sentido da unidade pretendida: uma unidade atlântica imperial baseada
numa pretensa relação de parceria recíproca para a defesa dos interesses comuns”231.
2.2. TIPOGRAFIAS, GENTES DO LIVRO E O MERCADO LIVREIRO PORTUGUÊS
O comércio de livraria em Espanha e
Portugal, tal como o de muitas cidades de
Itália, está quase todo nas mãos dos
franceses, todos eles saídos duma aldeia
situada num vale do Briançonnais, no
Delfinado232.
Assim descreveu Grasset, um dos principais livreiros de Lausanne, sobre a
situação dos negócios dos livros em Portugal em um memorial dirigido a Malesherbes
(1721-1794), diretor-geral da Livraria na França, em 1754. Na década seguinte, em 1763,
o livreiro Antoine Boudet escreveu, em carta enviada ao Monsieur de Bombarda:
“j’estime que le Portugal consomme ainsi de l’étranger en livres, soit em feuilles, soit
230 NEVES, Guilherme Pereira das. Como um fio de Ariadne no intrincado labirinto do mundo: a ideia do
império luso-brasileiro em Pernambuco (1800-1822). Ler História, Lisboa, no. 39, 2000. p. 56. 231 LYRA, Maria de Lourdes Viana. A Utopia do Poderoso Império. Portugal e Brasil: bastidores da
política (1798-1822). Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994. p. 118. 232 BONNANT, Georges. Les libraires du Portugal au XVIIIe siècle vus à travers leurs relations d’affaires
avec leurs fournisseus de Genève, Lausanne et Neuchâtel. Arquivo de Bibliografia Portuguesa, Coimbra,
VI, nº. 23-24, 1960. p. 197-198 apud CAEIRO, Francisco da Gama. Livros e livreiros franceses em Lisboa,
nos fins de setecentos e no primeiro quartel do século XIX. Separata do Boletim da Biblioteca da
Universidade de Coimbra, Coimbra, v. 35, 1980.
80
reliés, pour 250 000 livres par an, les autres passant aux pays contrafacteurs de Suisse,
d’Avignon, et aux imprimeries d’Anvers et d’Italie”233. De fato, a partir dos estudos de
Georges Bonnant, Fernando Guedes e Francisco Caeiro, é possível constatar a
importância dos livreiros franceses para o mercado editorial da época e sua influência na
penetração de obras estrangeiras em Portugal234.
Os primeiros livreiros franceses emigraram para o reino luso nas décadas iniciais
do Setecentos. Foi através de Pedro Faure Legendron, já estabelecido em Lisboa desde
1727, que os primeiros Bertrands chegaram a Portugal. A partir de 1742, encontram-se
os primeiros anúncios de obras vendidas na loja de Pedro Faure e Bertrand, situada
próxima ao Largo do Loreto. Alguns anos depois, após o Terremoto de Lisboa, Bertrand,
já sozinho, anunciava a venda de obras em sua loja, próxima ao Senhor Jesus da Boa
Morte. Na década de 1770, seus filhos passaram a participar do negócio e, após sua morte
em 1779, a livraria passa a se chamar “Viúva Betrand & Filhos”235.
Em 1770, Francisco Rolland estabeleceu-se em Lisboa e passou a atuar como
livreiro, editor e impressor em sua loja, que se tornaria a célebre Typographia
Rollandiana. A partir do Livro de Contas de 1775, Francisco Caeiro estabeleceu o contato
entre Rolland e fornecedores estrangeiros de Paris, Lyon, Avignon, Leipzig e Gèneve,
233 Nota sobre “Situação da imprensa e da livraria em Portugal nos meados do século XVIII”. Arquivo de
Bibliografia Portuguesa, Coimbra, IV, no. 13-14, 1958 apud CAEIRO, Francisco da Gama. Livros e
livreiros franceses em Lisboa, nos fins de setecentos e no primeiro quartel do século XIX. Separata do
Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. 35, 1980. p. 146. 234 Cf. BONNANT, Georges. Les libraires du Portugal au XVIIIe siècle vus à travers leurs relations
d’affaires avec leurs fournisseus de Genève, Lausanne et Neuchâtel. Arquivo de Bibliografia Portuguesa,
Coimbra, VI, nº. 23-24, 1960. CAEIRO, Francisco da Gama. Livros e livreiros franceses em Lisboa, nos
fins de setecentos e no primeiro quartel do século XIX. Separata do Boletim da Biblioteca da Universidade
de Coimbra, Coimbra, v. 35, 1980. GUEDES, Fernando. O Livro e a Leitura em Portugal. Subsídios para
a sua história. Século XVIII-XIX. Lisboa: Editorial Verbo, 1987. 235 Cf. GUEDES, Fernando. O Livro e a Leitura em Portugal. Subsídios para a sua história. Século XVIII-
XIX. Lisboa: Editorial Verbo, 1987. p. 24-26, p. 32-35.
81
pontos importantes do mercado livreiro europeu236. No prólogo de uma coleção de
provérbios publicada por sua tipografia em 1780, o livreiro francês revelava seu objetivo:
publicar livros “puros, e desabusados” para a “verdadeira instrução”. Ao longo dos anos,
dos prelos da Rollandiana saíram sistematicamente reedições de obras clássicas
portuguesas e traduções de obras francesas e inglesas237.
A partir da segunda metade do século XVIII, cresceu a concentração de livreiros
franceses em Portugal. Segundo Ângela Maria Barcelos da Gama, onze dos dezessete
livreiros franceses da época eram oriundos da mesma região, Briançon238. Ao acrescentar
nesta lista Francisco Rolland e seu sócio Semion, Francisco Caeiro sobe o número para
treze livreiros oriundos desta região do Delfinado. Nomes famosos para os estudiosos dos
livros em Portugal, como os Borel, Martin, Bertrand, Aillaud, Rey, Orcel, Semion,
Rolland, Guibert, dentre outros, figuram neste grupo239. Desde fins do século XVIII, os
livreiros franceses enviavam remessas de livros a particulares e negociantes que residiam
na América Portuguesa. Ao analisar os requerimentos de licença para despacho de livros
na Real Mesa Censória, Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves constatou menções às
famílias Reycend, Bertrand, Martin, Borel e Rolland em carregamentos de livros
destinados ao Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Pará240.
236 Cf. CAEIRO, Francisco da Gama. Livros e livreiros franceses em Lisboa, nos fins de setecentos e no
primeiro quartel do século XIX. Separata do Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, Coimbra,
vol. 35, 1980. p. 149 e p. 152. 237 Cf. DENIPOTTI, Claudio. O livreiro que prefaciava (e os livros roubados): os prefácios de Francisco
Rolland e a circulação de livros no Império Português ao fim do século XVIII. História: Questões &
Debates, Curitiba, volume 65, n.1, jan./jun. 2017. p. 386-387. 238 Cf. GAMA, Ângela Maria do Monte Barcelos da. Livreiros, editores e impressores em Lisboa no século
XVIII. Arquivo de Bibliografia Portuguesa, Coimbra, XIII, 49-52, 1967. p. 8-81. 239 Cf. CAEIRO, Francisco da Gama. Livros e livreiros franceses em Lisboa, nos fins de setecentos e no
primeiro quartel do século XIX. Separata do Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, Coimbra,
v. 35, 1980. p. 149-151. 240 Cf. NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Comércio de livros e censura de ideias: a actividade dos
livreiros franceses no Brasil e a vigilância da Mesa do Desembargo do Paço (1795-1822). Ler História,
Lisboa, n. 23, 1992. p. 61-62.
82
Paralelo aos livreiros franceses, existiam diversas outras lojas de livros, livrarias
e casas impressoras comandadas por portugueses. A partir dos anúncios de livros nos
periódicos publicados entre 1780 e 1820, João Luís Lisboa realizou um estudo da
distribuição geográfica das livrarias. Lisboa era “o centro da edição e da venda do
impresso”, onde residia a maior parte dos potenciais compradores e leitores. Além disso,
a capital portuguesa era um ponto fundamental de produção e distribuição do impresso
tanto no reino quanto nos domínios ultramarinos. Em Coimbra, a imprensa estava
subordinada às necessidades da Universidade, e a função da leitura se relacionava ao
estudo. A cidade do Porto se apresentava como o maior foco de distribuição de livros,
depois de Lisboa241.
Para além dos empreendimentos particulares, o mercado livreiro português da
segunda metade do século XVIII sofreu o impacto de iniciativas tipográficas da própria
Coroa e de seus ministros. Em dezembro de 1768 foi criada a Régia Oficina Tipográfica,
com a intenção de organizar uma oficina tipográfica para os órgãos administrativos,
colégios e universidades, além de uma escola de artes. Durante o reinado de D. José I, a
atividade da Impressão Régia, como ficou conhecida, esteve intrinsicamente ligada ao
plano cultural pombalino. Dos seus prelos saíram textos para o ensino; obras sobre as
questões religiosas, como o galicanismo e a expulsão dos jesuítas; textos oficiais; dentre
outros. Com a ascensão de D. Maria I, a Impressão Régia passou a dar maior importância
à divulgação de autores literários clássicos e às obras religiosas, como sermões, novenas
e livros de orações. Ressalte-se, contudo, que a maior parte das impressões nos prelos
régios eram oriundos de encomendas particulares (77,4%), nas quais predominavam as
241 Cf. LISBOA, João Luís. Ciência e Política: Ler nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Instituto Nacional
de Investigação Científica, Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1991. p. 46-47.
83
impressões de textos diversos, como programas, recibos, bilhetes, cartazes, editais, dentre
outros242.
Sob os auspícios ilustrados de Rodrigo de Sousa Coutinho, foi fundada em agosto
de 1799 a Casa Literária do Arco do Cego, cuja direção ficou a cargo do Frei José Mariano
da Conceição Veloso (1741-1811), um botânico e religioso franciscano nascido na
América. Segundo Diogo Ramada Curto, esta iniciativa “afigura exemplar na tradução
efectiva no projeto político de Sousa Coutinho, nos seus diversos sentidos” 243. Ao longo
de sua efêmera atividade, entre 1799 e 1801, foram publicadas obras que versavam sobre
o desenvolvimento da agricultura no Brasil, o comércio marítimo e técnicas náuticas, a
medicina, a história natural e as ciências naturais244. Nas palavras de Veloso, no prefácio
da célebre coleção O Fazendeiro do Brasil, ele fora incumbido de
ajuntar, e trasladar em Portuguez todas as Memorias Estrangeiras, que
fossem convenientes aos Estabelecimentos do Brasil, para o
melhoramento da sua economia rural, e das fabricas que della
dependem, pelas quaes ajudados, houvessem de sahir do atraso, e
atonia, em que actualmente estão, e se pusessem ao nível, com os das
Nações nossas vizinhas, e rivaes no mesmo Continente, assim na
quantidade, como na qualidade dos seus gêneros e produções245.
242 Cf. CANAVARRO, Pedro; GUEDES, Fernanda Maria Silva; RAMOS, Margarida Maria Ortigão;
CALADO, Maria Marques. Introdução. In: ____. (Orgs.). Imprensa Nacional: atividade de uma casa
impressora, vol. 1, 1968-1800. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1975. p. 32-35, p. 37-39. Para
uma visão geral acerca das encomendas e impressões na Impressão Régia, entre 1769 e 1800, ver os gráficos
apresentados nas p. 56-57 e 60-61. 243 CURTO, Diogo Ramada. D. Rodrigo de Sousa Coutinho e a Casa Literária do Arco do Cego. In:
CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de; CURTO, Diogo Ramada (Orgs.). A Casa Literária do Arco do Cego
(1799-1801): Bicentenário. “Sem livros não há instrução”. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
Biblioteca Nacional, 1999. p. 48. 244 Cf. FARIA, Miguel F. Da Facilitação e da Ornamentação: A Imagem nas Edições do Arco do Cego. In:
CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de; CURTO, Diogo Ramada (Orgs.). A Casa Literária do Arco do Cego
(1799-1801): Bicentenário. “Sem livros não há instrução”. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
Biblioteca Nacional, 1999. p. 115-117. WEGNER, Robert. Livros do Arco do Cego no Brasil Colonial.
História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, vol. 11, suplemento 1, 2004. p. 132-135. 245 VELOSO, José Marino da Conceição. O Fazendeiro do Brazil... Lisboa: Régia Officina Typografica,
1798. Tomo I, Parte I, p. 1. Apud LEME, Margarida Ortigão Ramos Paes. Um Breve Itinerário Editorial:
Do Arco do Cego à Impressão Régia. In: CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de; CURTO, Diogo Ramada
(Orgs.). A Casa Literária do Arco do Cego (1799-1801): Bicentenário. “Sem livros não há instrução”.
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Biblioteca Nacional, 1999. p. 79.
84
A tipografia esteve envolvida na publicação de, pelo menos, 83 títulos, dos quais
45 eram traduções para o português. Nas palavras de Alessandra Harden, “essa proporção
explicita, sem deixar espaço para dúvida, a posição privilegiada que a atividade de
tradução tinha no projeto editorial representado pelo estabelecimento da casa”246. Este
estabelecimento representou, segundo Lia Wyler, um ponto de inflexão na história da
tradução portuguesa pois foi a primeira agência de tradução financiada pela Coroa247. Sob
a direção de Veloso recorreu-se, conforme salientou Miguel Faria, “a uma maciça tarefa
de traduções contabilizando-se mais traduções do que originais na globalidade do esforço
editorial da Casa Literária do Arco do Cego. As obras em francês, seguidas das inglesas,
seriam as mais utilizadas pelos tradutores do estabelecimento”248. Nas traduções
científicas, os prefácios e dedicatórias que as acompanhavam possuíram importância
fundamental, uma vez que eram dotados de uma estratégia retórica que permitia a
introdução de aspectos das Luzes na sociedade portuguesa de Antigo Regime249.
Além dos livros e tipografias, é preciso considerar quais livros circulavam na
sociedade portuguesa e eram vendidos nas lojas e livrarias, acessíveis, portanto, ao
público letrado. Fernando Guedes procedeu à análise de onze catálogos de livreiros
lisboetas entre 1777 e 1797 e das listas de impressão da Régia Oficina Tipográfica entre
os anos de 1798 e 1799:
246 HARDEN, Alessandra Ramos de Oliveira. Tradução no Arco do Cego: Revelações das Páginas de
Rosto. In: PATACA, Emerlinda & LUNA, Fernando José (Orgs.). Frei Veloso e a Tipografia do Arco do
Cego. São Paulo: Edusp, 2019. 247 Cf. WYLER, Lia. Línguas, poetas e bacharéis: uma crônica da tradução no Brasil. Rio de Janeiro:
Rocco, 2003. p. 74-76. 248 FARIA, Miguel F. Da Facilitação e da Ornamentação: A Imagem nas Edições do Arco do Cego. In:
CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de; CURTO, Diogo Ramada (Orgs.). A Casa Literária do Arco do Cego
(1799-1801): Bicentenário. “Sem livros não há instrução”. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
Biblioteca Nacional, 1999. p. 117. 249 Cf. HARDEN, Alessandra Ramos de Oliveira. Os tradutores da Casa do Arco do Cego e a ciência
iluminista: a conciliação pelas palavras. Trabalhos em Linguística Aplicada (UNICAMP), Campinas, v. 50,
2011. p. 317.
85
GRÁFICO 2
Livros nos catálogos das lojas e livrarias portuguesas (1777-1799)
FONTE: Elaborado a partir dos dados apresentados em GUEDES, Fernando. O Livro e a Leitura em
Portugal. Subsídios para a sua história. Século XVIII-XIX. Lisboa: Editorial Verbo, 1987. p. 84-85.
Primeiramente, impressiona o volume de obras presentes no catálogo de 1777 da
recém-criada Loja da Impressão Régia, composto por mais de três milhares de livros.
Nele, destacam-se os livros de “Teologia e Religião” (1) e a seção de “Filosofia e
Ciências” (2), composta por obras de filosofia, matemática, geometria, física, astronomia,
agricultura, comércio, medicina, dentre outras. Entre os autores destacam-se François
Fenélon (1751-1715), Buffon (1707-1788), Lineu (1707-1778), d’Alembert (1717-1783),
0
200
400
600
800
1000
1200
Núm
ero
de
Ob
ras
Livrarias e Anos dos Catálogos
1 - Teologia, Religião
2 -Direito, Economia
3- Filosofia e Ciências
4 - História, Bibliografias, Geografia
5 - Poesia, Teatro, Clássicos
6 - Linguística, História literária, gramática, Dicionários, Retórica
86
Francis Bacon (1561-1626), Alexander Pope (1688-1744), Leibniz (1646-1716), Denis
Diderot (1713-1784), Isaac Newton (1643-1727), Pierre Bayle (1646-1706), Aristóteles,
entre outros250. O catálogo de 1779 da livraria de João Batista Reycend é o segundo em
extensão. Após ampla seção de “Teologia e Religião” (1), seguem as de “Poesia, Teatro,
Clássicos” (5) e as de “Direito e Economia” (2). Os catálogos de 1791, 1792, 1793 e 1797
das casas Bertrand, Reycend e Borel apresentam uma estrutura “bastante idêntica entre
si, apresentando apenas a de Borel uma especialização em direito”251. Ao comparar o
catálogo oficial de livros de 1777 com os livreiros privados da cidade de Lisboa, Fernando
Guedes conclui que
os catálogos das livrarias privadas, editados ao longo do período,
formados tendo predominantemente em conta as predilecções dos
clientes – por outras palavras, oferecendo aquelas obras que o livreiro
sabia, ou previa, que tinham público assegurado, esses catálogos não
contrariam aquele ideal [oficial], nem o rejeitam: mitigam-no
fortemente no início do período e, com o correr dos anos, vão-se dele,
lentamente, aproximando252.
Por meio do levantamento, as referências de venda de livros nos anúncios dos
periódicos portugueses, especialmente a Gazeta de Lisboa, entre 1780 e 1820, João Luís
Lisboa oferece uma interessante perspectiva para matizar os tipos de livros acessíveis aos
leitores portugueses no período. As obras religiosas e as que versavam sobre História e
Geografia eram as de anúncio mais regular, apesar de não acompanharem completamente
o crescimento geral da leitura. É notável o crescimento dos livros de Belas-Letras e a
expansão das obras de Direito e Jurisprudência. Considerando o período compreendido
pelo estudo, a década de 1780 apresenta um crescimento das leituras científicas. No início
da década seguinte, as leituras científicas são afetadas, bem como obras religiosas e
250 GUEDES, Fernando. O Livro e a Leitura em Portugal. Subsídios para a sua história. Século XVIII-XIX.
Lisboa: Editorial Verbo, 1987. p. 97. 251 GUEDES, Fernando. O Livro e a Leitura em Portugal. Subsídios para a sua história. Século XVIII-XIX.
Lisboa: Editorial Verbo, 1987. p. 103-104. 252 GUEDES, Fernando. O Livro e a Leitura em Portugal. Subsídios para a sua história. Século XVIII-XIX.
Lisboa: Editorial Verbo, 1987. p. 106.
87
históricas. Entre os últimos anos do século XVIII e o início da Guerra Peninsular,
difundiu-se mais amplamente o gosto pelas obras literárias, sobretudo as novelas e
romances. Ao longo dos conflitos napoleônicos, proliferam as leituras políticas, como
panfletos e periódicos253.
2.3.OBRAS ESTRANGEIRAS TRADUZIDAS EM PORTUGUÊS
Dentre os livros que circularam em Portugal na segunda metade do século XVIII,
as traduções possuíam uma importância singular. A despeito de suas temáticas, as obras
traduzidas permitiam o contato com a produção literária, científica, política ou religiosa
de letrados das mais diferentes regiões europeias254. Por isso, é fundamental a apreciação
quantitativa e qualitativa dos fluxos gerais das obras traduzidas para a língua portuguesa
entre os anos de 1750 e 1800. Os dados apresentados neste trabalho advêm da resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa intitulada A Tradução em
Portugal, publicada em 1992 e organizada por António Augusto Gonçalves Rodrigues255.
O organizador e sua equipe exploraram o acervo das mais diversas instituições,
notadamente a Biblioteca Nacional de Lisboa, e centenas de publicações, desde as
bibliografias clássicas, como as de Inocêncio Francisco da Silva e Rubens Borba de
Moraes, aos catálogos de bibliotecas particulares e universitárias. Tamanho esforço
253 Cf. LISBOA, João Luís. Ciência e Política: Ler nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Instituto Nacional
de Investigação Científica, Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1991. p. 76-78,
p. 82-83. 254 Para uma reflexão sobre a tradução na época moderna, ver a coletânea BURKE, Peter & PO-CHIA
HSIA, Ronnie (Orgs.). A tradução cultural nos primórdios da Europa Moderna. São Paulo: Editora
UNESP, 2009. 255 RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
88
resultou em uma ferramenta bibliográfica fundamental para os pesquisadores que, como
toda em seu gênero, possui limites e dificuldades256.
Em termos metodológicos, procedemos à organização de um banco de dados a
partir da bibliografia organizada por Gonçalves Rodrigues. Para cada obra publicada,
preenchemos os seguintes campos: “ano de publicação”, “autor”, “título da obra”,
“tipografia” e “tradutor”. Após o preenchimento das informações para obras publicadas
entre 1750 e 1800, recorte preliminar desta pesquisa, avançamos em algumas direções
importantes: a classificação temática, a investigação das línguas originais das obras
traduzidas, os lugares e cidades de publicação a partir da localização das tipografias
identificadas e, por fim, a árdua busca por informações acerca do perfil socioprofissional
dos tradutores conhecidos257.
A segunda fase da pesquisa, acima descrita, iniciou-se pela busca no Diccionario
Bibliographico Portuguez de Inocêncio Francisco da Silva e em seus suplementos
posteriores, disponíveis na Biblioteca Digital do Senado Federal do Brasil. Obras
contemporâneas, como as de Isabel Lousada, Gilda Verri e Alessandra Harden
forneceram informações importantes sobre as tipografias e os tradutores258. Além disso,
foram consultadas obras digitalizadas em plataformas digitais, como o Google Books e o
Archive.org. Na LusoDat, bases de dados sobre história da ciência, da medicina e da
256 Cf. RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992. p. 13-19. 257 Agradeço à Savanah Abreu cujo auxílio na tabulação e organização dos dados foi imprescindível para a
consecução dos objetivos propostos neste trabalho. 258 LOUSADA, Isabel. Para o estabelecimento de uma bibliografia britânica em português, 1554-1900.
Tese (Doutorado) – Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1998. VERRI, Gilda Maria Whitaker. Tinta
sobre Papel: livros em Pernambuco no século XVIII. Volume 2, 1769-1807, Catálogo. Recife: Editora
Universitária da UFPE, 2006. HARDEN, Alessandra Ramos de Oliveira. Brazilian Translators in Portugal
(1785-1808): Ambivalent Men of Science. 2 vol. Tese (Doutorado) – Dublin, University College Dublin,
2010.
89
técnica em Portugal e Brasil, do Renascimento até 1900, foram encontradas informações
sobre edições, tradutores e tipografias259.
O mundo luso-brasileiro do Setecentos assistiu ao surgimento de uma profusão de
publicações de obras estrangeiras em língua portuguesa. Como aponta António
Gonçalves Rodrigues, na primeira metade do século XVIII, já surgiram 442 traduções
publicadas em Portugal, frente a 266 do século anterior. Entre os anos de 1750 e 1800,
porém, publicou-se um total de 1337 traduções dos mais variados temas e autores. Em
uma análise geral, constatamos um vertiginoso crescimento das traduções na década de
1780. Frente às 177 traduções publicadas na década de 1770, saíram à luz entre 1780 e
1789, 447 obras traduzidas260. O GRÁFICO 3 apresenta o volume anual adquirido pelas
obras traduzidas para o português no período estudado:
GRÁFICO 3
Obras traduzidas para a Língua Portuguesa (1750-1800)
FONTE: RODRIGUES, Antonio Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
259 LUSODAT. Bases de dados sobre história da ciência, da medicina e da técnica em Portugal e Brasil, do
Renascimento até 1900. Disponível em: http://www.ghtc.usp.br/lusodat.htm. Acessada em 20/01/2019. 260 Cf. RODRIGUES, Antonio Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Núm
ero
de
Ob
ras
Ano de Publicação
90
Uma forma diacrônica de abordar a questão é pensar os temas das traduções em
conexão com as décadas em que foram publicadas. Inspirado no trabalho de Lúcia Bastos
Pereira das Neves e Guilherme Pereira das Neves, procedeu-se a organização das áreas
temáticas apresentadas anteriormente nas cinco grandes categorias do Catálogo da
Biblioteca do Conde da Barca (1818): Teologia (orações, catecismos, obras de devoção,
etc.), Belas Letras (gramáticas, dicionários, obras em prosa, poesia, contos, novelas,
teatro, fábulas, etc.), Ciências e Artes (obras de filosofia, moral, economia, agricultura,
matemática, ciências, física, arquitetura, etc.), Jurisprudência (livros de direito) e
História (cronologias, viagens, memórias, relatos, geografia, etc.)261.
GRÁFICO 4
Temas das obras traduzidas para a Língua Portuguesa por década (1750-1800)
FONTE: RODRIGUES, Antonio Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
261 Cf. NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das & NEVES, Guilherme Pereira das. A Biblioteca de
Francisco Agostinho Gomes: a permanência da Ilustração luso-brasileira entre Portugal e o Brasil. Revista
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 425, 2004. p. 19. Para uma discussão
acerca da classificação da Biblioteca do Conde da Barca (1818), ver: FERRAZ, Márcia. A classificação
das ciências na biblioteca do Conde da Barca. Circumscribere: International Journal for the History of
Science, v. 19, p. 34-49, jun. 2017.
0
50
100
150
200
250
1750-1759 1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1800
Núm
ero
de
Ob
ras
Décadas de Publicação
Teologia Belas Letras Ciências e Artes Jurisprudência História
91
A partir do GRÁFICO 3, constatam-se picos de impressão de traduções nos anos de
1791 (80 títulos), 1786 (63 títulos), 1783 (61 títulos), 1785 (61 títulos) e 1792 (58 títulos).
Uma hipótese possível parte do princípio de que o aumento das traduções nestas décadas
está diretamente relacionado ao crescimento da impressão das obras de Belas Letras, que
representaram cerca de 44,5% das traduções que saíram a luz entre 1780 e 1800. Há, sem
dúvida, uma importante mudança no padrão das práticas de leitura anteriores,
comprovado pelo GRÁFICO 4. O processo de crescimento de uma literatura leiga veio
acompanhado de uma queda nos livros de Teologia ao longo da década de 1790, se
comparada à anterior.
Esta transformação se insere, com certos limites característicos das sociedades do
período, no processo de “descristianização” apontado por François Furet e outros
historiadores franceses. A mudança no perfil de leitura propiciada pela emergência das
Luzes representou, salienta João Luís Lisboa, uma queda da leitura religiosa e de
humanidades e um crescimento na leitura de diversão262. Por fim, a partir da década de
1780, as obras de Ciências e Artes, notadamente as que versam sobre agricultura e
medicina, experimentaram um notável avanço. Os livros traduzidos de História e
Jurisprudência não apresentaram, ao longo da segunda metade do século XVIII,
mudanças significativas em termos de volume.
262 Cf. FURET, François (Dir.). Livre et societé dans la France du XVIIIe. Siécle. 2v. Paris/Haia, Mutton,
1965-1970 apud LISBOA, João Luís. Ciência e Política: Ler nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Instituto
Nacional de Investigação Científica, Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1991.
p. 82.
92
GRÁFICO 5
Assuntos das obras traduzidas para a Língua Portuguesa (1750-1800)
FONTE: RODRIGUES, Antonio Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
Para transpor a análise geral e refinar as temáticas das obras, foi preciso organizá-
las em assuntos e áreas temáticas específicas. As obras de Belas Letras, por exemplo,
foram divididas em Teatro, Literatura (Prosa), Literatura (Verso), Poética, Retórica e
Gramática. Semelhante se passou com Ciências e Artes, cujos títulos foram distribuídos
em Medicina, Ciências, Agricultura, Matemática, dentre outros. O resultado da
organização foi expresso no GRÁFICO 5.
Conforme análise do GRÁFICO 5, as obras religiosas e textos devocionais
constituíram 26,2% das traduções no período referido. Tal preeminência não é
surpreendente uma vez que, segundo Guilherme Pereira das Neves, um dos traços mais
significativos traços do mundo luso-brasileiro do período era justamente o
lugar central que nele ainda ocupava a religião enquanto forma de
conhecimento em relação ao mundo, ao contrário do que se passava e
outras regiões do Ocidente, nas quais a visão secularizada da natureza
e da sociedade, concebida sob a forma de uma ciência, ou de uma
filosofia, tendia a impor-se como o principal instrumento para regular
0
50
100
150
200
250
300
350
Núm
ero
de
ob
ras
Categorias
93
as atividades produtivas e as relações sociais, dando origem ao
liberalismo oitocentista263.
Contudo, é possível afirmar que a proporção de textos devocionais nos séculos anteriores
em Portugal era consideravelmente maior. Conforme o estudo comparativo de Alexander
Wilkinson sobre a tradução vernácula na época renascentista, em fins do século XVI,
cerca de 54% das traduções na Península Ibérica eram de obras religiosas264.
As obras religiosas compunham-se majoritariamente de livros de devoção,
sermões, missais e escritos de santos, papas e doutores da Igreja Católica, como São
Francisco de Sales, São Jerônimo, Santa Teresa, Clemente XIV, Bento XIV, Pio VI, Santo
Agostinho, entre outros. A Imitação de Cristo de Thomas Kempis (1380-1471) continuou
a gozar de sucesso em Portugal e foi editada seis vezes. Os famosos Catecismos de
Montpellier, de tendência jansenista, escritos a mando de Charles-Joachim Colbert (1667-
1738), bispo daquela diocese, foram publicados em onze edições durante o período, das
quais quatro saíram dos prelos da Régia Oficina Tipográfica. De Frei Luís de Granada
(1505-1588), imprimiram-se Guia de Pecadores (1764, 1784, 1794), Introdução do
symbolo da fé (1780 e 1782) e Regras da Vida Virtuosa (1779, 1785 e 1796). O frade
dominicano, segundo Célia Maia Borges, possuiu grande importância para o mundo
católico desde a publicação dos seus escritos, cuja influência perdurou até fins do século
XVIII265.
As obras teatrais, a segunda maior área temática, equivalem a 20% das obras
traduzidas em língua portuguesa na segunda metade do século XVIII. As peças teatrais
263 NEVES, Guilherme Pereira das Neves. Um mundo ainda encantado: religião e religiosidade na América
Portuguesa ao fim do período colonial. Oceanos. Lisboa, v. 42, 2000. p. 114. 264 Cf. WILKINSON, Alexander S. Vernacular translation in Renaissance France, Spain, Portugal and
Britain: a comparative survey. Renaissance Studies, vol. 29, no. 1, nov. 2015. p. 31. 265 Cf. BORGES, Célia Maia. A apropriação e a leitura das obras de Frei Luís de Granada na Europa
Católica – Séculos XVI e XVII. In: FLECK, Eliane Cristina Deckmann & DILLMANN, Mauro (Orgs.). O
universo letrado da Idade Moderna: escritoras e escritores portugueses e luso-brasileiros, séculos XVI-
XIX. São Leopoldo: Oikos, Editora Unisinos, 2019. p. 133.
94
que recebiam aplausos no Teatro do Bairro Alto (1720), no Teatro da Rua dos Condes
(1765) e no Teatro Salitre (1782), eram, muitas vezes, oriundas da França, da Espanha e,
sobretudo, da Itália. Conforme salienta Orna Messer Levin, “o teatro português sobrevivia
tributário dos modelos estrangeiros ou vinha sendo preterido pela voga da ópera italiana,
para a qual a gente fidalga voltava suas atenções, levando o governo a destinar-lhe apoio
financeiro em detrimento da produção nacional”266.
Além disso, o teatro foi fundamental para a afirmação cultural da burguesia
lisboeta, que resultou na criação em 1771 da Sociedade estabelecida para a subsistência
dos Theatros Públicos da Corte. Os estatutos publicados no ano de fundação da
Sociedade consideravam o
grande esplendor, e utilidade, que resulta a todas as Nações do
Estabelecimento dos Theatros Públicos, por serem estes, quando são
bem regulados, a Escola Pública, onde os Povos aprendem as Maximas
mais sans da Politica, da Moral, do Amor da Patria, do Valor, Zelo, e
Fidelidade, com que devem servir aos seus Soberanos; civilizando-se,
e desterrando insensivelmente alguns restos de barbaridade, que nelles
deixarão os infelizes séculos da ignorância267.
O alvará, que criava esta sociedade por ações, concedia à dramaturgia “uma função
institucional de educação, esclarecimento e instrumento da civilização”. Ao mesmo
tempo, o teatro converteu-se em importante espaço de diversão e sociabilidade da
aristocracia portuguesa268.
É notável a influência das óperas e dramas italianos, especialmente aquelas
escritas pelo abade Pietro Metastasio (1698-1782), autor de 28% das obras teatrais
publicadas no período, e do dramaturgo veneziano Carlo Goldoni (1707-1793). Além da
dramaturgia italiana, encontramos obras francesas como as de Molière (1622-1673) e
266 LEVIN, Orna Messer. A rota dos entremezes: entre Portugal e Brasil. ArtCultura, Uberlândia, v. 15, n.
27, jul.-dez. 2013. p. 182. 267 INSTITUIÇÃO da Sociedade estabelecida para a subsistencia dos theatros públicos da Corte. Lisboa:
Regia Typografia Silviana, 1771. p. 3. 268 ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 96.
95
Voltaire (1684-1778), e os dramas ingleses de Edward Young (1683-1765) e William
Congreve (1670-1729), dentre outros.
A terceira maior área temática reúne a literatura em prosa, como contos, novelas
e romances, que perfaz 10,5% das obras traduzidas. Merecem destaque as onze edições
com diferentes traduções da obra As Aventuras de Telêmaco, romance de François
Fenélon (1651-1715). O livro, que narra a viagem empreendida por Telêmaco, filho de
Ulisses, em busca de seu pai, possuía um caráter pedagógico e apresentava exemplos de
conduta moral. Segundo Márcia Abreu, a obra de Fenélon converteu-se em verdadeiro
best-seller no mundo luso-brasileiro e foi o livro mais remetido para o Rio de Janeiro,
entre 1769 e 1826269.
Igualmente oriundos da língua francesa, os contos morais de Jean-François
Marmontel (1723-1799) e de Baculard d’Arnaud (1718-1805) encontraram significativa
penetração em Portugal e em seus domínios. A obra Auto do Infante Dom Pedro, na qual
seu autor, o castelhano Gomes de Santo Estevão (1388-?), descreve as viagens
empreendidas por Dom Pedro de Portugal entre 1424 e 1428, recebeu doze impressões,
com traduções diferentes na segunda metade do século XVIII. Do inglês, foram
traduzidos os romances Pamella Andrews (1790) de Samuel Richardson (1689-1761) e
Vida e Aventuras de Robinson Crusoé (1785) de Daniel Defoe (1660-1731).
As traduções de obras literárias em verso constituem a quarta maior área temática
do período com 9,8% das traduções. Os autores da Antiguidade estavam entre os mais
traduzidos, sobretudo Horácio, Virgílio e Ovídio. A Epístola aos Pisões, mais conhecida
como Arte Poética, na qual Horácio Flacco discute a arte da poesia e do drama, foi
impressa sete vezes, desde a primeira tradução publicada pelo frade oratoriano Francisco
269 Cf. ABREU, Márcia. Os caminhos dos livros. Campinas: Mercado de Letras; São Paulo: FAPESP, 2003.
p. 90-91.
96
José Freire, sob o pseudônimo de Cândido Lusitano, em 1758. Além desta, circularam
outras três traduções distintas, realizadas pelos letrados Miguel Antonio Ciera (1772),
Pedro José da Fonseca (1790) e Joaquim José da Costa e Sá (1794). A Eneida Portuguesa,
tradução do clássico de Virgílio realizada por João Franco Barreto (1600-1674) no século
XVII, recebeu duas novas edições no período (1762 e 1763).
Dos autores modernos, um dos mais traduzidos foi o suíço Salomon Gessner
(1730-1788). Obras de sua autoria, como Idílios e A Morte de Abel, representantes da
poesia pastoral que marcou o século XVIII, despertaram o interesse de Ricardo Raimundo
Nogueira, professor de direito na Universidade de Coimbra, e de outros tradutores como
José Anastácio da Cunha e os religiosos Antônio de Oliveira Valle e José Amaro da Silva,
e receberam dez impressões entre 1750 e 1800. O autor germânico gozava de certo
prestígio em Portugal. Segundo Ana Cristina Araújo, em 1761, Francisco Bernardo de
Lima , redator da Gazeta Literária, considerava o poema A morte de Abel “obra rara” e
“digna de atenção de todos os séculos”270.
Dentre as obras inglesas, merecem destaque as seis publicações das Noites Seletas,
escrita pelo poeta Edward Young (1683-1765), além do Paraíso Perdido (1789) de John
Milton (1608-1674) e dos poemas e odes de Alexander Pope (1688-1744). No âmbito das
obras francesas em verso, traduzidas para a língua portuguesa neste período, encontram-
se as Fábulas de Jean de La Fontaine (1621-1695), diversos textos de Louis Racine (1692-
1763) e o poema épico Henríada de Voltaire (1694-1778).
A quinta maior área temática reúne as traduções de obras médicas e científicas
relativas à saúde, doenças, tratamentos e remédios, que perfazem 6,8% das traduções para
a língua portuguesa. Uma das razões para tal, aponta Claudio DeNipoti, era a ideia de
270 ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 75.
97
utilidade, que permeava as justificativas oferecidas em prefácios e prólogos de tradutores
do período271. Nesse sentido, a medicina apresentava-se bem desenvolvida e cultivada
enquanto área de conhecimento no século XVIII. Símbolo do progresso científico
setecentista, a literatura médica foi utilizada em Portugal para o combate ao mundo dos
práticos, em que atuavam os “barbeiros”, “impostores” e “empíricos”272.
Manuel Joaquim Henriques de Paiva (1752-1829) foi um dos mais famosos
tradutores médicos do período273. O médico e professor de Farmácia da Universidade de
Coimbra foi responsável pela introdução no mundo luso-brasileiro do conhecimento
médico de Jacob Plenck (1738-1807), Samuel-August Tissot (1728-1797), William
Buchan (1729-1805), Melchior Adam Weikard (1742-1803), Samuel Foart Simmons
(1750-1813), Antoine- François de Fourcroy (1755-1809), John Brown (1735-1788),
dentre outros. No prefácio ao Aviso ao povo acerca da sua saúde, escrito pelo médico
Auguste Tissot (1728-1797), cuja versão em português foi publicada seis vezes entre
1750 e 1800, Henriques de Paiva escreveu:
O merecimento do Aviso ao povo de Mr. Tissot, cuja tradução ofereço
ao público, é tão conhecido, que julgo supérfluo demorar-me em o
mostrar, e ainda quanto houvesse alguém que duvidasse dele, bastava
para ficar convencido olhar não só para as repetidas edições, que em
pouco se fizeram desta Obra, e para as elegantes traduções feitas em
quase todas as línguas, mas sobretudo, para os sábios tradutores que Mr.
Tissot teve a sorte de ter274.
271 Cf. DENIPOTI, Claudio. Tradutores médicos e a ideia de tradução em Portugal em fins do século XVIII:
o caso dos livros de medicina. História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, vol.24, n.4, 2017. p.
919-920. 272 Cf. LISBOA, João Luís. Ciência e Política: Ler nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Instituto Nacional
de Investigação Científica, Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1991. p. 120. 273 Cf. LISBOA, João Luís. Ciência e Política: Ler nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Instituto Nacional
de Investigação Científica, Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1991. p. 118. 274 PAIVA, Manuel Joaquim Henriques de. Prefação. Aviso ao povo a’cerca de sua saúde por Monsieur
Tissot, Doutor em Medicina, e Socio de muitas academias... Lisboa: Officina de Filippe da Silva e Azevedo,
1786. p. XXIX.
98
Além das principais áreas temáticas acima comentadas, foram traduzidas obras
que versavam sobre história (4,4%), filosofia (3,9%), ciências (3,2%), agricultura (2,1%),
matemática (1,8%), dentre outras.
GRÁFICO 6
Idiomas originais das obras traduzidas para a Língua Portuguesa (1750-1800)
FONTE: RODRIGUES, Antonio Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
Em relação às línguas originais das obras traduzidas no período, constata-se, a
partir da análise dos elementos do GRÁFICO 6, a notável preeminência do francês em
40,4% das publicações. Este fato representa um ponto de inflexão na história da tradução
portuguesa. Segundo João Paulo Silvestre, “o mercado editorial português, nos séculos
XVI e XVII, não privilegiou a tradução para vernáculo de textos científicos, literários e
religiosos”, uma vez que um elevado número de livros era impresso em latim e
castelhano, mantendo, assim, as línguas da edição original. “O espaço das traduções do
francês”, continua ele, “é lentamente conquistado à medida que o século XVIII
0
100
200
300
400
500
600
Núm
ero
de
Ob
ras
Idiomas
99
avança”275. João Luís Lisboa salientou que, entre 1780 e 1820, “o francês seria (muito
provavelmente) a língua estrangeira mais lida ao longo de praticamente todo este
período”276.
Do italiano foram vertidas 16,7% das obras traduzidas na segunda metade do
século XVIII. Isso se deve, como demonstrado anteriormente, ao sucesso alcançado pelas
óperas, dramas e tragédias italianas em solo português. Infelizmente, não foi possível
identificar a procedência linguística de 14% das obras descritas por Gonçalves Rodrigues
em sua resenha cronológica. Cerca de 10% das obras traduzidas eram originadas do
Latim, principalmente obras religiosas como traduções da Vulgata latina e de escritos de
Santo Agostinho (354-430 d.C.). Há, também, versões em português dos autores antigos
Ovídio, Cícero, Quintiliano, Euclides e, sobretudo, Horácio. Ademais, foram traduzidas
obras escritas originalmente em inglês (8,6%), castelhano e espanhol (8,3%), grego (1%),
alemão (0,4%), holandês (0,7%) e persa (0,7%).
275 SILVESTRE, João Paulo. A tradução do discurso enciclopédico para a língua portuguesa: barreiras
linguísticas e culturais no início do século XVIII. In: MIGUEL, Maria Augusta et alii (Orgs.). Actas do I
Colóquio de Tradução e Cultura. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 2006. Para ambas as citações,
ver p. 247. 276 LISBOA, João Luís. Ciência e Política: Ler nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Instituto Nacional de
Investigação Científica, Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1991. p. 68.
100
GRÁFICO 7
Perfil socioprofissional dos tradutores identificados (por número de obras) (1750-1800)
FONTE: RODRIGUES, Antonio Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
O GRÁFICO 7 apresenta uma análise do perfil socioprofissional dos tradutores das
obras descritas na bibliografia de Gonçalves Rodrigues. Primeiramente, ressalte-se que
foram identificados e classificados os tradutores de apenas 34,6% das obras. O espectro
de tradutores identificados é, sem dúvida, pequeno se comparado ao universo de obras
traduzidas no período estudado. Isso se relaciona ao anonimato dos tradutores, que
marcou a maioria dos impressos vertidos em português. Em alguns casos, os tradutores,
talvez com o objetivo de escapar às malhas dos órgãos censores, preferiam se identificar
020406080
100120140160180
Núm
ero
de
Ob
ras
Categorias
101
por expressões como “por um amante e zeloso da pátria”277, “por um devoto”278, “por um
teólogo português”279, “por um amigo da verdade”280, dentre muitas outras.
Dentre os identificados, o protagonismo recai sobre os tradutores religiosos, que
perfazem 36,4%. Em seguida, destacam-se a genérica categoria de letrados, que reúne
poetas, escritores e membros da Academia Real de Ciências de Lisboa, da Academia Real
de História, da Academia de Belas Artes Arcádia de Portugal, dentre outras. O terceiro
maior grupo é composto por médicos e cirurgiões e, o quarto, por professores régios e
lentes das universidades portuguesas.
A despeito dos limites impostos pelas fontes, podemos levantar algumas questões
sobre os tradutores lusos da segunda metade do século XVIII. Em primeiro lugar,
conforme demonstra Claudio DeNipoti, a partir da análise de prefácios, cartas e discursos
acrescentados nas traduções publicadas entre 1770 e 1810, os tradutores do período eram
movidos por uma ideia geral de utilidade, vinculada ao processo de instrução e de uma
educação moral voltada para o desenvolvimento da civilidade281.
Em segundo, a partir desta primeira constatação, constatamos que,
frequentemente, as temáticas dos textos traduzidos estavam relacionados ao perfil
socioprofissional dos tradutores. As ocorrências são inúmeras. À título de exemplo,
retome-se o caso do já citado Manuel Joaquim Henriques de Paiva, boticário e médico,
277 DIVERTIMENTOS militares, obra agradável e instructiva, utilíssima para todos os militares. Tradução
feita e acrescentada por hum amante e zeloso da Pátria. Lisboa: Officina de Miguel Manescal da Costa,
1762. 278 AGOSTINHO, Santo. Confissões... Traduzido na língua portuguesa por um devoto. Lisboa: Régia
Officina Typográfica, 1783. 279 JERÔNIMO, São. Epístolas Selectas... Traduzidas na língua vulgar por um theologo portuguez. Lisboa:
Officina de Francisco Luis Ameno, 1784. 280 DISSERTAÇÃO SOBRE O ESTADO RELIGIOSO. Em que se mostra qual he o seu espírito, qual a sua
origem, os seus progressos... Composta na língua Franceza Pelo Abbade de B.***, e pelo Abbade de B. B.
*** Traduzida na Portugueza Por Hum Amigo da Verdade. Lisboa: Off. Patr. de Francisco Luiz Ameno,
1786. 281 DENIPOTI, Cláudio. Em busca da tradução perfeita: os discursos dos tradutores e censores portugueses
na segunda metade do século XVIII. In: SANTOS, Antonio Cesar de Almeida (Org.). Ilustração, cultura
escrita e práticas culturais e educativas. Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2016. p. 93.
102
que traduziu obras médicas de Samuel-Auguste Tissot (1728-1797), Joseph Jacques de
Gardanne (1726-1786), William Buchan (1729-1805), Joseph Jacob Plenck (1738-1807),
dentre outros. Situação semelhante se passou com José Francisco Leal, lente de Matéria
Médica e de Instituições Cirúrgicas de Coimbra, que verteu em português textos escritos
pelo francês Antoine Baumé (1728-1804). Os professores e lentes constantemente
traduziam obras relacionadas ao seu ofício, como Antonio Lourenço Caminha, professor
de Retórica e Poética, que traduziu Lélio ou o diálogo sobre a Amizade (1785) de Cícero
e outras obras poéticas de Ovídio. Joaquim José da Costa e Sá, lente de Gramática e Latim
em Coimbra, trasladou ao português a Arte Poética (1794) de Horácio. O ator e
dramaturgo Antonio José da Silva foi o tradutor de diversas óperas e dramas italianos de
Metastasio (1698-1782).
GRÁFICO 8
Cidades de impressão das obras traduzidas para a língua portuguesa (1750-1800)
FONTE: RODRIGUES, Antonio Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
A propósito das cidades de impressão dos livros, apresentadas nos GRÁFICO 8, a
maioria das traduções para o português publicadas entre 1750 e 1800 foram impressas em
0100200300400500600700800900
1000
Núm
ero
de
Ob
ras
Cidades
103
oficinas e tipografias localizadas em Lisboa (70,8%). Como apresentamos anteriormente,
a capital portuguesa concentrava um grande número de livreiros e tipografias, o que a
converteu no ponto central do comércio livreiro no mundo luso-brasileiro. As tipografias
de Porto e Coimbra imprimiram, respectivamente, 6,3% e 4,2%. Constata-se, ainda, uma
notável pulverização de impressões de traduções em português em outros centros de
produção livreira como Londres, Paris, Madrid e Nápoles.
2.4. LETRADOS EM BUSCA DA TRADUÇÃO PERFEITA
Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres282
- Horácio, Ars Poetica
Consoante à análise quantitativa das traduções, faz-se necessário refletir sobre o
conceito de tradução no mundo luso-brasileiro a partir de suas concepções e usos pelos
letrados entre 1750 e 1820. Com inspiração na História dos Conceitos preconizada por
Reinhart Koselleck, parte-se do pressuposto aqui que “os conceitos são tanto indicadores
como fatores na vida política e social”. Nesse sentido, é preciso refletir como os “seus
usos foram subsequentemente mantidos, alterados ou transformados”283. Para tanto, serão
utilizados discursos e prefácios a traduções da época; cartas, artigos e polêmicas da
imprensa periódica e as acepções dos vocabulários e dicionários.
No Setecentos português, as reflexões sobre o ato de traduzir presentes nos
prefácios e discursos de tradutores abordavam constantemente se as boas traduções eram
282 “E não cuidareis em traduzir palavra por palavra, fiel intérprete”. Tradução de John Milton e Dirceu
Villa em MILTON, John & VILLA, Dirceu (Orgs.). Os Escritos Clássicos Ingleses sobre a Tradução –
1615-1791. São Paulo: Humanitas, CAPES, 2012. p. 7. 283 KOSELLECK, Reinhart. Uma resposta aos comentários sobre o Geschichtliche Grundbegriffe. In:
JASMIN, Marcelo Gantus & JÚNIOR, João Feres (Orgs.). História dos Conceitos. Debates e perspectivas.
Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, Edições Loyola, IUPERJ, 2006. p. 100 e 101, respectivamente.
104
as que se fiavam no sentido e pensamento do autor ou aquelas que traduziam palavra por
palavra. No verbete “tradução” do Vocabulário Português e Latino (1712-1728), o padre
Raphael Bluteau (1638-1734) afirmava que “as boas traduções não se fazem palavra por
palavra mas por equivalências”. Para o termo “tradutor”, o padre também tratava da
questão da fidelidade ao original: “O Italiano chama ao Tradutor, Traidor, Traduttore,
Traditore, mas o Traductor fiel, não é traidor; a muitas nações dá em cada palavra provas
autênticas da sua fidelidade”284.
Em 1746, ao tratar das traduções latinas e de sua função na educação da mocidade
portuguesa, o padre Luís Antônio Verney (1713-1792), na Carta Terceira do Verdadeiro
Método de Estudar (1746), advogava por uma tradução ad sensum, que transladasse ao
português o sentido expresso pelo autor em sua língua original, e criticava o esforço
tradutório que se mantivesse preso ao sentido literal das palavras: “é muito mao emprego,
obrigar o estudante a traduzir Bulas, ou Constituisoens: e principalmente a traduzilas
palavra por palavra, como fazem estes mestres”. E completa que “Antes é muito mal feito,
obrigálos a traduzir assim: porque o tal Latim nam se deve traduzir ad verbum, mas ad
sensum”285.
Um dos mais célebres tradutores do período, o oratoriano Francisco José Freire
(1719-1773), sob o pseudônimo de Cândido Lusitano, publicou em 1758 uma tradução
portuguesa da Arte Poética de Horácio. No Discurso Preliminar do Tradutor, o padre
discutiu as obrigações de um tradutor:
Uns querem que seja um fiel copiador, não só das expressões, mas até
das mesmas palavras daquele, a quem traduz; outros dão mais
liberdade, dizendo que deve vestir com as galas da sua língua aquelas
284 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra:
Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728. Vol. 8, p. 234. 285 VERNEY, Luís António. Verdadeiro Método de Estudar, para ser útil à República e à Igreja:
proporcionado ao estilo, e necessidade de Portugal. Valença, Oficina de Antonio Belle, 1746. Vol. 1, p.
74-81 apud SILVA, Jorge Miguel Bastos da (Org.). O Discurso sobre a Tradução na Literatura
Portuguesa. Classicismo e Romantismo. Antologia. Porto: Edições Afrontamento, 2015.
105
expressões, elegâncias e formas particulares de dizer que na língua do
texto aparecem com adorno286.
Após recorrer a Horácio e Cícero para solucionar a questão, Lusitano reconheceu
que “a Tradução para ser boa, é preciso que conserve com a fidelidade possível todo o
caráter e índole do texto”. E complementa que “nós por fidelidade não entendemos o
traduzir literalmente, mas sim o exprimir (quando for possível) sentença por sentença e
figura por figura, não acrescentando coisa que não se lê no original, e não menos tirando,
ou mudando coisas que nele estejam”287.
Na “Dissertação do Traductor” à versão portuguesa da tragédia Athalia (1762) de
Jean Racine (1639-1699), Cândido Lusitano retoma a questão da tradução e critica os
“puritanos da língua”, que defendiam a tradução literal. Não por acaso, o tradutor
advogava por uma versão em versos brancos, ou seja, que apresentassem metrificação
mas não rimas. Lusitano, então, questiona:
E que homem de bons estudos em Poesia Dramatica naõ sabe, que a
rima (maldita lhe chama o Traductor Salvini) a cada passo está fazendo
violência à expressão da idéa do Poeta, que he impropriíssima no
dialogo, e que tira toda a força ao que he verdadeira harmonia?288
Custódio José de Oliveira na Prefação ao Tratado do Sublime (1771) de Longino
(213-273) faz uma crítica à ideia das traduções como imitações servis, “nas quais o
Tradutor não pode deixar a imaginação livre para de si mesma produzir alguma coisa”.
Ao contrário, em alguns casos era preciso, segundo Oliveira, limar algumas frases “para
286 LUSITANO, Cândido. Discurso Preliminar do Traductor. Arte Poetica de Q. Horácio Flacco, Traduzida
e illustrada em Portuguez por Candido Lusitano. Segunda edição, correcta, e emendada. Lisboa: Officina
Rollandiana, 1778. 287 LUSITANO, Cândido. Discurso Preliminar do Traductor. Arte Poetica de Q. Horácio Flacco, Traduzida
e illustrada em Portuguez por Candido Lusitano. Segunda edição, correcta, e emendada. Lisboa: Officina
Rollandiana, 1778. 288 LUSITANO, Cândido. Dissertaçaõ do Traductor. Athalia, Tragedia de Monsieur Racine, Traduzida,
illsutrada, e oferecida á Serenissima Senhora D. Marianna, infanta de Portugal, por Candido Lusitano.
Lisboa: Officina de Francisco Luiz Ameno, 1762. apud SILVA, Jorge Miguel Bastos da (Org.). O Discurso
sobre a Tradução na Literatura Portuguesa. Classicismo e Romantismo. Antologia. Porto: Edições
Afrontamento, 2015. p. 52-53.
106
assim conservar com a maior possibilidade na nossa língua a força, a energia, a majestade
e a harmonia que mais se pudesse assemelhar à do Autor original”. Por isso, o tradutor
confessava: “encontrei todavia em alguns lugares bastante dificuldade, sendo algumas
vezes preciso, para dar a conhecer a figura de que fala, faltar quase à fidelidade dos
vocábulos”289.
Na Prefação ao Novo Testamento de Jesus Cristo (1778), o padre Antonio Pereira
de Figueiredo (1725-1797), também se inspirando em Horácio, fez uma crítica às
traduções literais, qualificadas como servis290:
Todos os críticos profanos e sagrados concordam que o bom Tradutor
não se deve ligar servilmente às palavras do original; mas atender mais
ao sentido do que às palavras. Esta é a regra que nos deixou Horácio,
quando disse na sua Poética: Nec verbum verbo curabis reddere fidus
Interpres291.
O padre fez, também, referência à famosa carta Ad Pammachium de optimo genere
interpretandi escrita em 395 por São Jerônimo (347 d. C.-420 d. C.). Nesta epístola, uma
resposta às críticas à sua tradução de uma epístola papal da época, São Jerônimo defendia
a tradução do sentido e das ideias exceto no caso dos textos sagrados e confessa que,
desde a juventude, traduzia desta forma292. Inspirado neste escrito, Pereira de Figueiredo
advogava que “pode e deve muitas vezes o Tradutor sagrado em lugar da frase que vem
289 OLIVEIRA, Custódio José de. Prefação. Dionysio Longino Tratado do Sublime Traduzido da Lingua
Grega na Portuguesa por Custodio Jose de Oliveira. Lisboa: Regia Officina Typografia, 1771. apud
SABIO PINILLA, José Antonio; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Manuela (Orgs.). O Discurso sobre a
Tradução em Portugal. O proveito, o ensino e a crítica. Antologia (c. 1429-1818). Lisboa: Edições Colibri,
1998. p. 102-103. 290 Sobre a trajetória do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, ver SOUZA, Evergton Sales. Antônio Pereira
de Figueiredo (1715-1797). Trajetória de um católico ilustrado. In: FLECK, Eliane Cristina Deckmann &
DILLMANN, Mauro (Orgs.). O universo letrado da Idade Moderna: escritoras e escritores portugueses e
luso-brasileiros, séculos XVI-XIX. São Leopoldo: Oikos, Editora Unisinos, 2019. 291 FIGUEIREDO, Antonio Pereira de Figueiredo. Prefação. O Novo Testamento de Jesu Christo, traduzido
em portuguez segundo a Vulgata ... por Antonio Pereira de Figueiredo, deputado ordinário da Real Meza
Censória. Tomo I. que compreende os evangelhos e S. Mattheus, e S. Marcos. Lisboa: Régia Officina
Tipográfica, 1778. p. XXII 292 Cf. FURLAN, Mauri. Brevíssima História da Teoria da Tradução no Ocidente - II. A Idade Média.
Cadernos de Tradução. Florianópolis, v. XII, 2005. p. 14.
107
no original, substituir outra, que seja própria da língua em que verte: sob pena de que se
assim não o fizer, ficará a Versão talvez escura, talvez indecente”293.
Os tradutores também criticavam aqueles que, presos às palavras, acabavam por
misturar expressões e frases da língua original com o português. Exemplo disso é a crítica
feita por Miguel do Couto Guerreiro (1720-1793) em sua versão das Heroides (1789) de
Ovídio:
Fugi, quanto me foi possível, do vício de alguns Tradutores, que
querendo por exemplo dar traduzido um Autor Latino, ou Francez, se
aferram de modo às palavras, e frases do Author, que misturando-as, e
confundindo com as nossas, inventam, sem saberem o que fazem, um
idioma Latino-Lusitano, ou Gálico-Lusitano, que faz quase tao
dificultosa de entender a Tradução como o original294.
Ao se debruçar sobre uma tradução, segundo Guerreiro, o leitor não buscava as palavras
e expressões que estão presentes na edição original. Para ele, “o que se espera na Tradução
é o conceito, que elas, palavras e frases, significam, expresso com energia e elegância”295.
Manoel Maria de Barbosa Du Bocage (1765-1805), célebre represente do arcadismo
português, ao traduzir o drama Eufemia ou o Triunfo da Religião (1793) do dramaturgo
francês François d’Arnaud (1718-1805), afirmava que procurou evitar os “Galicismos, de
que abunda grande parte das nossas traduções, e que nos enxovalham o fértil e majestoso
idioma, só indigente e inculto na opinião das pessoas que o estudaram mal”296.
293 FIGUEIREDO, Antonio Pereira de Figueiredo. Prefação. O Novo Testamento de Jesu Christo, traduzido
em portuguez segundo a Vulgata ... por Antonio Pereira de Figueiredo, deputado ordinário da Real Meza
Censória. Tomo I. que compreende os evangelhos e S. Mattheus, e S. Marcos. Lisboa: Régia Officina
Tipográfica, 1778. p. XXIV. 294 GUERREIRO, Miguel do Couto. Prefação. Cartas de Ovídio chamadas Heroides, Expurgadas de toda
obscenidade, e traduzidas em Rima vulgar... autor, e traductor Miguel do Couto Guerreiro. Tomo I.
Lisboa: Off. Patr. De Francisco Luiz Ameno, 1789. p. iii. 295 GUERREIRO, Miguel do Couto. Prefação. Cartas de Ovídio chamadas Heroides, Expurgadas de toda
obscenidade, e traduzidas em Rima vulgar... autor, e traductor Miguel do Couto Guerreiro. Tomo I.
Lisboa: Off. Patr. De Francisco Luiz Ameno, 1789. p. xii. 296 BOCAGE, Manuel Maria de Barbosa Du. Ao Leitor. Eufemia, ou o Triunfo da Religião: drama de Mr.
D’Arnaud, tradutor em versos portugueses por Manoel Maria de Barbosa Du Bocage. Lisboa: Off. de
Simão Thaddeo Ferreira, 1793.
108
Ao traduzir as Orações (1779) de Cícero (106 a.C.-43 a. C.), o oratoriano Antonio
Joaquim atacava um dos argumentos que poderiam vir a ser utilizados pelos que
defendiam o uso de vocábulos estrangeiros: a pobreza de vocábulos da Língua
Portuguesa. Segundo ele, o Padre Antonio Vieira quando precisou traduzir um excerto do
livro de Reis, encontrou três sinônimos para o verbo latino “infatuar”. Para Joaquim,
este caso não faz exemplo para os que com pouca lição, com pouco
conhecimento dos nossos Escritores e com pouco uso de escrever se
arrojam a adoptar quantos vocábulos querem, havendo muitos e
melhores na língua materna com que as coisas se podem explicar.
Donde se deve coligir que a pobreza não está na língua, mas em quem
tem pouco conhecimento dela297.
Outros tradutores, porém, defendiam a permanência de termos do Latim e do
Grego. É o caso do oratoriano Vicente Amado, sob o pseudônimo de Vicente Lisbonense,
na “Prefação do Traductor” às Instituições Oratórias (1777) de Quintiliano (35 d.C.-100
d.C.). Sua tradução seria utilizada, segundo ele, para o aprendizado da Retórica e do
Latim. Por isso, escreveu, “nos vemos obrigados a usar de palavras propriamente latinas,
por não termos outras de que em Português lhe correspondam bem. Isso mesmo acontecia
aos Latinos, se vertiam do Grego”298.
Não foram apenas nos prefácios e discursos de tradutores que as traduções literais
foram duramente criticadas. Em meio ao surgimento de inúmeros periódicos no mundo
luso-brasileiro entre os dois lados do Atlântico, a polêmica ganhou as páginas dos jornais.
No Correio Braziliense de agosto de 1810, Hipólito da Costa (1774-1823) publicou a
297 JOAQUIM, Pe. António. Orações Principaes de M. T. Cicero Traduzidas na língua vulgar, e
adicionadas com notas e analyses pelo P. Antonio Joaquim da Congregação do Oratório de Lisboa, em
beneficio da Mocidade Portugueza. Tomo Primeiro. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1779. apud
SABIO PINILLA, José Antonio; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Manuela (Orgs.). O Discurso sobre a
Tradução em Portugal. O proveito, o ensino e a crítica. Antologia (c. 1429-1818). Lisboa: Edições Colibri,
1998. p. 112-113. 298 LISBONENSE, Vicente. Prefação do Tradutor. Quinctiliano Da Instituição do Orador, Traduzido, e
ilustrado com a explicação das palavras Gregas, e algumas Notas por Vicente Lisbonense. Tom. I. Lisboa:
Regia Officina Typografica, 1777. apud SABIO PINILLA, José Antonio; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,
María Manuela (Orgs.). O Discurso sobre a Tradução em Portugal. O proveito, o ensino e a crítica.
Antologia (c. 1429-1818). Lisboa: Edições Colibri, 1998. p. 109.
109
versão portuguesa do Tratado de Comércio e Navegação assinado entre Portugal e
Inglaterra no mesmo ano. Em seu exame do tratado, o redator iniciava suas críticas pelo
fato de que “até na tradução portuguesa, vem primeiro o nome de S. M. Britânica”, o que,
segundo ele, seria natural na edição inglesa, mas “se no original, que fica nas mãos do
Governo português, vem primeiro o nome do Príncipe Regente, como supomos, é para
sentir que essa cópia não fosse publicada pelo Ministro português ao mesmo tempo”299.
Neste caso, o ato de traduzir possuía consequências políticas e econômicas.
Em seguida, Hipólito da Costa apontava para os equívocos na tradução de alguns
artigos que compunham o referido Tratado. No artigo inicial, que discorria sobre a
“descontinuação de certas proibições e direitos proibitivos”, o redator comenta que “estas
palavras parecem no português sinônimos, porque as proibições legais constituem o
direito proibitivo, e posto que esta tradução seja literal, com tudo não exprime com a
necessária clareza o sentido inglês, onde se acham dois termos de significação muito
diferente”300. Neste trecho, ele faz referência à distinção entre prohibitions (proibições
diretas) e proihibitory duties (proibições e imposições indiretas), que acaba por
desaparecer na tradução literal do Tratado.
Dois anos depois, em 1812, na seção “Literatura e Sciencias”, Hipólito voltou a
se deparar com a questão da tradução e expressa sua defesa pela tradução que prima pelo
sentido do autor301. Ao comentar a recente publicação da versão portuguesa da novela
francesa Atala (1810) de François-René de Chateaubriand (1768-1848), o redator do
299 Correio Braziliense, ed. 5, 1810. p. 189-190. 300 Correio Braziliense, ed. 5, 1810. p. 190. 301 Para além das questões retóricas e poéticas, outras razões moveram a defesa de Hipólito da Costa da
novela Atala. O redator do Correio Braziliense possuía conexões íntimas com o tradutor da obra proibida
pelo Santo Ofício em 1812, Filipe Ferreira de Araújo e Castro. Segundo Isabel Lustosa, foi disfarçado como
criado de Araújo e Castro que Hipólito conseguiu deixar Lisboa após a fuga da prisão. Para mais
informações, ver: LUSTOSA, Isabel. O jornalista que inventou o Brasil. Tempo, vida e pensamento de
Hipólito da Costa (1774-1823). Campinas: Editora UNICAMP, 2019. p. 57 e nota 30.
110
Correio Braziliense elogiava o tradutor anônimo pelo “bom discernimento do objeto” e
por “sua instrução nas belas expressões com que interpreta sempre o genuíno sentido do
autor”302. Além disso, Hipólito louvava a fidelidade da tradução e defendia que, em
muitos casos, a liberdade do tradutor é necessária:
Bem longe de censurarmos esta liberdade do Traductor, a julgamos
necessária em muitos casos, para adaptar à natureza da linguagem e aos
costumes da nação, as ideias originais; e preencher o designío do A.
[autor]. Principalmente em obras desta natureza, em que a forma das
expressões, não é da essência ao sentido, nem necessária ao sistema303.
Em março de 1813, O Patriota, periódico impresso no Rio de Janeiro, trouxe em
suas páginas um “Discurso sobre a Tradução” de autoria desconhecida304. Nele, o autor
afirmava que, por vezes, as frases de uma língua não podem ser traduzidas diretamente
para outra em razão da diversidade dos idiomas. É necessário, então, “substitui-las por
outras equivalentes, por exemplo huma methaphora por outra”. Afinal, “os gênios das
línguas, diferentes como os semblantes das naçoens, não sofrem sempre huma simples
substituição de palavras”. Além disso, ao tradutor, cabia conhecer propriamente o assunto
que estava traduzindo, uma vez que “cada arte, cada sciencia, e em geral cada objeto, tem
seus termos próprios”. Em suma, era necessário ainda, “perceber o sentido do A. [autor],
conhecer a energia da linguagem que elle emprega, e trasladar o seu pensamento; sem
detrimento da expressão, quanto o permitir a analogia das duas línguas”305.
Também do início do século XIX, Frei Fortunato de São Boa Ventura (1777-1844)
em seu “Prologo” à versão Quadro da Infame Conducta de Napoleão Bonaparte (1808)
de Peltier, afirmava que havia se empenhado mais “em trasladar para a nossa lingoagem
a força, e a verdade dos pensamentos, do que em seguir passo a passo a ordem gramatical
302 Correio Braziliense, ed. 9, 1812. p. 590. 303 Correio Braziliense, ed. 9, 1812. p. 594. 304 Cf. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura e sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1978. p. 180-184. Agradeço a professora Lúcia Maria Bastos Pereira das
Neves pela indicação do “Discurso sobre a Tradução”. 305 O Patriota, jornal litterario, politico, mercantil etc. do Rio de Janeiro, nº. 3, março, 1813. p. 69-72
111
do Autor”. Além disso, o tradutor comentava sobre o contexto de sua publicação e
explicitamente sobre a intenção política de sua obra:
O fim, que eu tive n’esta empresa he bem conhecido; e se eu por este
modo excitar os ânimos, se os inflamar cada vez mais para que acelerem
a nossa total Restauração, direi francamente, que obtive a recompensa,
e o louvor que mais desejava, e que sempre desejarei; pois mais vale ter
créditos de bom Portuguez, que os de bom Traductor306.
A cristalização da ideia de que o ato de traduzir, mais do que expressar a
literalidade das expressões, envolvia o sentido e o entendimento das palavras pode ser
encontrada na segunda edição do Dicionário da Língua Portuguesa (1813) de Antonio
de Morais Silva (1755-1824). No verbete “tradução” lê-se “versão de uma linguagem em
outra, transladação” e em “traduzir”, encontra-se “verter as palavras de uma língua
exprimindo em outra o seu sentido”.
Apesar das críticas, havia também tradutores que advogavam em favor de uma
concepção de tradução literal, que buscava trasladar os termos e expressões do original.
O poeta português Pedro Antonio Correia Garção (1724-1772), em dissertação
apresentada à academia Arcádia Lusitana em 1757, tratava da necessidade de imitação
dos antigos, gregos e latinos, para a formação de um bom poeta. Para aprender o modo
correto de se imitar, Garção recomendava os ensinamentos de Horácio, a fim de que se
tornem poetas e não tradutores, escravos das palavras307.
Nesse sentido, o poeta defendia que a famosa frase de Horácio, epígrafe deste
trabalho, não tratava de tradução e sim da imitação:
306 BOAVENTURA, Frei Fortunato de São. Prologo. Quadro da infame Conducta de Napoleão Bonaparte,
para com os diferentes soberanos a Europa desde a sua intrusão no governo francez, até junho de 1808...
Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1808. apud SILVA, Jorge Miguel Bastos da (Org.). O Discurso
sobre a Tradução na Literatura Portuguesa. Classicismo e Romantismo. Antologia. Porto: Edições
Afrontamento, 2015. p. 71-72. 307 GARÇÃO, Pedro António Correia. Dissertação Terceira sobre o Principal Proveito para Formar hum
Bom Poeta... apud SILVA, Jorge Miguel Bastos da (Org.). O Discurso sobre a Tradução na Literatura
Portuguesa. Classicismo e Romantismo. Antologia. Porto: Edições Afrontamento, 2015.
112
Esta epidemia, que talvez reinava no tempo de Horacio, lhe deu razão
para advertir aos Poetas dos vícios de que deviam fugir, quando
quisessem imitar, recomendando-lhes, que não traduzissem palavra por
palavra, como um fiel interprete (...) e não sei com que razão o Tradutor
português trabalha para mostrar que Horácio, nestas palavras, dá regras
para as traduções, julgo que a ninguém deixará de parecer óbvio e
natural o sentido do texto, tão livre de anfibologia308.
No “Prólogo” da versão portuguesa das Odes (1783) de Horácio, o professor régio
de Língua Latina, José Antonio da Mata, criticava os tradutores que interpretavam
“pomposamente”, acresciam versos que não se encontravam nos escritos originais do
autor e alteravam a ordem e organização dos versos e partes do texto. Traduções assim,
argumentava o professor, não poderiam ser consideradas fiéis. Por isso, “uma verdadeira
tradução é aquela que, palavra por palavra, vai expondo a sentença do seu Autor,
escrupulosa e religiosamente, como o nosso Horácio recomenda na Poética, quando disso
mesmo despersuade aos que são meros imitadores”309.
Antonio Lourenço Caminha (?-1831), professor de Retórica e Poética, no prólogo
à sua tradução do Lélio ou Diálogo sobre a Amizade de Cícero (1785), advogava por uma
certa liberdade do tradutor, inspirando-se em João Franco Barreto (1600-1674), escritor
português e tradutor da Eneida de Virgílio (1664):
De mim confesso [diz João Franco Barreto] que muitas vezes por querer
representar a mente de Virgílio, entendi perder o juízo; porque não há
duvida, que o que soa bem em huma língua, em outra talvez não caia
tão bem; que cada qual tem sua frase particular e modo de fazer
diferente das outras310.
308 GARÇÃO, Pedro António Correia. Dissertação Terceira sobre o Principal Proveito para Formar hum
Bom Poeta... apud SILVA, Jorge Miguel Bastos da (Org.). O Discurso sobre a Tradução na Literatura
Portuguesa. Classicismo e Romantismo. Antologia. Porto: Edições Afrontamento, 2015. 309 MATA, José Atónio da. Prólogo. Odes do Poeta Latino Q. Horacio Flacco Traduzidas literalmente a
Lingua Portugueza. Lisboa: Officina de Francisco Luiz Ameno, 1783. apud SABIO PINILLA, José
Antonio; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Manuela (Orgs.). O Discurso sobre a Tradução em Portugal.
O proveito, o ensino e a crítica. Antologia (c. 1429-1818). Lisboa: Edições Colibri, 1998. p. 133. 310 CAMINHA, Antonio Lourenço. Prologo. Lélio ou dialogo sobre a amizade dedicado a Tito Pomponio
Attico. Versão Portugueza, ... seu author Antonio Lourenço Caminha, Professor Régio de Rhetorica, e
Poetica. Lisboa: Oficina de Francisco Luiz Ameno, 1785.
113
Contudo, algumas linhas depois, Caminha asseverava que se esforçou para que sua versão
fosse “literal e não uma nova composição ou paráfrase” uma vez que “ser tradutor não é
ser compositor”311. Para ele, uma tradução “é um fiel espelho, que só copia o objeto tal
qual ele é em si próprio. Ou como finalmente uma pintura, que se copia de outro quadro”.
Na “Prefação” às Instituições Retóricas (1794) de Quintiliano, João Rosado de
Villalobos e Vasconcelos, professor régio de Retórica e Poética em Évora, afirmava ter
buscado exprimir o pensamento do autor e conservar “a força, a frase, a graça e todas as
delicadezas do texto”. Algumas frases depois, ressaltava que sua tradução não era
“parafrástica”; ao contrário, era “toda literal, por assim conservar melhor o Estilo Romano
e serve mais utilmente à Mocidade para se acostumar a conhecer o espírito de Quintiliano
e pensar como ele”312.
Os tradutores, imersos na tradição retórica da época e com o objetivo de
justificarem uma nova versão, utilizavam os prefácios e discursos para criticarem as
traduções anteriores da obra. É o caso de Jerônimo Soares Barbosa, professor de Retórica
e Poética da Universidade de Coimbra e sócio da Academia Real de Ciências de Lisboa,
na Prefação às Instituições Oratórias (1788) de Quintiliano. Ao comentar a versão
anterior de Vicente Lisbonense (1777), Barbosa deixou entrever uma distinção entre a
“tradução literal” e “tradução servil”:
Contudo este meu entusiasmo não me cega sobre alguns defeitos desta
obra. Assim como a louvo por ser literal, clara e quase sempre fiel:
assim quereria que às vezes não passasse a ser servil, torcendo a frase
311 CAMINHA, Antonio Lourenço. Prologo. Lélio ou dialogo sobre a amizade dedicado a Tito Pomponio
Attico. Versão Portugueza, ... seu author Antonio Lourenço Caminha, Professor Régio de Rhetorica, e
Poetica. Lisboa: Oficina de Francisco Luiz Ameno, 1785. 312 VASCONCELOS, João Rosado de Vilalobos. Prefação. Os Tres Livros das Instituiiçoens Rhetoricas de
M. Fab. Quintiliano Accomodadas aos que se aplicaõ ao Estudo da Eloquéncia... Coimbra: Real Oficina
da Universidade, 1782. apud SABIO PINILLA, José Antonio; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Manuela
(Orgs.). O Discurso sobre a Tradução em Portugal. O proveito, o ensino e a crítica. Antologia (c. 1429-
1818). Lisboa: Edições Colibri, 1998. p. 129-130.
114
portuguesa e fazendo-a menos corrente, para seguir passo a passo o seu
original313.
Quanto à sua própria tradução, Barbosa afirma que buscou traduzir fielmente a doutrina
de Quintiliano, não apenas em seu sentido, mas considerando suas palavras, “umas vezes
pesando-as e outras ainda contando-as”314. Além disso, reiterou que apenas diante da
necessidade de exprimir o sentido do autor é que o tradutor pode ignorar as figuras e
palavras do original. Em consonância com a perspectiva de Correia Garção, o professor
de Coimbra afirmava que os famosos versos de Horácio, “Nec verbum verbo curabis
reddere fidus interpres”, é destinado aos imitadores e não deve ser aplicada vulgarmente
aos tradutores315.
Fernando José de Portugal, Conde e Marquês de Aguiar, no Prefácio de sua
tradução do Ensaio sobre a Crítica (1810) de Alexander Pope, comentou as edições da
obra na França e nos Países Baixos e discutiu aspectos referentes ao próprio ofício de
tradução: “Muito se tem questionado sobre as traduções livres e literais, e qual o melhor
método de traduzir um poeta: se em verso, se em prosa”316. Ele, então, apresentou as
opiniões de letrados e tradutores famosos, como Charles Batteaux (1713-1780), francês
e tradutor de Epicuro, Aristóteles e Horário; Anne Dacier (1647-1720), tradutora de
Homero; o abade Desfontaines (1685-1745), autor da versão francesa de Virgílio;
Cândido Lusitano (1719-1773), português e tradutor de Horácio; dentre outros. Ao fim,
313 BARBOSA, Jerônimo Soares. Prefação. Instituições Oratórias de M. Fabio Quintiliano escolhidas dos
seus XII livros, traduzidas em linguagem ... por Jeronymo Soares Barboza, ... Segunda edição correcta e
emendada. Tomo Primeiro. Paris: Livraria Portuguesa de J. P. Aillaurd, 1836. p. VIII. 314 BARBOSA, Jerônimo Soares. Prefação. Instituições Oratórias de M. Fabio Quintiliano escolhidas dos
seus XII livros, traduzidas em linguagem ... por Jeronymo Soares Barboza, ... Segunda edição correcta e
emendada. Tomo Primeiro. Paris: Livraria Portuguesa de J. P. Aillaurd, 1836. p. XV. 315 Cf. BARBOSA, Jerônimo Soares. Prefação. Instituições Oratórias de M. Fabio Quintiliano escolhidas
dos seus XII livros, traduzidas em linguagem ... por Jeronymo Soares Barboza, ... Segunda edição correcta
e emendada. Tomo Primeiro. Paris: Livraria Portuguesa de J. P. Aillaurd, 1836. p. XV-XVI. 316 CASTRO, Fernando José de Portugal e. Prefação. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo
Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr.
Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. VIII.
115
ancorado na opinião do padre Noel-Étienne Sanadon (1676-1733), tradutor francês de
Horácio, D. Fernando afirmava que:
em ambas estas espécies de versões há inconvenientes, e das obrigações
de um tradutor se podem facilmente conhecer onde se encontrão
maiores. A essência da tradução consiste principalmente na fidelidade,
e na exacção; e neste ponto se podem comparar com a História317.
Deste modo, o tradutor português reconhecia que “só me pus fazer uma tradução fiel e
bastante literal, deste Ensaio, quanto permite o gênio da Língua”318.
Algumas décadas antes, Pedro José da Fonseca, tradutor da Arte Poética (1790)
de Horácio, buscou oferecer uma tradução útil aos estudantes de Retórica, que fosse “uma
tradução (quanto me foi possível) clara, fiel, inerente ao mesmo Texto e em linguagem
Portuguesa”. Para justificar sua versão em prosa, Fonseca também havia recorrido à obra
do francês Sanadon:
Porém, as duas razões, diz Sanadon, são mais sedutoras que sólidas. A
fidelidade essencial de um Tradutor (continua ele) consiste em se
revestir bem do génio e carácter do seu autor; em representar por inteiro
os seus pensamentos, sem omitir palavra alguma necessária ou
importante319.
“E não cuidareis em traduzir palavra por palavra, fiel intérprete”. Oriunda da Arte
Poética de Horácio, escrita em 18 a. C., a asserção esteve no centro das discussões sobre
a tradução no mundo luso-brasileiro na segunda metade do século XVIII e as primeiras
décadas do XIX, a exemplo do que se passou em outras regiões320. Para os tradutores que
buscavam defender uma tradução a partir do sentido e dotada de maior liberdade, a frase
317 CASTRO, Fernando José de Portugal e. Prefação. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo
Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr.
Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. VIII-IX. 318 CASTRO, Fernando José de Portugal e. Prefação. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo
Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr.
Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. X. 319 FONSECA, Pedro José da. Prólogo. Arte Poetica de Q. Horacio Flacco. Epistola aos Pisões, traduzida
em portuguez... Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1790. apud SABIO PINILLA, José Antonio;
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Manuela (Orgs.). O Discurso sobre a Tradução em Portugal. O proveito,
o ensino e a crítica. Antologia (c. 1429-1818). Lisboa: Edições Colibri, 1998. p. 151. 320 Cf. GILLESPIE, Stuart. Translation. In: GRAFTON, Anthony; MOST, Glenn; SETTIS, Salvatore
(Eds.). The Classical Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 2010. p. 948-949.
116
latina apontava para os perigos da tradução literal. Por outro lado, outros letrados
defendiam, seguindo uma corrente que remontava ao Renascimento italiano, que a
sentença horaciana havia sido alvo de interpretações equivocadas e que, na verdade, o
poeta romano se referia à imitação, e esta que não devia ser feita palavra por palavra321.
A tradução, neste caso, devia sr manter fiel às palavras e expressões do autor em sua obra
original.
A despeito destas discussões, os letrados luso-brasileiros precisaram aguardar até
1818 para uma teorização substancial sobre a tradução. Neste ano, Sebastião José Guedes
e Albuquerque publicou sua Arte de Traduzir de Latim para Portuguez reduzida a
Princípios (1818), considerada por Sabio Pinilla e Fernández Sánchez o “primeiro tratado
sobre tradução em Portugal”322. A obra, dividida em sete capítulos, abordava questões
teóricas e práticas sobre a tradução e apresentava regras e modelos para os jovens
estudantes de Latim.
No primeiro capítulo, intitulado “Da Tradução em Geral”, o autor distinguia
quatro tipos de tradução: a primeira, ao pé da letra, na qual “responde servilmente o
tradutor a cada expressão do autor por outra da sua Língua”; a segunda, a tradução
propriamente dita, isto é, “todo o pensamento do original cabalmente expresso em outra
língua”; a terceira, a paráfrase, “uma tradução que amplia e desenvolve os pensamentos
do original” e, por fim, a imitação, que consiste em “fazer seu um pensamento de um
321 Segundo Mauri Furlan, o Humanismo e o Renascimento representaram um ponto de inflexão na
concepção e nas práticas de tradução no ocidente. É deste período a De interpreatione recta (1420) de
Leonardo Bruni, que representa uma teorização madura do problema da tradução, tornada possível graças
ao “retorno aos clássicos gregos e pela tradução dos mesmos, pelo redescobrimento de princípios
pedagógicos antigos e pelo conhecimento do método filológico bizantino”. Cf. FURLAN, Mauri.
Brevíssima História da Teoria da Tradução no Ocidente - III. Final da Idade Média e o Renascimento.
Cadernos de Tradução. Florianópolis, v. XIII, 2005. p. 21. 322 SABIO PINILLA, José Antonio; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Manuela (Orgs.). O Discurso sobre
a Tradução em Portugal. O proveito, o ensino e a crítica. Antologia (c. 1429-1818). Lisboa: Edições
Colibri, 1998, p. 15.
117
autor pelo jeito novo”323. Não obstante, para o autor, a única que merecia ser praticada é
a tradução propriamente dita, uma vez que “só ela reproduz genuinamente os
pensamentos de um autor”324.
Assim, o termo “tradução” esteve dotado de múltiplos sentidos e significações,
que se articulavam à “fidelidade”, “imitação”, “literalidade”, “entendimento” ou ao
“pensamento” do autor. Através dos dicionários, prefácios, discursos e periódicos, o
mundo luso-brasileiro entre a segunda metade do século XVIII e as primeiras décadas do
XIX não assistiu ao surgimento de uma concepção homogênea de tradução. Os prefácios,
na esteira da tradição retórica corrente na época, revelam a permanência de elementos de
uma linguagem típica do Antigo Regime frente aos avanços da modernidade325.
* * *
Ao longo da Época Moderna, a publicação de livros inseria-se em redes de
privilégios características de uma sociedade de Antigo Regime. Segundo Robert Darnton,
o privilégio permeava todos os modos de produção cultural em fins do século XVIII,
enquanto o talento e qualidade dos escritos de nada valiam sem proteção. Ao cair nas
graças de um protetor, um letrado podia receber assento em uma academia, ter sua peça
encenada em um teatro da corte ou até mesmo receber algum ofício administrativo326. As
dedicatórias, por exemplo, valorizavam o letrado e afirmavam o merecimento de graças,
323 ALBUQUERQUE, Sebastião José Guedes e. Arte de Traduzir de Latim para Portuguez, reduzida a
princípios oferecida ao illustríssimo senhor D. Francisco de Sales e Lencastre, por Sebastião José Guedes
e Albuquerque. Lisboa: Impressão Regia, 1818. p. 8-10. 324 ALBUQUERQUE, Sebastião José Guedes e. Arte de Traduzir de Latim para Portuguez, reduzida a
princípios oferecida ao illustríssimo senhor D. Francisco de Sales e Lencastre, por Sebastião José Guedes
e Albuquerque. Lisboa: Impressão Regia, 1818. p. 11. 325 Sobre o peso da tradição retórica do mundo luso-brasileiro ver: CARVALHO, José Murilo de. História
intelectual no Brasil: a retórica como chave de leitura. Topoi, Rio de Janeiro, vol.1 no.1 jan./dez. 2000. 326 Cf. DARNTON, Robert. Boemia Literária e Revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 31-
32.
118
mercês ou algum tipo de patrocínio327. Além disso, é preciso ressaltar que, em alguns
casos, a remuneração de um tradutor não era distinta de um autor original. Segundo
Margarida Paes Leme, na Casa Literária do Arco do Cego (1799-1801), “para os autores
e tradutores em geral, o pagamento consistia em 200 exemplares da respectiva obra, ou o
seu valor em dinheiro, se revendessem à Casa a ‘mercadoria’ recebida”328.
Ao mesmo tempo, os letrados luso-brasileiros esperavam, através da publicação
de suas traduções, intervir na sociedade e contribuir para o progresso e civilização do
reino. Seja por meio da tradução de obras morais e educativas ou de livros técnicos e
científicos, parece razoável supor que dentre seus objetivos estavam a felicidade, o
desenvolvimento e a preservação do bem-estar da nação em tempos atribulados, marcados
pela Independência das Treze Colônias Inglesas (1776) e pela Revolução Francesa (1789)
que sacudiu os pilares do Antigo Regime.
327 Cf. DELMAS, Ana Carolina Galante. “Do mais fiel e humilde vassalo”: uma análise das dedicatórias
impressas no Brasil Joanino. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. p. 235. 328 LEME, Margarida Ortigão Ramos Paes. Um Breve Itinerário Editorial: Do Arco do Cego à Impressão
Régia. In: CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de; CURTO, Diogo Ramada (Orgs.). A Casa Literária do
Arco do Cego (1799-1801): Bicentenário. “Sem livros não há instrução”. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, Biblioteca Nacional, 1999. p. 82.
119
CAPÍTULO 3
ALEXANDER POPE CRUZA O ATLÂNTICO: POESIA E TRADUÇÃO NO BRASIL
JOANINO (1808-1819)
O presente capítulo analisa a tradução do Ensaio sobre a Crítica (1810) de
Alexander Pope feita por Fernando José de Portugal e Castro (1752-1817).
Primeiramente, apresenta-se seu contexto de publicação: o ambiente cultural do Brasil de
D. João, especialmente a imprensa e o mercado livreiro, e a trajetória do tradutor.
Ademais, tratamos das outras traduções de Pope publicadas entre 1759 e 1819. Por fim,
discutimos de modo preliminar a circulação do Ensaio (1810) no mundo luso-brasileiro.
3.1. O AMBIENTE LETRADO DO BRASIL NO TEMPO DE D. JOÃO: IMPRENSA, LIVROS E
GAZETAS
A chegada da Corte ao Rio de Janeiro em março de 1808 elevou a então cidade
colonial à sede do Império Português. Este acontecimento sem precedentes principiou
uma época de importantes transformações nas esferas política, econômica e cultural. Foi
neste período que o Brasil viu florescer sua primeira tipografia em termos legais329. No
Decreto de 13 de maio de 1808 que criava a Impressão Régia, era o Príncipe Regente D.
329 Há notícias de algumas iniciativas de estabelecimento de oficinas tipográficas no Brasil Colonial.
Amparado em autores do início do século XX, Laurence Hallewell comenta que o primeiro prelo do Brasil
pode ter funcionado em Recife, na capitania de Pernambuco, entre 1703 e 1706 sob o governo de Francisco
de Castro Moraes. Mais conhecido é o processo de estabelecimento do lisboeta Antonio Isidoro da Fonseca,
cuja oficina funcionou no Rio de Janeiro entre 1747 e 1749. A iniciativa foi duramente reprimida pelo
Conselho Ultramarino e pela Inquisição. Cf. HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil: sua história. São
Paulo: EdUSP, 2012. p. 84-85. BARROS, Jerônimo Duque Estrada de. Impressões de um tempo: a
tipografia de Antônio Isidoro da Fonseca no Rio de Janeiro (1747-1750). Dissertação (Mestrado em
História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. p.
14-18.
120
João “servido, que a casa, onde ellos se estabeleceram, sirva interinamente de Impressão
Regia, onde so imprimam exclusivamente toda a legislação e papeis diplomatícos, que
emanarem de qualquer Repartição do meu real serviço; e se possam imprimir todas, e
quaesquer outras obras”330. O príncipe concedia, ainda, sua subordinação a Rodrigo de
Sousa Coutinho, então Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra331.
Dos prelos da tipografia, além das legislações e papéis dos ministérios e
secretarias da administração joanina, saíram obras científicas, religiosas, morais e
periódicos332. Estes impressos gozavam de uma qualidade digna das famosas tipografias
europeias. Nas palavras de Rubens Borba de Moraes, “examinando esses livros, esses
folhetos de poucas páginas, ficamos admirados com a qualidade dos impressos. São
composições de uma sobriedade, de um bom gosto de fazer inveja aos nossos impressores
atuais”. Adiante, ao comentar as edições dos Ensaio sobre a Crítica (1810), Ensaios
Morais (1811), ambos de Pope, e os dois tomos da Memória da Vida Publica do Lord
Wellington (1815) de Silva Lisboa, Borba de Moraes afirma “A impressão é nítida e clara,
a distribuição do texto e das notas nas páginas, a proporção das margens, tudo é perfeito.
Não se faria melhor na Europa”333. O GRÁFICO 9 apresenta uma categorização destas
obras feita por Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves:
330 COLLECÇÃO das Leis do Brazil de 1808. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. p. 20. 331 Sobre o papel de Rodrigo de Sousa Coutinho na criação da Impressão Régia do Rio de Janeiro, ver
reflexão de BRAGANÇA, Aníbal. A criação da impressão Régia no Rio de Janeiro: novos aportes. In:
BESSONE, Tânia; SANTOS, Gilda; ALVES; Ida; PINTO, Madalena Vaz; HUE, Sheila (Orgs.). D. João
VI e o oitocentismo. Rio de Janeiro: Contra Capa/Faperj, 2011. 332 Cf. NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das & GARCIA, Lúcia Maria Cruz. Impressão Régia. In:
VAINFAS, Ronaldo & NEVES, Lúcia Bastos Pereira das (Orgs.). Dicionário do Brasil Joanino, 1808-
1821. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 218-222. 333 MORAES, Rubens Borba de. A Impressão Régia do Rio de Janeiro: origens e difusão. In: MORAES,
Rubens Borba de & CAMARGO, Ana Maria de Almeida (Orgs.). Bibliografia da Impressão Régia do Rio
de Janeiro. v. 1. São Paulo: Edusp; Kosmos, 1993. p. XVII.
121
GRÁFICO 9
Obras impressas na Impressão Régia do Rio de Janeiro (1808-1822)
FONTE: NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais. A cultura política da
Independência (1820-1822). Rio de Janeiro: Editora Revan/Faperj, 2003. p. 35
A Impressão Régia foi igualmente responsável pela impressão do primeiro
periódico da América Portuguesa: a Gazeta do Rio de Janeiro, cujo número inaugural
saiu em 10 de setembro de 1808. O periódico era administrado por uma Junta Diretora,
composta por José Bernardes de Castro, diretor da Impressão Régia e deputado das Mesas
de Inspeção do Rio e Bahia; Mariano José Pereira da Fonseca, futuro Marquês de Maricá,
e José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu. Na “Seção noticiosa”, a Gazeta
divulgava artigos de jornais europeus, cartas, informações burocráticas e mantinha o
público a par do cotidiano da Corte e das datas comemorativas e festivas. A prestação de
serviços tinha lugar na “Seção de anúncios”, acerca das mais diferentes facetas da cidade:
informações de entrada e saída de navios do porto, vendas de escravos e imóveis, leilões,
correio e oferta de livros e periódicos334.
334 Cf. MEIRELLES, Juliana Gesuelli. Imprensa e poder na corte joanina: a Gazeta do Rio de Janeiro
(1808-1821). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008. p. 68-70.
4,20%
10,60%
33,10%
17,20%
2,90%
3,20%
28,90%
Jurisprudência Ciências e Artes Belas Letras História
Teologia Periódicos Documentos Oficiais
122
O comércio de livros, que já funcionava na capital desde o tempo dos vice-reis,
cresceu substancialmente com a instalação da Corte de D. João335. Segundo Lúcia Maria
Bastos Pereira das Neves, de duas livrarias descritas no Almanaque do Rio de Janeiro de
1799 passou-se para, no mínimo, dez livreiros em atuação, já em 1808. Entre os anúncios
encontrados nos periódicos da época, encontram-se os nomes de negociantes de livros
como Paulo Martin, João Roberto Bourgeois, Manuel Jorge da Silva, Francisco Luís
Saturnino Veiga, Manuel Jorge da Silva Porto, Manuel Mandillo e outros franceses que
já atuavam no mercado livreiro em Portugal336. Através destes livreiros, conforme
salienta Maria Beatriz Nizza da Silva, circulavam neste ambiente os livros publicados na
Corte pela Impressão Régia e aquelas obras importadas de Lisboa337.
Além da oferta, os leitores enfrentavam outros obstáculos para o acesso aos livros
e impressos: os mecanismos de censura. Se em um primeiro momento a função cabia à
Junta Diretora da Impressão Régia, não tardou para que a Mesa do Desembargo do Paço
reivindicasse para si a função de fiscalizar as obras que atentassem contra a religião, moral
e bons costumes do reino. Assim, nada mais se imprimia sem antes passar pelo exame
dos censores nomeados pelo rei. Entre 1808 e 1819, foram nomeados treze censores por
D. João. Dentre eles, estavam Frei Antônio d’Arrábida, Frei Antônio de Santa Úrsula
Rodovalho, João Manzoni, José da Silva Lisboa, Mariano José Pereira da Fonseca338.
335 Sobre o mercado livreiro antes da chegada da Corte, ver: SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura
letrada e cultura oral no Rio de Janeiro dos vice-reis. Editora UNESP, 2013. p. 265 e seguintes. 336 Cf. NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Comércio de livros e censura de ideias: a actividade dos
livreiros franceses no Brasil e a vigilância da Mesa do Desembargo do Paço (1795-1822). Ler História,
Lisboa, n. 23, 1992. p. 62-65. 337 Cf. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Livro e sociedade no Rio de Janeiro: 1808-1821. Revista de
História, São Paulo, v. 46, n. 94, 1973. p. 443. 338 Cf. NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Comércio de livros e censura de ideias: a actividade dos
livreiros franceses no Brasil e a vigilância da Mesa do Desembargo do Paço (1795-1822). Ler História,
Lisboa, n. 23, 1992. p. 68-69. Sobre a censura no período joanino ver também: ALGRANTI, Leila Mezan.
Censura e comércio de livros no período de permanência da corte portuguesa no Rio de Janeiro (1808-
1821). Revista Portuguesa de História, Coimbra, t. XXXIII, p. 631-663, 1999.
123
Ainda assim, o contrabando se mantinha, e as obras proscritas continuavam a encontrar
caminhos para burlar a vigilância censória e chegar a seus leitores339.
3.2. ENTRE O REAL SERVIÇO E AS LETRAS: A TRAJETÓRIA DE FERNANDO JOSÉ DE
PORTUGAL (1752-1817)
Fernando José de Portugal e Castro, terceiro filho do 3º Marquês de Valença e 9º
Conde do Vimioso, nasceu em Lisboa, em dezembro de 1752340. Em 1772, matriculou-
se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra reformada. Entre 1773 e 1777,
cursou e recebeu aprovação nas disciplinas para a obtenção do grau de Bacharel. Formou-
se em 15 de novembro de 1777 e em junho de 1778 alcançou o grau superior de
Licenciado341. De acordo com os Estatutos da Universidade, redigidos no contexto da
Reforma de 1772, ao longo dos cinco anos de duração do curso jurídico, além das aulas
de Direito Romano e Pátrio, o estudante deveria cursar
a Doutrina do Método do Estudo Jurídico; a História Literária; a
Bibliografia da Jurisprudência Civil, assim Romana, como Pátria; e as
Regras da Crítica, e da Hermenêutica Jurídica; das quais dependem a
sólida inteligência das Leis, e o conhecimento de as aplicar aos fatos
com a devida exatidão e acerto342.
Após de licenciar em Leis, D. Fernando seguiu carreira na magistratura no
Tribunal da Relação de Lisboa e na Casa de Suplicação. Em 1788, foi indicado para o
governo da capitania da Bahia, onde sucedeu Rodrigo José de Menezes (1750-1807),
considerado por Luís dos Santos Vilhena, professor régio de língua grega e cronista
339 Cf. HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil: sua história. São Paulo: EdUSP, 2012. p. 103-106. 340 Cf. GOUVÊA, Maria de Fátima. Fernando José de Portugal. In: VAINFAS, Ronaldo (Dir.). Dicionário
do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 229-230. 341 Cf. ARQUIVO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Índice de Alunos da Universidade de Coimbra.
PT/AUC/ELU/UC-AUC/B/001-001/P/007798. Fernando José de Portugal e Castro (D.). 342 ESTATUTOS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA DO ANNO DE 1772. Livro II dos Cursos Jurídicos
das Faculdades de Canones, e de Leis. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1773. Título II, Capítulo V,
Número 11, p. 285.
124
colonial, “mais empenhado e atento ao bom regime e ordem nos governos político, civil,
econômico e militar” que seu sucessor343. Além disso, o professor régio comentava que
D. Fernando não “tinha as precisas forças para disfarçar a natural brandura e afabilidade
de sua alma”344.
Em passagem por Salvador em 1797, Miguel Antônio de Melo, com destino a
Luanda, onde exerceria o posto de governador de Angola, qualifica D. Fernando como
“um bom servidor, isento, afável para com grandes e pequenos, mui pronto em ouvir e
despachar o que ante a ele requerem; mais piedoso que justiceiro, o que talvez o tenha
feito qualificar de frouxo”345. As considerações destes dois contemporâneos, Luís dos
Santos Vilhena e Miguel Antônio de Melo, acerca da frouxidão e inaptidão de D.
Fernando para o governo pareciam ter sido confirmadas quando, em agosto de 1798, se
descobriu em diversos pontos da cidade de Salvador pasquins sediciosos repletos de
palavras como povo, liberdade e que ordenavam ao “povo baiense” que realizasse uma
“memorável revolução”346.
Os acontecimentos sediciosos só foram relatados a Lisboa em extensa carta do
governador ao secretário Rodrigo de Sousa Coutinho, em outubro de 1798. Contudo, por
outras vias, D. Rodrigo já havia sido informado sobre a situação na Bahia, onde “as
pessoas principais desta cidade [...] se acham infectadas dos abomináveis princípios
franceses e com grande afeição à [...] Constituição francesa”. Pior, afirmava que a razão
343 VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII. v. 2. Salvador: Itapuã, 1969. p. 423. 344 VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII. v. 2. Salvador: Itapuã, 1969. p. 424. 345 BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO (doravante, BNRJ). Manuscritos, I-31, 21, 34, docs.
1 e 2. Informaçam da Bahia de Todos os Santos (1797). Cópia oficial, precedida de um aviso original de d.
Rodrigo de Souza Coutinho de 26 de Setembro de 1798 dirigido a d. Fernando José de Portugal. Para a
identificação do manuscrito e atribuição a Miguel Antonio de Melo, ver: NEVES, Guilherme Pereira das.
Em busca de um ilustrado: Miguel Antônio de Melo (1766-1836). Convergência Lusíada, v. 24, p. 25-41,
2007. 346 Cf. MATTOSO, Kátia de Queirós. Presença francesa no Movimento Democrático Baiano de 1798.
Salvador: Itapuã, 1969. p. 144-159. JANCSÓ, István. Um problema historiográfico: o legado de D.
Fernando José de Portugal. Anais do IV Congresso de História da Bahia. vol. 1. Salvador: Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia / Fundação Gregório de Mattos, 2001.
125
disso era a “frouxidão do governo e a corrupção da Relação”347. Em sua defesa, D.
Fernando argumentava que os pasquins sediciosos eram mal organizados e que, dada a
condição social dos presos, capacitava-se que não tinham participado nem “pessoas de
consideração, nem de entendimento, ou que tivessem conhecimento e luzes”348.
Apesar da atribulada administração, a atuação de Fernando José de Portugal à
frente do governo da Bahia parece ter agradado aos administradores reinóis, uma vez que,
em 1801, assumiu a posição de Vice-rei do Brasil com sede no Rio de Janeiro. No Ofício
em que o informa de sua nomeação, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, então Secretário de
Marinha e Ultramar, confidenciava:
No meu particular tenho uma grande satisfação em ver o quanto Vossa
Excelência se tem feito recomendável na Real Presença pela inteireza,
retidão e prudência que tem caracterizado o seu atual Governo, e com
que continuará a fazer a Sua Alteza Real os mais importantes serviços
em novo lugar, a que se acha destinado349.
Durante seu vice-reinado redigiu suas observações ao “Regimento” dado a Roque
da Costa Barreto, datado de 23 de janeiro de 1677. Nelas, Fernando José de Portugal
apresentou suas críticas à administração colonial e diversas propostas para seu
melhoramento. Segundo Rodolfo Garcia, estes comentários transformaram o
“Regimento” de 1677 no “melhor código administrativo comentado que tivemos no
Brasil Colonial”350.
347 Ofício de Rodrigo de Sousa Coutinho a Fernando José de Portugal e Castro de 4 de Outubro de 1798.
Transcrito em SILVA, Ignacio Accioli de Cerqueira e Memórias históricas e políticas da província da
Bahia. Bahia, Imprensa Official do Estado, 1932, v. 3. p. 95. 348 Ofício de Fernando José de Portugal e Castro a Rodrigo de Sousa Coutinho de 20 de Outubro de 1798.
Transcrito em SILVA, Ignacio Accioli de Cerqueira e Memórias históricas e políticas da província da
Bahia. Bahia, Imprensa Official do Estado, 1932, v. 3. p. 120-125. 349 BNRJ. Manuscritos, I-31,30,101. Aviso de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, dirigido a D. Fernando José
de Portugal, comunicando que este foi nomeado vice-rei e capitão general de terra e mar do Estado do
Brasil, e Francisco da Cunha e Meneses para lhe suceder no governo da Bahia. Lisboa, 28/03/1800. 350 GARCIA, Rodolfo. O Regimento de Roque da Costa da Barreto e os comentários de D. Fernando José
de Portugal. In: _____. Ensaio sobre a História Política e Administrativa do Brasil (1500-1810). Rio de
Janeiro: J. Olympio; Brasília: INL, 2ª. Ed., 1975. p. 145.
126
Regressou a Lisboa em 1806, onde exerceu brevemente a Presidência do Conselho
Ultramarino e atuou no Conselho de Estado. Em virtude da vinda da Corte para o Brasil,
recebeu o título de Conde de Aguiar e ocupou a pasta do Reino e a presidência do Erário
Régio351. Ademais, atuou como ministro assistente ao despacho, cargo que, segundo
Oliveira Lima, “equivalia ao de primeiro-ministro, com precedência sobre os colegas e
conhecimento dos assuntos de todas as pastas”352. Em meio a uma conjuntura política
delicada, Fernando José de Portugal buscava, escreve Oliveira Lima, “desenfado na
literatura” e publicou na recém-instalada Impressão Régia no Rio de Janeiro suas
traduções do Ensaio sobre a Crítica (1810) e dos Ensaios Morais (1811) de Alexander
Pope353.
3.2.1. As leituras do Marquês
Depois de apresentada sua faceta de homem vinculado aos quadros da
administração régia nas duas margens do Atlântico, urge investigar alguns aspectos
relacionados às suas práticas de leitura e hábitos de consumo de livros e impressos. No
Fundo Marquês de Aguiar da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro repousam duas cartas
e duas faturas de livros enviadas pelo livreiro Diogo Borel a Fernando José de Portugal
entre 1812 e 1813, nos anos seguintes às publicações das traduções de Pope. Diogo Borel
era um livreiro e impressor francês, natural da região do Delfinado, que fixou residência
em Lisboa por volta de 1769, aos 14 anos. A exemplo de outros livreiros naturais da
mesma região, que atuavam em Portugal e reforçavam laços de solidariedade entre as
351 Cf. GUIMARÃES, Lúcia Paschoal. Fernando José de Portugal e Castro, conde de Aguiar. In: VAINFAS,
Ronaldo & NEVES, Lúcia Bastos Pereira das (Orgs.). Dicionário do Brasil Joanino, 1808-1821. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2008. 352 LIMA, Manuel de Oliveira. D. João VI no Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2006. p. 123. 353 LIMA, Manuel de Oliveira. D. João VI no Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2006. p. 129.
127
famílias, facilitando o comércio de livros, casou-se com Maria Margarida, filha de
franceses, com quem teve um filho e quatro filhas354.
Em sua Loja localizada no número 14 da rua da Igreja de Nossa Senhora dos
Mártires de Lisboa, Borel vendia toda sorte de livros e impressos. A partir dos
“Catálogos” de 1789 e 1793 dos livros vendidos neste estabelecimento, é possível
observar a composição de parte de seu acervo. Em primeiro lugar, destacam-se as obras
de “Teologia e Religião”, seguidas pelas de “Filosofia e Ciências” e “Direito e
Economia”. Depois, apareciam os livros de “Poesia, Teatro e Clássicos” e de
“Linguística, História Literária, Gramática, Dicionários e Retórica”. Por fim, em menor
número, estavam as publicações de “História, Bibliografias e Geografia”355.
Em setembro de 1812, o livreiro mandou publicar no Jornal de Coimbra uma
“Lista dos Livros Impressos na Régia Officina Typographica da Corte do Rio de Janeiro;
e que se achão à venda em Lisboa, na Loja de Borel, Borel e Companhia, quasi defronte
da Igreja de N. S. dos Martyres Num. 14”. A lista trazia obras de Ciências e Artes, como
as traduções dos Elementos de Geometria (1809) de Legendre e dos Elementos d’Álgebra
(1811) de Euler. Além destas, anunciava memórias e ensaios sobre o comércio e a
agricultura, como as Observações sobre o Commercio Franco no Brasil (1808) de José
da Silva Lisboa, a Memória sobre as Salitreiras Naturaes de Monte Rorigo (1809) de
José Vieira Couto e a Dissertação sobre as Plantas do Brazil (1810) escrita por Manoel
Arruda da Câmara. Continha também obras sobre a situação de Portugal na década
anterior, como o Ensaio Historico, politico e filosófico do Estado de Portugal desde o
354 Cf. DOMINGOS, Manuela D. Livreiros de Setecentos. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2000. p. 209-210.
Sobre a criação de redes de relação e de informações entre as famílias de livreiros, ver, dentre outros,
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. As Belas Letras na Livraria de Jean Baptiste Bompard (1824-
1828). História (São Paulo. Online), v. 32, p. 79-98, 2013. 355 Cf. GUEDES, Fernando. O Livro e a Leitura em Portugal. Subsídios para a sua história. Século XVIII-
XIX. Lisboa: Editorial Verbo, 1987. p. 84-85. Para uma comparação com outros livreiros privados e a loja
da Impressão Régia, consultar o Gráfico 2, na p. 85 da presente dissertação.
128
mez de novembro de 1807 ate o mez de junho de 1808 (1808) de autoria desconhecida e
os versos Vozes do Patriotismo, ou fala aos portugueses feita em janeiro de 1808 (1809)
escritos pelo padre José de Góes. Além das obras citadas, encontravam-se à venda outras
publicações da Impressão Régia, como sermões, orações, obras literárias e teatrais356.
Neste mesmo ano, em 30 de outubro de 1812, Diogo Borel escrevia uma carta de
Lisboa destinada ao Conde de Aguiar em que afirmava:
Logo que cheguei a esta cidade, cuidei na encomenda de Vossa
Excelência e aprontei em poucos dias todos os artigos que encontrei de
venda e mandei-os encaixotar sem demora, porque faria gosto e
empenho de lhes mandar pelo brigue Tety que se acha em carga e partiu
no princípio deste mês357.
Contudo, continuava o livreiro, “não pude conseguir o meu intento, por causa de Licença
do Desembargo do Paço que não alcancei a tempo e sem a qual não se podem embarcar
livros”. Entrementes, a Licença foi concedida e os livros foram embarcados no navio
Princeza Carlota do capitão Francisco de Paulo Roiz. A encomenda não estava completa
pois, justificava o negociante, “não me foi possível nesta ocasião descobrir as Cartas de
Vieira [...] e espero poder lhes mandar com a História d’América Inglesa d’Edwards e
alguns outros que me faltam para completar a encomenda de Vossa Excelência”. Ao que
parece, D. Fernando havia encomendado também o Dicionário de Morais e Silva, pois
Borel se comprometia a enviá-lo no início do ano seguinte, assim que estivesse pronto358.
Na “Factura dos Livros que remette ao Exmo. Snr. Conde de Aguiar, Diogo Borel”
encontra-se a lista das treze obras enviadas de Lisboa ao Rio de Janeiro que custaram,
acrescidos os valores de frete e licença, 74$920 réis. Em primeiro lugar, aparece a “Bell’s
Colleção das Melhores Comedias e Tragedias inglesas”, provavelmente, os volumes em
356 Jornal de Coimbra, nº. IX, setembro de 1812. p. 214-217. 357 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,12. Diogo Borel. Carta ao Conde de Aguiar.
Lisboa, 30/10/1812. fl. 1. 358 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,12. Diogo Borel. Carta ao Conde de Aguiar.
Lisboa, 30/10/1812. fl. 2.
129
8º da Bell's British theatre, consisting of the most esteemed English plays (1776-1778),
publicados em Londres. Em seguida, constam doze volumes em 12º das obras de
Shakespeare (1564-1616), sete volumes de Tácito (56 d.C.-120 d.C.) em francês e dois
volumes em 8º de “Code de Prises par le Beau”, possivelmente, a obra Nouveau code des
prises, ou Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts, ordonnances,
réglemens & décisions sur la course & l'administration des prises, depuis 1400 jusqu'au
mois de mai 1789 de Sylvain Lebeau359.
Curiosamente, constam na mesma fatura, três edições distintas do Paraíso
Perdido (1667) de John Milton (1608-1674): Le Paradis Perdu, tradução em três volumes
em 4º feita por Jean Racine (1639-1699); Le Paradis Perdu, versão em dois volumes com
texto em inglês e francês escrita por M. Moneron; e a tradução portuguesa em dois
volumes de Paraíso Perdido (1789) feita pelo Padre José Amaro da Silva. Além disso,
D. Fenando havia encomendado um volume em 12º. intitulado “Fables de Gay”, ou seja,
Fábulas de John Gay (1685-1732)360.
Por fim, em língua portuguesa, foram enviados por Borel, dezesseis volumes em
4º dos Sermões do Padre Antonio Vieira (1608-1697) e, do mesmo autor, dois volumes
da História do Futuro. Além destes, constam três volumes em 4º da Collecção de Noticias
para a História e Geografia das Nações Ultramarinas (1812); os tomos VII e VIII das
Memorias de Litteratura Portugueza (1806) e os dois tomos das Dissertações
Chronologicas e Criticas sobre a Historia e Jurisprudência Ecclesiastica e Civil de
359 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,98. Diogo Borel. Facture dos Livros q. remete
ao Exmo. Snr. Conde de Aguiar. fl. 1. 360 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,98. Diogo Borel. Facture dos Livros q. remete
ao Exmo. Snr. Conde de Aguiar. fl. 1.
130
Portugal (1810) escritas por João Pedro Ribeiro (1758-1839), todos publicados pela
Academia Real das Sciencias de Lisboa361.
No ano seguinte, em 11 de setembro de 1813, Diogo Borel dava notícia do envio
de uma nova encomenda de livros para o Conde de Aguiar. Na Carta, o livreiro afirmava:
“Agora participo a Vossa Excelência que embarquei no navio Conde das Galveas outra
caixa que contém o resto de sua encomenda”. A demora, justificava Borel,
foi porque o Diccionario de Lingua Portugueza de Moraes estava quase
a concluir e esperava de dia em dia o dar a Luz para ter o gosto de lhe
remeter juntamente um exemplar, o que finalmente consegui e tomo a
liberdade de oferecer a Vossa Excelência362.
A carta veio acompanhada da “Factura de huma caixinha embarcada sobre o Navio Conde
das Galveas, que remette ao Ilmo. Exmo. Snr. Conde de Aguiar de Diogo Borel”363.
A fatura descreve a segunda encomenda de dez obras feitas por Fernando José de
Portugal e enviadas de Lisboa em setembro de 1813. Encabeçam a lista os dois volumes
do Diccionario da Lingua Portugueza (1813) de Antônio de Moraes Silva (1755-1824),
presente de fato do livreiro Borel ao Conde de Aguiar, uma vez que não foi cobrado na
fatura364. Em seguida, constam três volumes em 4º das Cartas do Padre Antonio Vieira,
o tomo IV das Memórias Economicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o
adiantamento da Agricultura, das Artes, e da Industria em Portugal, e suas conquistas
(1812). Além destes, foram remetidos outros volumes das Dissertações Chronologicas e
Criticas sobre a Historia e Jurisprudência Ecclesiastica e Civil de Portugal (1810) de
361 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,98. Diogo Borel. Facture dos Livros q. remete
ao Exmo. Snr. Conde de Aguiar. fl. 1. 362 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,13. Diogo Borel. Carta ao Conde de Aguiar.
Lisboa, 11/09/1813. 363 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,98. Diogo Borel. Facture dos Livros q. remete
ao Exmo. Snr. Conde de Aguiar. fl. 3. 364 DICCIONARIO de Lingua Portugueza recopilado dos vocabulários impressos até agora, e nesta
segunda edição novamente emendado, e muito acrescentado, por Antonio de Moraes Silva, natural do Rio
de Janeiro... 2 t. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813.
131
João Pedro Ribeiro (1758-1839) e da Collecção de Noticias para a História e Geografia
das Nações Ultramarinas (1812)365.
As cinco obras restantes foram escritas em língua inglesa e importadas de Londres
por Borel. Citados na carta de 30 de outubro de 1812, que acompanhava a primeira
remessa de livros, constam nesta fatura os três volumes em 8º de The History Civil and
Commercial, of the British Colonies in the West Indies (1798) escritos pelo historiador
inglês Bryan Edwards (1743-1800). Ademais, foram enviados dois volumes em 8º dos
The Works de Thomas Gray (1716-1771), doze volumes dos The Works (1809) de Samuel
Johnson (1709-1784) e três volumes dos Poetical Works (1784) de John Gay (1685-
1732). Consta, também, a nova edição inglesa de Paradise Lost (1802) de John Milton
(1608-1674) em dois volumes366.
A partir das cartas e das duas faturas de remessas de livros de Diogo Borel, é
possível tecer alguns comentários acerca dos temas sobre os quais recaíam os interesses
literários de Fernando José de Portugal. O GRÁFICO 10 expressa o percentual das obras
organizadas conforme os critérios do Catálogo da Biblioteca do Conde da Barca (1818):
365 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,98. Diogo Borel. Facture dos Livros q. remete
ao Exmo. Snr. Conde de Aguiar. fl. 3. 366 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,98. Diogo Borel. Facture dos Livros q. remete
ao Exmo. Snr. Conde de Aguiar. fl. 3.
132
GRÁFICO 10
Temas das obras remetidas por Diogo Borel a Fernando José de Portugal (1812 e 1813)
FONTE: BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,98. Diogo Borel. Facture dos Livros q.
remete ao Exmo. Snr. Conde de Aguiar.
As remessas de livros evidenciam o interesse de D. Fernando nas obras de Belas
Letras de língua inglesa, principalmente os versos dos poetas de fins do século XVII e do
XVIII, como por exemplo John Gay (1685-1732), Thomas Gray (1716-1771) e Samuel
Johnson (1709-1784). Curiosa é a presença de nada menos que quatro edições distintas
em inglês, francês e português do Paraíso Perdido de John Milton (1608-1674). É
possível que se trate de uma pesquisa preliminar de edições para fornecerem base para
um novo esforço tradutório após finalizar as edições do Ensaio sobre a Crítica (1810) e
dos Ensaios Morais (1811) de Alexander Pope em língua portuguesa. Não há, entretanto,
outras evidências que corroborem tal assertiva.
História, Jurisprudência e Ciências e Artes ocupavam a mesma posição entre os
livros remetidos. Nestas categorias, destacam-se as edições levadas a cabo pela Academia
Real de Sciencias de Lisboa, que demonstram um conhecimento atualizado por parte de
13,04%
56,52%
4,34%
13,04%
13,04%
Teologia Belas Letras Ciências e Artes Jurisprudência História
133
um importante ministro na Corte Joanina do que era discutido e impresso no outro lado
do Atlântico. Os escritos do Padre Antonio Vieira compõem as obras de Teologia
enviadas por Borel e não deixam de ser indício da permanência daquele lugar, apontado
por Guilherme Pereira das Neves anteriormente, que a religião ocupava nas mentes destes
homens e letrados imbuídos dos ideais das Luzes no mundo luso-brasileiro367. Ao mesmo
tempo, os volumes de Vieira relacionam-se também ao interesse literário de D. Fernando,
uma vez que, como demonstrado adiante, excertos do padre seiscentista foram
constantemente citados nos comentários feitos por ele na tradução do Ensaio sobre a
Crítica (1810) de Pope.
3.3. A TRADUÇÃO DO ENSAIO SOBRE A CRÍTICA (1810) DE ALEXANDER POPE
O Ensaio sobre a Crítica foi publicado originalmente em maio de 1711 na
Inglaterra e é considerado o primeiro grande trabalho independente de Alexander Pope368.
Em 1736, o poeta empreendeu um trabalho de revisão para a primeira publicação
completa de seus trabalhos e dividiu o poema em três seções, com subseções que
resumiam cada segmento do argumento369. A primeira parte aborda a relação entre a
crítica, o gosto e a necessidade de se estudar os antigos. A segunda seção expressa os
males que afastam o crítico do verdadeiro juízo, como a vaidade, a inveja e a parcialidade.
Por fim, o poeta expõe as regras que devem ser seguidas pelos críticos e apresenta os
“melhores críticos”, como Aristóteles, Horácio, Quintiliano, dentre outros370. Foi este o
poema traduzido por Fernando José de Portugal e Castro publicado na Impressão Régia
367 Cf. NEVES, Guilherme Pereira das Neves. Um mundo ainda encantado: religião e religiosidade na
América Portuguesa ao fim do período colonial. Oceanos. Lisboa, v. 42, 2000. p. 114. 368 ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p. xi-xii. 369 Cf. BAINES, Paul. The Complete Critical Guide to Alexander Pope. Londres: Routledge, 2000. p. 50. 370 Cf. “Summario Do que contem este Ensaio”. POPE, Alexander. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em
portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario
do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810.
134
do Rio de Janeiro em 1810. Contudo, não se tratou da primeira tradução de Pope
publicada no mundo luso-brasileiro. É preciso, em razão disso, investigar quais outras
obras do poeta inglês circularam em língua portuguesa durante este período de grandes
transformações.
3.3.1. A circulação das traduções de Alexander Pope no mundo luso-brasileiro
(1759-1819)
A primeira tradução de que se tem notícia de obra de Pope em língua portuguesa
é registrada por Diogo Barbosa Machado (1682-1772) em sua Bibliotheca Lusitana371. A
tradução manuscrita das Cartas Moraes de Pope, célebre poeta inglês foi feita por
Henrique Joseph de Carvalho e Moura em 1759372. Segundo Barbosa Machado, o
tradutor, nascido no ano de 1714 na cidade do Porto, dedicou seus estudos “à cultura das
letras humanas, e inteligência das línguas francesa, inglesa, e italiana, como também a
versificação da poesia vulgar”373.
No fim da década seguinte, em 1769, saiu à luz a primeira tradução impressa
conhecida do poeta inglês. A tradução do Ensaio sobre o Homem foi impressa, com
licença da Real Mesa Censória, em formato 12º na Oficina de Antônio Vicente da Silva
em Lisboa374. A versão foi levada a cabo por um certo Antônio Teixeira, cuja trajetória é
desconhecida, uma vez que, segundo Inocêncio Francisco da Silva, “inúteis têm sido
371 Cf. ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de. Modalidades de Leitura das Luzes no Tempo de Pombal.
Separata da Revista de História, Centro de História da Universidade do Porto, Porto, Vol. X, 1990. p. 108. 372 Cf. ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 108. 373 BIBLIOTHECA LUSITANA, Histórica, Crítica, e Chronologica, na qual se comprehende a notícia dos
Authores Portuguezes, e das Obras, que se compozerão desde o tempo da promulgação da Ley da Graça
até o tempo presente por Diogo Barbosa Machado. Tomo IV. Lisboa: Na Oficina Patriarcal de Francisco
Luiz Ameno, 1759. p. 156-157. 374 ENSAIO sobre o Homem, poema filosófico de Alexandre Pope, traduzido do original inglez na Língua
Portugueza por A. Teixeira. Lisboa: Na Officina de Antonio Vicente da Silva, 1769.
135
todas as diligências para descobrir notícias de sua profissão, e mais circunstâncias
pessoais, sendo unicamente conhecida pela seguinte publicação feita em seu nome”375.
No breve prefácio introdutório, o tradutor elogia o gênio poético de Pope e enfatiza os
aspectos da religião católica presentes em sua obra. O poema traduzido, nas palavras de
Teixeira, compunha “um breve, mas não imperfeito sistema de Moral (são palavras suas)
[de Pope] no qual demonstra que tudo está bem, pois tudo é governado e regulado pela
Infinita Sabedoria do Altíssimo”376.
Em 1785, uma versão portuguesa da Carta de Heloaze a Abailardo, de Pope, foi
incluída na compilação Contos Moraes para entretenimento, e instrucção das pessoas
curiosas377. A obra de tradução desconhecida foi publicada na Oficina de Antônio
Alvarez Ribeiro na cidade do Porto em formato 8º378. Em 1791, a tradução de Ode de
Pope vertida em ligoagem, feita à felicidade da Vida integrou as Obras inéditas dos
nossos insignes poetas Pedro da Costa Perestrello e Francisco Galvão organizadas por
Antônio Lourenço Caminha, Professor de Retórica e Poética em Lisboa379. Além da
autoria e tradução de obras poéticas, Caminha se destacou pela publicação de muitos
volumes compilados de poesias de diferentes letrados portugueses. Segundo Inocêncio
Francisco da Silva, “Caminha deu à luz muitos volumes, de chamados inéditos, com que
375 SILVA, Inocêncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez, estudos de Innocencio
Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil. Tomo Primeiro. Lisboa: na Imprensa Nacional,
1858. p. 279. 376 Prefácio. ENSAIO sobre o Homem, poema filosófico de Alexandre Pope, traduzido do original inglez
na Língua Portugueza por A. Teixeira. Lisboa: Na Officina de Antonio Vicente da Silva, 1769. n. p. 377 CONTOS MORAES para entretenimento e instrucção das pessoas curiosas. Extrahidos dos melhores
Auctores, que tem tractado desta materia. Porto: Officina de Antonio Alvarez Ribeiro, 1785. p. 239-265.
Cf. LOUSADA, Isabel. Para o estabelecimento de uma bibliografia britânica em português, 1554-1900.
Tese (Doutorado) – Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1998. nº. 71. 378 Cf. RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992. p. 183. 379 OBRAS INÉDITAS dos nossos insignes poetas Pedro da Costa Perestrello, coevo do grande Luis de
Camões, e Francisco Galvão, Estribeiro do Duque D. Theodozio, e do muitos Anonimos dos mais
esclarescidos Séculos da Língua Portugueza, ... por Antonio Lourenço Caminha. Tomo I. Lisboa: na
Officina de Antonio Gomes, 1791. p. 214-215.
136
adquiriu por vezes lucros consideráveis, pois fazia as suas edições por meio de subscrição,
e o preço das assinaturas era pelo comum de 1:200 réis por cada tomo de 8º pequeno”380.
Antônio Araújo de Azevedo (1754-1817), feito 1º Conde da Barca no século
seguinte, traduziu, afirma Gonçalves Rodrigues, O Outono ou Hylas e Egon. Terceira
Ecloga de Pope381. O poema foi publicado em um volume em 4º na cidade Hamburgo no
ano de 1799, em conjunto com outras odes de Thomas Gray (1716-1771) e John Dryden
(1631-1700). Segundo Inocêncio Francisco da Silva, o raríssimo volume foi editado por
D. José Maria de Sousa Mourão e Vasconcelos (1758-1825), o 5º Morgado de Matheus.
Os poemas, assevera o bibliófilo português, foram vertidos ao português com igual
número de versos e com as mesmas rimas dos textos originais382.
No alvorecer do século XIX, em 1801, foram realizadas outras traduções da
Epístola de Heloysa a Abaylard. A primeira circulou manuscrita e foi realizada por José
Anastácio da Cunha (1744-1787), célebre matemático e lente da Universidade de
Coimbra383. A segunda foi atribuída a José Nicolau de Massuelos Pinto (1770-1825) e
publicada em Londres na Oficina de Guilherme W. Lane384. Segundo Inocêncio Francisco
da Silva, foi a única “feita sobre o original inglês. As outras duas o foram sobre as
traduções, ou melhor, imitações francesas de Mercier e Colardeau”385. Os volumes em 4º,
380 SILVA, Inocêncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez, estudos de Innocencio
Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil. Tomo Primeiro. Lisboa: na Imprensa Nacional,
1858. p. 189. 381 Cf. RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992. p. 232. 382 Cf. SILVA, Inocêncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez, estudos de Innocencio
Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil. Tomo Primeiro. Lisboa: na Imprensa Nacional,
1858. p. 88. 383 SILVA, Inocêncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez, estudos de Innocencio
Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil. Tomo Quinto. Lisboa: na Imprensa Nacional, 1860.
p. 82. 384 EPISTOLA de Heloyza a Abaylard, composta no idioma inglez por Pope, e traslada em versos
portugueses por * * Mos. Londres: Na Officina de Guilherme Lane, Rua de Leadenhall, 1801. 385 SILVA, Inocêncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez, estudos de Innocencio
Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil. Tomo Quinto. Lisboa: na Imprensa Nacional, 1860.
p. 82.
137
continua o bibliófilo, foram vendidos por elevados preços e circularam de modo
clandestino em Lisboa por muitos anos.
No ano seguinte, em 1802, o periódico As Variedades, nova publicação
litteraria..., publicado na Officina de Simão Thaddeo Ferreira em Lisboa, trouxe em suas
páginas dois poemas de Pope traduzidos ao português386. O primeiro veio a luz no número
XIX e intitulava-se Abuso das Riquezas, no original Of the Use of Riches (1731-1735),
uma das epístolas dos Ensaios Morais387. A segunda, As Lagrimas. Armania chora: hum
orgulhoso enfado anima o seu rosto..., foi publicada no número XX388. Esta última foi
publicada novamente, segundo Gonçalves Rodrigues, em 1805389.
Em 1809, saiu dos prelos da Impressão Régia de Lisboa a obra Collecção de
Poesias Ineditas dos Melhores Autores Portuguezes. Segundo “Prefácio do Editor”,
“compõe-se esta Coleção principalmente de Poesias inéditas, e isso mesmo deixa ver o
seu título. Coligiram-se, contudo, também algumas impressas, mas que já se tem feito
raras”390. Dentre os poemas, encontram-se duas odes de Pope traduzidas pela pena de José
Anastácio da Cunha. A primeira intitula-se A Solidão. Ode traduzida de Pope, no original,
Ode on Solitude (1708), e a segunda, Oração Universal. Ode traduzida de Pope, no
original, The Universal Prayer (1738)391. No mesmo ano, 1809, Hernani Cidade localiza
386 Cf. RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992. p. 253. 387 AS VARIEDADES, nova publicação litteraria... Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1802.
Vol. IV, n.º XIX, p. 32-37. 388 AS VARIEDADES, nova publicação litteraria... Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1802.
Vol. IV, n.º XX, p. 102-103. 389 Cf. RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-
1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992. p. 267. 390 COLLECÇÃO de Poesias Ineditas dos Melhores Autores Portuguezes. Lisboa: Impressão Régia, 1809.
p. 3. 391 COLLECÇÃO de Poesias Ineditas dos Melhores Autores Portuguezes. Lisboa: Impressão Régia, 1809.
p. 122 e 123-125, respectivamente.
138
a publicação de outra edição da tradução da Epístola de Heloísa a Abelardo de Anastácio
da Cunha392.
José Anastácio da Cunha foi fundamental na recepção e divulgação dos
conhecimentos científicos renovados propiciados pelas Luzes. Após extensa carreira
militar e formação no âmbito dos Oratorianos de São Filipe Néri, tornou-se Lente de
Geometria da Universidade de Coimbra reformada em 1773 por convite do próprio
Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal393. Célebre matemático e autor
dos Principios Mathematicos (1787), Anastácio da Cunha caiu nas malhas da Inquisição
em 1778 e confessou a leitura de “livros libertinos” e a tradução de autores como Voltaire
(1694-1778) e Alexander Pope (1688-1744). Foi considerado culpado de “heresia”,
“apostasia”, “deísmo”, “tolerantismo” e “indiferantismo”394.
Em Londres, foi publicada no ano de 1812 a obra Poetica de Horatio e o Ensaio
sobre a Crítica, de Alexandre Pope395. O volume em 8º trazia na capa a inscrição “Por
huma portuguesa”, logo identificada como sendo traduzida por D. Leonor de Almeida
Portugal (1750-1839), a 4ª Marquesa de Alorna. Conhecida pela alcunha arcádica de
Alcipe, a Marquesa residia em Londres nesta época em um exílio forçado após a morte
de seu marido. Sua trajetória de vida moldou importantes aspectos de sua produção
poética. Após seus familiares terem sido imputados no Processo dos Távoras no reinado
josefino, D. Leonor foi enclausurada no Convento de Chelas, onde permaneceu até 1777.
Neste ano, casou-se com o Conde de Oyenhausen (1738-1793) e, três anos depois, migrou
392 Cf. CIDADE, Hernani. A Obra Poética do Dr. José Anastácio da Cunha. Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1930. p. 112-115. Os versos foram reunidos sob o título “Fragmento da tradução da primeira
epístola de Heloísa a Abelardo, de Pope”. 393 Cf. CANTARINO, Nelson Mendes. Ousando Saber: José Anastácio da Cunha e as Luzes em Portugal
(1744-1787). Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia,
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006. p. 24. 394 Cf. ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2003. p. 93-94. 395 POETICA de Horatio, e o Ensaio sobre a Critica, de Alexandre Pope. Em Portuguez. Dedicado a
preciosa Memoria d’el Rey, D. João IV. Por huma Portugueza. Londres: Na Officina de T. Harper, 1812.
139
com o marido para a corte Austríaca em missão diplomática. Durante as décadas
seguintes, Alcipe transitou por importantes centros europeus, como Madrid, Paris,
Marselha, entre outros396.
Em 1815, o Jornal de Coimbra, publicou em seu número XXXV a tradução O
Inverno, ou Daphne. Quarta Ecloga de Pope feita por José Maria Osório Cabral (1791-
1857)397. No ano anterior, 1814, o periódico havia publicado a versão em latim de
Messiah, a sacred epilogue (1712) feita por Guilherme Bermingham, professor de Grego
da Universidade de Coimbra398. Na carta que remeteu ao periódico junto à tradução,
Osório Cabral afirmava que buscava se distrair e exercitar os “bons modelos na língua
inglesa”. Além disso, comentava que, após ver sua tradução, “um Literato, que me-honra
com a sua amizade, se-moveu a traduzir a 3ª Ecloga do mesmo Autor, que oferecerei a
V.V., na certeza de que hão de apreciá-la como eu”399.
Não por acaso, o volume seguinte do Jornal de Coimbra, de número XXXVI de
1815, trazia a versão portuguesa de O Outono, ou Hylas, e Egon. Terceira Ecloga de
Pope400. Em outra carta, Osório Cabral esclarecia: “Remeto a V.V. a III. Ecloga de Pope,
em que lhes-falei, quando remeti a versão que fiz da IV. Ela foi traduzida por um Sábio,
que não me consente revelar o seu Nome”401. Inocêncio Francisco da Silva atribui a
tradução a José Pedro Quintella, formado em Leis em Coimbra e Desembargador da
Relação do Porto. Em suas palavras,
396 Cf. BORGES, Joana Junqueira. Marquesa de Alorna, tradutora de Horácio: Estudo e comentário da
Arte poética. Tese (Doutorado em Estudos Literários) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, 2018. p. 41-49. ANASTÁCIO, Vanda. Nota de
investigação sobre a Marquesa de Alorna (1750-1839) e o Brasil. Navegações, v. 5, n. 1, jan./jun. 2012. p.
98. 397 Jornal de Coimbra, nº. XXXV, Parte II, 1815. p. 210-217. 398 Jornal de Coimbra, nº. XXVIII, Parte II, abril de 1814. p. 212-223. 399 Jornal de Coimbra, nº. XXXV, Parte II, 1815. p. 209. 400 Jornal de Coimbra, nº. XXXVI, Parte II, 1815. p.256-263. 401 Jornal de Coimbra, nº. XXXVI, Parte II, 1815. p. 255.
140
é sua a tradução em verso de uma Ecloga de Pope, que se publicou
anônima no Jornal de Coimbra, remetida para esse fim aos redatores
pelo falecido Dr. José Maria Osorio Cabral, a quem devo o
conhecimento desta circunstância, que por ele me foi certificada,
dizendo-me que conservava ainda em seu poder a versão autografa de
outra ecloga do mesmo poeta, feita pelo próprio Quintella, a qual não
chegara a publicar402.
Em 1817 foi impressa a reedição da tradução do Ensaio sobre o Homem feita por
Antônio Teixeira em 1769403. A nova edição, saída dos prelos da Typografia Rollandiana,
foi feita por Francisco Baptista de Oliveira Mesquita, o Mechas, “homem muito ligado
ao comércio do livro e a quem se deve também a criação de um gabinete de leitura na
capital”404. Neste mesmo ano e na mesma tipografia, foi reeditada a obra Contos Moraes
para entretenimento, e instrucção das pessoas curiosas (1785), que continha a Carta de
Heloize a Abailardo405.
Em 1819, foram publicadas duas traduções da Carta de Heloisa a Abaelardo em
Lisboa: a primeira, pela Impressão Régia de Lisboa e a segunda, pela Officina de Joaquim
Rodrigues d’Andrade406. Em Londres, neste mesmo ano, saíram à luz os três tomos do
Ensaio sobre o Homem traduzido por Francisco Bento Maria Targini (1756-1827)407.
Dedicados “ao Muito Alto e Muito Poderoso Senhor Rei Dom João, o Sexto”, os volumes
resultam de um grande esforço tradutório verso por verso empreendido pelo Barão de São
402 SILVA, Inocêncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez, estudos de Innocencio
Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil. Tomo Quinto. Lisboa: na Imprensa Nacional, 1860.
p. 91, grifos no original. 403 ENSAIO sobre o Homem, poema filosófico de Alexandre Pope. Traduzido do original por A. Teixeira.
Lisboa: Na Typografia Rollandiana, 1817. 404 ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de. Modalidades de Leitura das Luzes no Tempo de Pombal.
Separata da Revista de História, Centro de História da Universidade do Porto, Porto, Vol. X, 1990. p. 108,
nota de rodapé nº. 9. 405 CONTOS MORAES para entretenimento e instrucção das pessoas curiosas. Extrahidos dos melhores
Auctores, que tem tractado desta materia. Lisboa: Typografia Rollandiana, 1817. Cf. LOUSADA, Isabel.
Para o estabelecimento de uma bibliografia britânica em português, 1554-1900. Tese (Doutorado) –
Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1998. nº. 71. 406 CARTA de Heloisa a Abaelardo. Lisboa: Impressão Régia, 1819. CARTA de Heloísa a Abeilard. Lisboa:
Officina de Joaquim Rodrigues d’Andrade, 1819. Cf. RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A
Tradução em Portugal. Tentativa de resenha cronológica das traduções impressas em língua portuguesa
excluindo o Brasil. Volume Primeiro, 1495-1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992. p. 331. 407 ENSAIO sobre o Homem de Alexandre Pope, traduzido verso por verso por Francisco Bento Maria
Targini, Barão de São Lourenço... 3 tomos. Londres: na Officina Typographica de C. Whittingham, 1819.
141
Lourenço408. No “Prólogo do Tradutor”, Targini afirmava que “o amor da pátria e a
estimação devida a Língua Portuguesa” o tinham levado a traduzir tal obra. Em suas
palavras, “o Autor [Alexander Pope] empregou nesta sua obra uma Metafísica superior
revestida das graças da Poesia: uma Moral, que toca os corações apresentando-lhes
quadros enérgicos onde o homem se vê, e aprende a seguir a estrada da Razão e da
Virtude”409.
3.3.2. Aspectos editoriais da obra: os paratextos e seus sentidos
A obra, que saiu a luz no Rio de Janeiro em 1810, foi considerada por Rubens
Borba de Moraes e Ana Maria Camargo, como “um dos mais belos livros publicados pela
Impressão Régia”410. Composta em papel encorpado de tipo Holanda, traz no frontispício
um retrato de Alexander Pope gravado a buril por Romão Eloy de Almeida. Segundo
Orlando da Costa Ferreira, “esse bem executado buril, gravado para o frontispício da
tradução portuguesa do Ensaio sobre a Crítica, é reinterpretação tirada do burilista-
retratista inglês Thomas Halloway (1748-1827)”. Além disso,
a folha de rosto gravada desse volume, publicado em 1810, bem como
a dos Ensaios Moraes do mesmo autor, saídos em 1811, praticamente
idênticas, pertencem igualmente a Almeida, trabalhando ele,
provavelmente, à vista de tipos do repertório da própria oficina,
principalmente sobre a caixa-alta de um itálico de ostensão de grande
corpo, cujo A tem a primeira haste curva e começada por uma
ampola411.
408 Para uma análise desta tradução, ver: SILVA, Jorge Miguel Bastos da. Milton e Pope em Portugal
(Séculos XVIII e XIX): As traduções de F. B. M. Targini e o contexto da crítica. Cadernos de Tradução,
Florianópolis, v. 1, n. 5, 2000. 409 ENSAIO sobre o Homem de Alexandre Pope, traduzido verso por verso por Francisco Bento Maria
Targini, Barão de São Lourenço... Tomo I. Londres: na Officina Typographica de C. Whittingham, 1819.
p. 6 e p. 4, respectivamente. 410 MORAES, Rubens Borba de & CAMARGO, Ana Maria de Almeida (Orgs.). Bibliografia da Impressão
Régia do Rio de Janeiro. v. 1. São Paulo: Edusp; Kosmos, 1993. p. 45. 411 FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e letra. Introdução à Bibliologia Brasileira. A Imagem
Gravada. São Paulo: EDUSP, 1994. p. 247-248.
142
FIGURA 1
Frontispício do Ensaio sobre a Crítica (1810)
FONTE: ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José
Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia,
1810. Exemplar da John Carter Brown Library. Digitalização disponível em:
https://archive.org/details/ensaiosobrecriti00pope?q=ensaios+sobre+a+cr%C3%ADtica+pope. Acesso em
15/08/2018.
A edição de 1810 era composta por: a “Prefação”, escrita pelo tradutor; o “Summario do
que contém este Ensaio”; o texto original e a versão traduzida em português; o
“Commentario de Warburton”, escritor inglês e amigo de Pope; a “Carta II. De Pope a J.
C. sobre a inteligência dos versos 396, e 397 deste Ensaio” e a “Carta III. Ao mesmo
sobre a inteligência do vers. 428”. As cartas supracitadas foram escritas pelo poeta
inglês a James Craggs (1686-1721) por ocasião das críticas feitas por John Dennis (1658-
1734) ao Essay on Criticism (1711). As epístolas foram recolhidas por Fernando José de
Portugal da edição das obras de Pope levada a cabo pelo reverendo William Lisle Bowles
143
(1762-1850) em 1806412. Nesse sentido, os prefácios, posfácios, cartas ao leitor e
comentários constituem os “paratextos” editoriais. Segundo Gerard Genette, o paratexto
é dotado de razoável força ilocutória, que permite que dê “a conhecer uma intenção ou
interpretação autoral e/ou editorial”413. Além disso, este gênero acaba por constituir
uma zona não apenas de transição, mas também de transação: lugar
privilegiado de uma pragmática e de uma estratégia, de uma ação sobre
o público, a serviço, bem ou mal compreendido e acabado de uma
melhor acolhida do texto de uma leitura mais pertinente414.
Um dos principais paratextos do Ensaio (1810) é, sem dúvida, a “Prefação” de
Fernando José de Portugal. No seu prefácio, o tradutor afirmava que após as traduções da
Ars Poetica de Horácio, da Poética de Aristóteles e da Arte Poética de Boileau, pensou
que seria tão bem hum serviço útil, e proveitoso verter em vulgar o
Ensaio sobre a Crítica de Alenxandre Pope, hum dos Poetas Inglezes
mais correctos, para os que desejão saber as regras, e preceitos de
escrever bem em verso, e julgar com acerto das composições poéticas,
as podessem mais facilmente apprender, lendo esta obra em nada
inferior aquellas em mesmo gênero415.
Depois disso, o tradutor passou a apresentar um breve histórico da obra, desde o ano de
sua publicação até sua própria divisão interna.
Outro aspecto importante ressaltado por D. Fernando foi a recepção do Ensaio
quando de sua publicação original. Sobre isso, ele comentou que “logo que este Ensaio
sahio á Luz, vários críticos o censurarao injustamente” e se referiu, por exemplo, a de
John Dennis (1658-1734). Apenas um mês após a publicação original do Ensaio, Dennis
escreveu Reflections Critical and Satyrical, upon a late Rhapsody, call’d, an Essay upon
412 Cf. THE WORKS of Alexander Pope, Esq. in verse and prose. Containing the principal notes of Drs.
Warburton and Warton... by the Rev. William Lisle Bowles, A. M. Vol. VII. London: Printed of J. Johnson,
J. Nichols and Son ..., 1806. p. 252-262. 413 GENETTE, Gerard. Paratextos editoriais. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. p. 17, grifos no original. 414 GENETTE, Gerard Paratextos editoriais. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. p. 10, grifo no original. 415 PORTUGAL, Fernando José de. Prefação. In: POPE, Alexander. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em
portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario
do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. I.
144
Criticism, em que atacava tanto a obra quanto o seu autor416. D. Fernando julgava as
críticas como “diferentes opusculos cheios de mordacidade, de jocosidade, e motejos,
querendo mostrar, que os preceitos erão falsos, ou triviaes”417. Ele também citou
comentários de Addison (1672-1719), Voltaire (1694-1778) e Samuel Johnson (1709-
1784) sobre a obra.
Após comentar sobre as versões francesas e alemãs do Ensaio, D. Fernando
apresentava as discussões da época sobre a tradução e afirmava que “muito se tem
questionado sobre as traduções livres, e literais; e qual o melhor methodo de traduzir um
Poeta, se em verso, se em proza”418. Em defesa das versões em prosa, D. Fernando citou:
Jean Bouhier (1673-1756), tradutor de Petrônio (27 d.C.-66 d.C.); o Abade Pierre
Desfontaines (1685-1745), tradutor de Virgílio (70 a.C.-19 a.C.); Charles Batteaux (1713-
1780), tradutor de Horácio (65 a.C.-8 a.C.) e Anne Dacier (1647-1720), tradutora de
Homero. Dentre os letrados que argumentavam que um poeta deve traduzir-se em verso,
constavam no Prefácio: o Abade Jacques Delille (1738-1813), tradutor de Virgílio e
Milton (1608-1674); o Abade Jean-François du Resnel, tradutor de Pope (1688-1744);
Cândido Lusitano (Francisco José Freire, 1719-1773) e Elpino Duriense (Antônio Ribeiro
dos Santos, 1745-1818), tradutores de Horácio. Ao fim, D. Fernando ponderava que
em ambas estas espécies de versões há inconvenientes, e das obrigações
de hum Traductor se podem facilmente conhecer onde se encontrão
maiores. A essência das traducções consiste principalmente na
fidelidade, e na exacção; e neste ponto se podem comparar com a
História419.
Para resolver a questão, Fernando José de Portugal recorreu à obra de Noel-Ettiene
Sanadon, padre e tradutor francês que viveu entre 1676 e 1733. Segundo D. Fernando, no
416 Cf. BAINES, Paul. The Complete Critical Guide to Alexander Pope. Londres: Routledge, 2000. p. 13. 417 PORTUGAL, op. cit., p. II. 418 PORTUGAL, op. cit., p. VIII. 419 PORTUGAL, op. cit., p. VIII-IX.
145
Prefácio à sua tradução de Horácio, o padre francês defendeu que “a tradução de hum
Poeta feita em prosa terá toda a perfeição, que póde ter, quanto á fidelidade”420. Deste
modo, o tradutor português reconheceu que não tinha por objetivo decidir “huma questão
tão agitada na literatura francesa” e que só se propôs a “fazer huma traduccção fiel, e
bastantemente litteral, deste Ensaio, quanto permite o gênio da Lingoa”421.
Ademais, D. Fernando abordou um importante tema presente em diversos
prefácios analisados ao longo da pesquisa que resultou no Capítulo 2 deste trabalho: a
utilidade das traduções. Em suas palavras, “não me demoro sobre a utilidade, que resulta
das traducções na Lingoa Materna; pois he bem manifesta, e muitos literatos de todas as
Nações se tem dado a este proveitozo trabalho”422. Como exemplo, o tradutor citou os
nomes de Annibale Caro (1507-1566), John Dryden (1631-1700), Jacques de Tourreil
(1656-1714), Nicolas Perrot d’Ablancourt (1606-1664) e os já citados Alexander Pope,
Anne Dacier e o Padre Sanadon. Da obra de Perrot d’Ablancourt, D. Fernando citou
“quando lhe perguntavão, porque queria antes ser Traductor do que Author, respondia,
que a maior parte dos livros não erão senão repetições dos antigos, e que para bem servir
a sua Patria era melhor traduzir bons livros, do que compor outros”423.
Por fim, D. Fernando tratava das diversas edições das obras de Pope e se refere à
edição de nove volumes feita por Joseph Warton (1722-1800) em 1797 e a de dez volumes
feita por William Lisle Bowles (1762-1850) em 1806424. Quanto à sua tradução, ele
afirma que
420 PORTUGAL, op. cit., p. IX. 421 PORTUGAL, op. cit., p. X. 422 PORTUGAL, op. cit., p. X-XI. 423 PORTUGAL, op. cit., p. XI. 424 THE WORKS of Alexander Pope, Esq. in Nine Volumes, complete. With Notes and Illustrations by
Joseph Warton, D. D. and others. London: Printed for B. Law, J. Johnson... 1797. THE WORKS of
Alexander Pope, Esq. in verse and prose ... by the Rev. William Liles Bowles, A. M.... in ten volumes.
London: Printed of J. Johnson, J. Nichols and Son... 1806.
146
quanto ao Texto, que vai defronte da versão, segui quase sempre a
edicção de Warton; e traduzi as Notas, e ilustração, cortando, ou
omitindo algumas insignificantes, ou que não quadravão com os
princípios da nossa Religião425.
Ao afirmar que suprimiu e omitiu trechos insignificantes ou que não se enquadravam aos
princípios da fé católica portuguesa, D. Fernando admite ter feito alterações no texto
original e em sua tradução.
A análise atenta do prefácio acima apresentado gera algumas reflexões. Ao longo
de seu texto, Fernando José de Portugal apresentou diversas referências a escritores,
poetas e tradutores com o objetivo de conceder autoridade aos argumentos apresentados
em seu escrito. A maior parte dos autores citados por D. Fernando viveu na transição
entre os séculos XVII e XVIII. Nesta categoria, incluem-se o próprio Alexander Pope; a
tradutora francesa de Homero, Anne Dacier; o jesuíta que verteu Horácio para o francês,
Noël-Étienne Sanadon, dentre outros. Dentre os autores setecentistas, estavam o crítico
inglês Samuel Johnson; o tradutor francês de Epicuro e Aristóteles, Charles Batteaux; e
os portugueses Antônio Ribeiro dos Santos, sob o pseudônimo de Elpino Duriense, e
Francisco José Freire, sob a alcunha de Cândido Lusitano. Apenas três autores gregos e
latinos da Antiguidade foram citados: Aristóteles, Horácio e Longino.
Assim, evidencia-se a remissão constante a autores ingleses, franceses e
portugueses que versavam sobre a tradução e as questões que a envolviam, como a
imitação, a fidelidade, o verso e a prosa. Fernando José de Portugal apresentou domínio
de tal produção e o esforço de leitura de outras traduções com o objetivo possível de se
preparar para a execução de suas traduções de Alexander Pope em princípios do século
XIX. No fim de seu Prefácio, o tradutor anunciava “Se este trabalho merecer a aceitação,
425 PORTUGAL, op. cit., p. XII.
147
e acolhimento do publico, me animarei a publicar huma traducção das Epistolas Moraes
do mesmo Pope”426.
3.3.3. A tradução de Fernando José de Portugal em perspectiva comparada:
permanências e alterações
Conforme exposto anteriormente, a certa altura do seu prefácio, o tradutor
Fernando José de Portugal afirmou ter suprimido certos alguns trechos insignificantes ou
que não se enquadravam nos princípios da fé católica. Após uma leitura atenta,
percebemos que o excerto poderia não se referir, necessariamente, aos trechos do poema
e sim às notas explicativas presentes na edição. Para solucionar a questão e descobrir o
que foi omitido pelo tradutor, julgamos ser um esforço útil a comparação entre o texto
base e a tradução de 1810. O texto base, conforme o prefácio, foi a edição de nove
volumes organizada por Joseph Warton (1722-1800) e impressa em Londres no ano de
1797427.
O objetivo desta análise não é apontar “erros” nas traduções, tampouco emitir
algum juízo de valor sobre a tradução feita pelo Conde de Aguiar. Ao contrário, busca-
se, sobretudo, investigar algumas escolhas e estratégias tradutórias a partir das
semelhanças entre o texto de origem e a tradução. Conforme salientou John Milton,
uma tradução literária não é examinada do ponto de vista da precisão,
expressão ou brilho com os quais consegue refletir o original; em vez
disso, analisa-se o lugar que a tradução ocupa dentro do sistema da
língua para a qual foi traduzida (o sistema alvo). Uma tradução não é
analisada isoladamente, simplesmente em conexão com seu original,
mas é vista como parte de uma rede de relações que inclui todos os
426 PORTUGAL, op. cit., p. XIII. 427 THE WORKS of Alexander Pope, Esq. in Nine Volumes, complete. With Notes and Illustrations by
Joseph Warton, D. D. and others. London: Printed for B. Law, J. Johnson... 1797.
148
aspectos da língua-alvo, e este papel pode ser ou central ou periférico
dentro do sistema-alvo428.
Com o objetivo de comprovar a hipótese das alterações nas notas e não no texto
original, procedemos a uma exaustiva comparação entre os versos ingleses da edição
original e aqueles da edição de 1810. Ao fim do processo, concluiu-se que D. Fernando
manteve fielmente o texto em língua inglesa em sua versão, o que não foi comprovado
para as notas. Ao longo das páginas da tradução, verificou-se que o tradutor omitiu
deliberadamente, no mínimo, doze notas que constavam na edição base. O que continham
essas notas? Por que foram omitidas?
As notas ou comentários posteriores, como é caso daqueles presentes nas edições
de Pope, possuem uma longa tradição na cultura escrita. Nas palavras de Anthony
Grafton, “a anotação de documentos – X escrevendo sobre Y – começou no mundo antigo
e se desenvolveu em toda cultura que possuísse um cânon formal, escrito”429. Os poemas
de Alexander Pope foram constantemente comentados por diferentes autores durante as
diferentes edições ao longo do século XVIII. Não por acaso, a edição de 1810 traz consigo
notas de, no mínimo, cinco diferentes penas, descritas a seguir. Os três primeiros
conjuntos de notas constam na versão base de 1797 e os dois últimos foram acrescentados
pelo tradutor em 1810:
a. Do próprio Alexander Pope (1688-1744), quando da escrita do poema (1711) e
das reedições em sua vida, identificadas como “P.”.
b. De William Warburton (1698-1779), letrado inglês e Bispo de Gloucester, autor
da edição dos Works de Pope de 1751430, identificadas como “W.”;
428 MILTON, John. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Editora, 2013. p. 208. 429 GRAFTON, Anthony. As origens trágicas da erudição: pequeno tratado sobre a nota de rodapé.
Campinas: Papirus Editora, 1998. p. 34-35. 430 THE WORKS of Alexander Pope Esq. In nine volumes, complete with his last corrections, additions,
and improvements. Published by Mr. Warburton with occasional notes. Londres: J. and P. Knapton..., 1751.
149
c. De Joseph Warton (1722-1800), letrado inglês, organizador da edição de 1797 e
autor do Essay on the Genius and Writings of Pope (volume 1: 1756; volume 2:
1782), identificadas como “WARTON”;
d. De Jean-François Du Bellay du Resnel (1692-1761), abade francês e tradutor da
versão do Essai sur la Critique de 1730431, identificadas como “ABBADE RESNEL”;
e. De Fernando José de Portugal (1752-1817), tradutor da versão portuguesa do
Ensaio sobre a Crítica de 1810, identificadas como “DO TRADUCTOR”.
Dentre as notas suprimidas, merece destaque uma que se refere ao verso 35, “Há
quem julgue ainda peior do que elle escreve”432. A nota completa de Warton é uma citação
do tomo VII das Questions sur l'Encyclopédie (ca. 1770) escrito por Voltaire:
‘Le plus grand malheur (says Voltaire) d’un homme des lettres, n’est
peut-être pas d’être objet de la jalousie de ses confreres, la victime de
la cabale, le mepris de puissans du monde, c’est d’être jugé par des sots.
L’homme de lettres, (si on lui fait Injustice), est sans secours; il
resemble au poissons volantes; s’il s’éleve um peu, les oiseaux le
devorent; s’il se plonge, le poissons le manget. Tout homme public paye
tribut à la malignité; mais il est payé en deniers & en honneurs’
Questions sur L’Encycl. 7 T. 323433.
As razões da supressão do trecho se relacionam diretamente aos critérios da censura que
vigoravam no mundo luso-brasileiro de então. Desde o Regimento da Real Mesa Censória
de 1768, os livros escritos pelos “Pervertidos Filósofos destes últimos tempos” estavam
proibidos no reino434. Neste mesmo ano, o padre Antônio Pereira de Figueiredo (1725-
1797) escrevia um parecer sobre a recente edição das obras completas de Voltaire
(Amsterdã, 1764), considerado “péssimo, ainda quando parece bom; ele difunde o
431 ESSAI sur la Critique, poème traduit de l’anglois de M. Pope, avec un discours et des remarques. Paris:
Chez Teodore Le Gras..., 1730. 432 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. 13. 433 THE WORKS of Alexander Pope, Esq. in Nine Volumes, complete. With Notes and Illustrations by
Joseph Warton, D. D. and others. London: Printed for B. Law, J. Johnson... 1797. Vol. 1, p. 181. 434 Cf. VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do Livro no Mundo Luso-brasileiro sob as Luzes: Reformas, Censura
e Contestações. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 190.
150
veneno, ainda quando faz orações a Deus; ele inspira insensivelmente um desprezo de
tudo o que é Religião e piedade”435.
Em outro trecho, ao tratar da parcialidade dos críticos aos antigos e modernos,
entre os versos 440 e 445 do Ensaio, Pope escrevia:
Algum dia esta zelosa Ilha se inundou de Theologos Escolasticos; quem
sabia mais Sentenças tinha mais profunda lição: a Fé, o Evangelho, tudo
lhes parecia sujeito a disputa, e nenhum deles tinha bastante senso para
se poder convencer. Agora descanção em Paz os Scotistas, e Thomistas
entre teas de aranha, com quem se aparentão436.
Em relação ao último trecho do excerto, acerca dos Escotistas e Tomistas, D. Fernando
julgou por bem suprimir a nota de Warburton que tratava da heresia do Monotelismo, a
propósito da natureza divina e humana de Jesus Cristo. Na nota, o bispo citava um trecho
do volume 4 do Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle (1647-1706) que
tratava do 6º. Concílio Geral ocorrido em Constantinopla em 680 d. C., quando as ideias
monotelistas foram consideradas heréticas437. Novamente, a citação esbarrou na censura
e, por isso, deve ter sido suprimida. Afinal, Bayle, assim como Voltaire, figurava entre os
autores proibidos no edital de 24 de setembro de 1770 da Real Mesa Censória. Apesar
disso, conforme demonstra Luiz Carlos Villalta, nas últimas décadas do século XVIII,
foram concedidas frequentemente licenças para a leitura e/ou posse do Dicionário de
Bayle a leitores luso-brasileiros438.
435 apud DENIPOTI, Cláudio. Censura e mercê – os pedidos de leitura e posse de livros proibidos em
Portugal no século XVIII. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, jul./dez.
2011. p. 142. 436 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. 91
e 93. 437 THE WORKS of Alexander Pope, Esq. in Nine Volumes, complete. With Notes and Illustrations by
Joseph Warton, D. D. and others. London: Printed for B. Law, J. Johnson... 1797. Vol. 1, p. 448. A edição
consultada da obra de Bayle foi THE DICTIONARY Historical and Critical of Mr. Peter Bayle. The Second
Edition... Volume The Fourth. Londres: Pritend for D. Midwinter, ... 1737. p. 350. 438 Cf. VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do Livro no Mundo Luso-brasileiro sob as Luzes: Reformas, Censura
e Contestações. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 289-295.
151
Nem todas as omissões tinham motivos importantes e a maioria se enquadrava na
aparente insignificância apregoada pelo tradutor em seu prefácio. É o caso, por exemplo,
da Nota ao verso 161, que afirmava “Their means their own”, e da Nota ao verso 403,
que dizia “And improper word of enlightens”439. No início da Parte III do poema, a partir
do verso 560, o tradutor omitiu uma nota de Warburton que fazia um breve resumo dos
assuntos que seriam abordados adiante440. Tratou-se, evidentemente, de uma escolha
editorial pois, como descrevemos anteriormente, a edição de 1810 trazia um “Summario
do que contém este Ensaio”.
Além das supressões, Fernando José de Portugal fez acréscimos importantes que
contribuíram, por um lado, para tornar sua edição mais completa e, por outro, para a
recepção da obra no mundo luso-brasileiro. Primeiramente, destaca-se a adição dos
comentários do abade francês Jean-François Du Bellay du Resnel (1692-1761), tradutor
da versão francesa do Essai sur la Critique de 1730. Ao verso 536, que citava um
“Monarcha indolente”, por exemplo, o tradutor acresceu uma nota em que Resnel
afirmava “O Author fala aqui de Carlos II, cujo caracter he assás conhecido. O visconde
de Rochester dizia, que elle nunca tinha dito nada máo, nem feito nada bom”441. Algumas
páginas depois, em relação aos versos 691 e 692, “Hum segundo diluvio destruio a
Sciencia, e os Frades acabarão o que os Godos principiarão”, o Abade Resnel comentava:
Nestes séculos de ignorância os Frades são os únicos, que mostrarão
gosto, e amor pelas Bellas Letras. Pede pois o reconhecimento, que os
louvemos pelo trabalho, e applicação, com que nos transmittirão os
celebres Authores da Antiguidade; e a justiça, que atribuamos à
439 THE WORKS of Alexander Pope, Esq. in Nine Volumes, complete. With Notes and Illustrations by
Joseph Warton, D. D. and others. London: Printed for B. Law, J. Johnson... 1797. Vol. 1, p. 202 e p. 228. 440 THE WORKS of Alexander Pope, Esq. in Nine Volumes, complete. With Notes and Illustrations by
Joseph Warton, D. D. and others. London: Printed for B. Law, J. Johnson... 1797. Vol. 1, p. 448. A edição
consultada da obra de Bayle foi THE DICTIONARY Historical and Critical of Mr. Peter Bayle. The Second
Edition... Volume The Fourth. Londres: Pritend for D. Midwinter, ... 1737. p. 244. 441 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p.
105.
152
desgraça dos tempos, em que vivião, tudo o que he barbaro, e grosseiro
nos seus escritos442.
Logo depois, entre os versos 693 e 695, ao tratar dos críticos, Pope cita Erasmo
de Roterdã (1466-1536): “Finalmente Erasmo aquelle grande nome injuriado (gloria e
vergonha do Sacerdocio) suspendeo a furiosa torrente de hum século bárbaro”. Sobre este
trecho, o tradutor francês afirmava
O Abbade Marsolier, traductor de algumas obras d'Erasmo, empregou
a sua eloquencia em justificallo em huma Apologia engenhosa, e bem
escrita. O P. de Tournemine, Jesuita, a refutou solidamente pelas
mesmas Cartas d'Erasmo. Esta refutação appareceo em França, e
tornou-se a imprimir em Hollanda. Hum Agostinho Descalço deo
também ao publico huma ampla critica da Apologia d'Erasmo. Bossuet
na sua Historia das Variações depois de o ter representado como
suspeito em materia de Fé, deixa com tudo a sua memoria ao juizo de
Deos. Senão he permittido louvallo como Theologo, não podemos ao
menos negar-lhe a gloria de ter contribuido muito para a restauração das
Letras.
As notas escritas por D. Fernando, em sua maioria, apresentam exemplos de
letrados e poetas lusos. Ao comentar o verso 48 de Pope, “Deveis conhecer-vos a vós
mesmos”, o tradutor cita versos da Carta 10 do poeta Diogo Bernardes (1530-1605) e da
Carta 13 do escritor Antônio Ferreira (1528-1569)443. Ferreira é novamente citado no
comentário ao verso 213 e Bernandes reaparece na nota ao verso 322. Mais adiante, o
Conde de Aguiar se utiliza de um Sermão do Padre Antônio Vieira (1608-1697) para
comentar os versos 60 e 61: “Huma única sciencia he bastante para um só Genio; tão
vasta he a arte, tão curto o entendimento humano”. No trecho, questiona Vieira: “[...]
como se hão de juntar em hum só homem, ou se hão de confundir nelle tantos officios?
442 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p.
130. 443 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. 15-
16.
153
Se hum mestre com carta de examinação dá má conduta de hum officio mecânico, hum
homem [...] como há de dar boa conta de tantos officios políticos?”444.
A certa altura do poema, Pope preconiza nos versos 333 e 334, que “as mesmas
regras se devem observar com as palavras, que com as modas: tão extravagante he serem
muito novas, como muito antigas”. Sobre isso, Fernando José de Portugal escreveu um
extenso comentário sobre a Língua Portuguesa. Em suas palavras, esta é “assás
abundante, e copiosa de termos, e frases, e só poderão negar esta verdade os que se
descuidam de ler os nossos autores clássicos”. Ainda assim, foi preciso criar palavras em
alguns casos, como os de Luís de Camões (1524-1580) e de Gabriel Pereira de Castro
(1571-1632). Ao mesmo tempo, segundo o tradutor, Pope critica o uso de palavras muito
antigas, fato recorrente nas obras de João de Barros (1496-1570), Gabriel Soares de Souza
(1540-1591) e Padre Antônio Vieira (1608-1697)445.
Entre os versos 394 e 401, Pope aborda a parcialidade e predileção dos críticos
pelos escritores antigos ou modernos:
Huns desprezão os escritores estrangeiros, outros os nossos: huns
prezão sómente os Antigos, outros os Modernos. Assim cada hum
attribue o Engenho, como a Fé, a huma pequena seita, e todas as mais
condena. Com baixeza elles intentão limitar o dom do Ceo, e pertendem
que o Sol só brilhe em huma única parte, quando não sublima
meramente os talentos do Sul, mas tão bem amadurece os espiritos nos
climas frios do Norte446.
No comentário, D. Fernando afirmou que “Pope, sendo censurado nestes dois versos, se
justifica da errada inteligência, que alguns lhe derão, em huma das Cartas a J. C. [James
444 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. 19-
20. 445 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. 73-
75. A citação deste parágrafo encontra-se na p. 73. 446 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. 87.
154
Craggs], a qual vai traduzida no fim desta Obra”447. Na carta citada, datada de 18 de junho
de 1711, o poeta inglês escreveu “A comparação tão censurada no meu Ensaio [...]
manifestamente acaba nesta segunda regra, onde está hum ponto final/ e o que se segue
(com baixe elles intentão etc.) diz respeito somente ao Engenho, designado por este favor
do Ceo, e por este Sol”. Por isso, continuava ele, “a mesma comparação, se se ler duas
vezes, os convencerá de que a censura de condenar o resto não recahe de fórma alguma
sobre a nossa Igreja, a não quererem chamar a nossa Igreja huma pequena seita”448.
Apenas algumas páginas depois, os versos 425 e 429 trazem a seguinte reflexão:
He assim que o Vulgo erra por causa da Imitação, como muitas vezes
os Sabios por serem singulares. Desprezão tanto o povo, que ainda que
a multidão por acaso acerte, elles de proposito errão. São como os
Schimasticos, que se apartão dos Fieis sinceros, e se condenão poder
terem sobejo engenho.
Especialmente sobre o excerto “Fieis sinceros”, D. Fernando comentou novamente:
“Pope mostra a errada intelligencia, que alguns derão a estes versos, em huma das suas
Cartas a J. C. [James Craggs], que vai traduzida no fim desta Obra”449. De fato, na dita
Carta III de 19 de julho de 1711, Pope argumentava que “Qualquer homem de hum juízo
mediano imaginaria, que o Author manifestamente se declara contra aqueles scismaticos,
que abandonarão a verdadeira Fé, por desprezarem o entendimento de alguns Crentes” e
concluía que “Sempre me achareis hum verdadeiro Troyano na minha fé, e amizade, e em
ambas persistirei até a morte”450. Assim, a partir destes comentários, conclui-se que, ao
acrescentar as Cartas II e III a James Craggs, D. Fernando objetivava, de certa forma,
447 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. 87. 448 CARTA II. De Pope a J. C. sobre a inteligência dos versos 396, e 397 desde Ensaio. In: ENSAIO sobre
a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e
outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. grifos no original. 449 ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton,
do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. 90. 450 CARTA III. Ao mesmo sobre a intelligencia do vers. 428. ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em
portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario
do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. grifos no original.
155
conter possíveis críticas e censuras através da publicação das justificativas do próprio
poeta.
3.4. CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO DO ENSAIO SOBRE A CRÍTICA (1810)
Refletir sobre a circulação e difusão de uma determinada obra no Antigo Regime
impõe aos historiadores do livro e da leitura uma série de desafios de natureza, sobretudo,
documental. Uma das saídas, apontou Robert Darnton, para a questão encontra-se na
investigação dos anúncios, prospectos e catálogos das obras disponíveis para a venda que
os livreiros e negociantes faziam circular em jornais e gazetas451. No mundo português,
João Luís Lisboa investigou os livros disponíveis aos leitores a partir das referências de
vendas de livros nos anúncios dos periódicos, especialmente a Gazeta de Lisboa, entre
1780 e 1820452. Para o Rio de Janeiro nos tempos de D. João, uma inspiração pode ser
encontrada nos trabalhos seminais de Maria Beatriz Nizza da Silva e Lúcia Maria Bastos
Pereira das Neves, que se debruçaram sobre os “Avisos” da Gazeta do Rio de Janeiro453.
Assim, esse foi o caminho escolhido nesta pesquisa para esquadrinhar os
caminhos percorridos pelas traduções do Ensaio sobre a Crítica (1810) e dos Ensaios
Morais (1811) de Pope feitas por Fernando José de Portugal. Em agosto de 1811, no ano
seguinte à publicação da Impressão Régia do Rio de Janeiro, a Gazeta de Lisboa noticiava
451 Cf. DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 225. 452 Cf. LISBOA, João Luís. Ciência e Política: Ler nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Instituto Nacional
de Investigação Científica, Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1991. 453 Cf., dentre outros, SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Livro e sociedade no Rio de Janeiro: 1808-1821.
Revista de História, São Paulo, v. 46, n. 94, 1973. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A Gazeta do Rio de
Janeiro (1808-1822): Cultura e Sociedade. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2007. NEVES, Lúcia Maria Bastos
Pereira das. Comércio de livros e censura de ideias: a actividade dos livreiros franceses no Brasil e a
vigilância da Mesa do Desembargo do Paço (1795-1822). Ler História, Lisboa, n. 23, 1992. Além deste
último ver também: NEVES, Lúcia Bastos Pereira das & BESSONE, Tânia Maria. Bookselleres in Rio de
Janeiro. The Book Trade and circulation of Ideas from 1808 to 1831. In: SILVA, Ana Cláudia Suriani da
& VASCONCELOS, Sandra Guardini (Orgs.). Books and Periodicals in Brazil 1768-1930. A Transatlantic
Perspective. Oxford: Legenda, 2014.
156
que “Na loja de livros de Paulo Martin e filhos, defronte do chafariz do Loreto Nº 6,
achão-se de venda as seguintes obras impressas no Rio de Janeiro: [...] Ensaio sobre a
Crítica, de Pope, traduzido pelo Conde de Aguiar, em 8º”454.
No ano seguinte, a edição de fevereiro de 1812 do Jornal de Coimbra comentava,
como de praxe, as “Publicações Portuguezas no presente mez de Fevereiro”. Sobre a
tradução do Ensaio sobre a Crítica, o redator afirmava:
Não temos visto huma traducção mais fiel, nem mais exacta; a Critica
de Pope, que he semelhante à Poetica de Horacio, e de Boileau, e do
mesmo grao de merecimento, he mui difícil de se traduzir exatamente.
As Obras didacticas, posto que escritas em verso, são talvez melhor
trasladas em prosa, como vemos no presente exemplo, em que se acha
na pureza do idioma Portuguez toda a força, e elegância do Poeta
Inglez455.
A edição de setembro de 1812 do periódico trazia uma “Lista dos Livros Impressos na
Régia Officina Typographica da Corte do Rio de Janeiro; e que se achão à venda em
Lisboa, na Loja de Borel, Borel e Companhia, quasi defronte da Igreja de N. S. dos
Martyres Num. 14”. Em meio a diversas obras, constava na lista do livreiro Borel os
“Ensaios Moraes de Alexandre Pope, em quatro Epistolas a diversas pessoas, traduzidas
em Portuguez pelo Conde de Aguiar, com as notas de José Warton, e do Traductor”456.
Além da Loja de Borel & Borel, exemplares das traduções de Pope do Conde de
Aguiar podiam ser encontradas na Loja de Paulo Martin & Filhos. No Jornal de Coimbra
de novembro de 1812, o livreiro fez publicar um anúncio com obras impressas no Rio de
Janeiro e dentre elas figurava o “Ensaio sobre a Crítica de Alexandre Pope, traduzido em
Portuguez pelo Exmo. Conde de Aguiar, com notas do Traductor, e o texto Inglez ao lado,
1810. Em 8º 1:600 rs.”457. No mesmo ano, Martin imprimiu na Oficina tipográfica da
454 Gazeta de Lisboa, nº. 206, sexta-feira, 30 de agosto de 1811. grifos no original. 455 Jornal de Coimbra, nº. II, fevereiro de 1812. p. 68-69. 456 Jornal de Coimbra, nº. IX, setembro de 1812. p. 214-216. 457 Jornal de Coimbra, nº. IX, novembro de 1812. p. 379.
157
Viúva Neves & Filhos, em Lisboa, o Catálogo das Obras Impressas no Rio de Janeiro, e
que se achão de venda em Lisboa, na Loja de Paulo Martin e Filhos n. 6 defronte do
Chafariz do Loreto. Nele constava na primeira página o “Ensaio sobre a Crítica de Alex.
Pope, traduzido em Portuguez pelo Excelentíssimo Conde de Aguiar, com notas do
traductor, e o texto Inglez ao lado, 1810 em 8º”458.
Como é facilmente presumido, as traduções de D. Fernando também circularam
no Rio de Janeiro, onde foram publicadas. Na seção de “Avisos”, a Gazeta do Rio de
Janeiro de 11 de maio de 1812 informava terem saído à luz
Ensaios Moraes de Alexander Pope, em Quatro Epístolas a diversas
Pessoas, traduzidos em Portuguez pelo Conde de Aguiar, com as Notas
de José Warton, e do Traductor. Esta obra em nada inferior à do Ensaio
sobre a Crítica, ainda mais correcta na edicção, alias elegantíssima, em
papel bastardo, em 8º grande, se vende da loja de Paulo Martin Filho
(onde pelo mesmo preço se vende o Ensaio sobre a Crítica) em
Brochura a 2560 réis, encadernada 3200. E pelo mesmo preço, nas lojas
de Manoel Jorge da Silva na rua do Rozario, e na de José Antonio da
Silva na rua Direita459.
Este anúncio oferece informações importantes acerca da circulação da obra.
Primeiramente, exemplares dos Ensaios de Pope encontravam-se à venda em, no mínimo,
lojas de três livreiros distintos: Paulo Martin Filho, na Rua da Quitanda; Manuel Jorge da
Silva, na Rua do Rosário e José Antônio da Silva, na Rua Direita, próximo à Igreja dos
Terceiros do Carmo460. Além disso, o anúncio evidencia a permanência da preocupação
do público leitor, apontada por Robert Darnton, com a qualidade física das obras461. Por
isso, o redator do anúncio julgava necessário ressaltar a elegância da edição, a qualidade
do papel e o tamanho dos volumes.
458 CATÁLOGO das obras impressas no Rio de Janeiro, que se achão de venda em Lisboa, na loja de Paulo
Martin e Filhos n. 6 defronte do chafariz do Loreto. Lisboa: na Nova Officina da Viuva Neves & Filhos,
1812. 459 Gazeta do Rio de Janeiro, nº. 39, quarta-feira, 11 de maio de 1812. Grifos no original. 460 Cf. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822): Cultura e Sociedade. Rio
de Janeiro: EdUERJ, 2007. p. 186. 461 Cf. DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 225.
158
Além do Rio de Janeiro, exemplares das traduções encontravam-se à venda em
Salvador. Em setembro de 1817, o periódico Idade D’Ouro do Brazil informava que na
Loja da Gazeta, situada à Rua de Santa Bárbara, vendia-se o “Ensaio sobre a Crítica de
Alexandre Pope traduzido em Portuguez pelo Conde de Aguiar; com as notas de José
Warton, do traductor, e de outros; e o commentario do Dr. Warburton, em 4º br. 2000”462.
O mesmo anúncio foi repetido em dezembro do mesmo ano463. Manuel Antônio da Silva
Serva, proprietário da Tipografia onde se imprimia o periódico baiano, também estava
envolvido com o comércio de livros, em constante conexão com aqueles impressos no
Rio de Janeiro464. Segundo Maria Beatriz Nizza da Silva, em 1811, após a publicação dos
Ensaios, Silva Serva esteve na capital para vender livros e fez imprimir na Impressão
Régia um catálogo para divulgar obras que trouxera465. É provável que o livreiro tenha
adquirido os exemplares do Ensaio sobre a Crítica (1810) durante este período de
permanência no Rio de Janeiro.
A notícia da publicação do Ensaio sobre a Crítica (1810) não escapou a Hipólito
da Costa (1774-1823), notável jornalista português que residia em Londres. Na seção
“Literatura e Sciencias” do Correio Braziliense de 1812, no âmbito das “Publicaçoens
Portuguezas”, o redator noticiava “Publicou-se no Rio-de-Janeiro – Ensaio sobre a
Crítica de Alexandre Pope; traduzido em Portuguez pelo Conde de Aguiar”. Prometia
ainda dar “a estas obras a consideração que merecem, logo que se nos proporcionar a
occasião”466. Ao que parece, a ocasião pode ter se apresentado ao jornalista, uma vez que
462 Idade D’Ouro do Brazil, nº. 76, sexta-feira, 26 de setembro de 1817. 463 Idade D’Ouro do Brazil, nº. 101, terça-feira, 23 de dezembro de 1817. 464 Para um exame mais detido da produção e comércio de livros na Tiporafia de Silva Serva, ver: SILVA,
Maria Beatriz Nizza da. A Primeira Gazeta da Bahia: Idade D’Ouro do Brasil. São Paulo: Editora Cultrix,
1978. p. 119-122. Ver também MAGALHÃES, Pablo Antonio Iglesias. As servinas em Portugal: a rede
comercial intercontinental de livros impressos na Bahia colonial. Topoi, vol. 17, n. 32, jan./jun. 2016. 465 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Livro e sociedade no Rio de Janeiro: 1808-1821. Revista de História,
São Paulo, v. 46, n. 94, 1973. p. 450. 466 Correio Braziliense, vol. VIII, 1812. p. 295, grifos no original.
159
na carta de 30 de outubro de 1812 ao Conde de Aguiar, comentada anteriormente, o
livreiro Diogo Borel escrevia: “Já remeti para Londres alguns Ensaios Moraes de Pope
mas ainda não tenho resposta”467.
Apesar de curto, o excerto epistolar permite inferirmos que em algum momento
entre 1811, ano de publicação dos Ensaios, e 1812, Fernando José de Portugal
comunicou-se com Diogo Borel por correspondência, e pediu que este último enviasse a
Londres exemplares da obra. Esta seria, em nosso entendimento, uma das possíveis razões
para o livreiro achar necessário comunicar D. Fernando da remessa. Ora, parece razoável
supor, então, a existência de uma intenção por parte do tradutor em divulgar seu trabalho
em outra área geográfica para além do mundo luso-brasileiro. Não por acaso, foi
escolhido Londres, onde Borel possuía conexões comerciais, uma vez que foi capaz de
remeter a D. Fernando diversos exemplares de obras inglesas em 1812 e 1813.
A escolha de Londres como destino destes exemplares integrava uma estratégia
que se vinculava, primeiramente, a busca de prestígio e reconhecimento enquanto tradutor
por parte do Conde de Aguiar. Afinal, foi neste local que se tornaram célebres os poemas
e obras de Alexander Pope. Em um segundo plano, trata-se de um potencial mercado
consumidor de traduções em língua portuguesa, uma vez que a cidade reunia à época um
numeroso grupo de indivíduos luso-brasileiros, composto por agentes monárquicos,
negociantes, jornalistas, dentre outros468. Nesse sentido, é esclarecedora a menção feita à
tradução de D. Fernando em julho de 1813 na seção “Literatura Portugueza” do periódico
O Investigador Portuguez. Ao comentar uma versão latina da obra, o redator chamava a
467 BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,12. Diogo Borel. Carta ao Conde de Aguiar.
Lisboa, 30/10/1812. fl. 2. 468 Cf. MUNARO, Luís Francisco. O jornalismo luso-brasileiro em Londres (1808-1822). Tese (Doutorado
em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.
p. 93-100.
160
atenção para a existência das duas versões em vernáculo do Ensaio sobre a Crítica de
Pope feitas por D. Fernando e pela Marquesa de Alorna:
O Ensaio sobre a Critica do illustre poeta Inglez, he huma daquellas
obras que pela seu elegancia, e correcçaõ fazem honra ao espirito
humano. Traduzila em huma lingoa viva, he de facto prezentear huma
naçaõ com hum grande mimo; e isto fizeraõ Dom Fernando de Portugal,
e huma Portugueza, rezidente em Inglaterra. A nação lho deve
agradecer469.
Finalmente, os anúncios dos periódicos analisados permitem considerar a difusão
de exemplares tanto do Ensaio sobre a Crítica (1810) quanto dos Ensaios Morais (1811)
em, no mínimo, cinco diferentes cidades: Rio de Janeiro, Salvador, Lisboa, Coimbra e
Londres. A circulação atlântica destas mercadorias, livros e periódicos, envolveram redes
de diversos atores como livreiros, negociantes, capitães de navios, funcionários das
Alfândegas e censores. No caso das traduções de Alexander Pope, no mínimo, cinco
livreiros estiveram envolvidos em sua circulação: Paulo Martin e seus filhos; Diogo
Borel; Manoel Jorge da Silva; José Antônio da Silva e Manuel Antônio da Silva Serva.
Os dois primeiros, Borel e Martin, eram os que articulavam, certamente, a maior rede de
solidariedade nos negócios, que permitia, por um lado, o acesso a determinados livros e,
por outro, a possibilidade de venda em mais de uma localidade. No caso de Martin, as
obras eram oferecidas em Lisboa e no Rio de Janeiro e, no caso de Borel, em Lisboa e
Londres.
469O Investigador Portuguez em Inglaterra ou Jornal Literario, Politico, etc., julho de 1813. p. 87.
161
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A little learning is a dangerous thing..
- Alexander Pope470
Desde a célebre invenção de Gutenberg em meados do século XIV em uma
pequena tipografia na Mogúncia, livros e impressos passaram a circular de forma
abundante pela Europa e, algum tempo depois, pelo mundo. A expansão do mercado
livreiro ocorreu em ritmo sem precedentes. Autores, editores, impressores, negociantes,
censores e muitos outros agentes envolveram-se na produção e circulação dos livros.
Simples objetos, os livros carregam ideias, sensações, percepções e conteúdos por vezes
considerados perigosos, revolucionários e, sem dúvida, transformadores, tanto do
contexto em que eram publicados quanto dos leitores, que construíam significados e
pensamentos no momento de sua leitura.
Durante a Época Moderna, a multiplicidade das línguas vernáculas e idiomas
converteu-se em importante obstáculo ao acesso às obras publicadas em outras regiões.
O Latim, antes língua franca das discussões filosóficas, científicas e teológicas, havia
perdido seu espaço em favor das línguas vulgares. Por isso, tornou-se imperativo o ato de
traduzir. Em sintonia com o movimento, o século das Luzes em Portugal também assistiu
às obras traduzidas atingir um volume jamais visto anteriormente. Estes livros abordavam
470 POPE, Alexander. An Essay on Criticism. In: POPE, Alexander; ROGERS, Pat (org.). Alexander Pope.
The Major Works. Including The Rape of The Lock and the Dunciad. Nova York: Oxford University Press,
2008. p. 24, verso 215.
162
diversos assuntos que passavam pela religião, medicina e agricultura até obras de Belas
Letras, como romances, poemas e dramas.
Complexo e por vezes considerado ofício secundário, o esforço tradutório foi
constantemente alvo de reflexão pelos próprios tradutores. As escolhas de palavras e
termos, as supressões de linhas e versos, o acréscimo de títulos e divisões e as mudanças
nas estruturas do texto original converteram-se em temas amplamente discutidos nas
diversas regiões da Europa e, também, no mundo luso-brasileiro. Os prefácios, cartas,
prólogos e discursos analisados revelaram que os tradutores portugueses se moviam em
dois sentidos.
Num primeiro plano, caracterizavam-se enquanto letrados típicos do Antigo
Regime. Imersos na tradição retórica da época, incluíam dedicatórias a príncipes e nobres
com o objetivo de receberem alguma mercê de distinção ou alcançarem algum ofício de
Letras. Ao mesmo tempo, em um segundo plano, os mesmos letrados pareciam ser
movidos por necessidades materiais inerentes a qualquer um que vivesse na época. Ao
fim e ao cabo, a remuneração de um tradutor, como exposto, nem sempre era tão distinta
daquela de um autor de obra original. De fato, como demonstrou Claudio Denipoti, os
tradutores eram movidos por uma ideia de utilidade. Simultaneamente, percebeu-se aqui
a presença marcante de um ideal pedagógico típico das Luzes de instruir e educar os seus
leitores471.
Nesse sentido, as traduções foram as responsáveis pelo acesso tímido e limitado
às obras de ilustrados ingleses e, em menor proporção, franceses. Não obstante, o Antigo
Regime ainda encontrava raízes profundas nas mentes dos letrados de fins do Setecentos.
Os tradutores do período não ousaram traduzir e publicar obras que fossem contrárias às
471 Cf. DENIPOTI, Claudio. Tradutores médicos e a ideia de tradução em Portugal em fins do século XVIII:
o caso dos livros de medicina. História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, vol.24, n.4, 2017.
163
instituições basilares da sociedade portuguesa, como a própria monarquia e a Igreja.
Cientes da necessidade de mudanças para se adaptarem aos novos tempos após a
Independência das Treze Colônias e da Revolução Francesa, homens como Rodrigo de
Sousa Coutinho e o próprio Fernando José de Portugal não vislumbravam outro caminho
senão a manutenção, através de reformas, das amarras que os impediam de ingressar
propriamente na modernidade.
Assim, não surpreende o Conde de Aguiar ter escolhido um poeta como Alexander
Pope em vista de sua predileção, demonstrada pelas compras de livros a Diogo Borel em
1812 e 1813, por poetas ingleses que viveram na transição entre os séculos XVII e XVIII.
Afinal, foram eles os grandes expoentes das Luzes inglesas, movidos por um ideal de
instruir e educar a sociedade, que não precisaram lutar pela liberdade religiosa, pelo fim
da censura e tampouco contra a monarquia. Em vista disso, conforme salientou Roy
Porter, os ilustrados ingleses não se converteram em “revolucionários” e “radicais” pois
não objetivavam subverter a ordem, mas, antes de tudo, mantê-la. Não deixavam de ser,
portanto, filósofos pragmáticos que se preocupavam com uma filosofia da experiência, a
arte do bem viver e a busca pela felicidade472.
É nesta aproximação entre os ideais das Luzes inglesas e luso-brasileiras, com
certos limites, que reside a explicação para a ampla circulação de diferentes versões de
traduções de obras Pope desde a segunda metade do século XVIII. Este aspecto encontrou
sua expressão máxima nas traduções do Ensaio sobre a Crítica (1810) e Ensaios Morais
(1811) feitas por Fernando José de Portugal, um dos mais importantes ministros da Corte
joanina. Por meio delas, o Conde de Aguiar se mostrou preocupado com as discussões
literárias e morais do contexto em que vivia e buscou nele intervir, utilizando a obra de
472 Cf. PORTER, Roy. The Enlightenment in England. In: PORTER, Roy & TEICH, Mikulás (orgs). The
Enlightenment in National Context. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. p. 4-9.
164
um poeta ilustrado inglês. Apesar disso, como letrado característico de Antigo Regime,
alterou certos trechos e acrescentou outros para que sua obra em nada contrariasse os
princípios da ordem estabelecida. Em suas palavras, além dos ofícios de governador e de
vice-rei, “para melhor bem servir sua Pátria era melhor traduzir bons livros”473.
473 CASTRO, Fernando José de Portugal e. Prefação. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo
Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr.
Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. XI.
165
ANEXO
OBRAS DE ALEXANDER POPE TRADUZIDAS EM LÍNGUA PORTUGUESA (1759-1819)
ANO TÍTULO TRADUTOR LOCAL TIPOGRAFIA EDIÇÃO FORMATO ORIGINAL REFERÊNCIA
I. LOUSADA474
REFERÊNCIA
A. GONÇALVES475
REFERÊNCIA
INOCÊNCIO476
1759
CARTAS Moraes do
Pope celebre poeta
inglez
Henrique
Joseph de
Carvalho e
Moura
Porto
(provavel
mente).
Manuscrito 1ª. Manuscrito
Moral Essays, in
four epistles to
several persons,
1731-1735.
X X X
1769
ENSAIO sobre o
homem, poema
filosofico de
Alexandre Pope,
traduzido do original
inglez na lingua
portugueza. Por A.
Teixeira.
António
Teixeira (17---
?)
Lisboa Off. Antonio
Vicente da Silva 1ª. 12º
An Essay on
Man. Address’d
to a Friend,
London, 1732-
34.
53 X
DBP, I,
1559), p.
279
474 LOUSADA, Isabel. Para o estabelecimento de uma bibliografia britânica em português, 1554-1900. Tese (Doutorado) – Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1998. 475 RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil.
Volume Primeiro, 1495-1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992. 476 SILVA, Inocêncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez, estudos de Innocencio Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil. Lisboa: na Imprensa
Nacional, 1858-1862.
166
1785
CARTA de Heloaze a
Abailardo. Tirado de
Pópe. Trad. em port.
? Porto Off. Antonio
Alvarez Ribeiro 1ª. 8
“Eloisa to
Abelard” in The
Works of Mr.
Alexander Pope,
Dublin, 1717.
71 TP, I, 1534), p.
183.). X
1791
ODE de Pope vertida
em lingoagem, feita á
felicidade da Vida.
? Lisboa Off. Antonio
Gomes 1ª. ?
Ode on solitude,
c.1708. 109
(TP, I, 1842), p.
207.) X
1799
O OUTONO ou Hylas
e Egon. Terceira
Ecloga de Pope.
Vertida em
Portuguez. Trad. por
Antonio de Araújo de
Azevedo.
António de
Araújo de
Azevedo,
Conde da
Barca (1754-
1817)
? ? 1ª. ?
Autumn. The
third Pastoral,
or Hylas and
Aegon, to Mr.
Wycherley, 1704.
142 (TP, I, 2168), p.
232.). X
1801 EPISTOLA de
Heloisa a Abailard …
José Anastacio
da Cunha
(1744-1787)
1ª. 4º.
“Eloisa to
Abelard” in The
Works of Mr.
Alexander Pope,
Dublin, 1717.
159 X
(DBP, V,
4453), p.
82.)
1801
EPISTOLA de
Heloysa a Abaylard,
composta no idioma
inglez por Pope e
trasladada em versos
portuguezes por **
Mºs.
José Nicolau
de Massuelos
Pinto (1770-
1825)
Londres
Off. de
Guilherme [W.]
Lane
1ª. X
“Eloisa to
Abelard” in The
Works of Mr.
Alexander Pope,
Dublin, 1717.
160 (TP, I, 2329), p.
246.)
(DBP, V,
4453), p.
82.)
1802 ABUSO das riquezas Lisboa
Off. de Simão
Thaddeo
Ferreira
1ª.
“Of the Use of
Riches” (III-IV
Epistle), in
Moral Essays,
1731-5.
171 (TP, I, 2429), p.
253.).
167
1802
AS LAGRIMAS.
[Armania chora: hum
orgulhoso enfado
anima o seu rosto...].
Tradução de um
poema de Pope em
prosa.
? Lisboa
Off. de Simão
Thaddeo
Ferreira
1ª. X
Não foi
encontrada
correspondência.
172 (TP, I, 2430), p.
253.).
1805
LAGRIMAS de
Armania. Extrahida
do inglez. Pope.
? Lisboa ? 2ª. X
Não foi
encontrada
correspondência.
189 (TP, I, 2626), p.
267.).
1809
EPISTOLA de
Heloisa a Abelardo,
de Pope [Fragmento
da traducção da
primeira ].
Trad. por José
Anastacio da
Cunha (1744-
1787)
Lisboa Impressão Regia 1ª. X
“Eloisa to
Abelard” in The
Works of Mr.
Alexander Pope,
Dublin, 1717.
210 X
1809 ORAÇÃO Universal.
Ode trad. de Pope.
Trad. por José
Anastacio da
Cunha (1744-
1787)]
Lisboa
Imp. Regia
(Vol. I, 123-
125)
1ª. X The Universal
Prayer, 1738. 213
(TP, I, 2853), p.
283.).
1809 A SOLIDÃO. Ode
trad. de Pope
Trad. por José
Anastacio da
Cunha (1744-
1787)]
Lisboa Imp. Regia
(Vol. I, 122) 1ª. X
Ode on Solitude,
c. 1708. 214
(TP, I, 2854), p.
283.).
168
1810
ENSAIO sobre a
critica de Alexandre
Pope. Trad. em port.
pelo Conde de Aguiar.
Com as notas de José
Warton, do
Traductor, e de
outros; e o
Commentario do Dr.
Warburton.
Fernando José
de Portugal,
Conde de
Aguiar (1752-
1817)
Rio de
Janeiro Imp. Regia, 1ª. 8º
An Essay on
Criticism, 1709,
publ., 1711.
228 X
(DBP, II,
118), p.
274.)
1811
ENSAIOS moraes de
Alexandre Pope, em
quatro epistolas a
diversas pessoas,
traduzidos em
portuguez pelo Conde
de Aguiar. Com as
notas de José Warton,
e do traductor.
Fernando José
de Portugal,
Conde de
Aguiar (1752-
1817)
Rio de
Janeiro Imp. Regia, 1ª. 8º
Moral Essays, in
four epistles to
several persons,
1731-1735.
236 X
(DBP, II,
119), p.
274.)
1812
ENSAIO sobre a
critica por A.
[Alexandre] Pope. Por
huma Portugueza.
Ingl. e port.
Marquesa de
Alorna (1750-
1839)]
Londres Off. de T.
Harper 1ª. 8º
An Essay on
Criticism, 1709,
publ., 1711.
251 X (DBP, V,
53), p. 178.)
1815
O INVERNO, ou
Daphne, Quarta
Ecloga de Pope. Á
Memoria de Mrs.
Tempest. [Ingl. e
port.].
Vertida em
Portuguez por
José Maria
Osorio Cabral
(1791- 1857)
Lisboa Imp. Regia 1ª. X
Winter, the
Fourth Pastoral,
or Daphne (to
the memory of
Mrs. Tempest),
1704.
270 TP, I, 3178, P.
306
DBP, V,
4226, P. 46
169
1815
O OUTONO ou
Hylas, e Egon.
Terceira Ecloga de
Pope. A Mr.
Wycherley. [Ingl. e
port.]
Trad. por José
Pedro
Quintella
Lisboa Imp. Regia 1ª.
Autumn. The
third Pastoral,
or Hylas and
Aegon, to Mr.
Wycherley, 1704.
271 (TP, I, 3179), p.
306.)
(DBP, V,
pág. 91.).
1817
ENSAIO sobre o
homem, poema
filosofico de
Alexandre Pope,
traduzido do original
inglez na lingua
portugueza. Por A.
Teixeira.
[António
Teixeira (17---
?)
Lisboa
Of. Francisco
Baptista de
Oliveira
Mesquita (o
‘Mechas’),
2ª 8º
An Essay on
Man. Address’d
to a Friend,
London, 1732-
34.
53 TP, I, 3324, P.
315
(DBP, I,
1559), p.
279.
1817
Carta de Heloize a
Abailardo, In Contos
moraes para
entretimento [sic], e
instrucçaõ das pessoas
curiosas. Extrahidos
dos melhores
Auctores, que tem
tractado desta
materia.
? Lisboa Typ.
Rollandiana 2ª 8º
“Eloisa to
Abelard” in The
Works of Mr.
Alexander Pope,
Dublin, 1717.
71 (TP, I, 3279), p.
313.). X
1819 CARTA de Heloisa a
Abaelardo.
José Anastácio
da Cunha Lisboa Imp. Regia 1ª. 8º
“Eloisa to
Abelard” in The
Works of Mr.
Alexander Pope,
Dublin, 1717.
292 (TP, I, 3555), p.
331.) X
1819 CARTA de Heloisa a
Abeilard ? Lisboa,
Off. Joaquim
rodrigues
d'Andrade
1ª. 8º
“Eloisa to
Abelard” in The
Works of Mr.
Alexander Pope,
Dublin, 1717.
293 (TP, I, 3554), p.
331.)
170
1819
ENSAIO sobre o
homem de Alexandre
Pope, traduzido verso
por verso por
Francisco Bento
Maria Targini, Barão
de São Lourenço […]
dado a luz por huma
sociedade litteraria da
Graõ-Bretanha.
Francisco
Bento Maria
Targini, Barão
de S.
Lourenço
(1756-1827)
Londres, Off. Typ. de C.
Whittingham 1ª.
4º (3
volumes)
An Essay on
Man. Address’d
to a Friend,
London, 1732-
34.
294 (TP, I, 3556), p.
331.),
(DBP, II,
597), p.
352.)
171
FONTES
FONTES MANUSCRITAS
ARQUIVO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Índice de Alunos da Universidade de
Coimbra. PT/AUC/ELU/UC-AUC/B/001-001/P/007798. Fernando José de
Portugal e Castro (D.).
BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO (doravante, BNRJ). Manuscritos, I-
31, 21, 34, docs. 1 e 2. Informaçam da Bahia de Todos os Santos (1797). Cópia
oficial, precedida de um aviso original de d. Rodrigo de Souza Coutinho de 26 de
Setembro de 1798 dirigido a d. Fernando José de Portugal.
BNRJ. Manuscritos, I-31,30,101. Aviso de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, dirigido a D.
Fernando José de Portugal, comunicando que este foi nomeado vice-rei e capitão
general de terra e mar do Estado do Brasil, e Francisco da Cunha e Meneses para
lhe suceder no governo da Bahia. Lisboa, 28/03/1800.
BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,12. Diogo Borel. Carta ao Conde
de Aguiar. Lisboa, 30/10/1812.
BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,13. Diogo Borel. Carta ao Conde
de Aguiar. Lisboa, 11/09/1813.
BNRJ, Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, I-4,17,98. Diogo Borel. Facture dos
Livros q. remete ao Exmo. Snr. Conde de Aguiar.
PERIÓDICOS
As Variedades, nova publicação litteraria... Vol. IV, n.º XIX, 1802.
Correio Braziliense, ed. 5, 1810.
Correio Braziliense, vol. VIII, 1812.
Gazeta de Lisboa, nº. 206, sexta-feira, 30 de agosto de 1811.
Idade D’Ouro do Brazil, nº. 101, terça-feira, 23 de dezembro de 1817.
Idade D’Ouro do Brazil, nº. 76, sexta-feira, 26 de setembro de 1817.
172
Jornal de Coimbra, nº. II, fevereiro de 1812.
Jornal de Coimbra, nº. IX, novembro de 1812.
Jornal de Coimbra, nº. IX, setembro de 1812.
Jornal de Coimbra, nº. XXVIII, Parte II, abril de 1814.
Jornal de Coimbra, nº. XXXV, Parte II, 1815.
Jornal de Coimbra, nº. XXXVI, Parte II, 1815.
O Investigador Portuguez em Inglaterra ou Jornal Literario, Politico, etc., julho de 1813.
O Patriota, jornal litterario, politico, mercantil etc. do Rio de Janeiro, nº. 3, março, 1813.
O Patriota, jornal litterario, politico, mercantil etc. do Rio de Janeiro, nº. 5, maio, 1813.
FONTES IMPRESSAS
Obras de Alexander Pope
CARTA de Heloisa a Abaelardo. Lisboa: Impressão Régia, 1819.
CARTA de Heloísa a Abeilard. Lisboa: Officina de Joaquim Rodrigues d’Andrade, 1819.
ENSAIO sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas
de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio
de Janeiro: Impressão Régia, 1810.
ENSAIO sobre o Homem de Alexandre Pope, traduzido verso por verso por Francisco
Bento Maria Targini, Barão de São Lourenço... 3 tomos. Londres: na Officina
Typographica de C. Whittingham, 1819.
ENSAIO sobre o Homem, poema filosófico de Alexandre Pope, traduzido do original
inglez na Língua Portugueza por A. Teixeira. Lisboa: Na Officina de Antonio
Vicente da Silva, 1769.
ENSAIO sobre o Homem, poema filosófico de Alexandre Pope. Traduzido do original por
A. Teixeira. Lisboa: Na Typografia Rollandiana, 1817.
173
ENSAIOS Moraes de Alexandre Pope em Quatro epístolas a diversas pessoas traduzidos
em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, e do Traductor.
Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1811.
EPISTOLA de Heloyza a Abaylard, composta no idioma inglez por Pope, e traslada em
versos portugueses por * * Mos. Londres: Na Officina de Guilherme Lane, Rua de
Leadenhall, 1801.
POETICA de Horatio, e o Ensaio sobre a Critica, de Alexandre Pope. Em Portuguez.
Dedicado a preciosa Memoria d’el Rey, D. João IV. Por huma Portugueza.
Londres: Na Officina de T. Harper, 1812.
POPE, Alexander. Epitaph Intended for Sir Isaac Newton In Westminster-Abbey. In:
POPE, Alexander; ROGERS, Pat (org.). Alexander Pope. The Major Works.
Including The Rape of The Lock and the Dunciad. Nova York: Oxford University
Press, 2008.
THE WORKS of Alexander Pope, Esq. in Nine Volumes, complete. With Notes and
Illustrations by Joseph Warton, D. D. and others. London: Printed for B. Law, J.
Johnson... 1797.
THE WORKS of Alexander Pope, Esq. in verse and prose ... by the Rev. William Liles
Bowles, A. M.... in ten volumes. London: Printed of J. Johnson, J. Nichols and Son...
1806.
Obras Gerais
AGOSTINHO, Santo. Confissões... Traduzido na língua portuguesa por um devoto.
Lisboa: Régia Officina Typográfica, 1783.
ALBUQUERQUE, Sebastião José Guedes e. Arte de Traduzir de Latim para Portuguez,
reduzida a princípios oferecida ao illustríssimo senhor D. Francisco de Sales e
Lencastre, por Sebastião José Guedes e Albuquerque. Lisboa: Impressão Regia,
1818.
BARBOSA, Jerônimo Soares. Prefação. Instituições Oratórias de M. Fabio Quintiliano
escolhidas dos seus XII livros, traduzidas em linguagem ... por Jeronymo Soares
174
Barboza, ... Segunda edição correcta e emendada. Tomo Primeiro. Paris: Livraria
Portuguesa de J. P. Aillaurd, 1836.
BIBLIOTHECA LUSITANA, Histórica, Crítica, e Chronologica, na qual se comprehende
a notícia dos Authores Portuguezes, e das Obras, que se compozerão desde o tempo
da promulgação da Ley da Graça até o tempo presente por Diogo Barbosa
Machado. Tomo IV. Lisboa: Na Oficina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno,
1759.
BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico
... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728.
BOAVENTURA, Frei Fortunato de São. Prologo. Quadro da infame Conducta de
Napoleão Bonaparte, para com os diferentes soberanos a Europa desde a sua
intrusão no governo francez, até junho de 1808... Coimbra: Real Imprensa da
Universidade, 1808.
BOCAGE, Manuel Maria de Barbosa Du. Ao Leitor. Eufemia, ou o Triunfo da Religião:
drama de Mr. D’Arnaud, tradutor em versos portugueses por Manoel Maria de
Barbosa Du Bocage. Lisboa: Off. de Simão Thaddeo Ferreira, 1793.
CAMINHA, Antonio Lourenço. Prologo. Lélio ou dialogo sobre a amizade dedicado a
Tito Pomponio Attico. Versão Portugueza, ... seu author Antonio Lourenço
Caminha, Professor Régio de Rhetorica, e Poetica. Lisboa: Oficina de Francisco
Luiz Ameno, 1785.
CASTRO, Fernando José de Portugal e. Prefação. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em
portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e
outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia,
1810.
CATÁLOGO das obras impressas no Rio de Janeiro, que se achão de venda em Lisboa,
na loja de Paulo Martin e Filhos n. 6 defronte do chafariz do Loreto. Lisboa: na
Nova Officina da Viuva Neves & Filhos, 1812.
CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de La Mancha. Edição Ilustrada por Gustavo
Doré. 2 v. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2016.
COLLECÇÃO das Leis do Brazil de 1808. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891.
175
COLLECÇÃO de Poesias Ineditas dos Melhores Autores Portuguezes. Lisboa: Impressão
Régia, 1809.
CONTOS MORAES para entretenimento e instrucção das pessoas curiosas. Extrahidos
dos melhores Auctores, que tem tractado desta materia. Lisboa: Typografia
Rollandiana, 1817.
CONTOS MORAES para entretenimento e instrucção das pessoas curiosas. Extrahidos
dos melhores Auctores, que tem tractado desta materia. Porto: Officina de Antonio
Alvarez Ribeiro, 1785.
CUNHA, Luís da. Testamento Político ou Carta Escrita pelo grande D. Luiz da Cunha
ao Senhor Rei D. José I. antes do seu Governo ... Lisboa: Impressão Régia, 1820.
DACIER, Anne Le Fevre. Reflexões sobre a primeira parte do prefácio do Sr. Pope à
Ilíada de Homero. Tradução de Claudia Borges de Faveri. Scientia Traductionis.
Florianópolis, n.10, 2011.
DICCIONARIO de Lingua Portugueza recopilado dos vocabulários impressos até agora,
e nesta segunda edição novamente emendado, e muito acrescentado, por Antonio
de Moraes Silva, natural do Rio de Janeiro... 2 t. Lisboa: Typographia Lacerdina,
1813.
DISSERTAÇÃO SOBRE O ESTADO RELIGIOSO. Em que se mostra qual he o seu
espírito, qual a sua origem, os seus progressos... Composta na língua Franceza
Pelo Abbade de B.***, e pelo Abbade de B. B. *** Traduzida na Portugueza Por
Hum Amigo da Verdade. Lisboa: Off. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 1786.
DIVERTIMENTOS militares, obra agradável e instructiva, utilíssima para todos os
militares. Tradução feita e acrescentada por hum amante e zeloso da Pátria.
Lisboa: Officina de Miguel Manescal da Costa, 1762.
DRYDEN, John. Poetry, Prose and Plays selected by Douglas Grant. London: Hart-
Davis, 1952.
ESTATUTOS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA DO ANNO DE 1772. Livro II dos
Cursos Jurídicos das Faculdades de Canones, e de Leis. Lisboa: Regia Officina
Typografica, 1773.
176
FIGUEIREDO, Antonio Pereira de Figueiredo. Prefação. O Novo Testamento de Jesu
Christo, traduzido em portuguez segundo a Vulgata ... por Antonio Pereira de
Figueiredo, deputado ordinário da Real Meza Censória. Tomo I. que compreende
os evangelhos e S. Mattheus, e S. Marcos. Lisboa: Régia Officina Tipográfica,
1778.
FONSECA, Pedro José da. Prólogo. Arte Poetica de Q. Horacio Flacco. Epistola aos
Pisões, traduzida em portuguez... Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira,
1790.
GUERREIRO, Miguel do Couto. Prefação. Cartas de Ovídio chamadas Heroides,
Expurgadas de toda obscenidade, e traduzidas em Rima vulgar... autor, e traductor
Miguel do Couto Guerreiro. Tomo I. Lisboa: Off. Patr. De Francisco Luiz Ameno,
1789.
INSTITUIÇÃO da Sociedade estabelecida para a subsistencia dos theatros públicos da
Corte. Lisboa: Regia Typografia Silviana, 1771.
JERÔNIMO, São. Epístolas Selectas... Traduzidas na língua vulgar por um theologo
portuguez. Lisboa: Officina de Francisco Luis Ameno, 1784.
JOAQUIM, Pe. António. Orações Principaes de M. T. Cicero Traduzidas na língua
vulgar, e adicionadas com notas e analyses pelo P. Antonio Joaquim da
Congregação do Oratório de Lisboa, em beneficio da Mocidade Portugueza. Tomo
Primeiro. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1779.
LISBONENSE, Vicente. Prefação do Tradutor. Quinctiliano Da Instituição do Orador,
Traduzido, e ilustrado com a explicação das palavras Gregas, e algumas Notas por
Vicente Lisbonense. Tom. I. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1777.
LUSITANO, Cândido. Discurso Preliminar do Traductor. Arte Poetica de Q. Horácio
Flacco, Traduzida e illustrada em Portuguez por Candido Lusitano. Segunda
edição, correcta, e emendada. Lisboa: Officina Rollandiana, 1778.
LUSITANO, Cândido. Dissertaçaõ do Traductor. Athalia, Tragedia de Monsieur Racine,
Traduzida, illsutrada, e oferecida á Serenissima Senhora D. Marianna, infanta de
Portugal, por Candido Lusitano. Lisboa: Officina de Francisco Luiz Ameno, 1762.
177
MATA, José Atónio da. Prólogo. Odes do Poeta Latino Q. Horacio Flacco Traduzidas
literalmente a Lingua Portugueza. Lisboa: Officina de Francisco Luiz Ameno,
1783.
MILTON, John & VILLA, Dirceu (Orgs.). Os Escritos Clássicos Ingleses sobre a
Tradução – 1615-1791. São Paulo: Humanitas, CAPES, 2012.
OBRAS INÉDITAS dos nossos insignes poetas Pedro da Costa Perestrello, coevo do
grande Luis de Camões, e Francisco Galvão, Estribeiro do Duque D. Theodozio, e
do muitos Anonimos dos mais esclarescidos Séculos da Língua Portugueza, ... por
Antonio Lourenço Caminha. Tomo I. Lisboa: na Officina de Antonio Gomes, 1791.
OLIVEIRA, Custódio José de. Prefação. Dionysio Longino Tratado do Sublime
Traduzido da Lingua Grega na Portuguesa por Custodio Jose de Oliveira. Lisboa:
Regia Officina Typografia, 1771.
PAIVA, Manuel Joaquim Henriques de. Prefação. Aviso ao povo a’cerca de sua saúde
por Monsieur Tissot, Doutor em Medicina, e Socio de muitas academias... Lisboa:
Officina de Filippe da Silva e Azevedo, 1786.
SABIO PINILLA, José Antonio; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Manuela (Orgs.). O
Discurso sobre a Tradução em Portugal. O proveito, o ensino e a crítica. Antologia
(c. 1429-1818). Lisboa: Edições Colibri, 1998.
SILVA, Ignacio Accioli de Cerqueira e Memórias históricas e políticas da província da
Bahia. Bahia, Imprensa Official do Estado, 1932.
SILVA, Jorge Miguel Bastos da (Org.). O Discurso sobre a Tradução na Literatura
Portuguesa. Classicismo e Romantismo. Antologia. Porto: Edições Afrontamento,
2015.
THE DICTIONARY Historical and Critical of Mr. Peter Bayle. The Second Edition...
Volume The Fourth. Londres: Pritend for D. Midwinter, ... 1737.
TISSOT, Samuel Auguste David. De la santé des gens de lettres; par M. Tissot. Lausana:
Chez J. F. Bassompierre, 1768.
VASCONCELOS, João Rosado de Vilalobos. Prefação. Os Tres Livros das Instituiiçoens
Rhetoricas de M. Fab. Quintiliano Accomodadas aos que se aplicaõ ao Estudo da
Eloquéncia... Coimbra: Real Oficina da Universidade, 1782.
178
VELOSO, José Marino da Conceição. O Fazendeiro do Brazil... Lisboa: Régia Officina
Typografica, 1798.
VERNEY, Luís António. Verdadeiro Método de Estudar, para ser útil à República e à
Igreja: proporcionado ao estilo, e necessidade de Portugal. Valença, Oficina de
Antonio Belle, 1746.
VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII. v. 2. Salvador: Itapuã, 1969.
179
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OBRAS DE REFERÊNCIA
HARDEN, Alessandra Ramos de Oliveira. Brazilian Translators in Portugal (1785-
1808): Ambivalent Men of Science. 2 vol. Tese (Doutorado) – Dublin, University
College Dublin, 2010.
LOUSADA, Isabel. Para o estabelecimento de uma bibliografia britânica em português,
1554-1900. Tese (Doutorado) – Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1998.
MORAES, Rubens Borba de & CAMARGO, Ana Maria de Almeida (Orgs.).
Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro. v. 1. São Paulo: Edusp;
Kosmos, 1993.
RODRIGUES, António Augusto Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de
resenha cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o
Brasil. Volume Primeiro, 1495-1834. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1992.
SILVA, Inocêncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez, estudos de
Innocencio Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil. Tomo Primeiro.
Lisboa: na Imprensa Nacional, 1858.
SILVA, Inocêncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez, estudos de
Innocencio Francisco da Silva applicaveis a Portugal e ao Brasil. Tomo Quinto.
Lisboa: na Imprensa Nacional, 1860.
VERRI, Gilda Maria Whitaker. Tinta sobre Papel: livros em Pernambuco no século
XVIII. Volume 2, 1769-1807, Catálogo. Recife: Editora Universitária da UFPE,
2006.
OBRAS GERAIS
ABREU, Márcia. Os caminhos dos livros. Campinas: Mercado de Letras; São Paulo:
FAPESP, 2003.
180
ALGRANTI, Leila Mezan. Censura e comércio de livros no período de permanência da
corte portuguesa no Rio de Janeiro (1808-1821). Revista Portuguesa de História,
Coimbra, t. XXXIII, p. 631-663, 1999.
ALMEIDA, Anita Correia Lima de. Aulas régias no império colonial português: o global
e o local. In: LIMA, Ivana Stolze & CARMO, Laura do (Orgs.). História Social da
Língua Nacional. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 2008.
ANASTÁCIO, Vanda. Nota de investigação sobre a Marquesa de Alorna (1750-1839) e
o Brasil. Navegações, v. 5, n. 1, jan./jun. 2012.
ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de. Modalidades de Leitura das Luzes no Tempo de
Pombal. Separata da Revista de História, Centro de História da Universidade do
Porto, Porto, Vol. X, 1990.
ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. Lisboa:
Livros Horizonte, 2003.
ASTUTI, Guido. O absolutismo esclarecido em Itália e o Estado de Polícia. In:
HESPANHA, Antonio Manuel (Org.). Poder e instituições na Europa do Antigo
Regime. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.
BAINES, Paul. The Complete Critical Guide to Alexander Pope. Londres: Routledge,
2000.
BARNARD, John (Ed.). Alexander Pope: The Critical Heritage. Londres: Taylor &
Francis e-Library, 2005.
BARROS, Jerônimo Duque Estrada de. Impressões de um tempo: a tipografia de Antônio
Isidoro da Fonseca no Rio de Janeiro (1747-1750). Dissertação (Mestrado em
História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, 2012.
BLACK, Jeremy. A Subject for Taste: Culture in Eighteenth-century. Londres:
Hambledon and London, 2005.
BONNANT, Georges. Les libraires du Portugal au XVIIIe siècle vus à travers leurs
relations d’affaires avec leurs fournisseus de Genève, Lausanne et Neuchâtel.
Arquivo de Bibliografia Portuguesa, Coimbra, VI, nº. 23-24, 1960.
181
BORGES, Célia Maia. A apropriação e a leitura das obras de Frei Luís de Granada na
Europa Católica – Séculos XVI e XVII. In: FLECK, Eliane Cristina Deckmann &
DILLMANN, Mauro (Orgs.). O universo letrado da Idade Moderna: escritoras e
escritores portugueses e luso-brasileiros, séculos XVI-XIX. São Leopoldo: Oikos,
Editora Unisinos, 2019.
BORGES, Joana Junqueira. Marquesa de Alorna, tradutora de Horácio: Estudo e
comentário da Arte poética. Tese (Doutorado em Estudos Literários) – Faculdade
de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
Araraquara, 2018.
BOUZA, Fernando. Comunicação, conhecimento e memória na Espanha dos séculos XVI
e XVII. Cultura, Revista de História e Teoria das Ideias, Lisboa, v. 19, segunda
série, 2002.
BRAGANÇA, Aníbal. A criação da impressão Régia no Rio de Janeiro: novos aportes.
In: BESSONE, Tânia; SANTOS, Gilda; ALVES; Ida; PINTO, Madalena Vaz;
HUE, Sheila (Orgs.). D. João VI e o oitocentismo. Rio de Janeiro: Contra
Capa/Faperj, 2011.
BURINGH, Eltjo & ZANDEN, Jan Luiten van. Charting the “Rise of the West”:
Manuscripts and Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth
through Eighteenth Centuries. The Journal of Economic History, Cambridge, vol.
69, no. 2, june 2009.
BURKE, Peter & PO-CHIA HSIA, Ronnie (Orgs.). A tradução cultural nos primórdios
da Europa Moderna. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras,
1989.
BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.
CAEIRO, Francisco da Gama. Livros e livreiros franceses em Lisboa, nos fins de
setecentos e no primeiro quartel do século XIX. Separata do Boletim da Biblioteca
da Universidade de Coimbra, Coimbra, vol. 35, 1980.
182
CANAVARRO, Pedro; GUEDES, Fernanda Maria Silva; RAMOS, Margarida Maria
Ortigão; CALADO, Maria Marques. Introdução. In: ____. (Orgs.). Imprensa
Nacional: atividade de uma casa impressora, vol. 1, 1968-1800. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1975.
CANTARINO, Nelson Mendes. Ousando Saber: José Anastácio da Cunha e as Luzes em
Portugal (1744-1787). Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências
Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.
CARDOSO, José Luís & CUNHA, Alexandre Mendes. Discurso econômico e política
colonial no Império Luso-brasileiro (1750-1808). Tempo, Niterói, v. 17, n. 31,
2011.
CARVALHO, José Murilo de. História intelectual no Brasil: a retórica como chave de
leitura. Topoi, Rio de Janeiro, vol.1 no.1 jan./dez. 2000.
CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Editora Unesp, 2014.
CHARTIER, Roger. As Práticas da Escrita. In: CHARTIER, Roger (Org.). História da
Vida Privada, vol. 3. Da Renascença ao Século das Luzes. São Paulo: Companhia
das Letras, 2009.
CHARTIER, Roger. Do livro à leitura. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da
Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.
CHARTIER, Roger. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: Editora
Unesp, 2004.
CHARTIER, Roger. O Mundo como Representação. Estudos Avançados. São Paulo, vol.
5, n.11. jan/abr, 1991.
CHILDRESS, Diana. Johannes Gutenberg and the Printing Press. Minneapolis: Twenty-
First Century Books, 2008.
CIDADE, Hernani. A Obra Poética do Dr. José Anastácio da Cunha. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1930.
CRUZ, Ana Lúcia Rocha Barbalho da & PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Contra
o notório sistema de ignorância artificial: a reforma pombalina da Universidade de
183
Coimbra. In: SANTOS, Antonio Cesar de Almeida (Org.). Ilustração, cultura
escrita e práticas educativas. Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2016.
CRUZ, Miguel Dantas da. Pombal e o Império Atlântico: impactos políticos da criação
do Erário Régio. Tempo, Niterói, v. 20, 2014.
CURTO, Diogo Ramada. D. Rodrigo de Sousa Coutinho e a Casa Literária do Arco do
Cego. In: CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de; CURTO, Diogo Ramada (Orgs.).
A Casa Literária do Arco do Cego (1799-1801): Bicentenário. “Sem livros não há
instrução”. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Biblioteca Nacional, 1999.
DARNTON, Robert. A leitura rousseauista e um leitor “comum” no século XVIII. In:
CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade,
2011.
DARNTON, Robert. Boemia Literária e Revolução. São Paulo: Companhia das Letras,
1987.
DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história:
novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
DARNTON, Robert. O Iluminismo como Negócio. História da Publicação da
Enciclopédia, 1775-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
DARNTON, Robert. O que é história dos livros? In: DARNTON, Robert. O Beijo de
Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
DELMAS, Ana Carolina Galante. “Do mais fiel e humilde vassalo”: uma análise das
dedicatórias impressas no Brasil Joanino. Dissertação (Mestrado em História) –
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
DENIPOTI, Cláudio. Censura e mercê – os pedidos de leitura e posse de livros proibidos
em Portugal no século XVIII. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de
Janeiro, v. 4, n. 2, jul./dez. 2011.
DENIPOTI, Cláudio. Em busca da tradução perfeita: os discursos dos tradutores e
censores portugueses na segunda metade do século XVIII. In: SANTOS, Antonio
Cesar de Almeida (Org.). Ilustração, cultura escrita e práticas culturais e
educativas. Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2016.
184
DENIPOTI, Claudio. Tradutores médicos e a ideia de tradução em Portugal em fins do
século XVIII: o caso dos livros de medicina. História, Ciências, Saúde-
Manguinhos. Rio de Janeiro, vol.24, n.4, 2017.
DENIPOTTI, Claudio. O livreiro que prefaciava (e os livros roubados): os prefácios de
Francisco Rolland e a circulação de livros no Império Português ao fim do século
XVIII. História: Questões & Debates, Curitiba, volume 65, n.1, jan./jun. 2017.
DIAS, Maria Odila Leita da Silva. Aspectos da Ilustração no Brasil. In: DIAS, Maria
Odila Leitura da Silva. A interiorização da metrópole e outros estudos. São Paulo:
Alameda, 2009.
DICKINSON, H. T. The Eighteenth-Century Debate on the ‘Glorious Revolution’.
History. The Journal of the Historical Association. Volume 61, Issue 201, February
1976.
DOMINGOS, Manuela D. Livreiros de Setecentos. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2000.
EDWARDS JR., Mark U. Printing, Propaganda, and Martin Luther. Berkeley:
University of California Press, 1994.
EISENSTEIN, Elizabeth L. A Revolução da Cultura Impressa. Os primórdios da Europa
Moderna. São Paulo: Editora Ática, 1998.
EISENSTEIN, Elizabeth L. The Printing Press as an Agent of Change: Communications
and Cultural Transformations in Early-Modern Europe. 2 v. Cambridge:
Cambridge University Press, 1979.
EISENSTEIN, Elizabeth L. The Printing Revolution in Early Modern Europe.
Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política Econômica e
Monarquia Ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993.
FALCON, Francisco José Calazans. Pombal e o Brasil. In: TENGARRINHA, José
(Org.). História de Portugal. Bauru: Edusc; São Paulo: UNESP; Portugal: Instituto
Camões, 2000.
FARIA, Miguel F. Da Facilitação e da Ornamentação: A Imagem nas Edições do Arco
do Cego. In: CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de; CURTO, Diogo Ramada
185
(Orgs.). A Casa Literária do Arco do Cego (1799-1801): Bicentenário. “Sem livros
não há instrução”. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Biblioteca
Nacional, 1999.
FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri-Jean. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 2017.
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier. Península Ibérica. In: FERRONE, Vincenzo &
ROCHE, Daniel (Eds.). Diccionario Histórico de la Ilustración. Madrid: Alianza
Editorial, 1998.
FERRAZ, Márcia. A classificação das ciências na biblioteca do Conde da Barca.
Circumscribere: International Journal for the History of Science, v. 19, p. 34-49,
jun. 2017.
FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e letra. Introdução à Bibliologia Brasileira. A
Imagem Gravada. São Paulo: EDUSP, 1994.
FURET, François (Dir.). Livre et societé dans la France du XVIIIe. Siécle. 2v. Paris/Haia,
Mutton, 1965-1970.
FURLAN, Mauri. Brevíssima História da Teoria da Tradução no Ocidente - II. A Idade
Média. Cadernos de Tradução. Florianópolis, v. XII, 2005.
FURLAN, Mauri. Brevíssima História da Teoria da Tradução no Ocidente - III. Final da
Idade Média e o Renascimento. Cadernos de Tradução. Florianópolis, v. XIII,
2005.
GAMA, Ângela Maria do Monte Barcelos da. Livreiros, editores e impressores em Lisboa
no século XVIII. Arquivo de Bibliografia Portuguesa, Coimbra, XIII, 49-52, 1967.
GARCIA, Rodolfo. O Regimento de Roque da Costa da Barreto e os comentários de D.
Fernando José de Portugal. In: _____. Ensaio sobre a História Política e
Administrativa do Brasil (1500-1810). Rio de Janeiro: J. Olympio; Brasília: INL,
2ª. Ed., 1975.
GASPAR, Gabriel de Abreu Machado. A Luz que vem do Norte: perspectivas
historiográficas sobre a Ilustração Inglesa. Temporalidades – Revista de História,
Belo Horizonte, Edição 28, v. 11, n. 1, set./dez. 2018.
186
GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Cotia: Ateliê Editorial, 2009.
GILLESPIE, Stuart. Translation. In: GRAFTON, Anthony; MOST, Glenn; SETTIS,
Salvatore (Eds.). The Classical Tradition. Cambridge: Harvard University Press,
2010.
GINZURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro
perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
GOULEMOT, Jean Marie. Da leitura como produção de sentidos. In: CHARTIER, Roger
(Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.
GOUVÊA, Maria de Fátima. Fernando José de Portugal. In: VAINFAS, Ronaldo (Dir.).
Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
GRAFTON, Anthony. As origens trágicas da erudição: pequeno tratado sobre a nota de
rodapé. Campinas: Papirus Editora, 1998.
GRAFTON, Anthony. The Importance of Being Printed. The Journal of Interdisciplinary
History, Cambridge, Vol. 11, No. 2, outono, 1980.
GUEDES, Fernando. O Livro e a Leitura em Portugal. Subsídios para a sua história.
Século XVIII-XIX. Lisboa: Editorial Verbo, 1987.
GUIMARÃES, Lúcia Paschoal. Fernando José de Portugal e Castro, conde de Aguiar. In:
VAINFAS, Ronaldo & NEVES, Lúcia Bastos Pereira das (Orgs.). Dicionário do
Brasil Joanino, 1808-1821. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.
HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil: sua história. São Paulo: EdUSP, 2012.
HARDEN, Alessandra Ramos de Oliveira. Os tradutores da Casa do Arco do Cego e a
ciência iluminista: a conciliação pelas palavras. Trabalhos em Linguística Aplicada
(UNICAMP), Campinas, v. 50, 2011.
HARDEN, Alessandra Ramos de Oliveira. Tradução no Arco do Cego: Revelações das
Páginas de Rosto. In: PATACA, Emerlinda & LUNA, Fernando José (Orgs.). Frei
Veloso e a Tipografia do Arco do Cego. São Paulo: Edusp, 2019.
HAZARD, Paul. A Crise da Consciência Europeia, 1680-1715. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2015.
187
HILL, Christopher. O Século das Revoluções, 1603-1714. São Paulo: Editora Unesp,
2012.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Introdução. Obras econômicas de Joaquim José de
Azeredo Coutinho (1794-1804). São Paulo: Companhia Editoria Nacional, 1966.
JANCSÓ, István. Um problema historiográfico: o legado de D. Fernando José de
Portugal. Anais do IV Congresso de História da Bahia. vol. 1. Salvador: Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia / Fundação Gregório de Mattos, 2001.
JASMIN, Marcelo Gantus. História dos conceitos e teoria política e social: referências
preliminares. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, vol. 20, n. 57,
2005.
JOHNSON, Samuel; MULLAN, John (edit.). The Lives of the Poets: A Selection. Nova
York: Oxford University Press, 2009.
KOSELLECK, Reinhart. Uma resposta aos comentários sobre o Geschichtliche
Grundbegriffe. In: JASMIN, Marcelo Gantus & JÚNIOR, João Feres (Orgs.).
História dos Conceitos. Debates e perspectivas. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio,
Edições Loyola, IUPERJ, 2006.
LANGFORD, Paul. Eighteenth-Century Britain. A Very Short Introduction. Oxford:
Oxford University Press, 2000.
LEME, Margarida Ortigão Ramos Paes. Um Breve Itinerário Editorial: Do Arco do Cego
à Impressão Régia. In: CAMPOS, Fernanda Maria Guedes de; CURTO, Diogo
Ramada (Orgs.). A Casa Literária do Arco do Cego (1799-1801): Bicentenário.
“Sem livros não há instrução”. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
Biblioteca Nacional, 1999.
LEÓN, Laila Luna Liano de. William Hogarth e o moderno objeto moral: educação,
moral e gosto na Inglaterra do século XVIII. Dissertação (Mestrado em História) –
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2014.
LEVIN, Orna Messer. A rota dos entremezes: entre Portugal e Brasil. ArtCultura,
Uberlândia, v. 15, n. 27, jul.-dez. 2013.
LIMA, Manuel de Oliveira. D. João VI no Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2006.
188
LIMA, Verônica Calsoni. “Impresso para ser vendido na Crown em Pope’s Head Alley”:
Hanna Allen, Livewell Chapman e a disseminação de panfletos radicais religiosos
durante a Revolução Inglesa (1646-1665). Dissertação (Mestrado em História) –
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de São
Paulo, Guarulhos, 2016.
LISBOA, João Luís. Ciência e Política: Ler nos finais do Antigo Regime. Lisboa:
Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de História da Cultura da
Universidade Nova de Lisboa, 1991.
LUSTOSA, Isabel. O jornalista que inventou o Brasil. Tempo, vida e pensamento de
Hipólito da Costa (1774-1823). Campinas: Editora UNICAMP, 2019.
LYRA, Maria de Lourdes Viana. A Utopia do Poderoso Império. Portugal e Brasil:
bastidores da política (1798-1822). Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994.
MACK, Maynard. Alexander Pope: A Life. New Haven: Yale University Press, 1988.
MAGALHÃES, Pablo Antonio Iglesias. As servinas em Portugal: a rede comercial
intercontinental de livros impressos na Bahia colonial. Topoi, vol. 17, n. 32,
jan./jun. 2016.
MATTOS, Franklin de. A querela do teatro no século XVIII: Voltaire, Diderot, Rousseau.
O que nos faz pensar, Rio de Janeiro, no. 25, 2009.
MATTOSO, Kátia de Queirós. Presença francesa no Movimento Democrático Baiano de
1798. Salvador: Itapuã, 1969.
MAXWELL, Kenneth. A geração de 1790 e a idéia do império luso-brasileiro. In:
MAXWELL, Kenneth (Org.). Chocolates, Piratas e outros Malandros: Ensaios
Tropicais. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
MAXWELL, Kenneth. Pombal e a nacionalização da economia luso-brasileira. In:
MAXWELL, Kenneth (Org.). Chocolates, Piratas e outros Malandros: Ensaios
Tropicais. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
MCKENZIE, Donald Francis. Bibliografia e Sociologia dos Textos. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 2018.
189
MCKENZIE, Donald Francis. Printing and publishing 1557-1700: constraints on the
London book trades. In: BARNARD, John; MACKENZIE, Donald; BELL,
Maureen (Eds.). The Cambridge History of the Book in Britain, vol. 4. Cambridge:
Cambridge University Press, 2002.
MEIRELLES, Juliana Gesuelli. Imprensa e poder na corte joanina: a Gazeta do Rio de
Janeiro (1808-1821). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008.
MEIRELLES, Juliana Gesuelli. Política e Cultura no governo de D. João VI (1792-
1821). Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013.
MILTON, John. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Editora, 2013.
MORAES, Rubens Borba de. A Impressão Régia do Rio de Janeiro: origens e difusão.
In: MORAES, Rubens Borba de & CAMARGO, Ana Maria de Almeida (Orgs.).
Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro. v. 1. São Paulo: Edusp;
Kosmos, 1993.
MUNARO, Luís Francisco. O jornalismo luso-brasileiro em Londres (1808-1822). Tese
(Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade
Federal Fluminense, Niterói, 2013.
NEVES, Guilherme Pereira das Neves. Um mundo ainda encantado: religião e
religiosidade na América Portuguesa ao fim do período colonial. Oceanos. Lisboa,
v. 42, 2000.
NEVES, Guilherme Pereira das. Academias. In: VAINFAS, Ronaldo (Dir.). Dicionário
do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
NEVES, Guilherme Pereira das. Como um fio de Ariadne no intrincado labirinto do
mundo: a ideia do império luso-brasileiro em Pernambuco (1800-1822). Ler
História, Lisboa, no. 39, 2000.
NEVES, Guilherme Pereira das. Do império luso-brasileiro ao império do Brasil (1789-
1822). Ler História, Lisboa, no. 27-28, 1995.
NEVES, Guilherme Pereira das. Em busca de um ilustrado: Miguel Antônio de Melo
(1766-1836). Convergência Lusíada, v. 24, p. 25-41, 2007.
190
NEVES, Lúcia Bastos Pereira das & BESSONE, Tânia Maria. Bookselleres in Rio de
Janeiro. The Book Trade and circulation of Ideas from 1808 to 1831. In: SILVA,
Ana Cláudia Suriani da & VASCONCELOS, Sandra Guardini (Orgs.). Books and
Periodicals in Brazil 1768-1930. A Transatlantic Perspective. Oxford: Legenda,
2014.
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das & GARCIA, Lúcia Maria Cruz. Impressão
Régia. In: VAINFAS, Ronaldo & NEVES, Lúcia Bastos Pereira das (Orgs.).
Dicionário do Brasil Joanino, 1808-1821. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das & NEVES, Guilherme Pereira das. A Biblioteca
de Francisco Agostinho Gomes: a permanência da Ilustração luso-brasileira entre
Portugal e o Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de
Janeiro, n. 425, 2004.
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. As Belas Letras na Livraria de Jean Baptiste
Bompard (1824-1828). História (São Paulo. Online), v. 32, p. 79-98, 2013.
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Comércio de livros e censura de ideias: a
actividade dos livreiros franceses no Brasil e a vigilância da Mesa do Desembargo
do Paço (1795-1822). Ler História, Lisboa, n. 23, 1992.
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais. A cultura política
da Independência (1820-1822). Rio de Janeiro: Editora Revan/Faperj, 2003.
NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial
(1777-1808). São Paulo: Hucitec, 1979.
NOVAIS, Fernando. O Marquês de Pombal, a História e os Historiadores. Revista
População e Sociedade, Porto, Cepese, no.16, Edições Afrontamento, 2008.
OZ-SALZBERGER, Fania. The Enlightenment in Translation: Regional and European
Aspects. European Review of History—Revue europe´enne d’Histoire, Vol. 13, No.
3, 2006.
PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. The Spectator. O Teatro das Luzes. Diálogo
e imprensa no século XVIII. São Paulo: HUCITEC, 1995.
POCOCK, J. G. A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: EDUSP: 2003.
191
POCOCK, J. G. A. Quentin Skinner: a história da política e a política da história. Topoi.
Revista de História. Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, 2012.
POCOCK, J. G. A. The significance of 1688: some reflections on Whig history. In: ____.
The Discovery of Islands. Essays on British History. Cambridge: Cambridge
University Press, 2005.
POMBO, Nívia. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Pensamento e ação político-
administrativa no Império Português (1778-1812). São Paulo: Hucitec, 2015.
PORTER, Roy. Enlightenment: Britain and Creation of the Modern World. London:
Penguin Books: 2000.
PORTER, Roy. The Enlightenment in England. In: PORTER, Roy & TEICH, Mikulás
(orgs). The Enlightenment in National Context. Cambridge: Cambridge University
Press, 1981.
RAEFF, Marc. The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in
Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe: An Attempt at a Comparative
Approach. The American Historical Review, Washington, Vol. 80, n. 5, 1975.
RAVEN, James. The Book Trades. In: RIVERS, Isabel (Ed.). Books and Their Readers
in Eighteenth-century England: New Essays. London, New York: Continuum,
2001.
RICHARDSON, Brian. Print Culture in Renaissance Italy: The Editor and the
Vernacular Text, 1470-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
ROCHE, Daniel. A censura e a indústria editorial. In: DARNTON, Robert & ROCHE,
Daniel (Orgs.). A Revolução Impressa: A Imprensa na França, 1775-1800. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.
ROCHE, Daniel. As práticas da escrita nas cidades francesas do século XVIII. In:
CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade,
2011.
ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan,
1990.
192
SILVA, Andrée Mansuy-Diniz (Org.). D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos,
económicos e financeiros (1783-1811). Lisboa: Banco de Portugal, 1993.
SILVA, Jorge Miguel Bastos da. Milton e Pope em Portugal (Séculos XVIII e XIX): As
traduções de F. B. M. Targini e o contexto da crítica. Cadernos de Tradução,
Florianópolis, v. 1, n. 5, 2000.
SILVA, José Alberto Teixeira Rabelo da. A Academia Real das Ciências de Lisboa (1779-
1834): ciências e hibridismo numa periferia europeia. Tese (Doutoramento em
História e Filosofia das Ciências) – Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa,
Lisboa, 2015.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822): Cultura e
Sociedade. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2007.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A Primeira Gazeta da Bahia: Idade D’Ouro do Brasil.
São Paulo: Editora Cultrix, 1978.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura e sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). São
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura letrada e cultura oral no Rio de Janeiro dos
vice-reis. Editora UNESP, 2013.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Livro e sociedade no Rio de Janeiro: 1808-1821. Revista
de História, São Paulo, v. 46, n. 94, 1973.
SILVESTRE, João Paulo. A tradução do discurso enciclopédico para a língua portuguesa:
barreiras linguísticas e culturais no início do século XVIII. In: MIGUEL, Maria
Augusta et alii (Orgs.). Actas do I Colóquio de Tradução e Cultura. Ponta Delgada:
Universidade dos Açores, 2006.
SKINNER, Quentin. Significação e compreensão na história das ideias. In: ____. Visões
da política: sobre os métodos históricos. Algés: DIFEL, 2005.
SOARES, Luiz Carlos Soares. A Albion Revisitada. Ciência, religião, ilustração e
comercialização do lazer na Inglaterra do século XVIII. Rio de Janeiro: 7Letras,
2007.
193
SOARES, Luiz Carlos. Ciência, religião e ilustração: as academias de ensino dos
Dissidentes Racionalistas inglesses no século XVIII. Revista Brasileira de História,
São Paulo, v. 41, n. 21, p. 173-200, 2001.
SOUZA, Evergton Sales. Antônio Pereira de Figueiredo (1715-1797). Trajetória de um
católico ilustrado. In: FLECK, Eliane Cristina Deckmann & DILLMANN, Mauro
(Orgs.). O universo letrado da Idade Moderna: escritoras e escritores portugueses
e luso-brasileiros, séculos XVI-XIX. São Leopoldo: Oikos, Editora Unisinos, 2019.
SOUZA, Evergton Sales. Igreja e Estado no Período Pombalino. Lusitania Sacra, Lisboa,
no. 23, jan.-jun. 2011.
STONE, Lawrence. The Results of the English Revolutions of the Seventeenth Century.
In: POCOCK, J. G. A. (Ed.). Three British Revolutions. 1641, 1688, 1776.
Princeton: Princeton University Press, 1980.
SUBTIL, José. Pombal e o Rei: valimento ou governamentalização? Ler História, Lisboa,
no. 60, 2011.
THOMAS, Werner; STOLS, Eddy; KANTOR, Iris; FURTADO, Júnia (Orgs.). Um
Mundo Sobre Papel. Livros, Gravuras e Impressos Flamengos nos Impérios
Português e Espanhol. São Paulo: EdUSP, 2014.
VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do Livro no Mundo Luso-brasileiro sob as Luzes:
Reformas, Censura e Contestações. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015.
VIZIOLI, Paulo. Alexander Pope: o Poeta da Razão. In: POPE, Alexander; VIZIOLI,
Paulo (Ed.). Poemas de Alexander Pope. Edição Bilíngue. São Paulo: Nova
Alexandria, 1994.
WATT, Ian. A Ascensão do Romance. Estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São
Paulo: Companhia das Letras, 1990.
WEGNER, Robert. Livros do Arco do Cego no Brasil Colonial. História, Ciências, Saúde
- Manguinhos, Rio de Janeiro, vol. 11, suplemento 1, 2004.
WILKINSON, Alexander S. Vernacular translation in Renaissance France, Spain,
Portugal and Britain: a comparative survey. Renaissance Studies, vol. 29, no. 1,
nov. 2015.