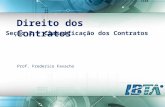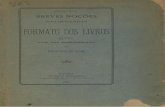A inflação legislativa em matéria de crime organizado no Brasil: Uma análise crítica
Fatores que influem na variação dos valores e dos preços: Elementos para uma teoria da inflação...
Transcript of Fatores que influem na variação dos valores e dos preços: Elementos para uma teoria da inflação...
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
ERIC GIL DANTAS
FATORES QUE INFLUEM NA VARIAÇÃO DOS VALORES E DOS PREÇOS:
ELEMENTOS PARA UMA TEORIA DA INFLAÇÃO EM MARX
João Pessoa
2011
ERIC GIL DANTAS
FATORES QUE INFLUEM NA VARIAÇÃO DOS VALORES E DOS PREÇOS:
ELEMENTOS PARA UMA TEORIA DA INFLAÇÃO EM MARX
Monografia apresentada ao Departamento de
Economia da Universidade Federal da Paraíba,
para obtenção do grau de bacharel em Ciências
Econômicas.
Orientador: Prof. Msc. Lucas Milanez de Lima
Almeida
João Pessoa
2011
Universidade Federal da Paraíba
Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA
Departamento de Economia
Curso de Graduação em Ciências Econômicas
FICHA DE AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA
Comunicamos à Coordenação de Monografia do Curso de Graduação em Ciências
Econômicas (Bacharelado) que a monografia do aluno Eric Gil Dantas, matrícula 10816511,
intitulada , “FATORES QUE INFLUEM NA VARIAÇÃO DOS VALORES E DOS
PREÇOS: ELEMENTOS PARA UMA TEORIA DA INFLAÇÃO EM MARX”. foi
submetida à apreciação da comissão examinadora, composta pelos seguintes professores: Elivan
Gonçalves Rosas Ribeiro e Nelson Rosas Ribeiro, no dia 20/12/2011, às 16 horas, no período letivo de 2011.2.
A monografia foi ________________ pela Comissão Examinadora e obteve nota (_____) (___________________________).
Reformulações sugeridas: Sim ( ) Não ( ).
Atenciosamente,
____________________________________________
Prof. Msc. Lucas Milanez de Lima Almeida
(Orientador)
____________________________________________
Prof. Dr. Nelson Rosas Ribeiro
(Examinador)
___________________________________________
Profª. Drª. Elivan Gonçalves Rosas Ribeiro (Examinadora)
Cientes,
____________________________________________
Prof. Ms. Ademário Félix Coordenador de Monografia
___________________________________________
Prof. Dr. Ivan Targino Chefe do Departamento de Economia
___________________________________________
Eric Gil Dantas
Dedico este trabalho à classe operária
internacional, por ser a única
responsável pela criação de todo o valor
material do qual a humanidade se
sustenta para comer, beber, estudar e
praticar o ócio.
AGRADECIMENTOS
O processo de formação intelectual de um ser humano começa a partir do
momento que se depara com o restante da sociedade. Como primeiras pessoas, e de
extrema importância, agradeço às pessoas que compartilharam o meu cotidiano e
crescimento de mais perto, seja geograficamente, seja temporalmente, no nome de João
Carlos Dantas, Maria de Fátima Gil Dantas, Sheldon Miriel Gil Dantas e Yuri Gil
Dantas.
Dando continuidade, outra pessoa que, apesar de geograficamente a maior parte
de minha vida estar longe, mas influenciou constantemente o meu caráter e ceticismo,
agradeço ao Prof. Dr. Wellington Gomes Dantas, que sempre me instigou o intelecto e
compartilhou meus tempos de morbidade e de felicidade, me ensinando a apreciar de
Nietzsche ao Pink Floyd.
Na Universidade, tive além do Departamento de Economia, mais outras duas
escolas. A primeira, que devo quase toda minha formação na Ciência Econômica, é o
Projeto Globalização e Crise na Economia Brasileira (PROGEB), onde pude crescer no
exercício da teoria marxista e na análise da realidade econômica. Mas como toda
instituição, esta é formada por pessoas, agradeço ao Professor Nelson Rosas Ribeiro,
que sacrificou quase toda a sua vida em prol do desenvolvimento da teoria marxista e
ainda sempre investiu na base, formando novos pesquisadores, possibilitando a
existência deste grupo. Agradeço a Professora Elivan Gonçalves, que me orientou em
monitorias e artigos, sempre acreditando na minha capacidade. Agradeço ao Professor
Lucas Milanez, que aceitou com bastante nobreza a tarefa de me orientar no
desenvolvimento deste trabalho. Agradeço ao Professor Diego Lyra, o primeiro a me
apresentar a teoria econômica marxista, na disciplina de Economia Política I. E também
os demais pesquisadores que me ajudaram a formar este alicerce teórico, como Tatiana
Losano, Rosângela Palhano, Kaio Glauber, Antonio Almeida e Roberta Pereira. A
segunda escola é a do movimento estudantil, que sem este, talvez minha percepção dos
enormes problemas que rondam a nossa sociedade não tivesse chegado ao nível
presente, principalmente aos que compuseram o Centro Acadêmico de Economia gestão
“Amanhã há de ser outro dia” e a Assembleia Nacional de Estudantes – Livre (ANEL),
especialmente à Nathalya Ribeiro, que como prova do companheirismo militante,
traduziu-me o Resumo deste trabalho para a bela língua francesa. E aos colegas e
amigos que também propiciaram uma maior maciez em um caminho tão árduo como os
quatro anos de formação, que extrapolaram a turma de 2008.1 para um conjunto muito
maior.
“O marxismo – que é logicamente uma
ciência objetiva e isenta de juízos de
valor – tornou-se, assim, histórica e
necessariamente o patrimônio dos
representantes daquela classe à qual eles
prometem a vitória como resultado de
suas conclusões científicas. Só nesse
sentido é que o marxismo se revela uma
ciência do proletariado, oposta à
economia burguesa, enquanto, ao mesmo
tempo, se apresente fiel à pretensão de
toda e qualquer ciência: de poder chegar
a resultados de validade universal e
objetiva.” (Rudolf Hilferding)
RESUMO
Por conta da escassez de trabalhos na área de teoria da inflação, no marxismo, este
trabalho tem por finalidade contribuir para o estudo do tema, com a análise dos fatores
responsáveis pela variação dos valores e dos preços, em Marx. Este trabalho analisa os
conceitos e os mecanismos de variação que foram estudados em “O Capital”, de Marx.
Para isto, foram elencadas duas hipóteses, com base nos conceitos gerais de inflação,
como (i) aumento generalizado de preços, e (ii) mudança relativa nos preços. A análise
do desenvolvimento das formas de valor e preço tem por objetivo chegar a conclusão se
é válida, ou não, estas duas hipóteses. Sobre a (i) vimos que esta apenas tem a
consequência de mudança no padrão de preços, não modificando em nada a distribuição
de valor na sociedade; enquanto que na (ii), por algum motivo que faça com que o
mecanismo de taxa média de lucro não funcione, como um setor que seja monopolista,
deverá manter uma redistribuição do valor produzido na sociedade, pois um setor que
tenha entraves a entrada de novos capitais, poderá, por exemplo, manter o nível de
produção abaixo do que a sociedade demanda, para que o preço de mercado desta
mercadoria esteja acima do preço de produção de mercado, sustentando uma
apropriação de um lucro maior do que o dos outros setores, momentaneamente.
Palavras-chave: Teoria Marxista, Inflação, Valor e Preço.
RÉSUMÉ
En raison de la rareté des travaux sur la théorie de l'inflation, dans le marxisme, ce
travail a par finalité contribuer à l'étude du sujet, avec l'analyse des
facteurs responsables de la variation des prix et des valeurs chez Marx. Ce travail
analyse les conceptes et les mécanismes de variation qui ont été étudiés dans « Le
Capital », du Marx. Pour ça, ont été énumérés deux hipotèses, basée sur des
concepts généraux de l'inflation, comme (i) l’augmentation général des prix, e (ii)
variation relative des prix. L'analyse des formes de la valeur et le prix vise à parvenir à
la conclusion que ce soit valide ou non, ces deux hypothèses. Sur la (i) nous avons vu
que ce n'est que la conséquence du changement dans la structure des prix, ne change
rien à la répartition de la valeur dans la société ; alors que dans (ii), pour une raison qui
rend le mécanisme du taux de profit moyen ne fonctionne pas, comme un secteur qui
est monopoliste doit conserver une redistribution de la valeur produite dans la société,
comme un secteur qui a barrières à l'entrée de nouveaux capitaux pourra, par
exemple, maintenir le niveau de production est inférieure à ce que la société exige, que
le prix du marché de ce produit est supérieur au prix du marché de la production,
maintien d'un crédit pour un profit plus élevé que les autres secteurs,momentanément.
Mots-clés: Théorie Marxiste, L’infation, Valeur et Prix.
Sumário
1. Introdução ..................................................................................................... 11
1.1 Problema de Pesquisa .................................................................................................... 14
1.2 Objetivos ....................................................................................................................... 14
1.2.1 Objetivo Geral ................................................................................................... 14
1.2.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 14
2. Metodologia........................................................................................................16
3. A Teoria Marxista ......................................................................................... 18
3.1 O Dinheiro e suas Funções..............................................................................................22
3.2 A Sociedade Capitalista .............................................................................................. 29
3.2.1 O Movimento Cíclico do Capital e o Ciclo do Capital-Dinheiro.......................... 30
3.2.2 A Forma do Valor no Capitalismo.........................................................................31
4. Conclusões ..................................................................................................... 37
5. Referências..................................................................................................... 38
LISTA DE QUADROS
Quadro 01 - Formação do TTSN.....................................................................................20
Quadro 02 - Formação de um novo TTSN......................................................................21
Quadro 03 - Formação do PP e da Taxa de Lucro...........................................................35
11
1. Introdução
Marx não elaborou uma teoria sobre o fenômeno da inflação, ao longo de suas
obras. Uma explicação é a de que este não era um problema contemporâneo a Marx, só
havendo relevância no século XX. No entanto, existem alguns trabalhos de marxistas
sobre o assunto, como Brunhoff (1973 & 1976) e Barbosa (2010).
A inflação é entendida, normalmente, como um aumento generalizado dos
preços. Este fenômeno já aterrorizou várias economias ao longo da história, no entanto,
sempre é diagnosticada de formas diversas, como “inflação de demanda”, que é definida
como uma pressão do lado da demanda agregada, enquanto a produção permanece
constante, acarretando aumento do nível de preço; “inflação de custos”, que tem sua
definição como o aumento do custo de pelo menos um fator, apesar da demanda
permanecer constante, encarecendo a oferta final; “inflação inercial”, que é conceituada
como o fato de a inflação presente ser resultado da inflação passada, tendo a indexação
dos preços uma forma de manifestação, etc. Além de diagnósticos, também existem
várias formas de classificação, como “estagflação”, que se caracteriza como baixo nível
de crescimento da economia, aliada com altas taxas de inflação; a “hiperinflação”, que
se caracteriza por um período que predomina taxas de inflação muito acima do normal1;
etc.
O Brasil teve uma experiência única, em relação à inflação, pois “não existe
registro de país na história econômica mundial que tenha tido 15 anos de inflação acima
de 100% e seis desses anos com inflação em torno de 1000%” (Giambiagi & Barros,
2008, p. 257). O Índice Geral de Preços ao Consumidor (IPCA), calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chegou a atingir 82,39% no mês de março
de 1990. Segundo um estudo do IBGE, chamado de “Estatísticas do Século XX”, o
Brasil teve uma taxa média de inflação anual de 45,2% a.a. Ainda segundo o estudo,
entre 1901 e 2000, o preço dos produtos aumentou 1016
vezes.
1 Considerando os dados e o conceito publicados por Hegedus (1986), o qual “Costuma-se definir
hiperinflação como o processo inflacionário que resulta em aumentos do índice geral de preços em níveis
superiores a cinquenta por cento ao mês.”, alguns exemplos deste tipo de inflação aconteceram em países
como Alemanha (1914-1923), Áustria (1914-1922), Polônia (1914-1924), China (1937-1949), Hungria
(1914-1924; 1945-1946) e Brasil (1989-1990).
12
Por outro lado, nos últimos anos, a taxa de inflação tem girado em torno de
7,25%2. Mas nem por isto o governo deixou de se preocupar com ela. Desde a década
de 1990, as principais medidas econômicas têm se preocupado com a estabilidade dos
preços. Porém, a utilização do diagnóstico genérico da inflação dada pelo mainstream
econômico, a teoria neoclássica, adotadas pelos governos país afora, causam grandes
mazelas às economias. A “causa” que mais se atribui à inflação é a de inflação de
demanda. Este diagnóstico vem da chamada Curva de Phillips, que tem uma de suas
versões (a Friedman-Phelps, ou aceleracionista) explicada da seguinte forma.
Esta versão foi modificada por Friedman (1968) e Phelps (1970) de forma a
gerar-se uma curva de Phillips neoclássica monetarista. Uma política
econômica buscando o pleno emprego, com uma maior oferta de moeda,
realmente poderia aumentar a renda nominal (o nível de preços e/ou a produção) no curto prazo. No entanto, se esta política exceder as
necessidades monetárias da taxa de crescimento da renda real de equilíbrio de
longo prazo, a inflação eliminará qualquer estímulo adicional à produção.
Entretanto, no curto prazo, os estímulos à produção com menores taxas de
juros e maiores preços elevam a demanda por mão-de-obra, o que permitiria
um aumento de salários nominais. A teoria pressupõe a existência de ilusão
monetária por parte dos trabalhadores, de forma que estes perceberiam o
aumento nominal como um aumento real de salários, e com isto elevariam a
oferta de mão-de-obra. Os empresários só aumentariam o emprego com
salários reais menores, os quais os trabalhadores não percebem, visto que a
oferta de trabalho dependeria não do salário real efetivo, mas do salário real
esperado (segundo Friedman) ou do salário nominal relativo (segundo Phelps). Como resultado do aumento da oferta e da demanda de mão-de-obra,
a curva de Phillips de curto prazo se deslocaria para a esquerda (de CP1 para
CP2, no gráfico 2). No entanto, quando os trabalhadores se desfazem de sua
ilusão monetária e percebem que os preços também se elevaram e que, apesar
dos aumentos nominais, os salários reais não cresceram, diminuem
novamente sua oferta de mão-de-obra, o que faz a curva de Phillips se
deslocar de volta para a direita. Dessa forma, depois de algum tempo, os
impactos reais sobre a produção e a renda e sobre o emprego revelam-se
nulos. O aumento do estoque de moeda levaria somente a maiores salários
nominais e a um nível de preços acrescido, mas com salários reais constantes.
Desta forma, no longo prazo, ou seja, quando não existe frustração de expectativas, não ocorre o tradeoff inflação-desemprego e a taxa de
desemprego não pode ser rebaixada de um certo patamar, fazendo com que a
curva de Phillips se torne vertical. (Dathein, 2002)
O Banco Central do Brasil (BCB) adotou, a partir do ano de 2011, um novo
modelo matemático para fazer previsões sobre a economia brasileira, sendo a inflação
uma de suas principais variáveis, o Stochastic Analytical Model with a Bayesian
Approach (SAMBA). Além deste, o BCB vinha adotando outros modelos: os de
Vetores Autoregressivos – VARs, que são modelos com maior fundamentação
2 Com base no cálculo da média do IPCA divulgado entre 2000 e 2010.
13
estatística; modelos semiestruturais de pequeno porte; e modelos semiestruturais de
médio porte3.
Diversos efeitos danosos à economia brasileira podem ser constatados, em
decorrência da adoção de políticas baseadas na teoria neoclássica, para controle da
inflação. Estas políticas acarretam um nível elevado de taxa básica de juros, a maior
taxa básica de juros reais do mundo4; (i) aumento da dívida pública, através do aumento
dos juros pagos pelo Tesouro Nacional aos possuidores dos títulos da dívida, (ii) a
diminuição de investimentos produtivos, pois aplicar no mercado especulativo torna-se
mais atrativo à encarar pesadas taxas de juros para produzir no setor industrial, e (iii) a
apreciação do Real, pois com a grande diferença da taxa de juros pagas nos títulos
brasileiros, relativamente aos de outros países, principalmente os desenvolvidos, que
atualmente flutuam próximos a uma taxa real de juros igual a zero, muitos dólares
entram no país para especulação e se reduz a taxa de câmbio, com isto torna-se mais
barato importar, prejudicando a indústria nacional.
O grande problema econômico causado por isto – mais especificamente pelos
pontos (ii) e (iii) – é a desindustrialização. Entendendo este fenômeno como sendo a
substituição do consumo dos produtos nacionais necessários à reprodução interna, por
consumo de produtos produzidos no exterior. Este processo leva a indústria nacional a
ter um espaço cada vez menor na produção, transferindo a demanda do país por bens de
consumo e meios de produção para outros países, no caso atual, uma crescente parcela
para a China5.
Mas será que as medidas utilizadas, hoje, para a estabilização da inflação são
realmente necessárias? Estas medidas, baseadas nos diagnósticos adotados, estão
servindo para eliminar a doença, ou está causando a morte do paciente? Apenas com o
estudo de como diagnosticar tal fenômeno é que poderemos entender qual dos dois
processos estamos a contemplar.
3 Informações divulgadas pelo próprio BCB, em seu Relatório da Inflação de Junho de 2011. 4 Atualmente, segundo Fagnani (2011), o Brasil tem 6,8% de taxa básica de juros reais. O Chile, que
ocupa a segunda colocação, pratica uma taxa real de juros de 1,5%. 5 “O coeficiente de penetração das importações (importações / consumo aparente) aumenta, de forma
praticamente contínua, de 11,0% em 2002 para 11,5% em 2003 e 16,4% em 2010 [no Brasil].”
(Gonçalves, 2010, p. 8)
14
Tendo em vista a relevância deste tema, e que as sequelas dessas políticas
podem trazer graves problemas à produção, na renda e no emprego, o presente trabalho
propõe-se a estudar, sob a ótica de uma teoria alternativa, os fatores que influem no
processo de formação dos valores e dos preços, com a finalidade de identificar possíveis
efeitos e causas do fenômeno da inflação.
1.1 Problema de Pesquisa
Tradicionalmente, tem-se dito que o “aumento geral nos preços é chamado
inflação” (Mankiw, 2008, p. 57). No entanto, a teoria do valor trabalho desenvolvida
por Marx nos dá indícios de que este é um diagnóstico que não perpassa o mistificador
mundo das aparências. Diante disto, duas hipóteses se apresentam para nós: a de que a
inflação é causada por (i) uma mudança no padrão de preços, que corresponde a uma
mudança generalizada e proporcional em todos os preços; e de que ela é causada por (ii)
uma mudança generalizada nos preços relativos, ou seja, alteração na proporção em que
se trocam as diferentes mercadorias. Ao longo do trabalho estas duas hipóteses serão
analisadas, com base na teoria marxiana, com a pretensão de investigar qual delas pode
contribuir, de fato, para o fenômeno da inflação.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
- Encontrar elementos dentro da obra O Capital que possam contribuir para a
formulação de uma teoria marxiana sobre o fenômeno da inflação.
1.2.2 Objetivos Específicos
- Buscar referências, dentro d’O Capital, sobre o tema;
- Apresentar o conceito de valor, segundo Marx;
15
- Analisar o processo de desenvolvimento das formas do valor e a teoria da
gênese do dinheiro, em Marx;
- Investigar, do ponto de vista teórico, se a inflação é causada por uma
mudança generalizada de preços ou se uma mudança relativa.
16
2. Metodologia da Pesquisa
Este trabalho tem como essência a busca e sistematização de formulações
teóricas. Por este motivo, será organizado de forma distinta do que os manuais de
Metodologia recomendam, com um ponto de “desenvolvimento” (ou de resultados)
separado da “fundamentação teórica”. Por a fundamentação teórica estar intimamente
ligada ao debate no qual pretendemos entrar, seria metodologicamente ineficiente a
separação de ambos em dois pontos.
Assim, faremos a discussão simultaneamente com a apresentação dos conceitos
marxianos.
Para o presente trabalho foram lidos, principalmente, os três livros de “O
Capital”, Livro I: O Processo de Produção do Capital, Livro II: O Processo de
Circulação do Capital, e o Livro III: O Processo Global de Produção Capitalista. Destes
foram utilizados diretamente os capítulos: (I) A Mercadoria; (II) O Processo de Troca;
(III) O Dinheiro ou a Circulação das Mercadorias; (IV) Como o Dinheiro se Transforma
em Capital; todos do livro I; e (I) Preço de Custo e Lucro; (II) A Taxa de Lucro; (III)
Relação Entre a Taxa de Lucro e a de Mais-Valia; (IV) A Rotação da Taxa de Lucro;
(VIII) Diferentes Composições do Capital nos Diversos Ramos e Consequentes
Diferenças na Taxa de Lucro; (IX) Formação de Taxa Geral de Lucro (Taxa Média de
Lucro) e Conversão dos Valores em Preços de Produção; (X) Nivelamento, Pela
Concorrência, da Taxa Geral de Lucro. Preços e Valores de Mercado. Superlucro;
ambos do Livro III. Já sobre o que Marx trata no Livro II, preferimos utilizar a obra de
Ribeiro (2009), O Capital em Movimento: Ciclos, Rotação, Reprodução. Esta escolha
foi feita por entendermos que esta obra possui um caráter mais didático dos conceitos
apresentados, no Livro II d’O Capital.
Além destes, ainda foram lidos outros autores que explanaram sobre o tema,
como nos referimos no ponto de introdução, a Suzanne de Brunhoff (1973 & 1976),
com A Política Monetária: Um Ensaio de Interpretação Marxista, e A Moeda em Marx,
respectivamente; e o Gabriel Oliveira Barbosa (2010) com sua dissertação intitulada de
Marx e a Inflação – Uma Interpretação do Fenômeno com Base na Teoria do Valor
17
Trabalho. No entanto, visto que ambos os trabalhos não encerraram o debate sobre este
tema, vimos necessários nossos esforços para esta colaboração à teoria marxista.
Para que o leitor não confunda os conceitos marxianos com as conclusões por
nós tiradas, acerca da teoria de Marx, sempre que as conclusões chegadas neste trabalho
forem as do próprio Marx, serão explicitadas que foram conclusões dele, enquanto que
forem nossas conclusões, serão especificadas como nossas. Apesar de uma análise
estática, para que este estudo seja melhor compreendido, devemos lembrar que o
método marxista é dialético, que “o método dialético entende que fenômeno algum da
natureza pode ser compreendido, se o focalizamos isoladamente” (Rosental, 1951, p.
47). Então devemos entender que uma mudança em dado momento terá como
conseqüência uma série de eventos, não se encerrando nas primeiras reações por nós
demonstradas.
18
3. A Teoria Marxista
Para Marx, a forma elementar da riqueza, no modo de produção capitalista
(MPC), é a mercadoria. A mercadoria se apresenta como o produto do trabalho humano,
na sociedade.
Esta, por sua vez, é formada pelo par, valor (V) e valor-de-uso (VU). O trabalho
contido na mercadoria, como todo trabalho humano, possui um duplo aspecto, o
primeiro é de ser trabalho concreto, ou seja, o trabalho que dá forma e utilidade a uma
determinada mercadoria, produção de novos VU para as mercadorias, dando o caráter
qualitativo, seja seu aspecto, cor, sabor, consistência, cheiro, etc., enfim, sua forma
material. O segundo é de ser trabalho abstrato, a “massa pura e simples do trabalho
humano em geral, do dispêndio de força de trabalho humana, sem consideração pela
forma como foi despendida.” (Marx, 2006, p. 60), o qual constitui o V. A quantidade de
trabalho abstrato é medida pelo seu tempo de duração (hora, dia, etc.), intensidade e
complexidade. O fruto do trabalho concreto é o VU, enquanto que do trabalho abstrato é
o V.
Mas se nas mercadorias, o V e o VU formarem apenas uma unidade, estes serão
um produto para o auto-consumo, e não serão mercadorias. Vejamos como uma
contradição interna a mercadoria se desenvolve, pelo fato de estarem o valor e o valor-
de-uso em constante oposição. Se o produtor P1 produz uma mercadoria A, será um
não-VU para ele, pois não há auto-consumo, com isto V está apenas na sua forma ideal.
Para o produtor, sua mercadoria contém seu trabalho, o esforço deste indivíduo nela
corporificada, mas que não é riqueza para este justamente por não poder ser consumida
pelo próprio produtor. Como esta mercadoria é um não-VU para P1, este produtor
deverá se encaminhar ao mercado, para procurar um P2, que possuirá outra mercadoria
que também será um não-VU para P2, e assim poderá haver uma troca entre os
produtores, com as duas mercadorias, a qual resolverá a contradição, pois cada produtor
poderá consumir o VU da nova mercadoria. Por o V de uma mercadoria não poder se
19
manifestar em seu próprio corpo, não ser riqueza para seu próprio produtor e por não ser
VU para ele, como foi dito, há necessidade da troca, haverá a necessidade do V assumir
a forma de VT.
O valor-de-troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores-de-
uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, relação que muda constantemente no tempo e no espaço. [...] Os valores-de-troca vigentes da
mesma mercadoria expressam, todos, um significado igual; segundo: o valor-
de-troca só pode ser a maneira de expressar-se, a forma de manifestação de
uma substância que dele se pode distinguir. (Marx, 2006, 58-59)
As mercadorias deverão ter alguma forma de se quantificarem, pois a troca
deverá ser entre iguais, e não entre desiguais. Mas, como coisas distintas podem ser
equiparadas? Não pode ser por suas qualidades, já que, sob este aspecto, são
heterogêneas. A única coisa que elas têm em comum é o fato de serem fruto do trabalho
abstrato. Para isto, o V deverá se manifestar, para assim deixar de ser algo abstrato, e ser
algo mensurável. A manifestação do V chamamos de valor-de-troca (VT). Esta
manifestação se dá no mercado, pois a manifestação deste V não pode se dá no seu
próprio corpo, e sim em um externo a ele.
Como já vimos, o V contido em uma determinada mercadoria é dado pela
quantidade de trabalho despendido para a sua produção. No entanto, dada a
heterogeneidade dos produtos, isto pode dar a falsa impressão de que quanto mais
preguiçoso ou inábil um produtor, mais V sua mercadoria terá, e assim, maior será sua
recompensa, ao ser vendida. No entanto, o valor individual (VI) – dado pelo tempo,
intensidade e complexidade do trabalho individual – da mercadoria não é a reconhecida
pela sociedade. Para este controle, a sociedade cria espontaneamente um parâmetro
geral, o que Marx denominou de tempo de trabalho socialmente necessário (TTSN).
Definindo mais precisamente, tempo de trabalho socialmente necessário é o
tempo de trabalho requerido para produzir-se um valor-de-uso qualquer, nas
condições de produção socialmente normais existentes e com o grau social
médio de destreza e intensidade do trabalho. (Marx, 2006, p. 61)
Com isto, o V a ser considerado na sociedade será o valor de mercado (VM).
“Revela considerar como valor de mercado o valor médio das mercadorias produzidas
num ramo, ou o valor individual das mercadorias produzidas em condições médias do
ramo e que constituem a grande massa de seus produtos.” (Marx, 1983, p. 202).
20
Consideremos, a título de exemplificação, cinco produtores de sapatos, com
condições de produção diferentes, supondo que cada um deles possui uma destreza
distinta para a produção desta mercadoria. O tempo de trabalho de cada um representará
o quanto foi gasto para produzir um par de sapatos. Para esta sociedade a submeteremos
a três hipóteses: (i) só há uma classe, a de produtores de mercadorias (chamemo-los de
Pi); (ii) os produtores são iguais e independentes; e (iii) não há entraves às trocas de
mercadorias. Com isto, decorre-se que toda a produção será para o mercado, que não
existirá auto-consumo e que haverá certa divisão do trabalho.
Quadro 01 – Formação do TTSN
Produtores
Tempo de
trabalho individual
em horas TTSN
P1 1 3
P2 2 3
P3 3 3
P4 4 3
P5 5 3
Vejamos que o produtor médio é P3, que produz exatamente o equivalente ao
TTSN. Os produtores P1 e P2 são produtores com maiores níveis de destrezas, sendo
premiados por se apropriarem de valor que eles não produziram. Este valor será
apropriado dos produtores menos eficientes, neste caso P4 e P5.
Com isto, podemos analisar a primeira forma transmutada do valor, o processo
de transmutação de valor individual em valor de mercado. Isto ocorre por causa de um
mercado que redistribui a massa de valor, punindo os menos ineficientes e beneficiando
os mais.
Podemos concluir, aqui, que há incentivos para que os produtores sejam
eficientes, para apropriarem-se do valor criado por outros produtores ineficientes. Esta
matriz de incentivos pode ser explicada por este movimento de busca por a apropriação
de um valor maior do que o criado pelo próprio produtor.
Sabendo que, do ponto de vista estatístico, os tempos de trabalho individuais
de um ramo de produção formam uma população, podemos dizer que temos
21
também uma média e uma mediana desses tempos. A média seria equivalente
ao tempo de trabalho socialmente necessário à produção da mercadoria, ou
seja, ao seu VM. Já a mediana equivale ao tempo de trabalho que divide
exatamente à meio esta população. Quando a média está acima da mediana
significa que o VM está sendo determinado pelas mercadorias produzidas nas
piores condições, as quais tem maior peso no total. [...] Já quando a média
está abaixo da mediana significa que o VM está sendo determinado pelas
mercadorias produzidas nas melhores condições. [...] Por sua vez, quando a
média for igual à mediana, os dois extremos se compensam. (Ribeiro & Almeida, 2011, p. 10-11)
Mas o VI de uma mercadoria não é eterno, ele muda de acordo com a
produtividade do trabalho, que consideraremos com base em Marx (2006), como sendo
a relação entre a quantidade de mercadorias produzidas, e a quantidade de trabalho
despendido para a sua produção. Marx explica que “a grandeza do valor de uma
mercadoria permaneceria, portanto, invariável, se fosse constante o tempo de trabalho
requerido para sua produção. Mas este muda com qualquer variação na produtividade
(força produtiva) do trabalho.” (Marx, 2006, p. 62). Ela está associada a fatores como:
(i) desenvolvimento da ciência e sua aplicação tecnológica; (ii) a destreza média dos
trabalhadores; (iii) a organização do processo produtivo; (iv) o volume e a eficácia dos
meios de produção; e, em alguns casos, (v) as condições naturais.
Vejamos um exemplo da variação do VI consequente de uma variação da
produtividade do trabalho de P4, que passou de um tempo de trabalho individual de 4
horas, para o de 2 horas, mantendo o restante dos produtores com as suas respectivas
produtividades constantes, e como esta influenciará na formação do VM.
Quadro 02 – Formação de um novo TTSN
Produtores
Tempo de
trabalho
individual
em horas TTSN
P1 1 2.6
P2 2 2.6
P3 3 2.6
P4 2 2.6
P5 5 2.6
Com o aumento da produtividade do P4, o TTSN passou de 3 horas para 2,6
horas, fazendo com que o P4 agora se aproprie de valor não produzido por ele mesmo,
22
deixando apenas os produtores 3 e 5, como produtores ineficientes, que transferem valor
gerado por eles, para os mais eficientes, que agora são P1, P2 e P4.
Esta é a primeira forma, por nós constatada, da variação do valor de mercado,
através da mudança dos valores individuais, fazendo com que certos produtores variem
os valores, por conta do incentivo de apropriar-se de valor não gerado por eles próprios,
como demonstrado mais acima. Este movimento acarretará na mudança no VM, pois
como o TTSN é calculado pela média dos valores individuais, a mudança em um deles,
poderá modificar também esta média.
3.1 O Dinheiro e suas Funções
Diante da necessidade do valor assumir a forma de valor-de-troca, Marx, no
Livro I, Capítulo 1, Ponto 3, demonstra, de maneira lógica, como se desenvolveram as
formas do valor, partindo da forma fortuita do valor até a forma dinheiro do valor.
Em uma sociedade de trocas desenvolvida, há a necessidade do surgimento de
um equivalente geral, uma mercadoria que sirva de base para ser forma do V de todas as
mercadorias produzidas. Ao longo da história, foram observadas diversas mercadorias
que se tornaram equivalente geral, como o sal, o gado, açúcar, etc.
Quando a função de equivalente geral se limita a apenas uma mercadoria,
reconhecida por toda a sociedade - por sua forma natural ser bastante desejável pela
maioria e se identificar com as características necessárias para uma equivalente geral,
tendo alto TTSN, durabilidade, divisibilidade, etc. -, torna-se mercadoria-dinheiro, uma
mercadoria especial, exercendo a função de dinheiro, em um monopólio social no
mundo das mercadorias.
Marx considera, em “O Capital”, o ouro como o equivalente geral que se torna
dinheiro.
O ouro se confronta com outras mercadorias, exercendo a função de dinheiro,
apenas por se ter, antes, a elas anteposto nas condições de mercadoria. Igual a
outras mercadorias, funcionou também como equivalente particular junto a
outros menos vastos o papel de equivalente geral. Ao conquistar o monopólio
desse papel de expressar o valor do mundo das mercadorias, torna-se
mercadoria-dinheiro, distingue-se a forma D [Forma Dinheiro do Valor] da
23
forma C [Forma Extensiva do Valor], ou a forma geral do valor transforma-
se em forma dinheiro do valor. (Marx, 2006, p. 92, colchetes nossos)
Vejamos, agora, as funções identificadas por Marx do dinheiro. As funções são
cinco: (i) medida de valor; (ii) meio de circulação; (iii) entesouramento; (iv) meio de
pagamento; e (v) dinheiro universal.
A função primeira é a de medida de valor, que tem por objetivo estabelecer um
meio pelo qual as mercadorias possam ter seus valores representados. O ouro, por meio
desta função, tornou-se dinheiro. Não que seja por conta do dinheiro que as mercadorias
podem ser mensuradas, como se pode aparentar, mas pelo fato de serem frutos de
trabalho humano, consequentemente mercadorias.
À esta manifestação do V no corpo do dinheiro chamamos de preço, sendo este
uma forma puramente ideal ou mental, inicialmente, hipótese que será quebrada,
posteriormente.
Como forma do valor, o preço ou a forma dinheiro das mercadorias se
distingue da sua forma corpórea, real e tangível. O preço é uma forma
puramente ideal ou mental. O valor do ferro, do linho, do trigo etc., existe
nessas coisas, embora invisível; é representado por meio da equiparação
delas ao ouro, da relação delas com o ouro, relação que só existe, por assim
dizer, nas suas cabeças. (Marx, 2006, p. 122)
Com isto,
Uma vez que é puramente ideal a expressão dos valores das mercadorias em
ouro, só se pode empregar, para esse fim, ouro ideal ou imaginário. Todo
dono de mercadoria sabe que não transformou sua mercadoria em ouro,
quando dá a seu valor a forma de preço ou a forma idealizada de ouro e que
não precisa de nenhuma quantidade de ouro real para estimar em ouro
milhões de valores de mercadorias. Em sua função de medida do valor tem,
por isso, o dinheiro apenas a serventia de dinheiro ideal ou figurado. [...]
Embora apenas o dinheiro idealizado sirva para medir o valor, depende o
preço, inteiramente, da sua substância real do dinheiro. (Marx, 2006, p. 122-
123)
Como função de medida do valor, o dinheiro deve ter um padrão de preços. Por
ser uma categoria abstrata, tal como a distância, a massa, a temperatura, etc. O valor
precisa de um padrão material para ser medido (no caso da distância é o metro, da
massa a grama, da temperatura o grau Celsius). Ele exercerá um bom papel de medida
de valor o quanto menos ele oscilar seu próprio padrão, quanto mais estável, melhor.
24
“Como medida de valor, serve para converter os valores das diferentes mercadorias em
preços, em quantidades imaginárias de ouro [...] mensura as mercadorias como
valores.” (Marx, 2006, p. 125).
No entanto, sobre a hipótese (ii), levantada no problema de pesquisa, Marx trata-
o como simples variação do padrão de preços dizendo que,
A variação do valor do ouro também não impede sua função de medida de
valor. Ela atinge simultaneamente todas as mercadorias e, não se
modificando as demais circunstâncias, deixa inalterados seus valores relativos recíprocos, embora se expressem todos em preços-ouro, mais altos
ou mais baixos que os anteriores. [...] Só pode haver subida geral dos preços
das mercadorias, permanecendo inalterável o valor do dinheiro, quando os
valores das mercadorias sobem; não se modificando os valores das
mercadorias quando cai o valor do dinheiro. E, ao contrário, só pode suceder
queda geral dos preços das mercadorias, mantendo-se inalterável o valor do
dinheiro, quando os valores das mercadorias caem; não se alterando os
valores das mercadorias quando o valor do dinheiro sobe. Não se conclua daí
que a ascensão do valor do dinheiro determine queda proporcional dos preços
das mercadorias, e a descensão, subida proporcional nesses preços. (Marx,
2006, p. 125-126)
Com isto, não haverá mudança relativa alguma na apropriação de valor. Todos
os produtores que possuíam certa quantidade de valor continuarão a possuir a mesma
quantidade, pois só houve mudança no padrão de preço, apenas o quanto ele necessitava
para simbolizar sua riqueza.
Mesmo tratando da variação do valor de mercado, este é fundamental para
explicar a variação do preço, pois apesar de não necessariamente coincidir com o valor
de mercado, o preço flutua com base neste. O preço expressa o seu valor de mercado, no
entanto, uma deformação pode fazê-lo não corresponder quantitativamente ao seu
conteúdo.
A segunda função do dinheiro surge quando ele assume a função de meio de
circulação, assumindo o valor de mercado uma forma preço material, o preço de
mercado. Esta forma é determinada pelas forças da oferta e demanda, na circulação.
“Esta determinação do valor de mercado, vista de maneira abstrata, realiza-se no
mercado real pela concorrência entre os compradores, desde que a procura seja
bastante para absorver a massa de mercadorias ao valor fixado.” (Marx, 1983, p. 209)
Apesar do mercado causar interferência na determinação do preço de mercado (o mais
visível na aparência) este gravita com base no valor de mercado.
25
Se a oferta e a procura regulam o preço de mercado, ou antes os desvios que
os preços de mercado têm do valor de mercado, por outro lado, o valor de
mercado rege a relação entre a oferta e a procura ou constitui o centro em
torno do qual as flutuações da oferta e da procura fazem girar os preços de
mercado. (Marx, 1983, p. 205)
O mercado é o redistribuidor dos valores produzidos. Se em um determinado
setor, a produção não estiver suprindo as necessidades sociais, a demanda da sociedade,
o preço de mercado poderá se elevar, com este setor absorvendo valor gerado pelos
outros setores. Isto pode se manifestar, por exemplo, no caso de um setor que seja
dominado por um capital monopolista, gerado por entraves a entrada de novos capitais
para a produção deste setor, restringindo a concorrência, e possibilitando a não
produção da quantidade demandada pela sociedade. Este setor se beneficiará de um
preço de mercado mais elevado do que deveria reger a sua lucratividade, em condições
normais (com concorrência).
O dinheiro passa a intermediar a circulação das mercadorias, rompendo com as
limitações de espaço, tempo e indivíduos. Neste nível de desenvolvimento de trocas
ninguém mais desejará trocar sua M sem ser pelo D.
O ciclo completo do processo de troca (M – D – M) é realizado através de duas
metamorfoses opostas e recíprocas, a conversão de mercadoria em dinheiro, e de
dinheiro em mercadoria. Marx denomina a passagem de M para D, como “salto mortal
da mercadoria”, pois a mercadoria produzida terá, finalmente, seu valor-de-uso
reconhecido. Caso contrário, a mercadoria terá seu fim como trabalho não reconhecido
socialmente, pois de nada serviu aquele trabalho para a sociedade.
Como meio de circulação, a quantidade de dinheiro deve obedecer a uma lei de
proporção entre quantidade e velocidade da moeda.
O montante de dinheiro lançado no processo de circulação, num momento
dado, é naturalmente determinado pela soma dos preços das mercadorias que
circulam, simultâneas e paralelas. Mas, uma vez em curso, as peças
monetárias se tornam, por assim dizer, solidárias entre si. Se uma aumenta a
velocidade do seu curso, a outra a reduz ou sai inteiramente da circulação, uma vez que esta só pode absorver um montante de dinheiro que,
multiplicado pelo número médio de movimentos de sua unidade monetária,
seja igual à soma dos preços a realizar. Se aumenta o número total dessas
peças. Dada a velocidade média, fica determinado o montante de dinheiro
que pode servir de meio de circulação.” (Marx, 2006, p. 147)
26
Pi – Preço das mercadorias
NMP – Número de movimento das peças de dinheiro do mesmo nome
MMC – Montante do dinheiro que funciona como meio de circulação
A análise de Marx acerca do dinheiro tem o rigor necessário para não considerar
que as mercadorias entram na circulação sem um preço e o dinheiro sem valor, caindo
em uma conclusão vulgar de que os preços das mercadorias apenas variam pela
quantidade de dinheiro na economia. Esta poderá ser uma forma de variação, mas não
será sua determinante, como pode ser observada na equação acima, que demonstra que
com o aumento do montante de dinheiro em circulação, os preços das mercadorias
também terão de subir.
No curso do dinheiro, ao ter a sua existência metálica separada de sua existência
funcional, o fato de que uma pessoa não quer mais o ouro para consumir o seu VU
material, e sim para servir de intermediário de troca, possibilita o dinheiro, na forma de
metal, ser substituído por algum mero símbolo de valor. Na chamada desmaterialização
do dinheiro, Marx diz que “coisas relativamente sem valor, pedaços de papel, podem
substituí-lo no exercício da função moeda. O caráter simbólico está de algum modo
dissimulado nas peças de dinheiro metálicas. Revela-se plenamente no dinheiro papel”
(Marx, 2006, p.153). Sendo assim, “basta a existência apenas simbólica do dinheiro
num processo em que ele passa ininterruptamente de mão em mão. Sua existência
funcional absorve por assim dizer a material.” (Marx, 2006, p. 156)
No entanto, o papel-moeda não pode desprender-se das leis inerentes do mundo
das mercadorias, a qual representa. Por exemplo, se no primeiro momento um Dólar
representa X gramas de ouro, a duplicação desta quantidade de papel-moeda fará com
que um Dólar represente apenas ½ X gramas de ouro. A única função do papel-moeda é
simbolizar a quantidade de ouro necessária para materializar o V de cada mercadoria.
Esta é a relação existente entre papel-moeda e as mercadorias.
27
A terceira função do dinheiro é o entesouramento. Ele é tirado da circulação
antes de realizar sua metamorfose. Esta função se traduz no ato de o produtor
permanecer com o dinheiro mesmo depois do salto mortal da mercadoria. Como foi
vista, a quantidade de dinheiro varia pela sua velocidade e pelos preços das
mercadorias, na sociedade. A característica de entesourar permite que haja este controle
na economia, pois operando, naturalmente, com excedente de moedas, sempre que for
requisitada, parte das moedas entesouradas serão jogadas novamente na circulação. Se a
quantidade de mercadorias na sociedade aumenta, e a velocidade do dinheiro não se
acelera, parte do dinheiro antes entesourado será lançada na economia para que a
quantidade de dinheiro e a velocidade se adequem à necessidade da massa total de
dinheiro.
Vimos como a quantidade de dinheiro em curso diminui e aumenta incessantemente com as contínuas flutuações na amplitude e na velocidade da
circulação das mercadorias e nos seus preços. É necessário, portanto, que seja
capaz de contrair-se e expandir-se. Ora tem o dinheiro de ser atraído para
servir de moeda, ora a moeda tem de ser repelida para servir de dinheiro
acumulado. Para a quantidade de moeda em curso corresponder sempre às
necessidades da esfera da circulação, é mister que a quantidade de ouro ou de
prata existente num país exceda a absorvida na função de moeda. O dinheiro
sob a forma de tesouro preenche essa condição. (Marx, 2006, p. 160-161)
A quarta função, a de meio de pagamento, impõe uma separação entre a
alienação da mercadoria e a realização de seu valor. Esta função permite que algum
produtor que ainda não materializou o V de sua mercadoria possa consumir outra
mercadoria. A segunda metamorfose, a D-M, acontece antes da primeira, a M-D, ou
seja, a compra se realizou antes de realizar a venda. Esta necessidade se dá pelos
diferentes tempos de produção e de circulação. Algumas mercadorias demandam um
tempo de produção e de circulação menor do que outras, por exemplo, um casaco é
produzido e alienado em muito menor tempo do que a produção e venda de uma casa.
Vejamos de uma forma sistematizada em uma equação criada pelo Professor
Nelson Rosas Ribeiro, que ao tratar do dinheiro como o padrão de preços define a
quantidade necessária de dinheiro em circulação como:
28
D – Massa de dinheiro necessária para fazer circular as mercadorias;
M – Massa total das M em circulação;
P – Preço médio das mercadorias;
c – Velocidade de rotação das mercadorias;
V – Soma dos desperdícios das mercadorias vendidas a crédito;
k – Soma dos preços das mercadorias vendidas a crédito em períodos anteriores
e pagas neste período;
t – Dinheiro para pagamentos não mercantis;
C – Pagamentos compensatórios;
r – velocidade de rotação de D.
Se houver uma elevação do nível quantitativo de dinheiro em circulação na
sociedade, sem que haja o crescimento da necessidade objetiva, como o aumento de
mercadorias em circulação, ou a da velocidade de rotação destas mercadorias, ou de
outro(s) fator(es) que possa(m) influenciar – estes representados na equação acima – se
todos os outros se mantiverem constantes, menos o preço médio das mercadorias, o
aumento de dinheiro será compensado com a elevação deste preço médio.
Teremos uma diferença significativa, se compararmos a mudança dos preços
pela variação de dinheiro em circulação (hipótese (i) do nosso trabalho) com a mudança
pela oferta e demanda (uma das possíveis manifestações da hipótese (ii)). Em (i)
teremos apenas uma mudança geral de padrões de preço, já a variação nos preços de
mercado (ii), esta sim, tem poder de retirar valor de um setor, para distribuir para outro.
Logo, para nós, a variação mais importante está nos preços relativos, e não na mudança
de padrão de preços. Tendo em vista que a hipótese (i) não modifica a distribuição de
riquezas pode eliminar a primeira hipótese de nosso trabalho, como causa do fenômeno
da inflação.
29
Por fim, a quinta função do dinheiro é a de dinheiro universal. Quando a divisão
social do trabalho atinge e integra a maior parte do planeta, existindo a necessidade do
comércio internacional, logo o dinheiro deve ter uma expressão de V mundial. Marx,
n’O Capital, ainda considera o ouro e a prata como as mercadorias que representam este
dinheiro universal. As funções do dinheiro, além de se manifestarem em uma nação,
com esta função, também poderá se manifestar no restante do mundo.
3.2 A Sociedade Capitalista
Até agora a forma de circulação estudada foi a simples, M – D – M. No entanto,
esta não é a forma que deve ser utilizada para estudar o fenômeno que este trabalho se
propõe. Para entender a valoração das mercadorias e o processo completo que tem seu
fim nos preços de mercado, deve-se estudar a circulação de mercadorias tal como ela se
apresenta no MPC, como circulação de capital.
Inicialmente Marx apresenta o ciclo do capital como D – M – D. Não faria
sentido se neste ciclo o dinheiro que retornasse na segunda fase fosse igual ao que foi
colocado na circulação, na primeira fase, o que será explicado mais a frente. Se a
circulação simples tem como objetivo final a satisfação do produtor com seu VU, isto
não ocorre no circuito D – M – D, que tem como fim o VT. No MPC o VU para nada
mais serve além de ser veículo de V, apenas algo que permita o processo de obtenção do
lucro.
A fórmula completa, então, deve ser D – M – D’, ou seja, o dinheiro entra na
circulação em uma determinada quantidade, e sai com uma quantidade maior ainda.
Este acréscimo de V, na mercadoria, Marx denomina de mais-valia (valor excedente).
Se pusermos de lado o conteúdo material da circulação de mercadorias, a
troca dos diferentes valores-de-uso, para considerar apenas as formas
econômicas engendradas por esse processo de circulação, encontraremos o
dinheiro como produto final. Esse produto final da circulação das
mercadorias é a primeira forma em que aparece o capital. (Marx, 2006, p.
177)
O fenômeno capital tem sua finalidade nele mesmo, a valoração do V, em um
movimento continuado, sem limites.
30
O D’ aparece com o surgimento do capital. Como na circulação a troca sempre
será de uma mercadoria por outra equivalente ao seu V, algo fora da circulação explica
o surgimento desta mais-valia. Para esta explicação, Marx recorreu a outra esfera, além
da circulação, a da produção.
Na esfera da produção uma nova mercadoria é responsável pelo acréscimo desta
mais-valia, a força de trabalho. Para que a força de trabalho possa ser vendida como
mercadoria, os meios de produção deverão ser propriedade única de uma classe, a
capitalista. Consequentemente haverá uma classe expropriada destes meios de
produção, que apenas terão sua própria força de trabalho para venderem, serão livres
para vendê-la. Esta é a única mercadoria produzida fora do sistema capitalista, pois o
próprio organismo do trabalhador que a produz. “A força de trabalho só pode aparecer
como mercadoria no mercado enquanto for ser oferecida ou vendida como mercadoria
pelo seu próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é força de trabalho.” (Marx, 2006, p.
1983). Com a sociedade agora dividida em duas classes, a que possui o capital e a que
nada mais possui além de sua própria força de trabalho para ser vendida, a classe
capitalista deve comprar a mercadoria especial força de trabalho para atuar nos meios de
produção, os quais este possui, para gerar mercadorias com maior valor do que tinha.
Como Marx explica:
Para extrair valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de
dinheiro deve ter a felicidade de descobrir, dentro da circulação, no mercado,
uma mercadoria cujo valor-de-uso possua a propriedade peculiar de ser fonte
de valor, de modo que consumi-la seja realmente encarnar trabalho, criar
valor, portanto. E o possuidor do dinheiro encontra no mercado essa mercadoria especial: é a capacidade de trabalho ou a força de trabalho.
(Marx, 2006, p. 197)
3.2.1 O Movimento Cíclico do Capital e o Ciclo do Capital-Dinheiro
Nesta parte do trabalho, utilizaremos a sistematização do processo de circulação
do capital contida em Ribeiro (2009), por entendermos o aspecto mais didático de sua
explicação.
Para a produção de mais-valia, o capital necessita circular, na sociedade,
mudando sua forma. Apesar de o conteúdo ser o mesmo, o capital, ele assume diversas
formas, sendo necessária a utilização da categoria dialética forma-conteúdo. Para
31
explicarmos os ciclos do capital utilizaremos as seguintes hipóteses simplificadoras: i)
existe apenas capital industrial, excluindo, aqui, o capital comercial e bancário; ii) as
mercadorias vendem-se pelo seu valor (valor = preço de mercado); iii) não há entraves
nas vendas das mercadorias; iv) não há variação no V, em meio ao processo do ciclo do
capital; v) D é apenas dinheiro metálico, será eliminada o meio de pagamento e
entesouramento; vi) no processo de produção o capital constante transfere-se
integralmente para o produto em cada ciclo.
Marx apresenta três formas do ciclo do capital, o ciclo do capital-dinheiro, o
ciclo do capital-mercadoria e o ciclo do capital produtivo. No entanto, para nós será
importante apenas o estudo do primeiro.
A representação do ciclo do capital-dinheiro é feita pela seguinte forma:
FT
D – M ... P ... M’ – D’
MP
No primeiro momento, o capitalista vai com dinheiro para o mercado de meios
de produção (MP) comprar os meios e objetos de trabalho, maquinaria, matérias-primas
e outras partes constituintes dos fatores objetivos para a produção, sendo este dinheiro
adiantado para compra de meios de produção, denominado de capital constante, e,
posteriormente, para o mercado de força de trabalho (FT), para obter a FT necessária,
sendo o valor variável o dinheiro gasto para isto. Estes dois atos de compras se
traduzem em D - M. Isto é necessário para que suas novas mercadorias sejam
consumidas produtivamente, surgindo uma nova mercadoria com mais valor do que
antes. Com isto, o capitalista volta para o mercado, agora para ele poder vender sua
nova mercadoria, e se apropriar do novo valor gerado, exercendo o ato M’ – D’.
M’ – D’ é o momento onde há a materialização do valor na sociedade capitalista.
Nesta forma de circulação há uma diferença qualitativa importante: não só o VU de M
deve ser reconhecido socialmente, mas, principalmente, o V, que surge como custo de
32
produção e valor novo criado pago e não pago. No entanto, como toda forma do valor, c
+ v + m estão sujeitos às oscilações da oferta e da procura.
3.2.2 A Forma do Valor no Capitalismo
Agora que já estudamos o processo de formação do valor e as funções do
dinheiro, devemos analisar a manifestação do valor e da mais-valia em custo, preço e
lucro.
O custo social da produção é formado pelo capital constante, capital variável e a
mais-valia. O capital constante é o dinheiro despendido na compra de meios de
produção, este valor não é recriado, e sim transferido para a mercadoria, é trabalho
morto por ser apenas transferido. Ao contrário disto, o capital variável, que é o dinheiro
despendido na compra de força de trabalho, gera novo valor, neste é reposto o valor
original da força de trabalho, em forma de salário, além do seu excedente, a mais-valia.
Esta parte também é denominada de trabalho vivo.
Mas para o capitalista existe apenas um custo de produção da mercadoria, que é
diferente do custo social, pois o capitalista se apropria de trabalho não pago, e assim
tem um custo menor do que o social, ou seja, o tempo de trabalho por ele apropriado
não é custo, logo ele apenas considerará o que por ele foi adiantado, capital constante e
capital variável. Para o capitalista, o custo da mercadoria se explica da seguinte forma,
O valor de toda mercadoria M da produção capitalista se expressa na
fórmula: M = c + v + m. Descontando do valor do produto a mais-valia m,
obteremos mero equivalente, isto é, valor que repõe em mercadoria o valor-
capital c + v empregado nos elementos da produção [...] repõe apenas o que a mercadoria custa ao próprio capitalista, constituindo para ele o preço de custo
da mercadoria. [...] O custo capitalista da mercadoria mede-se pelo dispêndio
de k [c + v] e o custo real pelo dispêndio de trabalho. O custo do capitalista
da mercadoria é, portanto, quantitativamente diverso do valor ou verdadeiro
custo dela. (Marx, 1983, p. 30-31)
Com isto, percebemos que para o capitalista apenas interessa a forma que
assume o valor, e não conteúdo. A produção apenas tem sentido para que ele tenha um
lucro, sem distinguir de onde vem este lucro, se é dos meios de produção, ou se é da
força de trabalho. Como na citação de Malthus, feita por Marx: “O capitalista espera
obter o mesmo lucro de todas as partes do capital que adianta” (apud Marx, 1983, p.
33
39). Como o lucro é uma manifestação da mais-valia, a condição individual de um
produtor capitalista não o impede de lucrar mais do que foi gerado na produção de sua
mercadoria.
Para o capitalista tanto faz considerar que adianta capital constante, para tirar
lucro do variável, ou que adianta o variável para valorizar o constante; que despende dinheiro em salário, para valorizar o constante; que despende
dinheiro em salário, para valorizar máquinas e matérias-primas, para explorar
trabalho. Embora unicamente a parte variável do capital gere mais-valia, só a
gera se forem adiantadas as outras partes, as condições de produção
requeridas pelo trabalho. Não podendo o capitalista explorar o trabalho, sem
adiantar capital constante, e não podendo valorizar este sem adiantar o
variável, parece-lhe que ambos são iguais. Reforça seu ponto de vista a
circunstância de a proporção real de seu ganho ser determinada não pela
relação deste com o capital variável, mas com o capital todo, não pela taxa de
mais-valia, mas pela taxa de lucro, que, conforme veremos, pode permanecer
a mesma e, apesar disso, corresponder a taxas de mais-valia diferentes. (Marx, 1983, p. 45)
O lucro vem do excedente que o capitalista se apropria depois da venda de sua
mercadoria, que é a diferença entre o preço da mercadoria e o seu custo privado. Como
categoria forma, a taxa de lucro é calculada pelo que o capitalista percebe. Esta taxa é
calculada pelo total da mais-valia (M) sobre o custo total (k), M/k, diferentemente do
cálculo da taxa de mais-valia, que é M/v, sendo v = capital variável. A taxa de mais-
valia é a essência do fenômeno, enquanto a taxa de lucro é o visível, o que transborda na
superfície da sociedade. Esta forma de cálculo da taxa de lucro faz com que haja um
efeito mascarador, pois,
A taxa de lucro está para a taxa de mais-valia como o capital variável está
para todo o capital.
Dessa proporção segue-se que l’, a taxa de lucro, é sempre menor que a m’, a
taxa de mais-valia, pois v, o capital variável, é sempre menor que C, a soma
de v + c, de capital variável e capital constante. (Marx, 1983, p. 54)
Apesar do excedente que compõe o lucro formar-se diretamente na esfera da
produção, a sua realização está na esfera da circulação. A taxa de lucro não
necessariamente será igual à taxa de mais-valia (na verdade, nunca será), no entanto,
uma apropriação de uma mais-valia maior do que a que de fato está contida em uma
mercadoria X, só quer dizer que outro capitalista, com uma mercadoria Y, se apropriou
de uma quantidade de mais-valia menor do que esta mercadoria Y realmente contém.
No entanto, devemos lembrar que, segundo as hipóteses simplificadoras aqui
34
apresentadas, “a taxa de lucro difere quantitativamente da taxa de mais-valia, embora
mais-valia e lucro sejam de fato idênticos e quantitativamente iguais” (Marx, 1983, p.
51). Como o valor é obtido na produção, e, encerrada fase de criação da mercadoria,
este valor não pode mais diferir, qualquer alteração nos preços será mera redistribuição
do valor preexistente. O que quer dizer que, se tratamos o fenômeno da mudança
relativa de preços (nossa hipótese (ii)) por este pressuposto, teremos que a subida do
preço de um setor, será em dado momento perda de lucro para outro.
Para que haja a produção, deve haver uma combinação técnica entre o capital
constante e o capital variável, a esta proporção Marx denomina de “composição
orgânica do capital”, que trataremos como θ. Seu cálculo se dá pela equação θ = C/V. A
composição orgânica “em qualquer momento, depende de duas circunstâncias: da
relação técnica entre a força de trabalho empregada e a quantidade dos meios de
produção utilizadas, e do preço desses meios de produção” (Marx, 1983, p. 175). Por
estas diferentes composições orgânicas, gerando quantidades de valores diversos, surge
a taxa média de lucro.
Em virtude da diversa composição orgânica dos capitais investidos em
diferentes ramos de produção, em virtude de capitais de igual magnitude
mobilizarem quantidades muito diferentes de trabalho, de conformidade com
a diversa percentagem que o capital variável representa num capital global de
grandeza dada, apropriam-se esses capitais de quantidades muito diversas de
trabalho excedente, ou seja, produzem quantidades muito diferentes de mais-
valia. Por isso, originalmente diferem muito as taxas de lucro reinantes nos
diferentes ramos de produção. As taxas diferentes de lucro, por força da concorrência, igualam-se numa taxa geral de lucro, que é a média de todas
elas. (Marx, 1983, p. 179)
Em uma sociedade capitalista, onde o V está materializado idealmente no corpo
do dinheiro, o valor-de-troca das mercadorias aparece como preço. Com isto, assim
como no valor, existe o VI e o VM, para o preço também teremos estas duas categorias,
agora preço de produção individual (PPI) e o preço de produção de mercado (PPM).
Como no VI, o PPI, não será o reconhecido pela sociedade, já que sua produção é
composta por capitais com diversos níveis de composições orgânicas. O preço médio de
um dado setor que será o eleito, o PPM.
Na sociedade como um todo, o que rege a rentabilidade do capital é a taxa média
de lucro, e não o cálculo do lucro individual. Como foi explicado na citação de Marx,
acima, a concorrência gera esta taxa média, mas como? Se um determinado setor passa
35
a ser mais lucrativo do que o restante, haverá migração de capitais para este setor mais
lucrativo, até que a concorrência faça com que se restabeleça a taxa média de lucro.
Para o cálculo desta taxa suporemos duas hipóteses: (i) a taxa de mais-valia é
constante; e (ii) o capital constante por inteiro é transferido para o produto anual dos
capitais. Agora, para calcular a taxa média devemos expandir a forma que calculávamos
um capital individual para todos eles, logo a taxa média de lucro será a massa de mais-
valia produzida por todos eles dividida pelo investimento total.
Com isto, façamos um exemplo para entendermos tanto o funcionamento da taxa
média de lucro, quanto a formação do custo, do lucro e do preço. Neste exemplo
teremos cinco setores, com investimento homogêneo, no entanto, com θ diversas.
Quadro 03 – Formação do PP e da Taxa de Lucro
Capitais Mais-Valia Valor Custo Preço de Produção Taxa de Lucro Desvio
I 80c + 20v 20 120 100 122 0,22 2
II 70c + 30v 30 130 100 122 0,22 -8
III 60c + 40v 40 140 100 122 0,22 -18
IV 85c + 15v 15 115 100 122 0,22 7
V 95c + 5v 5 105 100 122 0,22 17
Total 500 110 610
610
0
Esta tabela demonstra, numericamente, preceitos citados anteriormente. Como
pode ser visto, o lucro é igual a mais-valia, pois a massa de valor é igual a massa de
preço de produção. Também é possível observar que os setores que se apropriam de
maior parte da mais-valia são os setores com θ mais elevadas, sendo o setor V o que
apresenta maior apropriação.
Ainda utilizando-se da categoria forma e conteúdo, Marx faz referência a uma
possível variação de preços, ao capitalista tentar deslocar sua apropriação do lucro à
36
massa de mais-valia, causando, com isto, inflação, via aumento de preços no capital
variável, capital constante ou nas próprias mercadorias produzidas, no seguinte trecho.
O lucro médio que determina os preços de produção tende sempre
necessariamente a igualar-se à quantidade de mais-valia, correspondente a
dado capital como parte alíquota de todo o capital da sociedade. Admitamos
que a taxa geral de lucro, e portanto o lucro médio, se expresse em valor-
dinheiro maior do que a mais-valia média real estimada pelo valor monetário.
Quanto aos capitalistas não importa que se atribuam, reciprocamente, lucro
de 10 ou de 15%. Uma percentagem não abrange mais valor-mercadoria real
que a outra, enquanto é recíproco o exagero na expressão monetária.
Supusemos que os trabalhadores recebem salários normais, e por isso o
acréscimo do lucro médio não expressa redução efetiva dos salários, ou seja, algo inteiramente diverso da mais-valia normal do capitalista. Assim, para os
trabalhadores, o aumento dos preços das mercadorias, oriundo do acréscimo
do lucro médio, tem de ser anulado por aumento na expressão monetária do
capital variável. Na realidade, essa alta nominal e geral da taxa de lucro e do
lucro médio acima da percentagem estabelecida pela relação entre a mais-
valia real e o capital adiantado, não é possível sem acarretar alta dos salários
e também dos preços das mercadorias que formam o capital constante. Dá-se
o contrário, quando há baixa. (Marx, 1983, p. 203-204)
Observa-se, então, que se pela atitude de um dos produtores, este quiser
aumentar a taxa de lucro dele, em detrimento do restante dos produtores, haverá uma
tendência ao retorno à taxa média de lucro, pois como foi explicado na citação de Marx,
esta atitude, que negaria a taxa média de lucro, faria com que os salários e os preços das
mercadorias voltassem ao ponto em que se restabeleceria a lei da taxa média de lucro.
Vejamos, agora, como poderemos demonstrar a hipótese (ii). Os preços de
mercado são compostos pelo custo de produção mais o lucro médio. No entanto, se
houver uma mudança no lucro recebido por um dos capitais, em detrimento do restante,
considerando que a massa de mais-valia é igual a massa de lucros, este aumento do
lucro de um setor, necessariamente deverá apropriar este novo montante de lucro de
outros setores. O aumento do preço de mercado de um setor deverá, necessariamente,
constituir perda lucro de outro.
Como há a tendência a se equilizar pela taxa média de lucro, se não houver
entraves a entrada de novos capitais, ou qualquer outro fator que impeça a retomada
desta taxa, voltaremos ao patamar inicial, onde todos recebem a taxa média de lucro. No
entanto, se isto não ocorrer, teremos uma redistribuição do lucro permanente
(permanente até que volte ao normal), com o produtor que recebe uma taxa de lucro
maior, apropriando-se deste maior lucro, inferindo em aumento do preço de produção da
sua mercadoria. Como foi explicado na citação acima, o aumento da taxa de lucro de
37
um capitalista, em condições normais, acarretará em aumento dos salários, e logo, das
mercadorias que compõe o capital constante, generalizando o aumento dos preços, e
tendo a taxa de lucro média de volta, para todos os capitalistas. No entanto, em uma
economia cada vez mais monopolizada, este movimento de aumento da taxa de lucro
particular, se tornará cada vez mais fácil e constante.
38
4. Conclusões
Como este trabalho tem por objetivo encontrar elementos para uma teoria
inflacionária marxista, a análise dos valores e dos preços foram necessárias, pois a
variação destes é que compõe a inflação. Mas o que nos importa, aqui, é que tipo de
variação pode ser tida como inflação. As duas hipóteses são: (i) mudança no padrão de
preços, ou (ii) uma mudança relativa dos preços.
Na primeira, a mudança no padrão de preços, ou generalizada de preços, não
causará nenhuma redistribuição de valor gerado na sociedade. Se, por exemplo,
duplicasse a quantidade de dinheiro em circulação, sem haver mudança alguma na
quantidade de valor produzido na sociedade, um Dólar deixaria de representar X gramas
de ouro, e passaria a representar ½ X grama de ouro. Não haveria um processo de
redistribuição de riqueza.
No entanto, sobre a segunda hipótese, a mudança relativa nos preços haveria
uma redistribuição. Esta poderia acontecer se houvesse algum entrave a entrada de
novos capitais em um determinado setor. Se a demanda social não for atendida, ou seja,
a demanda estiver maior do que a oferta, e novos capitais não puderem entrar neste
setor, haverá a possibilidade deste setor continuar a não produzir o suficiente, mantendo
uma taxa de lucro maior do que a taxa média de lucro. Caso não houvesse entraves a
entrada de novos capitais, se um setor que tivesse uma maior taxa média de lucro,
causada por um aumento da demanda pelas mercadorias produzidas neste setor, sofresse
entrada de novos capitais, migrando para este setor por haver incentivo, por conta da
maior taxa de lucro relativamente à taxa média, haveria este processo até que a
economia voltasse à situação inicial, onde todos os capitais seriam remunerados pela
taxa média de lucro da sociedade. Mas mesmo com a possibilidade de entrada de novos
capitais neste setor, os preços de mercado serão mais elevados do que os preços de
produção. Enquanto não houver a entrada, o setor sofrerá de preços mais elevados.
Consideraremos, então, inflação como sendo uma redistribuição do valor criado
por meio do mercado, alterando, assim, momentaneamente, os preços relativos, sendo
momentâneo por sempre haver a tendência para a equalização da taxa de lucro.
39
5. Referências
BARBOSA, G. Marx e a Inflação – Uma Interpretação do Fenômeno com Base na
Teoria do Valor do Trabalho. 2010. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento
Econômico) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
BRUNHOFF, S. A Moeda em Marx. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1976. 1 ed.
BRUNHOFF, S. A Política Monetária: Um Ensaio de Interpretação Marxista. Editora
Paz e Terra, 1973. 1 ed.
DATHEIN, R. Uma Introdução à Teoria Monetarista. Disponível em:
<http://www.ufrgs.br/decon/> Acesso em: 14 de dez. 2011.
FAGNANI, E. Entre plutocratas e destituídos. CartaCapital. Disponível em:
<http://www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 19 out. 2011.
GIAMBIAGI, F.; Barros, O. Brasil Globalizado: O Brasil em um Mundo
Surpreendente. São Paulo: Campus, 2008. 1 ed.
GONÇALVES, R. Governo Lula e o Nacional-desenvolvimentismo às Avessas.
Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/hpp/mostra.php?idprof=77> Acesso em: 15 de
set. 2011.
MANKIW, N. G. Macroeconomia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2008. 6 ed.
MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política: Livro I. Volume 1. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 24 Ed.
MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política: Livro III. Volume IV. São
Paulo: Difel Difusão Editorial S.A., 1983. 4 Ed.
40
OREIRO, J.L.; FEIJÓ, C.M. Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso
brasileiro. Revista de Economia Política, vol 30, nº 2 (118), pp 219-232, abril-
junho/2010 2010.
RIBEIRO, N. R. A Crise Econômica: Uma Visão Marxista. João Pessoa: Editora
Universitária, 2008. 1 Ed.
RIBEIRO, N. R. O Capital em Movimento: Ciclo, Rotação, Reprodução. João Pessoa:
Editora Universitária, 2009. 1 Ed.
RIBEIRO, N. R.; ALMEIDA; L. M. Valor, valor de troca e mercado: o falso problema
da transformação. In: XVI Encontro Nacional de Economia Política, 2011, Uberlândia.
Anais... <http://www.sep.org.br>.
ROSENTAL, M. O Método Dialético Marxista. Rio de Janeiro: Editorial Vitória
LTDA, 1951. 1 Ed.