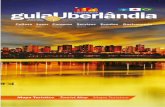Espaço Fem v14 n17 2005.pmd - Portal de Periódicos UFU
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Espaço Fem v14 n17 2005.pmd - Portal de Periódicos UFU
CADERNO ESPCADERNO ESPCADERNO ESPCADERNO ESPCADERNO ESPAÇO FEMININOAÇO FEMININOAÇO FEMININOAÇO FEMININOAÇO FEMININO ISSN 1516-9286ISSN 1516-9286ISSN 1516-9286ISSN 1516-9286ISSN 1516-9286
EDITORAProfa. Dra. Vera Lúcia Puga
CONSELHO EDITORIAL
Profa. Dra. Eliane S. Ferreira (Dep. Ciências Sociais/UFU)Profa. Dra. Jane de Fátima Silva Rodrigues (Uniminas/UDI)Prof. Dr. João Bosco Hora Góes (UFF/Rio de Janeiro)Profa. Dra. Kênia M. de Almeida Pereira (Unitri/UDI)Profa. Dra. Maria Lygia Quartim de Moraes (Unicamp/SP)Profa. Dra. Mirian Goldenberg (UFRJ/Rio de Janeiro)Profa. Dra. Mônica Chaves Abdala (Dep. Ciências Sociais/UFU)Profa. Dra. Vera Lúcia Puga (Inst. História/UFU)Profa. Dra. Suely Gomes Costa (UFF/Rio de Janeiro)Profa. Dra. Suely Kofes (Unicamp/SP)Profa. Dra. Eli Bartra (Universidad Autônoma Metropolitana/México)Profa. Dra. Margara Millan (UNAM/México)
CONSELHO CONSULTIVOProfa. Dra. Eni de Mesquita Sâmara (FFLCH/USP)Profa. Dra. Luzia Margareth Rago (IFCH/Unicamp)Profa. Dra. Maria Izilda Santos de Matos (PUC/SP)Profa. Dra. Rachel Soihet (UFF/RJ)Profa. Dra. Sônia Missaggia Mattos (UFES/ES)Profa. Dra. Tânia Navarro Swain (UNB/DF)Profa. Dra. Joana Maria Pedro (UFSC/SC)Profa. Dra. Glória Careaga (PUEG/México)Profa. Dra. Sonia Montecino Aguirre (CHILE/ Fac.Ciências Sociales)
COMITÊ EDITORIALProfa. Ms. Dulcina Tereza Bonati BorgesProf. Ms. Edmar Henrique Dairell DaviProfa. Ms. Cláudia Costa GuerraProfa. Ms. Vânia Aparecida Martins Bernardes
TRADUÇÃO: Sandra Chaves Gardellari
NEGUEMAv. João Naves de Ávila, 2160, Bloco Q – CDHISCampus Santa Mônica – Uberlândia – Minas GeraisCep: 38400-902 – Telefones (34) 3229-2276, 3239-4236 e 3239-4240E-mail: [email protected] ; [email protected] publicações: www.neguem.ufu.br
CAPA: Maria José da Silva IMAGEM DA CAPA: Maria Dirce RibeiroPROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO: Eduardo M. Warpechowski
CADERNO ESPAÇO FEMININO é uma publicação do Núcleo de Estudos de Gêneroe Pesquisa sobre a Mulher, do Centro de Documentação e Pesquisa em História(CDHIS), da Universidade Federal de Uberlândia – EDUFU.
Revista Indexada no Data Índice de Ciências Sociais – IMPERJ
Qualificada pela CAPES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
REITOR: Arquimedes Diógenes CiloneVICE-REITOR: Elmiro Santos Resende
DIREÇÃO EDUFU: Maria Clara Thomaz Machado
EDUFU – Editora da Universidade Federal de UberlândiaAv. João Naves de Ávila, 2121 – Bloco A, Sala 1A – Santa MônicaCep 38408-100 – Uberlândia-MGTelefax: (34) 3239-4293 / Fone: 3239-4512www.edufu.ufu.br / e-mail: [email protected]
Apresentação ................................................................. 5
ARTIGOS
Elites oligárquicas e o ensino religiosofeminino no Espírito Santo ....................................... 11Sebastião Pimentel Franco
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajosexual de Barcelona, España: la relación simbólicaentre cuerpo y sociedad desde los estudios degénero contemporáneos ............................................. 29Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Imagens e representações nos crimes de sedução .. 61Jane de Fátima Silva Rodrigues
Macho a qualquer custo. Investigação das relaçõesde gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975 ......................................................... 85Edmar Henrique Dairell Davi
O exame ginecológico na perspectiva da mulher idosa .. 109Tatiana Carneiro de Resende
As políticas neoliberais implementadasno Brasil nos anos 90 e as repercussões navida das trabalhadoras .............................................. 125Maria da Consolação Rocha
Integrando o gênero à teoria econômica:breves reflexões ........................................................ 143Rosângela Saldanha Pereira
CADERNO ESPAÇO FEMININO UBERLÂNDIA VOLUME 14 N. 17 Ago./Dez. 2005
ISSN 1516-9286
S U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I O
O matrimônio nas partigas de Afonso X e estudos degênero: novas perspectivas pós-estruturalistas .... 167Marcelo Pereira Lima
DOSSIÊ: GÊNERO E LITERATURA
A nova literatura brasileira:personagem masculina, escritura de mulher ......... 197Eliane Ferreira de Cerqueira Lima
Luisinha e Vidinha: protótipos femininosna literatura brasileira do século XIX ................... 211Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida
Cartografias literárias em devir:mulheres, escrita e subversão ................................. 223Olívia Candeia Lima Rocha
O discurso argumentativo e polifônico de Celestina ... 245Eleni Nogueira dos Santos
BIOGRAFIA
Maria Dirce Ribeiro .................................................. 259Jane de Fátima Silva Rodrigues
ENTREVISTA
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo ........ 277Giselle Pereira Vilela
ISSN 1516-9286
Universidade Federal de UberlândiaInstituto de HistóriaCentro de Documentação e Pesquisa em História – CDHISNúcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher – NEGUEM
Periodicidade: SemestralTiragem: 600 exemplares
CADERNO ESPAÇO FEMININO, v. 14, n. 17, Ago./Dez. 2006Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de História, Centro deDocumentação e Pesquisa em História (CDHIS), NEGUEM.
Semestral (vol. 14, n. 17, publicada em Janeiro de 2006)
Pede-se permutaPédese cangeOn demande échangeWe bitten um austauschSi richiede lo scambio
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 5
Ao consolidar-se pela qualidade e diversidade desuas publicações e também por seus Conselhos e Co-mitê Editorial e Consultivo, o Caderno Espaço Femi-nino traz uma nova edição com as sessões de artigos,dossiês, biografia e entrevista, compondo um leque dediscussões sobre as relações de gênero em várias áre-as. Essa Revista tem tido alcance local, regional, naci-onal e internacional, tendo recebido publicações devárias localidades, o que a torna ainda mais instigante,profunda e abrangente.
Na sessão ARTIGOS verifica-se em “Elites oligárquicase o ensino religioso feminino no Espírito Santo” de SebastiãoPimentel Franco, uma análise que a partir do séculoXIX e, sobretudo com a ascensão dos republicanos aopoder, amplia-se a possibilidade das mulheres teremacesso à escolarização. A visão de que o acesso à esco-larização tiraria o país da incivilidade e do atraso, alia-da a idéia de que as mulheres eram educadoras porexcelência, vai garantir a estas a possibilidade de mai-or acesso à instrução. Para tanto, era necessário, existi-rem escolas para as mulheres.
Em “Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo Se-xual de Barcelona, Espanã: la relación simbólica entre cuerpo ysociedad desde los estudios de género contemporáneos”, CarlosFonseca Hernández e Ma. Luisa Quintero Soto tecemuma reflexão e debate sobre os aspectos humanos re-lacionados ao serviço sexual que revela a vulnera-bilidade dos setores mais desfavorecidos da socieda-de. A discriminação e o estigma são elementos de con-flito para o desenvolvimento de estratégias organiza-tivas e, em alguns casos, causa de depressão, enfermi-dades psicossomáticas, baixa auto-estima, e aliciamentopor parte destes segmentos. Com isto, surge a necessi-
A P R E S E N T A Ç Ã OA P R E S E N T A Ç Ã OA P R E S E N T A Ç Ã OA P R E S E N T A Ç Ã OA P R E S E N T A Ç Ã O
Apresentação
6 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
dade de fortalecer o suporte social das mulheres mi-grantes trabalhadoras sexuais e a implementação deprogramas que promovam a sua autogestão. Este estu-do mostra um progressivo poder das trabalhadorassexuais migrantes que se preparam para um movimen-to associativo.
Jane de Fátima Silva Rodrigues no artigo “Imagens erepresentações nos crimes de sedução”, desenvolve uma pes-quisa fruto de um trabalho que integra o projeto ‘Re-pensando as Relações de Gênero nos Processos Cri-mes em Uberlândia – 1970-1980’, em desenvolvimen-to no Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobrea Mulher, da Universidade Federal de Uberlândia, des-de 2004 com previsão de término em 2006. Outrosrecortes temáticos nesta área estão sendo abordadospor outros(as) pesquisadores(as) que integram a equi-pe do NEGUEM. Optou-se por trabalhar os crimes desedução compreendidos no primeiro lustro da décadade 70 do século passado.
Em “Macho a qualquer custo. Investigação das relações deGênero através da análise de processos criminais. Uberlândia,1975” Edmar Henrique Dairell Davi aborda a violên-cia, objeto de estudo nos mais diversos espaços doplaneta em várias épocas, presente nas sociedades hu-manas. Cientistas de áreas de conhecimentos às vezesdivergentes vêm tentando provar a preponderância,sobre esse tema, ora do fator biológico, ora do mentale ainda o estudo do meio, como fator que poderia cor-romper o indivíduo. Uns/umas tantos/as pesquisado-res/as chegaram a associar alguns desses fatores, po-rém não chegam a uma conclusão unânime sobre taisagressões. Este trabalho faz parte do projeto do NE-GUEM com os processos-crimes cedidos pelo FórumAbelardo Penna com o intuito de integrar a pesquisafeita na universidade à comunidade, construindo e re-cuperando parte da memória local e preenchendo la-cunas importantes sobre o tema.
No artigo “O exame ginecológico na perspectiva da mulheridosa” Tatiana Carneiro de Resende, objetiva buscar o
Apresentação
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 7
significado do exame ginecológico para as mulheresidosas. Na análise dos depoimentos estas mulheres sen-tem vergonha, dor, protelam seus exames e possuemdificuldade em aceitar a realização do mesmo quandofeito por profissional masculino. Isto dificulta o diagnós-tico precoce de doenças, especialmente do câncer e o pos-terior tratamento com maiores chances de sucesso.
No artigo “As práticas neoliberais implementadas no Bra-sil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras”,Maria da Consolação Rocha aborda como o projetoneoliberal foi colocado em prática tardiamente no país,porém com uma base de sofisticação maior, se compa-rado com outros países da América Latina. O progra-ma neoliberal brasileiro baseou-se na abertura comer-cial, na privatização de empresas públicas e de servi-ços, na desregulamentação dos mercados de bens, decapitais e de trabalho, além de planos de estabilizaçãomonetária serem uma constante. Nesse contexto, otrabalho e a participação das mulheres no mercadopassaram por mudanças importantes que têm reper-cussão nos dias de hoje.
No artigo “Integrando gênero à teoria econômica: brevesreflexões”, Rosângela Saldanha Pereira reflete sobre aevolução da incorporação da questão da mulher e degênero no pensamento econômico e sobre suas con-tribuições para a formulação de políticas públicas depromoção à equidade de gênero.
Marcelo Pereira Lima no artigo “O matrimônio naspartidas de Afonso X e estudos de gênero: novas perspectivaspós-estruturalistas”, analisa as relações entre o matrimô-nio e as fontes de caráter jurídico do reinado de Afon-so X (1252-1284), no período medieval, além de in-vestigar as conexões entre História Medieval, Estu-dos Feministas e Estudos de Gênero. Para tanto fazindagações a partir de alguns exemplos qualitativosque, de maneira nenhuma, constituem elementos típi-cos ou esgotam a multiplicidade, instabilidade e subje-tividade de atitudes jurídicas do período e das docu-mentações estudadas.
Apresentação
8 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
A sessão dossiê GÊNERO E LITERATURA compõe-se de quatro artigos cujas narrativas expõem a repre-sentação do masculino e do feminino no ideário deseus respectivos(as) autores(as).
As análises efetuadas através destas representaçõespermitem refletir sobre a construção das relações en-tre os sexos, o discurso misógino e a incorporaçãodestes elementos à prática cotidiana em todos os ní-veis da sociedade.
Por fim, na sessão BIOGRAFIA o Caderno conta no-vamente com a contribuição da historiadora Jane deFátima Silva Rodrigues, agora para trazer à luz da his-tória local um pouco da vida e das experiências dura-mente adquiridas de “Maria Dirce Ribeiro”, uma mulherde expressão na cidade de Uberlândia-MG.
A entrevista desde número foi feita com a escrito-ra uberlandense Martha Azevedo Pannunzio, premia-da no Brasil e no exterior pela excelência de suasestórias infanto-juvenis. A entrevista foi concedida àGiselle Pereira Vilela, bacharel do curso de Pedago-gia – Gestão e Tecnologia Educacional da Uniminas,e orientanda da profa. Dra. Jane de Fátima SilvaRodrigues.
Reforçamos o convite para que as pessoas quese debruçam sobre os estudos e pesquisas sobre amulher e relações de gênero possam se utilizar desseveículo sério e de credibilidade que é a Revista CadernoEspaço Feminino, democratizando as publicações e pos-sibilitando o acesso a outros/as estudiosos sobre oassunto e a comunidade em geral, num importante tri-pé entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Cláudia Costa GuerraCOMITÊ EDITORIAL
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 11
Elites oligárquicas e o ensino religiosoElites oligárquicas e o ensino religiosoElites oligárquicas e o ensino religiosoElites oligárquicas e o ensino religiosoElites oligárquicas e o ensino religiosofeminino no Espírito Santofeminino no Espírito Santofeminino no Espírito Santofeminino no Espírito Santofeminino no Espírito Santo
Sebastião Pimentel Franco
Resumo: A partir do século XIX e, sobretudo com a as-censão dos republicanos ao poder, amplia-se a possibili-dade das mulheres terem acesso à escolarização. A visãode que o acesso à escolarização tiraria o país da incivilida-de e do atraso, aliada a idéia de que as mulheres eram edu-cadoras por excelência, vai garantir a estas a possibilidadede maior acesso à instrução. Para tanto, era necessário, exis-tirem escolas para as mulheres.
Palavras-chave: Republicanos, Escolarização, Escolas paraas Mulheres.
Abstract: Since the 19th century and the ascension of therepublicans to power control, women’s possibility wasenlarged to have school access. The vision that school accesswould relieve the country from rudeness and delay, alliedto the idea that women were excellent educators, guaran-teed them with the possibility of more instruction. Forthat it was necessary to have schools for women.
Keywords: Republicans, School, Women.
Sebastião Pimentel Franco. Professor do Departamento de História daUniversidade Federal do Espírito Santo e Professor do Programa de PósGraduação em História Social das Relações Políticas.
Elites oligárquicas e o ensino religioso feminino no Espírito Santo
12 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução
O presente artigo discute o projeto republicanopara a educação evidenciando o esforço pela expan-são da oferta de escolarização primária e à forma comoessa ação se transformou numa abertura para as mu-lheres. Evidencia-se que a expansão da escolarizaçãotem ligação direta com a questão da urbanização e daindustrialização, aliada à visão dos governantes repu-blicanos que consideravam a educação uma possibili-dade de tirar o país do atraso e da falta de civilidade.
Aborda-se ainda a estreita ligação entre as elitesoligárquicas e a Igreja Católica no sentido de garantir aescolarização às mulheres através da criação de colé-gios religiosos, aqui evidenciado pelo Colégio NossaSenhora da Auxiliadora existente em Vitória no Espí-rito Santo.
Por fim, revela-se o projeto de educação destescolégios religiosos para as mulheres.
O projeto republicano para a educação eO projeto republicano para a educação eO projeto republicano para a educação eO projeto republicano para a educação eO projeto republicano para a educação eação do estado na região do Espírito Santoação do estado na região do Espírito Santoação do estado na região do Espírito Santoação do estado na região do Espírito Santoação do estado na região do Espírito Santo
Com o advento da República, aumentou a ofertade escolarização em nível do ensino primário. As con-dições econômicas e o início das atividades industriaise de urbanização que passavam a tomar conta do Paíse, em conseqüência, do Espírito Santo, aliados à visãodos republicanos sobre a instrução como forma depromover o desenvolvimento do povo e da nação,possibilitaram a um contingente da população o direi-to de se instruir.
Não se pode esquecer que, com o projeto de ins-trução, havia por parte do governo republicano a in-tenção de efetuar o controle da população, sobretudodas populações pobres no espaço da cidade.
Assim como Nagle1, Carvalho2, diz que o proces-so crescente de industrialização e de urbanização porque passou o país na Primeira República previa que as
1 NAGLE, Jorge. Educação esociedade na Primeira Repú-blica. São Paulo: EDU, 1980.
2 CARVALHO, Marta MariaChagas de. Molde Nacional e fôr-ma cívica: higiene, moral e tra-balho no projeto da Associa-ção Brasileira de Educação(1924-1931). Bragança Paulis-ta: Edusf, 2000, p. 273.
Sebastião Pimentel Franco
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 13
cidades se tornassem uma atração para as populaçõesdo campo.
Moralizar os costumes passou a ser o objetivo maiordo programa modernizador da instrução. Para tanto,procurou-se evitar o êxodo rural e levar a escola paraos rincões mais longínquos do país.
Nesse sentido, o projeto propunha uma reformada educação que ajustasse os homens às novas condi-ções e valores de vida, promovendo uma mudança dementalidade3.
Assim, depreende-se que a nova sociedade deviaser dirigida pelo Estado de compromisso, regulamen-tado por um extenso corpo legal escrito. Para tanto, opaís deveria se constituir de cidades modernas e urba-nas4.
No contingente que passou a ser beneficiado comesse processo, incluíam-se as mulheres. Surgia, efeti-vamente, a oportunidade delas ingressarem na escolapara se instruir.
Entretanto, para atender à demanda de escolarização,era necessário que houvesse cada vez mais professo-res. Nessa época, ganhou força uma corrente que pre-gava o magistério como atividade essencialmente fe-minina, embora é verdade, que desde o século XIX,começava a prevalecer à idéia da necessidade de seinstruírem as mulheres, pois, uma vez que eram asresponsáveis pela educação dos filhos, poderiam ser,também, pela formação de bons cidadãos. No inícioda fase republicana, os ideólogos da República defen-diam a idéia de que a mulher era a responsável pelaconstituição das gerações futuras e, em conseqüência,pelo futuro da nação. A nação dependeria, portanto,da forma como as mulheres educavam seus filhos eseus alunos.
Dessa forma, abriram-se as portas das escolas paraformá-las como profissionais do magistério, de modoque pudessem assumir a missão de educar.
No Espírito Santo, como ocorria no restante dopaís, era forte o discurso sobre a expansão e melhoria
3 Idem, Ibidem, p. 273.
4 SIQUEIRA, Elisabeth Madu-reira. Luz e sombras: moder-nidade e educação pública emMato Grosso (1870-1889).Cuiabá: Inep, 2000, p. 12.
Elites oligárquicas e o ensino religioso feminino no Espírito Santo
14 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
do sistema educacional.Além de tentar expandir a oferta da escolarização
primária no seio da população, as mulheres como jáfoi dito, passaram a ser o alvo das atenções do Estadoe das elites oligárquicas que envidaram esforços nointuito de criar escolas especialmente para elas, umavez que estas escolas especiais, poderiam oferecer umaeducação diferenciada. Vejamos como ocorreu esseprocesso.
Estado e Igreja e a preocupação comEstado e Igreja e a preocupação comEstado e Igreja e a preocupação comEstado e Igreja e a preocupação comEstado e Igreja e a preocupação coma educação das mulheresa educação das mulheresa educação das mulheresa educação das mulheresa educação das mulheres
A estreita ligação entre as elites oligárquicas queestavam no poder e a Igreja Católica explica a prolife-ração dos colégios religiosos no Brasil após o adventoda República.
Apesar de o Estado ter-se desvinculado do catoli-cismo após a proclamação da República, deixando in-clusive a religião católica de ser a religião oficial doEstado, elites dominantes e Igreja Católica nunca rom-peram definitivamente seus laços. Acontecia, às ve-zes, em razão de interesses particularizados, diferen-ças momentâneas, que não criavam rupturas definiti-vas entre eles.
A Igreja, a partir do século XIX, passou a enxergaras mulheres sob uma perspectiva utilitarista e a incen-tivar a sua escolarização, uma vez que, sendo conside-radas “base da família, era necessário que elas adqui-rissem uma formação cristã através da escola”5, parareproduzi-Ias nos lares cristãos. A proposta educacio-nal desses colégios religiosos femininos era modelar,portanto, o caráter das alunas nos preceitos e valoresmorais católicos para que fossem reproduzidos emfuturas famílias.
O ideal de instruir as mulheres em colégios pró-prios, onde as moças não fossem vistas como futurasreligiosas, segundo Margotto, teria surgido a partir doséculo XVII, com as irmãs Ursulinas, as quais viam as
5 MARGOTTO, Lílian Rose.Igreja católica e educação femininanos anos 60: o Colégio SacreCouer de Marie. Vitória, 1960-1969. Vitória: Edufes, 1997, p.24.
Sebastião Pimentel Franco
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 15
educandas como mulheres que viveriam no mundo eque teriam de ter um estudo voltado para elementosda vida cotidiana, quando já fossem mulheres casadas.Formavam, enfim, moças para freqüentar a sociedadee não os conventos.
A educação ministrada às mulheres, portanto, tinhade necessariamente ser diferente da ministrada aoshomens.
O primeiro colégio religioso do Brasil surgiu emSão Paulo, em 1859, com a vinda das Irmãs de SãoJosé de Chamberry.
Daí em diante, urna rede de escolas se estabele-ceu no País, sob a direção das mais diferentes ordensreligiosas. Essas escolas, na sua maioria, funcionavamem regime de internato, mas algumas delas tambématendiam a uma clientela que não precisava internarsuas filhas.
De acordo com Nadai, essas escolas foram expres-são de amplo movimento das oligarquias, que ansia-vam por espaços duradouros e estáveis para educaremsuas filhas, diferentemente do que até então lhe havi-am sido oferecidos pelas escolas laicas, escolas essasque fossem conservadoras e resistentes as inovaçõesindesejadas6.
Combatendo a laicização do ensino, por entenderque esse formaria mulheres sem religião e sem Deus,a Igreja tentou estabelecer uma rede de ensino noBrasil e, para tanto, teve de buscar o apoio das oligar-quias.
As elites oligárquicas desejavam um ensino con-servador, que mantivesse os padrões de comporta-mento condizentes com suas aspirações e não com-prometesse a estrutura social vigente.
Por serem contrárias à idéia da emancipação femi-nina, apoiaram um projeto educacional que tinha porproposta dar ao gênero feminino ensinamentos queformassem mulheres prendadas e boas donas-de-casa.
Esse projeto lhes era duplamente favorável, pri-meiro porque lhes reservava a função de dirigentes da
6 NADAI, Elza. A educação daelite e a profissionalização damulher brasileira na primeirarepública: discriminação ouemancipação. Revista da Facul-dade de Educação de São Paulo.São Paulo, v. 17, n. 17, p. 5-34,jan./dez. 1991.
Elites oligárquicas e o ensino religioso feminino no Espírito Santo
16 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
sociedade, cabendo-lhes, assim, a produção das idéiasnorteadoras do conjunto social; segundo, porque odiscurso antimoderno do catolicismo ultramontano tan-to lhes garantia a execução de um projeto educacionalnão comprometedor e uma doutrina de passividade,quanto, de fato, não obstava os necessários avanços emodernização no âmbito das forças produtivas7. OEspírito Santo não fugiu á regra do que acontecia norestante do País e, no principio do século XX, come-çaram aqui a se instalar colégios religiosos, um delesfoi o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.
O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.O Carmo na Primeira RepúblicaO Carmo na Primeira RepúblicaO Carmo na Primeira RepúblicaO Carmo na Primeira RepúblicaO Carmo na Primeira República
A partir da segunda metade do século XIX, tendeua crescer o número de mulheres a ter acesso à instru-ção, inclusive ao ensino secundário, possibilitando quealgumas delas viessem a se dedicar ao magistério. ParaManoel8, a vinda da Família Real, a abertura dos por-tos para o mercado mundial, o processo de urbaniza-ção que começou a se acelerar, a “penetração do capi-talismo e a gravitação do universo do neocolonialismo”possibilitaram maior abertura da sociedade, afrouxa-mento na estrutura social, maiores perspectivas de umaparticipação ativa da mulher e exigiram, conseqüente-mente, uma redefinição social em relação à educaçãofeminina.
Já havia algum tempo, criticava-se a falta de esco-las para as mulheres, sendo esse fato apontado comoum dos fatores do grande atraso em que o País vivia.As elites dominantes começaram a alterar seu com-portamento, procurando garantir às mulheres direito àinstrução.
Se havia o desejo de se garantir a instrução da mu-lher, como implementar isso na prática, dada ainexistência de pessoal habilitado que pudesse exer-cer a profissão do magistério? Como não se concebiaque as meninas pudessem estudar (ensino primário)
7 MANOEL, Ivan Aparecido.Igreja e educação feminina (1859-1919): uma fase do conserva-dorismo. São Paulo: Unesp,1996.
8 Op. Cit. p. 22.
Sebastião Pimentel Franco
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 17
com professores, começou a crescer a idéia de se cri-arem escolas que habilitassem as mulheres para seremmestras. Eram as chamadas “Escolas Normais”, quecomeçaram a se espalhar pelo país. Estava lançado ocaminho para a feminização do magistério.
Foi nesse cenário que iniciou o processo de for-mação de professoras para que pudessem os republi-canos efetivaram a expansão da oferta da escolarizaçãodo ensino primário. Assim foram sendo criadas esco-las de formação de magistério, procurando dotar a re-gião de professores aptos para exercício do magis-tério.
Dentre as escolas de formação de magistério queexistiram no Espírito Santo uma das principais foi oColégio Nossa Senhora Auxiliadora, popularmentechamada de “O Carmo”.
A oligarquia no poder subvencionou incondicio-nalmente as Irmãs Carmelitas que aqui fundaram essecolégio.
Foi graças à ação do bispo Dom João Nery que em20 de novembro de 1889, pode ser firmado com avisitadora das filhas de São Vicente de Paulo, por in-termédio da superiora Irmã Chantrel, um acordo paraque as irmãs pudessem vir dirigir um educandário nacapital do Estado. No ano seguinte, chegaram a Vitó-ria três religiosas, que se estabeleceram no velho pré-dio do Carmo9. Dispunham inicialmente de apenas umasala com pouco mobiliário, constituído de um sofá.seis cadeiras e um piano velho, que teriam sidoofertados pelo Presidente do Estado10.
Os esforços do Bispo tornaram-se realidade com afundação do educandário, que recebeu a denominaçãode Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.
Em 1° de março de 1901, o colégio já estava funci-onando. Contava com 9 alunas internas, 80 alunos ex-ternos, entre os quais 23 meninos11.
Gradativamente a escola foi crescendo, o que pos-sibilitou a vinda de mais religiosas, que, em 1902, pas-saram a ser em número de 6.
9 Vieram à superiora IrmãFilomena Destinou e as irmãsMaria e Vicência.
10 Marcelino Pessoa de Vascon-celos.
11 O valor da mensalidade dasinternas era 35$000 e dos me-ninos, 5$000. O Carmo nosprimeiros anos aceitava meni-nos como alunos. Essa expe-riência, no entanto, duroupouco.
Elites oligárquicas e o ensino religioso feminino no Espírito Santo
18 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
O ano de 1902 foi um marco na vida do Carmo.Nesse ano, iniciou-se o episcopado de D. Fernandode Souza Monteiro, que “elegeu o Carmo a pérola desua diocese...”12.
Apesar de estar aumentando a cada ano a clientela,o sucesso do Colégio do Carmo esteve ligado ao apoioque a associação Igreja e Estado lhe destinou. Em1905, por exemplo, o Colégio passou a receber da As-sembléia Legislativa uma subvenção mensal de 250$000para ajudar a manter o funcionamento da Escola.
Em 1907, os exames do Colégio já eram oficial-mente reconhecidos. Dois anos mais tarde, pelo De-creto n° 334, de 2 de abril de 1909, ocorreu à equipa-ração desse estabelecimento à Escola Normal. Comisso, as alunas diplomadas passaram a ter os mesmosdireitos e vantagens que os alunos da Escola Normal,o que significou um grande impulso para o colégio,uma vez que passou a atrair maior clientela, sobretudovinda de cidades do interior e de estados vizinhos doEspírito Santo, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. OPresidente do Estado do Espírito Santo, em 1909, aten-dendo solicitação do bispo local13 equiparou o Colé-gio do Carmo à Escola Normal.
Apesar do sucesso que já fazia o Colégio do Carmonas classes média e abastada do Estado, um poucoantes da sua equiparação à Escola Normal, o governofederal passou a exigir que as irmãs devolvessem oprédio, sob alegação de que a edificação pertencia àUnião14. Mais uma vez, o bispo D. Fernando interveioe, com a ajuda do Presidente do Estado, conseguiuprorrogar o prazo de devolução da edificação, até quese pudesse esclarecer a quem de fato esta pertencia.
A Igreja e o Estado se movimentaram e mobiliza-ram a sociedade local em favor do bispado. Por fim, adecisão foi favorável à ordem religiosa.
Vencida essa batalha, as religiosas, auxiliadas pelaCongregação das Filhas de Maria, conseguiram criarum externato para crianças pobres, num pavilhão ane-xo ao edifício.
12 NOVAIS, Maria Stella de. OCarmo, Vitória, 1949.
13 O bispo D. Fernando era ir-mão do Presidente do Esta-do, Dr. Jerônimo de SouzaMonteiro.
14 Foi dado o prazo de 10 diaspara que o estabelecimentovoltasse às mãos da União.
Sebastião Pimentel Franco
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 19
O Colégio prosseguiu em sua expansão15 e, em 1910,sofreu uma grande reforma, que assim foi noticiadapela imprensa local:
Pelas reformas completas por que está passando, esse Colégiodispõe de vistas e higiênicas salas para aula, de espaçoso e bemarejado dormitório, de grandes salões para refeitório e recreio, debanheiros determinados pela higiene e terapêutica modernas eoutras dependências indispensáveis; tudo de conformidade comas sábias e adiantadas exigências da Prefeitura desta Capital.16
Apesar de possuir alunas externas e orfanato, oforte das escolas religiosas foi à organização dos in-ternatos, que, a partir do século XX, se expandiramenormemente. Assim garantiam a possibilidade de asmulheres terem acesso ao processo de instrução. Oscolégios internos religiosos eram a coqueluche da épo-ca e o Carmo não fugiu a essa regra. Nesses colégios,a educação das meninas requeria [...] a influência daeducação conventual não só pelo papel desempenha-do pelas religiosas educadoras, como também pela pro-posta de um curso diferenciado entre os sexos movi-do pelas expectativas da sociedade”17.
Para Ivan Manoel, a utilização do sistema de inter-nato, externato e orfanato significava a ampliação daesfera social dos colégios religiosos, “se o objetivomais amplo dessa educação era formar mulheres cris-tãs, a escola externa e o orfanato permitiriam abarcarmeninas de todas as classes sociais, desde os estratosmais ricos da oligarquia, até as mais pobres meninassem família’’18.
O internato tinha por objetivo isolar as moças domundo externo. Isso era possível com impedimentoda entrada de pessoas não autorizadas pelos colégios,das leituras proibidas e com censura de correspon-dência.
Segundo ainda Ivan Manoel19, as internas,
... retiradas da vida corrente [...], absorviam um conjunto de
15 Os recursos financeiros au-mentavam a cada dia, o quepossibilitou que as irmãs pu-dessem adquirir chácara naPraia Comprida. Essa servia delocal de lazer para as internas,nos feriados e domingos.
16 Diário da Manhã, 20 de feve-reiro de 1910.
17 Algranti, 993, p. 261
18 Manoel, Op. Cit. p. 57.
19 Idem, Ibidem, p. 52.
Elites oligárquicas e o ensino religioso feminino no Espírito Santo
20 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
normas e preceitos educativos planejados pelo centro do ultra-montanismo, concretizando o projeto de formação de um alicercereligioso sobre o qual reconstuítíria uma sociedade segundo oscritérios e propostas da Igreja conservadora: uma sociedade cató-lica, ordeira, hierarquizada, moralizada, antimoderna, anti-liberal e antifeminista.
A formação oferecida a essas moças era rígida eseguida os preceitos católicos, os valores morais con-servadores. Oferecia-se ainda uma cultura geral refi-nada e procurava-se dar a elas uma sociabilidade poli-da. As disciplinas como Geografia e Ciências Físicas eNaturais eram ministradas como forma de garantir acultura geral das alunas, nunca como centro da instru-ção. No entanto dedicavam grande espaço para minis-trar a disciplina História — sobretudo a Sagrada e aAntiga recebiam atenção especial. Isso se explica emrazão de que esses colégios não objetivavam garantir aprofissionalização da mulher, mas prepará-la para serboa dona-de-casa, esposa e mãe.
Na documentação existente sobre o Colégio doCarmo no arquivo das escolas extintas da SecretariaEstadual de Educação20, não foi incomum verificarque muitos moradores de Vitória também adotaram aprática de colocar suas filhas no internato.
Havia todo um ritual de preparação das moças paraingresso no Colégio. Com esmero eram preparados osenxovais, que, segundo o estatuto da época, eram as-sim constituídos: 10 pares de meias, 10 camisas, 10anáguas, 2 pares de botinas, 1 caixa de folha (baú) paramiudezas e outra para costura.
Alunas internas e externas estudavam juntas, maseram proibidas de conversar entre si. No horário derecreio, inclusive, iam para pátios diferentes, para evi-tar que as internas tivessem contato com o mundoexterno. A separação ocorria dentro de salas de aulase até na hora da refeição.
Os internatos eram locais que precisavam afastar omal que vinha do mundo externo e para isso tinha de
20 O número de alunos dessecolégio refere-se há alguns anosapenas.
Sebastião Pimentel Franco
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 21
haver uma rigorosa vigilância sobre as alunas internas.Regras severas de disciplina e obediência eram impos-tas. O cultivo do silêncio, o controle das correspon-dências. A vigilância sobre as conversas das meninas,a distribuição do tempo entre atividades escolares eos exercícios de prática de devoção e de piedade fazi-am com que houvesse por parte do colégio um con-trole total sobre tudo e todos. Existiam regras de com-portamento, de linguagem de gestos. Controlava-se ocomportamento das meninas na hora do banho, nomomento das orações, nas salas de aula, nos recreiosnos dormitórios, enfim, de todo jeito. Sem contar que,além da fiscalização por parte das freiras, passava-se oimaginário de que, se essas moças escapassem da vigi-lância do colégio, não fugiriam da vigilância da Deus.
A todos os instantes, os movimentos, os atos pú-blicos e particulares, eram vigiados, eliminando a pri-vacidade e as características próprias das internas. Dese-java-se que as internas fossem sem individualidade esem marcas pessoais.
Embora o controle fosse muito grande, muitas nor-mas eram quebradas. As internas encontravam meca-nismos para resistirem às normas impostas. Conviviamcom as alunas externas, mandavam bilhetes de namo-ricos, sabiam notícias do mundo externo, enfrentavamas religiosas com ações e palavras, fugiam das tarefaspara que eram designadas.
Ao quebrarem normas, se descobertas, havia pron-ta punição, que variava de acordo com a gravidade dafalta cometida. O castigo tido como o pior era o de fi-carem expostas embaixo do relógio, sendo humilha-das, servindo de exemplo para as demais alunas, poispor ali passavam todas as irmãs e as colegas.
Várias eram as razões que poderiam levar uma alu-na para esse tipo de castigo: correr pela escada, fazeralgazarra, responder às Irmãs, contestar normas, uri-nar na cama, falar após o recolhimento no dormitório(internas), discutir com colegas, conversar na fila deentrada ou na hora da missa, discutir com o professor
Elites oligárquicas e o ensino religioso feminino no Espírito Santo
22 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
contestá-lo, contestar os preceitos da igreja católica.Além do castigo sob o relógio, existiam ainda ou-
tros tipos de punição, como ficar sem recreio, ser sus-penso das aulas por um ou mais dias e até ser expulso.
Nos internatos, punia-se quem cometesse falhas,mas garantia-se a premiação pelas boas ações. Aliás,isso contribuía enormemente para que houvesse nocolégio um elevado grau de competição entre as alu-nas internas. “Estimulavam o estudo e aperfeiçoamentomoral das alunas adolescentes, canalizando suas ener-gias para a consecução dos objetivos propostos peloprojeto educacional, premiando os que obtinham me-lhores resultados”21.
Como recompensa, eram oferecidas medalhas to-mando-se como referência o comportamento e não anota. Tal fato permite perceber que o ideal, antes demais nada, era formar moças educadas, recatadas ecomportadas.
Como, em geral, a maioria das alunas era proveni-ente de regiões mais distantes da capital do Estado etinha que viver separada de familiares e amigos, certa-mente muitas das internas encontravam dificuldadesde adaptação à nova vida.
Embora a educação na família fosse ainda nessaépoca pautada por padrões rígidos de vigilância —não se pode esquecer o controle que existia sobre asmulheres —, nunca se comparava à vida que teriamno internato. Dai muitas estranharem completamentea nova vida.
A estreita ligação das oligarquias com a Igreja fo-mentou o crescimento dos colégios religiosos femini-nos. Ao oferecer uma educação mais condizente comas aspirações das elites conservadoras, que não dese-javam uma educação mais liberal para suas filhas, oscolégios religiosos passaram a receber uma clientelacada vez mais numerosa e endinheirada.
Os dados levantados demonstraram que crescia acada dia o número de alunas no Colégio Nossa Se-nhora Auxiliadora.
21 Manoel, Op. Cit. p. 94.
Sebastião Pimentel Franco
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 23
Embora o número de alunas externas superasse onúmero de internas, este era razoavelmente grande,uma vez que o internato era a única possibilidade deestudo para as moças que moravam fora da capital.
O sistema de internato nas escolas impunha àsmoças um isolamento total ou parcial. Para Nadai22,esse isolamento justificava-se por dois pressupostos:primeiramente, pela visão da época de que toda crian-ça era inclinada para o mal; depois pela concepção deque o mundo vivia em permanente crise Esses doisfatores constituíam um perigo para a formação da cri-ança23.
Em geral as meninas da capital entravam no inter-nato muito cedo. No caso das alunas do curso normal,algumas ingressavam com 12 anos de idade, mas a médialevantada foi de 15 anos.
Com o gradativo crescimento, foi-se ampliando apossibilidade do oferecimento de outro tipo de ensinodiferente do que era oferecido no curso normal. Sur-giu, assim, o curso complementar e o curso primário,inclusive. A partir dos anos 20, o número de alunosexternos suplantou o das internas. Graças às boas con-dições financeiras, pôde o colégio abrir um orfanatopara atender à pobreza da cidade e do interior, rece-bendo crianças que ali mesmo tinham acesso à instru-ção. Algumas alunas se diplomavam com 16 anos deidade, mas, em geral, tornavam-se normalistas aos 18anos.
A rotina diária do Colégio variava de acordo com asituação da aluna. Se fosse externa, as aulas aconteci-am das 8 às 12 horas, Existiam ainda alunos que entra-vam no turno da tarde. A rotina das internas, no entan-to, era bem diferente. Acordavam às 5h 30min e iampara a missa. Logo após, tomavam café. As 19h 30mintinham que se recolher. O dormitório era dividido emcômodos onde ficavam de 4 a 5 internas, que era agru-padas por idade ou por tamanho. Após o toque derecolher, as luzes eram apagadas, ninguém podia le-vantar ou conversar. As irmãs inspecionavam os cô-
22 Nadai, Op. Cit. 1991.
23 Idem, Ibidem.
Elites oligárquicas e o ensino religioso feminino no Espírito Santo
24 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
modos com batidas rotineiras, para verificar se reinavaa “ordem” esperada.
As internas, aos sábados e domingos, eram obriga-das a se dedicar a orações e missas. Às vezes algumasrecebiam autorização para freqüentarem casas de co-legas.
Diferenças socioeconômicas entre as alunas devi-do às classes sociais a que pertenciam acarretavamdiscriminação por parte das religiosas.
Além da discriminação motivada por fatoressocioeconômicos, existia a discriminação com as alu-nas que se insuflavam contra as normas da escola. Asalunas mais dóceis, mais “comportadas” eram sempremais bem tratadas, enquanto as menos “comportadas”eram sempre perseguidas.
No curso primário, os professores eram exclusiva-mente do sexo feminino. No curso normal, a maioriados professores era do sexo masculino.
A educação oferecida pautava-se por uma visãomais conservadora e rigorosa. A obediência era vistacomo sinal de boa conduta. Segundo depoimento deex-alunas, as religiosas mais velhas eram mais exigen-tes e rigorosas, enquanto as mais novas eram mais com-preensivas e mais cordiais no relacionamento com asalunas.
O ensino era baseado na memorização. A grandemaioria acabava adotando a prática do ponto, que eracobrado impiedosamente nas avaliações.
A prática da memorização, apesar de já receberduras criticas desde o final do século XIX, foi utiliza-da em larga escala na primeira metade do século XX.Esse cenário só começou a mudar quando entraramem voga os preceitos da Escola Nova ou da EscolaAtiva, assim mesmo não eliminando aquela prática.
Falando da crítica que vigorou quanto ao processode memorização na entrada do século XX, nas esco-las, Souza comenta que, a partir de Rui Barbosa, prin-cipalmente.
Sebastião Pimentel Franco
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 25
... a memorização começou a ser julgada uma pseudo-aprendiza-gem. Não se questionava o fato de que, por serem mal prepara-dos, esses professores não compreendiam o que ensinavam, o quedeterminava consequentemente que a única forma de ensinar eraobrigar a memorização. As lições tinham que ser aprendidas decor não porque as crianças não tivessem outra forma de aprender,mas porque os professores não tinham outra forma de ensinar.24
No Carmo, as provas escritas eram mensais. Nofinal do ano existiam os exames finais constituídos deuma prova escrita e uma oral. O exame oral, para oqual se constituía uma banca25, era individual, sendo oponto sorteado na hora26. Aqui os exames não podiamser assistidos pelo público. Pelo que se pôde levantarcom as entrevistadas e pelos livros de registro de no-tas, no Carmo era elevado o número de aprovação.
A “cola” era muito utilizada pelas alunas, que re-corriam a esse método quando estavam em apuros.Sanfonas, olhar a prova da colega, escrever nas pernaseram alguns dos recursos utilizados.
Toda aluna tinha que estar com o uniforme sempreem ordem. Este era constituído de uma saia pregueadaazul marinho, blusa azul marinho de manga compridacom gola branca. As meias e os sapatos eram pretos.
Se, inicialmente, essas escolas funcionaram de for-ma tímida e a procura por elas era inexpressiva, a par-tir da Primeira República esse quadro começou a sealterar. Escolas foram abertas, sobretudo por iniciativado Estado. Mesmo as escolas particulares, que quasesempre eram confessionais, recebiam subvenção doEstado para funcionar.
Apesar de preparar as moças para o exercício domagistério, essas escolas jamais se descuidaram deprepará-las para ser boas donas de casa, para cuidardos filhos e do marido. Por isso mesmo, no currículode sua formação dava-se um peso relativo aos ensina-mentos de disciplinas como música, língua estrangei-ra, ou de habilidades práticas domésticas, como bor-dar, costurar e cozinhar.
24 SOUZA, Maria Cacília CortesChristiano de. Escola e memó-ria. Bragança Paulista: Edusf,1999.
25 A banca era constituída peloprofessor da disciplina e duasreligiosas do colégio.
26 Segundo uma das entrevista-das, era sempre uma aluna quesorteava o ponto.
Elites oligárquicas e o ensino religioso feminino no Espírito Santo
26 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
A partir da segunda metade do século XIX e so-bretudo durante a Primeira República tendeu a cres-cer o acesso da população a escolarização, em especi-al as mulheres foram amplamente beneficiadas. A vi-são de que o acesso à escolarização tiraria o país daincivilidade, aliada a idéia de que as mulheres erameducadoras por excelência, mais a necessidade de seampliar o número de professores foram os principaismotivos que resultaram na possibilidade dessa amplia-ção do acesso a escolarização para as mulheres.
Inúmeras escolas femininas foram abertas nesseperíodo, sobretudo as escolas de formação de magis-tério. Dentre estas escolas, as de orientação religiosaforam as mais beneficiadas, envidando o Estadoenvidado todos os esforços para que estas fossem cri-adas.
Ao abrirem estas escolas, as oligarquias locais e aIgreja Católica se aliam no sentido de sedimentaremuma instrução mais conservadora, que mais preparas-sem as mulheres para serem mães, esposas e donas decasa, do que para profissionalizá-las efetivamente. Osensinamentos nelas ministradas se caracterizaram poruma proposta educacional mais conservadora objeti-vando formar o caráter das alunas nos preceitos evalores morais católicos para que fossem reproduzi-dos nos lares, projeto educacional que valorizava apassividade e conseqüentemente impeditivo para a pro-liferação de idéias inovadoras.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Molde Nacional e fôrma cívica:higiene, moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira deEducação (1924-1931). Bragança Paulista: Edusf, 2000.MANOEL, Ivan Aparecido. Igreja e educação feminina (1859-1919):uma fase do conservadorismo. São Paulo: Unesp, 1996.MARGOTTO, Lílian Rose. Igreja católica e educação feminina nos anos
Sebastião Pimentel Franco
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 27
60: o Colégio Sacre Couer de Marie. Vitória, 1960-1969. Vitória:Edufes, 1997.NADAI, Elza. A educação da elite e a profissionalização da mu-lher brasileira na primeira república: discriminação ou emancipa-ção. Revista da Faculdade de Educação de São Paulo. São Paulo, v. 17, nº17, p. 5-34, jan./dez. 1991.NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo:EDU, 1980.NOVAIS, Maria Stella de. O Carmo, Vitória, 1949.SIQUEIRA, Elisabeth Madureira. Luz e sombras: modernidade eeducação pública em Mato Grosso (1870-1889). Cuiabá: Inep,2000.SOUZA, Maria Cacília Cortes Christiano de. Escola e memória.Bragança Paulista: Edusf, 1999.
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 29
Mujeres migrantes latinoamericanas enMujeres migrantes latinoamericanas enMujeres migrantes latinoamericanas enMujeres migrantes latinoamericanas enMujeres migrantes latinoamericanas enel trabajo sexual de Barcelona, España:el trabajo sexual de Barcelona, España:el trabajo sexual de Barcelona, España:el trabajo sexual de Barcelona, España:el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedadla relación simbólica entre cuerpo y sociedadla relación simbólica entre cuerpo y sociedadla relación simbólica entre cuerpo y sociedadla relación simbólica entre cuerpo y sociedaddesde los estudios de género contemporáneosdesde los estudios de género contemporáneosdesde los estudios de género contemporáneosdesde los estudios de género contemporáneosdesde los estudios de género contemporáneos
Carlos Fonseca HernándezMa. Luisa Quintero Soto
Resumo: A reflexão e o debate sobre os aspectos huma-nos relacionados ao serviço sexual revela a vulnerabilidadedos setores mais desfavorecidos da sociedade. A discrimi-nação e o estigma são elementos de conflito para o desen-volvimento de estratégias organizativas e em alguns casoscausa de depressão, enfermedades psicosomáticas, baixaautoestima, e aliciamento por parte destes seguimentos.Com isto, surge a necessidade de fortalecer o suporte so-cial das mulheres migrantes trabalhadoras sexuais e a imple-mentação de programas que promovem a sua autogestão.Este estudo mostra um progresivo poder das trabalhado-ras sexuais migrantes que se preparam para um movimen-to associativo.
Palavras-chave: Serviço Sexual, Mulheres Migrantes,Movimentos Associativos.
Carlos Fonseca Hernández. Doctor en sociología por la UniversidadComplutense de Madrid, actualmente se desempeña como Profesor enel Postgrado de Economia de la Escuela Nacional de Estudios Profe-sionales ENEP Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México.Ma. Luisa Quintero Soto. Doctora en Ciencias Sociales por la UniversidadIberoamericana, es profesora y tutora del Postgrado de Economia de laEscuela de Estudios Profesionales ENEP Aragón de la Universidad Naci-onal Autónoma de México.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
30 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Abstract: The reflection and the debate on the humanaspects related to sexual work reveal the vulnerability ofsociety less favored sections. Discrimination and stigmaare conflict elements for the development of strategies andin some cases, cause of depression, psychosomatic diseases,low self-steam and allurement. Because of that there is anemergence of a need to strength migrant women’s socialsupport — for the ones who are sexual workers — as wellas the implementation of programs to promote self-mana-ging. This study shows a progressive power of migrantsexual workers who are getting ready for an associativemovement.
Keywords: Sexual Work, Migrant Women, AssociativeMovement.
Introducción teóricaIntroducción teóricaIntroducción teóricaIntroducción teóricaIntroducción teórica
Desde hace algún tiempo, ciertos colectivos ymovimientos intelectuales han tratado de dar otro sen-tido al Trabajo Sexual para producir un cambio en elautoconcepto de las mujeres y su capacidad para exi-gir respeto y equidad. Desde la Sociología se conside-ra que cualquier Cambio Social es un proceso complejoque comienza por conocer las realidades de las mujeresdedicadas al servicio sexual, sus condiciones socialesy humanas; generándose un debate entre las propiasmujeres, y posteriormente, hacer una transformaciónde significado a un concepto históricamente tan arrai-gado y lleno de valoraciones morales.1 Como se sabe,de muchas maneras se ha tratado de controlar lasexualidad femenina. Ya sea a través de la injuria, elestigma, el rechazo o el control legal. Sin embargo, eltrabajo sexual representa un reto para la investigaciónporque supone innumerables cuestionamientos. Porun lado, puede ser considerado una forma de violenciaeconómica porque coacciona a una determinada
1 CORSO, Carla (1990): “Lalucha por los derechos de las pros-titutas” y OSBORNE Raquel:“Comprensión de la pros-titución desde el feminismo”en Debates feministas. Madrid:Comisión anti-agresiones yCoordinadora de Grupos deMujeres de Barrios y Pueblosdel Movimiento Feminista deMadrid.
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 31
persona a trabajar en algo que no desea: en la venta desus servicios sexuales. Desde luego que existen algu-nas personas que están en esta situación, por ejemplolas inmigrantes sin papeles y las mujeres transexualesque se ven forzadas a trabajar en la industria del sexopara sobrevivir pues no acceden a otros puestos la-borales. Sin embargo, generalmente se cree que todasson esclavas sexuales que hacen este trabajo en con-tra de su voluntad.2 Esta aproximación, formulada des-de un sector fundamentalista el feminismo, considerala sexualidad de las mujeres como una forma de escla-vitud por parte de los hombres. Los argumentos deKathleen Barry (1998) fueron muy bien acogidos porlas feministas norteamericanas; pero totalmente recha-zados por sus informadoras, las prostitutas. La posiciónde Barry es claramente determinista sobre la sexualidadde las mujeres, considerándolas víctimas del patriarca-do. Margo St. James fue la primera prostituta contem-poránea en Estados Unidos que se manifestó pública-mente por los derechos de las trabajadoras del sexo3,fue también informadora de Barry para su trabajo deinvestigación. St. James desmiente que las prostitutassean esclavas del orden masculino; al contrario, sugiereque el trabajo sexual les permite independizarse deellos y ganar dinero a través de sus servicios. Esencial-mente, lo que verdaderamente ataca a la moral públicay genera tristeza entre las propias mujeres es que lasprostitutas puedan recibir dinero a cambio de sus fa-vores sexuales. Puesto que en el modelo de la sexua-lidad “buena” el sexo se hace por amor, con una únicapareja estable y sin dinero de por medio. Sin embargo,el intercambio económico se ha producido desdesiempre, incluso en la institución matrimonial muchoshombres pagan dotes por la esposa (la boda, el ban-quete, el anillo, etcétera) y ofrecen mantener a lasmujeres a cambio del acceso a su sexualidad y el trabajodoméstico; la diferencia es que hacen el trabajo —sexual y doméstico — no remunerado. Es decir, noexiste el intercambio de dinero por placer sexual.
2 Véase BARRY, Kathlenn(1988): Esclavitud sexual de lamujer. Barcelona: La Sal.
3 PHETERSON, Gail (comp.);prefacio de ST. JAMES, Mar-go: (1989): Nosotras las putas.Madrid: Talasa.PHETERSON, Gail (2000):El prisma de la prostitución.Madrid: Talasa.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
32 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
4 JULIANO, Dolores (2002): Laprostitución: el espejo oscuro. Bar-celona: Icaria, p. 16.
Juliano (2002) cuestiona ¿Por qué el progreso econó-mico de las prostitutas y no el de otros sectores comolos empresarios, soldados o clérigos — por ponercualquier ejemplo — causa tantas medidas represivasy rabia entre las mujeres?4 El propósito de este aparta-do es analizar la complejidad de la actividad sexualremunerada.
Pheterson (1989) asegura que la etiqueta de “puta”se atribuye a toda persona que trabaja o ha trabajadoen la industria del sexo como prostituta, modelo por-nográfica, bailarina de strep-tease, masajista, rempla-zado sexual o teleoperador de llamadas eróticas, ocualquier otro entretenimiento o servicio de caráctersexual.5 Sin embargo, no sólo las prostitutas puedenser mar-cadas con el estigma; cualquier mujer puedeser considerada puta dentro de un contexto social ylingüístico, en el cual se atente contra su dignidad,especialmente si es trabajadora independiente, víctimade una violación, pobre, o de otra raza; con el objetode deshumanizar su persona y hacerla blanco de ladiscriminación misógina, racial, laboral, legal y sexual.La mancha que provoca entre las mujeres, constituyela mayor forma de estigmatización de una conductaque cuestiona potencialmente el orden establecido.De tal forma, las fobias generalizadas contra laprostitución no son más que una máscara que ocultael temor que la sociedad patriarcal siente ante estasmujeres fuera de la norma. Recela de ellas porquepueden ser tomadas como modelo a seguir por otrasmujeres. Asimismo, desconfía de las prostitutas por-que las considera como esencialmente poseedoras decierto conocimiento sobre las debilidades del sexofuerte. Restrepo (1997) asegura que no hay mucha di-ferencia entre lo que hace la prostituta y lo que efectúala gente decente. Lo que realmente sucede, es queésta realiza de forma pública lo que los demás practicande manera privada. Y por ello se convierte en actoobjeto de reproche.6
5 PHETERSON, Op. cit., p. 38.
6 RESTREPO, Luis (1997), Elderecho a la ternura, Barcelona:Península, p. 112.
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 33
En los países latinos en los que existe el carácteralegal de la prostitución, el orden social atribuye unestigma a la trabajadora sexual, que por una extrañarazón, no alcanza al cliente; incriminándola por supresunta inmoralidad, mientras que tal mancha noalcanza al usuario; liberándolo de la identidad deterio-rada. En Austria, donde existe una regulación arbitra-ria del comercio sexual, la persona que vende serviciossexuales en la calle no es perseguida; mientras que elcliente puede ser detenido y procesado por comprarsexo. Esta situación perjudica aún más a las trabajadorassexuales autónomas puesto que laboran en condicionesde ilegalidad. De esta forma, al hostigar a los clientes,las mujeres tienen menos oportunidad de conseguirun trabajo sexual, cobran menos dinero y son másvulnerables a aceptar prácticas no protegidas puestoque el consumidor se encuentra en una situaciónvulnerable y exige mucho más por arriesgarse a serdetenido; con lo cual, se incrementa el poder de losclientes hombres sobre las mujeres. Además, los dueñosde hoteles, burdeles, clubes, proxenetas y demáspersonas relacionadas con la industria del sexo, quesimplemente proveen de una cama o un espacio parael coito sexual, se enriquecen gratuitamente del trabajode las mujeres.
En el mundo capitalista, la motivación económicase considera totalmente legítima en el colectivo dehombres — empresarios, profesionales e incluso, pres-tamistas. Mientras que se ve en las trabajadoras sexualescomo perversión (Juliano, 2002:28). En la sociedadcontemporánea, el trabajo es la base de la integraciónsocial, el prestigio y la autoestima personal. Al negar aestas personas la condición de trabajadores, no sólose las margina a la clandestinidad y al cuarto mundo,7sino que les aparta de la sociedad normalizada y se lesatribuye un concepto de sí mismo fundamentalmentenegativo.
Una de las explicaciones de la prostitución se centraen el análisis del dominio económico de los hombres
7 VENTOSA OLIVERAS, Lluis(2000): El mal lladre. Teologíades del Quart Món, Barcelona,Claret.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
34 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
sobre las mujeres. Para Varela (1995) el inicio del trabajoasalariado en la Edad Media y la imposición del matri-monio monógamo dio origen a que muchas mujeresque intentaban acceder a puestos de trabajo limitadospor hombres, ingresaran a los burdeles como salida asu necesidad laboral y como refugio a la instituciónmatrimonial.8 El desarrollo de las ciudades desde sigloXII al XIV atrajo a un voluminoso número de mujeresy hombres de las zonas rurales a los centros urbanos,que buscaban nuevas oportunidades de ganarse la vidafuera del control feudal. El control de los puestos detrabajo en manos de los hombres hizo que rápidamentelas incipientes organizaciones gremiales limitaran elacceso a las mujeres, dejando sus opciones laboralesfuertemente restringidas. Entonces, el trabajo sexualsurgió como acceso a los medios económicos para lasmujeres, en respuesta a su necesidad económica y detrabajo, e indirectamente como protección a la insti-tución matrimonial para aquellas que preferían incor-porarse al mercado laboral que entrar a un convento.Por tanto, la institucionalización de la prostitución esconsecuencia histórica de la lucha de las mujeres porconseguir bienes económicos, expresados en dinero através del trabajo remunerado; y, además, a la resistenciaal matrimonio como agente de control a sus cuerpos ysus sexualidades. A eso se debe quizá, el número tanalto de mujeres lesbianas en el trabajo sexual y el delas activistas feministas lesbianas que luchan por losderechos de las prostitutas. Mientras se mantenga ladiferencia de género para el acceso a los recursoseconómicos, la prostitución se manifiesta como unaestrategia redistributiva entre los hombres y las mujeres.
Sin embargo, aunque no resulte tan conocido, loshombres también ofrecen servicios sexuales a otroshombres. Este tema alude al tabú de la homosexualidady la poca importancia que se le da al tema. Muchos delos clientes que utilizan los favores sexuales de losprostitutos son hombres que quieren vivir un episodiohomosexual en su cotidiana existencia heterosexual.
8 VARELA, Julia (1995), “Laprostitución, el oficio másmoderno”, en Archipiélago, n.21, Pobreza y peligro.
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 35
Algunos de ellos tienen una doble vida, están casadosy tienen una inmaculada familia con hijos. Otros sonhombres maduros exclusivamente homosexuales queutilizan la prostitución porque durante su juventud lahomosexualidad fue duramente perseguida, como enel franquismo. Otros clientes son personas que quierenacceder a valores como la juventud, la belleza, la mas-culinidad y lo hacen con fines totalmente recreativos.No todos los clientes son homosexuales reprimidos,ni viejos frustrados, también existen hombres jóvenesque les excita sexualmente pagar a un prostituto.
Como la prostitución masculina no llama tanto laatención en la calle, es fácil que pasen desapercibidoslos clientes y los trabajadores. La barrera entre trabajosexual masculino y trabajo no sexual es más permeable.Un chico puede esporádicamente hacer algún unservicio cuando tiene necesidad económica y volverpor la tarde a otro trabajo, o alternar la prostitucióncon un trabajo convencional. La prostitución masculi-na está menos mal vista, simplemente porque no estan notoria. En parte, porque los chicos utilizan losvalores más apreciados de la masculinidad para captara sus clientes. Situación que es totalmente contraria ala prostitución transexual. En ella, la condición sexualhace que a la vista pública sea sumamente escandalo-sa y perturbadora. En algunos casos, la mujer transexualprostituta puede actuar en un rol penetrativo o simple-mente apreciada como una mujer con “algo” más. Enesencia, los clientes de la prostitución homosexual ytransexual, acceden a comportamientos prohibidoscomo el homoerotismo, la fantasía de un cuerpoandrógino que une a un hombre y una mujer al mismotiempo, o también aproxima a los clientes a valores tansubjetivos como la masculinidad, la feminidad, lajuventud o la belleza. El intercambio económico abrela puerta a un momento que en otras circunstanciassería difícil de acceder.
Sin embargo, el tratamiento social que se da a loshombres y a las mujeres que trabajan en la industria
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
36 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
del sexo es muy diferente. Los hombres que ejercenla prostitución no son objeto de la persecución policíacaque son objeto las mujeres. No se les considera des-viados morales, sino que sólo tienen motivacioneseconómicas. Por el contrario, en el caso de las mujeresy las transexuales se les supone que su ocupación sedebe a su inclinación al vicio y no a la falta de oportu-nidades laborales que las conduce al trabajo sexual.
Pese a que la feminización de la pobreza incidedirectamente sobre las mujeres, no se puede afirmarque actualmente en España las mujeres españolas seanlas que trabajan en la calle como prostitutas. La incor-poración de las mujeres a los puestos de trabajo hagenerado que otros colectivos ingresen en el mercadosexual. Mujeres inmigrantes (ecuatorianas, colombia-nas, rumanas, nigerianas) ocupan la mayoría de los lu-gares desocupados por las prostitutas autóctonas, lasespañolas están representadas por otro grupo margi-nado: las drogodependientes que utilizan el trabajosexual para pagar sus adicciones. La prostitución estáintegrada en su mayoría por personas que pertenecena algún gueto particularmente complejo. Tal es el casode las transexuales. Aunque casi en algún momentode su vida la mayoría de las transexuales españolashan trabajado en la industria del sexo, la reciente incor-poración de las transexuales españolas al trabajo con-vencional ha generado que otros colectivos ocupenel lugar en el mercado sexual que demanda mujerescon pene. Tal espacio está siendo ocupado por transe-xuales y travestíes extranjeras principalmente de Ecua-dor y Colombia.
La situación de la prostitución es continuamentecambiante, así como hace no muy poco abundaban lastransexuales brasileñas, de un momento a otro puedecambiar la situación de la industria del sexo.9
Depende de factores sociales y económicos delos países de origen y de las leyes de extranjería. Cuantomás restrictivas sean las políticas de inmigración, laincidencia de inmigrantes en el mercado sexual se verá
9 Sobre la Prostitución en Mé-xico véase: BRONFMAN, Ma-rio; URIBE, Patricia; HAL-PERIN, David; HERRERA,Cristina Herrera (2002): “Tra-bajo sexual: la espiral delriesgo”, en LETRA S, Julio 4de 2002, México, D.F.CORNEJO, Jorge Alberto(2002): “Cuando las magdalenasdevolvieron las pedradas”, enLETRAS, Julio 4 de 2002.México, D.F.CÓRDOVA PLAZA, Rosío(2002): “Entre chichifos,mayates y chacales”, en LE-TRA S, Julio 4 de 2002, Mé-xico, D.F.
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 37
acrecentada. Situación que únicamente favorece a losclientes, puesto que tienen una fuente inagotable demercancía donde escoger, la posibilidad de rebajar losprecios por la excesiva oferta de mano de obra en elmercado de trabajo y la oportunidad de realizar relaci-ones sexuales sin protección que otras personas conmenos necesidad económica, no aceptarían. Además,al haber tantas personas en busca de trabajo sexual, segeneran conflictos entre ellas/os por los espacios detrabajo, y competencia por conseguir más clientes.
Como se ha dicho, la situación es permanentemen-te variable. La prostitución masculina es aún más difí-cil de abordar si no se conocen los códigos para accedera ella. En el caso de los hombres trabajadores sexuales,el mercado se divide en locales cerrados (pisos, sau-nas, discotecas) y lugares abiertos como plazas, par-ques y playas. Los que trabajan en locales están me-nos marginados y a simple vista parece que pertenecena la clase media. En los pisos de relax se encuentranespañoles, franceses, colombianos y ecuatorianos.Quienes trabajan en estos lugares tienen cuerpos mol-deados en el gimnasio, con ropa, zapatos y accesoriosde marca. También están mejor remunerados, aunquecomparten la mitad de su sueldo con los propietariosde los locales. En las saunas y discotecas generalmenteejercen trabajadores autónomos que atraen a los cli-entes potenciales que saben que en esos lugares seofrecen servicios sexuales. Los europeos occidentalesestán un poco menos representados, abundando máslos trabajadores extranjeros de Iberoamérica, el Magreby Europa del Este.
En cambio, los lugares públicos se caracterizan porla gran diversidad de los trabajadores. La edad puedeser algo mayor, sin embargo existen chicos mayoresde 35 años con la apariencia de un paisano común.Muchos de los que trabajan en plazas y parques pro-vienen de los países árabes como Marruecos y Argelia;otros proceden de Europa del Este, particularmenteRumania. Una creciente parte de la prostitución mas-
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
38 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
culina callejera la integran jóvenes de Sudamérica,generalmente Ecuador y Colombia. Sin embargo, enlas playas cercanas a Torremolinos y Málaga se en-cuentran muchachos de España y otras regiones deEuropa, además de los marroquíes, rumanos y ecua-torianos. Dado a que la prostitución masculina es máscompleja y difusa, en la calle se pueden encontrarhombres de muchas nacionalidades, desde losautóctonos — que generalmente son jóvenes que hanescapado de casa o con problemas de drogas — hastalos innumerables inmigrantes que engruesan la capade la pobreza. Sin embargo, existe muy poca incidenciade hombres de los países subsaharianos, debido quizáa la idea que tienen sobre la homosexualidad conside-rada una especie de locura y las diferencias culturalesentre las conductas africanas y la occidental.
Puesto que los hombres autóctonos disponen demás recursos económicos que las mujeres y las/losinmigrantes, se genera un mercado que proporcionauna serie de servicios no sólo sexuales a los clientesque están dispuestos a pagar. La oferta y demandautiliza los imaginarios colectivos desde una lógica ca-pitalista y procura además de sexo, atención, escuchay compañía sustituyendo temporalmente las relacio-nes personales basadas en el trato y la confianza.
Según Juliano (2002) los hombres pagan por lo quepodrían obtener gratis por las siguientes razones:
· Porque se impone en el acto sexual una relaciónde poder de tipo económico y de virilidad.· Porque les ahorra a los hombres tiempo y esfu-erzo.· Porque evita implicaciones emocionales,· Porque les permite condicionar la relación esta-blecida a las exigencias de sus propias necesidadessexuales, afectivas y de comunicación sin tener encuenta las necesidades de su interlocutor/a, niconsiderarlo/a como sujeto.
Estos componentes disponen la demanda de
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 39
servicios sexuales como una sexualidad substitutiva,funcional para el cliente aunque frecuentemente ne-gada. En cambio, las/los trabajadoras/es sexualesdeterminan una relación exclusivamente instrumentalcon sus clientes. Observándolos, no como seres hu-manos, sino como una fuente potencial de recursoseconómicos que puede ser explotada; considerandosu gestión como una representación teatral, en la queadoptan el papel que el otro desea a cambio de dinerosin la necesidad de implicarse como personas. Tambiénhay excepciones, algunas veces las/los prostitutas/osse convierten en pareja de sus clientes, estableciéndoselazos afectivos entre ellos. Sin embargo, el tenor ge-neral señala que la mayoría son esporádicas, cortas ylimitadas a un intercambio de orgasmo por dinero.10
Durante la Guerra Civil Española, la desvalo-rización del trabajo sexual estaba basada en la ideaque el intercambio económico va en contra de la dig-nidad humana, puesto que el acto de dar una monedaa cambio de un momento de placer es la profanacióndel amor, de la naturaleza y del género humano, puestoque el cuerpo es el templo sagrado que no debe sercorrompido.11 Gallardo (1932, citado por Juliano yNash) considera que el cuerpo “sagrado” femenino espara el uso gratuito de los hombres, por tanto, declarala disponibilidad sexual y gratuita de las mujeres. Elautor consideraba que la virginidad voluntaria de lasmujeres debería ser considerada como un delito soci-al, como un atentado contra la salud reproductora y latranquilidad de los hombres.12
Como se ha mencionado, la palabra más fuerte detodos los idiomas se refiere a la mujer que se atreve asostener relaciones fuera del matrimonio sin la apro-bación del juez y del cura. En tanto, las palabras másvaloradas aluden a las características masculinas y lacapacidad de los hombres de emplear su cuerpo libre-mente.13 En consecuencia, el cuerpo es la primera ima-gen de nuestra identidad, cada miembro tiene un sig-nificado que refleja un cierto sentido.
10 JULIANO, D. Op. cit., p. 145.Además: “Trabajadoras sexua-les: Memorias vivas”. Asocia-ción de Trabajadoras Autó-nomas “22 de junio” de ElOro, Machala-Ecuador, 2002.AGUSTÍN, Laura (2001)“Mujeres inmigrantes ocupa-das en Servicios Sexuales” enColectivo Ioé (2001): Mujer,inmigración y trabajo. Madrid:Ministerio de Trabajo y Asun-tos Sociales – Instituto de Mi-graciones y Servicios Sociales.
11 NASH, Mary (1983), Mujer,familia y trabajo en España 1875-1936, cap.: “La prostitución”,Barcelona, Anthropos. Véasetambién: NASH, Mary (1999):“El fascismo de la naturaleza,prostitución y enfermedadesvenéreas” y “Libertad a lasprostitutas”, en Rojas. Las mu-jeres republicanas en la GuerraCivil, Madrid, Taurus.
12 Juliano D., Op, cit., p.27.13 BULLRICH, Silvina (1982), La
mujer postergada, Buenos Aires,Editorial Sudamericana, p.123.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
40 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
En este apartado nos interesa abordar el tema dela cabellera en el imaginario colectivo. En la culturaoccidental contemporánea la presentación pública delcabello tiene una división sexual: la cabellera largapara las mujeres y el pelo corto para los hombres. Lamoda un tanto reciente de varones que usan la cabezarapada para mostrar más masculinidad, se contraponecon la idea que a mayor cabello, más feminidad. Lafrase “cabello largo ideas cortas” sugiere que las mujeresson más tontas que los hombres por el hecho de tenermás pelo. La cabeza está situada en la parte superiordel cuerpo, alude directamente a lo superior, lo divi-no, el lugar de la inteligencia y el pensamiento. Cubrirla cabeza con largos cabellos sugiere enclaustrar sucapacidad pensativa. La cabellera está asociada con lanaturaleza, mientras su ausencia se relaciona a la cul-tura. La fórmula sexual de la cabellera revela que en-tre menos cabello, más hombre-cultura se es, en tantoa más cabello más mujer-naturaleza se es.
Juliano (2002) asegura que en todo el ámbito medi-terráneo se ha considerado que la cabellera suelta esun intenso estímulo sexual. Las diosas y mujeres seduc-toras de la Odisea — Afrodita y Helena — tienen suprincipal atractivo en sus largas cabelleras. Mientrasque Atenea es representada con el neutro pelo corto.El significado de la imagen de María Magdalena — lapecadora arrepentida que emplea su larga cabellerapara secar los pies de Cristo — se transforma total-mente. Del atributo de mujer mala pasa a mujer santapor postrarse ante el Señor. En consecuencia, eldominio sobre la cabellera humana es claramente unelemento fundamental del control simbólico de lasexualidad. La exigencia de cubrir la cabeza a las mon-jas, a las antiguas católicas para entrar a la iglesia y alas mujeres musulmanas tiene el propósito de desexua-lizarlas. De esta forma, se pretende evitar la tentaciónsexual que generan las mujeres a través de su cabello.Si la melena se asocia con la facultad de provocarsexualmente, las mujeres que no la tienen quedan sim-
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 41
bólicamente fuera del deseo masculino. Por tanto, lascalvas desprenden una imagen repulsiva, mientras quelas monjas y las mujeres islámicas al obligarlas a cubrirsela cabeza; son arrebatadas de la mirada masculina,invisibilizándolas. En el caso de las religiosas que secortan el pelo en el rito de iniciación, se interpretasubjetivamente la privación de sexualidad con la ausen-cia de cabellera. Pese al control de la cabellera huma-na, existen medios de resistencia para este tipo de domi-nación.
Los hombres afiliados al movimiento del rock asegu-ran que dejarse crecer el pelo es un acto de rebeldíaal orden establecido. La frase “soltarse la melena”,alude a la liberación de los condicionamientos sociales,librándose de las restricciones morales. El hecho desoltarse el pelo representa a mujeres autónomas, librespara tomar sus propias decisiones y sexualmente seduc-toras para provocar las miradas. Determinando que lapropia persona es libre de hacer con este atributo sim-bólico lo que le dé la gana, simplemente con el actode soltarse el cabello y permitir que su pelo caigalibremente. Las prostitutas están conscientes de estaconsideración social, usando muchas veces pelucas,generalmente rubias como parte de su indumentariade trabajo.14 La exigencia sobre las mujeres de acicalarsus largas cabelleras es un intento por controlar susexualidad y dividir a las mujeres buenas de las malas,a través de su presentación pública.
Juliano asegura que para que a las mujeres se lesconsidere sujetos socialmente aceptables, deben mani-festarse como no prostitutas. Esto genera la necesidadde profundizar la diferencia, recalcando la jerar-quización. La operación da como resultado el rompi-miento de la solidaridad entre las propias mujeres. Elpacto entre hermanas que plantean las teóricas del empo-deramiento, es una estrategia de unión para enfrentarsea la dominación masculina. La caída del muro entremujeres prostitutas y aquellas que no lo son es unaestrategia de unión ante un problema que afecta a to-
14 JULIANO, Dolores, Op. cit.,p. 80-81. Véase: SÁNCHEZORTEGA, María Elena(1995): Pecadoras de verano, arre-pentidas de invierno, Madrid, Ali-anza Editorial. BORNAY, Eri-ka (1994), La cabellera femenina,Madrid, Catedra, Ensayos,Arte.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
42 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
das. El tema del trabajo sexual no debería ser ajenopara nadie, puesto que el estigma “puta” es un instru-mento socialmente desarrollado para controlar a todaslas mujeres. Por tanto, la liberación de la amenaza aser estereotipadas por un comportamiento sexualmen-te activo, dejaría de ser un obstáculo para que lasmujeres asuman el control de su propia sexualidad. Ydejen de ser coaccionadas por los deseos sexuales delos hombres, mediante un modelo de sexualidad mo-nógamo, subordinado y reproductivo.15
Sin embargo, en este punto es importante preguntar¿Cuál es la solución del problema? La perspectiva con-servadora, basada en las ideas judeocristianas, confuertes prejuicios contra la sexualidad y la de las mu-jeres particularmente, plantea negar el asunto, propo-niendo la abstinencia como un medio de conclusión.Otros enfoques señalan la complejidad del tópico. Noobstante, el punto de partida para una posible vía desolución se encuentra en acceso a los recursos eco-nómicos para las mujeres y los colectivos marginados.El desenlace del problema de la prostitución no estáen hacer leyes más opresivas en contra de las/lostrabajadores sexuales, sus clientes, los drogadictos olos inmigrantes. Sino, en una reflexión de todos lossectores de la sociedad sobre la igualdad de oportuni-dades laborales entre hombres y mujeres, extranjerosy autóctonos. La cuestión del trabajo sexual, es antetodo eso, una cuestión, una pregunta sobre la equidad— que garantiza la ley — para todas las personas enel acceso a los puestos de trabajo.
Cualquier acción que comprenda abordar la solu-ción del trabajo sexual deberá tomar en cuenta la opi-nión de las implicadas. El Colectivo de TrabajadorasSexuales de Cataluña propone dejar de considerar alas mujeres como sectores marginales y verlas comotrabajadoras autónomas, a las que es necesario prote-ger sus derechos. El enfoque contempla acciones quepromuevan el reconocimiento de su labor como untrabajo más y permitir que administren ellas mismas
15 JULIANO, Dolores, Op. cit.,p.41.
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 43
las condiciones laborales, en respuesta a los proyectosque pretenden beneficiar a los dueños de los clubesdonde la prostitución estaría invisibilizada y en manosdel control masculino.
Propuesta en torno a la ProstituciónPropuesta en torno a la ProstituciónPropuesta en torno a la ProstituciónPropuesta en torno a la ProstituciónPropuesta en torno a la Prostituciónpor las propias mujerespor las propias mujerespor las propias mujerespor las propias mujerespor las propias mujeres
El siguiente apartado se sustenta en el trabajo mos-trado en el Foro virtual La Industria del sexo donde elColectivo de Transexuales de Cataluña generan unaProposición de No Ley. A continuación se transcribenalgunos párrafos:
“La prostitución podría definirse de forma simplista como unacuerdo, donde uno compra y otro vende sexo. Es como todoacuerdo algo pactado. La prostitución tiene que ver con el comer-cio, pero también y sobre todo con la autonomía y el derecho alpropio cuerpo, con la libertad de elegir en lo personal. Desde unpunto de vista utópico, la prostitución ideal es aquella en la cualambas partes se sienten conformes con el acuerdo realizado encondiciones de igualdad, en un trato justo. No obstante, la realidadsuele ser muy distinta debido a las condiciones sociales dediscriminación que sufre una de las partes, la trabajadora sexu-al. De hecho, nuestra sociedad es responsable de situaciones deinjusticia, de marginación y represión cultural, de la lesióneconómica de las prostitutas. Injusticias que caen como una losasobre determinados grupos sociales, los más indefensos, dejandola puerta abierta para la explotación, la injuria, la estigma-tización y extorsión de dichos grupos, convirtiendo una prácticahonesta e inocente, en algo sobre lo que se ejerce una gran tiranía.16
“En la actualidad, la situación de contratante y contratado esdesequilibrada. La prostituta parte en lo general de una posicióndesfavorable, de discriminación y marginación, de situacioneslímite que normalmente provoca acceder a la prostitución comoalgo impuesto. Siendo raro que se acceda a este oficio, al trabajosexual, de una forma libre y voluntaria, salvo casos excepcionalesdonde el ejercicio del trabajo sexual proporciona beneficios
16 Colectivo de Transexuales deCataluña (2002): Prostitución -Proposición de No Ley. Barcelo-na: CTC.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
44 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
sustanciosos, ascensos laborales o prestigio social: casarse con unmillonario, ser una actriz o una reconocida modelo, prostituta delujo, etc. Pero a pesar de ello, existen trabajadoras del sexo queacaban contemplando y reivindicando su oficio como un trabajomás, cambiando la primera visión auto culpabilizadora de símismas por un orgullo y talante equivalente al de las trabajadorasde otro oficio. Dicho concepto normalizado por propio trabajo departe del colectivo de las trabajadoras sexuales contrasta con lavisión social estigmatizada que se tiene de ellas.
“En la actualidad, la composición social de las trabajadorassexuales de España, y concretamente de Cataluña, está integra-da en un 50% de mujeres extranjeras. El 50% nacional sedivide entre prostitución de lujo, prostitución transexual y otrasmujeres de edad avanzada. La prostitución masculina, por otraparte, es minoritaria respecto de la femenina, pero también realy a tener en cuenta, tanto la orientada a un público homosexualcomo la heterosexual que es esta última menos vistosa.
“Se da la paradoja de que muchos análisis realizados desdefuera de la prostitución consideran a la prostituta que trabaja enla calle como aquella que atraviesa una situación más difícil,mientras que la realidad, en cambio, muestra muy a menudo uncuadro contrario, siendo como trabajadora autónoma y graciasal control de su trabajo y de su beneficio la que obtiene mayorsatisfacción, en contraposición a la trabajadora en clubes y localesde alterne, que ve una parte sustancial de sus ingresos apropiadapor los propietarios de dichos locales, proxenetas y de las redesde tráfico de personas. Además, algunos ven a dicha trabajadoracallejera y autónoma con disgusto, de forma que la tendenciageneral de las propuestas legislativas es erradicarla. Por extensión,también se pretende en ocasiones erradicar a otras trabajadorasautónomas que desde sus propias viviendas o domicilios habili-tados para este negocio, venden sus servicios sexuales. Pro-posiciones altamente contradictorias para quienes dicen y postulanel trabajo sexual como — un trabajo más. ¿Por qué debería serpues vergonzoso su ejercicio en la calle o en domicilios privados?
“Algunos argumentos esgrimidos contra la prostitución autónoma
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 45
son conllevar falta de seguridad médica, con riesgo de transmisiónde enfermedades, al estar asociada con delincuencia (hurtos, robos,tráfico de drogas) y finalmente el ocasionar alarma y deterioro dela imagen social del barrio donde se desarrollan. Argumentosfalaces y sin demostrar que son utilizados de forma demagógicacon el propósito de discriminar a dicho colectivo. Por el contrariolos locales son presentados, a menudo como garantes de laseguridad médica del cliente, de pulcritud respecto a la moralsocial, hallando su principal problema en la difusión comercialy promoción de sus actividades que contradice la moralidad a laque parecen servir. Se cierra así un ciclo argumental totalmentefalso que oculta la realidad de dichos locales como centros deexplotación sexual de personas, normalmente extorsionadas, parautilizarlas en sus redes prostibularias, con el único fin del lucropersonal de los proxenetas.
“Cuando consideramos una regulación u ordenación sobre eltrabajo sexual no puede soslayarse sus características singularesque lo convierten en algo especial y prácticamente único, respectode las actividades laborales tradicionales. La trabajadora sexu-al aporta al comercio, además de trabajo, la disponibilidad desu cuerpo, su vida sexual y afectiva. Tampoco puede olvidarseque con independencia de que exista una regulación de laprostitución ello no conllevará su normalización social. Laestigmatización social de la prostitución hace difícil su regla-mentación normal como — otro trabajo más. Debe tenerse encuenta, así mismo, la libertad sexual como un bien de obligadaprotección. La prostituta, al igual que el resto de los ciudadanos,tiene derecho a contactar con otras personas para establecer conellas el acuerdo que considere necesario. Cualquier posiblelegislación, debe respetar este derecho.17
“Finalmente, la presente proposición revaloriza a la trabajadorade la calle desde el realismo, pues en una sociedad democráticaen la que existan personas marginadas, su erradicación es unautopía que provoca únicamente la represión de las prostitutas aquienes se pretende favorecer. Pero también desde la corres-ponsabilidad de las administraciones locales para proporcionarlos ambientes y lugares en condiciones adecuadas para que dicha
17 La Propuesta de No Ley contieneartículos que definen el comer-cio sexual como una actividadlibre y consentida. El tráfico depersonas y el proxenetismoestá duramente condenadopor aprovecharse de la nece-sidad de las mujeres. Igual-mente, pretende organizar elTrabajo Sexual y fomentarmedidas de formación y rein-serción laboral para las mujeresautóctonas y extranjeras quedeseen abandonar tal activi-dad. Sin embargo, para aquellasque decidan continuar en laIndustria del Sexo, el Estadodeberá garantizar que se realicenen las mejores condiciones.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
46 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
actividad se ejerza con seguridad, comodidad y con el menorperjuicio posible de otros intereses ciudadanos.”
Discusión teóricaDiscusión teóricaDiscusión teóricaDiscusión teóricaDiscusión teórica
Como se ha visto, el trabajo sexual es una de lasprofesiones que contiene a los sectores más vulnerablesde la sociedad: las mujeres, inmigrantes, drogo-dependientes, jóvenes en situación precaria, etc. Ensu mayoría trabajan por necesidad para cubrirnecesidades básicas. Aunque la prostitución tiene unafunción social, la sociedad conservadora no ha queri-do atribuir el carácter de trabajo a esta actividadeconómica. Los intentos por regularizarla estánenfocados a beneficiar a los empresarios de clubes ydesaparecer a las mujeres de la calle, en una claraactuación misógina, machista y a favor de los intereseseconómicos masculinos. Las mujeres han elaboradouna propuesta de Ley que resulta novedosa.
Como se ha visto, la Propuesta de No Ley que se hapresentado rompe con la idea de que la mujerprostituida actúa en contra de su voluntad. Más biense desarrolla en una serie de valoraciones sobre loque ella desea conseguir a través de su profesión. Laprincipal demanda de las mujeres es que se consideresu labor como un trabajo más. No obstante, llama laatención que la propuesta surge precisamente de lastrabajadoras sexuales enfrentándose a la visión des-valorizadora de la sociedad. Igualmente, destaca la si-tuación real de la calle en el territorio español con lallegada de inmigrantes a la industria del sexo y el cam-bio en el escenario por esta situación. Sin embargo, esimportante mencionar que los datos exactos de inmi-grantes y autóctonos son difíciles de contabilizar porqueal igual que el comercio ambulante o el trabajo do-méstico no son regulados eficazmente por el Estado.
Las mujeres organizadas reivindican el derecho alTrabajo Autónomo en la Calle que las libera de horariosinflexibles y jefes explotadores. Se dicen sentir más
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 47
satisfechas que las mujeres que trabajan en clubes, alver mermados sus ingresos por los empresarios. Noobstante; aunque es sumamente revelador, el enfoquede las trabajadoras sexuales tiene puntos contradictoriosentre sí: por un lado promueve que su actividad seconsidere como un trabajo más y por otro pretendeque se contemple como un oficio con característicasespeciales y únicas por el hecho de que se pone adisponibilidad algo tan subjetivo como el cuerpo.Además, utilizan el concepto de libertad sexual sinobservar que tal libertad no existe, puesto que al for-mular una proposición de ley no están más quegenerando que el Estado controle la libertad sexualde los ciudadanos.
Los artículos que llaman la atención sobre laregularización del trabajo sexual propuesto por laspropias mujeres son aquellos en los que se estableceel tipo de actividad y servicio que se pone a la venta ylas condiciones que beneficiarían a las trabajadorasautónomas. Se destaca en esta propuesta la ausenciade las obligaciones de las trabajadoras sexuales, don-de aparecen únicamente los derechos pero no loscompromisos a los que estarían sujetas. Posiblementeporque no están dispuestas a hacerlo. En Holanda,por ejemplo, donde la prostitución está regulada nosin insuficiencias, el 90% de las mujeres registradascomo trabajadoras sexuales por la Administración nopaga impuestos. Si se desea que se considere como untrabajo más tiene que tener las mismas obligacionesque cualquier trabajador.
En perspectiva se observa que las cuestiones lega-les son sumamente complejas. Se caracterizan por unprofundo silencio o por un tratamiento desigual alempleo convencional. El trabajo sexual constituye untabú que el Estado no desea afrontar como propio,delegando su función a los servicios asistenciales paraque se encarguen de solucionar los problemas.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
48 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Metodología de la InvestigaciónMetodología de la InvestigaciónMetodología de la InvestigaciónMetodología de la InvestigaciónMetodología de la Investigación
El grupo de discusión entre Mujeres Migrantes serealizó en el marco del Encuentro Internacional so-bre Derechos Humanos y Trabajo Sexual celebrado enBarcelona del 8 al 14 de julio del 2002, en el C.C. PatiLlimona, organizado por el colectivo LICIT. Las jor-nadas del encuentro se desarrollaron paralelamente alCongreso Mundial de Sida; aprovechando la reunión depersonas para esta causa y el hecho tener la miradainternacional puesta en la ciudad de Barcelona. Por locual, uno de los objetivos del encuentro fue poner aldebate en la opinión pública el tema del Trabajo Sexu-al, como otra de las cuestiones con alto grado de es-tigma, al igual que el sida. La participación de lasmujeres estuvo becada con una aportación de 120euros. El grupo estuvo formado por mujeres dedicadasal servicio sexual españolas y extranjeras, (principal-mente de Brasil, Ecuador y Colombia), mujerestransexuales, investigadoras, y trabajadoras en pro-yectos de atención a personas que ejercen la prosti-tución. Se fomentó la participación de las participan-tes a través de la toma de decisiones sobre cómo sequería llevar a cabo las actividades del taller de maneraflexible, resultando un involucramiento de las asistentesen el desarrollo de la sesión.
El taller tuvo las siguientes características y obje-tivos: Fue dirigido a trabajadoras sexuales, sobre susexperiencias y necesidades en el ejercicio del trabajosexual y la relación entre el poder y negociación comouna herramienta para la resolución de conflictos en elámbito personal y laboral. Aunque el grupo no estabaformado exclusivamente por trabajadoras sexuales, lasdiscusiones fueron hechas como si todas las asistenteslo fueran, evitando las diferencias entre mujerestrabajadoras sexuales de las que no lo eran.
La estructura de la actividad estuvo basada en lareflexión de ideas como:
– “Mujeres Trabajadoras, no víctimas ni esclavas”,
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 49
– “El poder de trabajar en lo que cada personaquiere, en las mejores condiciones”,– “Cómo manejar el dolor que me produce laactividad y transformarlo”,– “Cómo tomar conciencia de lo que soy y lo quesomos”,– “Soy fuerte, soy potente, soy poderosa”.
Estos contenidos fueron tratados en 4 subgruposa los que fueron asignados los temas:
– El Poder ¿qué fuerza tengo como trabajadorasexual en mi vida?,– La Autoestima ¿cuál es el concepto que tengode mí misma?,– La Negociación ¿cómo resuelvo los conflictosrelacionados con mi labor?,– El Sufrimiento ¿cómo manejo la soledad y el aisla-miento ante el rechazo y la discriminación social?
Cada equipo expresó las aportaciones de susmiembros a través de su vocero. Aunque se partía conel conocimiento de que el trabajo sexual causaba dolory sufrimiento para algunas personas; no se comenzópor este tema, con el fin de evitar caer en situacionesde victimismo y de auto conmiseración.
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
El taller fue introducido con un juego de movi-miento e intercambio de lugar a través del contactofísico. Se halló que algunas mujeres revelaban quesus cuerpos estaban cansados y con poca disposiciónde hacer contacto físico entre ellas. En algunos casos,manifestaron que el cansancio era fruto de las condi-ciones laborales como permanecer mucho tiempo depie durante periodos prolongados, o por invitar a suscompañeras a asistir a los talleres o participar a la mani-festación del día anterior para defender sus derechoshumanos.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
50 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Curiosamente, pese a que el instrumento de trabajode las mujeres es su propio cuerpo, se notó miedo aser tocado por sus compañeras; producto quizá de larelación mental de contacto-físico-sexo. También senotó la dificultad de algunas participantes para moversecon fines recreativos o para sí mismas; lo cual generóun debate sobre la motivación económica como gene-rador de movimiento. Se halló que para algunas mujeresel dinero es un motor que acciona un comportamientoy sin este elemento, no hay movilidad. Como ya se haseñalado, la beca recibida por las mujeres de 120 eurossirvió para compensar el tiempo sin trabajar. De cual-quier forma se encontró que existen dificultades paraanimarse con fines lúdicos, ya sea por un cansanciocrónico de cuerpos maltratados, por las condicionesrelacionadas al trabajo; o por la falta de la motivacióndel dinero; agregándose la relación de ser tocada conun fin sexual.
Un aspecto que las mujeres deben trabajar con lasasociaciones, es justamente el valor que se le da aldinero; puesto que en algunos casos hay verdaderanecesidad económica y el dinero es sumamente im-portante, pero en otros, la acción sin dinero esimposible. Lo cual ocasiona que no se den compor-tamientos activistas o relacionados con la organizacióndel grupo, puesto que no existe la estimulación eco-nómica. En muchas ocasiones las asociaciones realizancomportamientos paternalistas, o mejor dicho mater-nalistas, puesto que el Tercer Sector, el de las ONG’sestá mayoritariamente compuesta por mujeres. Elmaternalismo provoca que las asociaciones trabajenpara ellas, no con ellas. La auto gestión y la toma delcontrol de ellas mismas es un aspecto a tratar en losprogramas relacionados con las trabajadoras sexuales.
Puesto que el contacto sexual se da de forma re-munerada, salvo en las áreas de la vida privada; esteaspecto se reproduce en otros ámbitos, donde el dinero,al parecer, se convierte en un generador de acción. Ypor otro lado el contacto físico entre ellas causa
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 51
conflicto por su relación con acercamiento sexual ylos tabúes relacionados con la homosexualidad y ellesbianismo.
Anál is i sAnál i s i sAnál i s i sAnál i s i sAnál i s i s
Poder: una cuestión de trabajoPara las trabajadoras sexuales el poder es un con-
cepto complejo. Por un lado el poder está unido aldinero, a la capacidad de hacer y tener todo lo quedesean. El dinero, para las mujeres, las condicionacuando no pueden cubrir necesidades básicas. Cuandoun cliente desea un servicio sin preservativo, la decisiónadecuada, dependerá del grado de necesidad econó-mica. Ante una situación de este tipo se recomienda,cuando la escasez es muy grande, realizar entre lasprácticas de riesgo, la que menor peligro conlleve paraellas. Por ejemplo, una mujer puede aceptar una felaciónsin preservativo, pero no una penetración.
Las mujeres reconocen que la inteligencia es uninstrumento importante de poder. Para ellas unapersona es poderosa si tiene buenas ideas. En estesentido, reconocen que existe el poder de creer enellas mismas, de confiar en sí mismas. Por lo cual, elpoder de decidir es crucial, puesto que las convierteen sujetos con decisiones propias, no marionetas deldestino; en este sentido el poder es apreciado como lacapacidad de hacer unas cosas en lugar de otras. Im-plicando cuestiones biológicas y sociales; pues señalanque existe el poder de hablar y relacionarse con losdemás.
Un aspecto importante que las trabajadores sexualesmencionaron en el taller, fue que tienen el poder dedominar a otros, ya sea con la mirada, con su sexualidad,o con su propia mente para hacer lo que ellas desean.Es decir, reconocen el poder que tienen para movilizara otros para ciertos fines. Argumentan que en la calletienen que aprender a conocer quién de las compañerastiene más poder que otra.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
52 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Al respecto se mencionó que: “Una cosa es imponermediante el temor y otra muy diferente el poder. To-das podemos tener poder y dominio en algo quetenemos mayor conocimiento y habilidad. El poderdel conocimiento teórico es superior al que provienede la vida. Pero nosotras somos unas expertas en elconocimiento de la vida”.
Ante la cuestión de cómo adquirir poder, lastrabajadoras sexuales señalan que la clave está envalorar, tanto las situaciones, las cosas y a ellas mismas;en fijar metas y luchar por una cosa. Las mujeresreconocen que para ello es necesario aceptar las propiaslimitaciones. Un aspecto relacionado con el poder esel grado de voluntad que ellas mismas tengan en hacerlo que se han propuesto y conseguirlo mediante lavoluntad. Finalmente reconocen que para ellas, el po-der también es saber controlarse ante situacionesdifíciles y resolver conflictos inteligentemente.
Capacidad de negociarA través de un acuerdoObservando objetivos
En el trabajo sexual, las mujeres observan que handesarrollado, o necesitan desarrollar aún más, la capa-cidad de negociar ante la propuesta extraña de un cli-ente, para realizar prácticas protegidas, para rebajar elprecio del servicio etc. Algunas de ellas aseguran quesu seguridad está en juego. Asimismo, advierten la for-ma en qué las demás se dejan vencer y la experienciade una compañera puede servir de ejemplo.
El papel del dineroRepresenta una necesidad básica
Seguridad económicaPara pagar deudasProporciona poder
Para la mayoría de las personas que ofrecen servi-
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 53
cios sexuales la ganancia económica que representa eldinero es un factor por el cual ponen en riesgo suseguridad física y su “buen nombre”. Generalmente,han entrado a la industria del sexo por necesidad ypor factores relacionados a la independencia de loshombres y la familia.
En el caso de las personas transexuales, el rechazosocial condiciona que un 90% de las mujeres se de-diquen o se hayan dedicado al trabajo sexual en algúnmomento de su vida. En tanto, las mujeres no nacio-nales, acceden a la industria del sexo para pagar deudasde viaje, realizar proyectos en sus respectivos países,como construir una casa, pagar los estudios de sushijos, mejorar su situación económica, estableciéndoseeste trabajo como una actividad temporal. Por tanto,su identidad permanece “inmaculada” en el sentidoque ellas no son “putas” de verdad, ni lo hacen porvicio, sino como una labor pasajera, que dejarán dehacer en el momento en que regresen a su país. Encambio, las mujeres nacionales son las más afectadaspor el estigma de mujer buena-mujer mala. Una parti-cipante aseguró que el dinero condiciona cuando nose pueden cubrir las necesidades básicas.
El dinero ocasionaCorrupción
Pérdida de dignidad
Las mujeres están conscientes que su trabajoconlleva importantes consecuencias sobre el conceptode sí mismas. La mayoría considera que su trabajo esuna forma de corrupción que conlleva a la pérdida dedignidad; pero a la vez consideran que lo que estánvendiendo son sus servicios, no su cuerpo ni su digni-dad.
EstigmaMujer buena Mujer malaAma de casa Prostituta
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
54 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Una mujer expresó que gracias a su actividad habíadado de comer a sus hijos y les había comprado pañalesante la pasividad de su marido. Otra consideraba queel ser prostituta no le quitaba que fuera mala madre yque hubiera dado una carrera a su hijo. Sin embargo,creía que su hijo se sentía avergonzado de ella. Elgrupo veía cómo la mujer aparentemente fuerte y de-cidida, lloraba ante la desesperanza de aceptar quenada podía hacer ante la idea que su hijo sentíabochorno por ella. Sin embargo, alguien dijo que quizásu hijo sentía vergüenza, pero no de ella, si no de sutrabajo, y que ambas cosas eran muy diferentes.
“Si el poder es la capacidad para hacer mover aotra persona hacia lo que deseo que haga. Entoncestodas tenemos poder”.
Otra mujer consideró que debido a su trabajo, supoder estaba disminuido por el estigma. Sobre estepunto se discutió lo que era poder, consideraron queexisten varios tipos de poder:
– “Poder relacionado con el dinero y solamentecon él.”– “El poder de la inteligencia, tener buenas ideaspara solucionar problemas, ideas clave”– “Existe el poder de creer en uno mismo.”– “Poder de decidir si hacer una cosa en vez deotras.”– “El poder de hablar y relacionarme.”– “El dinero sólo condiciona cuando no se puedencubrir necesidades básicas”– “Existe el poder de dominar a otro con la menteo la mirada”– “Ser capaz de aceptar las propias limitaciones”– “Poder de saber controlarse.”– “Una cosa es imponer y otra el poder, por mediodel temor.”– “Poder es la voluntad que nosotros tengamos de
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 55
hacer una cosa y conseguirlo con la voluntad”.– “Todos podemos tener poder en algo, que esaquello de lo que tenemos más dominio y conoci-mientos; si se reconoce esta situación todos compar-tirán el poder; aunque el poder del conocimientoteórico es superior al que proviene de la vida”.– “¿Cómo adquirir el poder?, Valorar, fijar metas,tener que lucha por una cosa.”
Se observó que existe una idea desvalorizadora desí mismas por lo que saben, una mujer considera quees inferior a un conocimiento teórico. No obstantealguna dijo que poder era la capacidad de hacer queotra persona hiciera lo que ella quería. Ante estadefinición se dieron cuenta que todas eran muy pode-rosas porque lograban que los hombres cumplieransus deseos para obtener sus favores. El consenso so-bre este tema fue que las trabajadoras sexuales eransumamente superiores a los hombres y a otras mujeresporque lograban conseguir sus deseos y movilizarloshacia sus propios fines.
“Para evitar el sufrimiento lo mejor es mentalizarseque estoy actuando, separo el momento en el queestoy en el escenario de mi vida personal”.
Más adelante, en el grupo de trabajo se tocó eltema del sufrimiento y cómo evitarlo. En primer lu-gar, se habló de la necesidad de considerar laprostitución como un trabajo. Un mecanismo para evi-tar el sufrimiento era tomar conciencia del carácterlaboral. En segundo lugar, las mujeres discutieron cómoencontrar una vía para poder paliar el sufrimiento ydescubrieron la idea del teatro. Es decir, considerarque cuando se trabaja es como si se estuviese actuando.Disociar cuándo se está en el escenario y cuándo enla vida cotidiana. Es importante mentalizarse de que unoestá representando un papel ajeno a mí misma para nover la prostitución como un trauma.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
56 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Fuentes del SufrimientoLucha constante
ControlSoledad
Desprecio de la sociedadRechazo
Consideración como objeto sexual
Algunas de las causas por las cuales las mujeressufren son:
– “El sentimiento de tener que estar en constantelucha, de estar controlando, por ejemplo las pro-puestas de los clientes por no usar preservativo.”– “El sufrimiento proviene fundamentalmente dela sociedad, que te desprecia y te baja la autoestima.Esta es la principal causa del sufrimiento.”– “El rechazo de los hombres, que te quieren denoche y no de día.”– “El rechazo de los padres y la familia.”– “No se deja la oportunidad a que le conozcan auno. La sociedad está cerrada al encuentro.”– “Cuando te conocen, sí se abren y te aprecian,por ejemplo, los vecinos.”
“El sufrimiento es una elección, tú decides si deci-des quedarte sufriendo en casa o te vas a trabajarcon la cabeza muy alta”.
La discusión de este tema terminó en las estrategiaspara llevar el trabajo de la mejor manera posible sinamargura o tristeza:
– “Para evitar el sufrimiento es importante tambiénuna misma tener la capacidad de elegir. El sufrimientodepende de la posibilidad de elección.”De la misma manera, se discutió la necesidad de
respetarse las unas a las otras, evitar hablar mal de lascompañeras y establecer el sentimiento de cooperaciónentre hermanas:
– “Tenemos que aprender a respetarnos primero
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 57
entre nosotras mismas, para que se nos empiece arespetar. Porque entre nosotras mismas nos inten-tamos reprimir, y de hecho, nos reprimimos: la unaes vieja, la otra es un travestón, la otra lo hace pormenos dinero y por eso trabaja más.”– “Aparte de todo esto tienen que pasar muchosaños más para que la gente se conciencie y nos lleguea respetar y eso será cuando nosotras mismas nosrespetemos y no tengamos que esconder nuestracondición de ser trabajadoras del sexo.”
Dignificación del Trabajo sexualRespeto a sí mismasRespeto entre ellas
Una mujer transexual brasileña con muchos añosde experiencia en la industria del sexo dice:
– “Me cuido muchísimo. En cuanto a la higiene,soy muy limpia y me cuido mucho, ningún tipo deenfermedad hasta el día de hoy. Todo lo hago conpreservativo. Yo hago la prostitución limpiamente,dignamente, con mucha clase, con trato humano.Sin drogas, sin alcohol y súper honesta, sin proble-mas. Evito las personas borrachas y drogadas paraevitar problemas.”
SolucionesRealizar el trabajo en las mejores condiciones laborales.
Si se desea, buscar otras alternativas laborales.
Reflexiones f inalesReflexiones f inalesReflexiones f inalesReflexiones f inalesReflexiones f inales
El grupo de discusión finalizó cuando las mujerestomaron conciencia de colectivo y establecieronacuerdos sobre la realidad social de su actividad. Deesta forma, plantearon pautas de conducta que podríanestablecer para mejorar su calidad de vida.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
58 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Líneas de actuación:1 – “Aumentar la autoestima frente a la discri-minación.”2 – “Mejorar el vocabulario y la manera de expre-sarse.”3 – “Seguir explicando la autoestima en el colec-tivo.”4 – “Buscar alternativas laborales diferentes a la pros-titución como la peluquería, hacer ropa, belleza.”5 – “Respeto a las demás compañeras, las viejas,las yonkis18, las extranjeras, las trans, todas.”6 – “Intentar no ser sometidas por los demás.”7 – “Es muy importante quererse así mismo.”8 – “En el trabajo, usar siempre preservativo conel cliente.”9 – “Considerar que no hay mujeres feas, sino malarregladas.”
A manera de conclusión; como se ha visto, trabajarcon este colectivo fue un reto apasionante. La con-cepción de sí mismas cambió de ser consideradasvíctimas a mujeres con la capacidad de decidir y en-contrar soluciones a la realidad del trabajo sexual. Dela misma forma que se discutieron los temas de dere-chos humanos, se ventilaron problemas de soledad yautoestima. Aunque no era con fin terapéutico, las par-ticipantes desahogaron muchas de sus emocionesy angustias. Pese a que la mayoría no se conocía, alfinal de la sesión el grupo consiguió el sentido denosotros, es decir, de identidad colectiva con proble-mas comunes. Es importante realizar continuidad aestas actividades con el fin de lograr objetivos devisibilización y diálogo con la comunidad.
Al final de la actividad una mujer de unos cincuentay pico de años, transexual de Brasil, con el pelo rubioplatinado y vestida muy de forma muy elegante, meentregó una pequeña hoja donde escribió unas ideasque se le habían ocurrido cuando se estaba hablandodel sufrimiento, ella había expresado que no padecía
18 Yonki : drogadicto(a).
Carlos Fonseca Hernández , Luisa Quintero Soto
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 59
para nada con su trabajo; que al contrario, lo disfrutabamucho y manifestó en la discusión que quien dijeraque alguna vez no había gozado, estaría mintiendo. Eldocumento personal que escribió decía:
“Yo personalmente no sufro con la prostitución. Soy libre, trabajocuando quiero, en donde quiero y voy con quien me da la gana.Pero hay cosas peores en la vida. Yo siempre he trabajado paramí. Sin chulos y sin mafias. Así que estoy bien, solamente laedad es un poco injusta con nosotras y la sociedad falsa, hipócri-ta e incomprensiva.”
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
AGUSTÍN, Laura (2001): Mujeres inmigrantes ocupadas enServicios Sexuales, en Colectivo Ioé (2001): Mujer, inmigración ytrabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – Insti-tuto de Migraciones y Servicios Sociales.Asociación de Trabajadoras Autónomas “22 de junio” de El Oro(2002):Trabajadoras sexuales: Memorias vivas. Machala-Ecuador.BARRY, Kathlenn (1988): Esclavitud sexual de la mujer. Barcelona: LaSal.BORNAY, Erika (1994): La cabellera femenina. Madrid: Catedra,Ensayos, Arte.BRONFMAN, Mario; URIBE, Patricia; HALPERIN, David;HERRERA, Cristina Herrera (2002): Trabajo sexual: la espiral delriesgo, en Letras, Julio 4 de 2002. México, D.F.BULLRICH, Silvina (1982), La mujer postergada, Buenos Aires,Editorial SudamericanaCÓRDOVA, Rosío (2002): Entre chichifos, mayates y chacales, enLetras, Julio 4 de 2002. México, D.F.CORNEJO, Jorge Alberto (2002): Cuando las magdalenasdevolvieron las pedradas, en Letras, Julio 4 de 2002. México, D.F.CORSO, Carla (1990): La lucha por los derechos de las prostitu-tas, en Debates feministas. Madrid: Comisión anti-agresiones yCoordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos delMovimiento Feminista de Madrid.JULIANO, Dolores (2002): La prostitución: el espejo oscuro. Bar-celona: Icaria.
Mujeres migrantes latinoamericanas en el trabajo sexual de Barcelona, España:la relación simbólica entre cuerpo y sociedad desde los estudios de género contemporáneos
60 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
NASH, Mary (1983): Mujer, familia y trabajo en España 1875-1936,capítulo: La prostitución. Barcelona: Anthropos.NASH, Mary (1999): El fascismo de la naturaleza, prostitución yenfermedades venéreas y Libertad a las prostitutas, en Rojas. Lasmujeres republicanas en la Guerra Civil. Madrid: Taurus.OSBORNE Raquel (1990): Comprensión de la prostitución desdeel feminismo, en Debates feministas. Madrid: Comisión anti-agresionesy Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos delMovimiento Feminista de Madrid.PHETERSON, Gail (2000): El prisma de la prostitución. Madrid:Talasa.PHETERSON, Gail (comp.); prefacio de ST. JAMES, Margo:(1989): Nosotras las putas. Madrid: Talasa.RESTREPO, Luis (1997): El derecho a la ternura, Barcelona, Penín-sula.SÁNCHEZ, María Elena (1995): Pecadoras de verano, arrepentidas deinvierno, Madrid, Alianza Editorial.VARELA, Julia (1995), La prostitución, el oficio más moderno, enArchipiélago, núm. 21, Pobreza y peligro.VENTOSA, Lluis (2000): El mal lladre. Teología des del QuartMón. Barcelona: Claret.
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 61
Imagens e representaçõesImagens e representaçõesImagens e representaçõesImagens e representaçõesImagens e representaçõesnos crimes de seduçãonos crimes de seduçãonos crimes de seduçãonos crimes de seduçãonos crimes de sedução
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Resumo: Este trabalho integra o projeto de pesquisa ‘Re-pensando as Relações de Gênero nos Processos Crimesem Uberlândia – 1970-1980’, em desenvolvimento noNúcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher,da Universidade Federal de Uberlândia, desde 2004 comprevisão de término em 2006. Outros recortes temáticosnesta área estão sendo abordados por outros(as) pesqui-sadores(as) que integram a equipe do Neguem. Optou-sepor trabalhar os crimes de sedução compreendidos no pri-meiro lustro da década de 70 do século passado.
Palavras-chave: Crimes de Sedução, Gênero, Uberlândia(MG).
Abstract: This work integrates the research project ‘Repen-sando as Relações de Gênero nos Processos Crimes em Uberlândia– 1970-1980’, which is in development in the ‘Núcleo deEstudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher’ of the Universida-de Federal de Uberlândia, since 2004 to be accomplished in2006. Other thematic subjects in this area are being approa-ched by other researcher(s) that integrate the group ofNeguem. We decided to work seduction crimes in the be-ginning of the 70s of last century.
Keywords: Seduction Crimes, Gender, Uberlândia (MG).
Jane de Fátima Silva Rodrigues. Doutora em História Social pela USP eintegrante do Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher,da Universidade Federal de Uberlândia. É estudante do 2º período doCurso de Direito da Uniminas,Instituição onde também é professora eCoordenadora da Pós-Graduação.
Dedico este artigo aos meusprofessores do Curso de Di-reito da Uniminas: Dr. Ale-xandre Walmott Borges, Ms.Anderson Rosa Vaz e Ms.Luiz César Machado deMacedo.
Imagens e representações nos crimes de sedução
62 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Embora o tema1 não seja objeto de investigaçãodesta pesquisadora, a mesma se viu extremamente de-safiada frente ao volume de processos envolvendo asrelações de gênero naquele período. Assim sendo op-tou-se por trabalhar os crimes de sedução compreen-didos no primeiro lustro da década de 70 do séculopassado.
O viés escolhido para tanto se centrou nas imagense representações que juízes, delegados, advogados,médicos, dentre outros, construíram sobre os réus e asvítimas. Também se atentou para os caminhos e o tempopercorrido pelos processos desde o seu início, com aabertura do inquérito policial até o seu encerramento.
Foram contabilizados 81 processos no período de1970 a 1975 e analisados conforme critérios estabele-cidos pelo Neguem, segundo as informações consi-deradas relevantes, descritas em uma ficha própria.
Dado o volume de material optou-se, nesse pri-meiro momento, trabalhar com os dados colhidos commais facilidade nos processos e pontuados no decor-rer deste texto. A apresentação da queixa pelo(a) res-ponsável da menor; o detalhamento da confissão; odepoimento do réu e das testemunhas; o discursodos(as) advogados(as) de ambas as partes e a sentençado juiz, são por demais extensos e importantes. Nestesentido, serão estudadas com mais propriedade emoutro momento, embora há que se mencionar algunsdeles pelo caráter que possuem.
O primeiro contato que a pesquisadora mantevecom os processos foi assustador, no que se refere aonúmero de páginas e a composição dos mesmos. Emmédia um processo conta com 50 a 70 folhas, entredocumentos anexados, laudos, inúmeras assinaturas ecarimbos. Mais da metade enquadra-se nesta média. Aoutra se soma até 100 folhas devidamente enumeradase às vezes com recortes de jornais e cartas de amor.
Para se ter uma real idéia sobre o processo é me-lhor descrevê-lo na ordem em que os documentosnele aparecem:
1 O Centro de Documentação ePesquisa em História –CDHIS, que abriga o Neguem,recebeu do Fórum AbelardoPenna aproximadamente 20mil processos crimes datadosde 1890 a 1984. Estes estãosendo catalogados em fichaspróprias por estagiários(as) doCurso de História e Têm mo-tivado inúmeras monografias,dentre as quais: CASTRO ECOELHO, César. Violências degênero: o estudo de processoscriminais de sedução – Uber-lândia 1940/1950. 2004. 68 f.Monografia – UniversidadeFederal de Uberlândia, 2004.GUIMARÃES, Janaína B.Moral e cultura em processos cri-mes. Uberlândia, 1930/1953.2005. 64 f. Monografia – Uber-lândia, 2005. CASTRO, Ana P.C. Violência de gênero: família ecrime contra os costumes emUberlândia, 1900/2000. 68 f.Monografia – UniversidadeFederal de Uberlândia, 2000.MARQUES, Eliane G. R.Atrações, encantos e promessas:crimes contra os costumes.Uberlândia, 1960/1970. 2000.62 f. Monografia – Universi-dade Federal de Uberlândia,2000.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 63
· Capa;· Folha de denúncia contra o réu assinada pelo promo-tor de justiça;· Apresentação da queixa feita pelos pais ou parentesda vítima ao delegado de polícia;· Despacho dos autos com toda a documentação aojuiz de direito;· Certidão de nascimento do réu e da vítima;· Auto do exame de corpo delito2 assinado pelo perito;· Termo de declaração prestada pela vítima, datilogra-fado pelo escrivão, assinado por ambos, além do de-nunciante e delegado;· Termo de declaração prestada pelo indiciado, datilo-grafado pelo escrivão e assinado por ambos, uma tes-temunha e o delegado;· Atestado de pobreza da vítima;· Declaração datilografada das testemunhas de ambasas partes, assinada por estas, pelo delegado e escrivão;· Relatório assinado pelo delegado ao juiz de direito;· Folhas com despacho do relatório com carimbos deenvio e recebimento;· Formulário-protocolo (impresso) encaminhando oprocesso;· Mandato para comparecimento do indiciado e teste-munhas;· Auto de qualificação e interrogatório do indiciadocom sua assinatura, do seu advogado, escrivão e juizde direito;· Folhas de vistas dos autos pelo advogado do indi-ciado com assinaturas do escrivão e juiz de direito;· Mandato de comparecimento da vítima e testemu-nhas devidamente por estas assinado;· Depoimento da vítima;· Depoimento do indiciado;· Depoimento das testemunhas de ambos;· Relatório do advogado da vítima;· Relatório do advogado do indiciado;· Parecer final do juiz de direito com a sentença.
2 Neste continham os dados davítima: nome, natural, cor,profissão, residente, idade, es-tado civil. Em seguida consta:Colocada em posição gineco-lógica, notaram o seguinte:monte de Vênus; grandes lá-bios; pequenos lábios; clitóris;meato urinário; fúrcula; fossanavicular; hímen; exame espe-cular; toque de explorador.Perguntas: 1º) houve conjun-ção carnal? 2º) Houve rupturado hímen? 3º) Qual a data pro-vável dessa ruptura? 4º) Há le-são corporal ou outro vestí-gio indicando ter havido em-prego de violência, e, no casopositivo, qual o meio empre-gado? 5º) Da violência resul-tou lesão corporal de naturezagrave? 6º) Da violência resul-tou a morte da paciente? 7º) Apaciente é maior ou menor de14 anos? 8º) A paciente é alie-nada ou débil mental? 9º)Houve qualquer outra causaque tivesse impossibilitado apaciente de oferecer resistência?
Imagens e representações nos crimes de sedução
64 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Além de toda esta documentação, mormente acres-centavam-se cartas e bilhetes de amor, recortes dejornais, dentre outros. O percurso do processo desdeo início da apresentação da queixa durava de seis me-ses a dois anos.
Inúmeros eram os profissionais envolvidos: dele-gados, escrivões, médicos, peritos, juízes, advogados,detetives, arquivistas, pessoal de apoio administrativoda delegacia e do fórum, além de familiares das víti-mas e indiciados, amigos(as), vizinhos(as), parentes etestemunhas.
Todo um esquema contendo pessoas, documentose tempo, estava envolto em um crime que com rarasexceções houve punição. A maioria dos indiciados foiabsolvida, por falta de provas contundentes, pela reti-rada da queixa ou por expiração do próprio processo.
Outro aspecto relevante: qual o custo financeirode tudo isto, já que imobilizavam tantos profissionais?Por sua vez, as vítimas ao apresentarem a queixa jun-tavam imediatamente o atestado de pobreza. Este lhesgarantia um processo sem ônus. Das 81 declarantesapenas duas não dispuseram do referido atestado.
Pergunta-se: por que os legisladores insistiam emcriminalizar a sedução, uma vez que a absolvição doindiciado era a sentença mais comum? Qual era a efi-cácia e a vigência deste crime? Tentar-se-á ao longodeste ensaio encontrar as respostas plausíveis.
O artigo 217 do Código Penal Brasileiro de 1940consta como crime de sedução: seduzir mulher virgem,menor de 18 anos e maior de 14, e ter com ela conjunção carnal,aproveitando-se de sua inexperiência ou justificada confiança:Pena — reclusão de dois a quatro anos.
Cunha3 oferece uma explicação para os termos queaparecem neste artigo. Seduzir significa persuadir, do-minar, viciar a vontade. Neste sentido, com raras ex-ceções, as vítimas contabilizaram inúmeras relaçõessexuais com os indiciados.
A conjunção carnal é a cópula vagínica que podeser completa ou não, com rompimento do hímen ou
3 CUNHA, Roberto Salles. Osnovos direitos da mulher. São Pau-lo: Atlas, 1990, p. 139-140.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 65
não. Embora haja hímen complacente ou rompido trau-maticamente, ele não é prova absoluta da virginda-de. Nos processos analisados o exame de corpo delitosempre acusava o rompimento do hímen. Houve ape-nas um caso de hímen complacente.
O sujeito ativo é somente o homem e o passivosó a moça virgem e menor de 18 anos e maior de 14.Havendo dúvida quanto à menoridade da ofendida, ocrime não poderia ser considerado configurado. Istoaconteceu em três casos e os réus foram absolvidos.
A vítima devia ser inexperiente ou ter justificávelconfiança no sedutor. De fato isto pode ser confirma-do uma vez que a grande maioria declarava-se em na-moro, às vezes até por dois anos, e em alguns casosvítimas e réus estavam noivos.
A promessa de casamento devia ser aferida obje-tivamente, ou seja, dita antes da consumação da rela-ção. Todas as vítimas alegaram isto.
Era com estes ingredientes — seduzir, conjunçãocarnal, sujeito ativo e passivo, menoridade e inexpe-riência da vítima e, a promessa de casamento — quese consumava o crime de sedução.
Em torno destes elementos, sobretudo a virginda-de e o casamento, que as sociedades ocidentais for-mataram um modelo cristão de mulher. É por isso queem plena década de 1970, eles resolutamente teima-vam em existir, mas não nas mentes de inúmeras mu-lheres que “desviaram” do modelo da “santa mãezi-nha”. Duas nos processos em questão pagaram com avida. As demais “caíram” na vida ou foram “resgatadas”pelo casamento, na doce prisão da mulher honesta.
Como argumenta Cunha4, a sociedade ocidentalpatrilinear sempre defendeu e valorizou a virgindadeda mulher, protegida contra o ato sexual, até o casa-mento. A moral estava ligada a isto.
A religião, principalmente a católica, cujo um dospilares é a virgindade de Maria e de inúmeros santos esantas, que pregavam a castidade em toda a sua ex-tensão.
4 CUNHA, op. cit. p.73.
Imagens e representações nos crimes de sedução
66 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
O Direito acolhia a idéia da virgindade feminina ea protegia, por isso, nos Códigos Penais de inúmerospaíses, há punição contra crimes de defloramento, raptoe estupro.
Uma interessante discussão sobre a virgindade foirealizada por Ercília Nogueira Cobra, quando publi-cou através de uma editora parisiense o livro Virginda-de inútil e anti-higiênica em 1924. Diz a autora:
Tenho observado que o falso sentimento de pudor que fez do atode amor uma vergonha para a mulher, é um sentimento medie-val criado pelo misticismo dos sacerdotes que, ignorantes comoeram, nada entendiam de fisiologia e não ligavam a devida im-portância à nobre função do amor. O amor físico é tão necessárioà mulher como o comer e o beber.5
Como foi recebido este libelo no Brasil? As mu-lheres brasileiras tiveram acesso a ele? A psicanalistae sexóloga Regina Navarro Lins6 aponta que a expres-são perda da virgindade para os rapazes é imprópria, jáque a experiência sexual é um ganho, reflexo de suacapacidade masculina. Para as moças a história era outra.
A repressão à sexualidade feminina tem sido moti-vo de inúmeras publicações e, por isso, não será aquidiscutida. Mas, é inegável como para muitos(as) umpedaço de tecido humano forjou um imaginário coleti-vo de repercussões e alcances inimagináveis.
A virgindade passou a ser exigida para persuadir asmulheres de qualquer relação sexual fora do casamentoe como controle para uma prole com descendênciapatrilinear. Vários indiciados relutaram em reconhecera paternidade nos processos estudados e, muitos de-les afirmaram não serem os primeiros a manter rela-ções sexuais com a vítima. Até mesmo os advogadosdos réus induzem a isto:
Alega que a maneira como se introduziu o pênis no órgão genitalde C. já demonstrava se tratar de mulher acostumada nas práti-cas sexuais.7
5 COBRA, Ercília N. Virgindadeinútil e anti-higiênica. Paris: So-cieté D’Edition Oeuvres desMaitres Cèlebres, c. 1924. p. 7.
6 LINS, Regina N. A cama na va-randa: arejando nossas idéias arespeito de amor e sexo. Riode Janeiro: Rocco, 1997, p. 263-267.
7 Processo n. 1758, nov. 1969.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 67
C. tinha 15 anos, era analfabeta e namorava com A.há oito meses. Em que pese as testemunhas de C. de-clararem que era “moça boa e trabalhadeira, e um tantoingênua”, A. foi absolvido pela suspeita que levantoucontra C. A. tinha 20 anos e sabia ler e escrever.
Em um outro processo onde o indiciado disse nãoter sido ele o responsável pelo desvirginamento, oseu advogado fez a seguinte defesa:
Ora, poltrona é um objeto de uso individual, com assento, encos-to e duas braçadeiras, não dando margem para qualquer confor-to, principalmente no que se fala em relação sexual de virgem,onde a mão-de-obra é maior e como foi dito pela própria vítima,que só foi uma vez. Numa poltrona, que é um lugar sem confor-to, moça virgem não seria deflorada de uma única vez, aindamais ela alega que não teve hemorragia e o macho foi carinhoso.8
Na exposição de motivos afirmou que seu clientenão fora o autor da sedução e o desvirginamento davítima, “deve quanto muito ter tido uma relação incompleta,devido ao lugar e posição.”
Neste caso o exame de corpo delito constatou aconjunção carnal com a devida comprovação do rom-pimento do hímen. Houve a condenação a dois anosde reclusão, mas o réu fugiu e não cumpriu a pena. Oadvogado escreveu que desvirginizar virgem dava uma“mão-de-obra” e que ocorrera uma “relação incom-pleta”. Queria ele que a perda da virgindade se desseatravés de um ato violento?
Alguns aplicadores do direito em suas declaraçõesprocuravam desqualificar e inferiorizar as vítimas e,com isto, conseguiam a absolvição de seus clientes:
... chegou a ser apelidada pelos soldados de Maria Batalhão queé sinônimo de mulher de soldado no sentido pejorativo, isto é,mulher de um número considerável de homens insaciáveis, quevivem privados do contato feminino grande parte do tempo.9
O acusado A. era militar e negou que tivesse
8 Processo n. 2366, fev. 1975.
9 Processo n. 1748, mar. 1970.
Imagens e representações nos crimes de sedução
68 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
10 Processo n. 1853, jul. 1970.
tido relações com N. Esta declarou que se relaciona-ram sexualmente durante seis meses. A. foi absolvido.
Outro caso que segue este mesmo comportamentoenvolveu J. de 29 anos, casado e M. de 17 anos. Namo-raram durante um ano. O advogado fez a seguinte de-fesa e o réu foi inocentado:
... moça que desde os seis anos de idade vem sendo criada porpessoas estranhas, jamais poderia ter um bom caráter, uma edu-cação de berço, uma religião, e, assim, abandonada em idadeinfantil... só poderia ter, como de fato teve, o fim evidenciado.10
Inúmeras vezes os advogados dos indiciados, emseus argumentos, citavam outros juristas e médicospara a justificativa de suas idéias moralistas, conserva-doras e preconceituosas. Laudos e mais laudos comuma linguagem culta e erudita declinavam em favordo seu sexo, evocando os instintos incontroláveis domasculino:
Todo homem tem um pouco de Dom João, instinto peculiar à suafunção genética, que o faz sempre interessar por qualquer mu-lher. Todavia se assediado por elas, resiste muito menos, porquedele é a atividade sexual...11
Em outros casos, os defensores invertiam a ques-tão: nos tempos atuais quem é o sedutor? E, novamen-te páginas e páginas de digressões as mais refinadas:
... a própria mulher com as suas atividades e atuais vestes, pro-voca-o (o homem) de manhã à noite. Pernas de fora, coxas àmostra, saias acima do joelho, nádegas salientes pelo aperto dasvestes, seios à vista pelos decotes exagerados, calças colantesmoldando as formas, lábios vermelhos esperando beijos, são cons-tantes estímulos aos instintos, são incitamento aos desejos sexu-ais, são desafios à seriedade do homem, são provocações e, maisdo que isso são seduções, invertendo-se os papéis, passando —elas a sedutoras e eles a seduzidos.12
11 Processo n. 2240, fev. 1974.
12 Processo n. 2240, fev. 1974.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 69
Com estes argumentos julgou-se por bem, absol-ver o réu. É indiscutível nestes casos, que os opera-dores do direito suscitem juízes de valor tendo umaatitude discriminatória em relação à moral sexual fe-minina.
Como definir a moral feminina? Esta já estava dadaculturalmente: o pudor, o recato, a honra. As repre-sentações que as diferentes ciências elaboraram sobrea sexualidade pautadas em políticas de controle doscorpos visavam à defesa da família e a proteção domais “frágil”: a mulher.
Para reprimir comportamentos tidos como imoraisou perigosos ao desenvolvimento social, a sociedadeencontrou no direito, guarida para a formatação decondutas humanas desejáveis. O repertório de leis que,à época, compunha o Código Penal brasileiro, reafirmaos valores morais imputados às relações entre os se-xos.
No caso em pauta, os crimes de sedução busca-vam no campo da lei a reparação para uma condutaindesejável e altamente repreensível: o ato sexual an-tes e fora do casamento. A sanção acenava com a pri-são ou o casamento reparador. Mas, se esta não eraefetivada qual era a validade da norma?
A discussão desta questão arrastaria sobremaneiraa extensão deste artigo e implicaria numa reflexão so-bre a filosofia, a sociologia e a ciência do direito. En-tretanto, faz-se necessário apontar para a construçãoconceitual das palavras norma, validade e eficácia.
O eminente criador do purismo jurídico, o austría-co Hans Kelsen13 dedicou um volume de suas obraspara esta reflexão. Em Teoria geral das normas, especificaque as regras jurídicas são prescrições para a condutahumana, elas direcionam como se deve se conduzir. Éa expressão da idéia de que algo deve ocorrer, poristo, a sua validade.
Nesta perspectiva a validade ou vigência de umanorma jurídica é a sua própria existência, isto é, quetodas as pessoas devam conduzir-se como o prescrito
13 KELSEN, Hans. Teoria geraldas normas. Tradução JoséFlorentino Duarte. Porto Ale-gre: Fabris, 1986. 509 p.
Imagens e representações nos crimes de sedução
70 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
pela norma. A eficácia da mesma, diz respeito à suaefetiva aplicação. Por conseguinte, a norma é eficazquando aplicada pelos órgãos jurídicos e respeitadapelos que a ela estão subordinados(as).
Kelsen conclui que é eficaz tanto a norma obede-cida e não aplicada, como a desobedecida, mas aplica-da. Em outras palavras, uma norma é válida se a or-dem à qual pertence é como um todo eficaz. A normaao regular a conduta humana torna-se válida no tempoe espaço. Ao absolverem os réus, os aplicadores dodireito estariam utilizando-se da premissa kelsenianade que uma norma pode ser válida, mas não eficaz?
... uma norma eficaz não significa que ela, sempre e sem exce-ção, é cumprida e aplicada; significa somente que ela geralmenteé cumprida e aplicada... A validade das normas gerais que regu-lam a conduta humana — e, portanto, especialmente as normasjurídicas — é uma validade têmporo-espacial, conquanto essasnormas tenham como conteúdo fenômenos têmporo-espaciais.14
Para a professora titular de direito civil na PUC-SPMaria Helena Diniz:
A norma moral tem por fim provocar um comportamento. Pos-tula uma conduta que, por alguma razão, se estima valiosa,ainda que de fato possa produzir-se um comportamento contrá-rio; prescreve um dever. Exprime o que deve ser, manda que sefaça algo, e talvez não seja cumprida, isto porque o suposto filo-sófico de toda norma é a liberdade dos sujeitos a que abriga.15
Estariam os advogados dos réus aplicando normajurídica ou norma moral? O jurista André Franco Mon-toro16 classifica as normas sociais em quatro categorias.As normas morais fundam-se na consciência; as religio-sas na fé; as consuetudinárias nos costumes e as jurí-dicas nas leis. Estas se distinguem das demais porqueconstituem o campo do direito e estão protegidas pelaeventual aplicação coercitiva do poder social. Essacaracterística separa visivelmente a norma jurídica das
14 KELSEN, op. cit., p. 177; 183.
15 DINIZ, Maria Helena. Concei-to de norma jurídica como proble-ma de essência. 3. ed. São Paulo:Saraiva, 1999, p. 99.
16 MONTORO, André Franco.Introdução à ciência do direito. 25.ed. São Paulo: Revista dos Tri-bunais, 2000, p. 305 e ss.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 71
morais oriundas apenas da consciência pessoal.Nesta linha de raciocínio, a norma jurídica pressu-
põe o princípio da universalidade, qual seja, o da igual-dade de todos perante a lei. Ora, o que se relatou atéo presente momento implica na desigualdade entre ossexos, já que a norma jurídica, protege a mulher, aocriminalizar a sedução. Portanto, não há o princípio dauniversalidade, já que a relação sexual feminina exercidana idade de 14 a 18 anos torna-se um caso de polícia ede desonra familiar.
Em um único processo a declarante afirmou quemanteve relações com o atual namorado de quem es-tava grávida, mas não era mais virgem. De posse daconfissão de que já praticara sexo, o advogado do réuexpressou um conceito moral ... bastou que lhe estiolasseo hímen, para de imediato, se entregar a outro homem que lhesatisfizesse a volúpia carnal.17
Montoro alude que toda norma jurídica busca rea-lizar a justiça. É, portanto, a justiça que dá sentido ànorma jurídica, que poderá ser mais ou menos justa,mas não será uma norma de direito se não estiverorientada no sentido da realização da justiça. Partindo-se deste pressuposto, qual era a justiça realizada pelosaplicadores do direito nos crimes de sedução em pauta?
Para Michel Foucault o judiciário enquanto siste-ma que regulamenta os conflitos e litígios termina poruma vitória ou um fracasso. Há sempre alguém que ganha ealguém que perde; o mais forte e o mais fraco; um desfechofavorável ou desfavorável. ... A autoridade só intervém comotestemunha da regularidade do procedimento...18
A vigilância, o controle e a correção, segundo esteautor, é o tripé no qual a sociedade contemporâneaforjou o seu ordenamento disciplinar sobre os indiví-duos. Na forma de vigilância individual e contínua, decontrole de punição e recompensa e, de correção, fo-ram estes os elementos que integraram as históriasaqui contadas.
17 Processo s. n., out. 1970.
18 FOUCAULT, Michel. A verda-de e as formas jurídicas. Tradu-ção Roberto C. de M. Macha-do; Eduardo J. Morais. 2. ed.Rio de Janeiro: Nau, 1999. p.61.
Imagens e representações nos crimes de sedução
72 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Fonte: Análise de 81 processos de crime de sedução, ocorridos entre 1970-1975 em Uberlândia-MG.
É nesta perspectiva que já àquela época o crimede sedução perderia a sua eficácia, conforme gráficoacima e de acordo com as citações abaixo:
Não há mais supor que uma jovem beirando os 17 anos de ida-de e identificada com hábitos e costumes citadinos se deixe deflorarpor não possuir clara noção das coisas do sexo. Por isso se teminvariavelmente decidido pela insubsistência da figura penal dasedução, quando a vítima não sendo excepcionalmente nenhumaingênua se entregue ao primeiro aceno de seu namorado.19
Neste caso em específico os envolvidos namora-vam há mais de dois anos quando ocorreu a primeirarelação sexual. Portanto, não pode ser configurado oato como um “mero aceno”.
Outro caso de absolvição do indiciado com 24 anose a menor com 17 foi “não haver provas suficientes contra oréu”. Eram namorados há mais de um ano, tinham pra-ticado várias relações e a vítima estava grávida. Entre-tanto, o advogado do réu ponderou que:
... a mulher de hoje não é mais a inexperiente e crédula daquelaépoca. A evolução dos costumes opera-se rapidamente. A im-prensa, o cinema, o teatro, o rádio, a TV, ... trazem, hoje àmulher, bem cedo, conhecimento, percepção, senso de realidade,etc, que dantes não gozava. Nosso código tutela, pois, a donzelae inexperiente o que não é o caso em tela.20
19 Processo n. 2294, maio 1974.
20 Processo n. 2164, nov. 1973.
RESULTADO DOS PROCESSOS
48%
19%6%
21%6%
absolvido condenadocasaram retirou queixa/extingüiuoutros
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 73
A despeito de tal afirmativa é importante interro-gar até que ponto as personagens reais destas tramasaqui narradas, tinham acesso à imprensa, ao cinema,teatro, rádio e TV?
Dulcília Buitoni21 em sua pesquisa sobre a repre-sentação da mulher pela imprensa feminina brasileiradurante os anos 70 do século XX, afirma que o pro-duto mais veiculado nas revistas femininas ou mascu-linas foi o sexo. Este se constituía no principal produ-to editorial vendido nesta década.
As revistas Cláudia, Desfile, Capricho, Nova, Séti-mo Céu, Carícia abriam espaços em relação às ques-tões sexuais. Matérias sobre insatisfação sexual, mastur-bação, virgindade, orgasmo já faziam parte do rol des-tas revistas e, eram dirigidas às donas de casa e às mu-lheres mais liberadas. Mas, qual o acesso que as jo-vens pobres e desvirginizadas uberlandenses tinham aelas? Até que ponto estas “novidades” podiam fazer acabeça de moças que sonhavam em se casar e foramfrustradas ante a cessão de seu corpo ao amado?
É possível afirmar que a experiência vivenciada pelasjovens e seus namorados, bem como familiares e ami-gos(as) não deve ter sido fácil. Nota-se uma profundaindignação por parte dos responsáveis pela queixa, namaioria os pais ou as mães, quanto à quebra da confiançadepositada naquele que por meses ou anos freqüentarasuas residências e compartilhara da intimidade familiar.
Fonte: Análise de 81 processos de crime de sedução, ocorridos entre 1970-1975 em Uberlândia-MG.
21 BUITONI, Dulcília H. S. Mu-lher de papel. A representação damulher pela imprensa femini-na brasileira. São Paulo:Loyola, 1981. 150 p.
RESPONSÁVEL PELA QUEIXA
49%
43%
1%
2%5%
o pai a mãe própria vítima n/d irmão(ã)
Imagens e representações nos crimes de sedução
74 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
... lançou sobre a família que o tinha em grande estima e consi-deração, o cruel estigma da amargura e da revolta. Ele (oindiciado) nem de leve poderá avaliar a extensão do mal causa-do à inexperiente e prendada W., ou calcular as conseqüênciasque esse choque emocional poderá acarretar à austera família.22
O mencionado sedutor foi namorado de sua filha, no período deum ano e seis meses, e freqüentava sua casa todas as noites e erabem recebido por todos da sua família, pois parecia ser um ra-paz direito.23
Por outro lado, nos relatos das vítimas e réus de-vassa-se a sua intimidade. Estes descreviam em deta-lhes as relações sexuais pormenorizando-as: o local ea hora onde ocorreu a relação; a posição em que amesma foi realizada; se ambos estavam nus ou parcial-mente vestidos; se o ato foi violento ou precedido porcarinhos; após a primeira vez, quantos outros forammantidos, etc.
Nos testemunhos das moças em sua quase totali-dade, a promessa de casamento; a entrega por amor; aconfiança que depositavam em seus namorados e atémesmo noivos foram uma constante. Poucas revela-ram que foram ameaçadas e, por isto, se entregaram.
Em suas narrativas as vítimas frisavam a dor e aquantidade de sangue após o ato. Algumas queixaramdor por vários dias. Era como se sem estes dois ele-mentos elas não pudessem confirmar o desvirgina-mento. A falta da hemorragia foi o álibi utilizado peloadvogado do réu no processo n. 2366, conforme jácitado.
Detectou-se também como uma característica co-mum à quase totalidade dos processos, com raras ex-ceções, que após a primeira relação, inúmeras outrasse sucederam. Entrementes a queixa só era formuladaem duas circunstâncias: gravidez ou o rompimento donamoro ou noivado. Enquanto isto não ocorria, asmoças consentiam em manter a situação sob silêncio.
22 Processo n. 2242, ago. 1971.
23 Processo n. 1917, abr. 1972.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 75
Fonte: Análise de 81 processos de crime de sedução, ocorridos entre 1970-1975 em Uberlândia-MG.
Em inúmeros processos, as vítimas justificavam estesilêncio dizendo temer o abandono, por repressão dafamília, porque foram ameaçadas pelos acusados oupor acreditarem que iriam se casar como afirmavamseus noivos e namorados a cada relação sexual. O diatão esperado para as bodas realizou-se somente emcinco casos dos 81 processos.
Um dado também importa para desmistificar que ocrime de sedução ocorria entre jovens na flor da idade, 14a 18 anos e, homens mais maduros. É baixa a porcen-tagem que se enquadra nesta faixa. Apenas 4% dosréus apresentavam uma diferença grande de idade emrelação às vítimas com as quais mantiveram relaçõessexuais, sendo 51% 3 a 6 anos mais velhos que suasnamoradas ou noivas, conforme gráfico abaixo.
Fonte: Análise de 81 processos de crime de sedução, ocorridos entre 1970-1975 em Uberlândia-MG.
NÚMERO DE RELAÇÕES SEXUAIS
16%
29%
5%28%
22%
única 2 a 7 8 a 20 várias não sabe
DIFERENÇA DE IDADES - RÉU X VÍTIMA
8%
51%25%
8%
4% 4%
0-2 anos 3-6 anos 7-10 anos11-15 anos 16-20 anos 21-24 anos
DIFERENÇA DE IDADES - RÉU X VÍTIMA
Imagens e representações nos crimes de sedução
76 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Dos 81 indiciados, 83% eram solteiros contra 16%casados e 1% desquitados, o que cai por terra a crençade que os casados figurariam como os protagonistasna maioria destes crimes.
Outro aspecto não menos importante é a cor de-clarada pelos réus: 45% branca; 32% morena; 12%negra, 11% não disponível e, pelas denunciantes: 41%branca; 41% morena; 17% negra e parda e 1% indispo-nível. Em apenas dois casos registrou-se um réu ne-gro com uma vítima branca e um réu branco com umavítima negra. Pequenas variações entre pardos e ne-gras, morenos e negras foram observadas. Uma análi-se mais acurada poderia fornecer um recorte de gêne-ro e raça nos processos em questão.
Com raríssimas exceções os indiciados confessa-ram que haviam sido os primeiros a manterem rela-ções sexuais com as vítimas. Alegavam na sua quasetotalidade que elas não eram mais virgens ou que se-quer tinham tido relações com as mesmas.
Fonte: Análise de 81 processos de crime de sedução, ocorridos entre 1970-1975 em Uberlândia-MG.
Seriam estas estratégias para se safarem, tendo emvista que a grande maioria das vítimas tinha entre 16 e17 anos? As moças teriam começado suas atividadessexuais antes desta idade sem que seus pais e mãespercebessem já que apenas 28% confirmaram apenasuma relação sexual enquanto 52% declararam que ti-veram inúmeras?
ALEGAÇÃO DO INDICIADO
35%
53%
2%
10%
confesso inocente outros n/d
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 77
Fonte: Análise de 81 processos de crime de sedução, ocorridos entre 1970-1975 em Uberlândia-MG.
Excetuando um indiciado menor de 18 anos, todosos demais eram maiores e, provavelmente com diver-sas experiências sexuais anteriores. Portanto, para ob-terem acesso aos corpos das mulheres restavam ape-nas duas alternativas já que dentre os 81, apenas qua-tro eram casados. A primeira através do pagamento emcasa de prostituição ou o livre trânsito aos corpos desuas namoradas e noivas. Com promessas de casamen-to e juras de amor decidiram-se pela segunda opção.
Fonte: Análise de 81 processos de crime de sedução, ocorridos entre 1970-1975 em Uberlândia-MG.
Quanto à profissão 81% das moças declararam-secom prendas domésticas; 17% estudantes e 2% traba-lhavam no comércio. Entre os rapazes 5% eram mecâ-
RÉU POR FAIXA ETÁRIA
26%
56%
10% 7% 1%
15-19 anos 20-25 anos 26-30 anos31-38 anos n/d
VÍTIMA POR FAIXA ETÁRIA
38%
57%
5%
14-15 anos 16-17 anos 18-19 anos
Imagens e representações nos crimes de sedução
78 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
nicos; 5% lavradores, 6% militares; 9% motoristas; 10%estudantes, 19% comerciários e 44% executavam ofí-cios diversos, como pedreiros, açougueiros, entrega-dores, eletricistas, fotógrafos, pintores, etc.
Com uma faixa etária de 56% entre 20 e 25 anos ecom profissões pouco rentáveis é de se supor que osacusados não se sentissem à vontade para constituí-rem responsabilidades familiares e, sobretudo econô-micas24. Este fato pode ser comprovado pelo númerodeles que fugiram; trocaram de endereços dificultan-do a sua localização para o préstimo de declarações;mudaram de cidades ou até mesmo alegaram não co-nhecerem a denunciante. Se dentre os 81 indiciadosapenas 16% eram casados contra 83% de solteiros, oestado civil não seria um impedimento para honraremo compromisso da promessa de casamento ou o tér-mino de namoros e noivados com até dois anos deduração.
Não se trata de uma conclusão feminista apressa-da. Há que se pontuar também em que circunstânciasas relações sexuais foram realizadas. A sua grande maio-ria aconteceu em espaços públicos, fora das residênci-as das vítimas e dos indiciados. Isto significa que haviauma mobilidade muito grande das vítimas. Veja-se ográfico a seguir:
Fonte: Análise de 81 processos de crime de sedução, ocorridos entre 1970-1975 em Uberlândia-MG.
As moças trabalhavam, estudavam e passeavam. Iamàs festas, às casas de amigos e parentes e, eram nestas
24 No processo n. 1770, mar.1970, tem-se a seguinte decla-ração: O indiciado se responsabili-zou pelo ato. Após algum tempocomo não conseguiram dinheiropara casar foram morar juntos e avítima como não vinha recebendo onecessário (vestuário e alimentação)resolveu ir para São Paulo, deixan-do o filho do casal com o pai. De-pois eles se casaram, pois senão W.seria preso.
LOCAL DA SEDUÇÃO
35%
7%41%
15% 2%
casas diversas mato terreno baldio outros n/d
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 79
brechas que o ato sexual se consumava. Circulavamcom certa desenvoltura pelo espaço urbano, e até mes-mo fora deste perímetro. Registram-se cópulas em lo-cais como a represa de Sucupira, que dista do centrode Uberlândia aproximadamente em 20 Km; em estra-das como a que leva à cidade de Araguari; próximo aoAeroporto, que àquele tempo considerava-se um localermo, devido à baixa densidade populacional, ou mes-mo perto da estação da Mogiana, nas imediações doAeroporto.
Os depoimentos das testemunhas de defesa dasvítimas reiteravam que estas eram “moças honestas, reca-tadas, inexperientes e de boa família”. Um advogado de umdos réus, aliás, advogada, raras nestes casos, assim sepronunciou em defesa de seu cliente:
Testemunhas e mesmo os pais de V. alegam que sempre foramuito vigiada. Se assim era, então como tal fato teria ocorrido?O certo é que atualmente ninguém dá conta de vigiar moça algu-ma... quem é muito vigiada, por conseqüência torna-se agou-rada...25
Em vários depoimentos as vítimas disseram apro-veitar a ausência de alguém da família para consuma-rem a relação ali mesmo, dentro ou fora de casa:
I. declarou que todas as relações sexuais que mantivera com V.seu namorado há oito meses foram realizadas no quintal de suaresidência enquanto sua genitora dormia.26
A. de 14 anos declarou que pulava a janela de seu quarto parase encontrar com L. 23 anos e que teve inúmeras relações comele.27
Levando-se em consideração que as moças goza-vam de uma livre circulação na geografia da cidade, oslocais que mais serviram para a experiência sexual fo-ram os terrenos baldios, matos, ruas desertas, dentrode carros e quintais. Bem menos da metade das víti-
25 Processo n. 2242, ago. 1971.
26 Processo s. n., dez. 1970.
27 Processo s. n., mar. 1971.
Imagens e representações nos crimes de sedução
80 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
28 Processo s. n., abr. 1971.
mas tiveram sua iniciação em suas residências ou deoutras pessoas.
Alguns relatos evidenciam com detalhes como sedeu a primeira vez. “M. levou V. até o portão de sua casa,como normalmente fazia, e ali mesmo manteve relação com elede pé ”.28 Nestas narrações as vítimas estavam semprevestidas tendo tirado apenas a calcinha para o ato.
Em outros depoimentos as declarantes relataramque foram beijadas e apalpadas por todo o corpo eque praticaram o “coito normal”. O interessante é queesta expressão “coito normal” está presente em todasas declarações prestadas pelas vítimas. É de se supor,portanto, que havia um interrogatório padrão feito pelodelegado e registrado pelo escrivão para obter comdetalhes as circunstâncias em que ocorreram os fatos.
Algumas relações realizaram-se em casas de en-contros, pensões e rendez-vous. A residência do indiciadopoucas vezes fora mencionada. Já a da vítima maisvezes.
... o pai da declarante havia saído e sua mãe se encontravaacamada, P. aproveitando que estava quase a sós com a decla-rante, deitou-a no sofá da sala de sua casa e ali mesmo mantevepela primeira vez a relação sexual; que o fato se deu no períodode 20,00 horas a 20,30 horas. P. somente praticou o coito nor-mal com a declarante.29
A quase totalidade das relações sexuais aconteceuà noite, talvez no horário que uma boa parte das víti-mas estudava e também saía com mais freqüência:
... quando voltavam de uma festa em casa de família na vilaTubalina, por volta de duas horas da madrugada, logo na saídada casa foi por ele convidada para manter relações sexuais...entraram em um lote vago perto da casa onde foi realizada afesta e praticaram o coito normal.30
A vítima declarou que manteve com seu namorado várias rela-ções sexuais sempre dentro do carro deste e, no período da noite
29 Processo n. 2242, ago. 1971.
30 Processo n. 1917, abr. 1972.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 81
quando deixava de ir à escola para se encontrar com ele.31
Fonte: Análise de 81 processos de crime de sedução, ocorridos entre 1970-1975 em Uberlândia-MG.
Por meio dos relatos é de se perguntar sobre aqualidade destas relações. A pressão sofrida, uma vezque inúmeros lugares eram públicos ou inóspitos, comomatos, casas abandonadas, perto do cemitério. Comoera possível repeti-las por inúmeras vezes? Havia pra-zer? Como se sentiam ambos por não desfrutarem daintimidade com um certo conforto? Onde ficava o ro-mantismo? Este era superior aos hormônios?
Claro que são perguntas sem respostas. Várias des-tas pessoas com certeza devem estar vivas, por isso apesquisadora omitiu os nomes, colocando apenas assuas iniciais. Como viveram diante de tudo isso? Comoestão seus filhos e suas filhas oriundos de relaçõesque foram parar em uma delegacia de polícia? Supera-ram a dor, o sofrimento e a vergonha a que foram sub-metidos(as)?
Ao final das contas qual foi a reparação para oexercício da sexualidade fora do casamento? A uniãoforçada, o nascimento de filhos(as) não desejados(as),o aborto a que muitas se submeteram, o desespero depais e mães com a “honra perdida” de suas filhas, afrustração com a traição em quem depositaram confi-ança e amaram como um filho.
Saffioti e Almeida ressaltam que:
Necessário se faz romper com a ideologia do vitimismo e discutir
31 Processo n. 2016, abr. 1972.
HORA DA OCORRÊNCIA
68%
16%
16%
de noite de dia incerta
Imagens e representações nos crimes de sedução
82 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
como homens e mulheres participam da definição dos seus luga-res e compactuam com a diferenciação e hierarquização de pa-péis que se constroem em múltiplos espaços societários; e ao mes-mo tempo, como lhes é possível romper este esquema estratificadoe de sujeição.32
A idéia de que as mulheres eram sempre as vítimasda opressão masculina tem sido posta em questão coma nova abordagem de gênero. Cabe salientar que asmulheres expostas à violência carregaram o rótulo orade vítimas, ora de rés, ora de heroínas. O processo devitimização e culpabilização é utilizado tanto pelo mas-culino quanto pelo feminino. Porém é necessário re-ver nos processos criminais cada caso em particularpara que se possa transpor essas formas de pensar eagir, implícita entre os gêneros.
É possível concluir que essas histórias de amortiveram, na sua esmagadora maioria, um final trágico einfeliz. Marcadas pelo abandono, pela execração pú-blica, pela humilhação e desonra, atingiram a todos(as)que dela fizeram parte.
Se não fosse em Uberlândia, interior de MinasGerais, com uma população de 124.895 habitantes, naépoca, teria sido diferente? Somente outras históriaspoderiam trazer as respostas.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
BESSA, Karla A. M. O crime de sedução e as relações de gênero.Cadernos Pagu. Campinas: Unicamp, n. 2, p. 175-196, 1994.BUITONI, Dulcília H. S. Mulher de papel. A representação da mu-lher pela imprensa feminina brasileira. São Paulo: Loyola, 1981.150 p.COBRA, Ercília N. Virgindade inútil e anti-higiênica. Paris: SocietéD’Edition Oeuvres des Maitres Cèlebres, c. 1924. 212 p.CUNHA, Roberto Salles. Os novos direitos da mulher. São Paulo: Atlas,1990, p. 139-140.DEL PRIORE, Mary. Mulheres seduzidas e mães abandonadas.In: ______. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidade e
32 SAFFIOTI, Heleieth; AL-MEIDA, S. Violência de gênero— Poder e impotência. Rio deJaneiro: Revinter, 1995, p. 185.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 83
mentalidades no Brasil colônia. Rio de Janeiro: José Olympio;Brasília: Ednub, 1993. p. 68-90.DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica como problema deessência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 162 p.________. Norma jurídica. In: _______. Compêndio de introduçãoà ciência do direito. 11. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1999.p. 327-406.DÓRIA, Carlos A. A tradição honrada. Cadernos Pagu. Campinas:Unicamp, n. 2, p. 47-112.DUARTE, Luis C. Amigado com fé, casado é. Revista Espaço Femi-nino. Uberlândia: Edufu/NEGUEM, n. 7/8. p. 79-104, 1999/2000.ESTEVES, Martha de A. Meninas perdidas: os populares e o cotidi-ano do amor no Rio de Janeiro da belle époque. Rio de Janeiro:Paz e Terra, 1989. 212 p.FERRAZ JR., Tércio S. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmá-tica da comunicação normativa. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense,2000. 181 p.FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. TraduçãoRoberto C. de M. Machado; Eduardo J. Morais. 2. ed. Rio deJaneiro: Nau, 1999. 158 p.FORRESTER, John. Estupro, sedução e psicanálise. In:TOMASELLI, Sylvana; PORTER, Roy (Coord.). Estupro. Tradu-ção Alves Calado. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1992, p. 67-90.KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Tradução José FlorentinoDuarte. Porto Alegre: Fabris, 1986. 509 p.________. A ordem jurídica. In: ________. Teoria geral do direitoe do estado. Tradução Luis C. Borges. São Paulo: Martins Fontes,2000, p. 161-180.LEAL, Ondina F.; BOFF, Adriane de M. Insultos, queixas, sedu-ção e sexualidade: fragmentos de identidade masculina em umaperspectiva relacional. In: PARKER, Richard; BARBOSA, ReginaM. (Org.). Sexualidades brasileiras. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,1996. p. 119-135.LINS, Regina N. A cama na varanda: arejando nossas idéias a res-peito de amor e sexo.Rio de Janeiro:Rocco, 1997. 337 p.MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 25. ed.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 620 p.RODRIGUES, Jane de F. S. Perfis femininos: simbologia e represen-tação na sociedade uberlandense 1920-1958. 1995. 418 f. Tese(Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên-
Imagens e representações nos crimes de sedução
84 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
cias Humanas, Universidade de São Paulo, USP, 1995.SEED, Patrícia. Narrativas de Don Juan: a linguagem da seduçãona literatura e na sociedade hispânica do século dezessete. CadernosPagu. Campinas: Unicamp, n. 2, p. 7-46.SOUZA, Vera L. P. de. Paixão, sedução e violência, 1960/1980. 1998.Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras eCiências Humanas, Universidade de São Paulo,USP, 1995.
Obs. Gostaria de agradecer particularmente as alunasdo curso de História da UFU estagiárias deste projetopela pacienciosa catalogação e descrição dos proces-sos: Daiane, Lílian, Elisângela, Thaís e Jaqueline. E aomeu marido David pela digitação, confecção dos grá-ficos e troca de idéias.
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 85
Macho a qualquer custo.Macho a qualquer custo.Macho a qualquer custo.Macho a qualquer custo.Macho a qualquer custo.Investigação das relações de gêneroInvestigação das relações de gêneroInvestigação das relações de gêneroInvestigação das relações de gêneroInvestigação das relações de gênero
através da análise de processos criminais.através da análise de processos criminais.através da análise de processos criminais.através da análise de processos criminais.através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975Uberlândia, 1975Uberlândia, 1975Uberlândia, 1975Uberlândia, 1975*
Edmar Henrique Dairell Davi
Resumo: Este trabalho tem o intuito de discutir a relaçãoentre violência e masculinidade a partir da análise de doisprocessos criminais, do ano de 1975, arquivados no Cen-tro de Documentação em História da Universidade Fede-ral de Uberlândia. Os processos são significativos, poisapresentam concepções sobre o que é ser macho em nossacultura e em que situações a violência surge como recursopara a manutenção do status masculino. A manutençãodesse status social geralmente ocorre com o domínio ousubmissão de outros grupos sociais como mulheres, cri-anças, velhos e homossexuais. Criam-se hierarquias de va-lores a partir das diferenças sexuais e essas diferenças aca-bam por se transformar em desigualdades de onde surgea violência.
Palavras-chave: Violência, Processos Criminais, Mascu-linidade.
Abstract: This work intends to discuss the relationshipbetween violence and manliness. It works on the analysisof two criminal processes of 1975, which are filed in theCenter of Documentation in History of the UniversidadeFederal de Uberlândia. These processes are significant becausethey present conceptions on what is to be a ‘male’ in our
* Este trabalho faz parte do pro-jeto de pesquisa Repensandoas Relações de Gênero nosProcessos Crimes em Uber-lândia – 1970/1980, financia-do pela Fundação de Amparoà Pesquisa do Estado de Mi-nas Gerais – FAPEMIG.
Edmar Henrique Dairell Davi. Psicólogo, mestre em História pela Univer-sidade Federal de Uberlândia e membro do Núcleo de Pesquisa sobre aMulher e Relações de Gênero – Neguem/UFU.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
86 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
culture and in which situations violence appears as a resour-ce for the maintenance of the masculine status. The main-tenance of that social status usually happens with the do-main or submission of other social groups such as women,children, old people and homosexuals. Hierarchies ofvalues are created from sexual differences and those diffe-rences become inequalities from where violence emerges.
Keywords: Violence, Criminal Processes, Manliness.
Seja duro consigo mesmo,Casto na intensidade de sua forçae na paixão de sua sexualidade,Amor e luxúria devem ser mantidos separados.Assim como vida e morte são opostos.Mas vida e honra formam uma só coisa.Josef Weinheber (poeta alemão)
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução
Simone de Beauvoir diz que as mulheres não nas-cem, mas se tornam mulheres. Este raciocínio servepara os homens? Então o que define um homem “ma-cho”? Como se forma o conceito de masculinidade?Porque a violência está constantemente relacionadaao comportamento masculino? Este trabalho tem ointuito de discutir a relação entre violência e masculi-nidade a partir da análise de dois processos criminais,do ano de 1975, arquivados no Centro de Documenta-ção em História da Universidade Federal de Uberlândia.Os processos são significativos, pois apresentam con-cepções sobre o que é ser macho em nossa cultura eem que situações a violência surge como recurso paraa manutenção do status masculino.
Em um primeiro momento, procura-se discutir oconceito de violência e suas implicações para as rela-ções entre homens e mulheres, homossexuais e hete-
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 87
1 VELHO, G. Violência, reci-procidade e desigualdade: umaperspectiva antropológica. In:VELHO, G. e ALVITO, M.(Org.). Cidadania e violência. Riode Janeiro: UFRJ/FGV, 1996.
rossexuais. A seguir discute-se a análise da violênciaem processos criminais, sua repercussão na socieda-de, os motivos dos crimes, as representações sociaisque envolveram homens e mulheres presentes nestesprocessos. Por fim, são feitas análises de dois casospara ilustrar o trabalho com processos criminais en-quanto fontes históricas.
O tema da violência é assunto corrente na mídia,nas conversas, nas universidades e em diferentes se-tores da sociedade1. Muito se tem falado e mostradocom relação ao número de mortos em conflitos, comono Oriente Médio, e em chacinas, assassinatos e se-qüestros nas grandes e médias cidades brasileiras. Osdebates sobre segurança pública apresentam-se comopontos centrais em discussões políticas tanto no Bra-sil quanto na comunidade internacional como um todo.2
A violência, porém, não nos cerca somente comoalgo longínquo ou abstrato, acompanha-nos até mes-mo, às vezes, nas expressões estéticas, como nos fil-mes e músicas. A violência se converteu em algo coti-diano, que podemos encontrar em toda parte, na rua,no shopping center, diante de casa e na família3. Por que,então, permitimos que ela nos rodeie? Quais são assuas causas? Como podemos sobrepujá-la? Essas ques-tões têm mobilizado a sociedade, mas não suscitamrespostas fáceis.
A compreensão de outros tempos históricos, atra-vés do referencial teórico-metodológico da HistóriaCultural e das questões de Gênero, nos ajudam a re-fletir sobre o significado que atribuímos na atualidadeà violência. O olhar do (a) historiador (a) para além deseu tempo faz perceber que cada cultura estabeleceparâmetros a partir dos quais caracteriza as condutascomo violentas ou não4. Assim, temos condições decompreender porque hoje falamos da violência e porela somos rodeados no nosso cotidiano.
No entanto, escrever sobre essa temática é tarefadifícil, uma vez que não se trata de um conceito espe-cífico, datável, nem se resume a um ou mais fatos. É
2 PINHEIRO, P. S. Entrevista.Acervo – Revista do Arquivo Na-cional. Rio de Janeiro: Arqui-vo Nacional, v. 15, nº 1, 2002,p. 3-5.
3 VÁRIOS AUTORES. A vio-lência no cotidiano. CadernosAdenauer, n. 1, São Paulo: Fun-dação Konrad Adenauer, mar.de 2001.
4 DAVIS, N. Z. Ritos da violên-cia. In: ______. Culturas dopovo. Sociedade e cultura noinício da França Moderna. Riode Janeiro: Paz e Terra, 1990,p. 129-156.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
88 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
um tema que se presta a múltiplas interpretações ecombinações, permitindo sua localização — temporale espacial — em qualquer época ou lugar. Para alguns(mas) autores (as) trata-se de um assunto incomensu-rável, enquanto outros (as), consideram que o concei-to do que seja violência, leva a diferentes respostasque encaminhariam a pesquisa em direções as maisdiversas.
Muitos estudiosos têm buscado fontes diferentespara entender a violência na sociedade brasileira. Umadessas fontes são os processos criminais que se en-contram arquivados nos Fóruns de Justiça de diversascidades. Existem projetos que visam organizar estesdocumentos e disponibilizá-los para diferentes inves-tigadores que se ocupam da discussão da violência edo crime.5
A análise de processos crimes constitui-se numapreciosa fonte de conhecimento para o (a) historiador(a). Neles pode-se buscar tanto a identidade das pes-soas envolvidas como suas falas, hábitos e crenças,freqüentemente alcança-se grupos sociais que deixa-ram pouquíssimos registros. Existe também a multi-plicidade de métodos e temas que os arquivos podemoferecer e o número de questões ainda por resolver.
Através da investigação dos processos criminaispodemos recuperar as concepções das pessoas sobreos crimes cometidos, sobre a violência, sobre a justiçae seu papel. Como também, conhecer alguns de seuscostumes a partir de sinais que se mostram nas falas6,nos resquícios históricos e que não encontramos emoutros documentos.
Em relação aos processos criminais, enquanto fon-tes documentais, outras questões devem ser tambémcolocadas. Desde a década de 80 do século XX, vemocorrendo um crescimento do número de estudos quese valem dos autos criminais dentro das Ciências Hu-manas. Há várias razões para se desconfiar das infor-mações que são obtidas a partir dessas fontes: os de-poimentos dos (as) envolvidos (as) são filtrados pelos
5 Ver por exemplo os trabalhosde PUGA DE SOUSA, V. L.Entre o bem e o mal (Educação esexualidade – Anos 60 – Tri-ângulo Mineiro). Dissertaçãode Mestrado, USP, mimeo,1991.
6 BRETAS, M. L. As empadasdo Confeiteiro Imaginário. Apesquisa nos arquivos da jus-tiça criminal e a história da vi-olência no Rio de Janeiro. Acer-vo – Revista do Arquivo Nacio-nal. Rio de Janeiro: ArquivoNacional, v. 15, nº 1, 2002.
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 89
técnicos do judiciário, esses depoimentos podem sebasear em informações errôneas ou serem manipula-dos a favor de determinadas pessoas. É claro que pre-cauções devem ser tomadas quanto à leitura de pro-cessos criminais como fonte de informação sobre va-lores culturais, principalmente, quando se trata da vio-lência. Contudo, acredito que os autos deixam entre-ver, como nenhuma outra fonte documental, o modoconcreto de funcionamento de uma agência de con-trole social encarregada de distribuir sanções penais eque, por isso mesmo, concentra poder.
Por outro lado, os processos penais expressam ummomento de tensão nodal das relações interpessoais— a supressão física de uma pessoa por outra põe anu alguns pressupostos das relações sociais, permitin-do visualizar a sociedade em seu funcionamento. Ojogo pelo qual, no torvelinho de conflitos e tensõessubjetivas se materializa a ação de uns sobre os outrosem pontos críticos das articulações sociais, transfor-mando o drama pessoal em social.
Sendo assim, torna-se possível encontrar nas en-trelinhas diversos relacionamentos e condutas que os(as) envolvidos (as) consideram corretos ou erradas,como, por exemplo, a homossexualidade, que figuranos autos sob o signo de “relações anômalas”. Assim,mesmo quando as personagens mentem ou inventamposturas morais, fazem-no de uma forma que acredi-tam ser verossímil e, portanto, ajudam a traçar os limi-tes da moralidade comum e da aceitação de comporta-mentos tidos como imorais.
O discurso jurídico apresenta a violência como algoanormal ou patológico. Um fenômeno isolado que surgenas práticas entre os sujeitos sociais. Contudo, confor-me observaram diferentes autores (as), a violência nacultura brasileira se mostra como uma característicacomum nas relações entre as classes, raças e sexos.Ocorre a incorporação da violência que não é mostra-da ou discutida pelas instâncias oficiais. A violênciabranca, segundo Régis de Morais, é a violência institu-
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
90 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
cionalizada e que não percebemos como agressiva porque já foi por nós naturalizada7.
Um aspecto desta violência é a “superioridade” dadaao homem heterossexual que se mostra como machãoe que tem por “direito” violentar sua esposa, seusfilhos ou outros considerados socialmente inferiores.Neste grupo encontram-se as minorias sexuais, muitasvezes retratadas como “depravadas ou pessoas doen-tes”. Nos processos crime o homem que se mostracomo trabalhador, bom pai de família, é visto comoestando dentro do seu papel social, dentro daquiloque se espera de todo homem. Enquanto que gays sãoconsiderados anormais, doentes ou sem-vergonhas.
Em busca da masculinidade “perdida”Em busca da masculinidade “perdida”Em busca da masculinidade “perdida”Em busca da masculinidade “perdida”Em busca da masculinidade “perdida”
Nas discussões a respeito das questões de gênero,até há bem pouco tempo, o conceito de masculinidadeera considerado óbvio8. Tornando-se assim, o ideal deuma sociedade estabelecida e ordenada. Como a no-ção de homem normal era clara e objetiva, a atençãovoltou-se, em vez disso, para os (as) excluídos (as) oumarginalizados (as) pela sociedade, pois eles (as) havi-am sido ignorados (as) pelos (as) historiadores (as).Mas atualmente diversos (as) pesquisadores (as) tra-tam de investigar em maior profundidade a imagemhistórica da masculinidade, tão marcante na sociedademoderna9, e também o papel que os (as) excluídos (as)ou marginalizados (as) tiveram na construção dessaimagem. Os(as) que estão dentro e os(as) que estãofora não podem ser separados(as) facilmente; histori-camente, vinculam-se entre si. “Normais e anormais”,“degenerados(as) e sadios(as)” fazem parte de um mes-mo contexto.
A masculinidade foi a rocha sobre a qual a sociedade burguesaconstruiu boa parte de sua auto-imagem, mas a imagem ideali-zada da masculinidade parece igualmente importante para aevolução da chamada sexualidade anormal, em grande parte
7 MORAIS, R. O que é violênciaurbana. São Paulo: Brasiliense,1981.
8 MOOSE, G. L. Masculinida-de e decadência. In: PORTER,R. (Org.). Conhecimento sexual,ciência sexual. A história dasatitudes em relação à sexuali-dade. São Paulo: Edunesp,1998.
9 NOLASCO, S. (Org.). O mitoda masculinidade. Rio de Janei-ro: Rocco, 1993; e ALBU-QUERQUE JR, D. M. Osnomes do pai: a edipianizaçãodos sujeitos e a produção his-tórica das masculinidades. In:RAGO, M., ORLANDI, L. B.L. e VEIGA-NETO, A. (Org.).Imagens de Foucault e Deleuze:ressonâncias nietzschianas.Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 91
determinada pela contra-imagem que faziam representar. Todosos marginalizados da sociedade, sejam judeus, homossexuais ouciganos, compartilham muitos dos mesmos estereótipos e atitudesno que concerne à sociedade.10
Nossa cultura, pelo menos até finais do século XX,é permeada por valores machistas e heterossexistas.Aos homens cabe o controle da sociedade, enquantoàs mulheres, é reservado o espaço privado do lar. Essaperspectiva ambivalente é encontrada no cerne dassituações de violência, pois os machos aprendem quepara serem “verdadeiros machos” não podem ser con-fundidos com as fêmeas ou com os “maricas”. A bus-ca pela virilidade é demonstrada na procura incessan-te por substâncias afrodisíacas que melhoram o de-sempenho sexual como a pílula Viagra, por exemplo.
A afirmação constante da virilidade torna-se umtraço de personalidade nos homens. Ocorre então, atransformação de uma identidade, constituída histori-camente em essência social e em “destino”11. Na cul-tura brasileira, vemos freqüentemente o uso da virili-dade: na violência conjugal, na homofobia, nas brigasde torcida. Contudo, devemos perceber também, quenão só os (as) homossexuais e as mulheres são vítimasdo machismo, mas os próprios homens se tornam pri-sioneiros dessas representações e valores.
A virilidade, deve ser percebida, como uma noção eminentemen-te relacional, construída diante dos outros homens, para os ou-tros homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo dofeminino, e construída, primeiramente, dentro de si mesmo.12
A celebração dos valores viris tem sua contrapartidanos medos e nas angústias que o feminino faz emergir.Assim, a busca constante pelo ideal de virilidade, podetornar-se o princípio de uma enorme fragilidade, eesta leva, paradoxalmente, ao recurso, obrigatório porvezes, à violência ou uso das agressões físicas.
É significativo que os homens brasileiros associ-
10 MOOSE, G. L. Masculinida-de e decadência, op. cit., p. 304.
11 BOURDIEU, P. A dominaçãomasculina. Educação & Reali-dade, Porto Alegre, v. 20, n. 2,1995.
12 BOURDIEU, P. A dominaçãomasculina. Rio de Janeiro: Ber-trand Brasil, 1999, p. 67.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
92 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
em o pênis a armas de diferentes tipos. Freqüentementeobservamos vocábulos como “pistola”, “pau”, “cas-sete”, referindo-se ao órgão masculino e ouvimos aafirmação “Eu sou espada” demonstrando a co-rela-ção entre penetração e dominação. Conforme RichardParker, essas ligações explicitam a relação entre a viri-lidade e a violência na tradição brasileira13. Estes as-pectos são significativos para a análise do nosso pri-meiro caso.
1º Caso1º Caso1º Caso1º Caso1º Caso
Em Uberlândia no ano de 1975, quatro mulheresforam encontradas mortas em bairros da periferia dacidade. Os crimes, como afirma o Delegado,
“deixaram os habitantes desta Comarca, em especial os do sexofeminino, com medo e vivenciando dias de inusitada angústia,terrível incerteza e justificada inquietação”(sic).14
Tanta inquietação surgiu porque os crimes ocorre-ram em apenas 15 dias: quatro corpos femininos fo-ram encontrados sem roupa e violados. Após muitainvestigação e dias e noites de trabalho insano, de buscas ediligências; o assassino foi encontrado e preso. Muitospensavam que fosse um matador em série, alguém semescrúpulos ou sentimentos. Mas as características dosuspeito não eram estas e os motivos dos crimes fo-ram algo, infelizmente, bastante comum em nossa so-ciedade: a defesa da honra ou da masculinidade.
O pintor Pedro, de 39 anos, confessou três dosquatro crimes e não se lembrava ou não sabia quehavia matado a primeira vítima. Conforme o acusado,após o trabalho ele ficava bebendo em um bar de umcolega e depois pegava seu carro e dava voltas pelacidade. Ao perceber alguma mulher, procurava abordá-la e propunha realizarem um programa. As quatro víti-mas aceitaram passear com o acusado e realizar a trocasexual. Pedro então, levava as mulheres para bairros
13 PARKER, R. Corpos, prazeres epaixões. Rio de Janeiro: Relu-me-Dumará, 1998.
14 Depoimento do Delegado.Processo nº 702010315316, de27/10/1975. 1ª Vara Criminal.Arquivado do no Centro dedocumentação em História daUniversidade Federal de Uber-lândia, p. 8.
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 93
afastados do centro, onde poderia ter privacidade enão ser visto por ninguém uma vez que era casado etinha filhos.
Ao iniciarem prática sexual algo “estranho” acon-tecia com Pedro M., conforme aponta ele em seu de-poimento:
“Ao descerem e o interrogado convidar para ter relação sexual,seu “pau” não subia; que o interrogado muito embora tentavaabraçar, apertar a vítima, mas de nada adiantava, que diantedisto, novamente o seu estado ia aumentando cada vez mais emuma maneira desesperada; que ficava nervoso, trêmulo, suaren-to, acompanhado de uma dor de cabeça e ato contínuo tambémesse novo crime, que no tocante a essa vítima o interrogado aindaquer acrescentar que sentiu como se estivesse com maleita, pois osdentes começaram a bater numa velocidade impressionante equanto mais ele tentava se controlar, menos conseguia”(sic).15
Todos os crimes ocorreram, conforme os depoi-mentos do acusado, da mesma maneira: ao perceberque não teria ereção, ele ficava nervoso e começava asufocar a vítima até a morte. Depois, ele colocavaobjetos em suas vaginas. Os objetos encontrados fo-ram galhos de árvores, o macaco mecânico do carro ea chave de rodas de seu veículo.
E aqui, nos propomos a discutir, não utilizando osmesmos pressupostos que os jornais da época, osmotivos desse crime que obteve grande repercussão.Que razões teriam o acusado para agir de forma brutalcontra uma pessoa da qual poderia se desvencilharfacilmente? O que o comportamento da vítima susci-tou no assassino? O que aconteceu para que emergis-se tanta violência?
O algoz das vítimas era “macho”, ou se considera-vam como tal, na dupla acepção da palavra: no sentidobiológico e no sentido sócio-cultural. Este último in-teressa mais à nossa discussão. O significado social-mente aceito do “ser homem” está ligado a um con-junto de atitudes, idéias, valores, símbolos e compor-
15 Depoimento de Pedro. Pro-cesso nº 702010315316, op. cit.,p. 4.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
94 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
tamentos. Se portar de forma masculina é tomar a frentedas coisas, agir com razão e tomar decisões, ser sujeitode seu destino e não ser dominado pelos outros. Àscondutas adequadas ao homem, cabem também, a de-fesa de sua honra e a de sua família, a proteção de seuprestígio, fama e reputação. Conforme Peter Gay, avirilidade deve ser entendida como capacidade repro-dutiva, sexual e social, e também como aptidão aocombate e ao exercício da violência, sobretudo emcaso de vingança16. Assim, o que o acusado tentou, aoassassinar as vítimas, foi recuperar ou não deixar quesua masculinidade fosse manchada por não ter ereçãoe não conseguir realizar o ato sexual. Ao convidar asvítimas para um programa, Pedro deu uma amostra dequem dominaria a situação. A iniciativa na busca docontato sexual como também, a ereção e a potênciasexual são prerrogativas masculinas. Ao perceber quenão conseguiria realizar o ato sexual sentiu-se humi-lhado.
Ora, será que não conseguir ter ereção é motivopara suscitar a violência? Pierre Bourdieu coloca quemuitos atos de covardia surgem quando se tem medode perder a estima ou a consideração do grupo aoqual a pessoa pertence; seja de trabalho ou de amigos.“Quebrar a cara” diante dos companheiros e se verremetido à categoria, tipicamente feminina, dos “fra-cos”, dos “delicados”, dos “mulherzinhas”, dos “vea-dos”, dos “brochas”, são situações que levam os ho-mens a agirem de forma agressiva e em muitos casos,com crueldade.
Por conseguinte, o que chamamos de “coragem” muitas vezestem suas raízes em uma forma de covardia: para comprová-lo,basta lembrar todas as situações em que, para lograr atos comomatar, torturar ou violentar, a vontade de dominação ou de opres-são baseou-se no medo “viril” de ser excluído do mundo dos“homens” sem fraquezas, dos que são por vezes chamados de“duros” porque são duros para com o próprio sofrimento e sobre-tudo para com o sofrimento dos outros (...).17
16 GAY, P. O cultivo do ódio — Aexperiência burguesa: da Rai-nha Vitória a Freud. São Paulo:Companhia das Letras, 1995.
17 BOURDIEU, P. A dominaçãomasculina, op. cit., p. 66.
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 95
Se retomarmos aqui o conceito de álibi social paraa agressão, conforme Peter Gay, e as suas três modali-dades; a da concorrência, do outro conveniente e doculto da masculinidade, poderemos considerar que osacusados agiram orientados pela última justificativa. Ocitado autor considera que os valores ligados ao cultoda masculinidade receberam extraordinária valoriza-ção na história do Ocidente, perdurando a partir decrenças e valores até a atualidade18. Desde a Antigüi-dade Clássica que a educação dos homens está pauta-da pela busca da defesa da honra pessoal, pelas atitu-des de coragem e bravura e pela recusa dos aspectosligados ao universo feminino. A exibição destes as-pectos para corroborar a imagem masculina deve seruma constante para que não se perda o status socialde “macho”. A exacerbação da masculinidade pode,contudo, levar ao medo descontrolado contra aquelessegmentos que vão contra ou não se caracterizam pelocomportamento viril.
Muitos homens consideram que possuir uma mu-lher ou agir de forma ativa numa relação hetero ouhomossexual, reforça a alteridade desejada, afastandoo espectro negativo da identidade masculina: ter umamulher para não ser uma mulher. Para alguns, o fatode não ser homossexual basta como garantia de masculi-nidade. Assim, o fato de não ter ereção e de não poder“comer” as vítimas, deixou o pintor transtornado.
Segundo Badinter, no meio masculino existe a con-vicção de que a atividade sexual confirmaria o gênero:o homem é homem quando está em ereção. Portanto,qualquer dificuldade com seu pênis é uma fonte deprofunda humilhação e desespero, um indício da per-da da masculinidade19. Assim, Pedro M. deve ter sesentido “meio homem” quando percebeu que seu pê-nis não ficava ereto. O “nunca aconteceu comigo” éum sinal de que o homem deve ser homem a todo omomento e jamais deve falhar.
Para quebrar a identificação entre desempenho sexual e mascu-
18 GAY, P. O cultivo do ódio, op.cit.
19 BADINTER, E. XY. A iden-tidade masculina. Rio de Ja-neiro: Nova Fronteira, 1993.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
96 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
linidade é preciso aprender a dissociar sexualidade e sentimentode virilidade. A confirmação da masculinidade não é obrigatori-amente um pênis ereto.20
Durante o processo, discutiu-se sanidade mentaldo acusado. O defensor do réu pediu para que elefosse avaliado por uma junta psiquiátrica em um mani-cômio judiciário. Este argumento é um sinal de outrosaspectos que se exigem do homem em nossa cultura:a racionalidade e o controle das emoções.
Conforme argumento do defensor em suas alega-ções finais:
Estamos diante de doente mental. Basta um ligeiro estudo dosautos, confrontando-o com a personalidade do indiciado, parachegar-se a um único julgamento: trata-se de um insone mental.As suas reações foram momentâneas, exatamente quando pro-curava manter congresso sexual e não o conseguindo era tomadoimpulsivamente, ficava incontrolável, daí, para seu alívio e seudesafogo, destruir o sexo oposto. Nos ensina Freud, em uma desuas obras relativas ao sexo que o homem, dentre todos os ani-mais, é o que mais valoriza a capacidade “coenundi” e quandoa perde, dizia ele ‘é capaz de tudo e até mesmo de degenerar-se’(sic).21
Percebe-se através da fala do advogado que o ho-mem tem que ter controle de suas reações e de seusimpulsos. Não pode ser como as mulheres que en-tram em contado mais facilmente com suas emoções esentimentos. Há em nossa cultura a necessidade doshomens de se mostrarem sempre fortes e capazes; delimitarem a expressão de seus sentimentos, viveremquase exclusivamente em campos competitivos, deserem permanentes provedores, de se ocuparem ape-nas de aspectos sérios, como trabalho, política, etc; ede perderem o contato sensível com o que os rodeia:filhos, amigos, natureza, estando proibidas entre oshomens expressões tais como “fracassei”, “não sei”,“me equivoquei”, “não posso”.
20 Idem, p. 129.
21 Alegações do Defensor Públi-co. Processo nº 702010315316,op. cit., p. 45.
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 97
Sócrates Nolásco considera que é nas relações fa-miliares, escolares e sociais que se aprende que serhomem significa ser macho:
“o cotidiano dos meninos está permeado por observações tais como:‘isso é brinquedo de menina’; ‘menino não chora’; ‘você é medro-so, parece mulher’. Enfim, uma gama de afirmações vindas emum primeiro momento da família, posteriormente da escola edas relações sociais, fará crer aos meninos que existe um homemviril, corajoso, esperto, conquistador, forte, imune a fragilidades,inseguranças e angústias”.22
A guerra que os homens empreendem em seus pró-prios corpos é inicialmente uma guerra contra elesmesmos, contra seus medos e sentimentos. Depois,numa segunda etapa, é uma guerra com os outros. Omasculino é, ao mesmo tempo, submissão ao modeloe obtenção de privilégios desse modelo.
É importante a análise feita pelo advogado a partirda teoria psicanalítica. Não que concordemos com asua análise da personalidade do criminoso. Mas sim,pelo aspecto simbólico apontado por ele ao dizer quepara alívio da tensão o réu assassinou as vítimas. Sim-bolicamente o réu tentou recobrar a sua virilidade, oseu poder de penetração, ao colocar objetos fálicosnas vaginas das vítimas. A psicanálise tem trabalhadocom a interpretação de vários símbolos ao longo dahistória da humanidade. E objetos como espadas, lan-ças, dentre outros sempre estiveram ligados a símbo-los de poder e dominação.
Ao colocar objetos nas vaginas de suas vítimas, oassassino tentava recobrar sua virilidade e potênciasexual. Contudo apesar da estratégia de considerar oréu uma pessoal mentalmente doente, não deu certo eele foi condenado a 48 anos de prisão em regime fe-chado.
O medo de ser considerado ou percebido comohomossexual também pode levar a conseqüências ir-racionais. Isso pode ser visto na violência exacerbada
22 NOLASCO, S. (Org.). O mitoda masculinidade. Rio de Janei-ro: Rocco, 1993, p. 12.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
98 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
que freqüentemente caracteriza os crimes contra ho-mossexuais: torturas gratuitas e mais de uma centenade facadas. Se dez golpes bastam para matar, que ex-plicação dar às outras facadas e atos violentos que sãocaracterísticos de crimes homofóbicos.
Os homicídios de homossexuais foram identifica-dos, segundo Luis Mott, como overkill, isto é, chama-dos “sobre morte” ou crimes de ódio.23 Os assassinosprocuram matar aquilo que está além do corpo da víti-ma: o medo que a homossexualidade ou a efeminizaçãorepresenta para o macho. Quando o medo se transfor-ma em impotência, quando os machos não vêem saí-da, geralmente, a resposta é a violência. E isto, nósveremos no próximo caso.
2º Caso2º Caso2º Caso2º Caso2º Caso
Este segundo caso também ocorreu no ano de 1975e mostra outros aspectos que envolvem a masculini-dade. Percebemos que a noção da masculinidade sur-ge também ligada à questão da atividade sexual, isto é,da necessidade, culturalmente determinada, do homemser ativo nas relações eróticas. Contudo não surge ape-nas nas relações entre homem e mulher mas tambémentre dois homens.
Dentro da cultura brasileira, como investigou Ri-chard Parker, a noção de homossexualidade assumeaspectos diferentes daqueles encontrados em outrospaíses. Nos EUA, por exemplo, alguém é consideradogay ou homossexual por ter contato erótico e afetivocom outros homens inobstante a sua conduta — ativaou passiva. No Brasil, esta dicotomia entre ativos epassivos assume um aspecto curioso e determinantenão só das relações sexuais como também das sociais.
Célio, um jovem de 18 anos, que trabalhava comotapeceiro, caminhava em direção a sua casa após otrabalho. Foi abordado por José, um comerciante de61, que lhe perguntou se ele trabalhava em uma deter-minada loja de peças pois, neste local conhecia uma
23 MOTT, L. Os homossexuais:as vítimas principais da violên-cia. In: VELHO, G. e AL-VITO, M. (orgs.). Cidadania eviolência, op. cit.
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 99
pessoa que costumava sair com ele. Célio respondeuque não, mas recebeu o convite do comerciante parapassear em sua camionete pela cidade. Durante o pas-seio, Célio declarou que:
“o indivíduo lhe perguntou se fumava e respondeu que sim; queentão”sacou” que tal pessoa era “bicha” e o mesmo estava comsua carteira recheada de dinheiro, que então pensou que além de“trepar” no mencionado elemento iria “levantar uma nota”(sic).24
O comerciante então, dirigiu seu veículo para forada cidade e
“após parar o veículo, a vítima começou a alisar o interrogandoe começou a tirar para fora o seu membro já duro e começou aquerer manter relação sexual com o interrogando, que disse àvítima que ele interrogando, não era daquilo e que havia aceitadoo seu convite por haver suposto que ele fosse “bicha”, que emseguida a vítima agarrou o interrogando e começou a enforcá-lo epassou por cima dele, tudo isto dentro da camioneta”(sic).25
Célio para defender a sua honra e masculinidadepegou então uma faca que estava em cima do painel eesfaqueou a vítima nas costa, aproveitando o momen-to em que esta se abaixou para pegar um objeto nochão. O acusado saiu correndo da camioneta e fugiupara sua casa. A vítima tentou retirar a faca das costasmas não resistiu ao ferimento e morreu no local. Céliofoi preso um dia depois quando voltou para sua casapara buscar roupas para viajar. A polícia chegou rapi-damente ao criminoso pois este esquecera seus docu-mentos no assoalho do veículo.
Que conclusões podemos retirar deste processo?Em um primeiro momento, é preciso analisar qual con-cepção prevalece sobre a homossexualidade. Pelosdepoimentos do acusado e pelos testemunhos de ou-tras pessoas que depuseram no processo, percebemosque a homossexualidade da vítima foi considerada
24 Depoimento de Célio. Proces-so nº 702010331792, de 15/11/1975. 1ª Vara Criminal. Ar-quivado do no Centro de do-cumentação em História daUniversidade Federal de Uber-lândia, p. 5.
25 Depoimento de Célio. Proces-so nº 702010331792, op. cit.,p. 5.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
100 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
como um pecado, um crime, algo bem vergonhoso eanormal.
Em seu depoimento, o sobrinho da vítima afirmouque:
“o seu tio tinha hábitos sociais normais, inclusive freqüentandobons ambientes e a roda de amigos conceituados nesta cidade,que sinceramente nunca teve conhecimento de nada que pudessedesabonar a sua conduta”(sic).26
No depoimento do detetive que acompanhou ocaso, também percebemos a condenação da homosse-xualidade da vítima:
“com referência ao passado da vítima, o depoente não pode fazerqualquer afirmação categórica, porquanto nada viu que recomen-dasse mal, entretanto, por ouvir dizer, soube que a vítima eradada a encontros sexuais anômalos com rapazes, sendo um ho-mossexual masculino”(sic).27
A homossexualidade da vítima foi colocada emquestão e passou a ser debatida. Apontaram-se elemen-tos para se caracterizar a conduta da vítima como anor-mal ou doentia: um senhor de idade que tinha o costu-me de fazer sexo com rapazes.
Nos depoimentos de Célio observamos tambémmuitos elementos significativos: a “bicha” é aqueleque é passivo na relação, que se deixa penetrar. Nestecaso a inversão dos papéis resultou na morte da víti-ma pois o acusado enquanto macho não se deixoupenetrar e não conseguiu encontrar outra saída para asituação, a não ser a violência.
O homossexual é visto também como aquele quepaga pelo sexo e do qual se pode retirar dinheiro. NoBrasil, observamos ainda hoje, uma série de crimesque envolvem garotos de programa ou michês. Issodemonstra que desde a década de 70 do século XX,os homossexuais constituem um grupo vulnerável àviolência pois não possuem o direito de experimentar
26 Depoimento de Marcio. Pro-cesso nº 702010331792, op.cit., p. 34.
27 Depoimento do detetiveOsvaldo. Processo nº702010331792, op. cit., p. 32.
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 101
a sua sexualidade e sua afetividade livremente.Por outro lado, o acusado procurou retirar sobre
sua conduta qualquer indício que o identificasse comohomossexual. Nos depoimentos de várias pessoas apa-rece a tentativa de mostrar que Célio é uma pessoaboa, trabalhadora e que não possui costumes estra-nhos. Sobre a sua idéia de fazer sexo com a vítimapara ganhar dinheiro, como ele colocou no seu pri-meiro depoimento, há também a tentativa de desmen-tir e de desconstruir este aspecto. No seu depoimentoao juiz, Célio diz que é um amigo seu que fazia estesprogramas e que ele nunca havia feito isso.
Que sentido tem essas “pequenas modificações”no depoimento do acusado? Teriam elas influência nadecisão do júri? Conforme Sérgio Adorno, devemosperceber os processos criminais como territórios ondese desenvolvem sutis jogos de poder revestidos dosaber jurídico. Para Adorno, nestes terrenos não estáem pauta a severidade dos procedimentos judiciáriosou a justeza das leis, mas a construção de verdades apartir dos depoimentos dos (as) acusados (as) e teste-munhas e do trabalho dos “manipuladores técnicos”.28
Estes seriam os (as) juízes, advogados (as), promoto-res (as), investigadores (as) e outros indivíduos envol-vidos nos procedimentos de apuração dos fatos paracompor os processos.
No caso em questão, podemos observar que a es-tratégia da defesa se orientou no sentido de adequar oprincipal acusado ao modelo heterossexual e denegrira imagem da vítima. O que acabou dando certo pois oacusado foi condenado apenas a 4 anos de prisão emregime semi-aberto.
Percebemos que não é apenas o crime ou a pessoado réu que constitui matéria privilegiada dos tribunais,mas o maior ou menor ajustamento dos personagens amodelos de comportamento considerados legítimos enaturais, como sejam, o de pai provedor do lar, boaesposa, filho prodígio, vizinho solidário. É desse mai-or ou menor ajustamento que se retiram as razões para
28 ADORNO, S. Crime, justiçapenal e desigualdade social. Asmortes que se contam no tri-bunal do júri. Revista USP.Dossiê Judiciário, nº 24, 1994.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
102 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
condenar ou absolver. Conforme Boris Fausto:
Esse modelo de culpa e de inocência apresentado aos julgadoresnão se constrói arbitrariamente, mas segundo uma lógica orde-nadora constituída por um conjunto de normas sociais. Tais nor-mas abrangem tanto aquelas cuja violação acarreta uma sançãopenal como outras que dizem respeito à conformidade com iden-tidades sociais — a conduta adequada segundo sexo, segundo opapel exercido na família etc. Se o comportamento desviantenão implica de per si a aplicação da pena, ele é trazido à bailaquando as normas do primeiro tipo são transgredidas, transfor-mando-se nessa atualização em “preceito penal”. Ou seja, o com-portamento inadequado pode importar em condenação ou emexasperação da pena, produzindo o comportamento oposto o re-sultado inverso.29
As representações que são construídas sobre a ho-mossexualidade nos processos podem ser considera-das como sinais de um tipo específico e implícito deviolência. Se considerarmos, conforme Roger Char-tier30, que as representações são construções imagéticase discursivas e que enunciam ou presentificam o ou-tro e acabam por recriar o real; a evocação do com-portamento homossexual, não precisa ter correspon-dência direta com as práticas ou com as pessoas re-presentadas. Ou seja, a adequação das representaçõesnão se mede por critérios de autenticidade ou veraci-dade, mas pela sua capacidade mobilizadora, de moti-var práticas sociais e de conquistar credibilidade, indoao encontro dos valores e das crenças sociais estabe-lecidos.
Observamos então a “angústia” que a subtração damasculinidade, ou a sua possibilidade de perda, susci-ta nos homens. O contato homoerótico causa medoaos “ditos” machos heterossexuais e estes se sentem“inferiorizados” diante das demais pessoas se foremidentificados como sendo amantes dos homossexuais.
29 FAUSTO, B. Crime e cotidiano.A criminalidade em São Paulo(1880-1924). São Paulo: Brasi-liense, 1984, p. 32.
30 CHARTIER, R. A história cul-tural: entre práticas e represen-tações. Rio de Janeiro: Ber-trand Brasil/Difel, 1988.
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 103
Considerações f inaisConsiderações f inaisConsiderações f inaisConsiderações f inaisConsiderações f inais
A noção de violência deve ser investigada a partirdo contexto histórico onde foi produzida. Apesar detodas as épocas partilharem de algum tipo de violên-cia, seja ela regrada ou espontânea, implícita ou explí-cita, entendemos que, de certa maneira, existe um li-mite de aceitação para determinadas formas que aca-bam por singularizar ou serem características de mo-mentos específicos da História. A aceitação ou não decertos tipos de violência estaria ligada à cultura e àssensibilidades de cada época. Devemos perceber comoa violência é assimilada por uma sociedade e a partirde que crenças e valores ela é justificada. De quemodo ela é definida e entendida, em função de quaisvalores que constituem o “sagrado” do grupo de refe-rência.
O tipo de violência que uma cultura reforça oupune, legaliza ou bane, obviamente depende, segundoPeter Gay, dos tempos e das circunstâncias, dos riscose vantagens percebidos, dentre outros fatores. Algu-mas culturas desenvolvem álibis para a agressão. Es-tes são justificativas, crenças e princípios, que legiti-mam a luta verbal ou física em terrenos religiosos,políticos, ou, melhor que tudo, científicos. Toda cul-tura, classe ou época constrói seus próprios álibis paraa agressão. Assim, o autor diz que os vitorianos pos-suíam como justificativas para a violência, o álibi daconcorrência; da construção do outro conveniente edo culto da masculinidade. Todas essas três modalida-des tinham o mesmo efeito: cultivavam o ódio daque-la sociedade ou faziam-no correr em canais determi-nados31.
Em nossa sociedade prevalece ainda a violênciarelacionada ao culto da masculinidade. Onde os ho-mens são autorizados exercerem seu poder através demedidas coercitivas ou agressivas para manterem seustatus de macho. A manutenção desse status socialgeralmente ocorre com o domínio ou submissão de
31 GAY, P. O cultivo do ódio, op.cit.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
104 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
outros grupos sociais como mulheres, crianças, ve-lhos e homossexuais. Criam-se hierarquias de valoresa partir das diferenças sexuais e essas diferenças aca-bam por se transformar em desigualdades.
A questão da diferença é extremamente delicadaentre os grupos sociais brasileiros. Na sociedade mo-derna, o que podemos perceber de uma maneira geral,é que permanentemente há a conversão das diferen-ças em desigualdades e assim, dos diferentes em desi-guais. Estabelece-se um pólo positivo e outro negati-vo, um ativo, outro passivo, um que domina, outroque é dominado. Assim, instauram-se relações desi-guais de poder, relações hierarquizantes do tipo domi-nação/ subordinação e de aceitação/ rejeição.
O passivo ou efeminado é sempre visto pela maio-ria como “inferior”, “um homem que não deu certo” eeste se manterá subordinado aos outros, os ativos. Essavisão machista e hierarquizante das condutas na socie-dade determinam por sua vez que os “ativos” se en-contram em um patamar acima dos “passivos”, numarelação assimétrica. As diferenças são colocadas comodesigualdades e, estas, passam a ser percebidas comouma inferioridade natural, no caso das mulheres, índi-os e negros, ou como monstruosidade, no caso dosgays.
Apesar de todo conservadorismo existente na so-ciedade brasileira, pode se vislumbrar algumas mu-danças com relação aos padrões sexuais estabelecidospara homens e mulheres. As transformações atuais quevem ocorrendo em torno dos comportamentos mas-culinos e femininos podem ser creditados aos movi-mentos feminista e homossexual. As mulheres se tor-naram mais atuantes na vida pública fazendo que oshomens se sentissem ameaçados no seu terreno. Os(as)homossexuais, por sua vez, vêem construindo novaspossibilidades para a construção do masculino. Umhomem mais nuançado, mais flexível, preocupado coma beleza interna e externa é fruto dos novos tempos.A Revista Veja trouxe uma matéria de capa discutindo
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 105
32 O homem em nova pele. Re-vista Veja, São Paulo: Abril, 1ºout. 2003.
esta questão: o novo homem heterossexual modernoe urbano. Um sujeito tão ou mais vaidoso do que asmulheres, que freqüenta butiques, usa cremes e lo-ções para a pele, é refinado na cozinha e não se sentepor fora em uma conversa sobre decoração de ambi-entes. Algumas pessoas perceberam nestas mudançascerta influência dos gays sobre os machos heterosse-xuais32.
Isso vem demonstrar que os modelos para os com-portamentos masculino e feminino são culturalmenteconstruídos e que se modificam com o tempo e com ainfluência dos diferentes movimentos e sujeitos histó-ricos. Contudo, estas mudanças se encontram em se-tores localizados da sociedade, geralmente, nas clas-ses média e alta.
Em contraste com a reportagem sobre o “novohomem”, a mesma edição da Revista Veja trouxe umaentrevista com o pastor evangélico R. R. Soares quepassa cerca de 60 horas por mês pregando em umarede de televisão brasileira. Em seu depoimento, opastor deixou claro seu conservadorismo e salientouque dentre aqueles que não herdarão o reino de Deus, seencontram os efeminados e os sodomitas33. Percebemos queas mudanças que ocorrem em determinados setoresnão chegam a atingir a sociedade como um todo. Apermanência de certos valores e crenças acaba porreforçar a intolerância, mas, as transformações cultu-rais que se iniciam podem gerar novos valores mesmoque demorem longos períodos de tempo.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
ADORNO, S. Crime, justiça penal e desigualdade social. As mor-tes que se contam no tribunal do júri. Revista USP. Dossiê Judiciá-rio, nº 24, 1994.ALBUQUERQUE JR, D. M. Os nomes do pai: a edipianizaçãodos sujeitos e a produção histórica das masculinidades. In: RAGO, M.,ORLANDI, L. B. L. e VEIGA-NETO, A. (Org.). Imagens de Foucaulte Deleuze: ressonâncias nietzschianas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
33 Pregador reacionário. RevistaVeja, São Paulo: Abril, 1º out.2003.
Macho a qualquer custo. Investigação das relações de gênero através da análise de processos criminais.Uberlândia, 1975
106 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
BADINTER, E. XY. A identidade masculina. Rio de Janeiro: NovaFronteira, 1993.BOURDIEU, P. A dominação masculina. Educação & Realidade,Porto Alegre, v. 20, n. 2, 1995.______. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,1999.BRETAS, M. L. As empadas do Confeiteiro Imaginário. A pes-quisa nos arquivos da justiça criminal e a história da violência noRio de Janeiro. Acervo – Revista do Arquivo Nacional. Rio de Janeiro:Arquivo Nacional, v. 15, n. 1, 2002.CHARTIER, R. A história cultural: entre práticas e representações.Rio de Janeiro: Bertrand Brasil/Difel, 1988.DAVIS, N. Z. Ritos da violência. In: ______. Culturas do povo. So-ciedade e cultura no início da França Moderna. Rio de Janeiro: Paze Terra, 1990, p. 129-156.FAUSTO, B. Crime e cotidiano. A criminalidade em São Paulo (1880-1924). São Paulo: Brasiliense, 1984.GAY, P. O cultivo do ódio — A experiência burguesa: da Rainha Vi-tória a Freud. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.MORAIS, R. O que é violência urbana. São Paulo: Brasiliense, 1981.MOOSE, G. L. Masculinidade e decadência. In: PORTER, R.(Org.). Conhecimento sexual, ciência sexual. A história das atitudes emrelação à sexualidade. São Paulo: Edunesp, 1998.MOTT, L. Os homossexuais: as vítimas principais da violência. In:VELHO, G. e ALVITO, M. (Org.). Cidadania e violência. Rio deJaneiro: UFRJ/FGV, 1996.NOLASCO, S. (Org.). O mito da masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.PARKER, R. Corpos, prazeres e paixões. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1998.PINHEIRO, P. S. Entrevista. Acervo – Revista do Arquivo Nacional.Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, v. 15, n. 1, 2002, p. 3-5.PUGA DE SOUSA, V. L. Entre o bem e o mal (Educação e sexuali-dade – Anos 60 – Triângulo Mineiro). Dissertação de Mestrado,USP, mimeo, 1991.______. Paixão, sedução e violência – 1960-1980. Tese de Doutora-do, USP, 1998, mimeo.Revista Veja, São Paulo: Abril, 1º out. 2003.VÁRIOS AUTORES. A violência no cotidiano. Cadernos Adenauer,São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, n. 1, mar. 2001.
Edmar Henrique Dairell Davi
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 107
VELHO, G. Violência, reciprocidade e desigualdade: uma pers-pectiva antropológica. In: VELHO, G. e ALVITO, M. (Org.). Ci-dadania e violência. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1996.
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 109
O exame ginecológico naO exame ginecológico naO exame ginecológico naO exame ginecológico naO exame ginecológico naperspectiva da mulher idosaperspectiva da mulher idosaperspectiva da mulher idosaperspectiva da mulher idosaperspectiva da mulher idosa
Tatiana Carneiro de Resende
Resumo: Esse estudo objetiva buscar o significado doexame ginecológico para as mulheres idosas. Na análisedos depoimentos as mulheres sentem vergonha, dor, pro-telam seus exames e possuem dificuldade em aceitar a rea-lização do mesmo quando feito por profissional masculi-no. Isto dificulta o diagnóstico precoce e o posterior tra-tamento com maiores chances de sucesso.
Palavras-chave: Exame Ginecológico, Câncer, Idosa.
Abstract: This objective study to search the meaning ofthe gynecological examination for the aged women. In theanalysis of the depositions the women feel shame, pain,postpone its examinations and possess difficulty inaccepting the accomplishment of the same one when madeby a professional of the masculine sex. This makes itdifficult the precocious diagnosis and posterior treatmentwith bigger possibilities of success.
Keywords: Gynecological Examination, Cancer, Agedwomen.
Tatiana Carneiro de Resende. Bacharel em Enfermagem pela UFU eMestranda do Curso de Medicina da UFU.
O exame ginecológico na perspectiva da mulher idosa
110 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução
Esse estudo objetiva buscar o significado do exa-me ginecológico para as mulheres idosas atuantes noCentro de Tecelagem do Bairro Patrimônio. Para tanto,utilizou-se da pesquisa qualitativa com abordagemfenomenológica com a seguinte questão norteadora:“Como é para você o exame ginecológico?” Na análi-se dos depoimentos, observa-se que as mulheres sen-tem vergonha, dor, protelam seus exames e têm difi-culdade de aceitar a realização do mesmo quando feitapor profissional masculino. Isto dificulta o diagnósti-co precoce e posterior tratamento com maiores chancesde sucesso. Esses sentimentos fazem com que as mu-lheres adiem ou até mesmo deixem de fazer o examepara não terem que passar por situação tão constran-gedora.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer1, ocâncer configura-se nacionalmente como um proble-ma de saúde pública sendo definido como um cresci-mento desordenado de células invasoras que podemespalhar-se para outras regiões do corpo.
Barbosa2 expressa que esse crescimento desor-denado tende a ser agressivo e incontrolável, determi-nando a formação de tumores que além de ser algodispendioso para a sociedade traz consigo um alto custoemocional.
Seja qual for o tipo de câncer, ele é um diagnósti-co de certa forma assustador que possibilita medo,insegurança e sofrimento aos seus portadores e fami-liares3. Trata-se uma doença democrática, pois, podeatacar qualquer pessoa independente de raça, etnia,sexo e classe social4.
O câncer de colo do útero é uma relevante causade morte no Brasil, mesmo sendo na maioria dos ca-sos, passível de prevenção por intermédio do examepreconizado por Papanicolaou ou colpocitopatológico.Este tipo de doença tem uma fase pré-clínica extensaonde poderá ser detectável5. Com esse exame feito
1 BRASIL. Instituto Nacionaldo Câncer – INCA. Estimati-vas da incidência e mortalidade porcâncer no Brasil. Rio de Janeiro,2002, 90 p.
2 BARBOSA, A. M. Câncer, di-reito e cidadania. São Paulo:ARX, 2003, 317 p.
3 RIBEIRO, L.; OLIVEIRA,C.; LEITE, R. C. Câncer de ma-ma, prevenção e tratamento. SãoPaulo: Ediouro, 2002, 231 p.
4 Barbosa, A. M., op. cit.
5 BRASIL. Instituto Nacionaldo Câncer – INCA, op. cit.
Tatiana Carneiro de Resende
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 111
periodicamente, o câncer de colo uterino pode serdiagnosticado antes mesmo de aparecerem sintomasclínicos6.
Desde 1998 o Ministério da Saúde preconizou pormeio do Instituto Nacional do Câncer, com uma reu-nião de consenso, que no Brasil, o exame colpocito-patológico deveria ser realizado em mulheres, que játenham iniciado sua atividade sexual, uma vez por anoe, após dois exames anuais consecutivos negativos, acada três anos7.
Dentre alguns fatores de risco identificados para ocâncer de colo do útero estão o tabagismo, a idade e oinício da atividade sexual precoce. Considerando queo vírus do papiloma humano (HPV) e o Herpes VírusTipo II têm papel importante no desenvolvimento dadisplasia das células cervicais e em sua conseqüentetransformação em células cancerosas8.
As doenças crônico degenerativas (DCD) são pre-dominantes na população adulta e sua mortalidade,incidência e prevalência aumentam a medida que apopulação tem sua média de vida aumentada.
Nos últimos trinta anos observa-se o envelhecimen-to populacional brasileiro tendo dobrado o percentualdo grupo etário de 65 anos ou mais. Devido tal fator,aumenta-se a incidência das DCD e conseqüentemen-te, o número de pessoas que compõem as faixas etáriascom maior risco de desenvolver o câncer9.
Segundo Rouquayrol10, o aumento da esperança devida implica não só uma chance de exposição aos di-versos fatores de risco presentes no ambiente paradeterminada doença levando em conta a relação entrecausa e efeito, como também uma exposição mais pro-longada a estes fatores respeitando a relação entre dosee efeito. O envelhecimento da população também ofe-rece oportunidade para o aparecimento de doençasgeneticamente determinadas que só se expressam maistardiamente, com provável interferência de fatoresambientais.
Quando encarado como uma experiência de rotina,
6 AYOUB, A. C. et al. Planejan-do o cuidar na enfermagem onco-lógica. São Paulo: Marina, 2000,292 p.
7 Idem, Ibidem.
8 Idem, Ibidem.
9 BRASIL. Instituto Nacionaldo Câncer – INCA. Ações deenfermagem para o controle do cân-cer. Rio de Janeiro: Pro-onco,1995, 240 p.
10 ROUQUAYROL, M. Z. et al.Epidemiologia e saúde. 3 ed. Riode Janeiro: Medsi, 1988.
O exame ginecológico na perspectiva da mulher idosa
112 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
o exame pélvico anual com um colpocitológico é ummétodo indolor e relativamente barato. Smeltzer &Bare11, entendem que:
os profissionais de saúde podem encorajar as mulheres a seguiressa prática de saúde por fornecer exames não estressantes quesão educacionais e de suporte além de oferecer uma oportunidadepara que a paciente faça perguntas e esclareça as informaçõeserrôneas. Se mais mulheres compreenderem que o exame pélvicoe o esfregaço de Pap não devem ser desconfortáveis ou embaraço-sos, as taxas de detecção precoce melhorariam indubitavelmente,e vidas seriam salvas.
Observamos então a importância do exame pre-ventivo para o câncer de útero, cientes de que pormeio do mesmo estaremos bem mais próximos de umavida saudável.
Referencial teóricoReferencial teóricoReferencial teóricoReferencial teóricoReferencial teórico
Reis12 enfatiza que a prevenção baseia-se basica-mente no rastreamento (screening), no diagnóstico pre-ciso e no tratamento adequado.
De acordo com o INCA (1995):
ao analisar-se a composição etária da população brasileira, ob-serva-se o seu envelhecimento: o percentual do grupo etário de 65anos e mais praticamente dobrou nos últimos trinta anos. As-sim sendo, está havendo um aumento progressivo das doençascrônico degenerativas e conseqüentemente, no número de pessoasque passam a compor as faixas etárias que apresentam maiorrisco de desenvolver câncer.
O discurso de Rouquayrol13 diz que:
o aumento da esperança de vida implica não só uma maior chancede exposição aos diversos fatores de risco presentes no ambientepara determinada doença (relação entre causa e efeito), comotambém uma exposição mais prolongada a estes fatores (relação
11 SMELTZER, S. C. & BARE,B. G. BRUNNER & SUD-DARTH. Tratado de enfermagemmédico-cirúrgica. vol. III, 9. ed.Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2002.
12 REIS, A. F. F.; COSTA, M. C.E.; ALMEIDA, N. C. Preven-ção do câncer cervico-uterino— princípios epidemiológicose avaliação dos programas descreening. J. Bras. Ginecol., v.102, n. 11/12, p. 445-47, 1992.
13 Rouquayrol, op. cit.
Tatiana Carneiro de Resende
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 113
entre dose e efeito). O envelhecimento da população também ofe-rece oportunidade para o aparecimento de doenças geneticamentedeterminadas que só se expressam mais tardiamente, com pro-vável interferência de fatores ambientais.
Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde(1985), o principal objetivo dos programas de preven-ção do câncer de colo uterino é prevenir o carcinomainvasivo através da detecção, diagnóstico e tratamentoprecoce da patologia quando a cura ainda pode seralcançada.
TTTTTrajetória da pesquisarajetória da pesquisarajetória da pesquisarajetória da pesquisarajetória da pesquisa
No caminhar pela Fenomenologia, o pesquisadorpreocupa-se com a natureza do que vai investigar, nosentido de compreendê-la e não explicá-la, sendo quea investigação surge com um interrogar. A pesquisafenomenológica lida com a interrogação ou perguntadirigida para a consciência, e não com fatos, mas comaquilo que se mostra à consciência quando interro-gada14.
Seguindo esta perspectiva, esse trabalho direcionou-se a partir da seguinte interrogação: O que é paravocê o exame ginecológico?
Buscar o significado dessa experiência por meiodas falas de mulheres, que reúnem-se em um Centrode Tecelagem de Uberlândia-MG, representa um ca-minho para o real significado da vivência por elas ex-perimentada com relação ao exame preventivo de cân-cer do colo do útero. Assim, optamos por atuar nestelocal subvencionado pela Prefeitura Municipal deUberlândia e que presta serviço à 23 mulheres, sendoque 13 delas, o equivalente a aproximadamente 56,52%,têm acima de 60 anos.
Inicialmente entramos em contato com os possí-veis colaboradores, relatando o nosso objetivo e soli-citando sua participação voluntária no estudo median-te a apresentação e assinatura do termo de consenti-
14 BOEMER, M. R. Empatia-Proposta de abordagem feno-menológica. Revista da Escolade Enfermagem da USP, São Pau-lo, v. 18, n. 1, p. 23-29, 1984.
O exame ginecológico na perspectiva da mulher idosa
114 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
15 BRASIL. Instituto Nacionaldo Câncer – INCA. Estimati-vas da incidência e mortalidade porcâncer no Brasil. Rio de Janeiro,2002, 90 p.BRASIL. Instituto Nacionaldo Câncer – INCA. Periodicida-de de realização do exame preventi-vo do câncer do colo do útero. Re-vista Brasileira de Cancerolo-gia, Rio de Janeiro, v. 48, n. 2,jan./fev./mar. 2002, 167 p.
mento livre e esclarecido, de acordo com as diretrizesda Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde(CNS), do Ministério da Saúde no Brasil, garantindo-lhes o sigilo e a utilização de nomes fictícios, visandoassim salvaguardar os direitos dos sujeitos da pesqui-sa15.
O Centro de Tecelagem foi criado com o objetivode aumentar a renda da família das mulheres que vie-ram da zona rural para a cidade de Uberlândia na dé-cada de 70 abandonando seus teares. Na década de 80foi realizada uma pesquisa pela Secretaria de Estadode Desenvolvimento Social percebendo a mão de obraespecializada disponível. Essas senhoras sabiam tearcomo poucas outras, mas eram desqualificadas em ou-tros serviços e por isso estavam desempregadas.
Uma parceria da Prefeitura Municipal de Uberlândiacom a Secretaria de Estado e Desenvolvimento alia-das aos recursos do BID ( Banco Internacional deDesenvolvimento) fez surgir o Centro de Tecelagem.O mesmo tem objetivo de empregar essas mulheres eatender a demanda dos produtos manufaturados. Oprédio onde funciona o Centro de Tecelagem é daPrefeitura Municipal e conta com 37 teares. As mu-lheres reúnem-se lá de segunda a sexta-feira sendoque algumas exercem atividade como tecelãs e outrascomo fiandeiras. O local também oferece oficinas deSaúde Mental devido a parceria com a Secretaria Mu-nicipal de Saúde e também cursos de tecelagem para acomunidade visando qualificar mão de obra.
Para a coleta dos depoimentos, utilizamos entre-vistas individuais para buscar o significado do exameginecológico para as participantes do estudo. Os horá-rios e locais foram de acordo com a disponibilidadedas entrevistadas. Os depoimentos ocorreram em sa-las privativas do próprio estabelecimento. Durante osdepoimentos, as entrevistadas falavam livremente, comraros comentários feitos pela pesquisadora a titulo deesclarecimentos de modo a não interferir nos depoi-mentos e na autenticidade do relato.
Tatiana Carneiro de Resende
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 115
No decorrer das falas houve grande empatia entreos sujeitos da pesquisa e o pesquisador, portanto, ape-sar do assunto abordado ser para elas motivo de gran-de constrangimento foi possível ouvir seus depoimen-tos de forma clara e plena.
A simplicidade e a falta de conhecimento do que ée de como é feito o exame ginecológico mostra-se namaneira sucinta de relatar o que o mesmo significapara elas.
Houve convergência nas descrições obedecendoao critério de repetição, segundo o método feno-menológico observado. As mulheres descreveram suaexperiência de acordo com sua vivencia pessoal e umadelas recusou-se a participar da pesquisa.
Os depoimentos foram gravados após aprovaçãodo Comitê de Ética e Pesquisa e autorização das parti-cipantes do estudo sendo as transcrições apresentadasna integra, em anexo.
Para favorecer uma visão global de algumas carac-terísticas do estudo foi apresentado um quadro comnomes fictícios dos sujeitos da pesquisa, idade, e cate-goria profissional.
Nome Idade Categoria Profissional
Ana Paula 71 TecelãJuliana 62 FiandeiraAdriana 66 FiandeiraFernanda 77 FiandeiraLetícia 75 FiandeiraFabrisa 73 TecelãNivanda 77 FiandeiraMara 72 TecelãSônia 69 FiandeiraAndressa 72 FiandeiraAndréa 66 FiandeiraLudmila 68 Fiandeira
Quadro 1. Nomes fictícios dos sujeitos da pesquisa, idade,Quadro 1. Nomes fictícios dos sujeitos da pesquisa, idade,Quadro 1. Nomes fictícios dos sujeitos da pesquisa, idade,Quadro 1. Nomes fictícios dos sujeitos da pesquisa, idade,Quadro 1. Nomes fictícios dos sujeitos da pesquisa, idade,e categoria profissional.e categoria profissional.e categoria profissional.e categoria profissional.e categoria profissional.
O exame ginecológico na perspectiva da mulher idosa
116 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Utilizamos nesse trabalho a pesquisa qualitativa comenfoque na Fenomenologia, visando assim trilhar umcaminho mais próximo do sentir, do pensar de quemvivencia, de modo exclusivo, a experiência desse exa-me. De acordo com Graça16, a experiência está inseridano mundo subjetivo de cada mulher e só pode ser co-nhecida por meio do que é revelado sobre ela, quan-do interrogamos a seu respeito. A fenomenologia pos-sibilita isto, o desvelar das sensações vividas pelossujeitos da pesquisa.
A utilização do método fenomenológico contribuipara ampliar as vivências humanas, situadas no cotidi-ano profissional de nossa categoria, abrindo horizon-tes para a assistência, em todas as dimensões da En-fermagem, seja voltada para o ensino, administração epesquisa17.
Bicudo (1994) afirma que o rigor da pesquisa feno-menológica é não ter conceitos pré-estabelecidos e ir-às-coisas-mesmas. Não há preocupação em levantarhipóteses nem explicações sobre o fenômeno indaga-do e situado no nosso cotidiano; tal preocupação deveser dirigida para expressões claras sobre as percep-ções que o sujeito tem daquilo que está sendo pes-quisado18. Para os mesmos, a descrição deverá facilitarao ouvinte ou ao leitor reconhecer o objeto descrito,criando uma reprodução tão clara quanto possível desseobjeto, sendo esta uma das etapas fundamentais datrajetória da pesquisa fenomenológica.
O revelar das falasO revelar das falasO revelar das falasO revelar das falasO revelar das falas
Após leitura e análise de cada descrição enfatizamoso que era significativo para nossa visão de pesquisa-doras.Sintetizamos as categorias com objetivo de atin-gir a conversão, dando inicio à redução fenomenológica.
O exame ginecológico na perspectiva da mulheridosa que pude entrevistar significa:
– Vergonha;– Dor;
16 GRAÇA, E. M. Pesquisaquantitativa e a perspectivafenomenológica. Revista Minei-ra de Enfermagem, Belo Hori-zonte: v. 4, n. 12, p. 28-33,2000.
17 BIFFI, E. F. A. O Fenômeno Me-nopausa: uma perspectiva decompreensão. 1991. 120 p.Dissertação Mestrado, Escolade Enfermagem de RibeirãoPreto – Universidade de SãoPaulo, Ribeirão Preto.
18 MARTINS, J.; BICUDO,M.A.V. A pesquisa qualitativa empsicologia: fundamentos e re-cursos básicos. São Paulo: Edi-tora Moraes, 1969. 110 p.
Tatiana Carneiro de Resende
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 117
– Protelar o exame ginecológico;– Dificuldade de aceitar a realização do exame porprofissional do sexo masculino.Essas categorias serão analisadas a seguir:
O exame ginecológico significa vergonhaE isso vem de encontro ao desconhecimento do
próprio corpo e dos procedimentos a serem realiza-dos o que contribui para a não realização do exameginecológico, ficando claro nas falas abaixo:
“... não sinto à vontade não. Tenho vergonha...” (Ana Paula,relato 1)“... Eu evito ir. Eu sei que preciso mas eu evito. É muito vergo-nhoso...” (Fernanda, relato 2)“... Eu evito ir lá para mim fazer porque eu tenho vergonha...Não gosto de mostrar lá em baixo. É duro viu, é duro. Tempessoas que não incomodam não, mas para mim é pesado de-mais. Tenho muita vergonha, pelo amor de Deus. Deitar nacama lá e abrir as pernas é ridículo...” (Adriana, relato 3)“... Muitas vezes eu tenho vergonha, mas é preciso fazer, é neces-sário eu faço...” (Fernanda, relato 4)“... Sinto friagem desde os pés até a cabeça. Acho ruim. É umacoisa necessária de fazer mas é vergonhoso...” (Letícia, relato 5)“... Aquele hum... uai, os médicos enfiam aquele trem lá den-tro. Fiz há muitos anos mas medo eu não tenho não. Tenhovergonha...” (Fabrisa, relato 6)“... Sinto vergonha de arreganhar a perereca lá para eles olha-rem. Sinto vergonha de arreganhar lá...” (Nivanda, relato 7)“... É muito vergonhoso. Eles passam a mão lá dentro... Dizque a moça quando casa perde a metade da vergonha e depoisque casa, que adoece aí perde o resto porque tem que ficar mos-trando para os outros...” (Mara, relato 8)“... Deus é o doutor e peço a Deus não deixar eu precisar de irnão. Tenho vergonha...” (Sônia, relato 9)“... Tem vergonha. É muito ruim. Nossa Senhora!...”(Andressa, relato 10)“... É o papanicolau, nê? Tenho vergonha, nê...” (Andréa,relato 11)
O exame ginecológico na perspectiva da mulher idosa
118 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
“... Eu falo mesmo. Eu sou assim despachada. Todo mundosabe que eu falo mesmo. Ainda sou muito boba, mas antes eupunha babador de plástico. Agora vergonha a gente tem sem-pre...” (Ludmila, relato 12)
A vergonha esta intimamente ligada com o desco-nhecimento do próprio corpo. O corpo pode ser des-crito a partir de várias concepções diferentes variandode cultura para cultura e de acordo com o tempo vivi-do e deve ser explorado para ser entendido. ParaMerleau-Ponty19, o corpo é definido pela existênciaem si, ou seja:
“o corpo tem seu mundo e é eminentemente um espaço expressi-vo, o nosso meio geral de ter um mundo. Ser corpo é ser-no-espaço, a espacialidade do corpo é o desdobramento de seu ser nocorpo, a maneira pela qual ele se realiza como corpo” (1994,p.206).
O exame ginecológico significa protelarVale ressaltar o impacto negativo que este fato
provoca no controle do câncer ginecológico em espe-cial do colo do útero. Sentindo vergonha da exposiçãodo corpo, as entrevistadas tendem a se resguardar daexposição corporal, tendo como conseqüência a im-possibilidade de descobrir o câncer em seu estagioinicial.
De acordo com o INCA (2002) o câncer do colodo útero é o segundo tipo de câncer que mais matamulheres em todo o país. Isto se revela nas falas aseguir:
“... A gente morava na roça e não preocupava com essas coisas.Depois que eu vim preocupar. Mas ainda passei um tempo semfazer. Achei difícil mas resolvi.... mas não sinto à vontade não.Depois de ser preciso a gente faz mesmo depois de enrolar umpouco...” (Ana Paula, relato 1)“... Faço porque tem que fazer, vem um corrimento, umas coi-sas, nê... Graças a Deus eu com essa idade nunca tive nada.
19 MERLEAU-PONTY, M.Fenomenologia da percepção. SãoPaulo: Martins Fontes, 1994,p. 662.
Tatiana Carneiro de Resende
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 119
Fora corrimento eu nunca tive nada. Sinto muito medo, treme-deira, a pressão cai. Só isso. Eu evito de ir. Eu sei que precisomas eu evito...” (Juliana, relato 2)“... Sei que toda mulher de idade tem que fazer, nê? Mas euevito de ir lá para mim fazer porque eu tenho vergonha...”(Adriana, relato 3)“... Sempre tenho medo de ir fazer e vou deixando para fazerdepois, vou deixando para fazer mais tarde...” (Letícia, rela-to 5)“... Faço porque é obrigada fazer. Sinto vergonha...” (Nivanda,relato 7)“... Deve ter uns cinco anos que eu não faço esse exame. Fico assim...amanhã eu vou, amanhã eu vou...” (Andressa, relato 10)“... Fiz esse ano mas tenho vergonha. A gente enrola um poucopra ir fazer...” (Andrea, relato 11)“... Até sei um pouquinho mais das coisas, sei que precisa, masa gente acaba evitando...” (Ludmila, relato 12)
A questão do pudor esta intimamente ligada com anão realização do exame. Cabe então aos profissionaisde saúde auxiliarem essas mulheres esclarecendo anecessidade deste exame visando a importância de suarealização, elevando-o a um patamar mais alto do quea vergonha do próprio corpo.
O exame ginecológico significa dorDe acordo com Smeltzer & Bare20, a dor é uma
experiência sensorial e emocional desagradável queincapacita e angustia mais as pessoas que qualquerdoença isolada. Profissionais de saúde devem enten-der as conseqüências psicológicas da dor para melhortrata-las. Vale ressaltar que ao avaliar a dor, os fatorescomo experiência previa, ansiedade e idade tambémdevem ser avaliados.
Para isso devem ser implantadas medidas de alívioda dor e identificar quando a mesma advém de umdesconhecimento do exame abordado gerando umagrande tensão e levando o nível da mesma.
20 Smeltzer&Bare, op. cit.
O exame ginecológico na perspectiva da mulher idosa
120 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
“... Sinto medo e dor. Sinto uma dor quando coloca aqueleaparelhinho lá. Para mim esta rasgando tudo...” (Leticia, re-lato 5)“... Eu já fiz há muitos anos atrás porque eu tava com umproblema no útero aí tirou uns pedacinhos e dói demais...”(Nivanda, relato 7)“... É assim, ele é dolorido demais, nê. Eu já fiz tantas vezes masdói, nê. Tira um pedacinho lá do útero...” (Mara, relato 8)
Deve-se fazer uma abordagem preventiva da dordeixando o paciente tranqüilo e esclarecendo quais-quer dúvidas antes da realização do exame, visto quea ansiedade pode afetar a resposta de um paciente àdor. Em alguns casos pode-se ainda fazer essa aborda-gem por meio de analgesia como estratégia terapêuti-ca. Smeltzer & Bare diz que as alterações fisiológicasem idosos exigem que os analgésicos sejam ministra-dos com cautela.
Pode ser observado também que a dor é mais visua-lizada pelo paciente quando o procedimento realizadoé mais complexo que apenas uma coleta do examecolpocitopatológico e deve ser esclarecido que não ésempre que material para biopsia também será colhi-do.
Dificuldade de aceitar a realização do exame porprofissional do sexo masculinoEm todos os relatos vimos que a vergonha é algo
que impede muitas mulheres de fazer os exames emtempo hábil para que o diagnóstico seja feito mais ra-pidamente e a doença ainda esteja em seu estagio inici-al. Como a desinformação ainda é presente em nossomeio e vivemos em um mundo onde o machismo éalgo ainda arraigado, torna-se ainda mais difícil paraessas mulheres que viveram em épocas ainda mais com-plexas quanto ao pudor exponham seus órgãos genitaisà profissionais do sexo masculino sem que isso lhescause enorme constrangimento. Veremos isso nas fa-las que se seguem:
Tatiana Carneiro de Resende
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 121
“... É triste viu. Ainda mais se for um ginecologista homem. Amulher ainda vai, mas o homem...” (Adriana, relato 3)“... É. Pode ser mulher, pode ser homem, mas homem é bempior...” (Nivanda, relato 7)“... Também nunca fiz com mulher. Tenho azar e só caio comhomem. Eles põe a gente lá com as pernas abertas e a gente senteaté o calor da boca deles lá...” (Andressa, relato 10)“... A gente fica assim, acanhada, nê. Principalmente se formédico. A sensação não é boa não...” (Andréa, relato 11)
A vergonha apresenta-se presente em todos osrelados analisados. Com isso pudemos perceber queela é proveniente do desconhecimento do próprio cor-po, da educação e cultura, da falta de informação queainda é tão deficiente. Essas mulheres não sabem oque acontecem quando deitam em uma mesa gineco-lógica. Por isso é tão conflitante a realização do examee os números de casos de câncer continuam elevados.Fica claro o desconhecimento do próprio corpo, odesconhecimento do procedimento realizado e da ne-cessidade de nós profissionais de saúde intervirmosno sentido de melhorarmos este quadro.
Considerações f inaisConsiderações f inaisConsiderações f inaisConsiderações f inaisConsiderações f inais
Para as mulheres, sujeitos dessa pesquisa, o examepreventivo de câncer de colo do uterino é um exameque desencadeia muita vergonha, medo, ansiedade eestresse.
O significado desse exame para elas revela, em suasfalas, a compreensão do seu mundo com o surgimentode novos mitos, símbolos e valores. Embora o conhe-cimento sobre a necessidade do mesmo tenha mostra-do avanços, o tema ainda é tratado com muita comple-xidade e pudor. Isto nos leva a perceber que a neces-sidade do mesmo ainda não é abrangida em sua totali-dade.
Embora as informações sejam de fundamental im-portância para a mulher, faz-se necessária também a
O exame ginecológico na perspectiva da mulher idosa
122 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
criação de espaços e eventos onde elas possam trocarexperiências e tirar dúvidas.
Acreditamos que, devam ser feitos maiores inves-timentos técnicos e científicos para que a mulher te-nha maior acesso à sua assistência integral, conside-rando todos os aspectos da saúde.
Percebemos que faz-se necessária a continuidadedessa pesquisa no intuito de aprofundar a compreen-são dessa temática.
A Enfermagem é uma das categorias profissionaisque pode auxiliar a mulher possibilitando a criação degrupos que contribuirão para seu discernimento.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
AYOUB, A. C. et al. Planejando o cuidar na enfermagem oncológica. SãoPaulo: Marina, 2000. 292 p.BARBOSA, A. M. Câncer, direito e cidadania. São Paulo: ARX, 2003,317 p.BIFFI, E. F. A. O Fenômeno Menopausa: uma perspectiva de com-preensão. 1991. 120 p. Dissertação Mestrado, Escola de Enferma-gem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, RibeirãoPreto.BOEMER, M. R. Empatia-Proposta de abordagem fenomeno-lógica. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 18, nº 1,p. 23-29, 1984.BOEMER, M.R. O fenômeno morte: o pensar, o conviver e o educar.1989. 111 p. Tese Livre-Docência. Escola de Enfermagem de Ri-beirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.BRASIL. Instituto Nacional do Câncer – INCA. Ações de enferma-gem para o controle do câncer. Rio de Janeiro: Pro-onco, 1995. 240 p.BRASIL. Instituto Nacional do Câncer – INCA. Estimativas daincidência e mortalidade por câncer no Brasil. Rio de Janeiro, 2002. 90 p.BRASIL. Instituto Nacional do Câncer – INCA. Periodicidade derealização do exame preventivo do câncer do colo do útero. Revista Brasileira deCancerologia, Rio de Janeiro, v. 48, n. 2, jan./fev./mar. 2002. 167 p.BRASIL. Instituto Nacional do Câncer – INCA. Relatório anual2001. Rio de Janeiro, 2001. 111 p.BRASIL, Ministério da Saúde Conselho Nacional da Saúde. Ma-
Tatiana Carneiro de Resende
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 123
nual Operacional para comitês de ética em pesquisa. Brasília, 2002, p. 11.GRAÇA, E. M. Pesquisa quantitativa e a perspectiva fenomeno-lógica. Revista Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte: v. 4, n. 12, p.28-33, 2000.MARTINS, J.; BOEMER, M. R.; FERRAZ, C. A. A fenomenologiacomo alternativa metodológica para pesquisa. Algumas conside-rações. Cadernos da Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativos, v. 1, n.1, p. 33-47, 1990.MARTINS, J.; BICUDO, M. A. V. A pesquisa qualitativa em psicologia:fundamentos e recursos básicos. São Paulo: Moraes, 1969. 110 p.MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. São Paulo:Martins Fontes, 1994, p. 662.ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Epide-miologia do câncer cérvico uterino. Manual de normas e procedimentospara o controle do câncer cérvico-uterino. Washington, D.C., 1985.REIS, A. F. F.; COSTA, M. C. E.; ALMEIDA, N. C. Prevençãodo câncer cervico-uterino — princípios epidemiológicos e avalia-ção dos programas de screening. J. Bras. Ginecol., v. 102, n. 11/12,p. 445-47, 1992.RIBEIRO, L.; OLIVEIRA, C.; LEITE, R. C. Câncer de mama, pre-venção e tratamento. São Paulo: Ediouro, 2002. 231 p.ROUQUAYROL, M. Z. et al. Epidemiologia e saúde. 3. ed. Rio deJaneiro: Medsi, 1988.SMELTZER, S. C. & BARE, B. G. BRUNNER & SUDDARTH.Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. v. III, 9. ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2002.
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 125
As políticas neoliberais implementadasAs políticas neoliberais implementadasAs políticas neoliberais implementadasAs políticas neoliberais implementadasAs políticas neoliberais implementadasno Brasil nos anos 90 e as repercussõesno Brasil nos anos 90 e as repercussõesno Brasil nos anos 90 e as repercussõesno Brasil nos anos 90 e as repercussõesno Brasil nos anos 90 e as repercussõesna vida das trabalhadoras brasileirasna vida das trabalhadoras brasileirasna vida das trabalhadoras brasileirasna vida das trabalhadoras brasileirasna vida das trabalhadoras brasileiras
Maria da Consolação Rocha
Resumo: O artigo analisa as políticas econômicas imple-mentadas desde os anos 90 e as repercussões das mesmasna vida das trabalhadoras brasileiras. Para isso, aborda arelação entre mulher e trabalho no Brasil, pois os estudossobre a participação feminina no mercado de trabalho cres-ceram e diversificaram os modelos de análise. Contex-tualiza as políticas neoliberais no Brasil nos anos 90 consi-derando que o projeto neoliberal foi implementado tardi-amente no país com uma base de sofisticação maior secomparado com outros países da América Latina. Por fim,analisa as repercussões dessas políticas no trabalho femi-nino brasileiro considerando que a participação das mu-lheres no mundo do trabalho tem passado por mudançasimportantes que têm repercussão nos dias de hoje.
Palavras-chave: Gênero, Trabalho Feminino, Política Eco-nômica, Neoliberalismo.
Abstract: The article analyzes the economic policies thatwere implemented from the nineties and their repercussionson the lives of women who are Brazilian workers. For that,it approaches the relationship between women and workin Brazil, as studies about women’s participation in the jobmarket have made analysis models to expand and diversify.It contextualizes neo-liberal politics in Brazil in the ninetiesconsidering that the neo-liberal project was late imple-
Maria da Consolação Rocha. Formada em Pedagogia pela UFMG e Pós-graduada em Psicologia da Educação pelo CEXPIEMG, Mestra emEducação pela FAE/UFMG e doutoranda da FEUSP.
As políticas neoliberais implementadas no Brasil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras
126 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
mented in the country on a basis of larger sophistication ifcompared to other countries of Latin America. Finally, itanalyzes the repercussions of those political actions on thework of Brazilian women considering that their partici-pation in the market place has presented important changeswhich have a repercussion in the current days.
Keywords: Women’s work, Economic Policies, Neo-liberal.
O projeto neoliberal foi implementado tardiamen-te no país, porém com uma base de sofisticação maior,se comparado com outros países da América Latina.O programa neoliberal brasileiro baseou-se na abertu-ra comercial, na privatização de empresas públicas ede serviços, na desregulamentação dos mercados debens, de capitais e de trabalho, além de planos de esta-bilização monetária.
Neste contexto, o trabalho e a participação dasmulheres no mercado passaram por mudanças impor-tantes que têm repercussão nos dias de hoje.
Mulher e trabalhoMulher e trabalhoMulher e trabalhoMulher e trabalhoMulher e trabalho
Os estudos sobre a participação da mulher no mer-cado de trabalho cresceram e diversificaram os mode-los de análise que buscam compreender a sua inser-ção no mercado de trabalho.
Durante os anos 50 e 60, conforme D’ÁLBORA1,esses estudos baseavam-se na concepção de que odesenvolvimento da força de trabalho feminina estavaem estreita relação com a evolução da economia capi-talista, originando duas vertentes. Uma visão mais pes-simista sinalizava que o desenvolvimento do modo deprodução capitalista marginaliza a força de trabalhofeminina, sendo as mulheres um exército de reservamobilizado e desmobilizado segundo as necessidadesda indústria da produção. A outra visão, mais otimista,
1 D’ALBORA, Adriana Munõz.Fuerza de trabajo femenina;evolución y tendencias. In:LUNA, Lola G. (Org). Género,clase y raza en América Latina— algunas aportaciones. Barce-lona: Promociones y Publica-ciones Universitarias, 1991.
Maria da Consolação Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 127
assinalava a existência de uma estreita relação entremodernização e força de trabalho feminina, pois, a pri-meira influiu diretamente na expansão do sistema edu-cacional, na extensão dos benefícios sociais prestadospelo Estado do Bem Estar Social, na redução da famí-lia, na simplificação das tarefas domésticas, permitin-do às mulheres, maiores possibilidades de acesso aomercado de trabalho.
A autora critica essas duas vertentes por conside-rar a-histórica as análises onde a força de trabalhofeminina é vista como residual à dinâmica de acumula-ção capitalista e às suas reestruturações. Entretanto,considera como um ponto positivo dessas perspecti-vas o fato de demonstrarem que a maior escolaridadefeminina não foi traduzida na incorporação das mu-lheres em profissões “mais valorizadas” socialmente.
Nos anos 70, a presença do feminismo nos movi-mentos sociais e a conquista de espaços na academiapara a temática das mulheres, levaram as/os pesquisa-doras/es a incorporarem o conceito de reproduçãoem seus estudos. Nesse conceito, a noção central paraa análise da especificidade feminina na sociedade e nomercado de trabalho está vinculada ao papel específi-co da mulher na reprodução e às implicações dessepapel na sua forma de incorporação no mercado detrabalho. Assim, o debate sobre a relação família–tra-balho doméstico–produção alcançou grande expres-são nesse período. No entanto, um dos limites dessaanálise, segundo D’ÁLBORA, é a compreensão dopatriarcado como um sistema separado das relaçõesde produção, onde a esfera produtiva e a esfera repro-dutiva são vistas como paralelas, separadas e não arti-culadas entre si.
Esse debate sobre o público e o privado, a produ-ção e a reprodução, a relação família- trabalho-domés-tico-produção, bem como as transformações ocorri-das na prática política e social do movimento feminis-ta internacional, durante os anos 70, orientaram a re-flexão e a prática investigativa sobre mulher e traba-
As políticas neoliberais implementadas no Brasil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras
128 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
lho, iniciando nos anos 80, uma discussão sobre a ne-cessidade desses estudos terem como centro
“el énfasis puesto en la comprensión y el análisis del complejoproceso de construcciones sociales derivadas de la condición queideológica y culturalmente se ha signado a la mujer en el procesode reprodución y en la familia y cómo éste deviene en um conjun-to de relaciones de género que se expresan e inciden en la estructuray organización de proceso productivo en su conjunto y en el mer-cado de trabajo en particular”.2
Atualmente, os estudos sobre mulher e trabalhobuscam analisar a presença da mulher no mercado detrabalho integrando as dimensões ideológico-culturaisde segregação de gênero presentes nesse espaço social.
Desta forma, o aumento da força de trabalho femi-nina no mercado formal de trabalho, no mundo, podeser entendido como
“un fenómeno que ocurre sobre la base de um complejo procesode transformaciones estructurales ocurrido en las últimas tresdécadas — fundamentalmente en los últimos 15 años — y deun importante reordenamiento del conjunto de la sociedad enfunción de estas transformaciones. Ellas se han expresadotambién en un proceso de profundización y/o readecuación delas relaciones de género con respecto a la nueva situación que seobserva en el conjunto de la sociedad”.3
BRUSCHINI4 afirma que no Brasil, a presença dasmulheres no mercado de trabalho é intensa, diversi-ficada e apresenta uma tendência de não retroceder,apesar das crises econômicas. Entre as razões para asmulheres trabalharem estão a necessidade econômicae a ampliação e diversificação da cesta de consumo5
familiar, além da profunda transformação do papelsocial da mulher brasileira.
Nos anos 1970, a consolidação da industrializaçãobrasileira trouxe crescimento econômico e o aumentodo emprego, apesar de ter como custo o aumen-to das
2 D’ALBORA, op. cit., p. 69.
3 Idem, Ibidem, p. 70.4 BRUSCHINI, Cristina. O tra-
balho da mulher brasileira nasdécadas recentes. Seminário Po-líticas Econômicas, Pobreza e Tra-balho, IPEA, Rio de Janeiro,maio de 1994.
5 Cesta de consumo é a compo-sição de itens de despesas do-mésticas que, conforme oDIEESE, agrega: alimentação(ração essencial), habitação,equipamentos domésticos,transporte, vestuário, educaçãoe leitura, saúde, recreação, des-pesas pessoais e despesas di-versas.
Maria da Consolação Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 129
desigualdades sociais e da concentração de renda.Nesse período, a luta das mulheres contra as dis-
criminações sociais, a queda da fecundidade e a ex-pansão da escolaridade feminina provocaram profun-das transformações no papel social da mulher e po-dem ser percebidas na persistência da atividade femi-nina na década de oitenta. Essa persistência, entretan-to, está vinculada à divisão sexual do trabalho, concen-trando as mulheres em guetos ocupacionais, como osetor de serviços. Prova disso é que em 1980, 70% daPopulação Econômica Ativa (PEA) feminina estavaconcentrada em trabalhos “femininos”.
Na década de 1980, a recessão econômica provo-cou um deslocamento da PEA para o setor terciário.Esse setor é marcado pela heterogeneidade e abriga
“tanto atividades não-organizadas e de baixa produtividade,quanto mais dinâmicas e modernas, decorrentes da externalizaçãode serviços industriais, da diversificação do comércio e dos servi-ços pessoais, da expansão das atividades bancárias e financei-ras, bem como de atividades decorrentes da atuação direta e in-direta do setor público, este último responsável por uma fatiaconsiderável dos empregos gerados”.6
Concordamos com BRUSCHINI que para com-preendermos a participação feminina no mercado detrabalho devemos considerar, além das condições ge-rais de emprego, o papel que a mulher ocupa na re-produção, pois, a sua inserção na PEA passa por umacombinação de papéis familiares e profissionais. As-sim, a idade, a escolaridade, o estado civil, a prole, aestrutura familiar e o ciclo de vida das mulheres inter-ferem na sua participação no mercado de trabalho.
Contextualização das políticas neoliberaisContextualização das políticas neoliberaisContextualização das políticas neoliberaisContextualização das políticas neoliberaisContextualização das políticas neoliberaisimplementadas no Brasil nos anos 90implementadas no Brasil nos anos 90implementadas no Brasil nos anos 90implementadas no Brasil nos anos 90implementadas no Brasil nos anos 90
As modificações ocorridas na sociedade brasileiranos anos noventa podem ser compreendidas através
6 BRUSCHINI, op. cit., p. 2.
As políticas neoliberais implementadas no Brasil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras
130 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
7 CODAS, Gustavo. A economiabrasileira nos anos 90 e a opçãoFHC. São Paulo: SOF, 1999.
de três mudanças estruturais articuladas entre si: oprograma neoliberal, a reestruturação técnico-orga-nizativa das empresas e a renovação do autoritarismosob o manto da democracia burguesa formal.
A história recente foi de grandes desacertos eco-nômicos. No período de 1986 a 1994, foram imple-mentados seis planos de “estabilização”: Cruzado I,Cruzado II, Bresser, Verão, Brasil Novo e o Real. Opaís conviveu ainda com cinco mudanças na moeda:cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novo e porfim o real.
De 1986 a 1989, a atividade econômica oscilou en-tre aquecimento e recessão. Vivemos um deslocamentoda mão-de-obra do setor industrial para o setor infor-mal, crescimento lento do emprego, pequeno aumen-to do trabalho formalizado, redução nos níveis de sa-lário real, recessão econômica e altíssimas taxas infla-cionárias7.
Para BRUSCHINI, a década de 80, chamada poralguns especialistas econômicos de “década perdida”,apresenta alguns indicadores sociais demonstrando nãoter sido inteiramente perdida, pois houve uma melhoriano acesso da população pobre aos serviços públicos;expansão do atendimento público, através de infra-estrutura básica como água, luz e esgoto; acesso dasclasses baixas ao consumo de bens duráveis, em parti-cular os eletrodomésticos; e um processo de reorgani-zação da sociedade civil e redemocratização do país.
Com o governo Collor, no início dos anos 90, fo-ram implementadas novas diretrizes econômicas: iní-cio da implementação de medidas neoliberais; abertu-ra do mercado nacional aos importados provocandouma aceleração nas mudanças tecnológicas e organi-zacionais nas empresas, particularmente no setor in-dustrial e financeiro. Esse processo combinou umaprodutividade alta com queda do emprego industrial,com conseqüência para outros setores da economia.
Em 1992, o país viveu um momento político im-portante com o impeachment do Presidente Collor.
Maria da Consolação Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 131
Com o seu sucessor houve um refreamento da crise euma pequena recuperação de postos de trabalho, sem,contudo, retornar aos patamares de 1990. No final dogoverno Itamar Franco, houve a implementação doPlano Real que teve por objetivo controlar a inflaçãoe estabilizar a moeda8.
Em 1994, foi eleito o governo de Fernando Hen-rique Cardoso, cujo pilar básico era o Plano Real, quecombinava o processo de abertura econômica com umasobrevalorização do real sobre o dólar. Essa políticateve como conseqüência um desequilíbrio nas contasinternas e externas; um baixo nível de crescimento doproduto industrial; um aumento de empregos precári-os, sobretudo no setor de serviços, responsável pelaabsorção da maior parcela da população economica-mente ativa (PEA) excluída do setor industrial, comprodutividade mais baixa e pagamento de salários me-nores.
Neste período, os chamados setores bons, com em-pregos formalizados, passaram a empregar menos eessa tendência se agravou com o Plano Real: a indús-tria passou por um processo de reestruturação, o se-tor financeiro foi automatizado, as estatais privatizadasdemitiram funcionários, e a administração pública ini-ciou um processo de redução de pessoal, através dosprogramas de demissão voluntária (PDV) e incentivoa aposentadorias etc. Houve aceleração no processode precarização das relações de trabalho; aumento dotrabalho assalariado sem carteira assinada ou por con-ta própria; aumento das diferenças sociais entre traba-lhadores/as quanto a salários, benefícios, tipos de con-trato; insegurança de setores especializados quanto àmanutenção do emprego e direitos conquistados; au-mento dos conflitos entre trabalhadores/as devido àsdiferenças de inserção no mercado de trabalho.
A intensificação desse processo resultou em no-vos desempregados, acompanhada do aumento do con-tingente de trabalhadores/as por conta própria, pro-vocando maior flexibilização das relações trabalhistas.
8 Idem, Ibidem.
As políticas neoliberais implementadas no Brasil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras
132 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
No plano político, a palavra de ordem foi a exacer-bação do individualismo ideológico, destruição de di-reitos sociais conquistados no processo da Constitu-inte em 1988 baseados no princípio da solidariedadecoletiva. Através de decretos, medidas provisórias ereformas constitucionais, sem consulta popular e rea-lizadas a toque de caixa para atender às exigências deorganismos internacionais como o FMI, o governoFernando Henrique impôs as reformas “político-eco-nômicas e sociais”.
Em seu primeiro mandato, o governo FernandoHenrique conseguiu aprovar três reformas de grandeimpacto sobre as condições de vida do conjunto dapopulação brasileira.
A primeira foi a Reforma Administrativa, com aqual o governo criou condições para a privatização deserviços e empresas públicas a partir da justificativada não obrigatoriedade do Estado em garantir serviçoscomo saúde, educação, produção científica, alegandoque os mesmos seriam melhor ofertados pelo setorprivado.
Também foram caracterizadas pelo governo comoatividades tipicamente empresariais aquelas ligadas àtelecomunicação, água, luz etc, que receberam trata-mento neoliberal clássico. Para o governo, estas fun-ções estatais deveriam ser integralmente transferidaspara a iniciativa privada através de processo sumáriode venda das empresas, já que a função de suporte aodesenvolvimento, antes cumprida por este setor esta-va superada.
Neste sentido, o processo de privatização de em-presas públicas atingiu todo o setor mineral, a produ-ção de aço, as telecomunicações e parte do setor elé-trico e de saneamento básico. Atualmente está em cur-so outro processo de repasse das responsabilidadespúblicas para o setor privado através das ParceriasPúblico Privadas – PPP’s.
A reforma da Previdência Social, do período FHCabriu caminho para a quebra do princípio da solidarie-
Maria da Consolação Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 133
dade e o rompimento com o conceito de seguridadesocial. Na reforma, o governo atacou duramente odireito à aposentadoria e à pensão por morte atravésda alteração do conceito de tempo de serviço paratempo de contribuição, ampliando o tempo de contri-buição e estabelecendo ainda a idade mínima comocritério combinado para o direito desse benefício. Areforma da previdência do governo Lula impôs novasperdas. Ambas as reformas romperam com o conceitodo direito adquirido e as pessoas que estavam pertode se aposentarem, às vezes, faltando apenas um diaisso, passaram a ser subordinadas às novas regras.
Aposentados/as e pensionistas também perderamcom a reforma da Previdência Social a partir da redu-ção da aposentadoria por invalidez, da pensão por mortee do arrocho de seus salários com o rompimento daparidade entre ativos e inativos.
Junto com as reformas o governo federal aprovouleis, medidas provisórias e portarias que alteraram asregras da previdência social quanto aos benefícios deauxílio-doença comum e auxílio-doença acidentárioentre outros, bem como alterações na legislação traba-lhista desregulamentando diversos benefícios previden-ciários.
A Reforma Educacional compreendeu novos cri-térios de financiamento, imposição de novos parâmetroscurriculares, novas formas de acesso às vagas, novoforma de organização dos sistemas escolares nas esfe-ras federal, estadual e municipal.
Essas reformas educacionais levaram à precarizaçãoda ampliação do sistema escolar, particularmente doEnsino Médio, da Educação Infantil e da EJA. Osestados se desresponsabilizaram pela Educação Infan-til, fechando escolas e acabando com o financiamentopara o setor. O governo federal passou a tarefa daescola básica para estados e municípios, mas manteveo controle dos recursos financeiros através do Fundode Estabilização Fiscal e da forma de cálculo doFUNDEF.
As políticas neoliberais implementadas no Brasil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras
134 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Outro aspecto das mudanças foi o autoritarismoimplementado sob os argumentos da democracia for-mal, seja de maneira sutil através de algumas reformase programas de governo, ou direta com centenas demedidas provisórias no campo econômico e dos direi-tos de organização da sociedade. Os exemplos sãomuitos: uso de tanques de guerra na greve dos petro-leiros em 1995, prisões arbitrárias e assassinatos deSem Terra, a exemplo de Eldorado dos Carajás, Corum-biara etc., e dezenas de medidas contra a organizaçãopopular, como multas aplicadas aos sindicatos pelarealização de greves.
Os efeitos das políticas neoliberaisOs efeitos das políticas neoliberaisOs efeitos das políticas neoliberaisOs efeitos das políticas neoliberaisOs efeitos das políticas neoliberaisno trabalho femininono trabalho femininono trabalho femininono trabalho femininono trabalho feminino
Na década de 90, observou-se um crescimento daparticipação feminina no mercado de trabalho, no qualas mulheres chegaram a representar cerca de 40% daPEA urbana e 30% da PEA rural.
No período de 85 a 95, houve uma ampliação dapresença feminina na população economicamente ati-va (PEA) na ordem de 63%, enquanto que o cresci-mento da PEA masculina manteve-se com poucas al-terações. Uma das justificativas para esse crescimentopode ter sido o novo conceito de trabalho adotadopelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas –IBGE, ao incluir, a partir de 1992, atividades como oautoconsumo, a produção familiar e outras até entãonão consideradas como trabalho. Com essa medida, astrabalhadoras brasileiras se tornaram mais visíveis, pas-sando a representar, em 1995, 40% da PEA.
Conforme BRUSCHINI9, o crescimento da pre-sença das mulheres brasileiras no mercado de traba-lho, neste período, apresentou algumas característicasinteressantes, como aumento de mulheres casadas, maisvelhas, mais escolarizadas e com responsabilidadesfamiliares. A maior taxa de atividade feminina foi en-contrada entre as mulheres de 30 a 39 anos, com uma
9 BRUSCHINI. Gênero e traba-lho feminino no Brasil: novasconquistas ou persistência dadiscriminação? Brasil, 1985 a1995. Seminário Trabalho e Gê-nero: mudanças, permanênci-as e desafios, ABEP e NEPO,Campinas, abril de 1998.
Maria da Consolação Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 135
participação superior a 66%, sendo que entre as mu-lheres de 40 a 49 anos mais de 63% eram ativas. Noentanto, permaneceram as situações que dificultam adedicação das mulheres ao trabalho, colocando-as con-seqüentemente em desvantagem no mercado de tra-balho.
Nesse cenário, a responsabilidade das mulherespelos cuidados com a casa e com a família continuousendo um dos fatores determinantes na posição se-cundária ocupada por elas no mercado de trabalho,sendo a maternidade a que mais interferiu no trabalhofeminino, principalmente quando as crianças são pe-quenas.
A idade dos/as filhos/as constitui um fator queinterfere na participação no mercado de trabalho, pois,enquanto pequenos, a mãe tem sido a maior responsá-vel por elas/es. Quando os/as filhos/as crescem, amãe tem na escola um espaço de ajuda e de cuidadocom as crianças, conforme sugerem os dados de 1980em que 41% de mães com filhos/as com mais de 7anos participavam da PEA10.
Para a autora, a insuficiência ou ausência de equi-pamentos coletivos como creches, sobrecarregam asmulheres no cuidado com as crianças, sendo que, em1985, nas áreas metropolitanas, cerca de 80% das cri-anças de 0 a 6 anos ficavam sob o cuidado das mães,sendo que apenas 23% freqüentavam creches ou pré-escolas.
Porém, devido às necessidades econômicas, sãorealizados arranjos com a rede de parentesco paracoletivizar o cuidado das crianças, principalmente en-tre mulheres muito pobres ou em famílias chefiadaspor mulheres. Desta forma, a atividade informal, comjornada irregular e o trabalho domiciliar e rural, per-mitem o arranjo entre família e trabalho, embora nãohaja acesso a direitos trabalhistas.
Para compreendermos o impacto da maternidadena PEA feminina basta observarmos que entre as mu-lheres de 20 a 24 anos, 61% trabalhavam em 1995,
10 BRUSCHINI, Cristina. O Tra-balho da mulher brasileira nasdécadas recentes. Seminário Po-líticas Econômicas, Pobreza e Tra-balho, IPEA, Rio de Janeiro,maio de 1994.
As políticas neoliberais implementadas no Brasil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras
136 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
11 BRUSCHINI, op. cit., 1998.
sendo que entre as que tiveram filhos esta taxa caipara 50%. Entre as de 25 a 29 anos, a taxa cai de 63%para as que não têm filhas/os para 56% entre as mães.Porém, o número de jovens mães economicamenteativas mostra uma mudança interessante na PEA femi-nina dos anos noventa, sendo que a partir de 30 anosde idade é praticamente igual o percentual de mulheresativas entre aquelas que não têm filhas/os e as mães.
Outro fator que influenciou a presença das mu-lheres no mercado de trabalho é a escolaridade. Em1990, 64% das mulheres com 9 anos ou mais de esco-laridade eram ativas comparativamente a 28% daque-las que não tinham instrução. Além disso, as mulheresbrasileiras têm mais tempo de escolaridade que os ho-mens, sendo que na PEA com até 11 anos de escolari-dade, elas representam 25% enquanto os homens 17%.Entre aquelas que têm mais de 15 anos de estudoobservou-se a maior participação feminina no merca-do de trabalho, sendo 80% delas ativas.
Entretanto, isso não significou alterações no seurendimento se comparado aos homens com mesmosníveis de escolaridade. Entre a PEA com 11 a 14 anosde escolaridade, 50% dos homens percebiam até 5 S.Mcontra apenas 23,5% das mulheres. Para aqueles/ascom 15 anos ou mais de escolaridade, 2/3 dos homensse encontravam na faixa de até 10 S.M, contra apenas1/3 das mulheres na mesma situação.11
A divisão sexual do trabalho também está presentena forma de incorporação das mulheres ao mercadode trabalho. Em 1990, os dados da PNAD mostramque
“apesar do crescimento da participação feminina em ocupaçõesde maior prestígio, como as de nível superior e gerencial, mante-ve-se ao longo dos anos oitenta a concentração ocupacional dasmulheres: em 1990, 18,6% delas eram trabalhadoras domésti-cas, 11% eram balconistas, vendedoras ou comerciantes por con-ta própria, 9,6% desempenhavam funções administrativas, 6,7%eram costureiras e 4,8% eram professoras de 1º grau”.1212 BRUSCHINI, op. cit., 1994.
Maria da Consolação Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 137
A autora destaca que ao considerarmos a participa-ção econômica de homens e mulheres por gruposocupacionais verificamos que a PEA feminina vemsendo empurrada para fora do setor industrial, bemcomo de setores tradicionalmente ocupados pelasmulheres como as ocupações administrativas e as ocu-pações técnico-científicas e assemelhadas.
O perfil do emprego entre as mulheres mostra umaigualdade entre o emprego formal e precário. Os nú-meros revelam que 42% das mulheres são emprega-das e assalariadas, 17% trabalhando por conta própriae 40% em relações precárias de trabalho.
Ao considerarmos o local de trabalho da PEA per-cebemos que, embora mais da metade das mulheresocupadas trabalhassem em lojas, oficinas ou escritóri-os, o percentual daquelas que trabalhavam no domicí-lio (12,4%) ou no domicílio do patrão (17,5%) era bemmais elevado do que o masculino na mesma situação.
Além disso, dentro da PEA feminina, 14,4% deocupadas não eram remuneradas e apenas 8,2% doshomens estavam na mesma situação. A maioria destasmulheres trabalhava principalmente no setor agrário eno comércio em menor escala, sendo na imensa maio-ria jovens ou idosas. Isto indica que metade das tra-balhadoras realizava atividades precárias, situando-seno segmento informal da economia.
BRUSCHINI observou que permaneceu a discrimi-nação sexual através da manutenção de baixos rendimen-tos ocasionados pela desigualdade entre os gêneros. Se-gundo ela, mesmo entre os/as trabalhadores/as comrendimento de até 2 salários mínimos (S.M), apareceude forma acentuada a desigualdade entre mulheres ehomens. Na faixa de até 2 S.M encontravam 45% dasmulheres contra 36% dos homens. Até 1 S.M encontrá-vamos 25% das mulheres contra 16% dos homens. A par-tir de 90 cresceu também, de 13% para 24%, o número demulheres que declararam trabalhar sem receber nenhu-ma remuneração, enquanto os homens, nesta situação,passaram de 10,0% para 13,3% no mesmo período.
As políticas neoliberais implementadas no Brasil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras
138 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Mas, as diferenças salariais continuam mais alarman-tes quando combinamos sexo/cor. De acordo com osdados do PNAD 1990, enquanto os homens ganhavamem média 4,9 salários mínimos, as mulheres ganhavam2,8. Essa disparidade tende a se ampliar uma vez queo sistema social ainda discrimina de forma profunda ogênero, mas também a raça. Ao considerarmos a ques-tão racial, podemos verificar que a média salarial entreos homens brancos era de 6,3 SM e entre os homensnegros de 2,8 SM. Ao agregarmos à raça a questão degênero, ficava visível a situação de maior precarizaçãodas mulheres negras, pois, enquanto a média salarialentre as mulheres era de 3,6 SM, entre as mulheresnegras esta média alcançava apenas 1,6 SM. As mulhe-res negras são assim, as mais atingidas pela interferênciada combinação sexo/cor na distribuição salarial per-cebendo os menores salários no mercado de trabalho.
Apesar das mulheres concentrarem-se em ativida-des de baixo valor social e mal remuneradas, como asatividades domésticas que absorvem 25% da PEA fe-minina e acabam puxando para baixo a média salarialdas mulheres, verificamos um processo de mudançapara aquelas atividades que exigem maior escolaridadee qualificação profissional.
Durante os anos 90, aumentou a presença femininaem cargos de diretoria, chefia na administração públi-ca, gerentes, empresários, empregadores. Na indústria,apesar de permanecer em setores tradicionais comovestuário e têxtil, houve um crescimento do númerode mulheres trabalhando como mestres, contrames-tres, técnicos industriais e na prestação de serviços, ode proprietários/as e outros. Nas funções técnicas,científicas, artísticas e assemelhadas cresceu o núme-ro de mulheres em ocupações de prestígio como aarquitetura, odontologia, medicina, jornalismo, enge-nharia, na área jurídica como a advocacia, defensoriapública, procuradoria, promotoria, juízas. Mesmo emnichos femininos como a educação, houve um cresci-mento da participação no ensino médio e superior.
Maria da Consolação Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 139
13 DIEESE. Anuário dos Traba-lhadores, 1996-97. São Paulo,1996.
Entretanto, apesar da grande presença no mercadode trabalho, o desemprego feminino continuou maiorque o masculino. Analistas afirmam que o desempre-go entre as mulheres pode ser compreendido não ape-nas pela sua exclusão do mercado, mas também peloaumento da demanda feminina de participação na PEA13.
Além disso, a política econômica dos últimos anosimpôs enormes perdas para as mulheres através dafragilização de direitos sociais conquistados. Exem-plos como, o contrato temporário de trabalho e o ban-co de horas, impuseram grandes perdas de direitossociais para as mulheres, conforme demonstra quadroelaborado por FREITAS14, a seguir.
14 FREITAS, Carlos. Trabalha-doras brasileiras e desregula-mentação do trabalho no go-verno FHC, mimeo, s/data.
Direitos conquistadosDireitos conquistadosDireitos conquistadosDireitos conquistadosDireitos conquistadosem negociações coletivasem negociações coletivasem negociações coletivasem negociações coletivasem negociações coletivas
Ges ta çãoGes ta çãoGes ta çãoGes ta çãoGes ta çãoEstabilidade Gestante
Função Compatível à Gestante
Liberação da Gestante antes doTérmino da Jornada de Trabalho
Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Contrato TContrato TContrato TContrato TContrato Temporárioemporárioemporárioemporárioemporário
AnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: a trabalhadora nãogozaria da estabilidade porque ocontrato teria um prazo certopara terminar, não havendo limi-tes ao direito do empregador emencerrar o contrato no prazo pré-determinado
AmeaçadaAmeaçadaAmeaçadaAmeaçadaAmeaçada: já que não haveriaproteção sob a forma de estabili-dade, e tendo em vista que ocontrato tem um prazo pré-deter-minado, o direito ao exercício deuma função compatível não seriasequer reconhecida ao longo docontrato.
Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Banco de HorasBanco de HorasBanco de HorasBanco de HorasBanco de Horas
AnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: todos os períodos detempo fora do trabalho seriamcompensados, e a liberação dagestante é um destes casos, postoque o empregador ficaria livrepara utilizar este tempo “libe-rado” em um outro momento.
Quadro demonstrativo dos efeitos da Lei 9.601/98Quadro demonstrativo dos efeitos da Lei 9.601/98Quadro demonstrativo dos efeitos da Lei 9.601/98Quadro demonstrativo dos efeitos da Lei 9.601/98Quadro demonstrativo dos efeitos da Lei 9.601/98
As políticas neoliberais implementadas no Brasil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras
140 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Direitos conquistados emDireitos conquistados emDireitos conquistados emDireitos conquistados emDireitos conquistados emnegociações coletivasnegociações coletivasnegociações coletivasnegociações coletivasnegociações coletivas
Mate rn idadeMate rn idadeMate rn idadeMate rn idadeMate rn idadeLicença Maternidade
Garantias à Lactante
Licença Amamentação
Intervalos para a Amamentação
Jornada de Trabalho da Lactante
Acompanhamento de Filhos
Garantias na Adoção
Licença à Mãe Adotante
Estabilidade Adotantes
Saúde da MulherSaúde da MulherSaúde da MulherSaúde da MulherSaúde da MulherLicença Aborto
Estabilidade Aborto
Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Contrato TContrato TContrato TContrato TContrato Temporárioemporárioemporárioemporárioemporário
AmeaçadaAmeaçadaAmeaçadaAmeaçadaAmeaçada: não existiriam ga-rantias durante um contrato tem-porário, vez que o prazo pré-de-terminado para o seu encerra-mento se daria independente doexercício de outros direitos, que,no caso, seriam sacrificados.
Ameaçada:Ameaçada:Ameaçada:Ameaçada:Ameaçada: pelos mesmos moti-vos da anulação da cláusula queprevê garantias à lactante
AnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: pelos mesmos motivosda anulação da cláusula que prevêestabilidade gestante
AnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: pelos mesmos motivosda anulação da cláusula que prevêestabilidade gestante
Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Lei 9.601/98Banco de HorasBanco de HorasBanco de HorasBanco de HorasBanco de Horas
AnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: pelos motivos acimaexpostos, a licença igualmenteseria reposta em um outro mo-mento.
AnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: pelos mesmos motivosda anulação da cláusula que prevêlicença maternidadeAnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: pelos mesmos motivosda anulação da cláusula que prevêlicença maternidadeAnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: pelos mesmos motivosda anulação da cláusula que prevêlicença maternidadeAnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: pelos mesmos motivosda anulação da cláusula que prevêlicença maternidade
AnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: pelos mesmos motivosda anulação da cláusula que prevêlicença maternidade
AnuladaAnuladaAnuladaAnuladaAnulada: pelos mesmos motivosda anulação da cláusula que prevêlicença maternidade
Fonte: DIEESE. Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas – SACC.
Maria da Consolação Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 141
Na área da previdência, as perdas das mulheresforam imensas com a alteração do conceito de apo-sentadoria por tempo de serviço para tempo de con-tribuição. Sabemos que a presença feminina é maiorno mercado informal, o que reduz em muito o direitoà aposentadoria por tempo de contribuição. As pro-postas governamentais, ao combinarem o tempo decontribuição com a idade mínima, 55 anos para as mu-lheres, obrigam que essas tenham um tempo maior detrabalho para adquirirem esse direito.
Observamos ainda que a participação das mulhe-res nos benefícios previdenciários se diferencia doshomens. Enquanto os homens se aposentavam, emsua maioria, por tempo de serviço (33,6%), as mulhe-res aposentavam por idade (62,7%). Ao considerar-mos os beneficiados da previdência segundo a chefiafamiliar, verificamos que os homens aparecem maiscomo aposentados (76,6%) e as mulheres como pensi-onistas (95%).
Diante disso, podemos considerar que:a) a implementação das políticas neoliberais, nos
anos 90, aumentou a pobreza feminina. Os índices dapobreza feminina podem ser medidos, entre outrosaspectos, pelos baixos salários e pela dificuldade deacesso ao trabalho formal e ao gozo de direitos traba-lhistas e previdenciários.
b) o retorno do investimento em escolarização émais homogêneo entre os homens, pois a maiorescolarização das mulheres não tem revertido direta-mente em melhoria no seu rendimento.
c) a ausência de políticas públicas de socializaçãodo cuidado das crianças permanece sendo um dos ele-mentos dificultadores do investimento das mulheresem suas profissões, particularmente se considerarmoso aumento de famílias chefiadas por mulheres, queentre 1970-89 saltou de 13% para 20%.
d) a permanência do racismo, agregada à discrimi-nação sexual, aumenta a fragilização das relações detrabalho para as mulheres não brancas.
As políticas neoliberais implementadas no Brasil nos anos 90 e as repercussões na vida das trabalhadoras
142 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
e) os cortes nos gastos públicos dos serviços bási-cos de saúde, educação, habitação e saneamento bási-co, obrigam as mulheres a buscarem melhores condi-ções de vida para o seu conjunto familiar, impondouma sobrecarga do seu trabalho.
Portanto, é urgente que o debate sobre a distribui-ção de renda no país, políticas de emprego, formaçãoe qualificação da mão-de-obra, considerem as particu-laridades vivenciadas pelas mulheres a fim de garantirpolíticas públicas que combatam a discriminação degênero e raça refletidos nos dados da participação fe-minina no mercado de trabalho.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
BENJAMIM, César e outros. A opção brasileira. Rio de Janeiro:Contraponto, 1998.BOTELHO, Virgínia. Um novo conceito de proteção social. Es-tudos Feministas, ano 4, n. 2, 2. sem./1996, p.420-479.BRUSCHINI, Cristina. O trabalho da mulher brasileira nas déca-das recentes. Seminário Políticas Econômicas, Pobreza e Trabalho, IPEA,Rio de Janeiro, maio de 1994.______. Gênero e trabalho feminino no Brasil: novas conquistasou persistência da discriminação? Brasil, 1985 a 1995. SeminárioTrabalho e Gênero: mudanças, permanências e desafios, ABEP eNEPO, Campinas, abril de 1998.CODAS, Gustavo. A economia brasileira nos anos 90 e a opção FHC.São Paulo: SOF, 1999.D’ALBORA, Adriana Munõz. Fuerza de trabajo femenina; evolu-ción y tendencias. In: LUNA, Lola G. (Org). Género, clase y raza enAmérica Latina — algunas aportaciones. Barcelona: Promociones yPublicaciones Universitarias, 1991.DIEESE. Anuário dos Trabalhadores, 1996-97. São Paulo, 1996.FREITAS, Carlos. Trabalhadoras brasileiras e desregulamentaçãodo trabalho no governo FHC. Mimeo, s/data.ROCHA, Maria da Consolação. Magistério primário: uma fotografiada rede municipal de ensino de Belo Horizonte. Fae. UFMG, 1996.(Dissertação de Mestrado).
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 143
Integrando gênero à teoria econômica:Integrando gênero à teoria econômica:Integrando gênero à teoria econômica:Integrando gênero à teoria econômica:Integrando gênero à teoria econômica:breves reflexõesbreves reflexõesbreves reflexõesbreves reflexõesbreves reflexões
Rosângela Saldanha Pereira
Resumo: Refletir sobre a evolução da incorporação daquestão da mulher e de gênero no pensamento econômicoe sobre as suas contribuições para a formulação de políti-cas públicas de promoção à equidade de gênero, são osobjetivos deste artigo.
Palavras-chave: Evolução, Mulher, Gênero, Políticas Pú-blicas.
Abstract: This article brings a reflection about evolutionin what concerns the incorporation of women’s issues andgender in the world of economics, as well as its contri-butions to the development of public policies to promotegender justness.
Keywords: Evolution, Women, Gender, Public Policies.
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução
A partir de final da década de 60 surge, especial-mente nos países avançados, um forte questionamentoao pensamento econômico hegemônico androcêntrico.Este questionamento vai redefinir a esfera de investi-gação econômica tradicional, oportunizando o surgi-
Rosângela Saldanha Pereira. Professora do Departamento de Economia daUniversidade Federal de Mato Grosso.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
144 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
mento da economia feminista que vem fazer a crítica àinvisibilidade das mulheres nas diversas escolas depensamento econômico.
A Economia Feminista argumenta que existem di-ferenças de comportamento econômico entre os se-xos e que as políticas econômicas têm efeitos diferen-ciados sobre homens e mulheres. Os primeiros traba-lhos das Economistas Feministas abordam principal-mente o mercado de trabalho e, mais recentemente, odebate tem evoluído para área de “gênero nas políti-cas macroeconômicas”, especialmente os efeitos daspolíticas monetárias e fiscais sobre a eqüidade de gê-nero. Na área fiscal, assiste-se à emergência de umasérie de trabalhos principalmente em relação aos gas-tos públicos, com orçamentos sensíveis a gênero. Maisdo que ampliar temas, a economia feminista tem a in-tenção de promover uma mudança radical na análiseeconômica, em seus pressupostos básicos e metodo-logias. É a partir desta perspectiva que muitas econo-mistas feministas elaboram novas categorias de análi-se, além de promoverem uma revisão minuciosa dosparadigmas existentes.
“Gênero” é a principal categoria de análise hojeusada pelas economistas feministas, da mesma formaque o indivíduo e a classe representam as categoriasfundamentais adotadas por economistas neoclássicose marxistas, respectivamente, informam Çagatay, Élson& Grown1.
Discussões sobre gênero são freqüentes e errone-amente entendidas como questões sobre mulheres.Gênero, não deve ser compreendido apenas como“aquilo que diz respeito às mulheres”, mas como aquiloque diz respeito às relações socialmente construídasentre homens e mulheres. Como o conceito de classe,gênero é uma categoria analítica para compreenderprocessos sociais. Devemos enfatizar que gênero nãoé construído apenas no âmbito da cultura e da ideolo-gia. Também é reproduzido e reformulado nas práti-cas materiais cotidianas, no processo de “ganhar a vida”.
1 Çagatay, Nilufer; Elson, Diane;Gown, Caren (1996), “Intro-duction”, Special issue on gen-der, adjustment and macro-economics. World Development,23(11), 1827-1938.
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 145
Em contrapartida, gênero também influencia o resul-tado dessas mesmas práticas.
O gênero estratifica a vida social de uma formasemelhante a conceitos análogos como classe, raça eetnia. Desta forma, fundamenta uma divisão do traba-lho na maioria das sociedades — a divisão entre ativi-dades produtivas e reprodutivas. As atividades produ-tivas são aquelas geradoras de remuneração ou rendadireta, a maioria das quais estão relacionadas ao mer-cado. As atividades reprodutivas2, por sua vez, inclu-em trabalhos não remunerados que têm como funçãoo cuidado para o desenvolvimento de pessoas — se-jam elas crianças, idosos, doentes ou adultos saudá-veis.
Nas Humanidades e nas Ciências Sociais chamadasleves, as soft sciences, a produção científica feministadeterminou importantes transformações tanto nos te-mas investigados quanto nas disciplinas e currículos.E, mais recentemente, os estudos feministas tambémcomeçaram a lançar importantes desafios para a Eco-nomia, identificada como hard science.
Este trabalho corrobora com a tese defendida porBenería3 de que a categoria analítica gênero está, final-mente, começando a ser contemplada pela Economia,ainda que, não necessariamente sob uma ótica femi-nista. O expressivo crescimento na produção científi-ca sobre a problemática das mulheres verificada naeconomia, a partir dos anos sessenta, deve-se, segun-do Carrasco4, a dois fatores: o crescente acesso dasmulheres ao mercado de trabalho e a academia e aodesenvolvimento do pensamento feminista que pres-siona as diversas disciplinas.
O artigo foi organizado em três seções: a primeira,dedica-se a breve revisão de como as questões relaci-onadas à mulher foram tratadas pela economia clássi-ca, marxista e neoclássica. Em seguida, trata-se de apre-sentar a gradual incorporação da questão de gênero naliteratura econômica, especialmente sobre mercado detrabalho. Por fim, realiza-se um balanço do processo
2 Para Benería a reprodução in-dica um processo dinâmico demudança ligado à perpetuaçãode sistemas sociais. Ela ressal-ta ainda que, enquanto apenasas mulheres são capazes de re-produção biológica, a maioriadas sociedades também dele-gam às mulheres a tarefa dereproduzir a força de trabalho.Benería, Lourdes (1995),“Toward a greater Integrationof Gender and Economics”.World Development, 23(11),1839-1850.
3 Idem, Ibidem.
4 Carrasco, Cristina (1999), Mu-jeres y economía: nuevas perspecti-vas para viejos y nuevos problemas.Barcelona: Icaria Editorial.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
146 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
de construção da visibilidade das questões de gênerona teoria econômica, iniciado na década de 80.
As As As As As mulheres no pensamento econômicomulheres no pensamento econômicomulheres no pensamento econômicomulheres no pensamento econômicomulheres no pensamento econômico
No fim do século XVIII e início do século XIX, aeconomia clássica e seus pensadores viveram a ascen-são do capitalismo industrial. Adam Smith e DavidRicardo debruçavam-se sobre dois temas centrais dateoria econômica: a expansão da riqueza e a distribui-ção da renda entre as classes sociais (proprietários deterra, capitalistas e trabalhadores).
Os economistas clássicos, de certa forma, reco-nheciam o trabalho desenvolvido pelas mulheres naesfera da produção, mas não deram conta de incluí-loem seus modelos macroeconômicos. Para Smith, o“produtivo” era unicamente o trabalho que agregavavalor a um objeto material ou cujo resultado consti-tuía uma mercadoria tangível, armazenável. Dessa for-ma, resolveu a questão da atividade das mulheres qua-lificando-a como não trabalho. Para o trabalho, Smithconstrói um conceito produtivista e de valor de mer-cado. Nessa concepção, produzir serviços não era pro-dutivo, só a produção de bens voltados para o merca-do era considerada produção de riqueza.
David Ricardo, por sua vez, reconhecia a impor-tância da reprodução da família e dos trabalhadorescomo parte essencial da reprodução do capital, masignorou a participação do trabalho doméstico na re-produção da força de trabalho.
John Stuart Mill foi o único pensador clássico queargumentou contra a exclusão das mulheres. Desen-volveu sua teoria da desigualdade de gênero em es-treita colaboração com Harriet Taylor, com a qual secasou e que foi a autora principal de um ensaio publi-cado em 1851, ‘Enfrainchismente of Women’, e queteve uma enorme influência no texto ‘Princípios daEconomia Política’ de Mill.
Mill teve a influência tanto socialista como femi-
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 147
nista de Taylor. Para ambos, as instituições e leis patri-arcais eram resíduos de uma ordem feudal obsoleta eobstacularizavam o progresso econômico e social. Di-ferentes de seus contemporâneos que, seguindo a tra-dição de Hobbes e Locke, acreditavam em um modelohierárquico de matrimônio e de família, que conferia aautoridade ao marido/pai, Mill e Taylor
“argumentaram a favor do matrimônio como uma relação decompanheiros iguais onde as decisões fossem tomadas democrati-camente e nenhum membro do casal se visse obrigado a dependereconomicamente do outro”.5
Inspirado nesse princípio, Mill fez as conexõesentre a subordinação das mulheres no casamento e asrestrições impostas a seu aceso ao emprego, afirman-do que as restrições impostas ao emprego feminino seperpetuavam devido ao temor dos homens de que asmulheres rejeitassem o matrimônio como vocação prin-cipal e também de perder seu poder sobre elas nocasamento.
Mill questionou intensamente a idéia de especiali-zação do processo de trabalho de Smith, consideran-do que a motivação e a formação dos trabalhadoreseram mais importantes que a organização e divisão doprocesso de trabalho na definição do que é eficiência.Além disso, foi o único economista da época a reco-nhecer a influência do gênero no processo de produ-ção. O posterior desenvolvimento do marginalismocomo escola dominante do pensamento econômico fezcom que este se distanciasse do interesse clássico pelaorganização da produção, o crescimento econômico ea distribuição de renda, para centrar-se no intercâmbioe no mecanismo dos preços. O trabalho domésticovoltou a ficar excluído da corrente dominante.
O marxismo, por outro lado, refaz a idéia dos indi-víduos como homo economicus, ao afirmar que eles nãosão iguais e que fazia grande diferença se um deles eraproprietário do capital ou proprietário da força de tra-
5 Carrasco, op. cit., p. 67.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
148 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
balho, no comportamento geral do sistema econômi-co. Isso contraria o que defendia a economia clássicae a neoclássica, segundo as quais o comportamentoeconômico dos produtores e consumidores é justifi-cado como se eles fossem iguais e tivessem as mes-mas condições de acesso para o atendimento de suasnecessidades ilimitadas. Marx contrapõe-se a esse ar-gumento, afirmando que numa economia de mercadoos indivíduos não eram iguais, pois pertenciam a clas-ses sociais diferentes, e, portanto, com poder desigualpara satisfazer suas “necessidades”.
Marx desvela as relações sociais de produção doponto de vista dos mecanismos internos de funciona-mento do modo de produção capitalista. Nesse cená-rio, o trabalho doméstico ficou fora de suas análisesda dinâmica de funcionamento do capitalismo, e con-sidera o trabalho doméstico não remunerado, comoimprodutivo.
A despeito do reconhecimento das importantescontribuições do marxismo para a economia feminista,permanece a crítica à economia marxista por suas no-ções de proletariado, exploração, produção e reprodu-ção, como se estas fossem isentas em relação ao gêne-ro, além da suposta convergência natural de interesseseconômicos entre homens e mulheres.
Portanto, os economistas clássicos apesar de reco-nhecerem a importância da atividade doméstica dasmulheres (cuidados familiar, educação dos filhos, etc...)para a formação de “trabalhadores produtivos” e paraa “riqueza das nações”, não outorgaram a esta ativida-de valor econômico, negando às mulheres o status deagente econômico.
A abordagem neoclássica veio a se chamar assimnas décadas de 1930 e 1940, antes era denominadamarginalista. Autores como Jevons e Alfred Marshallaportaram importantes contribuições na consolidaçãodo conceito de indivíduo enquanto consumidor racio-nal. A economia neoclássica reduziu as ciências eco-nômicas ao estudo da inter-relação entre oferta e de-
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 149
manda no mercado, representando uma profunda mu-dança em relação às abordagens clássica e marxistaque priorizavam a dimensão da produção e da distri-buição.
Segundo Carrasco:
“el foco de atención se desplazó de las relaciones entre las clasessociales a las relaciones entre vendedores y compradoresindividuales. El trabajo doméstico y la posición de las mujeresdentro de la economía quedaron marginados, por consiguiente,debido a que la atención se centró en los mercados y los precioscomo medida del valor”.6
Marshall advogou a tese de impor restrições aoemprego das mulheres, a fim de garantir sua dedicaçãoprioritária ao casamento e à maternidade. Defendeu,também, que “trabalho” fosse considerado apenasaquelas atividades que eram fonte de renda. Assimsendo, o que se concebia por trabalho doméstico erao desenvolvido por trabalhadores domésticos que re-cebiam remuneração por ele.
Entretanto, Marshall, apesar de descartar a possi-bilidade de incluir o trabalho doméstico não remune-rado na renda nacional, reconheceu que a prosperida-de da economia dependia de que as mulheres sacrifi-cassem seu próprio interesse pessoal, posto que quemse beneficiaria desse investimento seriam seus filhose seus empregadores, e não elas.
A crítica feminista à escola marginalista concentra-se no viés de gênero que leva a caracterizar as mulhe-res como pessoas com filhos, dependentes dos mari-dos, donas de casa, improdutivas e irracionais7. Esteviés androcêntrico é identificado através de dois pro-cessos: o primeiro, é a tese defendida pelos margina-listas, e fortemente rebatido pelas feministas da época,de que os salários mais baixos das mulheres refletemsua menor produtividade. O segundo, o desenvolvi-mento da economia do bem-estar e o tratamento ou-torgado ás mulheres, especialmente de dois destaca-
6 Carrasco, op. cit., p. 38.
7 Pujol, M. (1992), Feminism andanti-feminism in early economicthought, London: EdwardElgar Publishers.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
150 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
dos economistas: Marshall e Pigou.Marshall aceita e justifica que a idéia burguesa
vitoriana sobre a divisão por sexo do trabalho sejaestendida á classe trabalhadora: as mulheres da classetrabalhadora devem ficar em casa para criar capitalhumano masculino, enquanto que os homens devemganhar um salário no mercado de trabalho.
A economia do bem-estar de Pigou, apesar de tersido interpretada como provedora de soluções huma-nas para a pobreza, estabelece uma diferença impor-tante entre homens e mulheres, as quais são conside-radas como criaturas débeis, dependentes economica-mente do marido ou do estado, tendo a casa como seulugar natural, justificando, assim, piores condições detrabalho e salários mais baixos que os homens.
Pujol8 analisando o pensamento de Pigou (discí-pulo de Marshall) conclui que atrás de uma aparênciahumanitária se escondem propostas que reforçam osvalores patriarcais, a autoridade do estado, o poder docapital e a falta de opções da classe trabalhadora, dospobres e, particularmente, das mulheres.
A escola neoclássica veio consolidar e explicitarno pensamento econômico o viés androcêntrico quemarginaliza, oculta e torna invisível a atividade dasmulheres. Essa corrente de pensamento que nasceuem 1870 continua hegemônica até os dias atuais. Asrelações econômicas não permeadas por dinheiro con-tinuam sendo consideradas como “não produtivas”.
Construindo a visibilidade das questõesConstruindo a visibilidade das questõesConstruindo a visibilidade das questõesConstruindo a visibilidade das questõesConstruindo a visibilidade das questõesde gênero no mercado de trabalhode gênero no mercado de trabalhode gênero no mercado de trabalhode gênero no mercado de trabalhode gênero no mercado de trabalho
Somente a partir de 1930, que se introduz o temada mulher na análise econômica, com o propósito deindagar as razões da existência de diferenças salariaisentre homens e mulheres. Este debate promovido poreconomistas homens, com a notável exceção de JoanRobinson, buscava compreender a desigualdade entrehomens e mulheres quase exclusivamente por meio
8 Idem, Ibidem.
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 151
da dinâmica de mercado — com pouca atenção aopapel específico exercido pelo gênero nessa dinâmica.A construção social do gênero sequer havia nascidoenquanto noção — e muito menos o interesse pelasrelações entre essa construção e as formas de análiseeconômica.
Nos anos cinqüenta, os economistas neoclássicoscomeçam a analisar um novo fenômeno: a crescenteparticipação da mulher na força de trabalho. O inte-resse em analisar esta problemática estava relacionadacom o interesse em explicar por que a participaçãodas mulheres na força de trabalho estava crescendoem um período de expansão na renda familiar — ex-pansão que se pressupunha estar negativamentecorrelacionada à oferta de mão-de-obra feminina.
A resposta oferecida por Jacob Mincer ao parado-xo aparente baseou-se nos crescentes custos de opor-tunidade de ficar em casa. Em outras palavras, o au-mento nos salários, gerado pelo crescimento econômi-co do pós-guerra, criava um incentivo econômico paraque as mulheres buscassem trabalho remunerado.
Mincer escreveria isto na mesma época e no mes-mo país — Estados Unidos — em que Betty Friedan9
lançava seu livro A mística da feminilidade, consideradoum marco no desenvolvimento do feminismo moder-no. Lourdes Benería10 destaca que enquanto Friedanatribuía o desejo das mulheres de trabalhar fora decasa aos múltiplos e variados custos de permanecerno lar, Mincer11 o relacionava com custos de oportu-nidade estritamente econômicos.
O aumento da participação das mulheres de todasas classes sociais no mercado de trabalho, assim comoa sua produção doméstica e participação na família,recebeu uma maior atenção dos economistas a partirda década de 60, como o surgimento da corrente teó-rica denominada Nova Economia Doméstica, formu-lada por Gary Becker12, que explica os comportamen-tos humanos, tais como matrimônio, decisão de procri-ar, etc., a partir de uma perspectiva econômica.
9 Betty Friedan nasceu nos Es-tados Unidos. Fervorosa de-fensora dos direitos da mu-lher. Em 1966, criou a Orga-nização Nacional para as Mu-lheres (NOW). Principaisobras: La mística de la femi-neidad, 1963; e The secondstage the fountainof age.
10 Benería, op. cit.11 Mincer, Jacob (1980), “Labor
force participation of marriedwomen” in A. Amsden (ed.),The economics of women andwork. New York, St Martin’sPress, p. 41-51.
12 Economista americano, pro-fessor de Economia na Uni-versidade de Columbia e deChicago. Em 1992, obteve oprêmio Nobel de Economia,e em sua tese de doutoradoanalisa as razões da discrimi-nação racial e sexual nos con-tratos trabalhistas.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
152 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Em seu livro Teoria da Destinação do Tempo, GaryBecker introduz nos modelos de escolha dos indiví-duos o trabalho doméstico não-remunerado, como umaalternativa ao trabalho pago e ao ócio. As assimetriasna divisão do trabalho e as desigualdades na distribui-ção do trabalho doméstico são explicadas como esco-lhas individuais feitas a partir do pressuposto de umcomportamento de maximização de utilidade e da bus-ca de um lar harmonioso e sem conflitos de interesse,conforme informa Benería.
Os anos sessenta e o início dos anos setenta fo-ram marcados pela preocupação dos economistas dotrabalho, entre os quais havia muitas mulheres, com adiscriminação, a segregação e a segmentação do mer-cado de trabalho na perspectiva de gênero. Os princi-pais argumentos da escola neoclássica para explicar asdesigualdades salariais entre homens e mulheres nomercado de trabalho, podem ser assim sintetizados:
· Menor demanda de mulheres para certos traba-lhos, devido à “preferências” dos empregadoresno que diz respeito a quem deveria desempenharcada tarefa. A conseqüência desta menor demandaseria uma oferta excedente de mulheres nas ocu-pações onde são aceitas, que pressionaria para bai-xo os salários femininos13.· Outra explicação atribui os salários mais baixosdas mulheres a uma suposta menor produtividadedevido ao acúmulo inferior de “capital humano”,relacionado com sua menor experiência. Argumenta-se que, devido a seu comportamento reprodutivo,as mulheres têm trajetórias laborais descontínuas,razão pela qual acumulam pouca experiência, alémde não terem tempo para se capacitarem. Esteenfoque relaciona também a segregação por sexodas ocupações, com a falta de estabilidade das mu-lheres no trabalho, o que as levaria a escolher osempregos que requerem menos capacitação e ex-periência.· Quando o argumento da capacitação não é sufi-
13 Becker, Gary (1971), The Eco-nomics of Discrimination. Chi-cago: University of ChicagoPress.Becker, Gary (1976), The Eco-nomic Approach to Human Beha-vior. Chicago: University ofChicago Press.
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 153
ciente para explicar a concentração de mulheresem determinadas atividades, os neoclássicos ape-lam para as “preferências” das mulheres por de-terminados tipos de ocupações14.
Economistas feministas, como por exemplo, Bell15,Ferber e Birnbaum e Sawhill16, expressaram suas re-servas ao desenvolvimento teórico de Becker e dosoutros expoentes da Nova Economia Doméstica. Se-gundo estas economistas, estes teóricos nada mais fa-ziam que descrever o status quo, tomando os papéissexuais como dado. Ademais, estas economistas mos-traram o “razoamento circular” que implica sustentarque, por um lado, as mulheres ganham menos no mer-cado de trabalho devido as suas responsabilidades fa-miliares, enquanto que, por outro lado, se especializa-vam no trabalho do lar porque ganham menos no mer-cado de trabalho.
Portanto, a situação das mulheres no mercado detrabalho, foi tratada de maneira oblíqua na economia ena sociologia do trabalho convencional, a partir deuma série de pressupostos influenciados por precon-ceitos ou estereótipos de gênero acerca do comporta-mento laboral e aspirações sociais das mulheres. Essaanálise não era transformadora — falhava em incor-porar as questões mais problemáticas de desigualdadee relações de gênero de forma a compreender etransformá-las.
Rumos alternativos ao paradigma neoclássico tam-bém foram seguidos a partir dos anos setenta por eco-nomistas que usavam modelos marxianos ou institu-cionais — ou ambos. Mais especificamente, a ênfasemarxiana na exploração, na desigualdade e na tendên-cia sistemática do mercado em gerar hierarquias soci-ais parecia mais apta a explicar as questões levantadaspelas feministas do que a moldura neoclássica. Tam-bém parecia mais aberta a visões interdisciplinares emais adequada à análise de relações sociais de gêneroe de desigualdades de poder.
14 Becker, Gary (1971), Mincer,Jacob; Polachec, Solomon(1974), “Family Investmentsin human capital: earnings ofwomen”, Journal Political Eco-nomy, 82.
15 Bell, Carolyn Shaw (1974),“Economics, sex, and gender”,Social Science Quaterly, 55, 3.
16 Feber, Marianne; Bimbaum,Bonnie (1977), “The new ho-me economics: retrospects andprospects”, Journal of ConsumerResearch, 4.Sawhill, Isabel (1977), “Eco-nomic perspectives on the fa-mily”. Daedalus, 106(2), 115-25.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
154 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
17 Himmelweit, S. (1984), “Thereal dualism of sex and class”,Review of Radical Political Eco-nomics, 16 (1).
Desta forma, o debate sobre o trabalho domésticono final dos anos sessenta e no início dos setentatinha como foco a natureza deste trabalho, assim comosua função enquanto aparato de reprodução e manu-tenção da força de trabalho dentro do sistema econô-mico. Mais especificamente, o debate enfatizava comoo trabalho doméstico não remunerado contribui parareduzir os custos de manutenção e reprodução da for-ça de trabalho17. O debate foi útil em legitimar ques-tões feministas dentro do paradigma marxista, mas nãoconseguiu identificar e analisar as relações de gêneroimplícitas no trabalho doméstico e na divisão de tra-balho. Ele também não conseguiu dar a devida aten-ção a questões mais específicas de desigualdade degênero e reprodução. Críticas feministas também res-saltaram as limitações do conceito marxiano tradicio-nal de acumulação, que ignora o papel do trabalhoreprodutivo.18
O debate sobre mercado de trabalho e as relaçõesde gênero, objeto de grande produção teórica eempírica, foi caracterizado por um pluralismo teóricoque teve como conseqüência um avanço considerávelna economia feminista. Entre os avanços, verificadosa partir dos anos de 1980, Carrasco destaca:
· A generalização entre as economistas feministasda categoria gênero diferentemente do que ocorrianos anos de 1970. Na década seguinte essa catego-ria vive os maiores êxitos principalmente com im-plicações para as teorias sobre mercado de traba-lho e nos estudos sobre organização do trabalho.É importante lembrar que o conceito de gênero sediferencia do de sexo, que é biológico, por traba-lhar com a representação do que é homem e mu-lher como produtos de processos culturais e soci-ais.· Um grande interesse em modificar categoriastais como produção ou trabalho no sentido de eli-minar o desvio ideológico que leva a subvalorizarou não considerar o trabalho das mulheres: qual-
18 Molyneux, Maxine (1979),“Beyond the domestic labourdebate”, New Left Review, 115,julio/agosto, 3-28.Mackintosh, Maureen (1978),“Domestic labor and the hou-sehold” en Kuhn, Annette yWolpe, Annnemarie (comps.),Feminism and Materialism. Lon-dres: Routledge.
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 155
quer conceituação de atividade econômica deveincluir os processos de produção, desde bens eserviços orientados à subsistência e reprodução daspessoas, independentemente das relações sobre asquais se produzam;· A construção teórica do conceito de reprodu-ção, fruto do debate dos anos de 1970, sai da dis-cussão focada sobre o papel do trabalho domésti-co e reprodução da força de trabalho para o con-ceito de reprodução social. Entende-se reprodu-ção social como um processo dinâmico que impli-ca a reprodução biológica e da força de trabalho, areprodução dos bens de consumo e da força detrabalho, a reprodução dos bens de consumo e deprodução e a reprodução das relações de produ-ção. Isso fez com que esse debate ganhasse novasperspectivas. A divisão do trabalho por sexo deveser analisada em suas inter-relações dentro de umsistema em movimento, em contínua transforma-ção, rechaçando assim o tratamento tradicional quea economia realiza separando artificialmente a es-fera da produção (tida como o principal objeto deestudo) e da reprodução.· Desenvolvimento de um marco de análiseintegrador entre o que se designou “esfera famili-ar”, “esfera mercantil” e “esfera pública”, enten-dendo-as como dinâmicas entrelaçadas nas quaisnão são possíveis captar a problemática do merca-do de trabalho sem considerar as restrições e con-dições familiares e a atuação das políticas sociais.· Avanços teóricos e metodológicos na explicaçãodos salários mais baixos das mulheres, especial-mente em relação às teorias do patriarcado que bus-cam explicar os salários das mulheres com refe-rência unicamente ao seu papel familiar. Após in-tensos debates e estudos empíricos a economiafeminista defende a tese de que os níveis salariaisfemininos estão influenciados tanto pelas caracte-rísticas sociais das mulheres como responsáveis do
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
156 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
19 Para maior aprofundamentoneste aspecto do mercado detrabalho recomendam-se osestudos realizados pelo “Gru-po de Cambridge”. Rubery, J.(1978), “Structured labourmarkets, worker organizationand low pay”, Cambridge Jour-nal of Economics, 2.
trabalho doméstico, como pelo sistema geral dedeterminação salarial e de proteção do empregoque prevalece no mercado de trabalho e que emparte depende do poder de negociação dos distin-tos grupos de trabalhadoras(es)19.
As feministas economistas questionam, também, oconceito de qualificação e do que é principal ou se-cundário no processo de produção, posto que estasnoções refletem o contexto social que os modela edependem, basicamente, dos esforços dos sindicatos,onde a massiva presença masculina estabelece umacorrelação de forças favorável a essa visão masculinasobre o que é trabalho qualificado e principal.
Dessa forma, os critérios que definem o que émaior qualificação são reservados às tarefas que reali-zam os homens, pois são eles mesmos que definem evaloram essas tarefas, segregando assim os empregospor sexo como conseqüência das relações de classe ede gênero. Basta observar as profissões exercidas ma-joritariamente por mulheres tais como o ensino funda-mental e secundário, além das áreas de saúde comoenfermagem, para constatar como elas são as menosvalorizadas em termos de salários.
Com esses estudos sobre o mercado de trabalho,as economistas feministas querem mostrar que o mer-cado não é uma entidade sexualmente neutra e que asrelações de gênero estão na base da organização dotrabalho e da produção.
Gênero e macroeconomiaGênero e macroeconomiaGênero e macroeconomiaGênero e macroeconomiaGênero e macroeconomia
É somente a partir de meados da década de 70 quetem um forte impulso estudos e pesquisas que bus-cam integrar a dimensão de gênero nos modelos epolíticas macroeconômicas. Benería identifica váriosmotivos para isso, dentre os quais destaca a publica-ção do livro Women’s role in economic development, de Bose-rup, que demonstra que as políticas de desenvolvimen-
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 157
to não são necessariamente neutras no que diz respei-to às questões de gênero. O volume significativo depesquisas realizadas desde então não apenas confir-mou a tese de Boserup, como foi muito além dela,introduzindo análises que tratavam das relações degênero e desigualdade.
Quando da realização pelas Nações Unidas da Con-ferência Década das Mulheres (Nairobi, 1985), as fe-ministas já começavam a dar mais atenção às questõesmacroeconômicas. Haviam identificado as dimensõesde gênero em programas de ajuste estrutural e na de-gradação ambiental. Da mesma forma, a reestruturaçãoeconômica, assim como o virtual desmantelamento doestado de bem-estar social por muitos países, a cres-cente participação da mulher no mercado de trabalho,a expansão do trabalho informal, os efeitos da globa-lização da produção e da liberalização comercial to-dos forneceram provas adicionais da importância deanálises macroeconômicas sensíveis às questões degênero.20
Desde então tem havido um crescente reconheci-mento dos efeitos diferenciados sobre homens e mu-lheres das políticas de ajuste; entretanto, tanto os mo-delos quanto as políticas macroeconômicas tradicio-nais continuam cegos ao gênero.
A economia feminista21 tem desenvolvido diversaslinhas de investigação que evidenciam que a reestru-turação global está afetando negativamente o padrãode vida das mulheres e suas perspectivas de empode-ramento econômico. Carrasco identifica três grandeslinhas de pesquisas que vem se consolidando na eco-nomia feminista.
A primeira está relacionada com os efeitos especí-ficos das políticas de ajuste neoliberais sobre a vida eo trabalho das mulheres. A literatura que lida comgênero e ajuste estrutural tem realizado uma varieda-de de estudos em diversos países que revelam os imen-sos custos sociais impostos às mulheres por tais ajus-tes22 Esses estudos mostram os efeitos distributivos
20 Standing, Guy (1989), “Glo-bal feminization through fle-xible labor”, World Development,17(7), 1077-95.Elson, Diane; Pearson, Ruth(comps.) (1989), Women’s em-ployment and multinationals inEurope. Londres: MacmillanPress.MacDonald, Martha (1998),“Gender and social securitypolicy: pitfalls and possibi-lities”, Feminist Economics, 4(1), 1-25.
21 Uma boa revisão dos distin-tos trabalhos está em Bakker(1994).
22 Cornia, Giovanni; Jolly,Richard; Stewart, Francis(comps.) (1987), Adjustmentwith a human face, New York:Unicef/Clarendon Press.Commonwealth Secretariat(1989), Engendering Adjustmentfor the 1990s, Londres: Co-monwealth Secretariat.Benería, Lourdes; Feldman,Shelley (1992), Unequal burden:economic crises, persistent poverty,and women’s work. Boulder(Colorado): West view Press.Folbre, Nancy (1994), Whopays for the kids? Gender andstructured constraint. New York:Routledge.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
158 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
23 Elson, Diane (1992), “Fromsurvival strategies to transfor-mation strategies: women’sneeds and structural adjust-ment”, en Benería, L.; Feld-man, S., Unequal burden: econo-mic crises, persistent poverty, andwomen’s work. Boulder (Colo-rado), 26-48.
dos ajustes, que resultaram em maior desigualdade derenda, no aumento da polarização social, na recompo-sição das classes sociais, em mudanças no controlesobre recursos e em preconceitos na distribuição doscustos de ajuste no âmbito doméstico. Também apon-tam para a existência de preconceitos de classe, gêne-ro e raça nos processos de ajuste, levando ao questio-namento da suposta neutralidade das políticas macro-econômicas23. As mulheres são afetadas tanto comointegrantes do lar e de outros grupos sociais específi-cos quanto como integrantes do mercado de trabalho.As dimensões de gênero inerentes aos custos de ajus-tes variam da intensificação do trabalho doméstico, doaumento do desemprego entre as mulheres, à retiradade crianças (especialmente meninas) da escola a fimde aumentar o tempo livre necessário para obter ougerar serviços básicos. Além disso, há outros custosbem menos mensuráveis e tangíveis, como o estressee a violência doméstica.
Em geral, estes estudos evidenciam teórica e empi-ricamente que os programas de ajuste macroeconômicoafetam mais intensamente as mulheres e modificam asrelações entre as esferas produtivas e reprodutivas,transferindo para as famílias maior responsabilidadepela sobrevivência familiar. Portanto, há uma fortetransferência de custos do mercado para a família eque o fator de equilíbrio é a habilidade das mulherespara desenvolver estratégias que permitam a sobrevi-vência da família com menos renda e mais trabalho.
Élson argumenta que as políticas macroeconômicaspressupõem uma resistência absolutamente elástica porparte das pessoas por elas afetadas e implicam emtransferência de custos do mercado para o lar. O ‘fa-tor de equilíbrio’ oculto é a capacidade, por parte dasmulheres, de absorver o impacto dos programas deestabilização, através de mais trabalho e da capacidadede improviso. Élson destaca também que além da di-mensão de gênero, os ajustes estruturais implicam umadimensão de classe, posto que são as famílias mais
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 159
pobres as mais afetadas.Um segundo campo de investigação, relaciona-se
com a crítica aos modelos macroeconômicos de inspi-ração keynesiana. A critica feminista a esses modelosdecorre de serem “cegos ao gênero”, ignorando total-mente o trabalho doméstico e de cuidados realizadosno lar e sua relação com o desenvolvimento humano,a qualidade da força de trabalho, a atividade econômi-ca e o produto nacional. Para Benería e Sen24 estesmodelos “ofrecen una visión parcial y tergiversada de la realidadque no colabora en la elaboración e implementación de políticasmás neutrales y redistributivas”. As economistas feministassustentam a tese de que em períodos de crises econô-micas, há um aumento da produção doméstica e asmulheres tendem a desenvolver várias atividades si-multaneamente (tanto mercantis como não mercantis)e a intensificar sua jornada de trabalho. Isto contribuipara o bem-estar das famílias, ainda que tende a dimi-nuir sensivelmente o bem-estar das mulheres.
A terceira linha de investigação está relacionadacom o argumento de que os mercados são instituiçõescom relações de poder assimétricas na dimensão degênero25. A este respeito é paradigmática a situaçãonos países europeus em relação ao viés de gênero quemanifesta o funcionamento dos programas de bem-estar social. O condicionamento do acesso fundamen-talmente por via contributiva ás prestações sociais jun-tamente com o fato das mulheres possuírem relaçõesmais débeis no mercado de trabalho, são mecanismosque excluem ou diminuem o acesso das mulheres aesses programas, outorgando-lhes uma cidadania soci-al de menor categoria. A articulação de políticas maisadequadas, menos assimétricas, poderia colaborar naconstrução de uma sociedade e um estado de bem-estar mais igualitário.
A década de noventa abriu, portanto, novas e im-portantes portas para a integração de “gênero” comocategoria de análise econômica. É hora não apenas decontinuar o trabalho desenvolvido nos níveis micro e
24 Sen (1983: 54).
25 Bakker, Isabella (1994), Thestrategic silence: gender and econo-mic policy. London: Zed Books.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
160 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
26 Çagatay, Nilufer; Elson, Diane;Gown, Caren (1996), “Intro-duction”, Special issue ongender, adjustment and ma-croeconomics. World Deve-lopment, 23 (11), 1827-1938.
meso, mas também de integrar as questões de gênerona macroeconomia, área na qual as dimensões de gê-nero não têm sido analisadas suficientemente.
O que a economia feminista pretende com sua cri-tica à macroeconomia e a concepção de políticas eco-nômicas ortodoxas é descortinar perspectivas que con-siderem as relações de gênero tanto na elaboração deestruturas conceituais e modelos formais como na in-vestigação empírica e nas estatísticas de países espe-cíficos, estudos comparativos entre eles , no diagnós-tico de problemas macroeconômicos e na formulaçãodas correspondentes políticas públicas26.
Economistas feministas defendem que os pressu-postos de escassez, eficiência e maximização que an-coram o pensamento econômico ortodoxo, sejam subs-tituídos pelo de construção de uma economia maishumana, centrada no atendimento das necessidadeshumanas. Ressalte-se, que não estão sozinhos nestaluta. Outras vozes têm surgido, como por exemplo,em várias das agências de desenvolvimento internaci-onal. Conforme ilustrado pelos próprios relatórios dedesenvolvimento humano publicados nos últimos anospelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-vimento (PNUD) e conforme indicado pelo trabalhogerado em março de 1995 pela Cúpula Social das Na-ções Unidas de Copenhague, é hora de colocar as pes-soas no centro do desenvolvimento.
Reflexões f inaisReflexões f inaisReflexões f inaisReflexões f inaisReflexões f inais
Por associar a atividade econômica direta e indire-tamente com o mercado, a análise econômica tem atendência de tornar invisível uma grande parte do tra-balho feito por mulheres. Além da produção domésti-ca, figura entre as atividades excluídas o trabalho vo-luntário em instituições e comunidades. Sendo queuma grande proporção do trabalho de mulheres se dánessas atividades, o trabalho feminino, fica, portanto,subestimado em estatísticas, permanecendo economi-
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 161
camente invisível. Tal ofuscamento representa uma clara ilustração
do que Elizabeth Minnich descreve como “a realidadeeclipsada ou falsificada” em função de uma “generalizaçãofalha ”27. Ou seja, a percepção do mercado como crité-rio central e privilegiado para definir o que é “econô-mico” provocou (e ainda provoca) a subvalorizaçãodas atividades econômicas realizadas por mulheres.
Nos últimos vinte anos, essa realidade mudou deforma considerável graças à tenacidade e insistênciade mulheres em várias instituições-chave — especial-mente nas Nações Unidas e nos círculos acadêmicos.O trabalho das mulheres tornou-se mais visível tantoteórica quanto empiricamente.
A Nova Economia Doméstica, por exemplo, apli-cou critérios de mercado à alocação de tempo, ressal-tando assim a importância econômica da produção fa-miliar e do trabalho das mulheres. Também o debatesobre trabalho doméstico dos anos setenta rendeu le-gitimidade analítica a muitas das questões levantadaspelas feministas. Tais formulações permitiram o de-senvolvimento dos trabalhos sobre desigualdades degênero no tempo dedicado ao lar por diferentes mem-bros da família, um tema de análise com implicaçõestanto demográficas quanto macroeconômicas28. Damesma forma, a distinção conceitual entre produção ereprodução — assim como a análise de suas inter-relações — inaugurou novas possibilidades para com-preender o papel das mulheres na reprodução social29.Tal forma de análise foi posteriormente utilizada emestudos sobre o papel do trabalho de mulheres e emdiscussões sobre políticas públicas para promover afamília e o bem-estar social30. A subavaliação das ati-vidades econômicas das mulheres (e de alguns ho-mens) tem sido um tema de debate desde o final dosanos setenta. Muitos avanços foram obtidos na dire-ção de aperfeiçoar as estatísticas sobre a força de tra-balho e incorporar o trabalho não remunerado nas es-timativas de renda nacional.
27 Minnich, Elizabeth Kamarck(1990), Transforming Knowledge,Filadelfia: Temple UniversityPress.
28 Folbre, Nancy (1982), “Ex-ploitation comes home: a cri-tique of the marxian theory offamily labour”, Cambridge Jour-nal of Economics, 6, 317-329.
29 Benería, Lourdes (1979), “Re-production, production andthe sexual division of labor”,Cambridge Journal of Economics,3(3), 203-225.
30 Amott, Teresa L.; Matthaei,Julie (1991), Race, gender andwork: a multicultural history ofwomem in the United States. Bos-ton: South End Press.Folbre, Nancy (1994), Whopays for the kids? Gender andstructured constraint. New York:Routledge.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
162 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
31 Para um resumo destes temase da literatura que contribuiupara o debate sobre eles, vejaBenería (1992).
O processo de inclusão exigiu esforços metodoló-gicos e práticos para todas as quatro áreas de trabalhoantigamente excluídas — a produção de subsistência,o setor informal, o trabalho doméstico e as atividadesvoluntárias. No caso das últimas duas, entretanto, eleexigiu ainda uma mudança conceptual importante —mudança duplamente radical no caso do trabalho do-méstico. Ainda que não fosse remunerada, a produçãode subsistência já era vista como uma fonte de benspassíveis de venda no mercado, tendo sido incluídanas estimativas de renda de vários países ainda nosanos cinqüenta31. Da mesma forma, o problema ofere-cido pelo setor informal não chegava a ser conceitual,uma vez que dizia respeito a atividades pagas, massurgia das dificuldades técnicas inerentes à tarefa decontabilizar e quantificar uma atividade que reside, pordefinição, fora do oficial.
Este não é o caso no que diz respeito ao trabalhodoméstico não remunerado e ao trabalho voluntário,cuja inclusão nas estatísticas nacionais enfrenta muitomais resistência. Tradicionalmente, o trabalho domés-tico era considerado parte da esfera da vida cotidianaprivada da mulher, sendo contrastado com a esferapredominantemente pública do mercado, dominadapelos homens. As duas eram vistas como separadas eincomparáveis porque o próprio conceito de “traba-lho” era definido em relação à esfera do mercado.
Até o final dos anos setenta, a idéia de incluir aprodução doméstica não remunerada em estimativasde PIB parecia exagerada e inviável, freqüentementesendo recebida com hostilidade nos mesmos círculosacadêmicos e profissionais que eventualmente teriamum papel essencial no desenvolvimento dos instru-mentos práticos e teóricos necessários para implementá-la. Desde então, foram obtidos avanços consideráveisnão apenas na aceitação ideológica de tal mudança,mas também em sua implementação prática.
Esse esforço — que tem ocorrido entre círculosacadêmicos e governamentais de diferentes países, as-
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 163
sim como em organizações internacionais, como a Or-ganização Internacional do Trabalho (OIT) e a Orga-nização das Nações Unidas — resultou no estabeleci-mento dos fundamentos necessários para um melhorsistema de contabilidade, e no avanço conceitual de“população economicamente ativa” que foi ampliadopara incluir a produção não remunerada. O esforçotambém levou à percepção de que “uma única defini-ção [de trabalho] dificilmente será adequada para to-das as funções”. Assim, foi sugerida a adoção de umsistema de múltiplas definições para usos múltiplos, oque permitiria a construção de conjuntos de dadosespecíficos segundo o objetivo visado.
Nos países desenvolvidos houve avanços subs-tanciais no tocante aos aspectos metodológico. Den-tre estes avanços, merecem destaque duas frentes. Aprimeira é a coleta, em escala nacional, de estatísticasnecessárias para aumentar a exatidão das estimativassobre a participação das mulheres na força de traba-lho. A segunda relaciona-se com o desenvolvimentode métodos para estimar o valor da produção domésti-ca. Mesmo que algumas dificuldades ainda precisemser sanadas, duas abordagens principais são particular-mente promissoras: um método de entrada baseadoem imputações do valor do tempo gasto com trabalhodoméstico e um método de saída exigindo a listagem eavaliação dos diferentes serviços e bens produzidos.
O trabalho de acadêmicos e de peritos de diferen-tes instituições, como a Comissão de Estatística dasNações Unidas, levou à recomendação de que sejamelaborados relatos paralelos que forneçam estimativasquanto à participação do trabalho doméstico não re-munerado na renda nacional. Com esse fim, pesquisasde alocação de tempo podem fornecer os dados siste-máticos necessários para medir todas as formas detrabalho não remunerado. A implementação dessesesforços é agora principalmente uma questão de vonta-de política e vários países já introduziram mudanças emsua legislação e suas formas de pesquisa estatística.
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
164 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Neste campo, o Brasil precisa avançar de formasubstantiva, pois, as estatísticas disponíveis em rela-ção às mulheres ainda são bastante embrionárias e in-suficientes para subsidiar o processo de formulação,acompanhamento e avaliação de políticas públicas.
Estatísticas mais precisas e conceitualmente sofis-ticadas na avaliação de questões de gênero serão úteisnão apenas para gerar medidas quantitativas do traba-lho das mulheres, tornando-o mais visível. Elas tam-bém permitirão uma análise mais detalhada de váriasquestões econômicas, como: (a) a desigualdade na dis-tribuição do lazer e do trabalho doméstico; (b) mu-danças de produtividade na produção não remunera-da; (c) alterações em trabalho doméstico e bem-estarfamiliar provocadas por mudanças na renda familiar eno status empregatício de membros da família; e (d) atéque ponto é possível evitar medidas fictícias no PIB,como as ocorridas quando a produção é deslocada daesfera familiar para a de mercado.
Finalmente, ainda é possível destacar que a econo-mia feminista não restringe seus estudos apenas àsciências econômicas. Entrelaça a economia com a so-ciologia, a antropologia e a história, buscando recriar ocampo teórico que possa dar conta da crítica à macro-economia, à concepção de políticas econômicas e àreleitura da história do pensamento econômico, cons-truindo novos métodos de análise e investigação.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
Amott, Teresa L.; Matthaei, Julie (1991), Race, gender and work: amulticultural history of womem in the United States. Boston: South EndPress.Bakker, Isabella (1994), The strategic silence: gender and economic policy.London: Zed Books.Becker, Gary (1971), The economics of discrimination. Chicago:University of Chicago Press.Becker, Gary (1976), The economic approach to human behavior. Chica-go: University of Chicago Press.
Rosângela Saldanha Pereira
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 165
Bell, Carolyn Shaw (1974), “Economics, Sex, and Gender”, SocialScience Quaterly, 55, 3.Benería, Lourdes (1979), “Reproduction, production and the sexualdivision of labor”, Cambridge Journal of Economics, 3(3), 203-225.Benería, Lourdes; Sen, Gita (1983), “Desigualdades de clase y degénero y el rol de la mujer en el desarrollo económico: implicacionesteóricas y prácticas”, Mientras Tanto, 15.Benería, Lourdes (1992), “Accounting for women’s work: theprogress of two decades”, World Development, 20(11), 1547-60.Benería, Lourdes; Feldman, Shelley (1992), “Unequal Burden:Economic crises, persistent poverty, and women’s work”. Boulder(Colorado): West view Press.Benería, Lourdes (1995), “Toward a greater Integration of Genderand Economics”. World Development, 23(11), 1839-1850.Blackden, C. Mark; Morris-Hughes, Elizabeth (1993), “Paradigmpostponed: gender and economic adjustment in Sub-SaharanAfrica”. Washington, DC: The World Bank, Technical Department,African Region.Boserup, Ester (1970), Women’s role in economic development, New York:St. Martin’s Press.Carrasco, Cristina (1999), Mujeres y economía: nuevas perspectivas paraviejos y nuevos problemas. Barcelona: Icaria Editorial.Commonwealth Secretariat (1989), Engendering adjustment for the1990s, Londres: Comonwealth Secretariat.Cornia, Giovanni; Jolly, Richard; Stewart, Francis (comps.) (1987),Adjustment with a human face, New York: UNICEF/Clarendon Press.Elson, Diane (1992), “From survival strategies to transformationstrategies: women´s needs and structural adjustment”, en Benería,L.; Feldman, S., Unequal burden: economic crises, persistent poverty, andwomen’s work. Boulder (Colorado), 26-48.Elson, Diane; Pearson, Ruth (comps.) (1989), Women’s employmentand multitationals in Europe. Londres: Macmillan Press.Çagatay, Nilufer; Elson, Diane; Gown, Caren. (1996), “Introduc-tion”, Special issue on gender, adjustment and macroeconomics.World Development, 23(11), 1827-1938.Feber, Marianne. Bimbaum, Bonnie (1977), “The new home econo-mics: retrospects and prospects”, Journal of Consumer Research, 4.Folbre, Nancy (1982), “Exploitation comes home: a critique ofthe Marxian theory of family labour”, Cambridge Journal of Economics,
Integrando o gênero à teoria econômica: breves reflexões
166 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
6, 317-329.Folbre, Nancy (1994), Who pays for the kids? Gender and structuredconstraint. New York: Routledge.Himmelweit, S. (1984), “The real dualism of sex and class”, Reviewof Radical Political Economics, 16 (1).MacDonald, Martha (1998), “Gender and social security policy:pitfalls and possibilities”, Feminist Economics, 4(1), 1-25.Mackintosh,Maureen (1978), “Domestic labor and the household”en Kuhn, Annette, y Wolpe, Annnemarie (comps.), Feminism andMaterialism. Londres: Routledge.Mincer, Jacob (1980), “Labor force participation of marriedwomen” in A. Amsden (ed.), The economics of women and work. NewYork, St. Martin’s Press, 41-51.Mincer, Jacob; Polachec, Solomon (1974), “Family investments inhuman capital: earnings of women”, Journal Political Economy, 82.Minnich, Elizabeth Kamarck (1990), Transforming Knowledge, Filadelfia:Temple University Press.Molyneux, Maxine (1979), “Beyond the domestic labour debate”,New Left Review, 115, julio/agosto, 3-28.Moser, Caroline (1993), Gender planningand development: theory, practiceand training, Londres y New York: Routledge.Pujol, M. (1992), Feminism and anti-feminism in early economic thought,London: Edward Elgar Publishers.Rubery, J. (1978), “Structured labour markets, worker organizationand low pay”, Cambridge Journal of Economics, 2.Sawhill, Isabel (1977), “Economic perspectives on the family”,Daedalus, 106(2), 115-25.Standing, Guy (1989), “Global feminization through flexible la-bor”, World Development, 17(7), 1077-95.
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 167
O matrimônio nas O matrimônio nas O matrimônio nas O matrimônio nas O matrimônio nas PartidasPartidasPartidasPartidasPartidasde Afonso X e estudos de gênero:de Afonso X e estudos de gênero:de Afonso X e estudos de gênero:de Afonso X e estudos de gênero:de Afonso X e estudos de gênero:
novas perspectivas pós-estruturalistasnovas perspectivas pós-estruturalistasnovas perspectivas pós-estruturalistasnovas perspectivas pós-estruturalistasnovas perspectivas pós-estruturalistas
Marcelo Pereira Lima
Resumo: Neste artigo procuramos analisar as relaçõesentre o matrimônio e as fontes de caráter jurídico do rei-nado de Afonso X (1252-1284), além de investigar as co-nexões entre História Medieval, Estudos Feministas e Es-tudos de Gênero. Nosso objetivo é fazer indagações a par-tir de alguns exemplos qualitativos que, de maneira nenhu-ma, constituem elementos típicos ou esgotam a multipli-cidade, instabilidade e subjetividade de atitudes jurídicasdo período e das documentações estudadas.
Palavras-chave: História Medieval, Casamento, Direito,Relações de Gênero, Afonso X.
Abstract: In this article we look for to analyze the relationsbetween the marriage and the sources of legal characterof the reign of Alfonso X (1252-1284), besides investiga-ting the connections between Medieval History, FeministsStudies and Gender Studies. Our objective is to make inves-tigations from some qualitative examples that, no way, cons-titute typical elements or deplete the multiplicity, instabilityand subjectivity of legal attitudes of the period and thestudied documentations.
Keyswords: Medieval History, Marriage, Law, Gender Re-lations, Alfonso X.
Marcelo Pereira Lima. Prof. Substituto de História Medieval – IFCS/UFRJ, doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense eMembro Colaborador do Programa de Estudos Medievais – PEM/UFRJ.
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
168 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução
Este artigo é parte de um projeto de doutoradointitulado Relações de Gênero e casamento nas fontes jurídicasde Afonso X (1252-1284) e está sendo desenvolvido noâmbito do Programa de Pós-Graduação em Históriada UFF. Esse projeto visa discutir como as configura-ções matrimoniais podem ser entendidas como rela-ções de poder e normatizadas por instituições diver-sas. Sendo assim, elas têm sido pensadas dentro deabordagens sócio-culturais móveis, desnaturalizantes,não essencialistas, cujo foco principal é reler as sutile-zas dos processos de construção das práticas discur-sivas a partir de uma perspectiva pós-moderna.1
Gostaríamos de antecipar o que o(a) leitor(a) vaiencontrar neste texto. Inicialmente, nosso trabalhoconta com algumas reflexões críticas sobre as articu-lações estabelecidas entre o casamento e a historiografiasobre o período medieval. Da mesma forma, ele in-clui também algumas considerações sobre a categoriagênero e suas possíveis correlações com o processode centralização das instituições monárquicas caste-lhano-leonesas do século XIII. Por fim, o artigo écompletado com uma última seção que tem uma for-ma mais operacionalizadora, uma vez que está dedicadaà aplicação dos aspectos teóricos às informações pon-tuais presentes na documentação, não dispensando aanálise e a crítica textuais. Nessa seção, portanto, fare-mos indagações a partir de alguns exemplos qualitati-vos que, de maneira nenhuma, constituem elementostípicos ou esgotam a multiplicidade, instabilidade esubjetividade de atitudes jurídicas do período e dasfontes consultadas.
O casamento e a historiografia medieval:O casamento e a historiografia medieval:O casamento e a historiografia medieval:O casamento e a historiografia medieval:O casamento e a historiografia medieval:algumas consideraçõesalgumas consideraçõesalgumas consideraçõesalgumas consideraçõesalgumas considerações
Nas últimas décadas, a História Medieval tem serenovado constantemente com a introdução de novos
1 Por um lado, em termos maisimediatos, a idéia de formulareste trabalho adveio das discus-sões feitas a partir de uma co-municação apresentada no IEncontro de História Antiga eMedieval do Maranhão: culturae ensino, realizado entre os dias8 e 11 de novembro de 2005 naUniversidade Estadual doMaranhão (UEMA). Por outro,este texto também fora resulta-do da ampliação e revisão de talcomunicação, principalmente,devido aos debates feitos du-rante o minicurso Aproximaçõeshistoriográficas ao medievo: teorias,métodos e técnicas da História dasMulheres e dos Estudos de Gêneroministrado durante o eventopela Prof. Dra. Andréia Frazãoda Silva. Essa dupla ocasião fazparte da busca de constituição,desenvolvimento e consolida-ção das relações estabelecidas en-tre os campos da História Me-dieval, dos Estudos Feministase dos Estudos de Gênero noBrasil, procurando romper nãosomente com a marginalidadedessa trilogia, como tambémpermitir seu aprofundamentoteórico e metodológico.
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 169
temas ligados à História das Mulheres e aos Estudosde Gênero. Embora esses campos de investigação nãosejam sempre tão distintos como se supõe, a maiorparte deles está localizada na historiografia de línguaanglo-saxã e francesa especialmente sobre a Inglater-ra, Alemanha, França e, em muito menor grau, em ou-tras localidades como a Itália, Espanha e Portugal.Numerosas obras historiográficas podem ser qualifi-cadas como legatárias de diversos tipos de históriasócio-cultural, porém há aquelas que reduzem oenfoque sócio-antropológico e enfatizam os aspectospolíticos.
As temáticas são variadas no âmbito do medieva-lismo: relações de gênero, produção de saber, religio-sidade e as solidariedades em comunidades religiosasde mulheres, discutindo o quão feminino poderia sersua espiritualidade;2 as relações entre patriarcado, mu-lher e consumo de bebidas;3 a sexualidade e a vidamaterial das mulheres;4 o problema de identificar asmulheres escritoras medievais;5 os diferentes discur-sos sobre a homossexualidade medieval;6 as relaçõesentre pais e filhas;7 os vínculos entre paternidade,maternidade, santidade e gênero;8 a história do corpo;9a construção sócio-cultural da viuvez e da virginda-de;10 as relações entre masculinidade e heroísmo;11 aquestão do espaço da casa como locus considerado pri-vilegiado para as mulheres medievais.12 Há, ainda, tra-balhos mais voltados para as biografias de mulheres,13
as mulheres no mundo islâmico medieval,14 os papéisdas mulheres nas cruzadas,15 a presença da misoginianas fontes literárias,16 entre outros assuntos.
No que se refere às relações entre a História doDireito Medieval e a questão do matrimônio, as abor-dagens ainda são muito tradicionais. Contudo, isso nãosignifica homogeneidade ou imobilismo de identida-des historiográficas, pois as maneiras de enfocar ascorrespondências entre o campo jurídico e as relaçõesconjugais se alteraram significativamente. Embora hajapontos de contato entre elas, porque nunca são total-
2 MADERO, M. Saberes femeni-nos y construcción de la verdad:las mujeres en la prueba testi-monial en Castilla durante el si-glo XIII, Anales de Historia Anti-gua, Medieval y Moderna, n. 33, p.153-170. 2000; FRAZÃO DASILVA, A.C.L. A vida monásti-ca e as diretrizes de gênero naobra berceana. In: V EncontroInternacional de Estudos Me-dievais, 2005, Salvador. Anais doV Encontro Internacional de Estu-dos Medievais. Salvador: Quarte-to, 2003, v. 1, p. 186-191;______. Hildegarda de Bingene as Sutilezas da Natureza dasDiversas Criaturas. In: IV Jorna-da Científica do CMS Waldyr Fran-co, 2002, Rio de Janeiro. Atas da3o e 4o Jornadas Científicas doCMS Waldyr Franco. Rio de Ja-neiro: Prefeitura da Cidade doRio de Janeiro/ Secretaria Mu-nicipal de Saúde – CMS WaldyrFranco, 2002; ______. Algu-mas reflexões sobre a santida-de, o gênero e a memória. In:VI congresso da SBEC – XVCiclo de Debates em HistóriaAntiga, 2005, Rio de Janeiro. Me-mória & Festa. Rio de Janeiro:Mauad, 2005, v. 1, p. 308-315;SILVA, V.F.; LIMA, M.P. Opoder da fala e a imposição dosilêncio: exercício da religiosida-de laica e restrições de gênero noséculo XIII. In: SILVA, S.; SIL-VA, A.C.L.F.; SILVA, L.R. Atasdo Ciclo A Tradição Monástica e oFranciscanismo, 2002, Rio de Ja-neiro, 2002. p. 153-161; SILVA,V.F. Saber e Gênero: Discutin-do o lugar do saber intelectualpara os franciscanos nos Escri-tos de Tomás de Celano. Atasda IV Semana de Estudos Medie-vais, Rio de Janeiro, p. 304-309,2001; ______. Gênero e Dis-curso: Desconstruindo as Fon-tes do I Século Franciscano. Te-cendo Saberes, Rio de Janeiro,1999; ______. No Limiar da
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
170 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Exclusão: das relações entre asDamianitas e o Papado (1215-1223). Atas do III Encontro Inter-nacional de Estudos Medievais, Riode Janeiro, p. 609-613, 1999;______. O Discurso Intelectu-al e a Mulher na Idade Média:um olhar a partir da Historio-grafia. Revista do Núcleo de Estu-dos de Gênero e Pesquisa Sobre aMulher da Universidade Federal deUberlândia, Uberlândia, n. 12,1998; ______. Gênero e Hagio-grafia: Clara de Assis e a Cons-trução de um novo modelo desantidade feminina no séculoXIII. In: IX Seminário NacionalMulher e Literatura, 2001, BeloHorizonte. IX Seminário Naci-onal Mulher e Literatura, 2001.
3 MARTIN, A.L. Alcohol, sex, andgender in Late Medieval and EarlyModern Europe (Early ModernHistory). New York: Palgrave,2001.
4 JOCHENS, J.M. The churchand sexuality in medieval Ice-land. Journal of Medieval History,v.6, n.4, p. 377-392, 1980.
5 CHANCE, J. (ed.) Gender andText in the Middle Ages. Gaines-ville Tallahassee University:Press of Florida, 1996; CHE-REWATUK, K.,WIETHAUS,U. (ed.) Dear Sister — MedievalWomen and the Epistolary Genre.Filadélfia: University of Penn-sylvania, 1993; LARRING-TON, C. Women and Writing inMedieval Europe. Londres: Rou-tledge, 1995; PETROFF, E.A.(ed.) Medieval Women VisionaryLiterature. New York: Oxford,1986.
6 BLACKMORE, J.; HUT-CHESON, G.S. (ed.) QueerIberia: Sexualities, cultures, andcrossings from the Middle Agesto the Renaissance. (Review)Renaissance Quarterly, v.53, n.2,p. 585, 2000; BURGER, G.,KRUGER, S.F. (ed.) Queering
mente refratárias entre si, podemos classificá-las empelo menos três tendências. Há trabalhos identifica-dos com uma interpretação predominantemente for-malista ou “jurisdicionista”, cujo exemplo mais radicalé o caso de Esperanza Osaba García.17 Ainda que me-nos formalistas e preocupados com as relações entreas formulações jurídicas e as práticas sociais, as obrasdos autores José Luis Martín Rodriguez, Federico R.Aznar Gil e Manuel Angel Bermejo Castrillo sãomarcadas nitidamente por uma análise interna edescontextualizada das fontes jurídicas relativas aomatrimônio.18 Portanto, esses autores igualmente po-dem ser situados nessa primeira tendência. Os traba-lhos de Michael M. Sheehan, dos membros da SheehanSchool of Social History e de Diogo Leite de Camposassumem uma feição mais sociológica e, por isso, me-nos formalista.19 Algumas dessas propostas possuemum claro intuito de articular as temáticas a uma totali-dade, porém outras são mais particularistas. De qual-quer forma, o foco principal de análise dessa segundatendência concentra-se na identificação de um obstá-culo ontológico existente entre uma regra e suaefetivação, que Charles Taylor denominou “hiatofronético”, esse fosso que separa a norma jurídica dasua aplicação.20 Por último, os trabalhos de RobertoGonzález-Casanovas e Marylin Stone são amostras dasinovações introduzidas nas abordagens dos textos ju-rídicos, e constituem um exemplo de história sócio-cultural, acompanhando as mudanças no campo histo-riográfico e suas articulações interdisciplinares, espe-cialmente as ligações com a sócio-lingüística e a an-tropologia.21
No universo historiográfico que se expande e sefragmenta, a temática do casamento nas fontes jurídi-cas medievais mereceu pouca atenção na perspectivade gênero, principalmente quando consideramos a His-tória da Espanha Medieval. Quando muito, as articula-ções são tangenciais e ainda estão vinculadas a deter-minadas tendências da chamada História das Mulheres
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 171
the Middle Ages Medieval Cultu-res. Minneapolis: University ofMinnesota Press, 2001.
7 BULLON-FERNANDEZ, M.Fathers and daughters in Gower’sConfessio Amantis: Authority,family, state, and writing. Publi-cations of the John Gower Society,IV. Suffolk and Rochester: D.S.Brewer, 2000.
8 FRAZÂO DA SILVA, A.C.L.Reflexões metodológicas sobre a aná-lise do discurso em perspectiva his-tórica: paternidade, maternidade,santidade e gênero. In: Cronos: Re-vista de História, Pedro Leopoldo,n. 6, p. 194-223, 2002; DOR, J.;JOHNSON, L., WOGAN-BROWNE, J. (eds.) New Trendsin Feminine Spirituality: The HolyWomen of Liège and their ImpactMedieval Woman: Texts andContexts. Turnhout: Brepols,1999.
9 GRAÑA CID, M.M.; SEGU-RA GRAÍÑO, C. Simbologíadel cuerpo y saber de las mujeresen el discurso masculino cleri-cal. Dos ejemplos bajomedie-vales. In: CERRADA JIMÉ-NEZ, Ana Isabel et al. (ed.). Delos símbolos al orden simbólicofemenino (ss. IV-XVII). Madrid,Asociación Cultural Al-Muday-na, 1998, p. 105-121; JAGGAR,A. (ed.) Gênero, Corpo e Conheci-mento. Rio de Janeiro: Rosa dosVentos, 1997, p. 19-41; BY-NUM, C. W. Metamorphosis andIdentity. NY: Zone Books, 2001;FRAZÃO DA SILVA, A. C. L.Gênero e descrições corporais nahagiografia mediterrânica no sé-culo XIII: um estudo compa-rativo. In: THEML, N; LESSA,F. S.; BUSTAMANTE, R. M.C.. (Org.). Olhares do Corpo. 1 ed.Rio de Janeiro, 2003, v. 1, p. 28-40; ____. Moda, santidade e gê-nero na obra hagiográfica de To-más de Celano. In: Atas do CicloA tradição Monástica e o Francisca-
de cunho sociológico e/ou literário. Nesse caso, onúmero de obras ainda é muito escasso, demonstran-do não somente a persistência da marginalidade dosestudos hispânicos no medievalismo, como também apouca penetração das análises de gênero no âmbitodas perspectivas ligadas a essa temática e a essa parteda Europa.22
Segundo Andréia Frazão da Silva, o uso da catego-ria gênero nos estudos de História Medieval no Brasilainda é marginal.23 Entre 1990 e 2003, momento deincorporação pontual dessa categoria no âmbito domedievalismo brasileiro, a autora somente identificapoucos projetos financiados pelo CNPq e trabalhos,entre teses, dissertações e artigos publicados, que va-riavelmente aplicam a categoria de gênero em suasobras.24 No levantamento feito pela autora, percebe-seque, dentre as referências bibliográficas, apenas duasdelas privilegiam as fontes jurídicas, mas não têm ocasamento como foco principal, já que procuram pen-sar as relações entre gênero e corpo no Fuero de Cuencaem fins do século XII ou procuram fazer uma espéciede história global das mulheres, das relações de gêne-ro e do corpo em fontes de natureza diversas, como oFuero real, as Siete Partidas, o penitencial de Martim Perez,o corpus satírico delimitado por Manuel Lapa, etc.25
O interesse mais amplo de nossa pesquisa é identi-ficar pelo menos duas questões de caráter historio-gráfico que precisam ser aprofundadas: por um lado,nota-se que as investigações sobre o discurso jurídicoainda estão presas às aproximações descritivas e pou-co analíticas e, por outro, percebe-se que elas sãorefratárias às perspectivas que usam o gênero comocategoria-chave de análise. Como se vê, ainda há mui-to que fazer, visto que não encontramos, até o mo-mento, obras que se preocupam efetiva, sistemática econjuntamente com as articulações entre os discursosjurídicos, as relações de gênero, o casamento e as po-líticas monárquica e eclesiástica, principalmente como contexto de produção e recepção do nosso corpus
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
172 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
documental principal, isto é, El Fuero Real, El Espéculoe as Siete Partidas.26 A maior parte da historiografia queestuda o período de Afonso X se vincula a diversasoutras temáticas, como a produção intelectual e poéti-ca, os aspectos político-militares e diplomáticos, asleis reguladoras das atividades marítimas e dos jogosde azar, a política econômica relacionada à circulaçãode moedas e ao fisco, etc.27 Nesse sentido, a análisedas relações conjugais é ainda marginal dentro da pers-pectiva proposta.
Gênero: uma categoria útil para oGênero: uma categoria útil para oGênero: uma categoria útil para oGênero: uma categoria útil para oGênero: uma categoria útil para omedievo afonsino?medievo afonsino?medievo afonsino?medievo afonsino?medievo afonsino?
Em grande medida, como já é bem sabido, os Es-tudos de Gênero são legatários dos movimentos femi-nistas das décadas de 60 e 70. Além das preocupaçõessociais e políticas, eles se voltaram para construçõespropriamente teóricas. Num primeiro momento, gêne-ro era sinônimo de mulher, tomado no seu sentidosingular, distintivo e essencial, servindo especialmen-te às estudiosas e militantes no debate e crítica àsdeterminações biológicas dos papéis sexuais, das desi-gualdades, das discriminações, das subordinações e dossilêncios na história e na historiografia. Como diriaGuacira Louro, o mérito desse primeiro investimentoera transformar as esparsas referências às mulheres— as quais eram usualmente apresentadas como a ex-ceção, a nota de rodapé, o desvio da regra masculina— em algo central para a análise histórica.28 Segundoessa perspectiva, as mulheres precisavam tornar-sevisíveis tanto nos planos social e político como tam-bém na esfera do discurso científico.29
Num segundo momento, grosso modo, principalmentenas décadas de 80 e 90 e no âmbito da historiografiaanglo-saxônica, as novas pesquisas e as críticas feitasaos Estudos de Gênero fizeram com que as investiga-ções feministas burilassem suas abordagens e concei-tos. Esse processo também colaborou para o desen-
nismo (7 a 11 de out. de 2002). Riode Janeiro : Programa de Estu-dos Medievais, 2003, v. 1, p.230-239.
10 CARLSON, C. WEISL, A.J.(eds.). Constructions of widowhoodand virginity in the Middle Ages(The New Middle Ages, edited byMichael Flamini). New York: St.Martin’s Press, 1999.
11 COHEN, J.J. Medieval masculini-ties: heroism, sanctity, and gender.Disponível em: <http: //www.georgetown. edu/ labyrinth/labyrinth-home.htmlEd>.Acesso em: jul. 2005.
12 DINSHAW, C., WALLACE, D.(eds.). The Cambridge companionto medieval women’s writing series:Cambridge companions to literature.Cambridge: Cambridge Uni-versity Press, 2003.
13 ROTZETTER, A. Clara de As-sis — A primeira mulher francis-cana. Petrópolis: Vozes/Cefepal,1994; JOHNSON, Penelope D.Agnes of Burgundy: an ele-venth-century woman as mo-nastic patron. Journal of Medie-val History, v. 15, n. 2, p. 93-104,1989.
14 HAMBLY, G.R.G. (ed.). Womenin the Medieval Islamic World. TheNew Middle Ages, v.6. NewYork: St. Martin’s Press, 1998.
15 MAIER, C.T. The roles ofwomen in the crusade move-ment: a survey. Journal of Medi-eval History, v.30, n.1, p. 61-82,2004.
16 SOLOMON, M. The Literatureof Misogyny in Medieval Spain.Cambridge Studies in LatinAmerica and Iberian Literature:Cambridge University Press,1997; BLOCH, H.R. Misoginiamedieval e a invenção do amor ro-mântico ocidental. Rio de Janeiro:Ed. 34, 1995; SOUVIRONLÓPEZ, B. Retórica de la misogi-nia y el antisemitismo en la ficción
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 173
volvimento do diálogo com outras disciplinas e per-mitiu igualmente que se questionasse a “vitimização”das mulheres ou, em outros momentos, a sua “cul-pabilização” pelas condições sociais hierarquicamentesubordinadas. Sem dúvida, as novas abordagens apro-fundaram as pesquisas das relações dos constructosmasculino e feminino, tanto em sua relação de oposi-ção quanto em outras possíveis configurações históri-cas, vinculando-os às formações discursivas e, por fim,discutindo as articulações entre gênero e outras cate-gorias sociais.
Essa crítica e autocrítica fizeram com que o con-ceito de gênero rompesse algumas amarras teóricasem que se encontrava e pudesse se desenvolver me-lhor no âmbito das investigações históricas. Como nãohá consenso entre as(os) especialistas sobre o que ocaracteriza, faz-se mister defini-lo. Desse modo, ins-pirando-nos nas propostas teóricas desenvolvidas porJoan W. Scott, Jane Flax e Judith Butler, entendemosgênero como uma categoria-chave para se compreen-der como e por que, em diversos momentos e socie-dades, os indivíduos, grupos e instituições dão signifi-cados múltiplos ao masculino e ao feminino.30 Nessesentido, rejeitamos as interpretações que pressupõemuma correspondência necessária, unilateral, natural eessencial entre as diferenças sexuais e a biologia, istoé, seguindo as autoras anglo-saxãs, gostaríamos de acen-tuar o caráter fundamentalmente sócio-cultural dasdistinções baseadas no sexo. Não negamos que o gê-nero atue com ou sobre corpos sexuados, isto é, não énegada a biologia-anatomia, mas é preciso enfatizar,deliberadamente, as construções históricas das carac-terísticas biológicas. Outrossim, entendemos gênerocomo uma noção, um saber sobre as diferenças sexu-ais, que pressupõe que a assimetria e hierarquia entrehomem/mulher, masculino/feminino, masculinidades/feminilidades, etc. são construções relacionais, plu-rais, e também discursivamente situadas num dado tem-po, lugar e sociedade.
medieval, Málaga, Universidad deMálaga, 2001; ALBUIXECH, L.Texto y contexto: la construcciónde la mujer en la narrativa senti-mental. In: GONZÁLEZ, A.;VON DER WALDE, L.;COMPANY, C. (eds). Visionesy crónicas medievales (Actas de lasVII Jornadas Medievales). México,El Colegio de México, Uni-versidad Nacional Autónomade México, Universidad Autó-noma Metropolitana, 2002, p.257-277.
17 OSABA GARCÍA, E. El Adul-tério uxorio en la Lex Visigotho-rum. Madrid: Marcial Pons,Ediciones Jurídicas y Sociales,1997.
18 AZNAR GIL, F.R. Penas y san-ciones contra los matrimoniosclandestinos en la PenínsulaIbérica durante la Baja EdadMedia. Rev. estud. hist.-juríd., 2003,n. 25, p. 189-214; BERMEJOCASTRILLO, M. A. Trans-ferencias patrimoniales entre loscónyuges por razón del matri-monio en el derecho medievalcastellano. In: IGLESIA DU-ARTE, J.I. (coord). La família enla Edad Media: XI Semana deEstudios Medievales. Nájera, 31 dejulio al 4 de agosto de 2000.Logroño: Gobierno de La Rioja,Instituto de Estúdios Riojanos,2001; MARTÍN RODRI-GUEZ, J. L. El proceso de ins-titucionalización del modelomatrimonial cristiano. In:IGLESIA DUARTE, J. I.(coord). Op. cit.
19 SHEEHAN, M.M. Marriage,family, and law in Medieval Europe.Collected Studies. Toronto-Buffalo: University of TorontoPress, 1996; ROUSSEAU, C.,ROSENTHAL, J. Women,Marriage and Family in MedievalChristendom: Essays in Memory ofMichael M. Sheehan. C.S.B. Ka-lamazoo: Medieval Institute
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
174 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
O gênero se constitui e é constituído nas e pelaspráticas discursivas historicamente definidas num jogode múltiplas convergências e divergências sem aten-der a uma finalidade teleológica, pré-discursiva e,normativamente, fechada. Isso significa dizer que essacategoria pressupõe a incorporação de uma complexi-dade de combinações, uma união de elementos sem-pre em movimento que constrói identidades e práticasalternadamente instituídas ou deixadas de lado de acor-do com os propósitos do momento histórico do qual epara o qual foram elaboradas.31 Assim, essa orientaçãoteórica nos faz valorizar os múltiplos determinantesem detrimento da busca, num só tempo, por leis rigi-damente universais e unilaterais, ou totalidades per-manentes e fechadas, tratando, pelo contrário, homem-mulher, feminino-masculino e marculinidades-femini-lidades como categorias não fixas, mas continuamentemutáveis.
Se aceitarmos esse pressuposto teórico, negaremosigualmente a sobreposição em camadas estanques dosdiversos determinantes das formações identitárias.Nesse caso, o gênero não é o único aspecto relevantepara se pesquisar a dinâmica histórica, pois ele vemassociado aos distintos vínculos multifatoriais, inter-cambiáveis, parciais, fraturados e, por isso, nem sem-pre unitários, tais como a classe social, partido, etnia,idade, religião, parentesco, entre outros.32 Isso signifi-ca dizer que os estudos de gênero podem estar vincu-lados à História Cultural e procuram distinguir-se dealguns ramos da História das Mulheres ou da HistóriaSocial das diferenças entre os sexos, ambas, talvez,ainda herdeiras de alguns determinismos biologizantesou de interpretações rigidamente sociológicas.33 NoBrasil, inclusive, é evidente a oscilação teórica, emnumerosos trabalhos, entre os Estudos de Gênero dematiz sociológica e os de caráter filosófico e literá-rio.34 Diferente disso, entre outros elementos, os Es-tudos de Gênero procuram descrever, interpretar,problematizar, analisar, explicar e desconstruir as re-
Publications, 1998; CAMPOS,D. L. A invenção do direito matri-monial: a institucionalização do ca-samento. Boletim da Faculdadede Direito da Universidade deCoimbra: Coimbra, 1995.
20 TAYLOR, C. Argumentos filosó-ficos. Tradução de Udail Ubira-jara Sobral. São Paulo: Loyola,2000, p. 193.
21 GONZÁLEZ-CASANOVAS,R. Gender Models in AlfonsoX’s Siete Partidas: The SexualPolitics of ‘Nature’ and ‘Society’.In: MURRAY, J., EISENBI-CHLER, K. Desire and Discipli-ne, Sex and Sexuality in the Pre-modern West. Toronto-Buffalo-London: University of Toron-to Press, 1996; STONE, M.Marriage and Friendship in Medie-val Spain: social relations accordingto the Fourth Partida of AlfonsoX. New York: Peter Lang, 1990.A historiografia sobre as rela-ções conjugais também tem sidoinfluenciada especialmente pelosantropólogos James Casey e JackGoody. CASEY, J. História daFamília. São Paulo: Ática, 1992;GOODY, J. La evolución de lafamilia y del matrimónio en Europa.Barcelona: Herder, 1986;GOODY, J. La família europea:ensayo histórico-antropológico. Bar-celona, 2001; GOODY, J.;THIRSK, J.; THOMPSON,E.P. (dir.). Family na Inheritance:rural society in Western Europe1200-1800. Cambridge, 1976.Sobre a influência da história dafamília no âmbito da históriasocial do casamento ver tam-bém GIES, F. Marriege and thefamily in the middle ages. NewYork Cambridge, Philadelphia,San Francisco, London, MexicoCity, São Paulo, Singapore, Syd-ney, 1987, p. 3-15.
22 DALCHÉ, J.G. L’historio-graphie française el le MoyenAge hispanique entre la fin du
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 175
lações criadas entre homem-mulher, masculino-femi-nino, masculinidades-feminilidades, buscando enten-der as configurações institucionais, as identidades, ospapéis sociais, as práticas, as normas, os símbolos, oscódigos culturais como também as relações de poderestabelecidas nos processos de dominação.
Normalmente, as relações de gênero são associa-das à família, à experiência cotidiana e doméstica, àsinterações face a face entre indivíduos, ou melhor,aos micro-universos de uma sociedade. A interpreta-ção da categoria gênero como algo situado, unicamente,na divisão familiar do trabalho e na esfera da casapode, talvez, dependendo de como se conduz a pes-quisa, não deixar espaço para as(os) historiadoras(es)conectarem essa noção (ou os indivíduos) a outrasconfigurações sociais como a economia, a política, odireito, etc.35 Sem negar a validade dessas associaçõese das investigações voltadas para essas esferas cotidi-anas, consideramos importante também vincularmosas diretrizes de gênero ao direito medieval, e este àpolítica e às relações de poder mais amplas, dinâmicase complexas. Numa perspectiva mais restrita, a rela-ção entre masculino-feminino admite uma oposiçãoentre um pólo dominante e outro dominado, uma vezque, supostamente, “seria a única e permanente formade relação entre esses dois elementos”.36 Contudo, se-guindo a analítica de Michel Foucault, questionamosessa idéia de relação unilateral e nos preocupamos emobservar que as relações de poder se dão em diversasdireções, mas também pressupõem que os “sujeitos”dominados são capazes de fazer dos espaços e instân-cias de opressão, lugares de resistência e de exercíciode poder.37 Isso não quer dizer que essas relaçõessejam igualitárias, pois os indivíduos, grupos e institui-ções podem estabelecer relações desiguais entre si e,muitas vezes, podem contingentemente ou não ter“melhores” condições de exercer o poder em detri-mento dos(as) outros(as). Assim, fica muito problemá-tico corroborar com a idéia de que se tem ou não
XIXe siècle et 1980. Medievalis-mo. Boletín de la sociedad españolade estúdios medievales. Madrid, año12, n.12, p. 257-271, 2002;GONZÁLEZ DE FAUVE, MªE.. El medievalismo en la Re-pública Argentina. Medievalismo...Op.cit., p. 273-289; NOGUEI-RA, C.R.F. Os estudos medie-vais no Brasil de hoje. Medie-valismo...Op. cit., p. 291-297;RUIZ, T.F. La historia medie-val de Espana en el mundonorteamericano. Medievalis-mo...Op. cit., p. 299-312.
23 FRAZÃO DA SILVA, A.C.L.Reflexões sobre o uso da cate-goria gênero os estudos de His-tória Medieval no Brasil (1990-2003). Caderno Espaço Feminino,v.11, n.14, jan./jul., p. 87-107,2004.
24 FRAZÃO DA SILVA, A.C.L.Op. cit.
25 Verificar as referências bibliográ-ficas de Dulce Oliveira e MiltonJosé Zamboni que, direta ouindiretamente, usam fontes decaráter jurídico. Cf. FRAZÂODA SILVA, A.C.L. Op. cit., p.94-95.
26 Devido a uma questão de eco-nomia espacial, faz-se misterdestacar que somente analisare-mos exemplos relativos às SetePartidas, apesar de nosso proje-to de doutorado estar preocu-pado com um corpus documen-tal mais amplo.
27 Só para exemplificar, entre ou-tros títulos, podemos destacaras seguintes referências: FIDAL-GO, E. Las prosificacionescastellanas de las Cantigas de SantaMaría (algunas hipótesis). Revis-ta de Literatura Medieval, v.13, n.2,p. 29-61, 2001; COLLINS, R.;GOODMAN, A. (eds.). Medi-eval Spain. Culture, conflict, andcoexistence. Studies in Honour ofAngus Mackay, Londres, Palgra-ve, Macmillan, 2002; ALBER-
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
176 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
TO VEJA, C. La tercera cronicade Alfonso X: “La gran conquis-ta de Ultramar”. Speculum: aJournal of Medieval Studies, v.72,n. 2, p. 474-483, 1997; CAR-PENTER, D.E. ‘Alea jacta est’:at the gaming table with Alfon-so the Learned. Journal of Medi-eval History, v.24, n.4, p. 333-345,dec. 1998; CASTÁN LANASPA,G. Política econômica y poderpolítico. Moneda y fisco em elreinado de Alfonso X el Sábio.Junta de Castilla y Leon, Consejeríade Educación y Cultura, 2000.
28 LOURO, G. L. A emergência dogênero. In: Gênero, sexualidade eeducação: uma perspectiva pós-estru-turalista. Petrópolis: Vozez,2003, p. 19.
29 LOURO, G.L. Op. cit., p. 16.30 SCOTT, J. W. Gênero: uma ca-
tegoria útil de análise histórica.Educação e Realidade, v. 16, n. 2,1990; SCOTT, J. W. Prefácio aGender and politics of history.Cadernos Pagu, n.3, p. 11-27,1994; FLAX, J. Pós-modernis-mo e relações de gênero na teo-ria feminista. In: HOLLANDA,H.B. (org.). Pós-modernismo e polí-tica. Rio de Janeiro: Rocco, 1991,p. 217-50; BUTLER, J. Proble-mas de gênero: feminismo e subver-são da identidade. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2003.
31 BUTLER Apud CORRÊA, M.A natureza imaginária do gêne-ro na história da antropologia.Cadernos Pagu, n.5, 1995, p. 121.
32 Sobre a crítica a um determi-nismo rígido ver FLAX, J. Op.cit., p. 230.
33 Não se quer aqui polarizar de-masiadamente os âmbitos daHistória das Mulheres e os Es-tudos de Gênero, tornando-osantitéticos, sendo o primeirocampo algo politicamenteengajado e o segundo uma es-fera cientificamente validada edomesticada. Muito pelo con-
poder duradouramente. Em lugar disso, deve-se pen-sar em exercício de poder disposto por “sujeitos” que seconstituem e são constituídos por “manobras”, “téc-nicas”, “disposições”, as quais podem ser “natura-lizadas”, normatizadas, impostas, assumidas, absorvi-das, aceitas, adaptadas, contestadas, resignificadas, re-sistidas e alteradas.38
Nesse último aspecto, é preciso destacar outro fa-tor importante para compor nossos conceitos de po-der e relações de poder. Novamente, recorreremos àanalítica de Michel Foucault. As concepções tradicio-nais foram novamente questionadas por esse autor aoperceber que o poder não somente é um mecanismocoercitivo e negativo, mas também algo produtivo e positivo.Para esse autor, o poder não apenas nega, impede,coíbe, restringe, esconde, recalca, limita, mas igual-mente “faz”, produz, provoca, incita, encoraja e legíti-ma.39 Esse insight foucaultiano é importante para nossaanálise histórica, porque as relações de gênero medie-vais certamente são construídas não apenas por meiode mecanismos de repressão e censura, como tambématravés de práticas e discursos que instituem gestos,modos de ser, de pensar e de estar no mundo, manei-ras de falar e de agir, comportamentos, atitudes e pos-turas consideradas adequadas em determinado perío-do, lugar e sociedade.
Essas reflexões levam-nos a pensar sobre as rela-ções desses aspectos com nossa temática de estudo, jáque queremos tratar da busca do controle do direito edo casamento pela monarquia castelhano-leonesa. Comefeito, estamos interessados em investigar como e porque as assimetrias e hierarquias de gênero são cons-truídas, legitimadas, contestadas e mantidas pelas ins-tituições monárquicas e eclesiásticas do governo deAfonso X. Por isso, vale refletir mais detidamente acer-ca de como a busca pela centralização jurídica coadu-na-se teoricamente às relações de poder e de gêneroexpostas acima.
Em princípio, parece haver um contra-senso, um
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 177
dito contrário à lógica que estamos delineando. Comopensar em centralização jurídica frente à noção de“micropoderes” dispersos por todo o tecido social?Aparentemente, há um pressuposto ligado à confluên-cia de poderes ou a uma intensa concentração de po-der nas mãos de um centro único ou de um gruporeduzido que funciona como ponto convergente: amonarquia. Em nossa perspectiva, a noção de “centra-lização jurídica” não se opõe ao conceito de poderdefendido por Michel Foucault por duas razões: a) emprimeiro lugar, estamos sustentando que a realezacastelhano-leonesa no século XIII assumiu uma polí-tica cultural e jurídica que buscava se afirmar diantede outras instâncias de poder tais com o patria potestas,grupos familiares, senhores laicos e eclesiásticos, en-tre outras; b) em segundo lugar, trata-se de uma bus-ca, de uma concorrência, um jogo conflituoso, quenão dispensa as convergências, negociações, avanços,recuos, consentimentos, revoltas, silenciamentos e ali-anças entre diferentes “sujeitos” de poder. Em ambosos casos, não há disparate teórico entre as noções decentralização e existência de concorrência com pode-res patriarcais, senhoriais, monárquicos e eclesiásticos,isto é, entre várias instâncias que produzem discursosjurídicos móveis sobre os gêneros. Estes são produzi-dos nas e pelas relações políticas. Enfim, as discussõesde Michel Foucault nos fazem perceber que, no jogodas relações de poder, a “guerra” não está estável econtinuamente ganha, e, apesar disso, não há, perma-nentemente, condições igualitárias ou desiguais entreos sujeitos de poder.40 “Guerra” e tensão são dois ele-mentos fundamentais para entendermos nossas trêsinstituições: a monarquia, o casamento e o direitoafonsino.
Casamento e relações de gênero nas Casamento e relações de gênero nas Casamento e relações de gênero nas Casamento e relações de gênero nas Casamento e relações de gênero nas PartidasPartidasPartidasPartidasPartidasde Afonso X: algumas reflexõesde Afonso X: algumas reflexõesde Afonso X: algumas reflexõesde Afonso X: algumas reflexõesde Afonso X: algumas reflexões
Chamadas também de Código de las Siete Partidas, as
trário, os atuais Estudos deGênero, pelo menos no âmbi-to do medievalismo, nasceramde ramos da História das Mu-lheres e são receptivos à incor-poração de pesquisas que privi-legiam as figuras femininas. Dequalquer forma, algumas dife-renciações entre essas esferasinterpretativas não podem serdeliberadamente negligenciadasnas identidades historiográficasdos últimos anos. Pelo menosna área da História Medieval, aprimeira está geralmente associ-ada à história social do cotidia-no das figuras femininas, cujoobjetivo é tornar as mulheresvisíveis no discurso historio-gráfico, privilegiando a dicoto-mia entre homem/mulher,privado/público, em temáticasligadas a historia da família, ca-samento, procriação, sexualida-de, etc. Intrinsecamente associ-ados à História Cultural, os Es-tudos de Gênero tendem a ques-tionar as investigações genera-lizantes e descritivas, problema-tizando as categorias de mulher/feminino/feminilidade e ho-mem/masculino/masculinida-de como fatores relacionais econstruídos, e enfatizando aslutas pelo poder.
34 Cf. FRAZÃO DA SILVA,A.C.L. Op. cit., p. 105.
35 SCOTT, J. W. Gênero: uma ca-tegoria... Op. cit., p. 20.
36 Verificar a crítica desse aspectoem LOURO, G.L. Op. cit., p. 33.
37 FOUCAULT, M. Vigiar e punir:nascimento da prisão. Petrópolis:Vozes, 1997, p. 29; MAIA, A.Sobre a analítica de poder deFoucault. Tempo social. São Pau-lo, v. 7, n.1-2, p. 89, out., 1995
38 FOUCAULT, M. Op. cit.39 MACHADO, R. Por uma ge-
nealogia do poder. In: FOU-CAULT, M. Microfísica do poder.Rio de Janeiro: Edições Graal,
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
178 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
1979, p. 16.40 Sobre a noção de “guerra” no
vocabulário de M. Foucault verREVEL, J. Le vocabulaire deFoucault. [s.l.]: Ellipses ÉditionMarketing, 2002, p. 40-42.
41 ALFONSO X, Rey de Castilla.Las siete partidas... Edición deJosé Berní y Catalá. Valencia:Imprenta de Benito Monfort,1767. Edição disponível na Bi-blioteca Virtual de PensamientoPolítico Hispânico SaavedraFajardo via <http://saavedrafajardo.um.es/WEB/HTML/iniciop.html?Open>. Acessodez. 2005.
Partidas de Afonso X foram um dos mais importantescompêndios de normas jurídicas produzidos no inícioda segunda metade do século XIII.41 Elaborado pou-co tempo depois do Fuero Real (1255), é um texto es-crito em castelhano que abarca numerosos ramos dodireito medieval tanto do ponto de vista legal e práti-co como doutrinal. Provavelmente, começou a ser re-digido por volta de 1256 e, segundo a maioria dosautores, em 1265, foi finalizado, ou seja, cerca de dezanos foram necessários para elaborar um corpo de leisque intentava dar unidade legislativa a um reino fracio-nado por diversos fueros particulares. A obra contémum prólogo e sete partes divididas em 182 títulos, com-putando um total de 2.802 leis ou regras que preten-dem regular o sistema de fontes jurídicas (as leis es-critas, os usos, os costumes e os fueros) e o direitoeclesiástico, político, administrativo, processual, mer-cantil, civil, penal e matrimonial. Concordamos comos autores Roberto González-Casanovas e MarilynStone quanto apontam que esse corpus documental éum texto normativo, mas também propagandístico dasinstituições monárquicas e eclesiásticas. Com efeito,ele combina apreciações de “virtudes” e “vícios” so-ciais e culturais mesclados aos conselhos e exemplos.Acompanhando, mas igualmente ampliando a ótica deStone e González-Casanovas, sustentamos que a ino-vação das Partidas está nos trechos “dicionarizados” enas muitas explanações incluídas depois das leis queserviam para clarificar os significados das regras.42
Nesse sentido, em um só tempo, as Partidas seriam umtexto legal voltado para o presente, a fim de regulá-lo,como também uma obra utópica que prescrevia exem-plos de comportamento e relações humanas para ofuturo próximo.
Embora estejam presentes ao longo das Siete Parti-das, as questões relativas ao casamento estão clara-mente concentradas na quarta seção dessa fonte. En-tre as principais temáticas tratadas encontramos o se-guinte: o casamento como sacramento, a publicidade
42 GONZÁLEZ-CASANOVAS,R. Gender Models... Op. cit.;STONE, M. Marriage andFriendship…Op. cit.
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 179
do matrimônio, a questão da autoridade da Igreja naresolução das questões conjugais, o papel do rei e dosjuizes seculares nos pleitos judiciais, o casamento en-tre pessoas de religiões e status social consideradosdistintos (cristãos, judeus e muçulmanos), o concu-binato, as testemunhas, o consentimento das partes, ainfluência da patria potestas, o “noivado”, o adultério, odivórcio, o incesto, a bigamia, etc.
Logo nas primeiras páginas da Quarta Partida, omatrimônio emerge em sua conotação medieval inspi-rada tradicionalmente no discurso bíblico: o casamen-to fora um bem instituído por Deus no Paraíso, umdos sete sacramentos que uniu seres naturalmente di-ferentes que deveriam permanecer juntos e unos portoda a vida.43 A indissolubilidade é o princípio básicodefendido pelo discurso jurídico quando associa casa-mento e sacramento. Representante dos propósitos deDeus, a Igreja seria aquela que garantiria a vida conju-gal ordenada e sem pecado, já que isso era a condiçãopara que os outros seis sacramentos fossem mantidose guardados. Portanto, para o prólogo afonsino, o ca-samento possuía uma centralidade essencial e natural,visto que fora instituído pela própria divindade e man-tido pela Sancta Eglesia. Não é fortuito que essa lógicaconvergente da Quarta Partida, dedicada a vários itensrelacionados ao matrimônio, seja justificada pela posi-ção nuclear na composição de uma estrutura textualrelativamente planejada e associada aos saberesanatômico, astronômico e religioso da época.44
Mas por que o casamento seria algo tão primordi-al? Qual o motivo de se reservar um longo espaçotextual e estabelecer uma correspondência metafóricacom o coração, considerado o meio do corpo ondeestá o espírito humano, ou com o Sol, núcleo dos“sete céus”. A razão não deve ser procurada somentena sacralização do casamento, mas também em suatemporalização. Ou melhor, se, inicialmente, as rela-ções conjugais do pólo binário homem-mulher foravisto como algo edênico e essencialmente bom,45 logo
43 Primeira Partida, Título IV, LeiI, p. 33.
44 “E por esso lo pusimos en medio delas siete Partidas deste libro; assicomo el coraçon es puesto en médiodel cuerpo, do es el spiritu del ome,onde va la vida a todos los miembros.E otrosi, como el Sol que alumbratodas las cosas, e es puesto en mediode los siete Cielos, do son las sieteestrellas, que son llamadas Planetas.E segund equeste, pusimos la Parti-da que fabla del Casamiento, en mediode las otras seys Partidas deste libro”.Quarta Partida, Prólogo, p. 2.
45 Nesse aspecto estamos longedas visões restritivas, negativase subordinantes sobre o casa-mento cristão de Agostinho ede Jerônimo, ambos, em maiorou menor grau, influenciadospor práticas e valores ascético-maniqueístas das relações con-jugais. Considerados figurasemblemáticas para a autoridadepatriarcal e doutrinal da Igreja,eles sustentavam visões muitodiferentes. Para o primeiro, omatrimônio legítimo era consi-derado um mal menor, tolerá-vel apenas para a procriação,como uma solução paliativafrente à concupiscentia carnis e, porisso, estava situado abaixo docelibato e da virgindade femini-na. Esta e aquele seriam cami-nhos importantes para alcançara Cidade de Deus. Para o segun-do, o casamento e as relaçõessexuais seriam tão estranhos aoideal de vida cristã ascética queseria difícil defendê-los comoalgo existente desde a “origem”dos primeiros tempos no Édenou para a reprodução humana.BROWN, P. Corpo e sociedade: ohomem, a mulher e a renúncia sexu-al no início do cristianismo. Rio deJaneiro: Zahar, 1990, p. 318-351.
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
180 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
46 “Pero los Santos Padres muestranotras, spiritualmente, por que tienenque lo fizo. La primera fue, paracumplir la dezena orden de losAngeles, que menguaron, quandocayeron del Cielo por su soberuia. Lasegunda, por desuiar pecado de luxú-ria; lo que puede fazer el casado, masque outro ome, queriendo biuirderechamente. La tercera es, por auermayor amor a sus fijos, seyendo ciertodellos, que son suyos. La quarta, pordesuiar contiendas, e homezillos, esoberuias, e fuerças, e otras cosas muytortizeras, que nascerian por razonde las mugeres, si casamiento nonfuesse”. Quarta Partida, TítuloII, p. 13.
47 Verificar Gênesis 6:1-4 e sua cor-respondente nota crítica da tra-dução da Bíblia de Jerusalém.GORGULHO, G. S., STOR-NIOLO, I., ANDERSON, A.F (ed.). Bíblia de Jerusalém. 4. ed.São Paulo: Paulus, 1995, p. 39.
a documentação estudada desloca essa instituição parainterpretações mais sociais, retomando argumentos bí-blicos, patrísticos e do direito romano-canônico. AQuarta Partida vai além do casamento edênico, locali-zando-o no interior de uma espécie de perspectivateológico-religiosa, moral, eclesiástica e também soci-al. Portanto, o casamento possuiria quatro papéis pri-mordiais muito claros que demonstrariam a necessida-de de sua existência.46
O primeiro aspecto é uma associação lacônica aoepisódio bíblico referente às uniões entre “os filhosde Deus” e as “filhas dos homens”, que foram rein-terpretadas a partir de mitos orientais da união entremortais e seres celestes, isto é, entre as filhas de seresmortais e os heróis famosos de tempos antigos (super-homens considerados insolentes).47 O Judaísmo pos-terior e uma parte considerável dos primeiros escrito-res cristãos viram esses “filhos de Deus” como anjosculpados. Durante o século IV, devido o desenvolvi-mento de uma noção mais espiritual dos anjos, apatrística interpretou normalmente a expressão “filhosde Deus” do texto bíblico como a linhagem de Set,filho de Adão e um dos patriarcas bíblicos, e as “filhasdos homens” como a descendência de Caim. É possí-vel que a referência feita pelos Padres da Igreja (filhas= Caim/filhos = Set) seja a explicitação de diretrizes“genderizadas” sobre a procedência mitológica do ca-samento. De qualquer forma, na ótica afonsina, a rela-ção com essas tradições da Antigüidade é muitolacônica, mas remete às “origens” atribuídas às uniõesconjugais e à condição inferior dos anjos caídos dosescritos judaico-cristãos dos primeiros tempos da nossaera. A presença das mulheres, das “filhas dos homens”,é obviamente silenciada num primeiro momento.
Os outros três aspectos são menos “mitológicos”e apontam para a busca de uma ordem que ultrapassaa vinculação das relações conjugais a interesses mera-mente familiares e privados. Eles explicam e justifi-cam a existência do casamento, já que elas evitariam o
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 181
48 Quarta Partida, Op. cit.
pecado da luxúria, permitiriam o amor aos filhos legí-timos e subtrairiam os conflitos gerados entre os ho-mens pela disputa por mulheres. Em primeiro lugar,semelhante a outras representações sociais agostinianas,o texto afonsino assevera a tradição de que o casa-mento era remédio para a concupiscência, isto é, semdesconsiderar as reservas que o texto atribui à forçadestrutiva das relações sexuais entre homens e mu-lheres, a Partida corrobora com o discurso que vê aconjugalidade como uma tática de controle e auto-controle dos impulsos da carne, dos excessos dos pra-zeres corporais, enfim, do “o pecado da luxúria”. Emsegundo lugar, mais do que o preceito bíblico do “Cresceie multiplicai-vos”, o texto analisado procura também vero matrimônio como instância legitimadora da heredita-riedade e garantidora do afeto à descendência: as rela-ções conjugais continentes geram proles desejadas,porque consideradas legítimas. Obviamente, essa de-terminação estava a serviço dos interesses masculinose patriarcais, na medida em que se procurava controlara transmissão de status, honras e propriedades aos fi-lhos e às filhas através da imposição do domínio dareprodução feminina. Por último, as atribuições do ca-samento interessam às autoridades monárquicas e ecle-siásticas, porque eram consideradas como tendo cla-ras implicações de ordem pública naturalmente insti-tuída. Afinal, o casamento evitaria as “contendas”, “ho-micídios”, “soberbias”, “violências” e “outras coisas muito tor-pes, que nasceriam por razão das mulheres, si não houvesse omatrimônio”.48 A princípio, isso poderia ser interpreta-do somente como a releitura de idéias bíblicas sobre acobiça da mulher do próximo e a restrição ao adulté-rio, um dos pecados capitais, mas isso desconsiderariaas outras nuances que a Partida apresenta na políticacultural e social do governo castelhano-leonês. Defato, é difícil não notar o evidente papel civilizatóriodo matrimônio, pois, como deixa implícita a fonte, asmulheres gerariam instabilidade, desordem, morte, vi-olências e todo tipo de infortúnios aos homens. A
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
182 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
49 Primeira Partida, Título IV, 71-72.
50 Primeira Partida, Op. cit.51 Primeira Partida, Op. cit.52 Primeira Partida, Op. cit.53 É a atuação de Deus, entendi-
do, aqui, por meio de uma in-terpretação da lógica aristotélicamisturada ao discurso bíblico,que faz o Sol nascer no Orientee se pôr no Ocidente, “que se tor-ne a Oriente por aquella mismacarrera, ante que se ponga, segundfizo por ruego de Ezechias, quandotorno el Sol quinze grados atras”.Deus ainda “puede fazer Eclipsiquando el Sol e la Luna hanaposicion, assi como fue el dia de laPassion de Jesu Christo”. Podetambém fazer “del muerto, biuo, edel que nunca vido, que vea, assi comoquando resuscito a Lazaro, e fizover al que nascio ciego”. Outros-sim, ele “puede fazer todas las co-sas de nada: assi como fizo el Mun-do, e los Angeles, e los Cielos, e lasEstrelhas, que non fueron fechas deElementos, nen de otra manera, efaze cada dia las almas de enten-dimiento, que son en los omes: e estepoder es apartadamente de Dios...”Primeira Partida, Op. cit.
união legítima cumpriria seu papel na ordem públicadesordenada, em última instância, devido à naturezadisruptiva do feminino. Em outros termos, com o per-dão do jogo patrístico das palavras, as mulheres eramvistas como filhas de Caim. Talvez, esse jogo de pala-vras seja um tanto artificial, mas procura demonstrar,aqui, por meio de uma metáfora forçada, a “presençasilenciada” de uma tradição que via a mulher como arazão de infortúnios e desordens sociais. É difícil nãover essa associação silenciosa da crescente violênciados descendentes de Caim com a violência ampla ge-rada no tecido social pelas mulheres não-casadas. Ouas mulheres são passivamente representadas como oobjeto sujeito às disputas masculinas ou elas por si sóseriam forças desestabilizadoras. Portanto, é uma hi-pótese plausível conjeturar que os juristas afonsinostiveram em mente alguns resquícios dessa tradiçãocultural ao discorrerem sobre o casamento.
Examinemos uma outra questão. É interessantenotar que a Primeira Partida passeia sobre o sentido dapalavra “natura”. Para essa fonte, “natura” é qualquerobra criada “segundo a ordem certa que pôs Deus.”49
Assim, a noite e o dia, o frio e o quente, o tempo, omovimento regular do céu e das estrelas, a força quefaz com que os elementos pesados desçam e os levessubam, etc., tudo isso seria a obra divina “que sempreguarda uma maneira, e ordem certa”.50 A fonte atribuia Aristóteles essa noção de irreversibilidade da natu-reza, isto é, a noção de “que a natura não age de formacontrária: e isto quer muito dizer que sempre guardauma maneira, e ordem certa, porque age”.51 E outros-sim, “não se pode fazer algo do nada, mas tudo o quefor feito por ela, convém que se faça de alguma coi-sa”.52 Então, a “natura” por si só possuiria uma ordemque se efetua numa direção exclusiva, sem possibili-dade de retornar ao sentido anterior. Entretanto, paraa documentação, o único ser capaz de tornar o irrever-sível em reversível e gerar tudo do nada é Deus.53
Mas qual a relação desse discurso do ato criador
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 183
de Deus que produz a ordem no cosmo com as ques-tões de gênero? Segundo a Quarta Partida, há distin-ções e inter-relações entre as noções de “natura” e“naturaleza”.54 O primeiro termo em latim designaria“uma virtude, que faz existir todas as coisas naqueleestado em que Deus as ordenou”.55 Já o termo emvernáculo medieval significaria uma coisa que se asse-melha a natura e que auxiliaria esta na existência e ma-nutenção de tudo o que descende dela.56 Assim, “natu-raleza quer dizer um débito que têm os homens unscom os outros, por alguma direita razão, para se amar,em se querer bem”.57 Aparentemente, tal como a cria-ção do céu, da terra e do entendimento humano, aordem social deveria estar em consonância com a har-monia da ordem divina, visto que esta seria perfeitapor ter sido criada por Deus num ato criador. Eladeveria ser modelo para nortear universalmente as re-lações humanas no mundo. Por conseguinte, fariamparte da “naturaleza” a reverência devida pelo vassaloao senhor, pelo clérigo ao abade, pelo liberto ao seulibertador, pelo convertido ao seu pastor, pelos filhosao pai e à mãe, pela mulher a seu marido, etc.
Como podemos constatar, essa aparente harmoniadas relações humanas é associada aos valores clara-mente hierárquicos, suprimindo o múltiplo contido no“nós” social que fica reduzido a um binário de dife-rentes esferas de relações políticas, prevendo tambémcerta estabilidade a partir do modelo divino. Diversasinstâncias de relações de poder são discursivamenteconstruídas na esfera da prática legislativa. O âmbitodo status hominus, isto é, “a força do estado dos ho-mens” afeta o direito das pessoas, tornando-as desi-guais: são mais honrados e melhor considerados osnobres do “que os outros de menor guisa”, os cléri-gos do que leigos, os filhos legítimos do que os de“ganancia”,58 os cristãos do que os mouros e judeus.Outrossim, enfatiza a fonte, “de melhor condição é ovarão do que a mulher em muitas coisas, e em muitasmaneiras, assim como se mostra claramente nas leis
54 Quarta Partida, Título XXIV,Lei I, p. 141.
55 Quarta Partida, Op. cit.
56 Quarta Partida, Op. cit.
57 Quarta Partida, Op. cit.
58 Nos trechos consultados os fi-lhos de “ganancia” seriam aque-les que nasceriam fora da cons-tância do casamento cristão e,por isso, seriam consideradosilegítimos. Apesar disso, nãoeram excluídos do direito à he-rança, e a documentação hierar-quiza as formas consideradasmais harmoniosas de filiaçãocom o plano sócio-familiar de-sejado por Deus.
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
184 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
59 Quarta Partida, Título XXIII,Lei I e II, p. 139.
dos Títulos deste nosso livro, que tratam de todasessas razões sobreditas”.59 A Quarta Partida não desta-ca diretamente que “coisas” e “maneiras” são essas,sugerindo a reprodução de um tópos discursivo sobrea inferioridade feminina, na medida em que a “mu-lher” é entendida aqui como um grupo distinto e con-centrado em torno de si mesmo. As desigualdades so-ciais que se desejavam estáveis, embora não o fossemno plano do cotidiano, conviviam com hierarquias eassimetrias de gênero no plano do discurso. A organi-zação social seria fundada sobre uma ordem de priori-dade entre os elementos de um conjunto ou sobrerelações de subordinação entre os membros de gru-pos eclesiásticos, aristocráticos, devocionais, parentaise de gênero.
Reflitamos sobre mais um exemplo. O dote femi-nino, definido pelas Partidas como “algo que a mulherdá ao marido por razão do casamento”, fora retomadodurante os séculos XII, XIII e XIV.60 A historiografiatem debatido fortemente sobre os elementos conside-rados relevantes para explicar o processo de renasci-mento do dote tradicional feminino no âmbito do di-reito castelhano de recepção de bens. Entre numero-sas visões, há aquelas que apontam que o acesso dasmulheres ao dote e as doações significariam, mais doque uma pura exclusão das mulheres, mas sim a possi-bilidade significativa de participação delas na partilhada herança.61 Alguns outros autores, ainda, destacamas mudanças no “mercado” de alianças matrimoniais emostram que a “deteriorização” da condição das mu-lheres no seio do grupo familiar fora o resultado demudanças sócio-econômicas sensíveis nos sistemasdotais. Assim, dentro do impacto das mudanças sociaise econômicas na posição das mulheres dentro do nú-cleo doméstico, aponta-se que o desenvolvimento dasatividades mercantis, artesanais e financeiras nomedievo desse período havia determinado, tanto nosmeios aristocráticos como populares, a desvalorizaçãode sua atuação nas atribuições administrativas e “pro-
60 Quarta Partida, Título XI, Lei I,p. 65.
61 GOODY, J. The Development ofthe Family and Marriage in Europe.Cambridge University Press,1993, p. 255-261.
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 185
62 HERLIHY, D. The MedievalMarriage Market. Medieval andRenaissance Studies, Duke Uni-versity, 6, XIV, p. 3-27, p. 1976.
dutivas”, fazendo, inclusive, com que a tarefa de sus-tentar as filhas se tornasse uma atividade consideradade grandes gastos.62 Contraditoriamente, numa pers-pectiva mais normativista e interna às fontes, defende-se também outras possibilidades interpretativas para orestabelecimento do dote feminino tais como a força-da implantação de uma “institución foránea”, visto quese detectaria antecedentes jurídicos bem dignos deatenção.63 Além disso, as pressões patrilineares,64 aspráticas sucessórias de indivisibilidade patrimonial, ri-gidamente delineadas pela via da progenitura masculi-na e que excluiria as filhas no patrimônio principal efamiliar,65 bem como as ações da Igreja,66 são algunsingredientes problematizados pela historiografia na in-terpretação da afirmação do dote feminino.67 Sem cor-roborar completamente com as hierarquias explicativasdefendidas pelos(as) autores(as) citados(as), muitasvezes, generalizantes demais para serem aplicáveis,acreditamos que esses elementos contextuais sejamminimamente importantes para se pensar sobre a ques-tão do dote feminino, mas, mesmo assim, não pode-mos ignorar a desconstrução da prática discursiva e assuas nuances compreendidas numa perspectiva de gê-nero.
É sabido que as Partidas discorrem sobre diversostipos de dotes, diferenciando-os das doações ou arras.Apesar da ambigüidade medieval dessas palavras, épossível precisar alguns dos seus sentidos. No TítuloXI da Quarta Partida, os dotes chamados de aduentitiasão os que as próprias mulheres eram juridicamenteproprietárias, porque teriam sido obtidos ou repassa-dos por elas mesmas, pelas mães, por certos parentescolaterais (tio, primo) ou por indivíduos estranhos aoseu parentesco, isto é, eles seriam concedidos ao ma-rido, porém eram provenientes de outros bens, os quaisnão fossem do pai, avô ou outros parentes de descen-dência direta.68 Os tipos de dotes chamados de profectitiaseriam aqueles que pertenceriam inicialmente aos benspatriarcais (pai, avô ou quaisquer outros parentes “que
63 BERMEJO CASTRILLO,M.A. Op. cit., p. 133).
64 Pelo menos para os gruposnobiliárquicos, a transmissão designos de identidade, a riqueza,a honra, o status e o prestígiopolítico e social sofriam as in-fluências de práticas e concep-ções patrilineares. RIVERAGARRETAS, Mª.M. “La legis-lación del “Monte delle Doti”en el Quatrocento florentino”,Las mujeres medievales y su âmbitojurídico. Madrid, UniversidadAutónoma, 1983. p. 157.
65 OWEN HUGHES, D. FromBrideprice to Dowry in Medi-terranean Europe. Journal ofFamily History, n.3, p. 262-296,1978.
66 BRUNDAGE, J.A. Law, sex andchristian society in Medieval Europe.Chicago University Press. 1987,p. 190; GOODY, J. The Develop-ment... Op. cit., p. 325-330.
67 Para uma síntese dessas visões,ver BERMEJO CASTRILLO,M. A. Op.cit., p. 132-133.
68 Quarta Partida, Título XI, Lei I.
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
186 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
sobem por linha direta”), e, devido a celebração docasamento, dados posteriormente ao pretendente. Alémdisso, de uma forma geral, as Partidas igualmente defi-nem e especificam dois tipos “donacion” ou “arras”.Uma que o marido concede à mulher, “por razão dodote que recebeu dela”.69 A outra é o que o esposo dáa esposa francamente, que em latim chamava-sesponsalitia largitas, que quer dizer “donadio de espo-so”.70 A última forma de doação seria a que o maridofaz a mulher, e a mulher ao marido, depois que omatrimônio fora celebrado.71
De qualquer forma, o que nos interessa aqui é apon-tar alguns aspectos importantes sobre as relações degênero vigentes no direito afonsino. Em primeiro lu-gar, apesar do discurso lacunar do direito afonsino(por exemplo, que não fixa tempo, lugar e atos perma-nentes e específicos ao dote), é necessário dizer queas mulheres podiam ser, ao menos do ponto de vistajurídico, proprietárias de bens maternos ou paternos(roupas, toda sorte de utensílios domésticos, ocasio-nalmente gado, cavalos, para as famílias mais abasta-das, jóias, vestidos luxuosos, moedas, terras, etc.).72 Emsegundo lugar, como demonstram outros trechos dalegislação, tanto em ocasião do dote quanto das arras,esse direito não se estenderia a prerrogativa de con-servar, administrar e receber os frutos das proprieda-des concedidas, função essa assumida prioritariamentepelo marido, já que sobre ele recairia os encargos eco-nômicos do casamento. O marido é visto como aqueleque “governa a si mesmo” e sua mulher, proporcio-nando a manutenção do casamento.73 Em terceiro lu-gar, no caso de dissolução dos laços contraídos, esomente nesse caso, a atribuição do marido tambémdeveria ser a de alienar e dissipar o bens e devolvê-los a concedente ou aos seus herdeiros.74 Talvez, de-vido ao caráter reversível das arras, que possibilitavafacilmente o rompimento dos compromissos do pontode vista unilateral, não se negava a capacidade dasmulheres na gestão nesse tido de concessão. Porém,
69 Quarta Partida, Título XI, Lei I,p. 65.
70 Num primeiro momento, otermo sponsalitia largitas apareceassociado somente ao noivo,mas, num segundo momento,em outro trecho, há também oreconhecimento marginal danoiva na concessão desse tipode doação. Retornaremos a esseaspecto nos próximos parágra-fos. Vale lembrar aqui que ostermos “esposa” e “esposo”aproximam-se significativa-mente dos nossos termos “noi-va” e “noivo”, já que a sponsalitialargitas se refere às fases iniciasdo casamento cristão e medie-val.
71 Segundo Bermejo Castrillo, alonga atenção dedicada às trans-ferências patrimoniais entre oscônjuges nas Partidas, especial-mente a partir do Título XI daQuarta Partida, traduz um in-fluxo de discursos jurídicos so-bre o dote e doações femininasbaixo-imperial, romano-tardi-os, presentes no Digesto e Có-digo de Justiniano, bem comode assimilações jurídicas anteri-ores a obra afonsina. Corrobo-ramos com parte da tese desseautor ao dizer que, a partir dosséculos XII e XIII, o dote edoações femininas, isto é, osbens concedidos ao marido porocasião do casamento, equipa-ravam-se às cessões masculinas,mas progressivamente estas sãosuperadas por aquelas. BER-MEJO CASTRILLO, M. A. Op.cit., p. 138-139. Cf. tambémQuarta Partida, Título XI, LeisI, II e III, p. 66-67.
72 É necessário apontar que a par-te dedicada a Quarta Partida élacu-nar quanto a especificaçãodos bens, mas é possível inferiralgo a partir de outras documen-tações. Por exemplo, no Poemadel Cid podemos fazer algumas
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 187
como sugere Maria Collantes de Terán, isso não su-prime o papel secundário atribuído às mulheres e oconseqüente protagonismo do marido, claramente re-cuperado pelas Partidas a partir da releitura do direitojustiniano.75 Pelo menos para as famílias aristocráticas,das quais temos mais notícias, o dote e as arras femini-nas eram palco de prescrições legais que significavamigualmente a exclusão das filhas do principal quinhãodos bens familiares: diferente dos primogênitos, cabe-ria somente determinados bens transitáveis a elas.76
Como se vê, apesar das matizações, o discurso jurídi-co sobre o dote e as arras apresenta diretrizes “gende-rizadas” em suas dimensões explicitamente hierárqui-cas e assimétricas.
Além disso, as Partidas discorrem sobre o termolatino sponsalitia largitas, cuja tradução em romance se-ria donadio. Tratava-se de uma espécie de presente ou“doação” francamente feita pelo noivo a sua prometi-da e vice-versa, antes mesmo da celebração do casa-mento propriamente dito. Sugere-se aqui uma fase es-pontânea do vínculo matrimonial distante das rígidasobrigações mútuas geradas pelas influências das famí-lias de ambas as partes. Porém, contraditoriamente,embora não haja a explicitação de condições contratuaispré-estabelecidas, imaginemos que essas “doações”(dada sua crescente importância) também podiam ser-vir de estratégia de poder com vistas à manutençãodos acordos iniciais de grupos parentais sobre a vidado casal: era preciso que o enlace fosse garantido e seefetivasse num futuro próximo. Era um dom e umcontra-dom mútuos que poderiam ser potencialmenterecuperados se o vínculo malograsse. Sem dúvida, asponsalitia largitas insinua uma igualdade de condiçõesjurídicas entre homens e mulheres: inicialmente, am-bos são vistos como casal portador de estatutos jurí-dicos para compor o noivado, fazer doações mútuas evincular heranças aos seus herdeiros.
A transmissão de bens por razão da sponsalitia largitasseria consolidada pela efetiva ritualização do enlace.
inferências sobre a domesti-ci-dade dos bens relacionados àsmulheres, bem como seu cará-ter relacionado às sociedadesainda ligadas fundamentalmen-te as atividades agropecuáriasmedievais. HINOJOSA, E. Elderecho en el Poema del Cid.Obras, n.13, v. 183-215.
73 Quarta Partida, Título XI, LeiVI, p. 70.
74 Quarta Partida, Título XI, LeiVI, p. 70.
75 CALLANTES DE TÉRANDE LA HERA, Mª. El regimeneconômico del matrimonio en el Dere-cho territorial castellano. Valencia,n.22, p. 228-229. Quarta Parti-da, Título XI, Lei VII, p. 70.
76 É interessante destacar o esfor-ço das famílias em prover suasfilhas de dote. Isso constituíanão somente uma estratégiamatrimonial de grupos nobiliár-quicos ou menos favorecidos de“valorizar” as mulheres e torná-las partidos desejados peloshomens e outras famílias. Emdeterminados casos, essa estra-tégia se relacionava com a buscade um casamento consideradodigno. Diversos historiadoressociais atestam a progressivapreocupação das famílias medi-evais de dotarem suas filhas parao casamento, inclusive, gerandodívidas crescentes. Além disso,as pressões sócio-culturais e eco-nômicas para dotar as mulheresem idade núbil incentivavam aimposição do celibato sobreelas, servindo às manobras dasrelações de poder claramentepatriarcais e patrilineares. Ficafácil entender a proliferação deinstituições assistenciais em di-versos reinos hispânicos volta-das especialmente para procurarrecursos para mulheres semdote. Sobre esse aspecto verVINYOLES, M. T. Ajudes adonzelles pobres a maridar. In:
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
188 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Se as bodas fossem rompidas por algum motivo impu-tável ao donatário, este teria que reintegrar tudo quan-to fora antes recebido. Do ponto de vista jurídico,tanto homens e mulheres teriam potencialmente amesma obrigação. Todavia, na ocasião de falecimentode uma das partes, há a possibilidade do retorno totalou parcial dos bens.77
Mas um detalhe nos chama a atenção. Por um lado,no caso de falecimento do marido, a legislação afonsinaprevê a devolução de tudo aos herdeiros do mortocaso não tivesse beijado a noiva. Se a tivesse beijado,os bens não retornariam integralmente aos herdeirosdo noivo, salvo a metade que seria de propriedadejurídica da noiva. Todavia, esse aspecto inicial, acom-panhado de certo reconhecimento de direitos às mu-lheres na recepção de propriedades, logo é subtraídoe substituído por uma distinção mais evidente, pois asfiguras femininas são vistas também como “natural-mente cobiçosas e avarentas”.78 A suposição de que amulher “fizesse dom ao seu esposo”, isto é, conce-desse seus bens aos homens em ocasião do noivado, éentendido como atitude ocasional, pouco comum di-ante do desejo ardente de possuir ou conseguir algu-ma coisa, ou do apego excessivo às riquezas assumi-das pelas mulheres. Portanto, diferente dos homens,supostamente mais virtuosos, elas se inclinariam me-nos à generosidade, uma vez que, na relação “mútua”com seus futuros maridos, não estariam propensas aconceder solicitamente seus bens.
Para a fonte, caso a mulher morresse, esse don in-terpretado como ocasional retornaria aos herdeiros danoiva e, ao contrário do que ocorreria com os noivos,não haveria a exigência da efetiva ritualização do beijoanterior e selador do compromisso. É possível buscaralgumas relações com o processo de descrédito só-cio-cultural das figuras femininas, não extensíveis aosindivíduos masculinos. Essas disparidades de opera-ções tocam diretamente na inferiorização do femininoquanto à legitimidade jurídica de tal externalização
RIUS, M. et al. La pobreza y laasistencia a los pobres em la Cataluñamedieval. Barcelona, 1980;ASENLO GONZÁLES, M. Lamujer y su entorno social em elFuero de Soria. Las mujeres medie-vales, n. 141, p. 45-57; LOPEZALONSO, C. Mujer medieval ypobreza. La condición de la mujer,n. 112, p. 261-272.
77 Quarta partida, Título XI, LeiIII, p. 67.
78 Quarta partida, Op. cit.
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 189
emotiva. Se a cessão de bens era vista como ocasionalpara as mulheres devido a sua cobiça e avareza, a ca-rência de validade da virtualidade ou não do critériodo beijo torna-se uma espécie de ato compensatóriopela condição deteriorada da fama feminina. Ritual apa-rentemente banal, beijar tem dois pesos dependendodas relações de gênero no discurso jurídico.
De fato, alguém poderia argumentar que a cobiçanão era entendida sempre como um vício vinculadoàs mulheres. No texto bíblico (1 Timóteo 6:10), o amorpelo dinheiro é considerado a raiz de todos os males,por cujo desejo desenfreado muitos se afastariam dafé e a si mesmos se afligiriam com múltiplos tormen-tos.79 Os que querem enriquecer caem em tentação ecilada, os desejos insensatos e perniciosos mergulhamos homens na ruína e na perdição.80 Apesar do tomaparentemente universal, que procurava afetar a to-dos, o trecho bíblico referia-se diretamente aos consi-derados falsos doutores, “os homens de espírito cor-rupto e desprovidos de verdade”, que alienavam apiedade em busca de lucro.81 Nos outros trechos bí-blicos a universalização se refere evidentemente aos“homens” de poder, proprietários, os que buscam ri-quezas e liderança: obviamente silencia-se as referên-cias diretas às mulheres. Longe da fé, distantes da ver-dade divina, fadado à ruína e à autodestruição, o “ho-mem” cobiçoso contribui para romper com o equilí-brio, a contenção e a mansidão que levam a verdadeiravida em direção a Deus.
Seguindo a tradição bíblica, mas relendo-a à luzdas mudanças sócio-políticas, religiosas e intelectuaisdo século XIII, as Partidas igualmente consideraram acobiça “a raiz de todo o mal”, porque era algo univer-salmente assumido e exercido pela humanidade, le-vando o “homem” à ruína e à perdição. Aliás, associ-ando cada pecado ao seu contraponto, a documenta-ção afonsina a considera como a terceira maneira dese pecar, pois a cobiça que o “homem” tem em siestaria naturalmente associada aos impulsos da carne,
79 Diversas passagens bíblicas de-dicam-se à questão da cobiça,enquadrando-a no rol dos víci-os humanos. Um dos techosmais conhecidos é 1 Timóteo6:10. GORGULHO, G. S.,STORNIOLO, I., ANDER-SON, A. F (ed.). Op. cit., p. 2230-2231.
80 GORGULHO, G. S., STOR-NIOLO, I., ANDERSON, A.F (ed.). Op. cit.
81 GORGULHO, G. S., STOR-NIOLO, I., ANDERSON, A.F (ed.). Op. cit.
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
190 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
somente remediável através do sacramento do matri-mônio.82 Além disso, segundo o discurso das Partidasestipulado fora do direito matrimonial, o rei converte-se em “servo” quando levado a cobiçar grandes ri-quezas,83 e, como soberano, ele igualmente não deve-ria cobiçar as coisas que contradissessem as leis.84 Sãocobiçosos os clérigos sacerdotes que vendem bensespirituais. Da mesma forma, os prelados não podemser cobiçosos, porque precisam ser virtuosos pararepreender e castigar seus subordinados, ou defenderos outros dos cobiçosos.85 Um servidor do rei, o alcai-de, teria que ser de boa linhagem, leal, dedicado, sábioe não cobiçoso.86
Se homens e mulheres podem pecar por desejaralgo, sobretudo, riquezas materiais, onde estaria aassimetria? A primeira vista, em lugar nenhum e emtodo lugar, pois, segundo a fonte, a cobiça faz parte danatureza humana. Todos estão sujeitos potencialmen-te a ela. Todavia, numa segunda leitura mais atenta, acobiça tem nome e endereço: reis, clérigos sacerdotes,prelados, alcaides, etc., poderiam ser cobiçosos ao de-sejarem desmedidamente algo, alguém ou alguma coi-sa. Neste último caso, a cobiça é vista como uma con-tradição frente aos cargos monárquicos e eclesiásti-cos, ou melhor, às obrigações inerentes ao status daordo ideal a qual pertence tais homens. Ser monarca,pertencer ao clero, servir ao rei, etc. são condiçõesfuncionais de liderança que implicariam deveres pú-blicos nas diferentes esferas sociais e políticas. Assimsendo, não são cobiçosos por serem “homens”, numsentido marcado do termo. No entanto, no caso des-crito anteriormente, sobre sponsalitia largitas, a cobiçadas mulheres não é associada ao cargo de rainha, aba-dessa, monja, ou outra atribuição pública, mas sim àcondição feminina: elas são naturalmente inclinadas àambição, a uma falta de generosidade, por serem mu-lheres.
A história do Ocidente medieval naturaliza as rela-ções atribuídas às mulheres e homens, re-criando-as e
82 A fonte destaca que “La terceramanera de pena es cobdicia que omeha en fi, para complir su voluntad,segund le manda la carne natural-mente: e contra esto fue fallado elsacramento del casamento”. Primei-ra Partida, título IV, Lei I, p, 34.As Partidas seguem aqui as res-trições religiosas agostinianasquanto às inclinações conside-radas perniciosas da carne. To-davia, é relevante notar que du-rante o período medieval asnoções de “corpo” e “carne” nãoeram necessariamente negativasou correspondentes, adquirin-do significados diferentes deacordo com os contextos histó-ricos. SCHMITT, J-C. Corpo ealma. In: SCHMITT, J-C.; LEGOFF, J. Dicionário temático doOcidente Medieval. Bauru, SP:Edusc; São Paulo, SP: Impren-sa Oficial do Estado, 2002, v.1,p. 253-267.
83 Segunda Partida, Título III, p.21.
84 Segunda Partida, Título V, p. 32.85 Primeira Partida, Título V, p. 114.86 Primeira Partida, Título XVIII,
137.
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 191
desenvolvendo uma política do esquecimento, queapaga o plural e o múltiplo do humano.87 De fato, se acessão recíproca é citada inicialmente no item reser-vado a sponsalitia largitas, logo a mutualidade é apagadae configurada em outros termos, o que confirma apolítica do esquecimento inicial ligada à caracteriza-ção de “donadio de esposo”. Agora se entende me-lhor porque a sponsalitia largitas fora categorizada como“doação do esposo”: essa identidade atribuída ao “es-poso” demonstra o esforço de fazer reconhecer, insti-tuir e manter a atitude jurídica das doações do noiva-do no âmbito masculino, tornando-as não ocasionais,freqüentes. Não há a terminologia “doação de esposa”nos trechos consultados, mas existe a atribuição docaráter supostamente esporádico das concessões fe-mininas. Desse modo, a identidade e prática jurídicassão alternadamente instituídas ou deixadas de lado deacordo com os propósitos “genderificados” das doa-ções.
Considerações f inaisConsiderações f inaisConsiderações f inaisConsiderações f inaisConsiderações f inais
O caminho trilhado por nós nesse artigo fora o depontuar algumas reflexões sobre diversos saberes epráticas legislativas relacionadas ao casamento medie-val sob uma perspectiva de gênero. Priorizamos exem-plos documentais muito particulares que, de maneiranenhuma, podem ser facilmente generalizáveis paraoutros contextos medievais. Estávamos interessadosem analisar os modos como as Partidas de Afonso Xordenavam o mundo social, tentando mostrar que aIdade Média desenvolveu práticas e discursos misó-ginos, mas que o fez a partir de representações sociaismuito menos simples do que se imagina.
Christiane Klapisch-Zuber em certa ocasião disse-ra que na “Idade Média não se concebe a ordem semhierarquia”.88 Para essa autora, a construção da relaçãofeminino/masculino respeita essa noção e se empe-nha em articular os princípios de polaridade e da super-
87 Sobre a política de esquecimen-to ver SWAIN, T. N. (org.). Tex-tos de História. Revista de Pós-Graduação em História daUNB, v.8, n. 1/2, 2000. p. 49.
88 KLAPISCH-ZUBER, C. Mascu-lino/feminino. In: SCHMITT,J-C.; LE GOFF, J. DicionárioTemático do Ocidente Medieval.Bauru, SP: Edusc; São Paulo, SP:Imprensa Oficial do Estado,2002, v.2, p. 139.
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
192 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
posição hierarquizada, ou melhor, uma atribuição bi-nária e horizontal, baseada na antinomia, e uma interde-pendência vertical, que pressupõe uma espécie decomplementaridade desigual entre categorias.89 De certaforma, as Partidas estabelecem encaixes complexosdesses princípios. Por um lado, a mutualidade, ou aaparente paridade entre homens e mulheres no casa-mento, fora vista como categoria situada na ordem so-cial. Em parte, esse esquema decorre da incorporaçãode certas tradições jurídicas e romano-canônicas quetratavam o casamento como algo decorrente do con-sentimento das partes, mas, contraditoriamente, tam-bém como um vínculo público e regulado pela Igrejae a Monarquia. Por isso, o relacionamento entre ho-mens e mulheres estava também associado à repres-são e censura de vícios (luxúria e cobiça, por exem-plo), mas também ao encorajamento explicito ou nãode virtudes desejadas para o casal, tais como a conti-nência e a generosidade.
Por outro lado, se, em um só tempo, as Partidasseriam um texto jurídico voltado para o presente, afim de regulá-lo, como também uma obra utópica queprescrevia exemplos de comportamento e relaçõeshumanas para o futuro próximo, não podemos esque-cer que, num ou noutro caso, os vícios e virtudes nãoeram eqüidistantes para homens e mulheres, e a com-plexidade das relações de gênero não aparecem disso-ciadas de outras distinções e desigualdades sociais.Onde surgem as antinomias e hierarquias sociais (se-nhor/vassalo; nobre/não-nobre; clérigo/leigo; abade/monge; pastor/convertido; filho legítimo/filho ilegí-timo; libertador/liberto, etc., são mencionadas as rela-ções de oposição, subordinação e interdependênciasupostamente geradas entre “varon” e “muger”.
Quando as relações de gênero não são representa-das em termos claros, é a política do esquecimentoque funciona como estratégia de afirmação de poder.As Partidas caracterizam a sponsalitia largitas como “do-ação de esposo”, silenciando a posterior mutualidade
89 KLAPISCH-ZUBER, C. Op.cit.
Marcelo Pereira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 193
desse ritual, porque as concessões femininas são en-caradas como eventuais devido a sua suposta nature-za. Por isso, doa-se mutuamente, e homens e mulhe-res concedem bens como dons, mas, contraditoriamen-te, as mulheres eram vistas como avarentas e cobiço-sas. Além disso, apesar de ambos fazerem parte doplano divino, da harmonia desejada por Deus, do amorque ligava cada ser humano entre si, as mulheres po-deriam ter status jurídico tido como inferior aos ho-mens. De forma semelhante, podiam ser proprietáriasde bens, mas prioritariamente a conservação, adminis-tração e recepção dos frutos das propriedades conce-didas seriam funções assumidas pelo marido. No casodas arras, as mulheres não foram excluídas em absolu-to, porém, evidentemente, vinham em segundo plano.
Na análise histórica, é muito importante declararque há outras formas de relações de gênero que nospermitem não domesticá-las, porém também não po-demos deixar de lado os vínculos considerados biná-rios vistos e revistos nas suas configurações medie-vais. Afinal, se, por um lado, existem discursos quevalorizam o casal, o consentimento mútuo e a aparên-cia de acordos jurídicos complementares sem a influ-ência da parentela, há, por outro, assimetria, “assu-jeitamento” e subordinação do feminino ao masculino,e também aproximações com outras desigualdades so-ciais.
Dizer que a Idade Média produziu discursos misó-ginos já se tornou um tópos historiográfico, embora con-tinue sendo interessante saber como as naturalizaçõessão construídas, mantidas e legitimadas. No séculoXIII, o pensamento misógino tornou-se mais comple-xo. Para as fontes as quais nos dedicamos, esse pensa-mento ganhou um viés mais “científico” e fundamen-tado dentro de parâmetros culturais e teológico-jurí-dicos que mesclaram os discursos bíblicos, patrísticos,romano-canônicos, feudo-contratuais, agostinianos,aristotélicos, eclesiásticos e monárquicos. Tudo issoestava envolvido por uma aura de dignidade e autori-
O matrimônio nas partigas de Afonso X e Estudos de Gênero: novas perspectivas pós-estruturalistas
194 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
dade que servia tanto às universalizações, que diluíaas mulheres na categoria de “homem”, como tambémàs desigualdades e distinções do feminino no planodas representações sociais.9090 Gostaria muito de agradecer as
professoras Carla Pereira Lima eValéria Fernandes da Silva porterem lido e sugerido diversasmodificações nas versões origi-nais desse artigo. Os debatescom elas têm servido de refe-rência para os meus estudossobre as diretrizes de gênero epara a crítica feminista do cotidi-ano.
D O S S I ÊD O S S I ÊD O S S I ÊD O S S I ÊD O S S I Ê
Gênero e L i t e ra tu raGênero e L i t e ra tu raGênero e L i t e ra tu raGênero e L i t e ra tu raGênero e L i t e ra tu ra
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 197
A Nova Literatura Brasileira:A Nova Literatura Brasileira:A Nova Literatura Brasileira:A Nova Literatura Brasileira:A Nova Literatura Brasileira:personagem masculina, escritura de mulherpersonagem masculina, escritura de mulherpersonagem masculina, escritura de mulherpersonagem masculina, escritura de mulherpersonagem masculina, escritura de mulher*
Eliane Ferreira de Cerqueira Lima
Resumo: Esta análise crítica da antologia organizada porLuiz Ruffato, 25 mulheres que estão fazendo a nova litera-tura brasileira, examinam a construção de uma persona-gem masculina sob um olhar artístico de uma mulher, ex-plicitamente presente ou de forma encoberta, de seu perfile dos vários níveis de relacionamentos estabelecidos entreela e as personagens femininas.
Palavras-chave: Antologia, Masculino, Perfil, Relaciona-mentos, Mulheres.
Abstract: In this critical analysis of an anthology organizedby Luiz Ruffato, 25 important women of the new Brazilianliterature, examine a masculine character’s constructionunder an artistic view point of a woman, which is sometimesexplicit and other times not. Profiles and several levels ofrelationships that are established between the woman andthe characters are as well examined.
Keywords: Anthology, Masculine, Profile, Relationships,Women.
O presente artigo é uma leitura atenta da coletânea25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, or-
Eliane Ferreira de Cerqueira Lima. Doutoranda em Literatura Brasileira pelaUFRJ, ligada ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Litera-tura (NIELM) da mesma universidade.
* Texto apresentado como con-clusão no curso regular (Dou-torado) da Professora Douto-ra Rosa Gens — “Narrativasem exame: ficção brasileiracontemporânea” — na UFRJ,no primeiro semestre de 2005.
A nova literatura brasileira: personagem masculina, escritura de mulher
198 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
ganização de Luiz Ruffato, especificamente, no queela pode representar de um olhar artístico de mulhercomo delineador de um perfil masculino.
O tema foi sugerido, indiretamente, pelo comentá-rio de Regina Dalcastagnè1, aposto nas contracapas dareferida coletânea, quanto ao fato de que “ainda sepossa distinguir um tom mais confessional” e “o pre-domínio de protagonistas mulheres, como se falar doshomens não lhes coubesse”. Onze contos desta cole-tânea são enunciados em primeira pessoa, com umnarrador feminino e outros seis têm, ainda, a mulhercomo centro de seu interesse direto. Esta análise seconstitui, então, em prova da contestação formuladapela estudiosa ao final de sua afirmativa, demonstran-do como, em quase todos os textos, de forma clara outangencial, esses homens narrativos são “falados” porsuas criadoras, sem deixar, entretanto, de fixarem aspróprias mulheres como objetos de seu interesse.
Deve-se salientar, todavia, que não há nenhumapresunção de que esse perfil seja uma verdade antro-pológica para as escritoras aqui analisadas e que semantém sempre o entendimento de que ficção é umalicença para vôos imaginativos, sem compromisso es-trito com a crença ou a verdade pessoal do escritor.Escrever é empreender uma viagem dentro de umanave chamada fantasia.
A análise se inicia com uma visão mais superficiale abrangente dessa personagem masculina em seusaspectos comuns, mas parte, aos poucos, para umaprofundamento desse perfil e do relacionamento fe-minino-masculino que surge desse exame: há contosem que a presença do homem é encoberta parcial ouinteiramente ou em que o homossexualismo femininoou masculino inviabilizam a contraparte sexual; há con-tos em que a voz masculina assume a narrativa e seautodefine ou aqueles em que o embate dos gênerosapresenta-se sob uma alomórfica relação mãe-filho.
Em tramas dramáticas ou francamente humorísti-cas, o homem, de uma forma mais geral, é caracteriza-
1 Professora do Dep. de TeoriaLiterária e Literaturas da Uni-versidade de Brasília.
Eliane Ferreira de Cerqueira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 199
do negativamente: indeciso e sensível a ponto de cho-rar, como nos contos “Psycho” e “Uma alegria”; infantil— nomeadamente “um moleque um menino”, no cita-do anteriormente —; meio maníaco e superficial, comoem “Flor roxa”; capaz do estupro e da tortura, comoem “Mundos paralelos”; alcoólatra, como se vê em “D.T.”;inseguro, mal-humorado e solitário, como se apresentaem “Nós, os excêntricos idiotas”; “tristonho”, “enfado-nho”, “entediado”, “bobão”, como o príncipe que sevê em “Silver Tape”, ou simplesmente incluído no roldos “homens idiotas”, enunciados em “Bondade”, até aextrema caracterização das personagens de “O sétimomês”: o “hipocondríaco”, “macho predador”, “homemhipersentitivo” (sic), “dado a rompantes histéricos tãofemininos”, no caso de Fred, ou com “surto psicótico”,caso de Otto, que “Parecia mais uma mulher tendosurto de parto, só que era um homem...”. E é de talconto o trecho hiperbólico destacado a seguir, o qual,se por um viés gozador, radicaliza uma visão feminina,mesmo levada em consideração a intenção satírica,pode ser significativo do discurso geral com que essehomem é surpreendido nos textos: “...se viraria contraela como um bicho-papão de pesadelo infantil, umahidra de sete cabeças, um crocodilo esfomeado. E oréptil abriria a sua tremenda bocarra esverdeada, cheiade algas e dentes pontiagudos, à cata de carne jovem ede sangue, e a comeria viva.”(p.102).
Descer a algumas considerações mais detalhadas,no entanto, é possível em vários contos.
Pode-se começar pelo estudo de dois textos que,apesar de não contrariarem o perfil genérico do ho-mem esboçado em toda a coletânea, são aqui referidosde forma particular por anexarem uma presença femi-nina com uma função especial no relacionamento degênero.
Se no conto “Um oco e um Vazio”, de Cíntia Mosco-vich, a narrativa, aparentemente, delimitava, através daprotagonista, a figura feminina como dependente, sub-missa, em última análise, inferior, na economia signifi-
A nova literatura brasileira: personagem masculina, escritura de mulher
200 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
cativa do texto, resgatada por uma aprendizagem quese visualiza como sexual, mas que amplia suas frontei-ras, a posição se clarifica e, ao final, se inverte confor-me se depreende por “Cobriu-o com o lençol, prote-gendo-o”, posição que se resume, de forma conclusi-va, naquele “piedosa” final (p.273).
Em “Uma alegria”, de Cláudia Lage, a protagonista,mesmo em uma idade que a afasta, extremamente, notempo, da personagem do conto anteriormente aludi-do, movimenta-se, narrativamente, dentro da mesmaposição hierárquica de gênero, o que põe em relevo aabsorção, no universo representativo da literatura, dojá tão discutido papel da mulher na sociedade. Masaqui a aprendizagem sexual se extrema, porque alémde ser empreendida de forma solitária pela própriamulher, revela um homem inseguro, atônito, infantil,que desequilibrado e destituído de seu pedestalapolíneo, é conduzido, já agora, pela experiência femi-nina, embora de forma não intencional, para uma posi-ção de eqüidade que, ao contrário do que se poderiasupor, os faz atingir, juntos, finalmente, a felicidade.
Caminhando na sondagem da figura do homem,pode-se localizar alguns contos em que tal presença épraticamente eclipsada, como o texto de Nilza Rezende,“Por acaso”: essa figura aparece pulverizada na idéiagenérica do “amor”, do “casamento”, no aproveita-mento da trilogia bíblica, resgatada para “pai, mãe efilho” ou, aprisionada em um interlocutor mudo, semopinião ou reação, possivelmente, apenas um elemen-to do fluxo de pensamento que domina o conto, vê-se, praticamente, desmaterializada.
No conto “Mãe, o cacete”, de Ivana Arruda Leite, aimportância do masculino, pelo menos em seu papelparental, se estabelece na pergunta derradeira — “—E pai... o que é um pai pra você?” —, cuja respostareveladora imaginada pelo leitor deve preencher umnão-discurso, que, como vazio narrativo, magistralmen-te, termina por se configurar, então, em um recursoenunciativo ficcional judicativo, o que, por sua vez,
Eliane Ferreira de Cerqueira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 201
suaviza e libera a figura materna de todas as suas qua-lidades negativas enumeradas... mas presentes, afinal.
No conto “Desalento”, de Tatiana Salem Levy, identi-fica-se uma figura de pai, absolutamente sem qualifi-cações, par de um relacionamento desfeito, cujo únicoindício é aquele “mulher do pai” (p.216), a respeito deuma fotografia, sem registro de emoção ou sentimentoda protagonista, impossibilitados, em última análise,pela presença colossal da dor maior da perda do filho, aqual, como uma avalanche, preenche todos os espaços.
O extremar desse afunilamento do masculino setraduz no sétimo conto, cujo sugestivo título “Gertrudese seu homem”, de Augusta Faro, profetizaria a quebra deuma tendência geral do coletivo dos contos, induzin-do o leitor a conjeturas de um homem perfeito em umamor perfeito, sedução e mistério mantidos na tramatextual e ampliados até suas personagens. Urdida pelapersonagem principal, dominando o imaginário ficcionalcomo símbolo de homem ideal, desejado por todas asmulheres e odiado pelos homens, tal personagem mas-culina revela-se, ao final, uma impossibilidade, um lo-gro, um desejo irrealizável, como já se vinha pressen-tindo pelas “amarguras” da protagonista, enfaticamen-te reiteradas e seu “olhar cor de chuva, de tormento,de desvario e de profunda solidão”, metáfora de enor-me beleza plástica e poética. No entendimento destaanálise, deve ser entendida como a alegoria desse mas-culino, um juízo de valor simbolizado na ação dasmulheres que, ao despedaçarem o boneco/amante,despedaçam a fraude e o sonho, juízo de valor queperpassa muitos outros dos vinte quatro contos.
São poucos os textos em que a fixação dos caracte-res da personagem masculina é feita sob uma óticarelaxada e benevolente. Dessas, podem ser destaca-das as da família de Emília em “O sétimo mês” — “Seupai e irmãos eram homens de voz mansa, calmíssimos,carinhosos, homens que nunca, nunca gritavam, deótima índole.”(p.97) — e o auto-resgatado Fred. Se aofinal do conto, este se transforma no “transbordante
A nova literatura brasileira: personagem masculina, escritura de mulher
202 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
de carinho”, “Mais macho do que nunca, bicho-ho-mem, parceiro” (p.113), no princípio é caracterizadocomo “dado a achaques meramente imaginários”, “ho-mem-criança que mamou no seio mau”, “sátiro letra-do”, descrito sempre em uma linguagem deliciosamenteexagerada, prenhe de graça, recurso, aliás, que enca-minha todo o texto e mantém o leitor como refém deum tom espirituoso, que submete até o ar de tragédia,estrategicamente tocado em alguns momentos para lheservir de reforço, mas num humor que jamais resvalapara o puramente cômico, ao contrário, realiza-se den-tro de uma linguagem bastante cuidada, cheia de recur-sos artísticos e, compondo um todo poético, cujo pla-no inicial, cuidadosamente desenvolvido, revela e uti-liza, com maestria, uma cultura humanística eficiente-mente aproveitada no texto.
É importante ser citado o Ângelo, de sugestivonome, em “A um passo”, da escritora Rosa AmandaStrauss. Inserindo-se na atmosfera de quase irrealidadeem que se movimenta a personagem central, que temcomo cenário, paradoxalmente, uma realidade bastanteconcreta visual e socialmente falando, a personagemmasculina compõe com aquela a intangibilidade de umaorigem e de um futuro, pleno de ambigüidade — la-drão e doce parceiro, latino e europeu, macho e filho,homem e mulher.
Também deve ser apreciado o conto “O morro dachuva e da bruma”, o qual, imbuído de um clima de “paze amor” dos anos setenta, motivo principal da intriga,traz duas personagens masculinas. O primeiro, um paide empréstimo, que vai além de suas funções pater-nas, dilatando-as em mãe e guru: “Era velho, mono-cromático, de olhos acastanhados como toda a sua pele,cabelos escuros onde serpenteavam fios brancos ehonrados, de voz mansa e fala sábia.” (p.331-332) eque ensinou à protagonista “a calma de viver um diade cada vez”. E é, ainda, o depoimento da narradoraque restaura a positividade da presença viril subverti-da nas narrativas estudadas: “O Destino foi sábio ao
Eliane Ferreira de Cerqueira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 203
dar-me um pai e não uma mãe.” (p.333). Completandoo tom de apaziguamento com a figura masculina doconto, o qual, talvez, por isso, encerre a seleção, surgeo Poeta, por quem a personagem nuclear se apaixona,figura de artista, com seu riso manso e seu “rosto deJesus”, elevado, então, o homem a uma posição umpouco acima dos mortais, em uma zona meio mística.
Há, ainda, um outro aproveitamento da persona-gem masculina nesta seleção de contos, introduzidade uma forma oblíqua, por um viés de discussão bas-tante atual, presa a criação literária a seu tempo, ten-dência pós-moderna: o homossexualismo.
A observação do elemento masculino no conto “Nocéu, com diamantes” — Luci Collin — leva à percepçãode uma indeterminação ou anulação de limites preesta-belecidos, recurso utilizado de todas as formas possí-veis, inclusive na própria estrutura do texto ou na de-finição do gênero literário. Essa indecisão, propositalembora, se faz notar, indiretamente, na qualificaçãodo vocábulo “personagem” na pseudo-nota 3 (pé-de-página, p.70): o “dois ou mais gêneros”, inviável gra-maticalmente em português, quebra, desse modo, oencaminhamento lógico pelo qual a leitura estava sen-do conduzida, desviando-o para a única noção signifi-cativa possível, a sociocultural. Nos diversos segmen-tos justapostos que compõem o texto da escritora, é aadmissão desses “dois ou mais” que vai se realizando,desde o “talvez eu seja apenas um rapaz” (p.72) e acitação do travesti famoso Luizelena Trintade até o“eu” do segmento denominado “Tudo mentira”, quecobiça a “mulher do próximo e do antecedente”, mastambém “o marido da minha melhor amiga” ou “a ami-ga do meu melhor marido”, transitando, sem cerimô-nia, entre as várias alternativas de gêneros.
Despreocupadamente, como em “Bondade”, de Si-mone Campos — “Aqui e ali, soltava pistas da minhaadmiração pelas meninas.” (p.32) — ou envolta no cul-pado sentimento místico de “Madrugada”, de HeloísaSeixas, que traz do conto de horror a expectativa, en-
A nova literatura brasileira: personagem masculina, escritura de mulher
204 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
volvendo o conto de outra categoria na mesma atmos-fera de medo, a assunção, pela personagem feminina,de uma preferência amorosa pelo mesmo sexo descar-ta o relacionamento com o oposto.
São as próprias palavras da protagonista do segun-do conto que servem como testemunho da superficia-lidade dessa relação anterior:
“Tinha tido homens, muitos, na minha vida errante, solitária.Mas sempre passei por eles como um navio em águas profundas,flutuando ao largo, incólume diante dos rochedos espalhados aolongo da costa. Nunca um deles me rasgou o cascou, me fezsoçobrar”. (p.290).
Dois outros contos do livro ora abordado utilizam,igualmente, a temática homossexual em seus enredos,já agora no que diz respeito aos homens. Um, de for-ma colateral, ao caracterizar, descontraidamente e comcerta leveza humorística, o professor de inglês Glauco,personagem secundária, em “Um elefante” — Állex Leilla— e o outro, colocando o foco em um dramático en-redo de amor, em “Considerações sobre o tempo” — AdrianaLunardi. O tratamento dado ao homossexualismo mas-culino, nos dois textos, mantém sempre uma posiçãobastante neutra, sem emissão de julgamentos e, nosegundo texto, aproveita o tema para compor umacomovente história de amor, que, se termina com umfinal não feliz, se deve, estritamente, a um descom-passo de relacionamento, que se insere em qualquerconvivência humana. Mas, ao optar pela temática refe-rida, o segundo conto varre, inteiramente, a relaçãoamorosa com o feminino da construção narrativa.
Outro aspecto bastante relevante é o da enunciaçãofeita em primeira pessoa, com um narrador assumi-damente masculino. A estratégia, como um discursoque autocaracterizaria esse sujeito, transmite a valida-de da verossimilhança e camufla, na verdade, uma au-toria de mulher e um posicionamento crítico desta emrelação ao sexo oposto.
Eliane Ferreira de Cerqueira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 205
Se em “Um elefante”, de Állex Leilla, o narrador,inseguro, solitário, se movimenta “dentro de um marimaginário (p.201), traduzida a avaliação da mulheramada sobre ele no trecho “Plástico tão barato, teuolhar me empurrando pro fundo do esgoto” (p.201),em “Glória”, de Guiomar de Grammont, um escritor,que confessa que “Não conseguia deixar de ser garo-to” (p. 149) e classifica a si mesmo como “azarão” e“filho da puta” (p.145), sob um discurso posto emdúvida por toda a narrativa, apresenta-se como crédu-lo, manipulável e, profissionalmente, uma fraude.
Em “Minha flor”, o discurso em primeira pessoa,enfaticamente grosseiro, machista, acaba se constitu-indo em um discurso polifônico, dialogal, em que apalavra feminina chega ao leitor através de um filtromasculino. Através do discurso direto, essa voz carac-teriza o masculino, o feminino e a própria enunciação.
O conto “Pão físico” se configura em dois textosanteriormente postos, para culminar, de modo signifi-cativo, em um terceiro, sob a forma de uma carta deum sujeito masculino, de profunda emotividade, pelasrelações estabelecidas com uma irmã, onde se perce-be uma submissa idolatria, de amor incestuoso, de mágoae rancor, que acentua um sentimento agudo de desva-lorização de si mesmo: “... no fundo soube-me peque-no como sou, com a arrogância dos homens peque-nos.” (p.64).
Em grandes linhas, estes são os dados sobre per-sonagens que, pontilhados aqui e ali, compõem umretrato descontínuo do masculino.
Mas há, além desses, um fato que pode ser obser-vado e vale ser comentado: a oblíqua vinculação ma-ternal, embora variante em muitos aspectos, que seestabelece em alguns contos com uma personagemmasculina adulta.
Em “Considerações sobre o tempo”, sobre uma presen-ça narrativa que “era fundamentalmente um meninoque gostava de desenhar.” e que “Preservara, não seia que custo, a fome da criança diante de folhas de
A nova literatura brasileira: personagem masculina, escritura de mulher
206 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
papel e lápis de cor.” (p.232), a ligação com a mãe éestabelecida, significativamente, como a origem, nãosó da vida biológica do filho, mas também, de formarelevante para o enredo, como metáfora de um cordãoumbilical que se realiza em arte: “Um novelo de lã,tirado do cesto da mãe, eis o mistério de sua arte. Oformato, o colorido e o enredo de fios sendo tecidosaté virar outra coisa nas agulhas que a mãe regia eramo substrato lírico de Guilherme, sua infância perdida,seu rosebud.” (p.232).
Em “Um elefante”, a figura da mãe, citada duas ve-zes, acaba sendo quase como uma marca, como se vêem “As violetas, as calancóis, todas as flores que en-feitam meu pequeno espaço são coisas que minha mãedeixou em mim e nunca saem” (p.182). É necessáriose observar que, em ambos os textos, não há umaefetivação de relacionamento amoroso posterior, queinterfira nesse contato primeiro com a mulher: o ape-nas projeto de ligação afetiva no segundo — “... umelefante que ama estrelas improváveis, ilúcidas, intan-gíveis” (p.187) — e completa anulação no primeiro.
Se nos dois textos citados anteriormente a figuragenitora é explicitamente trazida para a tessitura narra-tiva, “Pão físico” pode ser estudado como o primeirodentro de um grupo de contos em que essa figura édissimulada e disseminada em personagens femininasde naturezas relacionais outras no que se refere à per-sonagem masculina. O protagonista, em carta à irmã,confessa “... tentar sem nenhum heroísmo seguir oseu lema” (p.56), o que pode ser equiparado a aquelas“coisas que minha mãe deixou em mim e nunca saem”,mencionado no parágrafo anterior, abrindo um lequemaior de significados para a ligação fraterna no contoe precisando-lhe o valor, além dos já identificadosanteriormente neste trabalho, cuja origem é,incipientemente, pressagiada nos trechos “condição deórfãos” ou na “falta do carinho da mãe que não conhe-cêramos...” (p.60). E tal desvirtuado sentimento come-ça, realmente, a se definir em “Sua figura me inspira-
Eliane Ferreira de Cerqueira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 207
va, falava de você num tom mítico, você era plena, soldo meio-dia e lua cheia.” (p.61). Contudo é o trecho“Criatura mítica, você, espécie de Deméter, majesto-sa...” (p.62) que, finalmente, interpreta um dos aspec-tos da verdadeira disposição afetiva de Eleno porCarminha.
A recorrência do ângulo mítico-materno da mu-lher, no texto anterior traduzido no mito grego, estásempre presente no imaginário humano, porque agorasurge modernizado e metamorfoseado em entidadeafro-brasileira, em “A um passo” e vai sendo lançado,discursivamente, aos poucos: “Mas que sabia que umamulher iria salvá-lo” (p.307). “Sempre que alguém tentame matar, aparece uma mulher e me salva, diz ele.Então, vejo a guia de Iemanjá no pescoço dele e digoque vamos ver o mar” (p.307). Contudo a protagonis-ta, mesmo confusa em seu trajeto de desmemoriada,compreende o processo, junto com o leitor, e verbaliza:“Não sou sua mãe” (p.307). Como nos demais contosora avaliados, esse sentimento é envolvido em emo-ções erótico-amorosas.
A personagem Lúcia de “O sétimo mês” é uma dasresponsáveis mais fortes pelo emaranhar de sentimen-tos, social e culturalmente considerados de espéciesdiferentes, que se ilude completamente ao se apaixo-nar por um homem que ela acredita “tão forte e tãofrágil, tão sem defesas” (p.115), transformando-o, as-sim, em um menino de sua mãe: “Como queria estrei-tar contra seus seios maternais aquela cabeça de ho-mem...” (p.115-116).
O conto “Mãe, o cacete”, de Ivana Arruda Leite, ex-plicitamente, problematiza e subverte o senso comumsobre a questão materna — “Mãe é sinônimo de atra-so, degradação. Mãe deforma a cabeça da gente.” (p.205)—, no que diz respeito à protagonista. Mas é no co-mentário capcioso rejeitado pela personagem central— “Praticamente uma mãe” — para o enumerar dascaracterísticas daquele binômio mulher-homemconstruído no texto — “— Sou a mulher que dorme
A nova literatura brasileira: personagem masculina, escritura de mulher
208 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
com ele, que faz a comida dele, que cuida da roupadele, da casa dele.”(p.208) —, que a sacralização ma-terna é ironicamente desconstruída.
Para fechar este último aspecto do relacionamentode que tratam os parágrafos anteriores, deve-se exami-nar no conto “D.T.”, o vínculo que prende a infelizmenina Francilene a seu pai, vínculo que ultrapassa oamor filial, principalmente se comparado às outras duasfilhas que, mais velhas, porém amedrontadas, abando-nam a casa. Contrariando toda a lógica de uma meninade sete anos que deveria ter ido com as irmãs, essevínculo a mantém em casa, assumindo as tarefas damãe, a qual, como companheira, não tolera o sofri-mento. Suportando a fome, a solidão, lavando sua rou-pa, fazendo sua comida, protegendo o pai, velandopor ele, ou seja, invertendo as posições, a pequenapersonagem apresenta cuidados de mãe, diante de umpai cujo discurso ignora sua dedicação e presença in-teiramente, em uma indiferença de filho ingrato. Maisdo que os outros, o conto oferece ao leitor uma inter-pretação artística do comportamento viril diante dapobreza e do desamparo, mas, sobretudo, de uma per-sonagem feminina que realiza, plenamente, no presen-te, aquilo que deveria ser apenas uma promessa dofuturo.
Sem juízo de valor quanto à qualidade dos textos,este exame da seleção de contos, se prendeu à verifi-cação da construção de uma personagem masculinasob a ótica ficcional feminina.
Oscilando, em todas as possibilidades gradativas,entre o tom dramático e o francamente cômico: assu-mindo inteiramente a ação do homem na ficção — oamante desejável, o companheiro amigo, o machãocastrador, o estuprador ou o assassino — ou apagan-do-o do embate narrativo, sob as mais variadas estra-tégias — ausência ou homossexualismo — ou, ainda,revelando uma conexão afetiva que traz embutida ametamorfose do sentimento materno-filial, os contosque o silenciam, falam, ainda, do homem, mesmo quan-
Eliane Ferreira de Cerqueira Lima
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 209
do, como bem disse Regina Dalcastagnè, o tomdiscursivo é confessional e investigativo da condiçãoda mulher.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
ISER, Wolfgang. Os atos de fingir ou O que é fictício no textoficcional. In LIMA, Luiz Costa (Sel., introd. e ver. técnica.), Teoriada literatura em suas fontes. 2 ed. (revista e ampliada). Rio de Janeiro:Francisco Alves, 1983. 2 v. p. 384-416.MEDEIROS, João Bosco.Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. SãoPaulo: Atlas, 1991.RUFFATO, Luiz (org.). 25 mulheres que estão fazendo a nova literaturabrasileira. Rio de janeiro: Record, 2004.SILVA, Rebeca Peixoto da et al. Redação técnica. Porto Alegre: For-mação, 1974.
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 211
Luizinha e Vidinha: protótipos femininosLuizinha e Vidinha: protótipos femininosLuizinha e Vidinha: protótipos femininosLuizinha e Vidinha: protótipos femininosLuizinha e Vidinha: protótipos femininosna literatura brasileira do séc. XIXna literatura brasileira do séc. XIXna literatura brasileira do séc. XIXna literatura brasileira do séc. XIXna literatura brasileira do séc. XIX
Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida
Resumo: Este estudo tem o propósito de examinar a pos-tura feminina no século XIX na obra literária Memórias deum sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, etem como referência o comportamento, respectivamente, pas-sivo e transgressivo, das personagens Luisinha e Vidinha.
Palavras-Chave: Mulher, Transgressão, Subordinação,Casamento, Patriarcalismo.
Abstract: This study has the purpose to examine feminineprofile in the 19th century in the literary work ‘Memorias deum Sargento de Milícias’ by Manuel Antônio de Almeida,and has as reference behavior, respectively, passiveness andtransgression, of the characters ‘Luisinha’ and ‘Vidinha’.
Keywords: Feminine, Transgression, Literary work.
Entre meninas e meninos, o corpo é, primeiramente, a irradia-ção de uma subjetividade, o instrumento que efetua a compreen-são do mundo: é através dos olhos, das mãos e não das partessexuais que apreendem o universo.1
A chegada dos portugueses ao Novo Mundo trou-xe consigo tradições e formas particulares de uma or-
Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida. Mestranda em LiteraturaBrasileira pela UFMG. Bolsista da CAPES.
1 BEAUVOIR, Simone de. Osegundo sexo. 2 A experiência vi-vida. Trad. Sérgio Milliet. Riode Janeiro: Nova Fronteira,1980, p. 9.
Luisinha e Vidinha: protótipos femininos na literatura brasileira do século XIX
212 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
ganização social. Essa organização fazia-se, especial-mente, no campo da organização familiar e do contro-le da sexualidade.
As relações sociais e amorosas eram regulamenta-das pela orientação ética, pela catequese e pela educa-ção espiritual, além de exercer severa vigilânciadoutrinal e de costumes pelo sermão dominical, pelaconfissão e pela ação da Santa Inquisição, que poraqui passou entre os séculos XVI e XVIII, explicaMary Del Priore2. A mentalidade patriarcal, de superi-oridade do homem sobre a mulher, foi intensificadapela ação da igreja, que explorou as relações de domi-nação entre os sexos. Essa relação de poder marcou oconvívio familiar e condenou... “a esposa a ser umaescrava doméstica exemplarmente obediente e sub-missa. Sua existência justificava-se por cuidar da casa,cozinhar, lavar a roupa e servir ao chefe da famíliacom seu sexo”.3
Várias particularidades havia nas relações familia-res da Colônia, acrescenta a historiadora. O hibridismocultural, a vida rural da maioria da população, a ausên-cia de escolas e de bibliotecas, os valores e hábitosdiversos de famílias mestiças agirão sobre os afetos eamores. A falta de privacidade e a precariedade docotidiano em que vizinhanças de parede-meia, casasdos senhores com muitos agregados, escravos e pa-rentes, enfim, uma real falta de liberdade. Mesmo as-sim, a metrópole incentivava o aumento da populaçãoe o abrandamento das regras que dificultassem o casa-mento, delegando regras civis ou religiosas que con-trolassem o instinto sexual.
“O instinto sexual não controlado pelas regras do casamento setransformava em luxúria e paixão nas páginas de moralistas.Ou em doença grave, nas teorias médicas da época. Ao ordenaras práticas sexuais pelos campos do certo ou errado, do lícito edo ilícito, a Igreja procurava controlar justamente o desejo. E aluta pela extinção ou domesticação do amor-paixão vem narabeira dessa onda”.4
2 PRIORE, Mary Del. Históriado amor no Brasil. São Paulo:Contexto, 2005.
3 Idem, Ibidem, p. 22.
4 Ibidem, p. 23.
Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 213
Na Colônia, o casamento de razão era superior aocasamento de emoção. Principalmente para as mulhe-res, o casamento era uma tarefa a ser suportada. Esse,dentre outros motivos, fazia com que a maioria da po-pulação vivesse em concubinato ou em relações con-sensuais, não legitimadas pela Igreja. É certo que, nes-sa época, apenas membros de classes subalternas ti-nham liberdade para escolher seus companheiros. Ofluido amoroso nessa camada da população era inten-so, isto é, trocava-se facilmente de amores. Essa espon-taneidade era decorrente da ausência de interessespolíticos e econômicos a serem preservados. Foramnessas circunstâncias que se formou a família brasilei-ra, pela presença masculina no campo do confronto eda vingança e a mulher moldada para a passividade esubserviência.
No transcorrer dos anos, vários acontecimentosdessa sociedade patriarcal tradicional foram reprodu-zidos, escritos e pintados através da arte. Em meadosdo século XIX, sob o correr da pena de Manuel An-tônio de Almeida, é escrita a obra Memórias de um sar-gento de milícias. Essa narrativa, embora venha a públicoem 1852, refere-se aos primeiros anos do mesmo sé-culo, e nos revela, com sentimento de realidade, comoeram estabelecidas as relações de gênero no Rio deJaneiro do dado período. A organização urbana e fami-liar precária dessa sociedade carioca no tempo do reiD. João VI, é retratada através dos amancebamentos,concubinatos, malandragens, favores, transgressões epela inversão dos comportamentos femininos e mas-culinos no período patriarcal.
Numa sociedade sob a hegemonia do patriarcalismo,a distinção de papéis sociais é derivada, principalmen-te, do sexo. A educação familiar e a ação da Igrejafizeram com que homens e mulheres se distanciasseme exercessem funções definidas. Assim, desde crian-ças, homens e mulheres vão se habituando ao que é“certo ou errado” para cada sexo. Sendo menino, erapreciso buscar sua independência, e não expressar tris-
Luisinha e Vidinha: protótipos femininos na literatura brasileira do século XIX
214 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
teza através do choro, pois poderia ser compreendidocomo sinal de fraqueza. Para as meninas, a afetividadee a doçura eram imprescindíveis, pois simbolizavam aobediência. Devido a esse comportamento, na vidaadulta, a mulher tende a passar da tutela do pai para ado marido. A transgressão dessa obediência, comentaMaria Beatriz Nader, pode acarretar em sentimento deculpa para algumas mulheres5.
Diferentemente do que ocorreu com as meninas, omenino era estimulado a sair do ambiente doméstico, apular, a se machucar e se envolver com outros meni-nos a fim de criar mais autonomia e independência. Jáa menina, era orientada a seguir o papel da mãe nosafazeres domésticos, brincar de boneca e de casinha,preparando-se para a vida adulta de doméstica, esposae mãe. Nesse contexto, o homem passaria a ser defini-do pela autonomia e pela capacidade de produção, en-quanto a mulher teria como características fundamen-tais, o acolhimento da família e a maternidade. Ocu-pando-se do marido e dos filhos com proteção, fideli-dade, renúncia, cuidados com o futuro social, afetivi-dade pessoal, carinho e entendimento, a mulher esta-ria representando um modelo de sociedade centradona submissão feminina.
Contudo, o que a recente historiografia tem de-monstrado é que, nem sempre, a mulher e o homemocuparam esses papéis predefinidos. Interessa-nos res-saltar que, desde a Antigüidade, conhecemos relatosde resistências femininas a essas condições de subor-dinação e acolhimento ao sexo masculino. Conformeexposto, centramos nossa atenção nas personagensfemininas Luisinha e Vidinha, criações de Manuel An-tônio de Almeida, presentes na obra Memórias de umsargento de milícias para, sucintamente, examinarmos apostura feminina nos primeiros anos do século XIX.Como constatou Ivete Walty, nessa obra, é possívelidentificar “... duas faces das mulheres daquele tem-po: a de vida livre e a de comportamento recatado”6.Representadas, respectivamente, neste estudo, por
5 NADER, Maria Beatriz. Mu-lher : do destino biológico aodestino social. 2. ed. Vitória:Edufes, 2001.
6 WALTY, Ivete. Implicaçõessociais do elemento picaresconas Memórias de um sargen-to de milícias. Belo Horizon-te: FALE, 1980, p. 56.
Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 215
Vidinha e Luisinha, convém conferir a análise do críti-co Antônio Cândido para essa representação femininana obra:
“Luisinha e Vidinha constituem um par admiravelmente simé-trico. A primeira, no plano da ordem, é a mocinha burguesacom quem não há relação viável fora do casamento, pois ela trazconsigo herança, parentela, posição e deveres. Vidinha, no planoda desordem, é a mulher que se pode apenas amar, sem casa-mento nem deveres, porque nada conduz além da sua graça e dasua curiosa família sem obrigação nem sanção, onde todos searrumam mais ou menos conforme os pendores do instinto e doprazer”.7
É perceptível, na exposição do crítico, essa reite-ração da presença marcante de dois tipos de mulheresda época. Uma tem deveres a cumprir e satisfações adar à sociedade, enquanto à outra tudo é permitido,pois não faz parte de uma sociedade organizada, massim, simboliza o descompromisso, a ilegalidade e ailegitimidade.
Luisinha era uma donzela “insossa, feia e esquisi-ta”, que nem conseguiu entrar para o rol das mais co-nhecidas mocinhas românticas, como constata MassaudMoisés8. Segundo observações do próprio narrador:
“... era alta, magra, pálida; andava com o queixo enterrado nopeito, trazia as pálpebras sempre baixas e olhava a furto; tinhaos braços finos e compridos; o cabelo, cortado, dava-lhe apenasaté o pescoço, e como andava mal penteada e trazia a cabeçasempre baixa, uma grande porção lhe caía sobre a testa e olhos,como uma viseira”.9
Através da fala do narrador, podemos deduzir, pe-las características físicas da personagem, que essa te-ria a incapacidade de reivindicação de seus direitos, asubmissão e o medo de olhar as pessoas e as coisas defrente a fim de enfrentar seus problemas. Sendo esseprotótipo de mulher burguesa, submissa, paciente e
7 CÂNDIDO, Antônio. Dialéti-ca da malandragem. In: O dis-curso e a cidade. São Paulo: DuasCidades, 1993, p. 40.
8 MOISÉS, Massaud. História daliteratura brasileira. São Paulo:Cultrix, 1985.
9 ALMEIDA, Manuel Antôniode. Memórias de um sargento demilícias. 36. ed. Rio de Janeiro,1999, p. 53.
Luisinha e Vidinha: protótipos femininos na literatura brasileira do século XIX
216 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
10 ALMEIDA, op. cit., p. 85.
delicada, Luisinha casa-se com José Manuel para agra-dar sua tia, Dona Maria. Como era costume do tempo,o casamento entre duas pessoas de classe média ren-dia alguns interesses, daí a intenção de Dona Maria nocasamento, pois o noivo era bem apatacado. Dessaforma, a união legítima dos dois agradou à Tia, “...porque enfim, segundo alegava, José Manuel era umhomem sisudo e de juízo, tinha corrido mundo, e nãoera nenhuma criançola (...) que não fosse capaz detratar bem de uma moça10.
No entanto, a união não ocorreu de acordo com ossonhos de Dona Maria. Conforme observação deMassaud Moisés, o casamento de Luisinha e José Ma-nuel representa o modelo de casamentos à moda ro-mântica. Legítimo, porém dotado de interesses e insen-sibilidades. Como destaca o próprio narrador da obraMemórias de um sargento de milícias, após o casamento:
“Nunca mais Luisinha vira o ar da rua senão às furtadelas,pelas frestas da rótula: então chorava ela aquela liberdade deque gozava outrora; aqueles passeios e aquelas palestras à portaem noite de luar; aqueles domingos de missa na Sé, ao lado desua tia com o seu rancho de crioulinhas atrás; as visitas querecebiam, e o Leonardo de quem tinha saudades, e tudo aquiloenfim a que não dava nesse tempo muito apreço, mas que agoralhe parecia tão belo e tão agradável. Tendo-se casado com JoséManuel para seguir a vontade de D. Maria, votava a seu mari-do uma enorme indiferença, que é talvez o pior de todos os ódios.Pois a vida de Luisinha, depois de casada, representava comfidelidade a vida do maior número das moças que então se casa-vam: era por isso que as Vidinhas não eram raras”.11
De acordo com o próprio narrador, o estilo de vidaimposto à mulher casada fazia com que as transgres-sões ocorressem, por isso era crescente o número demulheres namoradeiras. Comumente, as mulheres ca-sadas não cultivavam sentimentos amorosos pelo côn-juge, já que esse tinha, na esposa, o seu objeto deprazer e de procriação da sua espécie, além de ser ela
11 MOISÉS, op. cit., p. 216.
Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 217
a pessoa responsável pelos deveres da casa e peloscuidados com seus objetos pessoais. Assim era carac-terizado o casamento por arranjos e acomodações.Nessa condição, Luisinha não demonstrou sofrimentodiante da morte do marido, enfim o seu choro de-monstrou apenas que era uma pessoa sensível aos acon-tecimentos trágicos ocorridos com qualquer ser hu-mano. Essa análise, também foi percebida por Máriode Andrade ao se referir ao anti-romantismo deLuisinha, na ocasião da morte de José Manuel. Eis otrecho das Memórias extraído pelo escritor e críticomoderno:
“Estavam presentes algumas pessoas da vizinhança, e uma de-las disse baixinho à outra, vendo o pranto de Luizinha: —Não são lágrimas de viúva... — E não eram, nós já o disse-mos: o mundo faz disso as mais das vezes um crime. E os ante-cedentes? Porventura ante seu coração fora José Manuel maridode Luizinha? Nunca o fora senão ante as conveniências; paraas conveniências aquelas lágrimas bastavam”.12
Nessa forma de casamento, é comum a preocupa-ção com as provações sociais. Diante do público, ohomem se fazia presente, procurando demonstrar seupapel de esposo, carinhoso e participativo da vida fa-miliar. Essas características, muitas vezes, não faziamparte do cotidiano do casal.
Voltando nossa atenção para o memorando Leo-nardo, na ocasião do “fogo no campo”, quando aindaeram crianças conheceu Luisinha, e apesar das “esqui-sitices” da menina, percebeu que estava amando. Po-rém, o destino os havia separado e ela se casado comJosé Manuel. Nesse ínterim, Leonardo conhece Vidi-nha. As características distintas dessas mulheres fa-zem o herói Leonardo pensar acerca do sentimentonutrido pela primeira. Vidinha se fazia encantar. Aocontrário de Luisinha, ela tocava modinhas, cantava,falava alto, enfim, participava do meio social. Leonar-do então, admirava-se “... de como é que havia podido
12 ANDRADE, Mário. Introdu-ção à edição das Memórias de umsargento de milícias. São Paulo:Martins, 1941, p. 311.
Luisinha e Vidinha: protótipos femininos na literatura brasileira do século XIX
218 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
inclinar-se por um só instante a Luisinha, meninasensaborona e esquisita, quando haviam no mundomulheres como Vidinha. Decididamente estava apai-xonado por esta última”13. Vidinha era o oposto deLuisinha e seu encanto pelos homens era muitoefêmero. Vejamos a descrição do narrador:
“Vidinha era uma rapariga que tinha tanto de bonita como demovediça e leve: um soprozinho, por brando que fosse, a faziavoar, outro de igual natureza a fazia revoar, e voava e revoavana direção de quantos sopros por ela passassem; isto quer dizer,em linguagem chã e despida dos trejeitos da retórica, que ela erauma formidável namoradeira, como hoje se diz, para não dizerlambeta, como se dizia naquele tempo. Portanto não foram demodo algum mal recebidas as primeiras finezas do Leonardo,que desta vez se tornou muito mais desembaraçado, quer porquejá o negócio com Luisinha o tivesse desasnado, quer porque ago-ra fosse a paixão mais forte...”14
Pode-se perceber, também, no excerto acima, quea recepção dos galanteios de Leonardo foi diferentepara cada uma das mulheres. Como Vidinha tinha umavida mais livre, trocava de companheiros com muitafacilidade. Então recebia com atenção e interesse as“finezas” masculinas, enquanto Luisinha, na ocasiãodos primeiros olhares de Leonardo, saiu sem nada di-zer, de cabeça baixa, indiferente aos acontecimentos.Contudo, essa indiferença não simbolizava a ausênciade sentimento, mas a incapacidade de ação. Luisinhaera uma moça manipulada e dominada. O casamentocom José Manuel foi um “arranjo” da sua Tia.
Como constatou o narrador, Vidinha trocava cons-tantemente de namorados. Era disputada por seus pri-mos, e com a chegada de Leonardo, havia outro moti-vo para as brigas entre eles. Porém, nas discussões,Vidinha sempre tomava partido de Leonardo. Mas,Leonardo era dotado, também, do fluido amoroso, ese envolveu com a mulher do Toma-Largura. Então,Vidinha sente-se enciumada e ofendida pela traição.
13 ALMEIDA, Manuel Antôniode. Memórias de um sargento demilícias. 36. ed. Rio de Janeiro,1999, p. 81.
14 Idem, Ibidem.
Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 219
Relata o narrador:
“Vidinha era ciumenta até não poder mais; ora, as mulherestêm uma infinidade de maneiras de manifestar este sentimento.A uma dá-lhe para chorar em um canto, e choram aí em ar degraça dilúvios de lágrimas: isto é muito cômodo para quem astem de sofrer. Outras recorrem às represálias, e nesse casodesbancam incontinenti a quem quer que seja: esta maneira éseguramente muito agradável para elas próprias. Outras nãousam da mais leve represália, não espremem uma lágrima, (...),resmungam um calendário de lamentações. (...)Outras entendem que devem afetar desprezo e pouco caso: essastornam-se divertidas, e faz gosto vê-las. Outras enfim deixam-setomar de um furor desabrido e irreprimível; praguejam, blasfe-mam, quebram os trastes, rompem a roupa, espancam os escra-vos e filhos, descompõem os vizinhos: esta é a pior de todas asmanifestações, a mais desesperadora, a menos econômica, e tam-bém a mais infrutífera. Vidinha era do número destas últimas”.15
Nesses diferentes comportamentos femininos di-ante da traição, podemos identificar a manifestação dopensamento patriarcal da época. Se “... choram aí emar de graça dilúvios de lágrimas: isto é muito cômodopara quem as tem de sofrer...” esse fragmento denotaa preferência masculina pelas mulheres de comporta-mento recatado, ou seja, aquelas mulheres que, mes-mo nos momentos de ciúme, raiva ou tristeza, guar-dam o sofrimento para si próprias, não o deixandoatingir outras pessoas.
Ciente da traição, Vidinha se enfurece, mesmo comas promessas de Leonardo “... de comedir-se dali emdiante, e de lhe não dar mais motivos de desgosto.Vidinha, porém a nada atendia, e caminhava sempre.O Leonardo recorreu a ameaças; Vidinha redobrou ospassos: voltou de novo a rogativas; Vidinha caminha-va sempre”16. Percebe-se aí, o temor masculino dianteda ação feminina. Decidida a vingar-se da atitude deLeonardo, Vidinha vai até a casa do Toma-Largura.Deparando-se com ele, “... Vidinha não recuou um
15 ALMEIDA, op. cit., p. 97/98.
16 Idem, p. 99.
Luisinha e Vidinha: protótipos femininos na literatura brasileira do século XIX
220 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
passo, não desfez uma ruga da testa, antes pareceumostrar que a sua presença ali favorecia suas inten-ções; tanto que dirigindo-se a ele o foi apostrofandotambém pela seguinte maneira: — É vossemecê umhomem que eu não sei para que traz barbas nessacara...”17. É perceptível que, diferentemente da passi-vidade de Luisinha, Vidinha interfere nas ações a fimde transformá-las em seus próprios interesses. E ain-da, questiona a repreensão de que teria feito algumaasneira: “— Asneira... qual... fiz o que faz qualquermulher que tem sangue na guelra...”18
Reagindo à traição de Leonardo, Vidinha se envol-ve com o Toma-Largura, marido da amante de Leonar-do. Pois, o Toma-Largura, após ser ofendido e agredi-do por Vidinha, se interessa por ela. Essa seria umaevidência de que, muitos homens se sentem atraídospelas mulheres que transgridem as normas ditadas pelasociedade patriarcal tradicional. Essas relações nãoeram normalmente legitimadas, uma vez que, para arealização do casamento, era costume do tempo oshomens buscarem as mulheres mais submissas. Comseu sentimento ofendido por Leonardo, ela buscava,em sua atitude, vingar-se da traição. “Em certos cora-ções o amor é assim, tudo quanto tem de terno, dededicado, de fiel, desaparece depois de certas provas,e transforma-se num incurável ódio”19. Comentando arespeito dessas resistências femininas, Simone deBeauvoir, constata: “Ela [a mulher] se irrita por serfreada pelas regras da decência, embaraçada por suasroupas, escravizada aos cuidados da casa, detida emtodos os seus impulsos”20.
Para Leonardo, o enfurecimento e a vingança deVidinha a tornou uma mulher desinteressante. “Tudoquanto em Vidinha havia de requebro, de languidez,de voluptuosidade tinha desaparecido; estava feia, eaté repugnante”21. Sofrendo as conseqüências da pos-tura ativa de Vidinha, Leonardo desperta as intençõesde casamento com a pacata Luisinha que, agora, en-contrava-se viúva.
17 Idem, Ibidem, p. 100.
18 Ibidem, p. 101.
19 Ibidem, p. 102.
20 BEAUVOIR, Simone de. op.cit.
21 ALMEIDA, op. cit., p. 98.
Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 221
Então, logo que se seguiu a viuvez, a preocupaçãode Dona Maria em casá-la de novo denota que, o pro-pósito do casamento, nessa época, era uma forma deproteção e amparo às mulheres. Durante a missa dosétimo dia, já se passava por Dona Maria “... à idéiacasar de novo a fresca viuvinha, que corria o risco deficar de um momento para outro desamparada nummundo em que maridos, como José Manuel, não sãodifíceis de aparecer, especialmente a uma viuvinhaapatacada”22. A voz do narrador revela que, para asmoças de vida recatada, o destino seria o casamento.E nessa união estaria a conotação da proteção e daestabilidade. O crítico Antônio Cândido prevê o futurode ambas as mulheres relatadas e acrescenta, ainda, que,Luisinha virá a ser uma esposa caseira e fiel, e prova-velmente, Leonardo seguirá as normas dos maridostradicionais da época, formando um casal suplementarcom Vidinha ou outra mulher, isto é, mesmo vivendona ordem, continua perpassando pela desordem.
Nessa educação de subserviência, Luisinha aceitaas escolhas de sua madrinha, sua tutora e representan-te de seu pai, e não luta para mudar a seu destino.Como já nutria um sentimento por Leonardo desde aadolescência, com o amadurecimento, passaram a sever de forma diferente. Como já havia passado pelos“deleites” e “sufocos” com uma mulher ativa, Leo-nardo, neste momento, busca a estabilidade através docasamento com Luisinha, já que essa possui todas asqualidades de uma companheira legítima. Esse casa-mento, por amor, ainda é contemplado pelas herançasdos dois, fator que, também, aproxima essa união dospadrões burgueses.
Abordando as diferenças de representações femi-ninas na literatura do século XIX, Massaud Moisésconstata que, por ser retratada ao natural, Vidinha rou-bou o papel da personagem principal, Luisinha. Nessesentido, a personagem secundária “... se incorporoupara sempre à galeria feminina da Literatura Brasileira,enquanto Luisinha se perde no mare magnum das donze-
22 Idem, Ibidem, p. 119.
Luisinha e Vidinha: protótipos femininos na literatura brasileira do século XIX
222 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
23 Moisés, op. cit., p. 218.
las insossas que passeiam pela ficção romântica. (...)Vidinha nos mostra a face oculta, e mais próxima darealidade dos fatos, das Isauras e Rosauras”23. Acres-centa, ainda, que pode ser percebida, em Vidinha, aantecipação da personagem Gabriela, de Jorge Amado,uma vez que emergem do mesmo fundo social, trazidaspor semelhante visão do mundo.
Com isso posto, vale ressaltar que tanto Luisinha,quanto Vidinha são criações que, juntamente com asoutras representações femininas da obra, podem reve-lar algumas manifestações do comportamento e docaráter das mulheres da sociedade carioca, e do Brasil,dos primeiros anos do século XIX, período, ainda,sob a hegemonia do sistema patriarcal.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias.36. ed. Rio de Janeiro, 1999.ANDRADE, Mário. Introdução à edição das Memórias de um sar-gento de milícias. São Paulo: Martins, 1941.BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. 2 A experiência vivida.Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.CÂNDIDO, Antônio. Dialética da malandragem. In: O discurso e acidade. São Paulo: Duas Cidades, 1993. p. 123-152.MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix,1985.NADER, Maria Beatriz. Mulher : do destino biológico ao destinosocial. 2. ed. Vitória: Edufes, 2001.PRIORE, Mary Del. História do amor no Brasil. São Paulo: Contex-to, 2005.WALTY, Ivete. Implicações sociais do elemento picaresco nas Memórias deum sargento de milícias. Belo Horizonte: Fale, 1980.
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 223
Cartografias literárias em devir:Cartografias literárias em devir:Cartografias literárias em devir:Cartografias literárias em devir:Cartografias literárias em devir:mulheres, escrita e subversãomulheres, escrita e subversãomulheres, escrita e subversãomulheres, escrita e subversãomulheres, escrita e subversão
Olívia Candeia Lima Rocha
Resumo: No poema “A mulher”, Luísa Amélia de Queirósevidencia que o fazer literário constituía-se em uma práti-ca interditada às mulheres piauienses, da mesma maneiraem que elas eram excluídas de obterem reconhecimentosocial pela “prática escriturística”, ou por meio de outrasatividades sociais, culturais e políticas. Dessa forma elasentia que as mulheres eram lançadas para além das mar-gens da História, visto que esta, no final do século XIX,preocupava-se em registrar apenas os feitos dos homensna esfera pública. Assim, as mulheres não só estavam si-lenciadas, bem como, a História silenciava sobre elas.
Palavras-chave: Práticas literárias, Mulheres piauienses,História.
Abstract: The literature was a male field of action for-bidden to women. Thus, we tried to analyze the Piauiensewomen actions between 1875 and 1940 to achieve literaryspaces, highlighting the creation of the Butterfly Newspa-per, the use of pseudonym, the pursuit of male agreementfor the preface of books and the candidacies to literaryacademies.
Keywords: Scriptors’ Practice, Piauienses women, History.
Olívia Candeia Lima Rocha. Mestranda em História do Brasil na Universi-dade Federal do Piauí (UFPI).
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
224 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
A mulher que toma a penaPara lira a transformar,É, para os falsos sectários,Um crime que os faz pasmar!Transgride as leis da virtudeA mulher deve ser rudeIgnara por condição!Não deve aspirar a gloria!Nem um dia na históriaFulgurar com distinção!
Mas eu que sinto no peito,Dilatar-me o coração,Bebendo as auras da vida,Na sublime inspiração:Eu que tenho uma alma grande,Uma alma audaz que s’expandeNo espaço a voejar.Não posso curvar a fronteNesse estreito horizonteE na inércia ficar!Luísa Amélia de Queirós
Luísa Amélia de Queirós ousou não se conformarcom os estreitos horizontes que a sociedade piauiensereservava às mulheres na época em questão, lançandomão da pena e publicando suas poesias em jornais,como Telefone (1883-1889), e editando os livros, FloresIncultas (1875) e Georgina ou os Efeitos do Amor (1898).Ela ressaltou, ainda, que as mulheres que assim pro-cedessem eram vistas como criminosas, pois transgre-diam as normas de conduta ditadas para a vida femini-na no período, que devia voltar-se para o espaço pri-vado.
Com o título Flores Incultas Luisa Amélia de Queirósdenunciava o restrito acesso das mulheres à instrução,utilizando uma das imagens construídas sobre as mu-lheres no período, vistas como flores, belas e incultas.
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 225
Ao fazer essa crítica em seu livro de estréia, ela pre-tendeu mostrar que se as mulheres tivessem as mes-mas oportunidades que os homens, seriam igualmentecapazes de desempenhar papéis atribuídos ao espaçopúblico.
Luísa Amélia de Queirós desejava que as mulhe-res alcançassem prestígio social e escrevessem seusnomes na História. Sua ousadia fez com que ela serevelasse como representante feminina no cenário li-terário da época sendo laureada Princesa da PoesiaRomântica do Piauí e tida como primeira poetisapiauiense.
A atitude de Luísa Amélia de Queirós pode serconsiderada feminista, segundo a definição de Duarte1,que classifica como feministas, as ações individuais ouem grupo que questionam a discriminação da mulhere reivindicam a ampliação de seus direitos. Segundoela, o acesso ao aprendizado da leitura e da escritaconsistiu no primeiro direito básico reivindicado pelasmulheres brasileiras. A reivindicação da instrução fe-minina foi apresentada nos primeiros jornais fundadose dirigidos por mulheres a partir de meados do séculoXIX, como Jornal das Senhoras (1852) e O Belo Sexo(1862), ambos editados no Rio de Janeiro, sob a lide-rança respectivamente de Joana Paulo Manso e Júliade Albuquerque Aguiar.
No início do século XX, também se registra a cri-ação da revista O Lírio em 1903 (Recife – PE), pelapiauiense Amélia Bevilaqua, Edwirges Sá Pereira2,Úrsula Garcia3, entre outras, constituindo-se na pri-meira iniciativa de uma publicação feita por mulheresno Nordeste. Essa publicação contava com a partici-pação de mulheres de diversos estados, encontrando-se no exemplar n. 21 em 1904, um poema da parnaíbanaFrancisca Montenegro. Esse fato mostra-se relevanteporque evidencia que escritoras radicadas no Piauí,como Francisca Montenegro, procuravam ultrapassaras fronteiras geográficas para divulgar seus trabalhose evidencia que essas publicações configuravam-se
1 DUARTE, Constância Lima.MACÊDO, Diva Maria CunhaPereira de (estudo, organiza-ção e notas). Via-Láctea: dePalmyra e Carolina Wanderley:Natal, 1914-1915. Edição Fac-similar. RN: Editora NAC,CCHLA/Nepam, Sebo Ver-melho, 2003.
2 Ferreira (1996) informa queEdwirges de Sá Ferreira nas-ceu em Barreiros 1885 e fale-ceu em Recife 1958. Apresen-tou no Congresso Feministado Brasil, realizado no rio deJaneiro, o discurso-tese, “PelaMulher – Para a Mulher”, quefoi publicado no jornal a Épo-ca em 1912. Ingressou na Aca-demia de Letras de Pernam-buco em 1920, atuou intensa-mente na imprensa e publicouos livros, Campesinas (1901),Impressões e Notas, Influên-cias da Mulher na EducaçãoPacifista do Após Guerra, UmPassado que Não Morre, Ho-ras Inúteis (1960), publicaçãopóstuma e deixou inéditosEva Militante e Jóia do Turco.
3 Segundo Ferreira (2004), Úr-sula Garcia nasceu no Ceará em1864. Publicou artigos, poe-mas, crônicas e contos em jor-nais de Recife, onde faleceu em1905. Escreveu os romances,O romance de Áurea (1904) e oLivro de Bela (1901), inédito.
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
226 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
4 CERTEAU, Michel de. A in-venção do cotidiano: 1 – artes defazer. Trad. Ephraim FerreiraAlves. Petrópolis, RJ: Vozes,1994.
como redes femininas de expressão cultural e lite-rária.
A criação de jornais possibilitando a participaçãode mulheres de diversos estados, atuava na expansãoda atuação literária feminina, instalando uma micro-revolução que forjava a criação de espaços e eviden-ciava a apropriação da prática escriturística pelas mu-lheres. Sendo plausível considerar que a criação darevista O Lírio, possa ter incentivado a fundação dojornal Borboleta na cidade de Teresina em 1904.
O jornal Borboleta (1904-1906) foi o primeiro perió-dico editado por mulheres no Piauí, redigido por AlaídeBurlamaqui, Helena Burlamaqui e Maria Amélia Rubim,que era gerente do mesmo. Esse jornal era editadomensalmente, trazia notas sociais, poesias, artigos econtava com colaborações de ambos os sexos. Suasredatoras criaram esse veículo como um instrumentono qual poderiam ter um espaço para expressar suasidéias, consistindo essa ação em uma tática, pois comoressalta Certeau4, a tática é o jogo do fraco que pornão possuir um lugar próprio age para constituí-lo. Aoconstituir espaços próprios para sua atuação literáriaas mulheres adquiriam uma maior autonomia quantoaos temas a serem abordados, tornando-se possívelquestionar os papéis sociais que as mulheres vinhamocupando e encetar novas cartografias de possibilida-des para o feminino.
Essa prática configurava-se como um processo desingularização5, no qual as mulheres buscavam consti-tuir um devir feminino, procurando tabular as confi-gurações dos novos papéis e espaços que desejavamocupar na sociedade, como ilustra o texto de AlaídeBurlamaqui:
“A mulher, como todos sabem, deve ser instruída, não só porquea instrução lhe dá mais realce como também porque a habilitapara todos os misteres da vida, para o bom desempenho dosdeveres que lhe são inerentes. Muitos pensam que a mulher deveesmerar-se mais na educação doméstica, eu porém não penso as-
5 Noção apresentada por Gua-ttari e Rolnik (1996), no qualos grupos sociais ao imple-mentara ações de resistência aoprocesso de homogeneização,articulam um processo de sin-gularização, configurando umdevir de autonomia a partir dadiversidade de vontades.
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 227
sim, acho que ela não deve conquistar títulos que não estejam aoseu alcance mais deve estudar e trabalhar muito com o fim de tercertos conhecimentos seguindo assim o exemplo de Maria Amá-lia Vaz de Carvalho, Julia Lopes de Almeida, Ignez de Sabinoe tantas outras que têm sabido se impor pela sua vasta ilustra-ção. A instrução é a base da vida, a mulher instruída tem entra-da franca em toda parte, e finalmente a instrução e um tesouroque todos devem buscar” (A.B., 1905, p. 1).
Alaíde Burlamaqui, além de argumentar que a ins-trução se constituía em fator de refinamento cultural,ampliava as possibilidades femininas, abrindo as por-tas, pois “a mulher instruída tem entrada em toda par-te”. Ela se opõe à restrição das mulheres ao espaçoprivado e às atividades domésticas, mencionando comoexemplos a serem seguidos escritoras atuantes na épo-ca, como, Maria Amália Vaz de Carvalho, Inês Sabinoe Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida con-seguiu enriquecer com a venda de seus livros e deingressos para suas conferências literárias, feito alcan-çado por poucos artífices da palavra, especialmenteno final do século XIX e primeiras décadas do perío-do seguinte, conforme Sharpe 6. Segundo Muzart7, InêsSabino mostrava em sua produção literária e nos arti-gos de jornais, uma reflexão constante sob a conquistade direitos pelas mulheres, tendo se preocupado emevidenciar a ação feminina no livro Mulheres Ilustres doBrasil (1899). Um ponto de convergência entre os tra-balhos de Inês Sabino e Júlia Lopes de Almeida, é adefesa de um aperfeiçoamento intelectual feminino,justificado pela sua missão junto à família e a forma-ção dos cidadãos. Sendo relevante observar a citaçãodesses perfis, por Alaíde Burlamaqui, pois se tratamde escritoras que alcançaram reconhecimento intelec-tual na sociedade da época.
A organização de revistas e jornais, como Borboleta,configurava-se como uma tática de adaptação que vi-sava possibilitar e assegurar às mulheres espaços paraa publicação de seus textos, opiniões, reivindicações,
6 SHARPE, Peggy. Júlia Lopesde Almeida. In: MUZART,Zahidé Lupinacci (Org.). Escri-toras brasileiras do século XIX:antologia, v. II. Florianó-polis:Mulheres, Santa Cruz do Sul:Edunisc, 2004, p. 188-238.
7 MUZART, Zahidé Lupinacci(Org.). Escritoras brasileiras doséculo XIX: antologia, v. II.Florianópolis: Mulheres, San-ta Cruz do Sul: Edunisc, 2004.
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
228 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
8 MAGALHÃES, Maria do So-corro Rios. Literatura piauiense:horizontes de leitura e críticaliterária (1900-1930). Terezina:Fundação Cultural Mons.Chaves, 1998.MORAIS, Maria Arisnete Câ-mara de. Leituras de mulheres noséculo XIX. Belo Horizonte:Autêntica, 2002.
em virtude de serem as publicações sobre controlemasculino resistentes à participação feminina. Por meiodessas ações elas jogavam com a interdição de manei-ra a deslocar as fronteiras que delimitavam os territó-rios prescritos para sua atuação, ampliando-os lenta-mente pela constituição de alternativas na construçãode lugares próprios, que lhes permitissem protagonizarno cenário literário.
Nesses espaços, segundo a noção de “prática escri-turística” de Certeau, as mulheres interagiam para aapropriação e afirmação de novos lugares sociais.Posicionando-se como agentes discursivos, elas pro-curavam agregar o sexo feminino em prol de questõesespecíficas, buscando operar transformações sociaispor meio do convencimento, e também angariar sim-patizantes para as causas levantadas.
A apropriação feminina da prática escriturística eramargeada pela força da interdição e da censura moral,o que fazia com que muitas mulheres buscassem ocul-tar suas identidades sob o escudo protetor dos pseu-dônimos. Sem o uso desse estratagema elas estariamsujeitas, a criticas e repreensões da família e da socie-dade8.
O uso de pseudônimos constituiu em uma práticaque marcou a iniciação escriturística e de muitas mu-lheres, perpassando gerações, em vários países oci-dentais entre o século XIX e início do século XX,como, Charlote Brontë – Inglaterra; George Sand eMarie d’Agout (Daniel Stern) – França, Lucila GodoyAlcaya (Gabriela Mistral) que publicou seu primeirolivro em 1922, sob o título de Desolação – Chile; JuanaFernández Morales (Juana de Ibarbourou) — Uruguai;Clarinda de Grimanesa Martina Mato (Usandivas Mattode Turner) que publicou Aves sem ninho em 1889 –Peru; as brasileiras, Dionísia de Faria Rocha (NísiaFloresta), Maria Benedita Bormann (Délia), EmíliaMoncovo Bandeira de Melo e sua filha, Cecília Ban-deira de Melo (Mme. Chrysanthème).
As irmãs Brontë adotaram pseudônimos masculi-
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 229
nos, mas que davam pistas de pertencerem à mesmafamília, assim, Charlotte Brontë ocultou-se sob o pseu-dônimo Currer Bell, Anne Brontë adotou Ellis Bell eEmily Brontë, Acton Bell. Wanderley (1996) observaque o uso de pseudônimos masculinos confundia osleitores, pois era conferido à voz masculina um prestí-gio discursivo que não era atribuído à autoria femini-na. Segundo ela a sociedade vitoriana se escandalizavacom os personagens femininos retratados em Jane Eyre(1848), romance de estréia de Charlotte Brontë, poisos mesmos rompiam com os estereótipos da mulhersubmissa, maternal, dedicada às atividades domésticas.Ressaltando-se que o sucesso desse romance levouCharlotte Brontë a revelar-se como escritora, abando-nando o uso do pseudônimo.
No Brasil, também na década de 1840, DionísiaFaria da Rocha, publicando em jornais cariocas fez ocaminho inverso de Charlotte Brontë, pois foi levadaao uso de pseudônimo para proteger-se das críticasque sofria, por defender idéias republicanas, aboli-cionistas e de emancipação feminina, com destaquepara a reivindicação de instrução para as mulheres.Assim ela adotou o pseudônimo Nísia Floresta Brasi-leira Augusta, tornando-se mais conhecida como, NísiaFloresta9.
Essa atitude de Dionísia Faria da Rocha buscavaevidenciar que se tratava de uma mulher pela referên-cia lançada em seu pseudônimo como um nome femi-nino. Verifica-se em Emília Moncovo Bandeira deMelo a passagem do uso de pseudônimos masculinospara o feminino, publicando como, “Júlio de Castro”em O País, na Tribuna assinou artigos de crítica literáriacomo, “Leonel Sampaio” e como “Célia Márcia” pu-blicou no jornal Étoile du Sud. Entretanto tornou-seconhecida como Carmen Dolores, publicando crôni-cas na coluna dominical A Semana, na primeira páginade O País, no período de 1905 até 14 de agosto de1910. Sendo O País, o jornal de maior tiragem da Améri-ca do Sul, na época10.
9 TELLES, Norma. Escritoras,escritos, escrituras. In: Histó-ria das mulheres no Brasil. DELPRIORE, Mary (Org.). 3. ed.São Paulo: Contexto, 2000.
10 VASCONCELOS, Eliane. Car-mem Dolores. In: MUZART,Zahidé Lupinacci (Org.). Escri-toras brasileiras do século XIX:antologia. 2. ed. Ver. Florianó-polis: Mulheres, Santa Cruzdo Sul: Edunisc, 2000, p. 500-533.
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
230 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Duarte11observa que as escritoras brasileiras deforma mais recorrente adotaram pseudônimos femini-nos. Ela observa que na revista Via-Láctea - Religião,Arte, Ciências e Letras (1914-1915), fundada por mulhe-res em Natal-RN, apesar dos nomes das redatoras cons-tarem na primeira página da publicação, os textos qua-se sempre vinham assinados com outros nomes, quefaziam referências às preocupações políticas, teóricase referências culturais das escritoras.
Além da semelhança em revelar o nome das reda-toras mais ocultar a autoria discursiva por pseudôni-mos, o jornal Borboleta como a revista Via-Láctea, exi-gia que as colaboradoras revelassem sua identidade aoeditorial. Segundo Duarte e Macêdo (2003, p. 24), “essacondição era necessária principalmente porque algunsrapazes na época costumavam também adotar nomesfemininos”.
O jornal Borboleta contava com colaborações mas-culinas, que vinham assinadas com iniciais que apon-tavam à relação de gênero da autoria. Pode-se especu-lar que as redatoras também almejassem conhecer ou-tras mulheres simpatizantes da proposta dessa publi-cação, que claramente se posicionava pela inserçãofeminina nas cartografias literárias, intelectuais e desaber. Verificando-se a emergência de um anseio fe-minino por se fazer representar e evidenciar pela for-mação de agremiações literárias, como uma alternativaadotada para contornar exclusão feminina dos espaçosinstitucionais sob domínio masculino. Essas iniciati-vas configuravam espaços próprios para a expressãofeminina, como a criação da Liga Feminista Cearenseem 1904, e a Ala Feminina da Casa Juvenal Galenofundada em Fortaleza na década de 1930.
Segundo Morais12 “os jornais femininos definiamsua fórmula editorial com preocupações de ordem in-telectual por meio do incentivo para que as mulheresdivulgassem suas produções literárias”. A autora ob-serva ainda, que uma das características dessas publi-cações eram seus títulos sugestivos que remetiam à
11 DUARTE, Constância Lima.Feminismo e Literatura noBrasil. Estudos Avançados, v. 17,n. 49, set./dez., 2003.
12 MORAIS, Maria Arisnete Câ-mara de. Leituras de mulheres noséculo XIX. Belo Horizonte:Autêntica, 2002, p. 69.
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 231
figura feminina. Nesse aspecto, Buitoni13 explicita queessas referências constituiam-se de “nomes de flores,pedras preciosas, animais graciosos, mencionando amulher e seus objetos”.
Ao referendar metáforas associadas ao feminino,seja por títulos de jornais e revistas, ou pelos pseudô-nimos adotados, as mulheres imprimiam contornos ní-tidos à sua presença na cartografia literária, a qual ti-nha suas fronteiras alteradas por meio das táticas fe-mininas.
Na década de 1920, observa-se o surgimento demulheres publicando em jornais locais com nomes flo-rais, como, Acácia, Bonina, Camélia, Magnólia e Viole-ta. É plausível que esse fato tenha sido influenciadopela escritora Cecília Bandeira de Melo ter adotado opseudônimo, Chrysanthème que significa Crisântemoem francês.
Mme. Chrysanthème também fazia referência aoromance homônimo de Pierre Loti publicado em 1887,no qual a protagonista “é descrita pelo narrador comouma boneca, que ele toma para se distrair sem se pre-ocupar com seus sentimentos”14.
Chrysanthème criticava a restrição feminina à cul-tura dos salões, a mulher devia superar o “status” deboneca, adorno e distração, buscando uma instruçãoque lhe abrisse possibilidades de realização para alémdo casamento percebido como uma relação de opres-são masculina sobre a mulher15. Deduz-se ainda queao apresentar suas personagens como vítimas dos ho-mens, ela buscava exortar suas leitoras a não entrega-rem-se as ilusões do amor e a sair da condição depassividade e marionete para protagonizar suas histó-rias.
Berenice que publicava no jornal O Piauí em 1926,compartilhava da perspectiva de Chrysanthème sobreo casamento, considerando que as mulheres que deleprescindiam, “deixam-se ficar numa situação que nãoé esquerda e nem humilhante, livres de qualquer tute-la, donas da sua venta, como se costuma dizer, e sem
13 BUITONI, Dulcília Schoro-eder. Imprensa feminina. SériePrincípios. São Paulo: Ática,1986, p. 40.
14 XAVIER, Elódia. O pseudô-nimo Chrysanthéme e a per-sonagem de Pierre Loti: umsimples empréstimo? In: Bo-letim do GT: Mulher e Literaturada Associação Nacional de PósGraduação em Letras e Lingüísti-ca (ANPOLL), n. 8, 2000.
15 MALUF, Marina, MOTT, Ma-ria Lúcia. Recônditos do mun-do feminino. In: NOVAIS,Fernando A. (Org.). História daVida Privada no Brasil. São Pau-lo: Companhia das Letras,1998, p. 367-421.
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
232 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
a pressão esmagadora do homem”.Há indícios que apontam para o fato de que as
mulheres teresinenses tinham acesso às idéias deChrysanthème e de Júlia Lopes de Almeida, pois ambaspublicavam na Revista Feminina durante a década de1920, ressaltando-se convergência de opinião no queconcerne à necessidade da instrução feminina. En-contrando-se referência de que em 1924, a publicaçãomencionada fosse representada em Teresina por CorinaCunha, esposa do intelectual piauiense Higino Cunha.
Nesse período registra-se a presença de mulheresescrevendo em jornais e revistas locais, discutindo opapel social feminino, o feminismo, o casamento, re-tratando o cotidiano, bem como, eram publicados dis-cursos proferidos em eventos escolares. A publicaçãodesses discursos, especialmente de professoras e alu-nas da Escola Normal em periódicos com direção deredação masculina põe em evidência que a palavrafeminina conquistava uma credibilidade associada àaquisição de saberes, como destaca a fala de CristinoCastelo Branco “a Normal distendeu-lhe os horizon-tes. A mulher entre nós, deixou de ser ‘o animal decabelos compridos e idéias curtas’. A moda cortou-lhe os cabelos, e os professores alargaram-lhe as idéi-as. Iniciou-se uma nova era...” (BRANCO, 1926, p. 56).
Verifica-se a publicação de textos de autoria femi-nina em publicações ligadas à Igreja como o jornal AImprensa, bem como a livre-pensadores, destacando-seo jornal O Piauí. É possível observar diferenciação daparticipação feminina nesses jornais, pois se no pri-meiro o nome das mulheres aparece com mais fre-qüência identificando a autoria, nota-se que estes exor-tavam os papéis femininos tradicionais e criticavam amoda. Enquanto os textos publicados no jornal O Piauíaparecem sob pseudônimos, mas posicionam-sequestionadores e como reflexo de um debate, que aocontrário de espelhar certezas, mostrava uma realida-de múltipla, fragmentada diante um leque de questõeslevantadas pelo movimento feminista, como pelas pos-
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 233
sibilidades que emergiam com as transformações quea época vivenciava. Eram dias de incerteza em que asconfigurações tradicionais estavam ameaçadas de ruí-na pela maior liberdade feminina no espaço público,pela dinamização do cotidiano social, o cinema, a di-versão e o vestuário que sinalizavam novos tempos.
Os debates femininos marcam o início da décadade 1920 alavancado pela reivindicação do sufrágio fe-minino e no contexto local com evidência de que oespaço político consistia em uma esfera decisória quepoderia disciplinar e restringir a participação social dasmulheres, como demonstra a proposta de impedir aatuação de mulheres casadas no magistério públicoapresentada em 1921.
O grupo de mulheres, que utilizava os pseudôni-mos, demonstrava conhecer-se partilhar de convíviosocial em bailes, no passeio público e reunirem-se parachás, como relatam em suas crônicas. Ocasiões essasem que deviam debater as questões levantadas pelasrevistas femininas que liam, sobre os filmes que assis-tiam, e as maneiras que usariam para inserir-se no ce-nário literário. Configurando-se como um grupo, porutilizarem codinomes de flores pelos quais se reco-nheciam, relacionando seu pertencimento ao “jardimsocial” de Teresina, criando um mistério em torno des-sas identidades, remetem a uma articulação femininaque poderia ser denominada, Sociedade Secreta dasFlores.
Uma tática utilizada por essas mulheres para fo-mentarem sua presença nos veículos de publicaçãoera a mútua citação, troca de elogios, solicitação daemissão de opinião sobre os temas abordados e dedi-catórias às amigas nos textos publicados. Como exem-plificam os textos publicados na coluna “Vida Social”no jornal O Piauí, citando-se a conclusão de uma crô-nica assinada por Berenice (1926), que reporta, “aindahei de falar sobre o assunto. Aguardo primeiro a opi-nião de Violeta e Acácia. A elas dou a palavra” e Acácia(1926) devolvendo o assunto à Berenice, “eis aí a mi-
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
234 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
nha opinião sincera. O assunto é bastante complicadoe o entrego novamente à Berenice que o melhor sabejulgar”.
Essa prática também pode ser percebida no debateentre Dolores e Magnólia no jornal Correio do Piauí jáno início da década de 1920:
“Tenho lido com o maior prazer o que Magnólia tem publicadoem vossa conceituada folha, agradando-me sobre modo dos as-suntos por ela defendidos. [...] Ao talento de Magnólia entrego aidéia esperançada que ela frutifique e dê resultadoscompensadores” (DOLORES, 1922).
Dolores (1922) havia sugerido a Magnólia, que “erade estimar que nos reuníssemos e formássemos umbloco, uma sociedade que cuidasse dos interesses denosso sexo, a guisa do que se há feito em outros esta-dos”. A sugestão de Dolores remete à fundação deinstituições, como a Sociedade Brasileira pelo ProgressoFeminino criada em São Paulo em 1922, verificando-se a fundação de associações semelhantes em outrosestados, a exemplo, da Bahia, onde segundo Alves16,foi criada a Liga Baiana pelo Progresso Feminino.
As mulheres vinham organizando-se em grupos,fundando jornais e revistas, utilizando-as como tribu-nas de expressão literária e feminista. A distinção quemarca as associações da década de 1920 é a ênfasedada à reivindicação do sufrágio feminino, conside-rando-se esse como período da segunda onda femi-nista17. Os debates realizados pela imprensa, difundi-am idéias, questionamentos e ampliavam a ressonânciadas discussões que deixavam de ficar restritas aos en-contros femininos realizados nas residências das par-ticipantes ou por ocasião de eventos sociais. Esse pro-cesso ganha visibilidade em Teresina com a configura-ção da Sociedade Secreta das Flores, que pode serresultado da proposta de Dolores, estando esse grupode mulheres relacionado a uma significativa discussãode temas de inspiração feminista, abordados nas revis-
16 ALVES, Ivia. Os difíceis cami-nhos percorridos pelas escri-toras baianas (1880-1950):mapeamento e temáticas. In:Boletim do GT: Mulher e Litera-tura da Associação Nacional dePós-Graduação em Letras e Lin-güística (ANPOLL), n. 8, 2000.
17 DUARTE, op. cit.
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 235
tas femininas da época como a Revista Feminina e Fon-Fon, publicação que aparecia no reclame da Agênciade Revistas em jornais teresinenses.
É possível perceber que as mulheres estavam pre-ocupadas em definir-se, discutindo o que cabia ao sexofeminino, seu lugar na sociedade. A mulher devia vo-tar? Por que devia instruir-se? Que outros caminhospodia ambicionar além do casamento? Qual a impor-tância do trabalho e a sua relação com o casamento?Esses são algumas das questões que podem ser levan-tadas a partir da discussão desenvolvida por meio dascrônicas publicadas.
Pergunta-se por que essas mulheres tendo conhe-cimento dos debates feministas, da organização dasmulheres em grupos em outros estados, não se des-vencilharam de suas máscaras? Por que precisavamdelas para realizar esses debates? Provavelmente de-vido à existência de uma rígida censura moral.
Orlandi18 observa que a censura impede o sujeitode identificar-se com certas regiões de sentido, afe-tando a relação com o dizível, ou seja, o que é possí-vel de ser enunciado, mas proibido, em certas condi-ções. Dessa forma, os pseudônimos constituiam-se emmecanismos capazes de burlar essa interdição sobresentidos, que a sociedade considerava inadequados àsmulheres, pois elas estavam questionando os funda-mentos de modelos historicamente construídos comonaturais. Os modelos femininos de submissão, instru-ção inexistente ou elementar, o casamento e a mater-nidade como principal perspectiva da vida das mulhe-res, estavam desmanchando-se diante as transforma-ções da modernidade, enquanto eram solapados pelascríticas e reivindicações feministas. Esse cenário des-territorializava-se e os debates buscavam o encontrode uma nova configuração capaz de incluir o desejofeminino e a perspectiva das mulheres de constituí-rem-se por si mesmas, delineando um devir balizadopor seus anseios.
A década de 1920 sinaliza o início da atuação lite-
18 ORLANDI, Eni Puccinelli. Asformas do silêncio: no movimen-to dos sentidos. 3. ed. Campi-nas, SP: Unicamp, 1995 (Cole-ções Repertórios).
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
236 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
rária das mulheres em jornais e revistas locais, identi-ficando a autoria dos textos. Mas sem o escudo dospseudônimos silenciava-se sobre as idéias ditas femi-nistas. Nessa perspectiva, Orlandi observa que “a fun-ção enunciativo-discursiva do autor é a mais sujeita àscoerções sociais”, pois sobre a dimensão pública seestabelece a responsabilização e a repreensão pelo queé dito. As mulheres passaram a dar evidência a suasidentidades, assinando poesias, prosas e artigos, emcontrapartida a sociedade normatizava o dizível peloafastamento dos sentidos não-desejados. Podendo-seperceber ainda que aquelas mulheres estivessem ain-da muito atreladas à visão de fragilidade feminina, aexemplo de Eglantine, ao afirmar que o feminismodevia se empenhar na reivindicação da instrução femi-nina, pois segundo ela “esse sim, deveria ser o idealde todas nós. Um outro seria mais duro e nos abateriano primeiro pungir de espinhos”.
Esse período marca também o ingresso femininonas agremiações literárias locais. Amélia de FreitasBevilaqua tem seu nome aprovado para o quadro daAcademia Piauiense de Letras, em 1921, e o CenáculoPiauiense de Letras (1927-1932), teve Júlia GomesFerreira, Otilia Carvalho e Silva, Helena Silvia, ZenobiaRibeiro da Silva e Maria Iara Neves Borges de Melo,como integrantes.
Acredita-se que relações de parentesco com inte-lectuais das agremiações literárias citadas estavam pre-sentes em ambas as situações, sabendo-se que LucídioFreitas e Clodoaldo Freitas do rol de fundadores daAcademia Piauiense de Letras e na época dirigentes damesma, eram respectivamente primo e tio de Améliade Freitas Bevilaqua. Coincidências de sobrenomesnos levam a cogitar que essa relação também ocorriano Cenáculo Piauiense de Letras, especialmente emrelação à família Neves Melo, representada por, Osiresde Neves Melo, Antônio Neves de Melo e Maria IaraNeves Borges de Melo, filha de Abdias Neves; e osobrenome Ferreira representado por, Álvaro Alves
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 237
Ferreira e Julia Gomes Ferreira. Ressaltando que se-gundo Adrião Neto (1995), o poeta Antônio Neves deMelo foi o principal articulador da fundação doCenáculo Piauiense de Letras.
Essa hipótese reforça-se, na perspectiva de queQueiroz19 observa que a relação de parentesco comos proprietários e redatores de jornal favorecia a pro-jeção feminina na imprensa local por meio de noticiassobre suas apresentações musicais, sua presença nojardim público e nos diversos acontecimentos sociais.Sendo plausível considerar que a atuação feminina naimprensa local sofresse influência do seu círculo derelacionamentos. Cabe citar a relação estabelecida en-tre Íris, pseudônimo de um dos redatores do jornal OPiauí que exigia que as mulheres para publicar sobrepseudônimo naquele periódico revelassem suas iden-tidades a ele, sobre as quais prometia guardar segredo.Configurando-se uma relação marcada como uma con-cessão masculina, que situa Íris como um aliado queimpõe regras, que por conhecer identidades colocadasem segredo, possuía o poder de desmascaramento ena condição de redator detinha controle sobre o queseria publicado. na condição que seria publicado.laiantedor da saudadea que nos preces dos crentes.
Perrot20 ressalta que o deslocamento das linhas quelimitavam a vida feminina também era movido pelasrelações que envolviam homens e mulheres, fossemde aliança, cumplicidade, amizade ou amor. Muitas es-critoras contaram com o apoio de familiares e compa-nheiros para se enveredarem pelas cartografias literá-rias, citando-se Clóvis Bevilaqua, esposo de AméliaBevilaqua, Felinto de Almeida, esposo de Júlia Lopesde Almeida, intelectuais renomados e membros daAcademia Brasileira de Letras. Entidade que não per-mitiu o ingresso dessas mulheres, mesmo diante o pres-tígio de seus esposos e o reconhecimento de seustrabalhos pelo público e por conceituados críticos li-terários da época.
A relação entre a produção literária feminina e o
19 QUEIRÓZ, Terezinha. Os li-teratos e a república: ClodoaldoFreitas e Higino Cunha e astiranias do tempo. 2. ed. Te-rezina: Edufpi/ João Pessoa:UFPB, 1998.
20 PERROT, Michelle. Mulherespúblicas. São Paulo: Edunesp,1998.
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
238 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
aval masculino, é percebida em pesquisas que adotamrecortes semelhantes, compreendendo final do séculoXIX e décadas da primeira metade do século XX,como a desenvolvida por Alves21 ao trabalhar publi-cações de escritoras baianas, e Bezerra22 ao analisar atrajetória de escritoras mineiras. Alves 23observa queesse aval posicionava-se na figura do pai, irmão, mari-do, ou por um grupo de poetas e críticos.
Averigua-se que o prefaciamento de livros por li-teratos e intelectuais renomados, constituía-se em táti-ca recorrente para as publicações, especialmente deestréia literária, sendo uma forma de atrair o reconhe-cimento atribuído à voz masculina. No que se refereàs escritoras locais podem ser citados os livros, Georginaou Os Efeitos do Amor (1898), de Luísa Amélia deQueirós; Alcione (1902), de Amélia Bevilaqua; As TrêsGotas de Sangue, de Francisca Montenegro; Seara Humil-de (1940), de Isabel Vilhena; respectivamente prefacia-dos por, Dias Carneiro, Araripe Júnior, Alarico Cunhae Martins Napoleão. Esses exemplos, compreendidosentre o final do século XIX e meados do século XX,testemunham a significância dessa prática, pois se amesma perdurou é porque as escritoras continuaramconsiderando-a válida e necessária.
No intuito de inserirem-se nas cartografias literári-as as mulheres procuraram angariar espaços nasagremiações literárias. O deslocamento das fronteirasmostrou-se mais flexível nas academias regionais, tal-vez favorecida pelas relações de parentesco e amiza-de. Na década de 1920, registra-se a inclusão femininanas agremiações piauienses, Academia Piauiense deLetras e Cenáculo Piauiense de Letras, verificando-seque esse processo desenrolava-se em outros locais,citando-se o ingresso de Alba Valdez na AcademiaCearense de Letras, em 1922.
Em contraponto ao deslocamento das fronteirasrealizado em publicações e agremiações regionais, aAcademia Brasileira de Letras colocava-se resistente àinclusão feminina nos seus quadros. A tentativa de
21 ALVES, op. cit.22 BEZERRA, Kátia da Costa.
A busca pelas mulheres oito-centistas mineiras: recupe-rando trajetórias de vida. In:MUZART, Zahidé Lupinacci.BRANDÃO, Isabel (Org.). Re-fazendo nós: ensaios sobre mu-lher e literatura. Florianópolis:Mulheres, Santa Cruz do Sul:Edunisc, 2003, p. 85-96.
23 Idem, Ibidem.
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 239
deslocamento dessa resistência fica evidente na notí-cia de uma possível candidatura de Júlia Lopes deAlmeida à ABL:
“Está se tratando de levantar a candidatura da ilustre escritoraD. Júlia Lopes de Almeida a uma das vagas existentes na Aca-demia Brasileira de Letras. O movimento nasce no seio da pró-pria Academia e realmente está tomando proporções, tal a con-vicção que lá impera em todo nosso meio intelectual, de que nãopequena parte dos seus membros tem obra inferior em número eem qualidade a da festejada autora da ‘Intrusa’ do ‘Eles e Elas’e de tantos outros volumes que indiscutivelmente enriquecem asletras nacionais” (A mulher na academia, 1926, p. 2).
A matéria se mostra entusiasta, e afirma que a pro-dução de Júlia Lopes de Almeida era superior em qua-lidade e quantidade a grande parcela dos intelectuaisque compunham a Academia Brasileira de Letras naépoca. A nota dava como certa a vitória da candidaturade Júlia Lopes de Almeida, que não veio a se concreti-zar, provavelmente pressentindo que as resistênciasnão poderiam ainda ser contornadas. Essa notícia apre-sentava ainda as dificuldades colocadas ao ingressofeminino naquela instituição:
“Estão em jogo os dispositivos regimentais da Academia; unspretendem o belo sexo, outros acham que não. Um simples casode interpretação idêntico ao da nossa constituição política queconcede o direito de voto aos ‘indivíduos’ sem que até hoje a mu-lher tivesse podido exercê-lo apesar de ser indivíduo” (A mu-lher na academia, 1926, p. 2).
Essa questão remete a discussão de que os termoscolocados na desinência masculina não compreendi-am as mulheres, verificando-se que cinco anos depois,em 1931, essa questão veio a ser argumento para arejeição da candidatura de Amélia Bevilaqua à Acade-mia Brasileira de Letras, argumentando-se que o ter-mo, brasileiros, só fazia jus ao sexo masculino. Outro
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
240 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
fato que ilustra a forte oposição à presença femininana Academia Brasileira de Letras, ocorreu em 1927,tratando-se da frustrada tentativa do presidente,Laudelino Freire, de abrir aquela instituição às mulhe-res, “seguindo o exemplo da Academia Fluminense,que havia eleito, como correspondentes, as senhorasIbrantina Cardoso e Mercedes Dantas, mas a reaçãode seus colegas obstaculizou tal abertura”24.
A candidatura de Isabel Vilhena à Academia Piaui-ense de Letras também sofreu resistência, verificadaem ações como pedido de rejeição de sua inscrição,mesmo tendo sido efetuada dentro do prazo previsto,sob alegação de que o candidato Álvaro Ferreira jápossuía a quantidade necessária de votos. Essa afir-mação foi desmentida, pois o estatuto da entidade pre-via a proporção de dois terços, e como em duas elei-ções nenhum dos candidatos obteve essa representa-ção, o regimento foi alterado para maioria simples devotos.
O processo foi tumultuado, constando à ocorrên-cia de uma sessão, que excluiu ao presidente da enti-dade, Higino Cunha, os direitos de pronunciamento evoto. Culminou na eleição de Álvaro Ferreira e emsua posse imediata, atitude essa que só era adotadaquando o acadêmico eleito residia em outra cidade.Esses atos foram considerados arbitrários por HiginoCunha que declarou inválida essa eleição.
Registra-se ainda, o impedimento de voto a algunsacadêmicos, os quais não constavam posse de fato oudeclaração expressa de aceite do mandato, entre eles,João Cabral, Pires Rebelo, Breno Pinheiro, AntônioBona de Castro Cavalcanti e Amélia Bevilaqua. Noque se refere à Amélia Bevilaqua ela faz menção aofato de pertencer ao quadro da Academia Piauiense deLetras, no livro que publicou artigos e monções deapoio à sua candidatura, intitulado Amélia de FreitasBevilaqua e a Academia Brasileira de Letras (1932), além depublicar textos na Revista da Academia Piauiense de Letras.Verificando-se que esses impedimentos estavam dire-
24 ALBUQUERQUE JÚNIOR,Durval Muniz. Nordestino:uma invenção do falo — umahistória do gênero masculino(Nordeste – 1920/1940). Ma-ceió, AL: Catavento, 2003, p.59.
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 241
tamente relacionados à disputa eleitoral e a favorecerum dos candidatos.
Depreende-se que por ação do grupo que apoiavaÁlvaro Ferreira e o nome do mesmo, conseguiram arreg-imentar em torno dele, o maior número de votos fa-voráveis. A diferença de três votos na primeira elei-ção foi ampliada na segunda para seis, permanecendoIsabel Vilhena com seus fiéis oito votos contra cator-ze que elegeram Álvaro Ferreira.
Um outro aspecto a ser considerado é que AméliaBevilaqua era a única mulher, a ter seu nome no qua-dro da Academia Piauiense de Letras. Esse fato nãocausava incomodo aos acadêmicos que considerassemque a agremiação devia continuar como um nicho mas-culino, pois a mesma residia no Rio de Janeiro. A in-clusão de uma mulher que vivia em Teresina, obrigariaos acadêmicos a conviver com uma desterritorializaçãoprovocada pela presença feminina, pois segundoAlbuquerque Júnior (2003, p. 34), as mudanças quesolapavam os lugares tradicionalmente reservados parahomens e mulheres na sociedade, “pareciam ameaçara dominação masculina de forma insuportável parahomens que teriam sido educados numa ordem patri-arcal”. Ressaltando-se que a Academia aceitava a pre-sença das mulheres enquanto ouvintes atentas dos dis-cursos e conferências proferidos pelos acadêmicos,muitos dos quais poderiam sentir-se desconfortáveisem ouvir as interferências de uma voz feminina e as-sistir sua ascensão à tribuna.
O processo de transformação das cartografias so-ciais e literárias era vivenciado sob o signo do conflitoe da ambigüidade. Os subterfúgios femininos como,os pseudônimos, a publicação de periódicos e a buscado aval masculino provocavam micro-fissuras que tor-navam fluídas as configurações dos espaços de práticaescriturística e reconhecimento intelectual. Diante aameaça de desordenamento desses territórios, aflora-vam resistências a essa desterritorialização. Essas rea-ções eram claramente evidenciadas, quando as interdi-
Cartografias literárias em devir: mulheres, escrita e subversão
242 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
ções eram confrontadas, com as tentativas femininasde penetrar nos nichos de poder sob controle mascu-lino.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
ADRIÃO NETO. Dicionário biográfico escritores piauienses de todos ostempos. Teresina: Halley, 1995.AIRES, Félix. Antologia dos sonetos piauienses. Brasília: Senado FederalCentro Gráfico, 1972._______. Evocação de Abdias Neves: no primeiro centenário de seunascimento. Teresina: s.ed., 1976.ALBURQUEQUE JÚNIOR, Durval Muniz. Nordestino: uma in-venção do falo — uma história do gênero masculino (Nordeste –1920/1940). Maceió, AL: Catavento, 2003.ALVES, Ivia. Os difíceis caminhos percorridos pelas escritorasbaianas (1880–1950): mapeamento e temáticas. In: Boletim do GT:Mulher e Literatura da Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras eLingüística (ANPOLL), n. 8, 2000. Disponível em: <http. //www.mulhernaliteratura.ufsc.br> Acesso em: 08 mai. 2005.BEVILAQUA, Amélia de Freitas. A Academia Brasileira de Letras eAmélia Bevilaqua. Documento histórico–literário. Rio de Janeiro:Bernard Fréres, 1930.BEZERRA, Kátia da Costa. A busca pelas mulheres oitocentistasmineiras: recuperando trajetórias de vida. In: MUZART, ZahidéLupinacci, BRANDÃO, Isabel (Org.). Refazendo nós: ensaios sobremulher e literatura. Florianópolis: Editora Mulheres, Santa Cruzdo Sul: Edunisc, 2003, p. 85-96.BUITONI, Dulcília Schroeder. Imprensa feminina. Série Princípios.São Paulo: Ática, 1986.CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1 – artes de fazer.Trad. Ephraim Ferreira Alves, Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.DUARTE, Constância Lima. MACÊDO, Diva Maria Cunha Pe-reira de (Estudo, organização e notas). Via-Láctea: de Palmyra eCarolina Wanderley: Natal, 1914–1915. Edição Fac-similar. RN:Editora NAC, CCHLA/Nepam, Sebo Vermelho, 2003.DUARTE, Constância Lima. Feminismo e Literatura no Brasil.Estudos Avançados, v.17, n. 49, set./dez., 2003. Disponível em:<htpp.//www.scielo.br> Acesso em: 28 mai. 2005.
Olívia Candeia Lima Rocha
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 243
FERREIRA, Luzilá Gonçalves (Org.). Em busca de Thargélia: poesiaescrita por mulheres em Pernambuco no segundo oitocentismo:1870-1920. Tomo II. Recife: Fundarpe, 1996.______. Úrsula Garcia. In: MUZART, Zahidé Lupinacci (Org.).Escritoras brasileiras do século XIX: antologia, v. II Florianópolis:Mulheres/ Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 334-339.GUATTARI, Félix. ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias dodesejo. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.LOBO, Luiza. A Literatura de Autoria Feminina na América Latina.Registros SEPLIC: Seminário Permanente de Literatura Compa-rada, n. 4. Rio de Janeiro: Departamento de Ciência da Literatura,Faculdade de Letras–UFRJ, 1997.MAGALHÃES, Maria do Socorro Rios. Literatura piauiense: hori-zontes de leitura e crítica literária (1900-1930). Teresina: FundaçãoCultural Mons. Chaves, 1998.MALUF, Marina. MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundofeminino. In: NOVAIS, Fernando A. (Org.). História da Vida Priva-da no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 367-421.MORAIS, Maria Arisnete Câmara de. Leituras de mulheres no séculoXIX. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.MUZART, Zahidé Lupinacci (Org.). Escritoras brasileiras do séculoXIX: antologia, v. II. Florianópolis: Mulheres, Santa Cruz do Sul:Edunisc, 2004.ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dossentidos. 3. ed. Campinas, SP: Unicamp, 1995. (Coleção Repertórios).PERROT, Michelle. Mulheres públicas. São Paulo: Edunesp, 1998.QUEIRÓS, Luísa Amélia. Flores incultas. Parnaíba, PI, s.n., 1875.QUEIROZ, Teresinha. Os literatos e a República: Clodoaldo Freitase Higino Cunha e as tiranias do tempo. 2 ed. Teresina: Edufpi/João Pessoa: UFPB, 1998.SHARPE, Peggy. Júlia Lopes de Almeida. In: MUZART, ZahidéLupinacci (Org.). Escritoras brasileiras do século XIX: antologia, v. IIFlorianópolis: Mulheres/ Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 188-238.TELLES, Norma. Escritoras, escritos, escrituras. In: DEL PRIO-RE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil. 3 ed. São Paulo:Contexto, 2000.VASCONCELOS, Eliane. Carmem Dolores. In: MUZART, Zahi-dé Lupinacci (Org.). Escritoras brasileiras do século XIX: antologia. 2
ed. rev. Florianópolis: Mulheres/ Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2000,p. 500-533.VILHENA, Maria Isabel Gonçalves de Vilhena. Seara humilde. 2ed. Teresina: Comepi, 1975.XAVIER, Elódia. O pseudônimo Chrysanthème e a personagemde Pierre Loti: um simples empréstimo? In: Boletim do GT: Mulher eLiteratura da Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Lingüís-tica (ANPOLL), n. 8, 2000. Disponível em: <http. //www.mulhernaliteratura.ufsc.br> Acesso em: 08/05/05.WANDERLEY, Maria Cavendish. A voz embargada: imagem damulher em romances ingleses e brasileiros do século XIX. SãoPaulo: Edusp, 1996.
Fontes HemerográficasFontes HemerográficasFontes HemerográficasFontes HemerográficasFontes Hemerográficas
A.B. O adorno da mulher. Borboleta, Teresina, p.1, 29 dez. 1905.ACACIA. O meu ponto de vista. O Piauí, 24 de fev. de 1926. VidaSocial, p. 4.A MULHER NA ACADEMIA de Letras. A Imprensa, Teresina,ano I, n. 72, 03 abr. 1926, p. 2.BERENICE. O meu ponto de vista. O Piauí. Teresina, 13 fev.1926. Vida Social, p. 4.BRANCO, Cristino Castelo. Discurso de Cristino Castelo Brancoem 15/05/1926 – Aniversário da Escola normal. Revista da Acade-mia Piauiense de Letras, n. 10, p. 56-57, jul. 1926.BULAMARQUI, Alaíde. Adorno de mulher. Borboleta, Teresina,p.1, 29 dez. 1905.DOLORES. Correio Elegante. Correio do Piauí, Teresina, p. 4, 10mar. 1922.EGLANTINE [s.t.]. O Piauí. Teresina, 30 mar. 1926. Vida Social, p. 4.
A Revista (1927-1928)Revista da Academia Piauiense de Letras (1924 – 1943)O Piauí (1926)Correio do Piauí (1922)A Imprensa (1925-1926)
O discurso argumentativo eO discurso argumentativo eO discurso argumentativo eO discurso argumentativo eO discurso argumentativo epolifônico depolifônico depolifônico depolifônico depolifônico de Celestina Celestina Celestina Celestina Celestina
Eleni Nogueira dos Santos
Resumo: Com o intuito de mostrar as inúmeras vozesque “falam” no discurso da personagem Celestina, anali-samos, nos XII primeiros atos da obra de Fernando deRojas intitulada La Celestina, o uso de alguns provérbiosque caracterizam o fenômeno da polifonia.
Palavras-Chave: Provérbios, Polifonia, Personagem.
Abstract: With the objective to show the several voicesthat “speak” in the discourse of Celestina’s character weanalyze the use of some sayings which characterize thephenomena of polyphony in the first twelve acts of Fer-nando de Rojas’ work ‘La Celestina’.
Keywords: Sayings, Polyphony, Character.
1. Introdução1. Introdução1. Introdução1. Introdução1. Introdução
Este trabalho tenta aplicar no discurso da persona-gem Celestina, que está presente nos XII primeirosatos da obra La Celestina de Fernando Rojas, a teoriapolifônica baseada em Maingueneau detectando locu-tor (es) e enunciador (es), apontando os mecanismosutilizados através de provérbios como marcas depolifonia. Tentando recuperar as vozes que “falam”
Eleni Nogueira dos Santos. Mestranda pela FFLCH–USP em LiteraturaEspanhola.
O discurso argumentativo e polifônico de Celestina
246 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
através deles e mostrar que a personagem, utiliza-sedos provérbios, para argumentar a fim de atribuir mai-or credibilidade e aceitação em seu discurso.
Com esse intuito, recorremos à obra da qual utili-zaremos como corpus recortes do texto escrito que com-põem o discurso da personagem Celestina, serão ana-lisados os XII primeiros atos da obra que é compostapor XXI atos entre esses XII atos, excetuam se, paraessa análise, os Atos II e VIII nos quais não há partici-pação direta desta personagem. Utilizaremos dentreoutros, autores como Dominique Maingueneau, MarioMiguel González, Ingedore Grunfel Villaça Koch ePaulo Bezerra.
Provérbios, aquelas “frases feitas”, que, na maioriados casos, não são aceitas como introdução ou con-clusão de raciocínio nas redações escolares, principal-mente, nas dissertações, porque demonstrariam “po-breza” de raciocínio ou falta de argumentação por partedo estudante.
Por sua própria definição o provérbio é, comu-mente, atribuído ao caráter popular, entretanto o quese percebe é que, sua utilização não se restringe aomeio popular, pelo contrário, verifica-se uma amplautilização desse termo, tanto na língua falada, que vaidesde conversas do dia a dia aos discursos políticos,quanto na língua escrita onde são amplamente empre-gados em textos considerados objetivos como ojornalístico e também nos subjetivos como a música, apoesia, romances, etc.
Talvez seja por seu caráter de verdade “incontes-tável”, que o provérbio resiste ao tempo e ganha acei-tação dos diversos públicos. É devido a ampla aplica-ção de provérbios na obra La celestina de Fernando derojas, sobretudo no discurso da personagem Celestinaque despertou-nos a atenção.
La Celestina, obra pertencente à literatura espanho-la, escrita no final do século XV, datada de 1499(Burgos, Espanha), uma tragicomédia, considerada pelacritica literária como uma das mais importantes obras
Eleni Nogueira dos Santos
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 247
da literatura espanhola. Obra atribuída a Fernando deRojas.
Selecionamos a personagem Celestina, entre tantasoutras presentes na obra, devido ao seu sucesso, su-cesso esse que mereceu a atribuição do seu nome àobra, mesmo que a posteriori, e a seu discurso habilido-so que conforme Mario Miguel González no seu tex-to Celestina: O diálogo paradoxal (1996:16), ... “a ação dasabedoria de Celestina e a intervenção das forças so-brenaturais por ela invocadas faz com que seu discur-so seja suficientemente hábil”.
2. Pressupostos teóricos2. Pressupostos teóricos2. Pressupostos teóricos2. Pressupostos teóricos2. Pressupostos teóricos
Para analisarmos a presença dos provérbios comomanifestação de polifonia no discurso da personagemCelestina, consideramos as seguintes definições:
2.1 PolifoniaSabe-se que polifonia, foi um conceito elaborado
inicialmente por Bakhtin (1929) que se aplicava, so-bretudo, aos textos literários, definido conforme Pau-lo Bezerra:
“pela convivência e pela interação, em um mesmo espaço do ro-mance, de uma multiplicidade de vozes e consciências indepen-dentes e imiscíveis, vozes plenivalentes e conscientes eqüipolentes,todas representantes de um determinado universo e marcada pelapeculiaridade desse universo” (BEZERRA, 2005:194).
Assim, podemos dizer também que a polifonia é amanifestação simultânea e conflituosa de várias vozesem um enunciado, ou seja, o fato de todo discursoestar entrelaçado pelo discurso do outro.
Maigueneau (1997) baseando se em Ducrot afirmaque “há polifonia quando é possível distinguir em umaenunciação dois tipos de personagens denominadosde enunciadores e locutores.” Onde, por “Locutor en-tende-se como um ser que, no enunciado, é apresen-
O discurso argumentativo e polifônico de Celestina
248 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
tado como seu responsável”, ou seja, aquele que falae que só existe no seu papel enunciativo que, no casode textos literários, esse papel é atribuído ao narrador,como a obra em questão carece de narrador, essa fun-ção é exercida pela personagem Celestina, já que é elaa responsável pelo enunciado que pretendemos anali-sar, então Celestina doravante (locutor). E “Enunciador(es) são seres que cujas vozes estão presentes na enun-ciação sem que lhes possa, entretanto, atribuir pala-vras precisas; efetivamente, eles não falam, mas a enun-ciação permite expressar seu ponto de vista.”, são asvozes que são postas em cena, na maioria das vezes,representadas pelos discursos relatados, principalmen-te, o indireto livre e a ironia.
Ingedore Koch (2002:58), afirma que “O termopolifonia designa o fenômeno pelo qual, num mesmotexto, se fazem ouvir “vozes” que falam de perspectivasou pontos de vista (grifos do autor) diferentes com osquais o locutor se identifica ou não”.
Segundo a autora há algumas “formas lingüísticas”que fazem com que a presença da outra voz se mani-feste no texto, como por exemplo o operador argumen-tativo “ pelo contrário” como neste enunciado: Hiltonnão é um mentiroso. Pelo contrário, tem sido muito verdadeirocomigo. “Onde se faz ouvir uma ‘Outra’ voz que afirmaque Hilton é um mentiroso”.
2.2 ProvérbiosEm Salamanca Diccionario de lengua española
(1996), encontramos o seguinte: “Proverbio: s.m. Dichode origen popular que contiene uma enseñanza, um consejo ouna critica: ditado popular.”1
Dominique Maingueneau (1997), considera o pro-vérbio um fenômeno de heterogeneidade, e o defineda seguinte forma:
... O provérbio representa um enunciado limite: o “locutor” au-torizado que o valida, em lugar de ser reconhecido apenas poruma determinada coletividade, tende a coincidir com o con-
1 Provérbio: dito de origem po-pular que contem um ensina-mento, um conselho ou umacrítica: ditado popular.
Eleni Nogueira dos Santos
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 249
junto de falantes da língua, estando aí incluído o individuoque o profere. Este último toma sua asserção como eco, retoma-da de um número ilimitado de enunciações anteriores do mesmoprovérbio. Verdades imemoriais por definição, os provérbios, commuita justiça, fazem parte do dicionário de língua.(MAINGUENEAU, 1997:101-102).
Diante desta afirmação, pode se inferir que o cará-ter coletivo, de verdade incontestável e conseqüente-mente polifônico.
Aurélio (1999) traz a seguinte definição acerca doprovérbio: “Máxima ou sentença de caráter prático epopular, comum a todo um grupo social, expressa emforma sucinta e geralmente rica em imagens, adágio,ditado, refrão, etc.”
Em Análise de Textos de Comunicação (2002) Main-gueneau, melhor define os provérbios que são classi-ficados como um tipo de polifonia, ainda que menosvisível do que os casos de polifonia presentes nosdiscursos relatados (direto, indireto, indireto livre) porse manifestar no discurso como um tipo de heteroge-neidade constitutiva que, segundo ele “a enunciaçãoproverbial é fundamentalmente polifônica.” Isso sedeve ao fato de: ao proferir um provérbio haver umaretomada das inumeráveis enunciações anteriores detodos aqueles locutores que o havia proferido antes.
Koch (2002:58-59) em seu livro A Inter-ação pela lin-guagem no capítulo intitulado Linguagem e Argumentação,trato o provérbio como um “operador conclusivo”,pois apesar de não ser apresentado no enunciado umargumento, a fim levar o interlocutor a conclusão quese deseja, por se tratar de uma máxima ou provérbioaceitos como “verdade” dentro da cultura, se faz ou-vir uma voz que “ressoa” no discurso. Assim “o locu-tor concorda com a premissa que se apresenta poli-fonicamente argumentando no mesmo sentido”. Sobessa perspectiva percebemos que os provérbios seapresentam, ou melhor, funcionam como um modelode argumentação.
O discurso argumentativo e polifônico de Celestina
250 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
3. Análise dos dados3. Análise dos dados3. Análise dos dados3. Análise dos dados3. Análise dos dados
Tentaremos apresentar agora, alguns dos mecanis-mos causadores de polifonia, no discurso da persona-gem Celestina, decorrentes do uso de provérbios, con-siderando as definições anteriores, na obra La Celestina.
Para isso, citaremos alguns exemplos a fim ilustraro emprego proverbial abordando os mecanismos utili-zados pelo locutor/personagem. Na tentativa de re-cuperar as vozes que “falam” no discurso da perso-nagem Celestina, apesar de considerarmos evidente apresença do locutor (aquele que fala) na figura deCelestina, marcaremos a mudança de vozes nos enun-ciados destacando (quando possível) em negrito a vozdo locutor e em itálico a do enunciador.
3.1 Citação de autoridadeAtravés da citação, considerada um exemplo clássico
de heterogeneidade mostrada e conseqüentemente poli-fonia, o locutor/ personagem introduz a “voz do ou-tro”, o enunciador, aqui representado pelos filósofo epoeta, respectivamente. Utilizando o discurso direto,como marca lingüística, o enunciador, não se responsa-biliza pelo enunciado, no entanto, deixa transparecersua adesão, respeitosa, ao enunciado do outro, atribuin-do, assim, maior prestígio e credibilidade ao seu discurso.
Percebe se, pelas marcas lingüísticas, as palavrascitadas evidenciando as “vozes” que se manifestamnestes enunciados.
(1) Página, 121 – Que, como Séneca2 dize, los pere-grinos tienen muchas posadas y pocas amistades, porque enbreve tiempo con ninguno [no] pueden firmar amistad.(2) P.145 – Digo que la mujer o ama mucho a aquelde quien es requerido, o le tiene grande odio.3(3) P.123 – Mas di, como mayor <Marón>4, quela fortuna ayuda a los Osados.
Ao considerarmos o contexto em que estão inseridos
2 Sêneca Lúcio Aneu, filósofo edramaturgo latino nascido emCórdova, Espanha, no ano. 4a.C, autor das obras: Da Bre-vidade da Vida, Medeia, Fedra,As Troianas, etc.
3 Provérbio atribuído tambéma Sêneca.
4 Virgilio Marão Públio, (70 –19 a.C) considerado o maiorpoeta épico latino, é autor dasobras: Bucólicas, Geórgias eEneida.
Eleni Nogueira dos Santos
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 251
os enunciados acima, percebe se que o locutor tentaconvencer seu interlocutor, usando os provérbios co-mo argumento, tentando com isso ganhar sua adesão.
3.2 Discurso diretoAtravés do discurso direto, no qual é possível per-
ceber duas vozes distintas que são introduzidas pelasmarcas lingüísticas ou marcas tipográficas, aqui repre-sentadas pelos dois pontos, vírgula e ou por intermé-dio do verbo que indica que há uma enunciação direta.Assim, o locutor/ personagem ao proferir os provér-bios, se apresenta como “porta voz” da sabedoria po-pular. Ele não se responsabiliza pelo enunciado, maso utiliza como argumento aderindo se ao que foi dito,colocando em cena um coro de vozes, através da hete-rogeneidade e da polifonia, que se fazem presentestanto pelo discurso direto quanto pelo uso dos pro-vérbios que conforme Maingueneau (2002) já é por sisó polifônico.
(4) P. 107 – Porque como dicen, el esperanza luengaaflige el corazón...(5) P.159 – ... que como dicen: pan y vino andacamino...(6) P.186 – Refrán viejo es: quien menos procura,alcanza más bien.(7) P.254 – Como dizen: no da paso seguro quien correpor el muro...
3.3 Discurso indiretoO discurso Indireto, onde as falas relatadas se apre-
sentam sob forma de uma oração subordinada subs-tantiva objetiva direta, introduzidas por um verbodiscendi, aqui, predominantemente, o verbo dizer. Nes-te tipo de discurso, há uma espécie de absorção deuma voz pela outra, assim o locutor/personagem secoloca como um tradutor, usando suas próprias pala-vras para remeter a uma fonte conhecida, o já dito, nosquais são inseridos as vozes dos enunciadores que
O discurso argumentativo e polifônico de Celestina
252 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
falam pelos sábios ou pela sabedoria popular, que apa-recem em alguns dos enunciados como sujeitos indeter-minados, tornando se, mais uma vez, evidente pelouso do provérbio.
(8) P.185 – Que dicen que ofrecer mucho al que pocopide es especie de negar.(9) P.159 – Y dicen los sabios que... nunca peligrosin peligro se vence... Y un clavo con otro se expele y undolor con otro.(10) P.233 – Que los sabios dicen que vale más unamigaja de pan con paz, que toda la casa llena de viandascon renzilla.
Por meio do discurso indireto, o locutor/per-sonagem ao mesmo tempo em que ele tenta se isentarda responsabilidade do enunciado, trazendo em cenaas vozes dos sábios ele se inclui aí através do provér-bio. E é pela presença dessas vozes que se manifestaa polifonia tornando possível perceber o caráter argu-mentativo no discurso.
3.4 InterrogaçãoAtravés desta marca lingüística, a interrogação, o
locutor /personagem deixa claro que o enunciado nãoé seu, mas concorda com ele, por isso o toma comoargumento. Ao questionar o seu interlocutor, empre-gando um provérbio, ele o faz de forma irônica umavez porque sendo o provérbio pertencente ao conjun-to de falantes da língua, deveria, portanto, o seu interlo-cutor conhecê-lo da mesma forma que conhece a ter-mos de sua língua. Por isso, podemos inferir se quenestes enunciados se manifestam a polifonia, tambémargumentativa.
(11) P.197 – ¿No sabes que dice el refrán quemucho va de Pedro a pedro? (12) P.87 – ¿Tú no ves que es necesidad o sim-pleza llorar por lo que con llorar no se puede remediar?
Eleni Nogueira dos Santos
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 253
Ao agir de modo irônico o locutor/personagem,mostra ao seu interlocutor que é mais experiente doque ele e que por isso, ele deve aceitar seus argumen-tos como “incontestáveis”.
3.5 ConselhoAo proferir um provérbio para aconselhar seu
interlocutor, o locutor/personagem confirma sua pre-sença na comunidade de falantes a qual pertencem osprovérbios, justificando a afirmação contida no dicio-nário Salamanca (1996), ao mencionar que o provérbioé um dito que contém um ensinamento ou um conse-lho. Está presente aqui a, marcada, mais vez, pela di-versidade de vozes, ou seja, a presença do locutor edo enunciador.
(13) P.157 – Tan presto, señora, se va el cordero como elcarnero.(14) P.206 – ... Una alma sola ni canta ni llora. Unagolondrina no hace verano...(15) P.297 – No ha de ser oro cuanto reluce...(16) P.270 – Porque virtud nos amonesta sufrirlas tentaciones y no dar mal por mal.(17) P.204 – Pero el amor nunca se paga sino con puroamor y las obras con obras.
Percebemos que, em alguns dos enunciados acima,o locutor faz um jogo de palavras, com os provérbios,dando lhe um trato de argumentatividade mostrandopara seu interlocutor que o provérbio é uma verdadeincontestável, já consagrada pelo público.
3.6 Introdução/Conclusão de raciocínioAqui ao proferir o provérbio, seja como introdu-
ção ou conclusão de raciocínio, a polifonia torna semenos visível, uma vê que o locutor/personagem nãoexplicita a fonte do enunciado, cabendo assim, aointerlocutor interpretá-lo, dentro ou fora de qualquercontexto, já que ele pertence a um estoque de enunci-
O discurso argumentativo e polifônico de Celestina
254 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
ados conhecidos pelos falantes da língua, da mesmaforma que eles conhecem o léxico de sua língua. Issoconfirma a definição de provérbios dada por Main-gueneau (1997).
Nestes casos em que não há uma separação nítidaentre a fala do locutor e a fala do enunciador, parapercebermos a polifonia é preciso considerar às afir-mações de Maingueneau (2002) que “proferir um pro-vérbio... significa fazer com que seja ouvida, por inter-médio de sua própria voz, uma outra voz, a da ‘sabe-doria popular’ à qual se atribui a responsabilidade peloenunciado”. Assim, fica evidente o caráter polifônicodo provérbio.
(18) P.128 – De los hombres es errar, y bestial es la porfía. (19) P.143 – Todo lo puede el dinero. (21) P.143/144 – ... no hay lugar tan alto, que un asnocargado de oro no le suba. (22) P.125 – Da Dios havas a quien no tiene quixadas.
A partir dos enunciados acima, considerando omomento da enunciação, podemos depreender que olocutor / personagem, ao mesclar o provérbio em seudiscurso, tomando-o como seu e utiliza o como argu-mento de autoridade de acordo com Koch (2002) aodizer que o provérbio representa uma forma de ade-são e argumento, ao fazer isso o locutor torna maishábil e sustentável o seu discurso.
Diante da análise feita no discurso de Celestina,na obra de Fernando de Rojas, percebe se que ao mes-clar provérbios em seu discurso foi possível, na maio-ria dos casos, notar as presenças do locutor e enun-ciador (es) e da polifonia. Considerando que, ao intera-gimos através da linguagem temos objetivos a seremalcançados; provocar algum efeito sobre o outro e,neste caso, entendemos que o objetivo do locutor eraconvencer seu interlocutor e para isso, usava provér-bios colocando em cena a polifonia (“coro de vozes”),que valida o discurso do locutor/personagem. Nesse
Eleni Nogueira dos Santos
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 255
sentido, a “verdade” explorada pelo uso dos provér-bios cuja origem está na sabedoria popular e nos poe-tas e filósofos é o que contribui para a habilidade argu-mentativa no discurso da referida personagem.
ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências
BAKHTIN, M. (V.N.VOLOCHINOVI). Marxismo e filosofia da lin-guagem. 8 ed. São Paulo: Hucitec, 1997.BEZERRA, Paulo. Polifonia. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: con-ceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005, p.191-200.BRAIT, Beth. Alteridade, dialogismo, heterogeneidade: nem sem-pre o outro é o mesmo. In: BRAIT, Beth (Org.). Estudos enunciativosno Brasil e perspectivas. Campinas, SP/Pontes, SP: Fapesp, 2001, p.7-25.BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. 8.ed. Campinas, SP: Unicamp, 1998.ROJAS, Fernando de. La Celestina (Ed. e introd. de Dorothy S.Severin). 14. ed. Madrid: Cátedra, 2004.FRANÇA, Júnea Lessa. Manual para normalização de publicaçõe técnico-científicas. 6. ed. rev. amp. Belo Horizonte: UFMG, 2003.GONZÁLEZ, Mario M. Celestina: o dialogo paradoxal. Cuadernosde Bienvenido n. 2: São Paulo: Depto. de Letras Modernas/FFCH/USP 1996. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/dlm/espa-nhol/cuadernos>. Acesso em: 09 mar. 2005.KOCH, Ingedore Grunfel Villaça. Linguagem e argumentação In: Ainter-açao pela linguagem. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2001, p.29-65.______. As marcas lingüísticas da argumentação, In: Argumentaçãoe linguagem. São Paulo: Cortez, 2002, p.33-157.MAIGUENEAU, Dominique. A heterogeneidade Mostrada, In:Novas tendências em análise do discurso. Trad. Freda Indursky. 3 ed.Campinas, SP: Unicamp. 1997, p.75-105.______. Análise de textos de comunicação. Trad. Cecília P. de Souza-e-Silva e Décio Rocha. São Paulo: Cortez, 2002. 238p.Proverbio In: CUADRADO, Juan Gutiérrez, RODRÍGUEZ, JoséAntonio Pascual. Salamanca, Diccionario de la lengua española. Madrid:Santillana, 2002, p. 1726.Provérbio In: HOLANDA, Aurélio Buarque de: Novo dicionário dalíngua portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
O discurso argumentativo e polifônico de Celestina
256 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
SEVERIN, Dorothy S. Introducción. In: ROJAS, Fernando de.La Celestina. Madrid: Cátedra, 2004, p. 11-44.
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 259
Maria Dirce RibeiroMaria Dirce RibeiroMaria Dirce RibeiroMaria Dirce RibeiroMaria Dirce Ribeiro
Jane de Fátima Silva Rodrigues
A candidatura de Maria Dirce Ribeiro à edilidadelocal, em 1954 pelo Partido Social Progressista (PSP)que levou à vitória Afrânio Rodrigues da Cunha, sur-giu entre os próprios funcionários da prefeitura muni-cipal de Uberlândia, principalmente os lixeiros e var-re-dores de ruas, com os quais trabalhava diretamen-te, uma vez que era funcionária municipal.
Lançou-se em campanha, durante as comemora-ções do 1º de maio de 1954, quando discursou paracentenas de trabalhadores. Em seu pronunciamento,mostrou a necessidade de se escolher bem os candi-datos, assim como a responsabilidade que o voto im-plicava: ... o voto daquele que luta e sofre anonimamente nãotem preço, pois ele é o único direito que o pobre tem.1
Em seu discurso historiou as condições de traba-lho no Brasil, relembrando a escravidão e as atuaisaflições a que se sujeitava a classe proletária. Deu ên-fase ao progresso da civilização humana, que só se fezcom o labor incansável de milhões de trabalhadoresanônimos:
Vocês meus amigos, são generais sem medalhas e suas esposasheroínas esquecidas que não têm o nome nas ruas ou nas praçasda cidade... Trabalhadores venho lhes trazer em nome da mu-
Jane de Fátima Silva Rodrigues. Doutora em História Social pela USP eintegrante do Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher,da Universidade Federal de Uberlândia. É estudante do 2º período doCurso de Direito da Uniminas, Instituição onde também é professora eCoordenadora da Pós-Graduação.
1 DISCURSO pronunciado pelacandidata a vereadora pelo PSP,Srta. Maria Dirce Ribeiro. Jor-nal Correio de Uberlândia, 05maio 1954, n. 3922.
Maria Dirce Ribeiro
260 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
lher-progressista, o mais profundo agradecimento pela honra dapresença a esta festa toda ela amizade e carinho.2
No pleito de novembro de 1954, Maria Dirce Ri-beiro, recebeu expressiva votação, tendo ficado em 6ºlugar entre os quinze vereadores eleitos e o 2º nalegenda do seu partido.
Sobre sua vida pessoal obteve-se informações deduas de suas sobrinhas: Claurita Silveira Costa3 e Clau-rides Silveira4, que viveram mais próximas à tia. Deuma prole numerosa de quatorze irmãos, nasceu Ma-ria Dirce aos 7 de julho de 1909. O curso primário,
2 Idem.
3 ENTREVISTA com ClauritaSilveira Costa realizada em 03dez. 1993.
4 ENTREVISTA com Clauri-des Silveira Costa realizada em19 dez. 1993.
Maria Dirce Ribeiro
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 261
ela, fez no antigo Grupo Escolar Bueno Brandão, ten-do recebido o diploma de normalista pela Escola Nor-mal de Uberlândia. Durante anos lecionou no próprioGrupo no qual concluíra o primário e, em fins dosanos 30, foi convidada, pelo prefeito Vasco Giffoni,para trabalhar na Prefeitura Municipal de Uberlândia.
A sua adolescência, passou ao lado dos pais e dos(as) irmãos(ãs) que viu casados um(a) a um(a). O fale-cimento da mãe, nos anos 40, levou-a a tomar contados(as) irmãos(ãs) mais novos(as), e depois o pai, queveio a falecer aos 92 anos de idade.
Leitora assídua de diversos jornais de circulaçãonacional conhecia a situação política e econômica doBrasil, com a qual se afligia, principalmente em rela-ção ao grau de extrema pobreza de grande parte dapopulação do país. Embora sem se lembrar dos títulosdos livros que a tia lera, Claurita afirmou em seu de-poimento que eram tidos como socialistas, e que asidéias neles contidas, influenciaram Maria Dirce emquestões como a desigualdade social e as condiçõesde miséria que atingiam a classe trabalhadora no país.
Tanto quanto a leitura, gostava de música clássicaque ouvia com assiduidade. Aprendera a tocar piano etinha paixão pela natureza. Em uma de suas criaçõespoéticas, em posse de Claurita Silveira, essa paixão sefazia presente:
... Ouvindo ao longo o lamento da siriema, enquanto a lindafogueira da queimada chove cinzas no chão. As perdizes piamtristes, voando sobre o capim seco...À tarde deitada na rede, os sabiás cantam em côro Bethoven, aágua — Debussy — e as saracuras pedem na beira do córrego,quase seco, três potes de chuva.Andar nos caminhos ao sol na chuva, dentro da neblina... quandoo orvalho é o mais cintilante cristal.
Elegante no trajar, procurava o corte tradicionaldos vestidos e dos tailleurs, mostrando preferênciapelo azul e branco. Usava pouca maquiagem e dispen-
Maria Dirce Ribeiro
262 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
5 A CÂMARA em foco. JornalO Repórter, 10 set. 1955, n.2210.
sava as jóias. Viajar constituía um dos lazeres preferi-dos, mas pouco usado em decorrência da assistênciaque dava aos pais, já idosos. Seu passeio predileto eraà Estância de Águas de Araxá. Ali se hospedava noGrande Hotel ou no Hotel Colombo.
Apreciadora da boa poesia, no pouco que restoude seus pertences, foram encontradas algumas de suaautoria: Meia Hora; Dor; Silêncio e Estradas (Anexo 5).
Sem recursos financeiros para a campanha eleito-ral, enviou às famílias uberlandenses inúmeras cartasmanuscritas, solicitando apoio. Claurides acredita queMaria Dirce tenha sido eleita pelo carisma que a ligavaà sociedade e pela seriedade que tratava os trabalha-dores municipais, ex-alunos, amigos e familiares.
Fez-se um levantamento completo dos projetos eemendas (anexo 1) que encaminhou durante a sua ges-tão, bem como as indicações (anexo 2) e comissõesinternas de que participara (anexo 3) e cargos que ocu-para na vida pública (anexo 4).
Em fevereiro de 1955, chegou a declarar que osvencimentos dos vereadores eram exagerados, razãopela qual propunha doar 50% dos seus a instituições ecasas de caridade5. Nesse mesmo ano, o Jornal Correiode Uberlândia, denunciava que a vereadora acumulava ocargo de secretária da prefeitura municipal, o que erainconstitucional. Mas, em que pesasse tal acusação, oJornal elogiava o seu desempenho:
Destas colunas é que partiu, antes do pleito de 1954, a maiscalorosa saudação à candidatura da inteligente e graciosapessepista Maria Dirce Ribeiro... Era o primeiro elemento fe-minino que se atirava galhardamente à luta dispondo de creden-ciais positivas para conquistar os sufrágios de seus conterrâneos,sem que até agora tenha surgido qualquer restrição contra o acer-to desse preferência... Não nos é defeso articular sobre MariaDirce senão os elogios mais sólidos, quer como funcionária quercomo órgão do legislativo.6
Inconstitucional ou não a acumulação de cargos
6 ACUMULAÇÕES. Jornal Cor-reio de Uberlândia. 1º set. 1955,n. 4222.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 263
exercidos por Maria Dirce, ela cumpriu o seu manda-to, tendo, porém, no ano de 1958, passado quase todoele de licença, em decorrência da grave enfermidadedo pai.
Pelos projetos, indicações e requerimentos apre-sentados, Maria Dirce mostrou uma profunda preocu-pação com dois problemas básicos do município: aeducação e o plano de cargos e salários dos funcioná-rios públicos, que eram mal remunerados, tinham seusvencimentos atrasados e careciam de assistência. Es-sas preocupações, principalmente com a classe traba-lhadora, podem ser verificadas pelos depoimentos deClaurides e Claurita:
Maria Dirce Ribeiro
Maria Dirce Ribeiro
264 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Ela tinha idéias avançadas, idéias socialistas... porque a tiaDirce era muito humanista, ela achava que a desigualdade eratão grande, ela conviveu com a classe trabalhadora vendo os sa-crifícios que o povo levava... Ela era a favor do socialismo de-mocrático.7
Ela tinha idéias muito avançadas para a melhoria do povo maishumilde. Ela achava que tinha que renovar e que as pessoastinham que ter mais igualdade social.8
Sempre atuante nas várias comissões que integrou,revidava enfaticamente, com apartes, os pontos de vistados colegas vereadores. Em inúmeras vezes recebeu elo-gios pelos diversos partidos que compunham o Legis-lativo, pelos relevantes trabalhos prestados àquela Casa.
Em fevereiro de 1957, Maria Dirce, desligava-sedo PSP, argumentando que:
Com o decorrer do tempo cheguei à conclusão, um pouco tardia-mente, talvez, que venho constituindo um impasse às atuaçõesda Coligação nesta Casa, pela falta de meus conhecimentos des-ta ciência ou arte difícil e sutil que é a Política... Todos aquelesque me honraram com a confiança de seu voto que mesmo semlegenda partidária, Uberlândia conta mais que nunca com omeu modesto trabalho em prol de seu engrandecimento e pelaglória de seu futuro.9
No transcorrer do ano de 1957, Maria Dirce apre-sentou vários projetos e emendas, mostrando-se preo-cupada com o aspecto urbano da cidade, principalmen-te o paisagístico. Algumas vezes, foi à Tribuna paragarantir a preservação da área verde das praças que,constantemente, estavam sendo remodeladas. Duran-te o ano seguinte, afastou-se dos trabalhos da Câmara,devido ao agravamento do estado de saúde de seu pai.Na última sessão da legislatura 1955/1958, usou a pa-lavra para se despedir dos colegas e reiterar o carinhoe o respeito com os quais havia sido tratada nos qua-tro anos de serviços prestados ao povo uberlandense.
Até que ponto, teria Maria Dirce, despertado na
7 ENTREVISTA com Clauri-des, op.cit.
8 ENTREVISTA com Claurita,op.cit.
9 SALA das Sessões, 18 fev.1957.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 265
consciência das mulheres uberlandenses, o interessepela política? Lycidio Paes já havia escrito que a mu-lher uberlandense ainda era bastante tímida para pe-netrar no lócus dos debates políticos:
Na última eleição (1954/1958) como um caso singular, foieleita Dirce Ribeiro, pelo PSP. Nunca representou má figura noexercício de sua cadeira; ao contrário, desempenha com dignida-de e altaneira o honroso mandato. Mas não percebo que a suaeleição tenha despertado, como seria de prever, maior interesseentre as eleitoras.10
Com o findar de seu mandato, Maria Dirce Ribeiro,deixava definitivamente a vida política, dedicando-seapenas ao trabalho como secretária na Prefeitura Mu-
10 PAES, Lycidio. Sugestões po-líticas. Jornal Correio de Uber-lândia, 06 mar. 1958, n. 5643.
Maria Dirce Ribeiro
Maria Dirce Ribeiro
266 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
nicipal e ao pai que veio a falecer em 1960. A partirdaí, passou a viver só e, em fins da década de 70, foiacometida de uma grave doença. Rodeada pelos pa-rentes, faleceu em sua residência, no dia 21 de abril de1981. Deixara preparada uma poesia que deveria com-por o texto para a lembrança da missa que seria cele-brada em sua memória:
Quando a morte chegar ...levarei nos ouvidos do meu sonoadormecido a voz do mar, avoz do céu, a voz do vento, avoz da terra.Atravessarei nuvens de todasas cores e chegarei ao PortoSereno — esquecerei para sempreda guerra, da fome, da miséria.obrigada, meu Deus, porqueme ensinaste desde menina aalimentar a alma da beleza purado Teu Universo.
Somente duas décadas mais tarde, a Deusa do Pro-gresso, voltou a dividir o seu reinado soberano comoutra mulher, Nilza Alves, integrante do PMDB, mascom uma trajetória de militância, no então ilegal PCB.A política enquanto um substantivo feminino, pareceque não encontrou ressonância entre as mulheresuberlandenses. Como observara o jornalista LycidioPaes, em fins da década de 50, a participação femininana política local era bastante acanhada:
A mulher de Uberlândia tem revelado timidez em ingressar navida política, conforme a lei permite depois de uma campanhalonga e tenaz, em 1945 e 1946, quando o Brasil começou arespirar livremente com o exigio da ditadura, apareceram noscomícios vozes femininas entusiasmadas. Eram geralmente co-munistas, pugnando galhardamente pelos seus ideais. Mas o PCBfoi posto fora da lei e essas vozes emudeceram.11
11 PAES, Lycidio. Sugestões po-líticas, op.cit.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 267
A jornalista e escritora uberlandense, Ruth de As-sis, constatou, após uma pesquisa realizada em 1958,que 50% do eleitorado uberlandense era feminino ese fazia necessário que a mulher se preparasse para odestino político que não fosse o de mera espectadorados acontecimentos eleitorais. Para ela, o sexo femini-no deveria aproveitar a chance e propor alteraçõespolíticas para melhor, pois:
“Uma coisa pode-se garantir : mulher não gosta de desordem emcasa ou na rua, e gosta de escolas para os filhos. De início tería-mos a Escola Técnica acabada de vez. As ruas limpas. Asvilas varridas. As obras terminadas para não enfearem a cida-de. Até o pó de agosto seria enfrentado. E é bem provável que aágua saísse da demagogia pessedista para os encanamentos... Nãoseria bom?” 12
Ao reivindicar o voto feminino no início da décadade 1920, Antonieta Villela Marquez (biografada na edi-ção passada deste caderno) não assistiu em vida, àeleição de Maria Dirce Ribeiro ao legislativo munici-pal, em 1954.
Embora esta pesquisa não tenha conseguido detec-tar se ambas se conheceram ou não, é possível afirmar
Maria Dirce Ribeiro
Maria Dirce Ribeiro
268 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
que, em seus respectivos tempos compartilharam ex-periências similares. Tiveram trajetórias de vida próxi-mas no que se refere à justiça e à dignidade do ser hu-mano; viveram em família até as suas mortes; simpati-zaram-se com os ideais socialistas; ficaram solteiras;foram inteligentes e bonitas; eram discretas e elegan-tes; gostavam de ler e viajar; apreciavam a música e,foram consideradas avançadas para as suas épocas. Pelorelato de suas vidas, estiveram, ao mesmo tempo bemlonge de se constituírem na imagem idealizada da mu-lher, projetada na esposa-mãe, mas próximas aos valo-res divulgados para uma mulher de bem e honesta, deacordo com a ideologia dominante.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 269
AnexosAnexosAnexosAnexosAnexos
Anexo 1. Projetos de leis e emendas apresentados
Data Projeto01/02/55 Modificação sobre o pagamento de taxa de água.
Redução da taxa objetivava beneficiar as cama-das mais pobres da população.
18/08/55 Emenda ao Projeto que modifica a lei de fériasprêmios aumentando-a.
14/11/55 Emenda aos Projetos que pedem subvenções.20/05/56 Emenda ao Projeto de Lei que cria cargos públi-
cos.20/08/56 Projeto de Lei autorizando a criação de escolas
municipais na Vila Brasil e Presidente Roosevelt.31/10/56 Projeto de Lei dando nova denominação a duas
ruas da cidade.15/02/57 Emenda ao Projeto de Lei que regulamenta o uso
de auto-falantes.20/02/57 Emenda à Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio.21/08/57 Projeto de Lei autorizando o pagamento de abo-
no de Natal aos servidores municipais.15/10/57 Projeto de Lei sugerindo modificações na Lei que
contém o Estatuto dos Funcionários PúblicosMunicipais.
05/11/58 Projeto de Lei autorizando auxílio de vinte mil cru-zeiros para a realização da Semana Pedagógica.
20/11/58 Emenda à Proposta Orçamentária para o exercí-cio de 1959.
24/11/58 Emenda elevando o cargo de Tesoureiro para opadrão “V”.
Maria Dirce Ribeiro
270 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Anexo 2. Indicações apresentadas
Data Assunto07/02/55 Canalização do Córrego Patrimônio. A popula-
ção do Bairro Patrimônio tem se utilizado destaágua.
11/05/55 Pede ao Prefeito relação das concessões feitascomo abatimentos de impostos, perdão de mul-tas. Prejuízo para a renda do município.
12/05/56 Moção de apoio à Câmara dos Deputados aoprojeto relativo à anistia ampla para os crimes po-líticos.
22/05/56 Ofício ao Secretário de Educação do Estado so-licitando colaboração para o Ensino Rural no Mu-nicípio.
25/05/56 Ofício ao Presidente da República para equipar acidade com uma Unidade do Corpo de Bom-beiros.
22/08/56 Indicação ao Prefeito para autorizar a limpeza tri-mestral no Córrego do Bairro Patrimônio.
27/08/56 Indicação para liberação de verbas para o ajardi-namento da Praça Rui Barbosa.
18/08/56 Indicação ao Prefeito para o cumprimento demedidas em prol da Educação na Zona Rural.
08/12/57 Indicação para o Secretário de Educação do Es-tado para colocar à disposição do município aorientadora rural Luci Oliveira Teles.
27/08/57 Indicação ao Prefeito para o pagamento dos dia-ristas, funcionários e professores, sem atraso.
04/11/58 Requerimento-telegrama de felicitação pelo ani-versário do Dr. Paulo Pinheiro Chagas, ex-Secre-tário de Segurança — (doou uma rádio patrulhapara o município).
04/11/58 Seja constado em Ata um voto de louvor à co-missão promotora da Semana Pedagógica.
04/11/58 Seja constado em Ata um voto de louvor a TitoTeixeira por sua valiosa contribuição dada aoPatrimônio Histórico do Município.
11/11/58 Indicação sugerindo que os engenheiros da cida-de sejam convidados a assistir na Câmara a expla-nação do Prefeito a respeito do novo Plano demelhoria de abastecimento de água da cidade.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 271
Anexo 3. Comissões
Data Comissãofev. 1955 Comissão de Obras Públicas.ago. 1955 Comissão de Visita ao casal Paulo Lisboa e
Costa, pela comemo-ração de Bodas de Prata.ago. 1955 Comissão de Visita à Cia. Prada de Eletricida-
de, representando as donas-de-casa.dez. 1955 Comissão de Viação e Obras Públicas.maio 1956 Comissão para obter dados de interesse do
município junto à Agência de Estatística.maio 1956 Comissão para a conclusão dos trabalhos so-
bre as escolas muni-cipais.maio 1956 Comissão para introduzir no recinto da Câma-
ra a srta. Marlene De Gasperi, uberlandenseeleita Miss Mato Grosso.
ago. 1956 Comissão para introduzir no recinto da Câma-ra o Cel. Albino Silva, do Estado Maior daZona Leste e representante do Ministério daGuerra e o Ten. Evandro G. de O. Silva, che-fe do Serviço de Obras da 4ª Região Militar.
out. 1956 Comissão para acompanhar o processo de indi-ciamento policial do vereador Walter Testa.
out. 1956 Comissão para homenagear o Lyceu deUberlândia.
fev. 1957 Comissão para cooperar com o ensino Muni-cipal.
fev. 1957 Comissão para verificar sobre a rua denomi-nada Travessa Cristo Rei.
fev. 1957 Comissão de Educação e Saúde.mar. 1957 Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.out. 1957 Comissão sobre o fornecimento de água atra-
vés de caminhões-tanque.out. 1957 Comissão para assistir a posse da 1ª Diretoria
da Associação Profissional dos TrabalhadoresMetalúrgicos, Mecânicos e Similares de Uber-lândia.
fev. 1958 Comissão de Finanças, Justiça e Legislação.out. 1958 Comissão de Educação e Saúde.
Maria Dirce Ribeiro
272 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Anexo 4. Cargos ocupados
Ano Cargo1930 Comissão da Cruz Vermelha do Batalhão Fe-
minino João Pessoa.1940/46 Bibliotecária Pública1942 Secretária da Legião Brasileira de Assistência
– LBA.1946/48 Agente Municipal de Estatística.1947/48 Oficial de Gabinete1948/49 Contadora da Prefeitura Municipal.1948/49 Chefe do Serviço de Obras da Prefeitura Mu-
nicipal.1949 Escrituraria da Prefeitura Municipal1951 Participação na Organização das Voluntárias1954/57 Integrante do Partido Social Progressista – PSP1954/58 Vereadora1955/58 Secretária da Prefeitura Municipal01/02/57 Eleita Secretária da Câmara Municipal, com
13 votos, mas renunciou em 18/02/57.? Professora Primária de alguns estabelecimen-
tos de ensino da cidade1978 Aposentadoria
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 273
Anexo 5. Poesias de Maria Dirce Ribeiro
Meia hora
Ante a passagem do tempo,Registre o calor do “agora”Na benção de meia horaQuanto bem a realizar!Trinta minutos apenasNo espaço de cada diaSão plantações de alegriaPara quem busca ajudar.
Agora é a vez da coragemAo irmão que chora e lutaCoração que pensa e escutaPodando aflição e dor!...Em outro ensejo é o socorroQue se oferece a criançaQue vaga sem esperança,À mingua de paz e amor.
Depois o amparo ao doente,Em visita mesmo breveA página que se escrevePara consolo de alguém!O apontamento otimistaA frase sincera e boaA conversa que abençoaA prece em louvor do bem!...
MEIA HORA — patrimônioDe expressão indefinida,Que o céu nos concede a vidaA todos, crentes e ateus!Irmãos, elevai o tempoPara serviço fecundo,Tempo é tesouro no mundoQue verte do amor de Deus.
Maria Dirce Ribeiro
274 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
Dor
Obrigada, meu Deus pela dor que meFez calar o riso, o coração e a alma...Mas, depois, tu mesmo emendaste com ela mesma,As minhas asas partidasE eu fiquei alegre como os teus pássaros alegres!E você liberta da corrente da vida e da morte como as
[ tuas aves tranqüilas,Do mar,Do céu,Da terra!
Silêncio
Silêncio que dá força à alma cansadaSilêncio que consolaSilêncio que protestaSilêncio que perdoaSilêncio — aplausoSilêncio — homenagem ao ontem que já não é hoje!Silêncio que o progresso destruiu.
Jane de Fátima Silva Rodrigues
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 275
Estradas
Por certo, se eu fosse uma engenheira, poetizaEu escreveria todo um poema inspirado nas estradas!ESTRADAS! Que me fascinam desde menina.
ESTRADAS no céu ... riscadas, pela asa do pássaro-pretoPela asa da pomba do bando, do bem-te-vi, do sabiá,
[ da gaivotaDos pássaros metálicos do homem — os aviões.
ESTRADAS no mar ... traçadas pelos grandes navios de[ luxo,
Pelos navios cargueiros, petroleiros ...Pela estria da lancha, pelo balanço da jangadaPelo soluço da canoa do pescador, em noites de
[ tempestade.
ESTRADAS na terra feitas pelos cérebros e mãos seguras[ de artistas — os engenheiros!
Feitas de asfalto brilhante ao sol, na chuva ou prateadas[ de luar...
ESTRADAS na terra, cavadas pela enxada, pela foice,[ pela picareta do lavrador
Cercadas de arame farpado, de arame sangrado, de arame[ enferrujado,
Mas orladas como canavial,o capim em flor, com o[ arrozal dourado,
Pelo cafezal em fruto ou em flor...Perfumada de todas as essências da mata e do campoPerfumada de terra arada, de terra molhada, de mãos
[ calejadas de suor de sol,Todas elas ESTRADAS da vida, todas elas ESTRADAS damorte,
Levando cada uma o seu destinoMas a mais feliz é a ESTRADAS que não foi desenhadano papel
Maria Dirce Ribeiro
276 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
E nem aprendida nos livros!É a estrada do engenheiro, lavrador ...À sua espera ao entardecerLuz de lamparina... penacho de fumaça do fogão à lenha,Traçando arabescos no céu...Crianças que andam descalças e não sentem nos pezinhosAs pedrinhas do caminho.Rezam na capelinha do Arraial, enfeitada de bandeirinhas
[ de todas as cores.A escola só tem uma sala e um quadro-negro,Mas compensando a carência de tudo, o ideal, a força,
[ o amorDa jovem professora da cidade, herói na anônima de
[ várias geraçõesCompletando tudo, a mãe e esposa velando tudo, com
[ o amor e a abnegação!ESTRADAS, ESTRADAS da vida! ... ESTRADAS da morte! ...
Caderno Espaço Feminino, v.13, n.16, Jan./Jun. 2005 277
Entrevista comEntrevista comEntrevista comEntrevista comEntrevista comMartha Azevedo PMartha Azevedo PMartha Azevedo PMartha Azevedo PMartha Azevedo Pannunzioannunzioannunzioannunzioannunzio
Giselle Pereira Vilela
Entrevista realizada com a escritora uberlandense MarthaAzevedo Pannunzio, premiada no Brasil e no exterior pelaexcelência de suas estórias infanto-juvenis, concedida à GisellePereira Vilela, em jan. 2006.
* * *
O que ainda encanta as crianças no livro infantil?Olha a criança se encanta com tanta coisa, porque acriança é uma página em branco; você pode escrevero que você quiser. A criança se encanta com o HarryPotter que é uma impossibilidade: menino que voa,vassoura que voa, isso é o absoluto mundo da magia.Mas criança se encanta também com a verdade, com ocotidiano; e eu acho que nos meus livros, no caso, oque o meu leitor aprecia muito é que tudo que estádito ali pode acontecer com ele de repente, com oprimo, com o colega, na rua dele, na família dele, aquelaavó da estória pode ser que seja até parecida com aavó dele. Então eu tenho que dar um “choque”, eu sósei trabalhar, dramatizar a verdade, algum fato impor-tante que tenha me sensibilizado. O que tem me trazi-do também algumas complicações é que as pessoasretratadas, elas ficam tão evidenciadas no meu traba-lho que elas ficam magoadas comigo, e elas não gos-tam que eu diga uma coisa que me pareceu importantemesmo quando a atitude tomada não foi bonita, não
Giselle Pereira Vilela. Bacharel do Curso de Pedagogia – Gestão e TecnologiaEducacional, da Uniminas.
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
278 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
foi de aplausos, e sim de censura, mas a gente só seconstrói assim não é. Eu acho que sou verdadeira atéquando eu sou personagem e esse personagem praticaum ato falho. Se eu pratiquei, eu conto! Por exemplo,“Bruxa de Pano” é a estória de uma menina que nãotinha irmã, só tinha irmãos e que mijava na cama por-que estava infeliz. Eu conto!Porque eu fui uma menina mijona. Mas só eu no mun-do? Cadê os outros? Então eu não tenho nenhum cons-trangimento em dizer para quem decodificar o meurecado, e entender que em Bruxa de Pano, a Ritinhasou eu mesma em alguns momentos. Eu fui uma me-nina mijona e ninguém me acudiu, acho que ninguémpercebeu; isso podia ser solucionado. E sofri muitopor isso. As crianças que têm essa deficiência e difi-culdade, elas sofrem muita humilhação. Da irmanda-de, dos familiares, dos tios, dos primos, e é muito difí-cil sair de casa. São aqueles que nunca vão dormir nacasa das tias, na casa da avó. Então é aquele constran-gimento, e que dependia apenas de um entendimento.Então mesmo quando o personagem não está nummomento de beleza, de poderio e de auto-aceitação,eu conto! Eu conto porque isso não tem importânciapara mim e eu sou gente igual a todo mundo né. Achoque esse ingrediente de verdade também, a criançagosta muito de encontrar. Ela se encontra, é singelo,um recado só, não complico, a minha estória é uma só,e eu quero até fazer um depoimento de um meninoque me visitou, nesse segundo semestre na fazenda,junto com a escola dele, uma escola pública, estadual,e ele me disse: “Gosto dos seus livros por três moti-vos: primeiro porque eles são finos, depois porque aletra é grandona, terceiro porque a Senhora não com-plica, é uma estória só, acabou, acabou”. E eu pergun-tei: Mas você não gosta dos meus livros porque elessão bons de ler? “É... eles não são ruins não, eu atéacho legal, tipo, você não inverte, eu gosto dos seuslivros porque são bons de ler, e depois te digo o resto,
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 279
a Senhora quer que eu minta? Eu vejo na biblioteca olivro que é fino, claro, para começar! Então eu estoufalando para a Senhora, a verdade”. E eu aprecio mui-to o depoimento daquela criança porque mesmo comtreze anos não negociou comigo, mesmo estando sebeneficiando do meu espaço, na fazenda, passeando,matando aula aquele dia, ele não negociou. Ele disse:“Primeiro porque é fino, e depois o resto”. Então issoé muito bom. O meu personagem é esse aí, que seassume. O Gutinho amava o rio mesmo que alguémdiga: Nossa, um menino que ama o rio, o que é isso?!Que menino esquisito né! E que menino bobo. E exis-te menino que fala com o rio? Eu conheço criançasque falam com o rio, que falam com a lua, com asestrelas. Então, o meu Gutinho fala com o rio... e o riofala com ele, que foi a grande descoberta que me per-turbou muito ao escrever aquilo, porque o rio aceitouaquele monólogo e o transformou num diálogo. E quefez muito bem pra mim, Martha adulta, com mais desessenta anos, escrevendo aquela estória. Então essainteração maravilhosa, que eu acho que ocorre quan-do não se abre mão do delírio, do devaneio, do que ébom para a alma da gente, da fantasia... de personalizaros objetos que não têm personalidade, os seres, sei lá,inertes ou não... é uma fuga, mas ela também é saudá-vel, faz parte da cura, do processo de cura que a hu-manidade toda precisa permanentemente.
Com esse maior acesso da criança às informações, há necessi-dade de uma mudança na temática da literatura infantil?Não, eu acho que não existe uma temática de literaturainfantil, bom, eu acho que não existe nem literaturainfantil, e acho uma pena que tenham consagrado esterótulo. Não é literatura infantil, é literatura boa para acriança ler. A literatura de qualidade, a produção e aescrita de qualidade, ela serve para qualquer idade. Acrítica literária mesmo, eu converso com eles, quandoleu o meu “Era uma vez um rio” para prefaciar, ela
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
280 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
disse: “Bom para leitores dos nove aos noventa”. Eela com mais de oitenta, se emocionou muito. Portan-to, quando o texto é trabalhado com felicidade, por-que é uma felicidade trabalhar um tema ou um textoque possa servir para o autor e para mais alguém. En-tão quando isso acontece, não tem idade; uma criançaouve por exemplo a fofoca feia da família com umaatenção incrível, não é da conta dela, mas ela gosta deouvir nem que seja atrás da porta, interessa a ela. En-tão, mudar a temática, eu acho que não tem temáticainfantil, tudo é a descoberta que é importante, a con-firmação de valores é importante, sem fazer livro queseja moralizante, isso tudo tem que acabar: não faça,não é bom, não é bonito, você não deve; o livro donão, eu sou absolutamente contra; cuidado, você podese estrepar, você tem que cuidar da sua vida, olha ofuturo, olha depois, olha o pecado, esse pecado horro-roso que a humanidade, a população cristã do planetacarrega, o pecado original: você tem que batizar o me-nino porque senão ele fica com o pecado, ele não temculpa de nada mas já nasceu devendo, então tem umaliteratura moralizante que eu acho execrável: literaturareligiosa, literatura política, o que é muito ruim. Lite-ratura é arte, e arte é beleza e emoção e ponto final,acabou. Eu não sou uma escritora de literatura infan-til, sempre que me dizem isso, até para as críticas, aténas bienais de livro, a feira do livro, eu sempre disse:“Me recuso a ser considerada uma escritora de litera-tura infantil”; não existe esse gênero. Existe um livroque pode ser bom também para o leitor mais exigentedo mundo, que é a criança. Criança não lê mais do quedez páginas. E se ela não gostou, ela larga mesmo nãoé?! E que bom que ela seja assim, bem seletiva, bemexigente, bem criativa, mas quando ela gosta, ela ama.E ela reproduz, ela encena, dramatiza, ela canta, elaconta para os amigos, ela se apropria daquilo na suaprodução, na redação da escola, na sua vida, no com-portamento, ela quer ser aquele em algum momento; etem o livro que é bom para a criança, porque senão
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 281
fica parecendo que é um gênero, e como gênero correo risco de ser um gênero menor, e como pouca genteconsegue escrever alguma coisa que seja bom para acriança, há uma tendência de se considerar literaturainfantil como um gênero menor, e não é não! Eu desa-fio todos os bons que escrevem para adultos, que ve-nham escrever para criança. Por que eles não vêm,não é?! Então, é uma literatura feita com muito cuida-do, com muita responsabilidade, de tal maneiracomovente que ela possa cercar uma criança, envolvê-la naquele carinho, naquela sedução, naquele desafio,naquela descoberta. Querer ler mais, de novo, presen-tear um amigo, guardando especialmente, perto de suacabeceira da cama. A criança faz do livro que ela ama,um objeto de companhia. Ela guarda, ela leva na horade dormir, na hora da mesa do café, pinga leite, a mãefica brava, as vezes rasga, estraga, é isso mesmo! Livroé um objeto de consumo, ele pertence ao leitor. Porisso é que eu; não é sua pergunta, mas eu vou dizer,não permito que a editora faça a produção de um tex-to meu com luxo, porque luxo você compra na joalhe-ria não é?! Livro é para consumo. A gente compraarroz, feijão e alimenta o corpo. E a gente lê, pinta,dança e canta para consumo espiritual. Você tem quealimentar essa parte que não é o corpo; é outra coisa.E alimentar dessa energia que só a arte dá! Então olivro não precisa ser ricamente ilustrado, encadernadoluxuosamente, não precisa custar um absurdo, eu dis-penso até ilustração nos meus livros... porque o meuleitor, ele é capaz de criar, imaginar na cabecinha dele:que rio ele quer?! É o dele, que ele conhece, é esseque está ali, não é aquele que está desenhado. Agora,no livro “Você já viu gata parir?”, eu solicitei da edito-ra, da Universidade Federal de Uberlândia, o direitode trazer o ilustrador. Primeiro porque eu gosto muitodo trabalho do Hélvio Lima, que é um artista plásticoautor-didata, e segundo que eu imaginei que aquelefato de crianças de cinco e sete anos; ele poderia serbeneficiado pelo apoio que se sofre da ilustração como
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
282 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
recurso. Então, quando eu digo: ele estava na cozinha,e a avó e estava arrumando o fogão, e a gata no rabodo fogão... o menino não sabe que o fogão tem rabo,ele sabe que o gato tem, mas o fogão não, talvez elenão tenha visto um fogão a lenha. Então, Hélvio veioassim, para complementar aquele fogão, o rabo do fo-gão, o gato por ali tomando aquele leite, as coisas sin-gelas que eu não disse porque eu já sei que não preci-so, mas que a pintura poderia trazer. Então, em “Vocêjá viu gata parir?”, eu achei que o trabalho do Hélviopossibilitou uma segunda leitura, uma opção muito boa,de conhecer a nossa realidade. Eu não disse que osipês estavam floridos, que eram amarelos; ele sim-plesmente desenhou uma porteira, uma árvore tom deamarelo e se a criança quiser saber se algum dia elaenxergar uma árvore, ela vai saber que aquilo é umipê, uma vegetação brasileira. Então, eu não disse, maso ilustrador disse. Mas, no geral, “Veludinho” vemilustrado. O Concurso Nacional, que eu era membronata, da comissão avaliadora, e eu bati o pé para quenenhuma daquelas ilustrações, eram dezessete artistasplástico da melhor qualidade, treze ilustradores do eixoRio – São Paulo, e eu bati o pé e não deixei. Porque“Veludinho” é uma tragédia, eu estou falando de umavida que corre perigo, e de um grupo infanto-juvenilque quer salvar, quer consertar o erro que produzi-ram. “Veludinho” estava ferido, mas naquele dia elesjá haviam assassinado uma porção de passarinhos. En-tão, salvar aquela vida foi um curativo naquele mo-mento. Contar isso aí, não comporta nenhuma cor... ébico de pena; preto sobre branco, é uma tragédia! En-tão eu amo a ilustração de “Veludinho”, são só cincopranchas, mas bico de pena. Nunca; em vinte e cincoanos encontrei nenhuma criança, em nenhum lugarque eu fui, que me pedissem um autógrafo no livrodela e que tivesse tido necessidade de colorir. Elepermanece. Intocado. Eu acho maravilhoso, porque oque eu achei que era, era mesmo, a criança entendeque tragédia é tragédia, não precisa.
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 283
Há espaço para a divulgação de livros na internet?Eu acho que nós temos que tomar essa iniciativa rapi-damente, mas há um obstáculo muito grande aí. Pri-meiro, o livro, desde que ele cai nas mãos da editora,ele pertence à editora. Nós firmamos um contrato depublicação, que tem uma duração talvez de cinco anos.Então o livro é nosso, mas não nos pertence! Ele estácedido; os direitos de autoria são da editora. E a edito-ra não vai de maneira nenhuma perder essa possibili-dade de ganho, de um produto que ela trabalhou, peloqual ela se esforçou, que investiu na divulgação, paradisponi-bilizar para a humanidade. É uma pena queseja assim. Tem um tempo, eu não sei qual é esse tem-po, até preciso me informar, que, alguém com quemeu já conversei, diz que quando o livro faz trinta anos,ele não pertence mais nem ao autor, nem a ninguém.Ele é domínio do público, ele é da humanidade. En-tão se for, muito bom. Trinta anos é um tempo enor-me! Porque seria muito bom se todo mundo pudesseacessar e ter gratuitamente aquilo, não é?!. Mas o Bra-sil está muito longe disso. Não sei quando isso vaiacontecer, mas, eu quero que isto aconteça. Assimque os meus contratos vencerem, eu já constituí umadvogado no Rio para ver se isto é possível; porque“Veludinho” daqui a pouco faz trinta anos. E quandofizer, se ele puder sair na internet, eu vou achar muitobom. Porque também, o que se ganha, eu, por exem-plo, que tenho só seis livros publicados, nem cogitode sobreviver de literatura, porque o direito autoral éuma porcentagem irrisória que se paga, e que se pagaseis meses depois, que o ano passado terminou. Entãoa receita quando chega, chega defasada, parcelada enão significa nada. Bom, quem produz muito, que vivesó para isso: escrevendo, muitas editoras; talvez possasobreviver de literatura e possa dar um depoimentomelhor que o meu. Eu torço por um sim, para que osmeus cheguem nesse momento, na esperança de quemais pessoas possam compartilhar. As estórias, elas
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
284 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
são tão singelas, mas elas são realmente ternecedoras.
Como a senhora avalia a concorrência do livro infantil comos outros meios midiáticos, principalmente os programas deTV, a internet e o videogame?Não é o livro que concorre, são os outros que con-correm porque o livro é anterior. A produção, querdizer, essa arte gráfica e o livro, que é uma conquistamuito sofrida e demorada da humanidade; imagina otempo da pedra: gravar em pedra. Eu me lembro deter visto na “Via Ápia”, quando visitei Roma, e fiqueimuito emocionada de ver: eu vi uma lápide fúnebrecom o nome da rodovia onde se enterravam as pesso-as mais importantes do Império Romano; imagina, por-que quanto texto, uma pedra talhada com o símboloassim: “I quí dorme Núlia, que vive citibunda com biro sule”.Aquilo queria dizer: “Aqui jaz Júlia, que viveu fiel aoseu marido”. Eu fiquei pensando não só na mensagemde fidelidade que o marido achou que houve, porquefoi ele que mandou fazer; mas o trabalho de lapidaraquela pedra, de fazer aquilo perene para a humanida-de saber que um dia existiu uma Júlia, que depois demorta mereceu esta homenagem, que linda deve tersido a vida dela com esse marido; mas que esforçopara deixar esse recadinho. E da pedra, do papiro paracá, a humanidade pelejou muito. A internet, que mara-vilha! Você digita, clica e chegou... Então eu acho quenós temos que fazer desse limão, uma limonada. Dei-xar tudo dito e impresso para todo mundo saber, setem que jogar fora, que jogue, não tem importância. Eacho que, a informatização, ela tem que serdisponibilizada ao alcance da humanidade como umtodo, servido antes da sobremesa, porque o conheci-mento... se a globalização não fizer isso, pode acabarcom a globalização! Então, quando eu, hoje, acesso o“Museu do Louvre”, junto os meus netos, e a gentevai passear pelo “Louvre”, pela telinha, pela internet...a minha geração, há cinqüenta anos atrás, teve que
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 285
comprar uma passagem, teve que ir lá, viajar, caríssi-mo, visitar, dia por dia, ficar em pé, não dava parafotografar, não podia voltar para ver porque não davatempo... Não, hoje, quantas vezes eu quiser ver a“Monalisa”, eu trago a “Monalisa” para mim. Ela mepertence naquele momento. Então, quando isto esti-ver disponível para todos, nós vamos sair do terceiromundo, claro! E eu vejo assim, com uma grande ansi-edade, o fato de que as crianças japonesas, quandocompletam oito anos, elas ganham um presente do go-verno japonês. A natalidade do Japão é pequena, elestêm um absoluto controle disto aí porque nem cabe...lá é um arquipélago cheio de vulcão... mas aos oitoanos, no dia do aniversário, o governo japonês presen-teia cada japonesinho com um site na internet. Este éum presente de cidadania. O menino passa a desfrutarde tudo que o mundo adulto tem, se ele quiser. E eufico pensando: quando que o Brasil, hein... quandoque nós vamos ter isto daí? não vai ter... vai ter istoaqui lógico, um dia vai ter... mas tomara que seja assim,o mais breve possível, não é?! Mas está andando...rápido até. Podia ser pior. Eu vejo as escolas se movi-mentando, o governo, tentando equipar as escolas, ogoverno federal dizendo que vai fazer um computa-dor de R$100,00, eu estou louca para ver como é queé esse computador aí, não é?! Porque o meu custoumuitos mil e ele vive quebrando, dando vírus, e eupreciso chamar o técnico, mas; que bom! Tudo acimade zero é positivo. Então, hoje, o livro está em desvan-tagem, porque a internet traz para o menino aquiloque a família não traz; ela traz companhia, lazer, ero-tismo. As crianças estão disponíveis para serem en-volvidas, seduzidas, deturpadas, estupradas intelectu-almente, pelo que há de pior na internet. Porque éprazeroso... o sexo que a internet mostra, ele interessapara a criança pré-adolescente, para a criança peque-na, a mãe saiu de casa e só vai voltar mais tarde, o paitambém e a avó também e todo mundo. O menino sótem aquela companhia; primeiro como uma babá, de-
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
286 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
pois como um companheiro e depois porque ele nãotem mesmo outra opção, então ele se arrebenta sen-tando mal, comendo porcaria e entrando num mundovirtual que pode ter seríssimas conseqüências. Eu vi,a pouco tempo, num programa de internet, uma medi-da, não sei se posso acreditar, mas acho que sim, deque psicólogos japoneses já estão se disponibilizandopara atender crianças doentes já; com sério compro-misso intelectual pelo excesso de exposição aos raiosultra-violetas que são emitidos para formar a imagem.E também a dosagem excessiva, uma overdose de in-formação, que de uma formação que desperta neleum sentido de perversidade, de egoísmo, de poderio,de super-herói, de luta corporal, de uso de qualquermeio para sobreviver, para sobressair, para comandaro grupo, então, esse momento, eu acho que é muitoruim; em que a internet vai para o banco dos réus enós vamos botar de castigo, e vamos botar também opai e a mãe que não estão prestando atenção no filho,no que está acontecendo. A livraria Siciliano ao dar omeu nome à loja de Uberlândia, uma gentileza muitogrande, me pediu um pensamento para colocar em umaplaca. Naquele momento eu não queria falar de livro,eu queria falar de limite: “Limite, essa é a palavra deordem da educação contemporânea, os pais responsá-veis que quiserem ajudar os filhos a se preparar para ofuturo, deverão estabelecer limites: de tempo para osestudos, para o lazer, para os amigos, para a internet epara a leitura”. Ler é fundamental, e as crianças nãoestão lendo. Elas têm preguiça de ler, não têm acessoa livros interessantes, a escola se equivoca muito, quan-do a escola propõe um livro, ela não é bem sucedidaporque muitas vezes propõe livros de páginas muitonumerosas, a criança fica cansada, desanimada, não lê.Livros de temas complexos, que não interessam; li-vros que não dizem nada ao cotidiano da criança; en-tão, elas não querem transpor aquela dificuldade decompreender um universo completamente diferentedo dela. Eu imagino que muitas vezes a professora
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 287
não lê o livro que ela indica; ela vê os mais vendidos,ou gostou do título, não sei, e a criança fica com umacerta carga de obrigatoriedade a cumprir e ler aquelestítulos, e ela pode depois fazer resumo por capítulos,muitas vezes é a mãe que faz a noite na véspera deentregar, de qualquer maneira, ou o menino cata umafrasesinha em cada capítulo e põe ali, mas ele não leu.E isso é uma doença que se alastra, porque os própri-os livros do vestibular; os cursinhos fornecem a rese-nha dos livros indicados, contam a estória, resumem,dão os macetes, as perguntas mais prováveis que po-derão cair, com as respostas. Então todo mundo éresponsável por essa geração que não lê, que não sabefalar, que não se expressa com facilidade e nem seexpressa de jeito nenhum. Você está vendo aí, o códi-go lingüístico que a internet criou. Você ensina o por-tuguês para o menino, desde a pré-escola até a oitavasérie, ele é incapaz de escrever uma frase sem erro,por menor que ela seja, ele erra na concordância, nasintaxe, na colocação, ele erra tudo. E agora vem umcódigo abreviado, cheio de novidades, que é uma es-crita gutural, fonética, e ele abreviou tudo, e todo mun-do aprendeu rapidamente. De repente, a comunidadeinfanto-juvenil brasileira aprendeu, se comunica, emenino do Brasil inteiro fala a mesma coisa, pelasmetades, e acha aquilo um grande prazer. Aí, a vírgula,a reticências, os dois pontos, o travessão, a letra mai-úscula, todo o discurso direto, tudo foi pelo ralo. Be-leza! Eu mando o recado para os meus netos, paraalguém na internet, de três linhas, eles me respondem:um “t”, que cansa, que me irrita profundamente, e um“azinho” sem acento “ta”, pronto! E está respondido.É uma pena, porque ao vivo também ele não fala nada.Mas isso é passageiro, eu imagino, que todo mundovai crescer, assim como vai aposentar a calça curta, otopete, o gel no “cabelinho”, a “cristinha de galo”, éclaro que vai passar; e um dia todo mundo vai ter queescrever um bilhete, mandar uma cartinha para o na-morado (a), pedir um emprego, escrever um curriculum,
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
288 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
e receber um recado. As pessoas vão ter que falar eescrever no código aceito, concedido e consagrado;porque todo mundo se quiser ter um mínimo de opor-tunidade vai ter que se inserir e se enquadrar na nor-malidade, só que eu como avó, na minha contagem járegressiva, fico muito ansiosa, mas eu me repito o tempotodo: “Calma Martha, vai passar. Vai ter que passar!”.Mas nesse momento eu acho uma tragédia. E a escolanão está fazendo o seu papel à norma culta, e tem quefazer. O menino não faz mais ditado, menino pegauma composição de três ou quatro linhas e fica porisso mesmo, eles não passam a limpo, eles não consul-tam o dicionário, eles não consultam a gramática, masestudam inglês... o Brasil está cheio de escolas de in-glês, como se essa fosse a nossa língua pátria. É preci-so cessar essa coisa, porque nós temos que dar ênfasea nossa língua, que é a garantia de soberania nacional,e é uma língua lindíssima! Nós somos um país conti-nental, extenso demais, que tem muito paralelo e tró-pico; e manter a integridade nacional através da lín-gua; porque cantar o hino nacional já não se sabe mes-mo, as cores da bandeira ninguém usa, porque nãocurte; qualquer biquíni tem uma bandeira estrangeira,americana, quer dizer, ninguém está percebendo isso?Por que há esse consumo exacerbado, esse modismo,essa macaquice de estar copiando uma cultura impor-tada? Por que... porque poderia cair na mão de umpaís insolente, predador, escravocrata, que tem umamoeda forte e eu tenho um mundo inteiro, um presi-dente que não assina um contrato internacional de pro-teção ambiental e fica por isso mesmo; que joga bom-ba num país porque quer, sem nenhum motivo, por-que quer destruir a possibilidade de sobrevivência como petróleo, e a humanidade consente isso, eu fico apa-vorada! Então olha, a mídia toda disponível, ela é eespera só o que quer. O que não pode é deixar omenino escravo da internet como ele está agora, por-que esse menino vai ter problema de coluna, proble-ma de cultura e problema de convívio; quanto mais
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 289
ele se fecha sozinho na salinha, no computador, maisele está cortando os caminhos de possibilidades deser uma pessoa que se relaciona fácil, e esse dano,depois não tem mais jeito. Eu vejo, por exemplo, osmeus netos, eles dizem: “Vó, mas do que a gente vaibrincar agora?”, e quinze minutos depois: “E agora, oque é que a gente vai fazer?”; como se eu tivesse umcondão, a responsabilidade de fornecer ectoplasma parao lazer deles, eles não tem fixação de meia hora comnada, e eles não conseguem elaborar uma brincadeiraao sol, no grupo; não conseguem... eles não sabem,ficam perdidos; e a culpa é de todos nós, não é culpadeles não. Precisamos recuperar o cancioneiro, a brin-cadeira, o espaço aberto, o grupo, o quarteirão, convi-ver com os coleguinhas da rua: um te ajuda, um teatrapalha, um te bate, o outro você bate nele, e vamoscrescer assim, com muita saudade depois.
Escrever para crianças é mais difícil que escrever para adul-tos? Por quê?Então; eu escrevo para adulto (risos), mas a crítica e aeditora me colocam na sessão infanto-juvenil, no catá-logo deles. E... eu não sei como é escrever para adul-to e escrever para criança, não sei. Mas, eu sei quetoda vez que eu escrevo, eu escrevo a respeito decriança e de adolescente. Porque eu tenho um conví-vio muito grande com criança e adolescente; eu nascinuma família que tinha muitos primos na casa de to-dos os tios tinha muito menino, a gente conviveu alicuriando, cozinhando, brincando, pulando corda, edepois, na minha casa também nós éramos cinco fi-lhos, eu fui mãe de cinco; e quando os meus filhosestavam entrando na vida escolar, a escola inventouessa coisa que eu acho cretina: a tarefa em grupo. E aí,na tarefa em grupo, eu tinha cinco filhos, e cada umnuma idade seqüencial, e meu marido não gostava defilho na rua ou na casa dos outros, então, nós abrimosa nossa casa para que os colegas viessem. Então, cin-
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
290 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
co meninos, vezes, mais quatro ou cinco colegas, tododia eu tinha que assar dois bolos para o lanche, por-que era muito menino. Então, eu me preparei, era pro-fessora, e sei a importância das coisas. Eu compreitudo o que era preciso; do tesouro da juventude atétodas as enciclopédias científicas e de conhecimentogeral, bastante papel, lápis de cor, tinta guache, pincelde todas as espessuras. Minha casa era uma oficina deprodução de conhecimento; porque era um investi-mento que meu marido e eu fazíamos. A gente tinhacerteza de que o que a gente podia deixar pronto paraesses meninos, era possibilitar para eles beber nessafonte maravilhosa que é o conhecimento. Então, vie-ram os amigos, foi uma brincadeira muito grande; por-que claro que eles se dispersavam muitas vezes. E euacho que os meus filhos se lembram de mim comoaquela mãe bem megera, bem bravona e de chineloem punho, porque eu botava preceito mesmo nos gru-pos de trabalho. E enquanto eles não terminavam, nãolanchavam. E só depois de lanchar eles podiam jogarbola no quintal, pular corda, balancinho, o que quises-sem; mas primeiro, deixar pronto: folhas e folhas depapel almaço. E ainda percebendo que eu ajudava pou-co, eu me matriculei na Faculdade de Artes; na tercei-ra turma. Eu fui porque eu não tinha esse conheci-mento de artes plásticas, essa aptidão; aptidão nenhu-ma; mas eu tinha muito traquejo para isso. E eu queriaque o trabalho deles fosse mais sedutor, diversificado.Então, eu cursei uma Faculdade de Artes baseandoenquanto os meus meninos estavam entrando na es-cola, para poder ajudá-los a confeccionar. E aí, desco-bri a sucata, que foi para nós um ponto de partidamaravilhoso! Hoje, todos nós somos sucateiros, a gentegosta muito. E a gente descobriu antes de todo mun-do, a importância de cuidar do lixo, porque o lixo éuma fonte de beleza, talvez; de riqueza... isso é muitointeressante. Eu censuro até hoje o trabalho em gru-po; acho que é uma bobagem; porque um pesquisa etodo mundo assina. Todo mundo vai passando de ano,
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 291
vai conquistando diploma de mentira; porque não seesforçou por nada, não adquiriu aquele conhecimen-to. Mas como naqueles grupos os meus meninos esta-vam sempre linha de frente na pesquisa, na leitura,nos livros, desenhando, recortando, colando, encapandotudo; eles lucraram muito. E se saíram e estão se sain-do muito bem na vida; só não sei se estão fazendo issocom os filhos... Não adianta ter um carro bonito nagaragem e um sofá na sala, onde ninguém possa sesentar, e o menino não ter um dicionário em casa. Eupergunto para esses meninos que me visitam: “Comochama seu avô?” ele diz: “Tião”. De que? “Ah... nãosei não!”. Ele não sabe quem foi o seu bisavô (pai doseu avô). Nem a própria origem, a família não estáexplicando para a criança. Até menino de aldeamentoindígena sabe. Essa geração é mediatista, eu vejo istocom bastante restrição. É muito preocupante; o Brasilnão sabe nada do Brasil. Ninguém sabe por que na ruapuseram aquele nome. Quem é aquela pessoa quenomeia a rua que a gente mora. Ninguém tem curiosi-dade.
A vida adulta e a adolescência chegam cada vez mais cedopara as crianças de hoje. De que forma isso se reflete naliteratura infantil?Eu acho que há uma oferta cada vez maior de livrosmuito erotizantes. E... os adolescentes preferem li-vros que tenham ingredientes que tangenciem experi-ências sexuais, com droga, de meninos rebeldes, quefogem de casa. Eles acham isso muito interessante.Eles preferem... é mais provável que eles leiam isto aído que um livro com outra formatação. Mas isso tudotambém, é natural até, que o jovem queira saber mais arespeito do que se faz silêncio na família. Mas... euvejo hoje, nas bancas de revista, as chamadas são sópara o erotismo. Escândalos e escândalos sexuais, con-jugais, tudo revelado. E a venda que está escrita: “Proi-bida para menores”; aquilo não vigora, menores com-
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
292 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
pram e gostam. Então, eu nem censuro mulher pelada.É lindo! Uma mulher, linda, nua, tomara que todostirassem a roupa mesmo não é?! O corpo é uma coisamuito linda. Mas, quando a revista deixa isso veicularna mão de todo mundo, ela só quer vender. Ela queresvaziar a prateleira. E a editora que fez; ela sabe queeste produto se vende bem. Maurício de Souza, quefaz a série da “Turma da Mônica”, ele que é o quemais vende no Brasil, ele diz: “A concorrência, queeu, com os meus personagens infantis e ingênuos éenorme com as revistas de sacanagem. Porque ameninada pode comprar aquilo. E aí passa de mão emmão no empréstimo assim escondidinho, pra ler nobanheiro, na escola, pra ler de noite escondido da mãe,no banheiro da casa, pra mostrar para o irmão peque-no... isso tem uma força muito grande”. Então, eu soucontra a literatura moralizante, mas a literatura quemente, também ela é muito criminosa.
Qual a melhor técnica para elaborar um livro infantil desucesso/prazer para as crianças?O sucesso de venda, com uma máquina de fazer pu-blicidade e bastante dinheiro, você faz. Veja por exem-plo, essas produções européias, dessa série: “HarryPotter”, que menino espera o próximo livro. A autoranem cogitou ainda, e já estão na lista de espera... isso éuma loucura internacional, uma coisa desta. Por quê?Porque a mídia produz aquela ansiedade, aquela ex-pectativa, e a criança cai naquela armadilha, e ela quer.E sorte do autor, que tem essa máquina funcionando.Mas ela é profundamente desonesta, porque ela podeestar ensinando alguma coisa, que depois vai se verque não tem mesmo grande importância. Mas, eu nãosei o que faz sucesso. Neste momento as coisas che-gam e caem no gosto popular. E, sem publicidade,elas dificilmente cairão. O livro brasileiro tem muitadificuldade de ser conhecido ou adotado, porque oprofessor tem um salário tão ruim, que não sobra pra
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 293
ele comprar livro. E a editora não tem suporte finan-ceiro para presentear os professores, com o livro queeles poderiam conhecer, gostar ou não. Então, quandoo livro brasileiro, ele sobrevive, e sai da primeira edi-ção, isso já é um milagre editorial, porque ele tem quesair sozinho. Nós temos alguns escritores consagra-dos: Monteiro Lobato, Ruth Rocha, maravilhosa, quetem uma Editora Abril junto com ela. Ela trabalhavana Editora Abril, Editora poderosa, que faz revistinhade tudo quanto é coisa, inclusive revistinhas infantiscom os ilustradores charmosos, simpáticos; e é SãoPaulo... São Paulo é o pilar da literatura cultural brasi-leira. Ana Maria Machado, inteligentíssima, uma mu-lher politizada, que transporta para os seus temas umavivência elitizada, o livro dela é politizante, meninogosta muito de ler... nós temos muitos escritores bons...e temos aquela doçura também, de Cecília Meireles,aquela coisa maravilhosa que a criança ama, teatralizae musicaliza... muito bom. Mas nesse momento, noBrasil, a produção literária está muito desatualizada emuito distrital. Por exemplo, os escritores de BeloHorizonte, que tem à sua disposição, uma grande ofertade mão de obra muito qualificada para produzir ilus-tração; eles fazem de qualquer nada, de qualquer poe-ma, um livro lindíssimo. Os ilustradores estão lá, aescola “Guinhard” vem de Belo Horizonte, e concen-tra o interesse de pelo menos os mineiros maistalentosos. Então, há uma efervecência. E um rasgaseda, eu adoto o seu, você adota o meu, e fica naque-la... então, a literatura mineira, em Belo Horizonte,nesse momento está muito viva. Se nosso trabalho caino gosto da grande crítica, e no conceito da FundaçãoNacional do livro infanto-juvenil, nos organismos decrítica literária, se o seu posto é apreciado e premiadopela Câmara Brasileira do Livro – São Paulo, pelo Cir-cuito Nacional do Livro – Brasília, então, você tam-bém fica com portas abertas. Por exemplo Ziraldo, eleé um furacão de produção, mas ele ilustra, ele vai paraa televisão, para passeatas, ele briga com o Presidente
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
294 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
da República; ele é um intelectual diferenciado. Falaalto, fala grosso... então, Ziraldo para nós, é uma loco-motiva, ele puxa a composição inteira, não é?! Quebom que ele está vivo neste tempo... E o livro doZiraldo, “O Menino Maluquinho”, gerou uma porçãode maluquinhos, a professora maluquinha e outros.Ziraldo vai longe! Como ele ilustra com muita graça,muita vivacidade, e escreve de forma hilariante e inte-ligente; o menino adora ler. Pela capa, o prefácio, elese comunica imediatamente com a criança, e é rapidi-nho, um recado só! Acho que Ziraldo tem a receita dobolo que dá certo. Porque ele é publicitário, editor,jornalista, crítico literário, partidário, filiado a partidopolítico, e tem uma história de contestação. Então eleproduz um livro pragmático; não desperdiça tema. Elevai direto ao assunto e convoca o menino a tomaratitude. Então, alguns escritores rompem o ambientedistrital onde estão inseridos, e são de grande aceita-ção no país. Eu tenho uma sorte enorme, porque omeu primeiro livro “Veludinho”, nasceu assim: premi-ado com maior prêmio de literatura nacional. Então,“Veludinho” chegou no primeiro concurso literáriona década de setenta, em Brasília; o governo federaldecidiu que era preciso ser mais do que MonteiroLobato e Cecília Meireles... Alguém sabe fazer algumacoisa que possa ser interessante; para o governo ban-car a edição e divulgar? Então, “Veludinho”, num con-curso onde participaram 76 escritores, e onde preten-dia-se conferir 5 prêmios, a comissão julgadora ficoutão emocionada com o livro, porque é um livro quefalava de morte de uma maneira simples, verdadeira; ede que um grupo de meninos que provocou a mortede um passarinho e foram capazes de sobreviver àquelatragédia, e prosseguir, usando a espingarda, se diver-tindo, sem matar passarinho. Uma mudança de com-portamento a partir da tragédia. Acho que foi isso quesensibilizou, porque esse é o ponto de apoio deles;pois era uma literatura que não tinha rei, não tinhafada, não tinha poção mágica, varinha, vassoura, nada
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 295
disso! Não era erótico, escandaloso, nada! E de repen-te trazia uma mensagem forte que vinha de onde? daProvíncia... Gente, de onde que é essa cidade? Quemé essa pessoa? De onde que ela apareceu? E emocio-nado naquele momento; eles deram todos os prêmiospara “Veludinho”... Ele ganhou sozinho todas as co-locações! Foi um prêmio único naquele momento, queeu nem sei se foi certo ou se foi errado. Mas elesacharam que a distância entre o “Veludinho” e o resto,era completamente desaconselhador. E aí, esse livrojá nasce ungido de graça, porque ele trouxe o aplauso,o publique-se e a premiação dos professores das Uni-versidades de São Paulo e Rio de Janeiro, assim, dezcom louvor! Ele já nasceu pronto! A primeira ediçãoteve dez mil exemplares e se esgotou num minuto.Fez badalação de jornal, de coluna, dos melhores... euna época, fiquei tão assustada, porque eu pensei: “Gen-te, o que é isso?!” Levei um susto. Porque o que é“Veludinho”? Não é nada... é só umas horas passadascom aquelas crianças do meu convívio, no meu quin-tal, e eu nem sabia que uma experiência desta podiaser prazerosamente recebida. E fui recebida no Brasilinteiro e “Veludinho” é uma surpresa atrás da outra;as crianças não se cansam de ler, os professores nãose cansam de adotar! Só que agora, quando a legisla-ção ambiental em vigor no Brasil, que cada vez vaificando mais rígida; o que é “Veludinho”? A estóriade meninos que matam passarinho. Mas ele gera e pro-voca uma discussão sobre a importância da vida: vocêtem o direito de matar o outro? Não... mas é só umpassarinho... Mas eu tenho direito de matar, mesmoque seja só um passarinho? Esse passarinho faz falta!Ele precisa ser respeitado, sobreviver e continuar noecossistema. A minha atitude prejudica o ecossistema?Se prejudica, prejudica o planeta. Então, os desdobra-mentos que a leitura do “Veludinho” traz, são muitosaudáveis. Eles constroem naquilo que era um leitor,um menino que foi ler só por prazer, e que ficoutristinho, que fica torcendo para o passarinho não mor-
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
296 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
rer, ele não quer que morra! Aquele menino, depois,na sala de aula, ele se torna um cidadão de primeiragrandeza, porque ele se coloca ao lado do passarinho,ele vai ajudar, ele não vai nunca mais dar uma pedradaou uma estilingada num passarinho, na vida dele. En-tão, isso é uma força que a arte tem, que eu não sabia,eu fiquei sabendo depois, e fiquei sabendo agora, nes-ses vinte e cinco anos depois, quando isso perdura, eos professores continuam fiéis à importância de“Veludinho”. E por isso, nós vamos tentar fazer comele, o que nós fizemos com “Era uma vez um rio”: apeça teatral para as crianças de Uberlândia.
Qual a avaliação que a senhora faz da literatura infantilbrasileira em relação a outros países?Olha, eu acho que no Brasil se escreve muito bem.Eu sou suspeita para dizer, porque eu acho que alíngua portuguesa é lindíssima; e o brasileiro, sendoproduto de uma miscigenação étnica muito grande; temcomponentes emocionais que são surpreendentemen-te bons. Ao mesmo tempo que a gente é de uma fran-queza explosiva e inconveniente, também a gente é deuma ternura comovente. O brasileiro é corajoso, so-brevive em qualquer circunstância, é amistoso, solidá-rio... Então, esses ingredientes, eles são muito bons. Acriança é curiosa, é inventiva. Nós temos uma popula-ção muito pobre; o Brasil é um país de pobres... arenda per capta está na cabeça de poucos, a massa éfalida. E a criança inventa o seu brinquedinho, elacria... então, a nossa literatura brasileira tem que estarmajoritária, porque está no período da era! Se o assun-to é, por exemplo, a copa do mundo, vai e faz; qui-nhentos anos do Brasil, todo mundo vai escrever...então esse modismo, essa urgência de se aproveitar dequalquer iniciativa para produzir. Mas existe uma pro-dução literária muito solene, muito bem verde-amare-lo, que o regionalismo traz e que se preocupa em pre-servar. Nós ainda não mergulhamos no nosso univer-
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 297
so ficcional do medo, o Brasil ainda não devassou, aliteratura também não registrou. Porque saci-pererêde uma perna só, vivendo na mata, fazendo estripulia,ele ainda não caiu no gosto. Nós não compartilhamosdo mundo afro, do mundo da selva e do mundo bran-co... a gente não trouxe isso para o conhecimento, agente não sabe nada do menininho lá da aldeia de nãosei aonde... com o que brinca, sei lá, os índios xavantes?Recentemente, alguém me chamou a atenção: “Ondeé que você pôs os negros na sua literatura?” Ué, aí eufui reler, realmente, eles não estão, e deveriam estar,assim como eles deveriam estar na minha vida tam-bém... Mas eu fui criada numa família muito grandeque tinha muitos primos, e a gente se bastava ali na-quele convívio. Mas, pelo carinho e pelo respeito queeu tenho por eles, e pelo quanto eu gosto da contri-buição que eles deram, eu vou me dedicar a produziralguma coisa que seja em homenagem a eles. Pode serque demore, eu levei dez anos para escrever “Erauma vez um rio”, porque eu queria homenagear o rio.
Quantos livros de literatura infantil de sua autoria já foramvendidos?“Veludinho” (35ª edição) — as primeiras edições eramde dez mil exemplares, agora a editora faz edição detrês a cinco mil, e eu estou um pouco perdida nisso(mais ou menos 100 mil exemplares em 25 anos; foraas edições institucionais, que o governo faz para dis-tribuição gratuita — o escritor abre mão dos direitosautorais).“Os três capetinhas” (12ª edição) — integrou uma co-leção que se chama ciranda do livro, que teve umaedição de quarenta mil exemplares, que foram distri-buídos amplamente no Brasil (mais ou menos 20 ou30 mil exemplares).“Bicho do Mato” (6ª edição) — é um livro que seriaideal para alunos da 8ª série, porque ele é fora da
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
298 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
norma culta. É uma linguagem regionalista, um triân-gulo amoroso de gente jovem, uma estória com a es-crita enfocando uma realidade de 100 anos atrás. Por-que eu queria contar dos pagodes; os pagodes estãomuito prostituídos hoje... não é mais o pagode que euconheci: que era uma “peça” com sanfona, com vio-la... isso foi se perdendo, e eu queria resgatar todo otempo do pagode roceiro mesmo; que se dançava nacocheira, rezava terço, tinha mutirão, todo mundo vi-nha companheiro ajudar o dia inteiro trabalhar e a noi-te comemorar alguma coisa. Então eu resgatei umaestória de época, que remonta o Brasil de 100 anos;intrito com toda a coragem que eu pude ter na minhavida, fora da norma culta. Foi um produto de grava-ção; eu coletei informação numas nove fitas, que pos-teriormente, doei até para o museu da imagem e dosom; e precisei pensar um milhão de vezes para frentee para trás, para ver se eu publicava ou não; porquecomo professora de português, eu também tinha as-sim, um certo escrúpulo de veicular uma linguagemtão rural, que agride um pouco o que está definidohoje como gramática de língua portuguesa. Mas faloumais forte, e eu mandei para a editora assim mesmo. Éum livro muito premiado e pouco lido. Os professo-res tem muito cuidado em adotar, porque é precisorevelar para o menino que existe um outro Brasil, queé rural, onde as pessoas só sabem aquele tanto, secomunicam com aquele vocabulário. Então, eu escre-vi “Bicho do Mato” assim, fiel ao que a fita me conta-va, uma viagem bastante oral, e esse livro tem umaspremiações incríveis porque ele ganhou um ótimo con-curso, na câmara brasileira de livro, uma bienal dolivro em São Paulo, e ele é muito premiado em Portu-gal, porque ele ilustra e confirma as transformaçõesque a língua portuguesa sofreu nos países de fala ultra-marinha (mais ou menos dez mil exemplares).“Era uma vez um rio” (6ª edição) — chega numa horaboa, ele chegou quando esta preocupação não tinha
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 299
começado, mas começou explosivamente: a defesaambiental. Então, há no Brasil inteiro, por aí, achoque, levantando mais adeptos para o engajamento nes-ta luta de conscientização, da qualidade de vida, dosnossos mananciais hídricos, da coleta seletiva do lixoe do interesse das pessoas por isso aí (mais ou menosdoze a quinze mil exemplares).“Bruxa de Pano” (2ª edição) — é um livro mais denso,uma estória mais complexa, a personagem é a umamenina; tudo são complicadores para a adoção. Osmeninos dificilmente pegam o livro cujo personagemprincipal é uma menina, eles são ainda bem machistas,eles gostam de estórias de menino. Mas isso não temimportância, porque quando a escola indica, eles aca-bam lendo. Mas, é um livro que trata da menina, daalma da menina, do desenvolvimento, do sofrimento,do convívio familiar; as famílias são constituídas paraserem mais benevolentes com os meninos, ainda, noBrasil. Infelizmente, mas é verdade. E se coloca entãono centro do universo de preocupação, psicológico:menina (mais ou menos cinco a seis mil exemplares).“Você já viu gata parir?” (1ª edição) — é uma publica-ção da Universidade Federal de Uberlândia (UFU),que fez dois mil exemplares na primeira edição, e to-mara que faça mais, porque mil exemplares se esgota-ram na semana que ele foi publicado. Então, esse é olivro que eu escrevi com menos esforço, não deu tra-balho nenhum, é o produto de uma gravação que eufiz na minha fazenda com netos. É um momento queuma neta de cinco anos que está beijando um gatinhoinsistentemente, e é advertida pela priminha de seteanos que ela não deve fazer isso porque gato é umanimal sujo, que dá doença na gente, que pode desen-volver alergia e que ela não deve beijar o gato. Espe-cialmente porque gato é muito nojento, quando elenasce, ele nasce cheio de tripa, cheio de sangue, todomelado, e a mãe dele muito porca, lambe e come tudoaquilo. Então, o que mais chocou essas crianças foi
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
300 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
esse fato de ter sido testemunha de um parto de umagata... a mais velha ficou muito chocada com aquilo,porque ela assistiu. O que ela conseguiu ver naquelemomento, é que era sujo, sem higiene, era nojento...No momento, ela não quis o gatinho dela, porque nas-ceu naquelas condições que ela julgou terríveis. Masao relatar esse fato posteriormente para a prima pe-quena em outras férias, ela concluiu que mesmo sen-do nojento... é lindo! E o pai e a mãe, então contampra ela que todo o bichinho que mama nasceu do mes-mo jeito; inclusive ela. Ela fica horrorizada: “Eu não!Eu nasci linda. Eu vi as fotos; eu estou vestida, bonitae arrumada”. Mas na foto, na verdade você nasceuigualzinho esse gatinho. Então, por que eu deixei queisso passasse de um texto da minha gaveta, um origi-nal só, para um livro? Porque acho que nós temos quefazer elogio do parto normal. As mulheres hoje sãoreféns de médicos que estão muito ocupados ou compressa, e que para resolver um atendimento mais am-plo a mais clientes, eles interferem com o parto cientí-fico e cheio de anestesias e tudo que é o parto cirúrgi-co; a cesariana. Então aqui; eu que sou mãe de cincofilhos, nasceram todos por parto normal, não tenhosido avó de menino que nasceu de parto normal; qua-se todos os meus netos nascera com intervenção. E éuma pena, porque o parto normal tem que ser pratica-do. A mãe está aí para ser mãe, dentro da naturalidadeque isso pode ter, e que toda mulher, ou quase toda,seja capaz de produzir a sua cria, num ambiente denormalidade, de calma, de paciência para esperar quea natureza cumpra o seu papel. Então, a gatinha Pérolapara mim, depois de escrito, hoje, agora e sempre ficao meu elogio para as mães que tiveram paciência ecoragem para enfrentar um parto normal. A gatinhaaqui é só uma parábola; na verdade a mamãe. E ocarinho da gata pelo filho, a amamentação, a paciênciacom aquela situação: tantas crias ao mesmo tempo (doismil exemplares).
Giselle Pereira Vilela
Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006 301
Quando começou a escrever para o público mirim?Quando eu comecei a escrever, eu não comecei es-crevendo literatura, eu comecei a escrever artigos parajornal; coisas que me incomodavam muito, eu levavapara o jornal e dizia: “Será que dá para publicar issoaqui?”. E ainda era na linotipo, a caldeira fervendo,letra por letra sendo produzida naquela linhazinha, ese saísse errado tinha que fundir de novo, fazer outralinha, e convivi muito com redação de jornal produ-zindo assim, alguma poesia, dia do professor, dia dasmães, é Natal; essas contribuições que a gente ficaemocionada e participa... Daí, a participar trazendo umadiscussão política da cidade foi um pulo. Coisa queme incomodava muito na cidade... Tomei muitabordoada por conta disso; porque é claro, quem fala oque quer, escuta o que não quer. Eu escrevo comtodo o prazer, escrevo pouco, mas eu escrevo comodiz a minha professorinha de “Era uma vez um rio”,temos que escrever com a alma... Eu não quero ensi-nar ninguém a fazer nada, nem corrigir como ela faz,nem censurar. Eu quero deixar a minha experiência devida, que é muito pequena, é incompleta, claro; mas éa que eu tenho. Não escrevo; eu nunca escrevi umlivro. Eu escrevo para mim uma confidência. Já quei-mei dois textos, que eu achei que estava uma boba-gem; não me interessava; queimei e não tenho ne-nhum remorso disso, e o que está aí, está aí... e é paraquem quiser compartilhar.
“Veludinho” — porque essas crianças praticaram esseato e se transformaram muito.“Os três capetinhas” — porque eu tinha um sobrinhoque mudou do terreiro para um apartamento e um diasaltou a janela, porque ele precisava de um espaço.“Bicho do Mato” — porque as mulheres faveladas deUberlândia, elas se encontravam sempre maltratadas,machucadas pelos companheiros, submissas e humildes.
Entrevista com Martha Pannunzio Azevedo
302 Caderno Espaço Feminino, v.14, n.17, Ago./Dez. 2006
“Era uma vez um rio” — quinze anos depois, comouma agricultora que joga veneno no cerrado; vendo omeu rio Uberabinha, onde tanta gente morreu afogadade tanta água que tinha, agora ele está com as pedrasafloradas como a gente vê! Esse é até um pedido dedesculpa para o cerrado.“Bruxa de Pano” — foi um encontro meu com umpaninho; bordado no ano 1900... e veio toda essaavalanche de lembranças e de saudade; de um mo-mento em que criança e velhinho podem muito bem,trilhar por um tempo juntos.“Você já viu gata parir?” — é uma brincadeira; eutinha isso gravado... e transcrevi em homenagem aoparto normal, à vida na luz do sol, na natureza, gentee bicho é tudo a mesma coisa, é uno... uma brincadeirade criança.
Das normas para apresentação de originaisDas normas para apresentação de originaisDas normas para apresentação de originaisDas normas para apresentação de originaisDas normas para apresentação de originais
O Caderno Espaço Feminino é uma revista multidis-ciplinar que mesmo possuindo seu Conselho Editori-al, não se responsabiliza pelos conteúdos de cada tex-to publicado, à medida em que o objetivo é polemizare nunca enquadrar os artigos dentro de uma únicaperspectiva teórico-metodológica.
Seguindo a premissa anterior da multidiscipli-naridade, é necessário que cada colaborador(a) traba-lhe conceituando em nota de rodapé, ou no própriotexto, esclarecendo o(a) leitor(a) o que necessariamentenão pertence à área do(a) autor(a).
Ao aceitarmos artigos inéditos para a publicação,exigimos que os mesmos venham revisados quanto àortografia e sintaxe.
O material para publicação deverá ser encaminhadopara a Coordenação do Setor de Publicações do CDHISem duas vias impressas em papel A4, digitadas emespaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12e obedecendo, para margens, as medidas: direita einferior: 2,5cm; superior: 3cm; esquerda: 4cm;acompanhado de diskete ou encaminhado para o e-mail: [email protected].
Os trabalhos digitados devem estar de acordo comaspectos formais segundo técnicas e procedimentoscientíficos, bem como padrões atualizados da ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
As colaborações a serem publicadas na Revista
A O S C O L A B O R A D O R E S ( A S )A O S C O L A B O R A D O R E S ( A S )A O S C O L A B O R A D O R E S ( A S )A O S C O L A B O R A D O R E S ( A S )A O S C O L A B O R A D O R E S ( A S )
Caderno Espaço Feminino poderão ter os seguintes for-matos:
a) Artigos que apresentem contribuição inteiramentenova ao conhecimento e que estejam relacionados comtrabalhos na área de gênero e afins. Incluem-se aquios resumos de trabalhos com resultados parciais e/oufinais originados de projetos de pesquisa. Devem con-ter: Títulos, Referências Bibliográficas.
b) Os trabalhos devem conter resumo em portu-guês e em espanhol ou inglês, com o máximo de 04linhas; palavras-chave em português e em espanholou inglês (mínimo de três e máximo de cinco); refe-rências bibliográficas e notas no pé de página. Os tra-balhos não devem exceder a vinte e cinco laudas, in-cluídos anexos.
c) Artigos considerados de relevância para a áreaainda que não tenham caráter acadêmico.
d) Resenhas que devem conter um mínimo de 03 eum máximo de 05 páginas e respeitar as seguintesespecificações técnicas: dados bibliográficos comple-tos da publicação resenhada no início do texto, nome(s)do(s) autor(es) da resenha com informações, no pé dapágina, sobre a formação e a instituição a que estejavinculado; referências bibliográficas e notas no pé depágina.
e) Biografiasf) Entrevistas
Em folha à parte, em envelope lacrado, o(a/s) au-tor (es/as) deverá(ão) apresentar as seguintes infor-mações:
a) título de trabalho;b) nome completo do(a)(s) autor(a)(es/as);c) titulação acadêmica máxima;d) instituição onde trabalha(m) e a atividade exercida
na mesma;e) endereço completo para correspondência;f) telefone para contato;g) endereço eletrônico, se for o caso;
h) apontar(caso julgue necessário) a origem do tra-balho, a vinculação a outros projetos, a obtenção deauxílio para a realização do projeto e quaisquer outrosdados relativos à produção do mesmo.
Ao enviar o material para publicação, o(a)(s) autor(a)(es) está(ão) automaticamente abrindo mão de seusdireitos autorais, concordando com as diretrizes edi-toriais.
Todos os artigos serão apreciados pelo ConselhoEditorial. A simples remessa dos originais, implica emautorização para a publicação do mesmo.
Os originais submetidos à apreciação do ConselhoEditorial não serão devolvidos. A Revista Caderno Es-paço Feminino compromete-se a informar os autores(as)sobre a publicação ou não de seus textos.