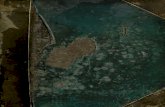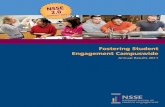The digital production gap: The digital divide and Web 2.0 collide
Cidade Digital 2.0
Transcript of Cidade Digital 2.0
6º Congresso SOPCOM 4975
Cidade Digital 2.0 Ana Flávia Silva Neves
Universidade Nova de Lisboa
Lídia J. Oliveira L. Silva
Universidade de Aveiro
Resumo
Em 1998 foi lançada a iniciativa Programa Cidades Digitais das quais a cidade de Aveiro
foi a primeira a avançar com o Programa Aveiro Cidade Digital. Depois desta iniciativa
muitas foram as cidades digitais e as regiões digitais que surgiram e dinamizaram os
tecidos socioeconómicos e culturais em que estavam inseridas.
Passados 10 anos muitas foram as alterações ao nível das tecnologias da informação e
comunicação que surgiram e foram sendo incorporadas nas rotinas sociais, cognitivas,
culturais, políticas e económicas da vida dos cidadãos e das cidades. Neste contexto, urge
repensar o que se entende por cidade digital e como os novos serviços que se
caracterizam pela portabilidade, ubiquidade, permanência, georreferênciação, nomadismo
e conexão trazem para pensar o que se altera nas dinâmicas do/no espaço urbano.
A passagem de uma lógica típica da Web 1.0 para uma lógica da Web 2.0 implica que se
pense a cidade numa lógica que designamos de cidade digital 2.0, mas que também se
poderá designar de cidade digital conexa 2.0, em que o foco deixa de ser o website e os
serviços associados para uma estratégia em que cada cidadão se torna um agente que
actua quer ao nível da produção e partilha de conteúdos, mas também ao nível da geração
de redes sociais suportadas por serviços acessíveis em equipamentos móveis (de que o
telemóvel é o exemplo paradigmático).
Com esta comunicação pretende-se apresentar uma reflexão sobre as implicações ao nível
da comunicação e das práticas socais no âmbito da cidade cujos cidadãos incorporaram
nos seus acessórios um ou vários dispositivos móveis de comunicação multi-serviços.
Introdução
As cidades e regiões digitais surgem como dinamizadoras dos tecidos socio-
económicos e culturais em que se inserem. Marcadas pela época, vêem-se agora
obrigadas a readaptar-se às alterações ao nível das tecnologias da informação e
comunicação que surgiam e foram sendo incorporadas nas rotinas sociais, cognitivas,
culturais, políticas e económicas da vida dos cidadãos e das cidades. Neste contexto, urge
repensar o que se entende por cidade digital e como os novos serviços alteram as
dinâmicas do/no espaço urbano. Este texto propõe uma reflexão sobre as implicações ao
nível da comunicação e das práticas socais da incorporação provocadas pela evolução ao
nível de equipamentos e estruturas.
6º Congresso SOPCOM 4976
I. Novos modelos de cidade
O longo caminho evolutivo transportou-nos para o planeta globalizado que hoje
habitamos. Este percurso sinuoso, em muito marcado pela crise das actividades
industriais, evidenciou-se pela conjugação de factores tecnológicos, sociais e geo-
económicos, obrigando a adaptações violentas. Como viria Castells (1996:400) a mostrar,
o rápido e inesperado movimento marcado pelo ―desenvolvimento extra-urbano, a
decadência do interior da cidade e obsolescência do ambiente suburbano construído‖
(Castells, 1996:400) actuaria como ímpeto para repensar as estruturas existentes. Diante a
ampliação e impacto destes fenómenos, excederam-se as meras transformações dos
serviços das cidades, multiplicando-se sobretudo as acções de reposicionamento do
homem na rede urbana. Estruturaram-se novas formas urbanas, criando a partir delas
ambientes renovados – complementares ao espaço urbano físico - propícios ao reforço de
laços comunitários e revitalização das dinâmicas e fluxos perdidos (Lemos, 2002).
Na génese destes processos esteve a intensa evolução tecnológica sentida
essencialmente a partir dos anos 80. Com forte impacto registado em todas as áreas do
crescimento económico e societal, recaiu sobre ela uma quase total responsabilidade pelo
progresso e reorganização das estruturas existentes. Novos cenários de simulação
surgiram, diversificaram-se as telecomunicações, construíram-se novas plataformas de
conhecimento e interacção e promoveu-se a conectividade global em tempo real (CDPP,
2007). Emergiram, neste contexto renovado, novas tipologias de cidade. As cidades do
conhecimento, caracterizadas pela capacidade de atrair população criativa e com
conhecimento (CDPP, 2007), foram uma das primeiras apostas que vieram alterar toda a
lógica de organização e funcionamento da rede urbana. Com o intuito de fixar populações
criativas geradoras de valor, desenvolveram-se múltiplas iniciativas – construção de
espaços mais atraentes, promoção de eventos, oferta de novos serviços, criação de
condições excepcionais de trabalho, cultura e desenvolvimento pessoal – capazes de
proliferar as condições atractivas necessárias para originar o sistema social pretendido.
Na sequência deste trilho, surgiu uma segunda estrutura que se destacou pelo forte
impacto sentido pela população – a cidade digital. Resultando da necessidade de
―resolver problemas trazidos pela introdução maciça da telemática no espaço urbano‖
(Mamede, 2002:3) e revitalizar, com recurso à tecnologia, as dinâmicas de fluxos das
6º Congresso SOPCOM 4977
cidades físicas, este reflexo virtual da cidade física veio actuar sobre a regeneração do
espaço público e dos processos comunicacionais. Como mostra Lemos (2000:8), estes
ambientes suportados pela tecnologia viriam a estabelecer-se no seio das sociedades não
como transposições directas da cidade real para o ambiente virtual mas instituindo-se
como mecanismos digitais ideais para ―restabelecer o espaço público, colocar em sinergia
diversas inteligências colectivas ou mesmo reforçar os laços comunitários perdidos na
passagem da comunidade à sociedade moderna‖.
A conjugação destas duas estruturas complementares potenciou o surgimento de
um terceiro nível – as cidades inteligentes, descritas por Komninos (2006:3) como
―espaço comunitário digital que é usado para facilitar e aumentar as actividades e funções
que ocorrem no espaço físico da cidade‖. Assentando numa ampla infra-estrutura
telemática, as cidades inteligentes não seriam mais do que o fruto da combinação do
digital (cidade digital em junção com outros produtos digitais) e de comunidades
altamente especializadas (comunidades geradas pelas cidades do conhecimento), tendo
como função essencial a optimização da gestão de conhecimento e promoção da partilha
(Xavier e tal, 2003).
Produto de várias acções conjugadas, as cidades renovadas vieram não apenas
prevenir o declínio das antigas redes urbanas mas também promover o seu crescimento
saudável. Os tecidos foram sendo revitalizados, as cidades iniciaram um processo de
adaptação a novas realidades e facilitou-se o processo de adequação da nova situação aos
hábitos e normas instituídos na vida dos cidadãos. Estabelecendo um elo entre as velhas e
novas estruturas e entre o espaço físico e virtual, as cidades digitais viriam responder a
grande parte das necessidades do homem, facilitando o seu enquadramento nos recentes
sistemas e trazendo para o dia-a-dia comum um conforto e simplicidade até então
impraticáveis.
Aveiro Digital, o primeiro projecto de cidade digital a ser desenvolvido em
território português, veio impulsionar essa revitalização necessária. Transpondo a mera
função recreativa, surgiu como apoio à organização do espaço urbano, transferindo as
novas estruturas do espaço físico para o espaço digital e proporcionando aos seus
habitantes o acesso simplificado, global e rápido a informação, serviços e bens. Enquanto
principal saída para muitos dos problemas até então encontrados no processo de
6º Congresso SOPCOM 4978
reestruturação da malha urbana física, foi a componente técnica disponibilizada pela
região que possibilitou uma série de acções interventivas em áreas distintas - educação,
trabalho, segurança, formação, saúde, comércio, turismo, lazer e cultura, jurídica, etc.
Formaram-se indivíduos e entidades, reestruturaram-se serviços, reformularam-se
modelos de gestão pública, promoveram-se actividades socioculturais e serviços de apoio
ao cidadão, ministraram-se acções de qualificação e certificação, etc., conseguindo assim
atingir um dos principais objectivos do projecto – o melhoramento da vida urbana. Este
projecto, inovativo pela sua componente conceptual e interventivo pelas capacidades e
funcionalidades, viria a corroborar a leitura que Gouveia (2003) fez acerca dos objectivos
das cidades digitais. Segundo o autor, independentemente do domínio real afectado,
pretendia-se, entre outras coisas, aumentar e simplificar a mobilidade, incrementar e
melhorar as relações sociais, incentivar a cidadania e inclusão social, prestar especial
atenção na formação dos cidadãos, simplificar serviços e burocracias, levantar restrições
espácio-temporais, combater fenómenos contraproducentes como a interioridade e êxodo
rural, aumentar a competitividade económica e inclusão social, etc. Denotando uma
revitalização dos espaços e fluxos em detrimento da substituição integral da cidade real
pela virtual, estas acções vêm manifestar-se como a chave para o restabelecimento dos
lugares de práticas sociais perdidos (Lévy, 1997).
Depreende-se assim a indispensabilidade de uma forte componente tecnológica e
a transformação completa dos fluxos e dinâmicas sociais das cidades.
II. A tecnologia e as novas práticas sociais
A grande rede tem, desde então, alimentado a esperança de que através da construção de
espaços de sociabilidade, ela poderia resgatar a vida social da urbis, lutar contra a erosão
do espaço público (…). (Lemos, 2002:9)
A construção de novos cenários, conjugada com as renovadas formas de contacto
trazidas pela evolução tecnológica, veio provocar alterações incisivas nas práticas sociais.
Reconhecendo as comunidades como o meio por excelência onde as práticas sociais se
desenrolam, consideram-se as transformações ocorridas no seio deste estado ideal dos
grupos humanos (Tonies apud Recuero, 2003), um dos factores que mais influência teve
6º Congresso SOPCOM 4979
sobre a reestruturação das cidades contemporâneas. Que transformações estiveram então
na base destas mudanças?
Segundo Weber (1987) qualquer comunidade é gerada e mantida pelas ligações –
emocional, tradicional, etc. - estabelecidas entre os seus participantes. Depreende-se da
análise feita pelo autor que as relações advindas dessas ligações, cruciais para determinar
as características e práticas destes núcleos sociais, seriam o principal motor de mudança
da noção de comunidade. Determinada por princípios como a coesão social, o sentimento
de pertença ou a colaboração para um fim comum (Recuero, 2003), vê-se sujeita às
variações ao nível territorial (suporte espacial que serve de coesão do grupo) e do
interesse comum, sentindo mudanças efectivas nas relações que a suportam.
Evidenciando o fenómeno, dá-se a decadência conduzida pela industrialização, o
surgimento das sociedades de massa e deslocalização das populações das aldeias para as
cidades, afectando directamente o funcionamento das comunidades tradicionais. De uma
forma indirecta, transformou por completo indivíduos, hábitos, relações e práticas sociais.
Numa revelação das enormes possibilidades (benéficas mas também adversas) trazidas
pela urbe, os cidadãos iniciaram um processo de individualização caracterizado pela
busca desmedida do melhor para si (desconsiderando as obrigações sociais e as regras
relacionais), aumentando assim a competitividade desenfreada e anulando as noções de
cooperação e de sentimento de pertença a determinado núcleo social (Sennet, 1995).
Irrompendo destas transformações, as estruturas sociais modificadas viriam a
demonstrar estar seriamente afectadas pelos efeitos adversos sentidos ao nível das
práticas e fluxos comunicacionais. Entre outros elementos, foi a quebra no senso de
comunidade que reclamou com mais firmeza a mudança de hábitos e práticas. Deu-se um
afastamento do conceito tradicional de rede e interacção e surgiu um forte ímpeto para
encontrar novas formas de comunicação capazes de fortalecer e voltar a criar as
indispensáveis relações entre indivíduos da comunidade. O início deste processo foi
marcado pelo novo entendimento das potencialidades da tecnologia. Em oposição àquilo
que vinha sendo defendido, estas deixaram de cumprir única e exclusivamente os
interesses individuais e imediatos dos cidadãos, manifestando-se como um meio
promissor para novas formas de contacto e interacção desejadas. A fim de restabelecer as
rotinas de participação e relacionamento, proliferaram-se práticas digitais, integraram-se
6º Congresso SOPCOM 4980
redes telemáticas nas mais variadas rotinas diárias15
e, simultaneamente, os limites
geográficos perderam força. Os modelos de interacção adoptados provocaram uma
quebra ao nível das restrições espácio-temporais, resultando numa ―diluição das
periferias e geração de cooperação‖ (Silva, 2002:43)16
.
Originando novos modelos de relacionamento social baseados nas redes
telemáticas - comunidades virtuais17
–, as práticas e serviços adoptados vieram
determinar as estruturas responsáveis por restabelecer as relações em decadência.
Estabelecidas a partir da combinação de pessoas, tempo, sentimentos e discussões
públicas através do ciberespaço, vieram despoletar o surgimento de novas redes
relacionais, potenciando o surgimento de laços sociais revigorados, determinantes para
redes sociais mais fortes e consistentes (Rheingold, 1996). Não se trataria mais de
restaurar antigos esquemas comunicativos, mas sim de libertar o sujeito para a sua
própria construção individual e para novas formas de interacção com o próximo.
Envolvendo actores públicos e privados, as novas redes sociais - enquanto resultado dum
processo longo de relacionamentos, formação de rotinas e ligações afectivas e
profissionais que, dentro de um núcleo específico comummente delimitado espacialmente
se regem por interesses, normas e valores comuns - reclassificaram a nossa própria
configuração dentro dessas comunidades. Os indivíduos estabeleceram novos objectivos
individuais e colectivos, as dinâmicas entre grupos consolidaram-se, promoveu-se a
partilha de conhecimento e a cooperação entre agentes e os fluxos comunicacionais
ganharam dimensões mais consistentes.
As questões que agora se levantam entram no domínio dos valores e sentimentos
gerados no âmago destas novas comunidades - como sintetizara Palacios (1996) na sua
reflexão, o sentimento de pertença, de comunidade e projecto comum sofreram um
choque enorme. As redes telemáticas, aliadas aos novos mecanismos de comunicação e
15 Cartões de crédito em substituição do papel, telemóveis com 3G em substituição dos típicos
sistemas telefónicos analógicos, relacionamento social com base em ferramentas como o Linked In, MSN,
sistemas de e-mail, redes como Orkut, Skype ou ICQ, fóruns, novos sistemas de produção cinematográfica
cuja tecnologia digital permite um melhoramento efectivo do produto final, entre outros
16 Este processo de imaterialidade e desvalorização do espaço físico conduziu a novos fenómenos de
relacionamento capazes de gerar e legitimar cada vez mais conhecimentos e partilha de informação.
17 Reinghold (1996:18) define comunidades virtuais como ―agregados sociais surgidos na Rede,
quando os intervenientes de um debate o levam por diante em número e sentimento suficientes para
formarem teias de relações pessoais no ciberespaço‖
6º Congresso SOPCOM 4981
partilha, trazendo para a mesa de jogo novas formas de interacção, permitiram um
alargamento da esfera comunicacional e das tipologias seguidas. Deixa de comunicar-se
apenas dentro da comunidade local, acedendo-se a informações de outros municípios,
áreas geográficas e comunidades distantes e incentivando-se novos comportamentos e
interesses. Toda esta revolução pela qual o sistema comunicacional passou conduziu a
uma forte abertura de mentalidades, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e
comunitário dos cidadãos. Como bem vem mostrar Gouveia (2003:139), ―cada vez mais
o indivíduo deixa de ter um papel parcial no processo conduzido pelas organizações em
que se insere, para conduzir, ele próprio, o processo de relacionamento‖. Estes processos
começam a ser reconhecidos como meios de dotar o sujeito de responsabilidade e
capacidades na medida em que se reconhece, mais que nunca, que começamos a dispor
das informações e infra-estruturas necessárias para coordenar as nossas próprias acções.
De uma forma conectada, todas as alterações provocadas pelo surgimento das
comunidades virtuais e das redes telemáticas vieram reposicionar-nos na malha urbana
global.
Pensar na urbe implica necessariamente pensar numa existência efectiva de
comunidades suportadas por redes sociais e pelos vários tipos de comunicação
disponíveis (Rheingold, 1994). Expressando-se como os elementos mais básicos de
organização das redes urbanas, parte destas comunidades a promoção de acções e
iniciativas de valorização e manutenção do valor das mesmas. Enquanto grupos sociais
com um papel activo na resolução de conflitos, na coesão social ou na cooperação entre
agentes (Recuero, 2003), estes tipos de convivência seriam um elemento indispensável ao
bom funcionamento da cidade. É numa consciência da realidade actual que se reconhece
hoje o valor das relações sociais e do senso de comunidade para o êxito e sobrevivência
das cidades. Tal como a nossa sobrevivência, também a sobrevivência das cidades
depende dos movimentos. Entendidos por Bouchet (2002) não como a deslocação de um
ponto A para um ponto B mas enquanto ―cruzamento do universo de problemas, de
conhecimentos, de experiencias, de significados‖, seriam eles os responsáveis por
desempenhar as acções de manutenção e desenvolvimento da cidade18
. Recorrendo a
18 A coesão social, isto é, a ligação entre os membros da comunidade, permite que todos concorram
para objectivos e projectos comuns, desenvolvendo-se assim os mais variados esforços para fazer da cidade
6º Congresso SOPCOM 4982
novas formas de discurso, dissemina-se e cruza-se conhecimento, alcançando assim as
condições desejadas.
No seu conjunto, os movimentos sentidos no espaço urbano vieram alterar
profundamente as exigências e necessidades dos cidadãos. Transformam-se estruturas,
extensões e aglomerados organizativos e a sociedade passa a mover-se num novo mundo
de possibilidades. Paralelamente, as barreiras espácio-temporais dilatam-se e o mundo do
click vem permitir uma mescla de fenómenos e realidades originalmente estanques. Esta
profunda mudança conduzida pelo aparecimento de dispositivos desenvolvidos e
disseminados no ambiente digital, através da união de realidades e mistura de fenómenos,
culturas e ambientes, reformou por completo a forma como reflectimos e actuamos sobre
o mundo físico real.
III. Repensar a cidade digital
As cidades digitais, com uma organização marcada pela época, passaram por um
enfraquecimento das suas estruturas e quebra no seu uso. Deixando quase inutilizados os
quiosques virtuais ou os websites criados, os cidadãos foram optando progressivamente
por soluções tecnológicas mais eficazes (telemóveis com 3G, por exemplo), deixando
gradualmente de utilizar os serviços disponibilizados. Levantar-se-ia a questão de como
actuar sob estes projectos, concorrendo contra a des-urbanização19
progressiva.
Lemos (2002:6), numa das suas reflexões sobre cibercidades, concluiu que estas
poderiam e deveriam ―potencializar as virtudes da cidade real e ampliar as formas de
comunicações entre os cidadãos‖. Se, como Castells (2001) propõe, é agora o espaço que
estrutura o tempo, então as acções sobre e em torno do espaço das cidades digitais
poderiam ser a resposta para resolução dos problemas actuais. Para perceber a dinâmica
destes projectos é essencial perceber que espaço é este que os suporta. Com o advento das
novas tecnologias e a simultânea transformação das dinâmicas sociais, o que antes era do
domínio territorial dá agora lugar a um espaço de fluxos. Definido pelo autor (Castells,
aquilo que os habitantes pretendem. Sem esta coesão, contar-se-ia com uma dispersão de esforços e com
uma série de entraves ao alcançar dos objectivos fundamentais para o desenvolvimento das cidades.
19 Segundo Barbero (1996), as transformações sofridas pelas cidades digitais assentam sobre três
domínios principais: des-espacialização (transformação do espaço territorial em espaço de fluxos),
descentramento (desvalorização do centro e consequente valorização igualitária de todos os pontos
espaciais) e desurbanização (quebra no uso dos serviços das cidades digitais).
6º Congresso SOPCOM 4983
1996:412) como ―sucessões propositadas, repetitivas, programáveis de troca e interacção
entre posições fisicamente deslocadas, organizadas por actores sociais nas estruturas
económicas, políticas e simbólicas de sociedade‖, este espaço renovado viria transformar
por completo as relações e os limites da movimentação de informação. Que acções
deverão então ser desenvolvidas para que, aproveitando as potencialidades que este novo
domínio apresenta, se revitalizem as cidades digitais?
Analisando as funções que Lemos (2002) atribuiu aos novos modelos de cidade, é
possível identificar o fortalecimento dos laços comunitários e a construção de
comunidades organizadas em torno de interesses comuns, como formas de restabelecer o
espaço público. Nesta medida, seria a aposta no desenvolvimento de estruturas eficazes
de suporte à comunicação entre pares, acesso/organização da informação e ampliação das
experiências, o primeiro passo a inaugurar o processo. Partindo da tese de Recuero
(2009), que enuncia a internet como ―meio de ampliar os nossos contactos sociais a uma
dimensão nunca imaginada‖, identificam-se as duas componentes – internet/TIC; relações
sociais/comunidade - que estão na origem de fenómenos desse tipo. Reconhecidas
enquanto chave do processo, seriam estas as principais dimensões implicadas no processo
de reestruturação dos ambientes. Recentes e intimamente relacionados, os social media e
a Web 2.0, típicos da sociedade moderna, vieram revolucionar muitas das estruturas
enraizadas e absorvidas pelos cidadãos. O seu aparecimento e posterior expansão, ao
actuar sobre processos relacionais e criação de coesão social, permitiu exercer acções
relevantes sobre aquilo que se mostrava necessário para cumprir os objectivos
estabelecidos.
Os social media, entendidos por Mayfield (2008) como um grupo de novos media
online caracterizadas pelo espírito participativo que estimulam, pela abertura que
demonstram (a novos inputs, feedback e participações), pela geração de ligações mais
fortes entre membros e pelo suporte a novas comunidades centradas num interesse
comum, ganharam destaque pela forma como transformaram a experiência humana e a
relação entre sujeitos. Serviços como o Facebook, LinkedIn, Skype ou YouTube,
respeitantes a vários domínios sociais – lazer, cultura, amizade, etc. – deram origem a
comunidades extensas, hoje instituídas como veículos ―oficiais‖ de comunicação e
desenvolvimento da sociedade. Valorizando a coesão social e incentivando novas formas
6º Congresso SOPCOM 4984
de contacto, foi através daquilo que hoje conhecemos como Web 2.0 que se proliferaram
e instalaram nas rotinas diárias dos utilizadores.
Numa expansão quase simultânea20
e surgindo da necessidade manifestada pelos
utilizadores de contar com formas mais simples de concretizar projectos (antes ao alcance
apenas dos profissionais), de organizar a informação/conhecimento adquirido e criar uma
rede de links com os dados e autores (Loreto, 2007), este novo projecto viria representar
uma nova estrutura de rede. Posicionando estrategicamente a Web como plataforma e
atribuindo um controlo ao utilizador antes impraticável, esta nova rede veio impulsionar a
actividade colectiva e a colaboração através das suas competências e características
estruturais: fornecimento de pacotes de serviços ao invés de pacotes de software, geração
de uma arquitectura de participação necessária para a desejada inteligência colectiva,
inclusão das minorias na divulgação da informação, oferta de custos mais competitivos e
remixagem permanente das fontes e da informação21
.
Assiste-se, através do desenvolvimento e utilização das aplicações geradas na
óptica da Web 2.0 (e que vão ao encontro dos social media), a uma intensificação das
interacções online que Castells (2001) designa de hipersociabilidade. Numa epifania, os
utilizadores redescobrem as potencialidades das comunidades suportadas pelo interesse
comum (Loreto, 2007), procurando intensivamente restabelecer os laços e relações
perdidas pelo recurso a ferramentas como Flickr, Hi5, Xing, etc. Agora conectadas ao
mundo através de comunidades diversificadas, constroem a partir delas experiências
individuais mais profundas, partilhando-as com os demais membros e contribuindo para
um aumento da qualidade da experiência e melhoria dos serviços. Nesta lógica
construtiva, o conhecimento e informação emanados dos contactos entre membros viriam
a ser responsáveis pela construção do conhecimento colectivo proposto por O’Reilly
(2005)22
.
20 Apesar de a Web 2.0 ter surgido anteriormente, muitos dos desenvolvimentos e capacidades que a
plataforma ganhou deveram-se aos social media.
21 ―Much as synapses form in the brain, with associations become stronger through repetition or
intensity, the Web of connections grows organically as an output of the collective activity of all Web users‖
(O’Reilly, 2005:6)
22 Os tags, feedback, opiniões sobre determinado assunto ou sugestões para um qualquer tema
marcam os conhecimentos gerados com as características daqueles que participaram. Por outro lado, as
interacções entre membros permitem uma reflexão global que interfere na forma como o produto final é
apresentado.
6º Congresso SOPCOM 4985
O acesso global e simplificado trazido ao mundo dos bits e bytes por iniciativas
como a Web 2.0 e os social media, actuou ao nível das redes sociais e ligações entre
cidadãos, deixando de fora as iniciativas exigidas em torno dos dispositivos. Por outro
lado, assumia-se que seriam estes novos utilizadores, simultaneamente produtores de
conteúdos e dinâmicas sociais, os responsáveis por ir ao encontro da informação, media e
serviços. Sabendo ser o dinamismo uma das imagens de marca às quais as cidades
digitais deveriam ser associadas, impor-se-ia o desenvolvimento de mecanismos capazes
de fazer a informação, media e serviços chegar ao cidadão, ao invés do que vinha
acontecendo. Continuando a verificar-se estas lacunas na relação media-utilizador,
passar-se-ia a uma segunda fase na qual seriam implementadas soluções complementares
a estas primeiras acções.
Ao analisar a situação contemporânea, percebe-se que a disponibilidade mental e
o investimento económico aplicado ao desenvolvimento tecnológico permitiram um
progresso exponencial ao nível de equipamentos, serviços e acessos. Apesar das enormes
vantagens que essa situação possa antever, aquilo que se verificou foi uma quase
permanente obsolescência marcada por equipamentos que, apenas cumprindo uma função
específica, rapidamente cediam o seu lugar a outros mais recentes. Mais do que o impacto
económico provocado, foi ao nível do desempenho que surgiram mais problemas.
Tecnologicamente mais complexos mas desempenhando uma única função, estes
equipamentos viriam exigir dos cidadãos um esforço de aprendizagem redobrado
responsável pela repulsa causada – sendo apenas direccionados para uma finalidade,
impor-se-ia uma aprendizagem e adaptação a vários dispositivos para satisfazer
completamente as necessidades. Os utilizadores, agora integrados na experiência,
sensibilizados para a partilha e conscientes das enormes vantagens de plataformas/acesso
a informação simples e intuitivas, viriam reclamar cada vez mais produtos e serviços de
acordo com as estratégias às quais haviam sido apresentados.
Bem à imagem do progresso actual, as acções em torno de novos e práticos
dispositivos partiriam da suspensão da produção massiva de suportes, programas e
serviços, readaptando-os e mesclando os antigos conceitos numa plataforma única. Este
primeiro passo dado no campo dos equipamentos de acesso viria reflectir o que muitos
autores apresentaram como convergência de meios - combinação de várias
6º Congresso SOPCOM 4986
características, serviços e componentes provenientes de múltiplos dispositivos
electrónicos numa única plataforma simples e intuitiva através da qual seria possível
interagir das mais variadas formas (comunicar, recrear, colaborar, partilhar, etc.)
(Asonye, 2003). Este processo de integração de vários serviços numa plataforma única,
não só permite reduzir o dispêndio de energia, recursos e meios, como também equilibra
os interesses da população e dos produtores. Representando o exemplo mais
paradigmático deste conceito de convergência, são os serviços móveis que vêm alterar
profundamente os fluxos comunicacionais e informacionais da população.
Habituado a um ambiente estacionário, o homem viu a realidade transformar-se
com os dispositivos móveis multifuncionais. Híbridos na sua génese e criativos nas
funcionalidades, vieram restaurar a coesão e as práticas sociais pela agregação de
diversas redes (bluetooth, satélites, wi-fi ou wi-max, etc.), de múltiplas funcionalidades23
e de serviços e componentes tecnológicas. Mas, de todas as vantagens que lhes podem ser
associadas, é a aliança com a geo-referenciação que os torna únicos. Considerando as
suas características e capacidades inerentes à sua infra-estrutura, poder-se-á adoptá-los
como mecanismos vitais para a emergência de ―novas formas de contacto permanente e
contínuo, em mobilidade, propiciando novas vivências do espaço e do tempo das
(ciber)cidades‖ (Lemos, 2007:2). Em várias situações do dia-a-dia notamos a importância
que o espaço tem para o desenrolar das acções - a informação gerada pelo contexto,
situação ou interesses associados a um determinado local acciona ou inibe um possível
acto. Strobl (2002) vem suportar esta lógica pelo reconhecimento da localização como
um aspecto fundamental para que as TIC actuem sobre a situação, ampliando a
experiência e potenciando proveitos relevantes. Assim, a geo-referenciação, surge não
como mero medidor de posições mas enquanto mecanismo capaz de interpretar uma
localização, enquadrando-a numa situação e disponibilizando a partir dela uma série de
possibilidades associadas ao local. Contribuindo não apenas para o aumento de valor e
competitividade económica, comercial e inovativa, possibilita uma disseminação eficaz
23 Como bem defende Lemos (2007: 25), ―… podemos citar o celular como instrumento para produzir,
tocar, armazenar e circular música; como plataforma para jogos on-line no espaço urbano (os wireless
street games); como dispositivo de ―location based services‖, para ―anotar‖ electronicamente a localização
de um espaço ou para ver ―realidades aumentadas‖; para monitorar o meio ambiente; para mapeamento ou
geolocalização por GPS; ou para escrever mensagens rápidas (SMS), tirar fotos, fazer vídeos, acessar a
internet‖.
6º Congresso SOPCOM 4987
de serviços multimédia de alta qualidade, reformulando o modo como acedemos à rede e
obtemos informação.
Num registo complementar dos benefícios já discutidos, surgem os POI – points
of interest – como casos paradigmáticos das vantagens obtidas em termos de relações
sociais e usufruto da experiência. Enquadrados nesta realidade como pontos geográficos
específicos aos quais pode ser associada informação que determinado utilizador considera
interessante ou útil, apresentam-se na forma de coordenadas (latitude e altitude)
associadas a um nome identificativo. Geralmente divididos por áreas de interesse,
permitem ao utilizador contribuir para ―recriar e fortalecer as redes de sociabilidade e a
apropriação do espaço‖ (Lemos, 2007:31). Um exemplo ilustrativo deste fenómeno é a
experiência dos estrangeiros nas suas viagens, que podem usufruir da informação
(comentários, imagens, etc.) que outros associaram a um dado POI. Adquirindo um
conhecimento mais humano do local, o estrangeiro fica a conhecer aquele espaço através
dos olhos daqueles que ali habitam ou que já o visitaram. Contrariamente ao sistema
taxonómico – classificação científica -, o único disponível antes destes sistemas, o
sistema folksonómico – indexação comunitária de informações - permite imprimir aos
locais e às informações (documentos partilhados) uma subjectividade reveladora das
consciências e relações que lhe estão associadas. Numa análise do valor da experiência
final, poder-se-ia atribuir a estes sistemas a responsabilidade por possibilitar uma
experiência muito mais rica do que aquela que os antigos dispositivos (panfletos, guias
turísticos, etc.) proporcionavam.
No seu conjunto, as qualidades e potencialidades da geo-referenciação, das quais
o disponibilizar informação direccionada especificamente para o utilizador a ou b se
destaca, alteram as experiências e relações estabelecidas. O poder atribuído aos cidadãos
é agora responsável pelo desenvolvimento de indivíduos mais envolvidos na dinâmica
comunicacional, colaborativos, aptos à criação de novas formas de estar e viver as
experiências e os equipamentos com sistemas de geo-referenciação, responsáveis por
formar novas conexões e sistemas de cooperação, essenciais para o restabelecimento das
ligações sociais.
Aquilo que aqui se sugere, seguindo uma vez mais a lógica por detrás da Web 2.0
e da convergência de meios, não é mais do que uma interligação de estruturas já
6º Congresso SOPCOM 4988
existentes que, numa dinâmica conjunta, possibilitam mais do que aquilo que permitem
individualmente. Os novos modelos de cidade, organizados por fluxos e originados pela
urgência em resgatar as virtudes das cidades reais e as práticas sociais perdidas, servir-se-
iam dos fenómenos telemáticos e serviços digitais disponíveis e, numa confluência
planeada, cumpririam os seus compromissos e objectivos.
Conclusão
A passagem de uma lógica típica de Web 1.0 para a lógica da Web 2.0 permite-
nos pensar um novo conceito – cidade digital 2.0. Com base em novos fenómenos como
os social media sugere-se um estreitamento ainda maior – cidade digital conexa 2.0. Com
a estrutura referida, descentralizar-se-ia a acção em torno do Website e dos serviços
associados para uma estratégia em que o cidadão se torna um agente na produção e
partilha de conteúdos e, simultaneamente, na geração de redes sociais potenciadas pelos
serviços acessíveis em equipamentos móveis geo-referenciados.
Referências Bibliográficas
Albuquerque, Afonso (2002). Os desafios epistemológicos da comunicação mediada pelo
computador. Rio de Janeiro: COMPÓS.
Asonye, Ifeanyi (2003). What is Digital Convergence.
http://www.globrocks.com/globrockssitearticles/digitalconvergence.html. Acedido a
9/3/2009.
Barbero, Martín (1996). ―La Ciudad Virtual. Transformationes de la sensibilidad y
nuevos escenarios de comunicación‖. In Revista de la Universidad del Valle, vol 14, 26-
38, Cali.
Castells, Manuel (1996). ―The Rise of the Network Society‖. In The Information Age:
Economy, society and culture, Vol I, Oxford: Blackwell Publishers.
_____________ (2001). A sociedade em rede - A era da informática: economia,
sociedade e cultura. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra.
Coordenação DPP (2007). Projecto “Cidades Inteligentes”. Relatório sobre Orientações
de Política de Revitalização Urbana para a Competitividade e Sustentabilidade das
Cidades, Lisboa: Intelligent Cities.
Gouveia, Luís (2003). ―Cidades e Regiões Digitais: questões e desafios no digital‖. In
Cidades e Regiões Digitais, impacte nas cidades e nas pessoas, ed. Gouveia, Luís, Porto:
Edições Universidade Fernando Pessoa, pp. 11-13,.
Komninos, Nikos (2006). ―The architecture of intelligent cities: Integrating human,
collective, and artificial intelligence to enhance knowledge and innovation‖. Paper
6º Congresso SOPCOM 4989
apresentado na 2ª Conferência Internacional sobre Ambientes Digitais, Julho, Atenas:
Institution of Engineering and Technology.
Lemos, André (2002). Cibercidades,
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICIEPA/UNPAN005410.pdf.
Acedido a 10/2/2009.
Lévy, Pierre (1997). Cyberculture. Paris: Editions Odile Jacob.
Loreto, Inês (2007). ―Web 2.0 as a challenge for social networking and community
building‖. Conferência apresentada no Prato CIRN: Communities and Action, Novembro,
Prato, Italia.
Mamede, José (2002). Espaços de Fluxos em projectos de ciber-cidades.
http://www.bocc.ubi.pt/pag/mamede-jose-freitas-lima-cibercidades.pdf. Acedido a
26/2/2009
Mayfield, Antony (2008). ―What is Social Media?‖ In iCrossing.
http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing
_ebook.pdf Acedido a 6 de Março de 2009.
O’Reilly, Tim (2005). What is Web 2.0.,
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.
Acedido a 8/1/2009.
Palacios, Marcos (1996). ―Cotidiano e Sociabilidade No Ciberespaço: Apontamentos
Para Uma Discussão‖. In O indivíduo e as midias, coord. Neto, Antonio; Pinto, Milton,
87-104, Rio de Janeiro: Diadorim.
Recuero, Raquel (2003). Redes Sociais na Internet: considerações iniciais.
http://www.bocc.ubi.pt/pag/recuero-raquel-redes-sociais-na-internet.pdf Acedido a
5/2/2009.
_____________ (2009). Redes Sociais, Dunbar’s Number e Reges Emergentes: o que
sabemos? http://pontomidia.com.br/raquel/ Acedido a 8/3 2009.
Rheingold, Howard (1996). A Comunidade Virtual, Colecção Ciência Aberta, Lisboa:
Gradiva.
Rifkin, Jeremy (2000). The Age of Access: The new culture of Hypercapitalism, where
all of life is a paid-for experience, New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam Publishing
Group.
Sennet, Richard (1995). The Flesh and the stone, Nova York: Norton.
Silva, Lídia (2002). Implicações cognitivas e sociais da globalização das redes e serviços
telemáticos - estudo das implicações da comunicação reticular na dinâmica cognitiva e
social da Comunidade Científica Portuguesa. PhD dissertation, Universidade de Aveiro.
Strobl, Josef (2002). ―Georeferenced Internet Communications in a Geoinformation
Society‖ – Paper apresentado na Conferencia GIS - Trends in Environmental Planning,
Maio, Bernburg-Anhalt, Germany.
Weber, M. (1982). La Ville, Paris: Aubier.
6º Congresso SOPCOM 4990
Xavier, Jorge; Gouveia, Luís; Gouveia, Joaquim (2003). ―Cidades e Regiões Inteligentes
– uma reflexão sobre o caso português‖. Comunicação apresentada no Workshop
Sociedade da Informação - Balanço e implicações, Dezembro, Porto.
http://www2.ufp.pt/~lmbg/sinfo03/wsi03_jorgexavier.pdf. Acedido a 2/3/2009.