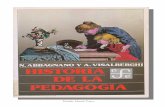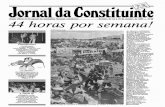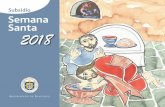anais semana da pedagogia: política educacional, memória e ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of anais semana da pedagogia: política educacional, memória e ...
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
1
ANAIS
SEMANA DA PEDAGOGIA:
POLÍTICA EDUCACIONAL, MEMÓRIA E PRÁTICA
DOCENTE
04 a 08 de outubro de 2010
UFU Campus do Pontal
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
2
ORGANIZAÇÃO
Coordenação Profa. Dra. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro
Profa. Msc. Fernanda Duarte Araújo Silva
Profa. Msc. Gláucia Glaucia Signorelli de Queiroz Gonçalves
Profa. Msc. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
Comissão Científica Prof. Dr. Armindo Quillici Neto
Profa. Msc. Cirlei Evangelista Silva Souza
Prof. Dr. Sauloéber Tarsio de Souza
Docentes Profa. Msc. Ana Beatriz da Silva Duarte
Prof. Msc. Claudio Gonçalves Prado
Profa. Dra. Karina Klinke
Profa. Msc. Leonice Matilde Richter
Profa. Msc. Lilian Calaça
Profa. Msc. Lúcia de Fatima Valente
Profa. Msc. Maria Simone Ferraz Pereira
Prof. Msc. Mauro Machado Vieira
Profa. Msc. Mical de Melo Marcelino Magalhães
Prof. Msc. Sergio Inácio Nunes
Profa. Dra. Valeria Moreira Rezende
Profa. Dra. Vânia Aparecida Martins Bernardes
Profa. Msc. Vilma Aparecida de Souza
Profa. Msc. Viviane Prado Buiatti Marçal
Profa. Msc. Waleria Furtado Pereira
Realização: Curso de Pedagogia - Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - Curso de Pedagogia Av.José João Dib, 2545 - Bairro Progresso - 38.302.000 - Ituiutaba-MG
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
3
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Sistema de Bibliotecas da UFU, MG, Brasil.
S000p Semana de Pedagogia do Pontal (1. : 2010 : Ituiutaba, MG)
I Semana de Pedagogia do Pontal: política educacional, memória e prática
docente: anais; de 04 a 08 de outubro de 2010, em Ituiutaba, Minas Gerais;
organização dos anais: Armindo Quillici Neto, Cirlei Evangelista Silva Souza,
Sauloéber Tarsio de Souza. – Ituiutaba: UFU, FACIP, 2010.
1 CD-ROM
Inclui bibliografia.
ISSN: XXXX-XXXX
1. Pedagogia - Congressos. 2. Política Educacional - Congressos. 3. Memória -
Congressos. 4. Prática Docente - Congressos. I. Souza, Sauloéber. II.
Universidade Federal de Uberlândia. Faculdades Integradas do Pontal. (3. :
2010 : Ituiutaba, MG). IV. Título.
CDU: XXX(XXX.X)
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
4
APRESENTAÇÃO
“Contra o pessimismo da razão,
o otimismo da prática”
Antonio Gramsci
Os ANAIS da primeira Semana do curso de Pedagogia do Campus do
Pontal revelam a consolidação do corpo docente e discente dessa Unidade
Acadêmica que acaba de completar quatro anos. A inscrição de mais de cinco
dezenas de trabalhos nos diferentes eixos temáticos propostos aponta para a
pluralidade de pensamentos e diversidade de interesses presentes nas
atividades que vem sendo desenvolvidas em projetos sejam eles de ensino,
pesquisa ou extensão, desde 2007, quando do ingresso da primeira turma de
alunos e professores do curso.
Todos os eixos propostos receberam inscrições de trabalhos, com
destaque para os de Memória e História da Educação e de Práticas Educativas
e Estágios nas Licenciaturas. Para além das questões quantitativas é preciso
ressaltar a qualidade das comunicações e dos textos aqui reunidos,
demonstrando o amadurecimento do grupo, reflexo do trabalho intenso
desenvolvido junto aos estudantes nos últimos anos.
Esperamos que o evento se constitua em oportunidade de diálogo e
interlocução a respeito das atividades desenvolvidas ao longo desses anos, e
que possibilite reflexões mais densas sobre esses trabalhos resultantes de
esforços realizados nos estágio, nos projetos de extensão ou de iniciação
científica. Bom evento a todas e a todos!!!
A Comissão Científica.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
6
SUMÁRIO
Eixo 1 Currículo, Formação de Professores e Profissionalização Docente.................................... 07
Eixo 2 Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação............................................................. 57
Eixo 3 Memória e História da Educação.............................. 78
Eixo 4 Práticas Educativas e Estágios nas Licenciaturas.................................................... 182
Eixo 5 Diversidade, Gênero, Etnia, Inclusão e Cidadania............................................................. 280
Eixo 6 Pensamento Educacional....................................... 336
Eixo 7 Desenvolvimento Humano e Espaços não Escolares.......................................... 360
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
7
EIXO 1
Currículo, Formação de Professores e Profissionalização Docente
A EXPERIÊNCIA DO SUBPROJETO PEDAGOGIA/ALFABETIZAÇÃO (PIBID) E SUA CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES
Nayara Camila Macedo Guimarães (UFU/FACIP/PIBID) ([email protected])
Roseli Maria Alves Góis (UFU/FACIP/PIBID) ([email protected])
Talita Ferreira Mendes (UFU/FACIP/PIBID) ([email protected])
O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar as atividades realizadas no Subprojeto Pedagogia/Alfabetização no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no primeiro semestre do ano de 2010 e sua contribuição à formação inicial das alunas do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, no que se refere à alfabetização. O eixo central deste Subprojeto visa à formação inicial dos alunos do referido curso no tocante à área da alfabetização por meio de uma dinâmica de reflexão e problematização sistemática sobre as práticas de alfabetização, a partir das contribuições dos estudos teóricos e da prática pedagógica concreta vivenciada nas escolas parceiras do Subprojeto. Tal concepção nos leva a considerar que o projeto vem desempenhando uma aproximação da realidade propriamente dita com o que estudamos, ou seja, uma relação da teoria com a prática buscando sempre refletir sobre a mesma para que haja uma compreensão sólida do ato de educar e sua importância nesse processo de formação inicial a docência, propiciando a nossa integração com a realidade educacional. Os instrumentos de pesquisa utilizados para a coleta dos dados apresentados nesse relato foram observações dirigidas, análise documental e entrevistas semi-estruturadas com professores da escola parceira, alunos e seus responsáveis. Palavras-chaves: formação de professores; alfabetização; iniciação à docência.
INTRODUÇÃO
Em abril de 2001, foi lançado o Plano Nacional de Educação (PDE), juntamente
com o Decreto n. 6.094/2007 (BRASIL, 2007a), que estabelece no Art. 2º as diretrizes
para a melhoria da qualidade da educação básica.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
8
Para implementar tais diretrizes é sancionada a Lei nº 11.502/2007, de 11 de
julho de 2007, (BRASIL, 2007b) que estabelece novas atribuições à CAPES (
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), com relação à
formação dos professores da Educação Básica.
Dentre essas novas atribuições, a CAPES cria o Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID), através da Portaria Normativa da CAPES nº 122, de
16 de setembro de 2009 (BRASIL, 2009).
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID), já em sua
segunda versão no ano de 2010, tem como principal preocupação, na Universidade
Federal de Uberlândia, a formação inicial dos licenciandos nas áreas de Matemática,
Química, Física, Sociologia, Língua Portuguesa e línguas estrangeiras, Geografia e
Pedagogia, no campus de Uberlândia e contempla as áreas de Física, Química,
Matemática e Pedagogia (com ênfase na alfabetização), no Campus de Ituiutaba
As orientações do PIBID prevêem o convênio entre as instituições de educação
superior e as redes de educação básica, no sentido de viabilizar a atuação dos alunos em
formação inicial nas atividades de ensino e aprendizagem de escolas públicas. Estão
previstas ainda o pagamento de bolsas de projeto de iniciação à docência para
professores coordenadores das instituições de ensino superior, para professores em
exercício na escola de educação básica, e para estudantes de cursos de licenciatura que
se encontram em seu processo de formação inicial.
Para o estabelecimento desse convênio na UFU-FACIP foi realizado um contato
com a Secretaria Municipal de Educação na cidade de Ituiutaba-MG e selecionadas
duas escolas para participarem do Programa no Subprojeto Pedagogia/Alfabetização.
Feita a seleção das escolas, realizou-se um processo seletivo aberto para os professores
em exercício para ocupar a função de professor supervisor de cada escola. O professor
em exercício na escola de educação básica tem como função supervisionar as atividades
dos bolsistas de iniciação à docência, servindo de elo de interlocução com a escola
pública.
Da mesma forma também foi realizado um processo seletivo entre os alunos
licenciandos do curso de Pedagogia para participação como alunos bolsistas no
Subprojeto Pedagogia/Alfabetização.
È importante ressaltar que todas as atividades desenvolvidas priorizam a estada
dos licenciandos a fim de levá-los a compreender as práticas que abrangem todo o
cotidiano em que estarão atuando, identificando aspectos que requerem novas
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
9
“possibilidades metodológicas, estruturais e humanas para o desenvolvimento da ação
docente” (UFU, 2009a, p. 2), superando uma visão em que a instituição escolar seja
entendida apenas como um âmbito de aplicação de métodos e técnicas, em prol de uma
visão que suponha também garantia de eficácia no processo de ensino aprendizagem.
Portanto o intento deste Programa (PIBID) é a valorização do trabalho docente
inserido na realidade escolar, por meio da reflexão conjunta com os professores
supervisores e observação do espaço educacional, envolvendo assim todo o trabalho
docente nas diversas áreas do conhecimento.
O propósito da realização das atividades deve estar em conformidade com os
objetivos do Programa (PIBID) e acompanhamento dos professores supervisores do
projeto, os quais irão mediar e orientar as problemáticas metodológicas identificadas
nas instituições participantes deste programa.
O SUBPROJETO PEDAGOGIA/ALFABETIZAÇÃO NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA
DE INICIAÇÃO Á DOCÊNCIA (PIBID)
Em sua segunda versão na Universidade Federal de Uberlândia, foi incluída a
participação do curso de Pedagogia da FACIP-UFU no PIBID, tendo a alfabetização
como eixo central, no sentido de contribuir na formação de professores alfabetizadores
(inicial para os alunos do curso de Pedagogia e continuada para os professores em
serviço envolvidos no subprojeto) por meio de um repensar sobre as práticas de
alfabetização (UFU, 2009b).
Assim, o Subprojeto Pedagogia/Alfabetização tem como objetivo principal
contribuir no processo de formação inicial dos alunos, futuros professores alfabetizadores, ora denominados alunos bolsistas, inserindo-os na realidade da escola e colocando-os em um diálogo problematizador com os sujeitos dessa instituição. Esse processo de reflexão, gerado na escola sobre e para si mesma, é o que o presente subprojeto se propõe, mediatizado pelos docentes das instituições escolares envolvidas e pela universidade. Estabelecer tais relações direciona uma formação mais consistente, fundada na relação teoria-prática (UFU, 2009b, p. 01).
Com vistas a atingir tal objetivo, foram realizadas ações como: mapeamentos da
realidade escolar, referente às questões educacionais como recursos metodológicos
disponíveis para o trabalho docente nas diversas áreas do conhecimento; levantamento
dos limites e possibilidades dos materiais (espaços de leitura, bibliotecas, salas de aula,
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
10
recursos didáticos, tecnológicos, dentre outros) que são utilizados no processo de ensino
aprendizagem.
Esta etapa “diagnóstica”, feita no decorrer do primeiro semestre de 2010, foi
realizada no sentido de coletar informações e dados necessários para a proposição de
ações condizentes com a estrutura disponível nas instituições escolares, como uma
proposta de intervenção em relação ao trabalho de alfabetização.
Sendo assim, a proposta de intervenção do PIBID consiste em promover a
construção de estratégias que prezem pela qualidade de ensino nas escolas da rede
pública, resignificando a concepção e a prática avaliativa dos professores em sua
atuação docente, respaldando-as nos aportes teóricos, permitindo, então, uma reflexão
dos alunos em formação inicial a docência a partir de situações reais do contexto
escolar. O desenvolvimento do PIBID-Subprojeto Pedagogia/Alfabetização tem
proporcionado às alunas do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia
– UFU/FACIP, compreender, pesquisar e construir esse processo no contexto escolar.
Em Ituiutaba-MG, o PIBID-Subprojeto Pedagogia/Alfabetização (em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação), vem se desenvolvendo na Escola Municipal
Professor Ildefonso Mascarenhas da Silva, que atende alunos da Pré-escola ao 5° ano do
Ensino Fundamental. É a partir da vivência nessa escola que, nós alunas envolvidas no
Projeto, passamos a relatar o que se segue.
Inicialmente, destacamos que o maior desafio tem sido repensar a alfabetização,
considerando a realidade vivida nesta instituição. Cada escola possui suas marcas,
culturas e histórias, constituindo um espaço sócio-cultural. Seguindo essa vertente,
iniciamos nossa investigação procurando conhecer a história da mesma, sendo utilizada
como metodologia para a coleta desses dados, a análise documental do Projeto Político
Pedagógico e do Regimento escolar como elemento fundamental para compreendermos
esse processo histórico e cultural, concordando com Lüdke (1986) que enfatiza a
importância desse tipo de análise.
[…] como uma técnica exploratória, a análise documental indica problemas que devem ser mais bem explorados através de outros métodos. Além disso, ela pode complementar as informações obtidas por outras técnicas de coletas (p. 39).
A análise documental indica problemas que devem ser mais bem explorados
através de outros métodos. Além disso, ela pode complementar as informações obtidas
por outras técnicas de coletas como: as observações dirigidas, entrevistas, questionários
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
11
e o nosso diário de campo que contém as informações necessárias para as devidas
análises.
A partir das análises, torna-se imprescindível a busca por respaldo em estudos
teóricos sobre a aquisição da leitura e escrita, almejando estabelecer uma concepção
coletiva no que se refere à alfabetização das escolas envolvidas. Do mesmo modo
anseia-se recorrer ao suporte das áreas de conhecimento que possam favorecer uma
reflexão sobre vários aspectos que colabore de forma significativa na temática da
alfabetização.
Considerando as possibilidades e limites que há no contexto escolar no trabalho
do professor alfabetizador, ressalte-se a necessidade de propor uma aproximação entre a
ação do mesmo e os conhecimentos nos quais fundamenta essa ação.
A EXPERIÊNCIA NO SUBPROJETO PEDAGOGIA/ALFABETIZAÇÃO NO PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO Á DOCÊNCIA (PIBID): CONTRIBUIÇÕES NA
FORMAÇÃO INICIAL
A experiência desenvolvida no subprojeto do curso de Pedagogia da Faculdade
de Ciências Integradas do Pontal – FACIP/UFU no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação a Docência (PIBID) tem como foco a temática da alfabetização, sobre a qual o
nosso intento, enquanto discentes do referido curso, é de compreender, pesquisar e
construir novas reflexões acerca do contexto escolar.
Conforme já destacamos anteriormente, o nosso desafio é repensar a
alfabetização, o que implica em procurar entender a prática educativa nas salas de
alfabetização, no que se refere ao processo de aquisição da leitura e da escrita.
Como prevê o Projeto Institucional do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência – PIBID da UFU, as ações do programa devem contemplar alguns
momentos, dentre eles o “mapeamento das condições estruturais, humanas e didático-
pedagógicas das escolas participantes” (UFU, 2009a, p. 02).
Ao longo do primeiro semestre de 2010, foi possível compreendermos que o
processo de aprendizagem a leitura e a escrita é algo que implica tempo, pois se trata da
construção do conhecimento do educando. É de suma importância, nesse momento,
conhecer como a criança aprende e sempre instigá-la, estimulando-a para uma
aprendizagem significativa. Para que ocorra o desenvolvimento do educando é
necessário que haja uma motivação, seja do ambiente, do objeto a ser explorado ou do
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
12
educador. Devem-se criar condições para que os alunos se interessem em buscar novos
conhecimentos.
Ao observarmos uma das salas de alfabetização percebemos que um dos
aspectos ligados a essa motivação relaciona-se com o reconhecimento do trabalho
realizado. Quando a educadora elogiava o trabalho das crianças, as mesmas se sentiam
incentivadas com o reconhecimento de suas atividades naquele momento.
Outro aspecto de grande relevância e que podemos destacar é que os educandos
não conseguem fixar sua atenção por um longo período em uma mesma atividade.
Assim, a educadora possibilitou aos mesmos outras formas de contato com o
conhecimento para desafiar e estimular os alunos, de maneira criativa, e procurando
aguçar cada vez mais a descoberta de saberes, uma vez que
Ensinar é mobilizar o desejo de aprender quando aquilo que aprendemos é significativo para nós e nos envolvemos profundamente no que aprendemos. Portanto sua aula é assim um desafio e não uma cantiga de ninar. (GADOTTI, 2003, p.54)
Assim, o que os educandos aprendem deve fazer parte de seu contexto, cabendo
ao educador estar sempre compromissado a ensinar e disposto a construir novos saberes
junto com o educando. Nesse sentido, torna-se importante que o aluno se veja nas
atividades desempenhadas em sala de aula, tornando-se protagonistas desse processo de
ensino-aprendizagem, sendo o educador um mediador que irá desencadear esse
processo.
Foi notório, durante o período de observação na instituição participante, o
interesse dos educadores na busca de recursos que possibilitem o desenvolvimento das
crianças e que auxiliem no processo de aquisição da leitura e da escrita, desde a
educação infantil,
Outro índice do interesse dos educadores na busca de novos meios para garantir
uma formação significativa no processo de alfabetização refere-se ao CEMAP (Centro
Municipal de Assistência Pedagógica e Aperfeiçoamento Permanente de Professores),
que oferece cursos voltados para formação continuada dos professores da rede. Em uma
pesquisa realizada nesta instituição, todos os entrevistados relataram o compromisso
com a participação efetiva nos cursos de formação voltados para a alfabetização,
oferecidos pelo Centro. O gráfico a seguir, mostra o percentual de professores que
participam dos cursos de formação continuada.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
13
Fonte: Entrevista realizada com Professores atuantes na Alfabetização - Escola Municipal Professor Ildefonso Mascarenhas da Silva.
De acordo com o gráfico, podemos perceber que 82% dos profissionais atuantes
na alfabetização participam de cursos de formação continuada CEMAP (Centro
Municipal de Assistência Pedagógica e Aperfeiçoamento Permanente de Professores),
sendo que 18% procuram outros cursos de aperfeiçoamento profissional.
Acreditamos na importância dos profissionais da educação terem a iniciativa de
recorrerem aos cursos de formação continuada para enriquecer os seus conhecimentos,
uma vez que o sujeito, por ser um ser inconcluso, deve sempre aprimorar os saberes de
sua prática docente, fazendo uma reflexão da sua ação no cotidiano escolar. Nesse
sentido, Veiga (2002) nos faz entender que
(...) a formação identifica se com a idéia de percurso, processo, trajetória de vida pessoal e profissional. Por isso, a formação não se conclui, ela é permanente. Portanto, há que se pensar também na formação dos professores em exercício da profissão, na sua formação inicial e continuada. (p.87)
O processo de formação continuada permite aos docentes uma visão abrangente
e crítica da realidade em que está inserido, tendo a possibilidade de buscar meios que
contribuem para formação dos educandos no processo de alfabetização.
Contudo, no decorrer desse processo, é necessário que o educador leve em
consideração o conhecimento prévio que as crianças trazem para o âmbito escolar em
seu processo de alfabetização, como ponto de partida para as ações alfabetizadoras. Ou
seja, a criança antes de ser alfabetizada não domina o código da escrita, mas domina o
sistema lingüístico e apesar de não dominar o código, a mesma está totalmente imersa
nesse código da escrita. Isso pôde ser constatado por nós durante a observação de
muitas atividades e práticas desenvolvidas nesta instituição. Em uma delas a educadora
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
14
propôs um trabalho por meio de rótulos de produtos e materiais que a família dos
educandos utilizava em seu cotidiano. A partir desses trabalhos com rótulos, a
educadora permitiu que as crianças explorassem tais recursos a partir de seu contexto,
do conhecimento que as mesmas já possuíam. Nessa atividade foi possível percebermos
a manifestação de interesse por parte das crianças, fazendo relação do seu contexto
vivido com seu conhecimento apreendido e, por meio da mediação da educadora, com o
sistema da escrita.
Ferreiro (2001), em estudos sobre o processo da aquisição da leitura e da escrita,
chega à conclusão que
A criança que cresce em meio “letrado” está exposta à influência de uma série de ações. E quando dizemos ações, neste contexto queremos dizer interações (...). Aqueles que conhecem a função social da escrita dão-lhe forma explicita e existência objetiva através de ações inter-individuais. A criança se vê continuamente envolvida como agente e observador no mundo “letrado” (p.59)
Isso significa que se o educador oportunizar diversos meios que leve o aluno ao
conhecimento de diferentes escritas (livros, jornais, bula de remédio, etc.), o mesmo
poderá aprender sistematicamente as práticas sociais ligadas à escrita.
Mais que oportunizar meios para levar o educando a novos conhecimentos, o
educador deve possibilitar também uma organização do espaço em sala de aula, por
meio da disposição das carteiras de modo que todos interajam, trocando assim
experiências de vida, tendo um enriquecimento intelectual e social, pois acreditamos
que a maneira como se organiza o espaço a ser trabalhado poderá influenciar neste
aspecto.
Como afirma Barbosa (et al) sobre a disposição do espaço da sala aula
Entendemos que uma organização adequada do espaço e dos materiais disponíveis na sala de aula será fator decisivo na autonomia intelectual e social das crianças. É importante que a criança se veja constantemente desafiada a novas tarefas e desafios, promovendo a construção de diferentes aprendizagens. (p.77)
Vale ressaltar que outros espaços, não somente as salas de aula, também
contribuem para a sistematização do conhecimento no que se refere à leitura e a escrita.
Porém, o educador como interlocutor deve sempre ter a intencionalidade ao planejar
suas atividades, sabendo como explorá-las (nos espaços) e conseqüentemente atingir o
que se almeja.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
15
Mediante as reflexões apresentadas e discutidas nesse relato sobre a
alfabetização, compreendemos o quanto esta experiência foi fundamental para ampliar
nossa visão de como é desenvolvida a prática educativa e como se dá a aquisição da
leitura e da escrita e vimos o quanto é primordial diversificar o trabalho pedagógico,
podendo assim proporcionar aos educandos uma aprendizagem prazerosa utilizando
outras formas de prender a atenção dos mesmos e promover a participação de ambos.
Sabemos que foi de grande valia todo o momento em que desenvolvemos as
atividades previstas nesta instituição, pois nos permitiu uma aproximação da realidade
propriamente dita com o que estudamos, ou seja, uma relação da teoria com a prática.
Essa experiência tem sido um acontecimento ímpar em nossa formação inicial,
permitindo um contato efetivo com o ambiente escolar.
Entretanto, todo esse envolvimento nos levou a reflexão sobre a prática docente
e chegamos ao entendimento que se realmente desejamos atuar como professoras
alfabetizadoras, devemos sempre refletir sobre nossa prática pedagógica e nos
comprometermos com o aprendizado dos educando, pois assim contribuiremos na
construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
A partir dessa experiência na Escola Municipal Professor Ildefonso Mascarenhas
tem sido possível compreender a necessidade de integrar o educando ao meio social,
com dignidade e responsabilidade. Sobre essa questão Paulo Freire (2008), nos aponta
uma grande afirmação.
(...) o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo é expressão da forma de estar sendo dos seres humanos, como seres sociais, históricos, seres fazedores, transformadores, que não apenas sabem, mas sabem que sabem (p.42).
Um aspecto que também merece ser mencionado é o reconhecimento da escola
acerca da importância das aprendizagens em outros âmbitos, por meio de projetos,
colaborando para o enriquecimento do processo ensino aprendizagem.
Deste modo, sabemos que é possível trabalhar com diferentes temas de projetos,
podem ser temas escolares ou referentes a conteúdos vivenciais como família, cidades,
bairros, questões éticas. No entanto, é sempre importante que a criação de um projeto
manifeste-se a partir de uma inquietação do aluno e ou do grupo-sala.
Os projetos de trabalho levam em conta os conhecimentos e os problemas que
circulam fora da sala de aula e que vão além do currículo básico. É importante o contato
com a informação que circula de modo diferente daquele explanado nas disciplinas, isso
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
16
porque muitas vezes as informações e as linguagens atuais são diferentes das abordadas
nos livros didáticos.
Segundo uma entrevista realizada com a supervisora da instituição, a mesma nos
relatou que a escola desenvolve muitos projetos, sendo elaborados por toda a equipe
pedagógica, por meio de um trabalho coletivo. A escola realiza ainda outros projetos
idealizados a partir da necessidade percebida na escola, trabalhando de forma
interdisciplinar, na perspectiva do que explica Ferreira (1997) acerca do conceito de
interdisciplinaridade
O prefixo “inter” tem o significado de troca, reciprocidade e disciplina, de ensino. Logo, a interdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo um ato de troca entre as disciplinas ou ciências – ou melhor, de áreas do conhecimento. (p. 22).
Canário (2006) nos faz refletir sobre a contribuição dos projetos para o processo
de ensino aprendizagem do educando e também para a formação do professor
A lógica de desenvolvimento de projetos permite uma plena articulação da ação e da reflexão. Enquanto processos de descoberta e de resolução de problemas, os processos formativos, no contexto e no exercício do trabalho. (p.80)
Percebemos que por meio de projetos as crianças têm a oportunidade de
enriquecer seus conhecimentos através de visitas e palestras em espaços não escolares.
Contudo, é imprescindível esse momento fora do espaço escolar, assim os educandos
aprendem de outras formas o conteúdo proposto no currículo institucional.
Partindo desse pressuposto, vimos que todo esse envolvimento nos levou a
reflexão sobre a prática docente e chegamos ao entendimento que se realmente
desejamos atuar como professoras alfabetizadoras, devemos sempre refletir sobre nossa
prática pedagógica, pois foi de grande relevância todo esse momento em que engajamos
nesse processo de formação inicial a docência, levando-nos a nossa integração com a
realidade social, numa abertura para um diálogo com os referenciais teóricos
norteadores na forma de articular teoria e prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante as reflexões aqui apresentadas e discutidas nesse relato de experiência,
ressaltamos a importância de se desenvolver um subprojeto desse porte, pois a
Universidade Federal de Uberlândia, por meio do Subprojeto da Pedagogia, PIBID
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
17
(Programa Institucional de Iniciação à Docência), preza por uma formação de
professores que possa contribuir para uma educação de qualidade e compromisso para
com os educandos. Sendo assim, ficamos honradas por participarmos dessa construção
de conhecimentos que também proporcionou-nos uma ampliação significativa na nossa
formação inicial, pessoal e profissional, buscando sempre refletir a prática educativa
para que haja uma compreensão sólida do ato de educar e sua importância.
Sabemos que foi de grande valia todo o momento em que desenvolvemos as
atividades previstas nesta instituição, pois nos possibilitou sairmos dos muros da
Universidade para uma relação mais direta com a realidade educacional, ou seja, uma
relação da teoria com a prática sendo um acontecimento ímpar em nossas vidas, ainda
que, não tínhamos tido contato num longo período em qualquer instituição que seja,
pois tivemos a oportunidade de conhecermos de maneira mais ampla todo esse processo
educativo que abrange o âmbito escolar, fazendo com que construíssemos um olhar
mais refinado e reflexivo sobre a concepção de alfabetização que iremos adotar nas
nossas práticas educativas futuras.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BARBOSA, M. C. S.; HORN, M. Da G. S. Organização do Espaço e do Tempo na Educação Infantil. In: CRAIDY, C. KAERCHER, G. (Orgs.). Educação Infantil: Pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. CANÁRIO, Rui. A escola tem futuro? Das promessas as incertezas. Porto Alegre: Artmed, 2006 LÜDKE, Menga. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Cord). Práticas interdisciplinares na escola. 4ª. ed. São Paulo: Cortez. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. Tradução Horácio Gonzales (et. al.), 24ª. ed. Atualizada. São Paulo: Cortez, 2001. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 2008. GADOTTI, Moacir. Boniteza de um Sonho: ensinar e aprender com sentido. Novo Hamburgo: Feevale, 2003.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
18
SILVA, Angela Maria, Pinheiro, Maria Salete de Freitas e FRANÇA, Maria Nani. Guia para normatização de trabalhos técnico-científicos: projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertação e teses. ed. EDUFU, Uberlândia, 2008. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Projeto Institucional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Uberlândia/MG, 2009a.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Subprojeto de licenciatura em: Pedagogia/Alfabetização do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Uberlândia/MG, 2009b. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Professor: Tecnólogo de ensino ou agente social? Formação de Professores: Políticas e Debates/ Ilma Passos Alencastro Veiga, Ana Lúcia Amaral (Orgs.). Cap.3. 1ª.ed – Campinas, SP: Papirus, 2002. p.65-93. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).
CURRÍCULO INCLUSIVO: A BUSCA POR ADAPTAÇÕES E ACESSIBILIDADE AO
CURRÍCULO NA ESCOLA REGULAR
Rafaela Rodrigues Nogueira – FACIP/UFU [email protected]
Fernanda Coelho Peres – FACIP/UFU [email protected]
Lorraine Cristina da Silveira Pereira – FACIP/UFU [email protected]
Luciana Coelho Borges Queiroz – FACIP/UFU [email protected]
Essa pesquisa teve por objetivo um estudo sobre o currículo que atualmente é encontrado nas escolas regulares (currículo como prescrição que estabelece parâmetros a serem seguidos) e o currículo apresentado por alguns teóricos como sendo o que atenderia melhor a diversidade (currículo construtivo). O trabalho demonstra as características de cada currículo e a qual concepção cada qual atende. Para tanto realizamos uma revisão bibliográfica de autores que tratam sobre a temática, como Mantoan (2003) e Glat (2007). Chegamos a reflexões como a de que um dos grandes problemas enfrentados no currículo é o ”jogo de interesses", ou seja, a imposição realizada sobre o mesmo, através de modelos de administração técnicos, racionais ou científicos, o que acaba por atribuir a ideologia de um currículo como prescrição. Isso envolve uma aceitação de modos estabelecidos nas relações de poder, onde esse quadro afasta os principais atores, ou até mesmo protagonistas do "discurso sobre escolarização": os professores, que continuam anônimos e passivos no processo educacional. O presente trabalho também reflete sobre o currículo em uma perspectiva inclusiva, e a necessidade de refletir sobre qual concepção de currículo é preciso adotar. Uma das justificativas para se pensar na temática é a de que toda forma de diversidade é hoje concebida na escola, e há a demanda óbvia, por um currículo que atenda essa universalidade. O grande desafio está em desenvolver uma postura ética de não hierarquizar as diferenças e entender que nenhum grupo humano e social é melhor ou pior do que outro, na realidade é somente diferente. Dentro dessa perspectiva o
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
19
currículo é de suma importância, uma vez que possui um caráter político e histórico, e constituí uma relação social, bem como dois sentidos em relação ao aspecto político (aquilo que fazemos e o que ele nos faz). Palavras-chave: Currículo – Inclusão – Adaptações Curriculares
INTRODUÇÃO O presente trabalho aborda o tema Inclusão, o mesmo por muitas vezes discutido
sobre várias óticas, enfatizara a concepção do currículo e a necessidade de se fazer
adaptações curriculares que possibilitem a inserção de alunos com deficiência e
dificuldades de aprendizagem no contexto educacional.
A discussão realizada em favor de uma verdadeira inclusão irá focar em aspectos
importantes como a necessidade de realizar adaptações e fazer medidas e mudanças em
favor de um currículo construtivo, negando-se a atender e a aderir a um modelo
currículo como prescrição.
O trabalho aborda a concepção de currículo e chega a propor pequenas
mudanças em favor de uma melhoria e um olhar para a especificidade de cada aluno, a
proposta de atividades que permitam criar estratégias para propiciar condições para o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, e a construção de uma coletividade
e mudança atitudinal dos educadores, todos esses fatores são temáticas a serem
abordadas no mesmo, para a ocorrência de uma inclusão para todos.
FALANDO SOBRE CURRÍCULO Um dos grandes problemas enfrentados no currículo é o “jogo de interesses", ou
seja, a imposição realizada sobre o mesmo, através de modelos de administração
técnicos, racionais ou científicos, o que acaba por atribuir a ideologia de um currículo
como prescrição. O currículo como prescrição estabelece parâmetros a serem seguidos,
isso envolve uma aceitação de modos estabelecidos nas relações de poder, esse quadro
afasta os principais atores, ou até mesmo protagonistas do "discurso sobre
escolarização", os professores que continuam anônimos e passivos no processo
educacional.
Pensar sobre currículo em uma perspectiva inclusiva é refletir sobre qual
concepção de currículo é preciso adotar, o que fica claro é que um currículo necessita
ser construtivo, para tanto, não se deve visualizar o currículo como se fosse um sistema
fechado, distante e com um único enfoque.
De acordo com Elvira de Souza Lima (2006), a diversidade faz parte do
acontecer humano, seres humanos são diversos em suas experiências culturais, são
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
20
únicos em suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o
mundo. Seres humanos apresentam ainda diversidade biológica. Algumas dessas
diversidades provocam impedimentos de natureza distinta no processo de
desenvolvimento das pessoas (as comumente chamadas de Pessoas com necessidades
especiais).
Como toda forma de diversidade é hoje concebida na escola, há a demanda
óbvia, por um currículo que atenda essa universalidade, o grande desafio está em
desenvolver uma postura ética de não hierarquizar as diferenças e entender que nenhum
grupo humano e social é melhor ou pior do que outros, na realidade são somente
diferentes. O currículo, portanto é de suma importância, uma vez que possui um caráter
político e histórico, e constitui uma relação social, bem como dois sentidos em relação
ao aspecto político (aquilo que fazemos) e (o que ele nos faz).
As discussões sobre currículo são de suma importância, pois incorporam
procedimentos pedagógicos, relações sociais, valores e identidades de alunos (as), é
imprescindível incorporar ao currículo conhecimentos que versem sobre as diferenças
superando tratos românticos sobre a diversidade.
Um currículo inclusivo é também flexível, apto a mudanças e adaptações, não se
baseia em um protótipo único de aluno ou um bloco homogêneo, e sim concebe a escola
enquanto um espaço de sociabilidade para onde convergem diferentes experiências
socioculturais, portanto conviver com as diferenças e com os diferentes é construir
relações que se pautam no respeito, na igualdade social, na igualdade de oportunidades
e no exercício de uma prática e postura democrática.
Uma das finalidades fundamentais de toda intervenção curricular é de preparar
os alunos (as) para se tornarem cidadãos críticos, nesse trabalho de formação é
necessário atentar-se para quais conteúdos aborda o currículo, suas estratégias de ensino
e formas de avaliação. Pois o que acontece na grande maioria das vezes é um silêncio
por parte dos grupos minoritários, bem como uma ausência dos mesmos no currículo
escolar se tornando culturas excluídas e negadas.
Uma educação libertadora exige que se leve a sério os pontos fortes,
experiências, estratégias, e valores dos membros dos grupos oprimidos. Implica também
ajudá-los a analisar e compreender as estruturas sociais que os oprimem para elaborar
estratégias e linhas de atuação com probabilidade de êxito. (Santomé, As culturas
negadas e silenciadas no currículo).
O currículo inclusivo deve atender aos alunos em suas necessidades, para
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
21
possibilitar o processo ensino-aprendizagem, para tanto deve desenvolver adaptações
curriculares, de modo geral, respeitando e atendendo à diversidade e modificando
questões organizativas, objetivos e conteúdos, metodologia e organização didática, de
tempo, bem como modificar a filosofia e estratégias de avaliação.
Para que todas essas mudanças ocorram e aconteça de fato uma inclusão, torna-
se necessária uma ruptura e uma quebra de paradigmas, essa mudança ainda levará do
ponto de vista histórico, muitos anos para acontecer, pois demanda ousadia para buscar
alternativas que nos norteiem em busca de transformações no espaço escolar e no
convívio social.
As escolas cabem desenvolver projetos que busquem uma inclusão, tanto do
ponto de vista de alunos com deficiência, quanto de alunos com dificuldade de
aprendizagem, as adaptações de curriculares contribuem para possibilitar uma
aprendizagem significativa, uma vez que enxerga e propõe atividades que facilitem sua
aprendizagem, através de programas,e superação de modos de ensinar tradicionais que
acabam categorizando , rotulando e julgando o alunado.
O currículo não deve possuir uma abordagem acumulativa em que o conteúdo
seja mais importante que uma aprendizagem significativa, configura-se como algo
necessário e dependente da colaboração de todos ligados direta ou indiretamente à
escola, pois o mesmo é segundo Zabalza (1992, p.12):
...o conjunto dos pressupostos de partida, das metas que se desejam alcançar e dos passos que se dão para alcançá-las; é o conjunto dos conhecimentos, habilidades, atitudes, etc., que são trabalhados na escola, ano após ano. E, supostamente, é de cada uma dessas opções.
A questão de como o currículo pode facilitar a aprendizagem, perpassa por
fatores que influenciam diretamente no processo educacional, um ponto significativo e
talvez o mais importante seja como se constitui a formação dos professores, esses
muitas vezes se confessam despreparados para lhe dar com as diferenças, ou se
encontram desmotivados, pois em sua formação não foram confrontados com a
realidade se sentindo assim, despreparados para enfrentar situações das quais
necessitam para oferecer um ensino de qualidade a todos os seus alunos.
O currículo visando acolher todos no espaço educacional, não deve trabalhar
para os grupos excluídos, mas com os grupos, para propiciar que as escolas garantam a
acessibilidade aos alunos, quanto ás adaptações pedagógicas ou curriculares, não
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
22
interpretando os conteúdos como um fim em si, mais um meio para o desenvolvimento
das estruturas afetivo-cognitivas dos alunos.
A acessibilidade do currículo não se configura somente na questão estrutural ou
arquitetônica, mas na mudança de concepção das escolas, que por inúmeras vezes se
sentem ameaçadas com a inserção de novas propostas, no espaço em que ela se
encontra, isolando-se em seus muros, e se negando a adquiri novas concepções e
saberes pedagógicos.
Outro aspecto de suma importância e que restringe a acessibilidade é a questão
da comunicação, que deve ser possibilitada através de ajudas técnicas ou tecnologias
assistivas, bem com materiais desenhados ou adaptados, elementos de mobilidade,
informação e sinalização.
Para garantir todas essas intervenções é necessário medidas políticas que visem a
importância das práticas pedagógicas inclusivistas no cotidiano e nos projetos político
pedagógicos,para o bom desenvolvimento e necessidade dos alunos com necessidades
educacionais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para educação Inclusiva destacam
cinco pontos importantes para promover uma inclusão no contexto escolar:
• Atitude favorável por parte da escola para diversificar e flexibilizar o processo ensino-aprendizagem, de modo a atender as diferenças individuais dos alunos;
• Identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a priorização de recursos e meios favoráveis a sua educação;
• Adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, em lugar de uma concepção uniforme e homogeneizadora de currículo;
• Flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola para atender à demanda diversificada dos alunos;
• Possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e outros não convencionais, para favorecer o processo educacional (BRASIL, 1998).
No entanto, o que se vê são teorizações que se afastam do que é realmente importante,
ou seja, o conhecimento escolar, e promovem uma desvinculação entre teoria e prática, para
efetivar de fato políticas públicas é necessário muito mais que eufemismos ou troca de
nomenclaturas a pessoa com deficiência precisa de apoio legal, educacional e social.
O Currículo corresponde há um conjunto de intenções, situadas no continuum que vai da
máxima generalidade à máxima concretização, traduzidas por uma relação de comunicação que
veicula significado social e historicamente válido. Acaba por traduzir a realidade curricular
através dos termos projetos, interação e práxis.
Assim como construir um currículo é desafiador, adaptá-lo também se configura como
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
23
algo cuidadosamente pensado e progressivamente construído, o professor vai perceber que à
medida que for implementando essas adaptações mesmo que no início solitariamente e com um
caminho um tanto árduo aos poucos encontrará companheiros para a jornada.
O currículo deve ser concebido como algo vivo, produto de uma construção coletiva e
vivenciado no cotidiano escolar, a participação coletiva em sua construção evitará a
transferência de responsabilidade e recorrência a recursos externos, bem como culpabilizar o
estado por questões que devem ser resolvidas no âmbito da escola.
A escola muitas vezes tem o poder de solucionar questões dentro do seu espaço sem
recorrer a ajudas profissionais, modificando pontos importantes como a avaliação, por exemplo,
essa talvez seja a etapa mais complexa do caminho pedagógico da inclusão, envolve o contexto
escolar e o contexto da aula.
Podemos discutí-la em dois níveis sendo que os dois necessitam de adaptações:
a. Da instituição que promove a aprendizagem, envolvendo aspectos como projeto
político-pedagógico, as instalações, a formação dos profissionais, as condições de
acessibilidade às diversidades curriculares, os materiais facilitadores da aprendizagem
disponibilizados e o sistema de avaliação proposto, entre outros;
b. Da aprendizagem propriamente dita, que pode focalizar: aspectos desenvolvimentais;
aspectos relativos às competências definidas pelo currículo; e características
emocionais, motivacionais, estilos de aprendizagem e etc.
Libâneo (1991) faz indagações a respeito dos “equívocos" referentes ao processo de
avaliação destacando o equívoco mais comum como utilizar a avaliação somente para dar notas,
classificando o aluno em "melhor ou pior", deste modo a avaliação perde o foco e se torna
rotuladora.
Outro erro cometido em relação a avaliação é atribuir a mesma uma função disciplinar,
utilizando-a para punir ou recompensar o aluno, desta forma ela assume um caráter punitivo que
impossibilita o aluno de entender quais são suas principais dificuldades.
Atribuir à avaliação uma função diagnóstica também não contribui na construção de
uma avaliação em uma perspectiva de inclusão, pois assim, o professor acaba profetizando quais
alunos têm condições de aprender abandonando a avaliação (formativa). Por fim a mesma não
deverá ser utilizada nem como medida qualitativa e nem como quantitativa, uma vez que os dois
pontos são importantes.
Na concepção de Luckesi(2003, p.93) a escola mais verifica que avalia, a aprendizagem
dos alunos.Segundo esse autor:
A avaliação diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. A verificação é uma ação que "congela" o objeto; a avaliação por sua vez, direciona numa trilha dinâmica de ação.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
24
Trata-se, portanto, de avaliar com critério e flexibilidade, respeitando e atendendo aos
estilos, ritmos e peculiaridades individuais da aprendizagem, incluindo fatores culturais e
especificidades do ser humano.
Situando-se na perspectiva de uma educação inclusiva o documento propõe como
princípios norteadores da avaliação e define o processo de avaliação como:
a. A avaliação é um processo compartilhado, a ser desenvolvido, na escola, envolvendo os agentes educacionais. Tem como finalidade conhecer para intervir, de modo preventivo e/ou remediativo, sobre as variáveis identificadas como barreiras para a aprendizagem e para a participação, contribuindo para o desenvolvimento global do aluno e para o aprimoramento das instituições de ensino;
b. A avaliação constitui-se em processo contínuo e permanente de análise das variáveis que interferem no processo de ensino e de aprendizagem, objetivando identificar potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e das condições da escola e da família (BRASIL, 2002, p.12).
Levando em consideração todos esses apontamentos notamos que outros fatores
se constituem como importantes como a questão da acessibilidade a mesma pode ser
definida como a eliminação ou redução de barreiras, que por sua vez consistem em
qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de
movimento, a circulação com segurança e a possibilidade das pessoas se comunicarem e
terem acesso à informação.
Ao se falar em acessibilidade, há uma tendência em enfatizar os aspectos físicos,
como se o fato do aluno poder se locomover na escola garantisse sua inserção
educacional, contudo esse fator pode no máximo garantir sua inserção social. Nesse
sentido o conceito de acessibilidade envolve ações de pequeno porte (BRASIL, 1998)
ou o uso de recursos didáticos específicos, denominadas ajudas técnicas ou tecnologias
assistivas, essas representam forma autônomas ou semi-autônomas de interagir e
aprender.
Como discutido anteriormente, a efetivação da Educação Inclusiva demanda que
a escola esteja adaptada para garantir a acessibilidade de todos os alunos aos espaços e
processos pedagógicos, eliminando barreiras arquitetônicas, de sinalização e de recursos
didáticos nas escolas. Essas mudanças são denominadas "adaptações de acessibilidade
ao currículo" (BRASIL,1998) e incluem as condições físicas, materiais e de
comunicação que a escola proporciona para receber alunos com diferentes tipos de
necessidades especiais e propiciando sua participação em atividades e desenvolvimento
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
25
acadêmico (OLIVEIRA E GLAT,2003;GLAT,2006).
POR QUE ADAPTAR O CURRÍCULO?
Apesar de estarmos em pleno século XXI, a idéia de que toda criança deve ter
oportunidade de aprender, independentemente de sua dificuldade e diferença, está
firmemente enraizada em nossas políticas educacionais, as quais garantem o acesso de
todas as crianças à escola. No entanto, mesmo com leis garantindo o acesso de todas as
crianças na escola ainda encontramos estas, sendo excluídas do sistema educacional,
pois o que tem sido oferecido a elas é um currículo estabelecido pelo sistema escolar,
sem a preocupação de desenvolver estratégias de flexibilização, práticas pedagógicas
alternativas e adaptação curricular.
Assim os alunos que não conseguem acompanhar o currículo são rotulados como
deficientes mentais, emocionalmente desequilibrados, ou simplesmente como alunos
fracos. Portanto, evitando rótulos e buscando atender às necessidades individuais do
educando será possível prevenir, ou minimizar dificuldades de aprendizagem. Quando
se está diante de uma criança com dificuldades de aprendizagem, não significa que essa
criança não aprenda, mas sim que seu processo de aprendizagem se encontra
desequilibrado e que as aprendizagens são realizadas de maneira diferenciada da
esperada.
Nas palavras de Weiss e Cruz (apud GLAT, 2007, p.66), mesmo que um aluno
apresente distúrbio de aprendizagem este é capaz de ter sucesso acadêmico, desde que
tenha o apoio necessário.
Neste contexto, de acordo com as mesmas autoras, um dos maiores desafios para
os profissionais da educação e distinguir quais os alunos que tem dificuldade daqueles
que tem os chamados distúrbios de aprendizagem. É importante destacar, aqui, que
dificuldade de aprendizagem não é sinônimo de deficiência mental. Muitos professores,
ao lidar com alunos com dificuldades de aprendizagem mais acentuadas, confundem
essas manifestações com deficiência mental.
De acordo com Weiss e Cruz (2001, p.42):
O sujeito que está em processo de construção de seu conhecimento, seja em situação de aprendizagem formal ou informal, não é determinado somente pelo seu potencial cognitivo. Ele é o resultado da interação entre seu aparelho biológico, suas estruturas psico-afetiva e psico-cognitiva, nas interações com o meio social no qual ele está inserido (...).
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
26
Portanto, fatores que ocorrem fora da escola podem prejudicar e aumentar as
dificuldades de aprendizagem, como tais: famílias desestruturadas, dificuldades
econômicas, problemas cognitivos ou intelectuais, nível sociocultural baixo e problemas
orgânicos (ordem física e/ou neurológica).
Todas essas percepções a respeito da interferência familiar na aprendizagem nos
leva a pensar que a prevenção dos distúrbios de aprendizagem deveria começar no meio
familiar, pois este meio pode ser um gerador de ansiedades infantis e funciona como
organizador de condutas e comportamentos da criança.
É importante para o professor saber o nível de aprendizagem em que seu aluno
se encontra para que possa disponibilizar os subsídios necessários para novas
aquisições. Sendo assim:
Quanto à prática pedagógica, muitos professores não estão preparados para lidar com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, muitas vezes o professor trabalha com atividades tediosas e sem graça, o que não desperta o interesse do aluno. Muitos professores por não saber lidar com essas dificuldades buscam desculpas jogando a culpa nos alunos referem-se a eles como, alunos desinteressados, indisciplinados, desatentos, entre outros (ALMEIDA et al, 2009, p. 4-5).
O professor não pode se esquecer de que o aluno é um ser social com cultura,
linguagem e valores específicos aos quais ele deve estar sempre atento, inclusive para
evitar que seus próprios valores não o impeçam de auxiliar a criança em seu processo de
aprender.
A criança é um todo e, quando apresenta dificuldades de aprendizagem, precisa
ser avaliada em seus vários aspectos, para que assim, não venha a manifestar uma
parada ou um retrocesso na sua aprendizagem.
Pode-se entender que uma criança é tida com dificuldades de aprendizagem,
quando apresenta desvios em relação à expectativa de comportamento do grupo etário a
que pertence, ou seja, quando ela não está ajustada aos padrões da maioria desse grupo
e, portanto, seu comportamento é perturbado, diferente dos demais. Como consequência
de sua dificuldade de aprendizagem, os alunos podem apresentar baixos níveis de auto-
estima e de autoconfiança, o que pode conduzir à falta de motivação, afastamento, crises
de ansiedades e estresse e até mesmo depressão. A dificuldade que mais é encontrada na
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
27
atualidade é a dislexia, que consiste na dificuldade no aprendizado da leitura e da
escrita, dentre outros sintomas.
Porém, é necessário estarmos atentos a outros sérios problemas como:
Disgrafia: aparece com (o) transtorno da expressão escrita, podendo afetar a
ortografia e/ou a caligrafia.
Disortografia: quadro muitas vezes descrito como características da disgrafia.
Este transtorno da escrita se apresenta como uma persistência, após a 2ª série do Ensino
Fundamental ou equivalente, de trocas de natureza ortográfica, aglutinações,
fragmentações, inversões e omissões.
Discalculia: é a dificuldade em lidar com cálculos, numerais e quantidades,
prejudicando as atividades de vida diária que envolvem estas habilidades e conceitos.
TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade): o diagnostico deste
transtorno é difícil porque ainda é basicamente clinico, ou seja, feito através de
observações, testagens, entrevistas e questionários diversos.
Para FREIRE (1978), ninguém educa ninguém como tampouco ninguém se
educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, medializados pelo mundo.
Neste sentido podemos entender o caráter formador e crucial das interações
familiares e sociais na vida da criança, tendo estas um papel preventivo e até curativo,
mesmo nos distúrbios de aprendizagem.
Como dito anteriormente, alunos com distúrbios de aprendizagem podem ter
sucesso nas escolas, devem participar de grupos heterogêneos para que além de
aprender também possa ensinar seus colegas. No entanto, para tal finalidade a escola
deve ter uma postura inclusiva. Assim esta deve estar disposta:
(...) a buscar sempre as melhores formas para isso, desde pequenas modificações em sala de aula, porém exemplo, a disposição do mobiliário até a busca de reestruturações físicas e de pessoal que incluam formação permanente dos professores, para assim garantir o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de todos os seus alunos (WEISS E CRUZ, 2007, p. 75).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Inclusão é um tema muito polêmico que divide opiniões de alguns educadores,
à partir de muitas leituras realizadas e com a confecção deste trabalho fica claro a
necessidade de se realizar ações que partam de mudanças de atitude dos professores e de
uma cobrança em relação a todas as adaptações significativas ou não que devem
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
28
acontecer no espaço escolar.
A realização do mesmo nos permitiu refletir a respeito de questões que
perpassam o campo educacional e entram até mesmo em uma questão médica, mais
acreditamos que a partir de uma análise do professor, vontade de mudar e enxergar a
especificidade de seu aluno pode ocorrer micro mudanças que pode evoluir para algo
macro.
Finalizamos com a certeza de que o currículo deve ser repensado para não só
incluir pessoas com deficiência mais a todos sem exceções, como afirma Mantoan não
devemos segregar os alunos ou enviá-los ao atendimento especial por despreparo em
receber-lhes, em síntese torna-se necessário uma quebra de paradigmas e um repensar
da prática pedagógica para que a mesma tenha mais saber e sabor, bem como
professores bem formados que não temam a diversidade que a escola já vivencia e, no
entanto insiste em não enxergar uma verdadeira “cegueira social".
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, C. D. de. et al Dificuldade de Aprendizagem na Alfabetização na Alfabetização na 1ª série do Ensino Fundamental. Disponível em: <www.unimeo.com.br/artigos/artigos_pdf/2009/dificuldades.pdf> Acesso em: 13 de junho 2010. BRASIL, G., N. L. Diversidade e Currículo. Indagações Sobre o Currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da educação, Secretaria de educação Básica, 2007. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido.5.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978 GOODSON, I. F. Estudando o Currículo: uma perspectiva construcionista social.In Currículo: teoria e história. Petrópolis, RJ, Vozes, 1995,p.65-80 MANTOAN, M. T. E. Inclusão Escolar: o que é? por quê? como fazer?São Paulo: Moderna, 2003 (Coleção cotidiano escolar). SANTOMÉ, J. T. As Culturas Negadas e Silenciadas no Currículo. In: Silva, Tomaz Tadeu da. (Org.) Alienígenas na sala de aula. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. SANTOS, N. M. dos. Problematização das Dificuldades de Aprendizagem. Disponível em: < www.diaadiaeducacao.pr.gov.br> Acesso em 13 de junho 2010 WEISS, A. M. L.; CRUZ, M. M. da. Compreendendo os alunos com dificuldades e distúrbios de aprendizagem. In: GLAT, R. Educação inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
29
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Viviane Prado Buiatti Marçal- UFU [email protected]
Vilma Aparecida de Souza- UFU [email protected]
INTRODUÇÃO
Este trabalho objetiva discutir o processo formação de professores diante das
políticas para a educação inclusiva propostas pelo Ministério da educação (MEC). É
também resultado de estudos teóricos e discussões realizadas a partir de um projeto de
extensão realizado na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - FACIP que tem
como meta trabalhar com grupo de professores das escolas públicas do município de
Ituitaba-MG, contribuindo na formação destes profissionais e visando a construção de
espaços de reflexão e discussão acerca dos pressupostos da educação inclusiva. Para
isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica e fundamentação teórica sobre aspectos
relevantes que envolvem a questão. Num primeiro momento analisou-se os programas
de formação de professores implementados pelas políticas educacionais no Brasil,
dentre eles, o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, promovido pela
Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (SEESP). Em seguida,
discutiu-se as contradições e aproximações desta proposta para a consolidação de uma
escola inclusiva e a importância da ressignificação do processo de formação de
professores para que a inclusão seja construída.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Na década de 1970, no Brasil acontece a institucionalização da Educação
Especial. Numa retrospectiva histórica Miranda (2003) destaca que a partir de 1980 a
população marginalizada se opõe ao modelo de segregação e estigmatização e várias
lutas sociais são empreendidas. Em 1981 como marco tem-se o “ano internacional das
pessoas deficientes” e nesta época a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu
artigo 208 a integração escolar enquanto preceito constitucional, preconizando o
atendimento aos indivíduos que apresentam deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino. Em 1996 tem-se diretrizes políticas nacionais de educação Especial
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
30
norteadas pela Lei de Diretrizes e Bases de educação (Lei 9394/96) e expressas nos
demais documentos do MEC, que enfatizam a importância das práticas inclusivas no
cotidiano da escola e da inserção de medidas pedagógicas que promovam o
desenvolvimento e aprendizagem de alunos deficientes.
Nas últimas décadas no Brasil várias estudos trazem questionamentos sobre a
perspectiva de integração de pessoas com deficiência (MANTOAN, 1997, 2008;
BUENO 2001; GLAT, 2003, 2004, 2007; MIRANDA, 2003, 2005, 2007;
RODRIGUES, 2008; GUIJARRO, 2005) que se refere a um modelo em que nem todos
os alunos com deficiência cabem nas turmas de ensino regular, há uma seleção prévia
dos que estão aptos à inserção, ou seja, existe uma concepção de que o aluno é quem
deve adaptar-se à escola e o enfoque continua no aluno, em problemas que são
intrínsecos ao mesmo. Por sua vez, a escola não se modifica, sua estrutura e as variáveis
inerentes ao próprio sistema escolar, como metodologias de ensino inadequadas,
currículos engessados e a desconsideração às diversidades culturais e socioeconômicas
não são questionadas ou repensadas.
Diante desse contexto, os apontamentos e críticas se acentuam e principalmente
a partir de 1990 houve um reconhecimento da Educação Inclusiva que nas palavras de
Glat (2007, p. 16)
diz respeito à responsabilidade dos governos e dos sistemas escolares de cada país com a qualificação de todas as crianças e jovens no que se refere aos conteúdos, conceitos, valores e experiências materializados no processo de ensino- aprendizagem escolar, tendo como pressuposto o reconhecimento das diferenças individuais de qualquer origem.
A Declaração de Salamanca é considerada uma das mais importantes
referências internacionais no campo da Educação Especial, resultante da Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e acessibilidade,
promovida em 1994 pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO) e pelo Governo da Espanha e que teve a participação de 100 países
e inúmeras organizações internacionais. Segundo este documento,
as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças de minorias lingüísticas e
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
31
crianças de grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas” (UNESCO, 2001, p. 10).
Outros documentos como a Convenção de Guatemala (1999) deixa claro a
impossibilidade de diferenciação com base na deficiência e as escolas ditas “especiais”
não podem intitular-se como “especiais” com ênfase nas deficiências das pessoas que
pretende receber. A lei de Diretrizes e bases de 1996 prevê o Atendimento Educacional
Especializado e não a Educação Especial cujo modelo rompe com o direito à inclusão e
dispõe sobre o acesso e permanência na escola básica. Algumas medidas são salientadas
nesta legislação, como a eliminação de barreiras arquitetônicas, práticas de ensino
adequadas às diferenças, metodologias e recursos diversificados que atendam a todos.
De acordo com Glat e Blanco (2007) a educação inclusiva se constitui em uma
política oficial do país, respaldada pela legislação e por diretrizes para a educação
básica em níveis federal, estadual e municipal de ensino que delibera em consonância à
Resolução CNE/CEB nº 2 de 2002:
Art. 2º: Os sistemas de ensino devem matricular a todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando às condições necessárias para uma educação de qualidade para todos”( BRASIL, 2002).
Diante dessa proposta, todos os alunos com graus de comprometimentos
diversos devem ser absorvidos nas classes de ensino regular, “cabendo à escola a
responsabilidade de transformar, principalmente no que diz respeito à flexibilização
curricular, para dar a resposta educativa adequada ás suas necessidades” (GLAT e
BLANCO, 2007, p. 24).
Nesse contexto, emerge o paradigma da inclusão. A inclusão escolar não
consiste somente no acesso e permanência física dos alunos no ambiente escolar, mas
envolve um processo de respeito e valorização da diversidade dos alunos. A inclusão se
define como uma educação para todos e por meio de ensino especializado no aluno.
Vários aspectos compõem essa complexidade do paradigma da inclusão: a
reorganização dos currículos para atender a diversidade, a consolidação de redes de
apoio, a eliminação de barreiras arquitetônicas e atitudinais (MANTOAN, 2003). Além
destes, Stainback (1999) destaca a relevância da formação continuada dos professores,
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
32
reconhecendo sua importância no desenvolvimento de instituições educacionais
inclusivas.
Entretanto, uma avaliação da realidade educacional brasileira revela que, após
um pouco mais de uma década, minimamente se avançou desde a Declaração Mundial
de Educação para Todos. Mittler (2003) afirma que muitas metas definidas pela
Conferência primeiramente para 2000 foram postergadas e estima-se que ainda existem
milhões de crianças sem acesso à educação.
As Diretrizes Nacionais para educação especial na Educação Básica refere-se às
redes de apoio como ações da educação inclusiva:
Todos os alunos, em determinado momento de sua vida escolar, podem apresentar necessidades educacionais, e seus professores, em geral, conhecem diferentes estratégias para dar respostas a elas. No entanto, existem necessidades educacionais que requerem da escola uma série de recursos e apoios de caráter mais especializado, que proporcionem ao aluno meio para acesso ao currículo (BRASIL, 2002, p. 33).
A formação continuada de profissionais da educação deve ser pensada por meio
do diálogo entre os profissionais com vistas a contribuir para o crescimento dos sujeitos
envolvidos e promover pesquisas e mudanças na área educacional. Estes momentos de
discussões contribuem para a formação de docentes visando a construção de espaços de
reflexão acerca dos pressupostos da educação inclusiva.
Entretanto, uma avaliação da realidade educacional brasileira revela que, após
um pouco mais de uma década, minimamente se avançou desde a Declaração Mundial
de Educação para Todos. Mittler (2003) afirma que muitas metas definidas pela
Conferência primeiramente para 2000 foram postergadas e estima-se que ainda existem
milhões de crianças sem acesso à educação.
Desse modo há urgência de propostas para formação de professores a fim de
auxiliar a escola na compreensão de concepções e práticas para que ocorra a Inclusão e
a busca de alternativas junto ao grupo que atenda as necessidades da realidade em que
vivem. Sabe-se que muitas vezes a estrutura organizada pela escola encontra-se
enrijecida e vivenciam-se neste ambiente, tradições difíceis de serem rompidas. Além
de uma situação social que delineia preconceitos e práticas que procuram evitar o
contato e a “desestruturação” temida e creditada pelas organizações.
Segundo Rodrigues (2006, p. 307) a formação do professor para a Inclusão não
se dá somente no período de formação inicial, haja vista que é uma profissão complexa
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
33
e nela estão imbricados fatores diversos como o contexto social e a heterogeneidade de
uma classe, sendo imprescindível uma formação em serviço por meio da prática situada,
reflexiva e que envolva todo o grupo. Nas palavras do autor, a formação
[...] para a EI (Educação Inclusiva), ainda que possa ter uma fase de sensibilização na formação inicial, só poderá ser plenamente assumido ao longo de uma prática em serviço - isso também porque em EI o comprometimento com a educação de todos os alunos é de toda a escola. Parafraseando o provérbio africano “è preciso toda uma aldeia para educar uma criança”, diríamos que “é preciso toda uma escola para desenvolver um projeto EI.
Além disso, o autor acrescenta que não basta o conhecimento das diversas
etiologias de deficiência em processos de formação de professores porque este enfoque
corre-se o risco de produzir a exclusão na medida em que é classificatório e denota
rótulos e estigmas. Neste sentido, é preciso pensar em indicações pedagógicas e projetos
de inclusão que vão ao encontro de cada indivíduo analisando os casos específicos.
Dessa forma, os cursos de formação continuada precisam mobilizar não só
professores, mas toda a equipe escolar na busca de recursos pedagógicos, físicos e
materiais para o trabalho com as diferenças que compõe o cotidiano escolar.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A atual política do governo deve ser analisada no contexto macro das políticas
educacionais a partir da década de 1990. Tais políticas impõem uma concepção de
formação de professor que se reduz a um caráter pragmático que toma a competência
profissional como diretriz central (SCHEIBE, 2002). O conceito de competência
insere-se no conjunto das exigências decorrentes do mundo do trabalho, como parte do
contexto de reestruturação produtiva do capitalismo que implementou reformas
educacionais coerentes com o modelo neoliberal.
Uma análise da atual política do governo da SEESP evidencia que a partir de
2003 deu-se início o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, promovido
pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. As diretrizes
principais do programa consistem em: a) Disseminar a política de educação inclusiva
nos municípios brasileiros; b) Apoiar a formação de gestores e educadores para efetivar
a transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos.
Essa atual política do governo da SEESP (Secretaria de Educação de Educação
Especial), conduzida por meio do Programa de Educação Inclusiva: Direito à
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
34
Diversidade, consiste em um programa de formação caracterizado por pacotes fechados
para gestores multiplicadores, que são capacitados para a disseminação da política de
inclusão em suas regiões.
O referido programa tem como meta “formar e acompanhar os docentes dos
municípios pólo para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas nas salas
de aula” (MEC, 2006). Essa formação é realizada em seminários nacionais com a
participação de representantes dos municípios pólo. Com os mesmos objetivos, numa
ação multiplicadora, cada município pólo deve organizar cursos regionais com os
representantes dos municípios de sua área de abrangência onde são trabalhados os
diversos eixos temáticos que envolvem dentre outros, as políticas e parâmetros da
Educação Inclusiva, subdivide em categorias de deficiência (surdez, cegueira, altas
habilidades, autismo etc.) e a proposta dos atendimentos educacionais especializados.
Como já foi citado anteriormente, essa formação implementada em nome da
“educação inclusiva” corre o risco de assumir uma concepção tecnicista de simples
transposição dos saberes e fazeres da Educação Especial para a Educação Regular.
A literatura produzida acerca das políticas educacionais sinaliza que a legislação
educacional da década de 1990 esteve a serviço do projeto de reforma do Estado,
visando adequar o ensino brasileiro às transformações no mundo do trabalho,
provocadas pela globalização econômica e pelas técnicas de gerenciamento da
produção. Na esteira desse processo, o tema formação do professor representa um ponto
central dessa reforma educacional e muitos programas oficiais sinalizam o despreparo
dos professores como principal causa do insucesso escolar dos alunos.
Considerando esse discurso, uma concepção de professor que se aproxima a uma
espécie de tecnólogo do ensino vem sendo fortalecida no âmbito das políticas de
formação docente. Veiga (2002) alerta que tal concepção de formação assentada no
“treinamento” de competências é superficial e limitada, podendo prejudicar uma
formação mais sólida do docente.
Além disso, uma outra lacuna pode ser destacada referente às propostas políticas
de inclusão escolar. Nas análises de muitos autores, a tendência de padronização do
processo, por meio de uma política pautada numa perspectiva nacional única que
prescreve padrões para os sistemas estaduais ou municipais de ensino, não respeitando e
considerando as realidades e peculiaridades locais, pode comprometer a formação
docente e a promoção de condições para uma escola inclusiva.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
35
Assim, pode-se inferir que a atual política do governo por meio da SEESP/MEC
deve ser analisada no contexto macro das políticas educacionais implementadas a partir
da década de 1990. Tais políticas impõem uma concepção de formação de professor que
se reduz a um caráter pragmático. Cabe a crítica a essas propostas de formação de
professores, uma vez que a inclusão escolar não pode se resumir a uma proposta de
aplicação prática e de caráter pragmático e tecnicista.
O êxito de uma proposta de formação docente para a educação inclusiva estaria
comprometido com a implementação de um pacote de formação, onde se espera que o
mesmo possa ser aplicado em todos os locais e atingir os mesmos resultados. A questão
da inclusão escolar não pode se limitar apenas para questões de aplicação prática. A
inclusão escolar envolve discussões amplas, não se restringindo apenas a discussão de
métodos. Assim as propostas de formação de professores precisam envolver discussões
acerca de concepções críticas de sociedade, educação, escola e indivíduo, inseridas no
contexto macro que extrapola o simples fazer pedagógico.
Neste sentido, a formação inicial e continuada de professores deve-se inserir na
reflexão e ampliação de novas propostas que capacitem a Instituição a oferecer
condições de aprendizado e convivência com as diferenças. Diversos autores (BUENO,
1996; ARROYO, 1996; GLAT, 1999; MIRANDA & SANTOS, 2007) discutem sobre a
precariedade dos cursos de formação docente para o trabalho com deficientes.
Perrenoud (2007) enfatiza que a formação de professores é voltada na maioria das vezes
para uma escola idealizada, há uma valorização da teoria em detrimento da atividade
prática do docente e pouco ou inexiste disciplinas que envolvem conhecimento
específico na área e o trabalho pedagógico com o deficiente.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DELINEANDO CAMINHOS
Considerando o exposto, pensar em formação de professores deve-se superar o
perfil de tecnólogo de ensino que pretende redefinir a formação de professores às
exigências do mercado, tendo como eixo central o desenvolvimento de competências
para o exercício técnico-profissional, ancoradas num “saber fazer” vazio que reproduz
assim a lógica da escola que não se modifica. Ou seja, uma proposta de formação de
professores para a inclusão escolar não pode ter como norte somente o referencial
pragmático de simples transposição dos saberes e fazeres da Educação Especial para a
Educação Regular. Considerando essa reflexão, muitos programas e políticas
focalizadas em prol da “educação inclusiva” podem ser considerados “ingênuos” ao
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
36
adotarem em suas propostas de formação de professores posturas tecnicistas, como
garantia de qualidade do processo de construção da escola inclusiva.
Uma formação de professores que vá à contramão desse modelo hegemônico
deverá ser capaz de levar os professores a se reconhecerem enquanto autores de sua
prática para o enfrentamento das condições adversas que venha encontrar na
organização da escola com proposta inclusiva. Uma formação crítico-reflexiva, que
supere a dicotomia entre a teoria e a prática para se tornarem autônomos, condição para
se sentirem capazes de enfrentar os desafios da inclusão escolar.
O Curso de Formação para professores a ser realizado como projeto de Extensão
na FACIP – Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, têm como proposta discutir os
fundamentos, os princípios e os objetivos da Educação Inclusiva, estudar a legislação
relacionada à inclusão, trabalhar propostas pedagógicas numa perspectiva inclusiva e
oferecer subsídios teóricos e metodológicos para o trabalho pedagógico nas diversas
necessidades educacionais especiais
Os encontros são divulgados como Oficinas e possuem o caráter de construção, ou
seja, busca vivenciar junto ao grupo de educadores situações que permeiam a diferença
e a diversidade no contexto escolar e refletir possibilidades para se pensar projetos de
inclusão. Dentro disso, as temáticas envolvem as deficiências, o conhecimento sobre as
mesmas e também a reflexão sobre como seriam as práticas de atuação pedagógica
frente cada uma delas.
Assim, busca-se o diálogo, troca, discussões sobre alternativas, recursos
necessários para o atendimento às diversidades, orientações à família e o trabalho em
equipe. É preciso construir adaptação e reestruturação curricular, estudo de casos,
construção de materiais pedagógicos e sensibilização para alguns conceitos que
envolvem a Inclusão, preconceito, multiculturalismo, deficiência e diferença.
Sabe-se que a Inclusão engendra novas perspectivas e para isso, precisa romper
com as concepções de doença e o enfoque na deficiência, como se observa a perspectiva
da biologização e médica ainda muito presente na escola, nos discursos de educadores.
E neste sentido, estes espaços se configuram para mudanças de paradigmas e
reorganização estrutural das Instituições, bem como o trabalho com aspectos da
subjetividade do ser e fazer-se professor.
REFERÊNCIAS
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
37
AMARAL, L. A. Conhecendo a deficiência. São Paulo: Robel, 1995. ____. MEC. SEESP. Documento Orientador. Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade. Brasília, 2005. ____. MEC. SEESP. Documento Orientador. Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade. Brasília, 2006. ____. MEC. SEESP. Educação Inclusiva v.1: a fundamentação filosófica. Aranha, Maria Salete Fábio (Org). Brasília, 2004. ___. MEC. SEESP. Educação Inclusiva v. 2: o município. Aranha, Maria Salete Fábio (Org). Brasília, 2004. ____. MEC. SEESP. Educação Inclusiva v. 3: a escola. Aranha, Maria Salete Fábio (Org). Brasília, 2004. ____. MEC. SEESP. Educação Inclusiva v. 3: a família. Aranha, Maria Salete Fábio (Org). Brasília, 2004. COLL, P. MARCHESI, A. Desenvolvimento Psicológico e educação: necessidades especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes médicas, 1995. DAMASCENO, Allan Rocha. A formação de professores e os desafios para a educação inclusiva: as experiências da Escola Municipal Leônidas Sobrino Porto. Dissertação (Mestrado em Educação) –Universidade Federal Fluminense, 2006. MANTOAN, Maria Tereza Eglêr. Inclusão escolar:o que é ? por quê? Como fazer?São Paulo: Ed. Moderna, 2003. MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil In: Revista Brasileira de Educação v. 11 n. 33 set./dez. 2006. MENDES, Enicéia Gonçalves; FERREIRA, Júlio Romero; NUNES, Leila Regina d’Oliveira de Paula. Integração/inclusão: o que revelam as teses e dissertações em educação e psicologia. In: NUNES SOBRINHO, Francisco de Paula (Org.). Inclusão educacional: pesquisas e interfaces. Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2003. p. 98-149. ____ O desafio das diferenças na escola. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. MIRANDA, A. A. B. A prática pedagógica do professor de alunos com deficiência mental. Universidade metodista de Piracicaba: São Paulo, tese de doutorado, 2003. MITTLER, Peter. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre, Artmed, 2003. RODRIGUES, D. Dez idéias (mal) feitas sobre a educação inclusiva> In: RODRIGUES, D. (Org). Inclusão e Educação- Doze Olhares sobre a Educação Inclusiva. São Paulo: Summus Editorial, 2006. p. 299-318
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
38
STAINBACK, S. et all. Hacia las aulas inclusivas. In: STAINBACK, S.; STAINBACK, W. Aulas inclusivas. Madrid, Narcea, 1999.
PROGRAMA PIBID: UMA EXPERIÊNCIA EM FORMAÇÃO INICIAL COMO PROFESSORA ALFABETIZADORA
Karin Ferreira Borges - FACIP/PIBID [email protected]
Beatriz Menezes Barbosa - FACIP/PIBID [email protected]
Luciana Abadia do Carmo - FACIP/PIBID [email protected]
Leonice Matilde Richter (Orientadora) - FACIP/UFU Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - UFU
Neste trabalho temos como objetivo refletir sobre os limites e as possibilidades do trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o qual tem como propósito instigar a docência, contribuindo para uma formação inicial permeada pela práxis, em uma perspectiva freiriana. O projeto desenvolvido no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia do Campus do Pontal apresenta a alfabetização como tema central e foi desenvolvido em duas escolas públicas do município de Ituiutaba – MG. Para compreendermos o processo da alfabetização no contexto escolar, utilizamos como metodologia a entrevista semi-estruturada com os professores da instituição; questionários destinados aos responsáveis dos alunos; análise documental; entrevista com os alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, assim como, a observação do contexto educacional e o respectivo registro dos dados em diário de campo. Consideramos, em nossas avaliações, que o programa representa uma formação inicial significativa para as graduandas autoras deste estudo, tendo em vista que hoje entendemos melhor a importância da práxis educativa e as múltiplas influências que compõe a realidade da escola. Sendo assim, a experiência envolveu o trabalho coletivo propiciando um olhar pesquisador como instrumento de aprendizado para se colocar em prática novos olhares sobre a alfabetização compreendendo esse processo no contexto escolar. Palavras chave: PIBID; Cotidiano escolar; Formação inicial.
É perceptível, nas discussões realizadas em um ambiente acadêmico, que uma
das questões em pauta é a formação de professores, sobre as quais ainda se chega a
conclusões insuficientes e bastante frágeis. Prova disso é o fato de que não se tem
propiciado uma formação significativa aos futuros docentes e, logo, não os tem
auxiliado no trato das peculiaridades inerentes ao ato de ensinar.
Por tais motivos, temos como propósito relatar neste trabalho, as experiências
vivenciadas a partir das atividades realizadas no Programa Institucional de Bolsa de
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
39
Iniciação à Docência- PIBID, sendo o mesmo desenvolvido no curso de Graduação em
Pedagogia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal- FACIP da Universidade
Federal de Uberlândia. Refletimos, aqui sobre os limites e as possibilidades do trabalho
desenvolvido no projeto, o qual tem como propósito incentivar os/as bolsistas à
docência e contribuir no processo de formação inicial das alunas, para que estas se
constituam como futuras pedagogas que compreendem, investiga e aponta proposições
interventivas na realidade educacional, especialmente no que se refere ao
desenvolvimento do processo de alfabetização. O trabalho ora apresentado foi iniciado
em março de 2010 e findará no fim do ano de 2011, tendo como tema central a
alfabetização.
O PIBID envolve a participação de vinte alunas do curso que estão em diferentes
momentos de formação; duas professoras coordenadoras que fazem parte do quadro de
professores da Universidade Federal de Uberlândia; duas professoras supervisoras que
atuam no Ensino Fundamental, mais especificamente, no primeiro e segundo ano e os
demais sujeitos das escolas que desejam partilhar do projeto. Assim, para o
desenvolvimento desta experiência contamos com a abertura de duas instituições
Municipais localizadas no município de Ituiutaba-MG. O trabalho aqui relatado envolve
as análises desenvolvidas em uma destas escolas, a qual está localizada em uma região
central da cidade.
Destacamos que, dentre as características do programa, está o princípio de não
compreender a escola como uma mera receptora de propostas e estratégias pensadas por
sujeitos distantes do contexto escolar, mas ao contrário entender que as propostas ao
processo educacional devem partir de uma profunda e coletiva análise da realidade
vivida nas instituições, assim como, a proposta de intervenção deve ser fruto deste
coletivo que envolve os diferentes sujeitos. Segundo, Padilha (2007),
Um projeto ou um programa, para ser bem executado, exige tempo para a sua construção coletiva, recursos humanos, materiais e financeiros para cada uma de suas etapas e, principalmente, que todos os sujeitos proponentes e participantes percebam que o que esta sendo feito pertence também a eles. Se assim for, certamente compreenderão e cuidarão melhor para que se alcance o êxito pretendido a curto, médio e longo prazo. (PADILHA, 2007, p.8)
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
40
Salientamos, ainda, que o PIBID possibilita uma constante relação entre
investigação do contexto escolar e as reflexões teóricas, contribuindo assim para a
práxis das alunas bolsistas.
Para compreendermos o processo do contexto escolar, realizamos no primeiro
momento, a elaboração do diagnóstico da escola, utilizando como metodologia a
entrevista semi-estruturada com os professores da instituição; questionários destinados
aos responsáveis pelos alunos; análise documental; entrevista com os alunos do
primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental, assim como, a observação do contexto
educacional e o respectivo registro dos dados em diário de campo.
Devido à complexidade da escola, acreditamos que seja essencial uma formação
de um sujeito com uma visão ampla, pois compreendemos que o professor necessita de
um olhar pesquisador, para se efetivar, de fato, um professor pesquisador. Além disso,
deve ter a possibilidade de na sua graduação salientar princípios teóricos analisando e
refletindo suas próprias práticas, e observando, assim, se o próprio discurso teórico do
sujeito condiz com a ação dos mesmos. Destacamos também a
possibilidade/necessidade do trabalho coletivo, sendo esse um dos trabalhos que
percebemos dificuldades no âmbito escolar, percebemos, então, que trabalhar tal
questão no processo de formação pode vir a colaborar futuramente, com o trabalho
coletivo no âmbito escolar.
AS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO PROGRAMA
Como já nos referimos, a escola em que este subprojeto está sendo desenvolvido
é situada no centro da cidade de Ituiutaba- MG. Nela, tivemos a oportunidade de
observar a Gestão de Pessoas, o que colaborou para a compreensão da metodologia da
escola. Afinal, nosso intuito era analisar o corpo docente e discente; a composição da
administração e o funcionalismo e da equipe de apoio pedagógico, pois o nosso público
alvo são todos os sujeitos envolvidos em atividades que garantem o bom
desenvolvimento da escola, ou seja, a metodologia escolar.
Assim, nossa primeira atividade desenvolvida na escola foi a observação do
processo escolar a fim de tomarmos conhecimento da sua prática cotidiana para que
houvesse uma adaptação mútua entre os alunos da escola e as bolsistas PIBID, o que
posteriormente veio a desencadear na realização do diagnóstico das necessidades
relativas às perspectivas didático-pedagógicos para que, futuramente, venhamos a
intervir sobre as dificuldades analisadas da escola.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
41
Chamou-nos a atenção a forma como fomos recebidos por todos da escola, em
especial pelo corpo docente, o que veio a nos possibilitar uma abertura para a realização
do Projeto PIBID. Dessa maneira, foi possível observar, de fato, todo o funcionalismo
escolar.
No entanto, como em todo projeto, também encontramos no decorrer do
programa algumas dificuldades, as quais foram: adaptação das alunas bolsistas à
realidade escolar, troca de bolsistas durante o programa, a construção do trabalho na
dinâmica do PIBID, a integração das bolsistas durante o programa, incompatibilidade de
horário entre as integrantes do subprojeto, falta de material como: gravadores, cópias de
materiais coletados, além de espaço físico para atender os componentes do programa.
Mas mesmo com essas aparentes dificuldades, acreditamos que poderemos interferir de
maneira significativa no processo da instituição. Vale ressaltar que, ainda iniciaremos o
processo de elaboração do pré-projeto de intervenção, a ser aplicado durante todo o ano
de 2011.
APRENDIZADO EM NOSSA FORMAÇÃO INICIAL
O projeto em questão busca a estimulação da ação – reflexão dos alunos
envolvidos - futuros professores para que a partir das teorias apresentadas ao longo do
curso de licenciatura haja uma melhor aproximação com a realidade vivida em sala de
aula.
No entanto, como no curso de graduação em Pedagogia nos formaremos na
condição de Pedagogas, este subprojeto tem como propósito focar a alfabetização, tendo
o intuito de colaborar na melhor formação de professores alfabetizadores.
Na visão da sociedade, parece não ser considerado como uma tarefa difícil,
lecionar. Tomando como base o dito popular “Quem sabe faz, quem não sabe ensina”,
assim os cursos de licenciatura são vistos de forma pejorativas. Temos a clareza de que
enquanto tal visão não for transformada não conseguiremos enxergar o curso de
licenciatura como, de fato, formador de professores e conseqüentemente acreditar que a
formação do professor afeta diretamente no desempenho do aluno gerando assim, uma
formação do sujeito.
É na preocupação com esta formação que compreendemos a complexidade do
contexto escolar que se pode colaborar para o aprendizado do educando, assim, temos a
cautela de no primeiro momento diagnosticar a escola, olhando-a como um todo, pois
compreendemos a alfabetização como um processo e que necessariamente o todo
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
42
escolar interfere na mesma. Como conseqüência dessa visão, entendemos que o
diagnóstico, mesmo sendo realizado nesse primeiro momento, deverá ser buscado e
reavaliado constantemente;
Afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e “reescrito”. Neste sentido, quanto mais solidariedade exista entre o educador e educandos no “trato” deste espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola. (FREIRE, 1996, p.97)
Com tais perspectivas, afirmamos que nosso projeto está em constante
transformação, sendo assim, inconcluso, bem como as pessoas, assim como nos
apresenta Guimarães Rosa (1986) em seu livro Grande Sertão Veredas: “O mais
importante e bonito do mundo, é que as pessoas não são sempre iguais. Não foram
terminadas. Mas estão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior que a
vida nos ensinou”.
Acrescidas dessa visão, vale destacar outro importantíssimo princípio acalentado
por Freire (2005), que é a educação como ato dialógico, ou seja, a necessidade de uma
razão dialógica comunicativa no âmbito escolar.
(...) o ato de conhecer e de pensar estão diretamente ligados á relação com o outro. O conhecimento precisa de expressão e de comunicação. Não é um ato solitário. Além de ser um ato histórico, gnosiológico e lógico, contém um quarto elemento que é a dimensão dialógica. (FREIRE, 2005, p. 11).
Afinal, se assim acreditamos, nessa lógica da aprendizagem democrática,
devemos agir de acordo com o que tais princípios nos exigem. Assim, primeiramente
analisar o diagnóstico da escola e com ela dialogar sobre os limites e as possibilidades.
Como forma de estabelecer esse diálogo, relatamos, aqui, nossas experiências no
contexto escolar.
O TRABALHO COLETIVO COMO UM PROCESSO DE FORMAÇÃO
Acreditamos que é na formação inicial onde se inicia os princípios para aprender
a trabalhar no coletivo; exercer a relação teoria e pratica; e obter um olhar pesquisador,
já colaborando assim com a formação de um professor – pesquisador, sendo o PIBID
um instrumento de aprendizado para se colocar em prática tais princípios.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
43
Quando refletimos sobre trabalho coletivo, podemos analisar os diversos limites
e possibilidades que a escola nos oferece, para assim, trabalhar nessa construção. Trata-
se de algo que não é dado ou tutelado pelo Estado, mas de algo que passa,
necessariamente, pela cidadania dos educadores escolares.
Dessa forma, temos o intuito de trabalhar o PIBID como pesquisa-ação
realizando assim análise da realidade escolar, o que se exige aprender a trabalhar no
coletivo, o que influencia diretamente na nossa formação profissional, posto que, o
trabalho na escola é integralmente coletivo. Nessa perspectiva, tomamos por base Fusari
(2007) que diz:
Por trabalho coletivo entende-se aquele realizado por um grupo de pessoas - diretores, coordenadores, professores, funcionários, alunos, membros do Conselho de Escola e demais representantes da comunidade - que têm um compromisso com a causa da democratização da Educação Escolar no País, no Estado, no Município, e que atuam como objetivo de contribuir para assegurar o acesso do aluno à Escola, sua permanência nela e a melhoria da qualidade de ensino. (FUSARI, 2007, p. 69)
Nesse prisma, devemos ressaltar que o trabalho coletivo na Escola deve estar
voltado para a construção de um perfil de cidadão, que se difere e interage no processo
educativo, além de uma ampla clareza que os educadores devem ter da escola como um
todo, de seus problemas, causas desses problemas, como também do contexto que está
se desenvolve. Portanto, trabalhar coletivamente é algo a ser conquistado a médio e em
longo prazo, exigindo uma disponibilidade de cada uma das pessoas envolvidas no
processo para o cumprimento de exigências como: transformar, querer crescer, mudar,
querer, participar do processo de criação de uma nova Escola, de uma nova sociedade.
CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁXIS PEDAGÓGICA
Na possibilidade de nos enxergar como sujeitos praticantes do contexto escolar,
temos, entre outras inúmeras experiências e contribuições, a de nos propiciar a
oportunidade de realizar a relação teoria e prática, o que exige:
O pensar certo sabe, por exemplo, que não é a partir dele como um dado, que se conforma a prática docente critica, mas sabe também que sem ele não se funda aquela. A prática docente crítica implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. (FREIRE, 1996, p.38)
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
44
Assim, de acordo com a perspectiva freireana, acreditamos que o PIBID está -
nos proporcionando o pensar certo, o que percebemos que exige esforço, posto que nos
encontramos muito próximos da realidade escolar e temos que nos “fiscalizar”
constantemente para não nos desiludir. Pelo contrário, devemos utilizar da utopia na
perspectiva de Eduardo Galeano acreditando que:
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar. (Revista Espaço Acadêmico, Nº 56, janeiro/2006, Ano V)
Neste prisma, a utopia não é vista como um sonho inalcançável. Mas, uma
motivação para a nossa caminhada. Enxergando-a assim, como uma possibilidade de
mudança, acreditando nos sujeitos como seres ativos. Portanto, reforçamos em nossas
ações que:
Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. A ação educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer “bancaria” ou de pregar no deserto. (FREIRE, 2005, p.100)
Então, se acreditamos na realização desse diálogo, já se exige de nós mesmos
termos clareza de que todos os sujeitos são sujeitos fazedores de história e que por isso
devem ser escutados. Eis assim, a importância de dialogar com a gestão de pessoas
antes de aplicar um projeto de intervenção, afinal, nós não somos detentores da verdade
(e na realidade, ninguém o é).
Dessa forma, concluímos que tal experiência nos auxiliará na formação de
professoras – pesquisadoras, o que de fato, nos dará uma possibilidade de formar
sujeitos críticos, autônomos.
Portanto, nesse relato de experiência, podemos concluir, até então, que o PIBID
tem nos oferecido a oportunidade de nos inserirmos ainda na condição de alunas e
futuras pedagogas na real situação do processo ensino - aprendizado, o que
normalmente só ocorre nos últimos períodos do curso de Graduação em Pedagogia,
dedicados aos estágios.
A partir disso, o projeto além de nos ter permitido refletir criticamente sobre a
gestão de pessoas de uma Escola Municipal, nos possibilitou o desenvolvimento de
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
45
competências possíveis de serem adquiridas apenas no exercício da profissão. Também
nos instigou ao trabalho coletivo, sendo este realizado entre as alunas da universidade e
os sujeitos da escola, apontando a força do trabalho e da gestão participativa. Por tais
motivos, acreditamos que o projeto PIBID deveria atingir a todos os alunos
universitários, não somente uma minoria como verdadeiramente ocorreu, pois:
Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. (FREIRE, 1996, p.103)
De tal forma, consideramos que para haver, de fato, a formação de professores, o
mesmo deva ser formado com uma visão ampla, posto que:
O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. (PCN, 1998, p.05)
Portanto, acreditamos que essa formação facilitaria ao professor formar
posteriormente cidadãos, ou seja, sujeitos históricos, e assim, romper com as amarras da
fragmentação e propor uma formação contra-hegemônica.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEMTEC, 1998. Disponível em < http://www.espacoacademico.com.br/056/56andrioli.htm> acessado em 29 de outubro de 2010. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2005. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia, São Paulo, Paz e Terra, 1996. FREIRE, Paulo. A utopia do saber, Coleção memória da pedagogia/ editor Manuel Costa Pinto; colaboradores Moacir Gadotti... et al. Rio de Janeiro : Ediouro ; São Paulo: Segmento-Duetto, 2005. FUSARI, José Cerchi. A Construção da Proposta Educacional e do Trabalho Coletivo na Unidade Escolar. São Paulo, 2007. PADILHA, Paulo Roberto. Educar em Todos os Cantos: Reflexões e Canções por uma Educação Intertranscultural / Paulo Roberto Padilha. - São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2007.
Excluído: ¶
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
46
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão Veredas. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1986.
TRÊS EDUCADORAS INFANTIS E A FORMAÇÃO EM CONTEXTO: VIVÊNCIAS DIFERENTES DE UM MESMO PROCESSO
Cirlei Evangelista Silva Souza - FACIP/UFU [email protected]
A formação do profissional que atua na educação infantil é motivo de preocupação de muitos setores voltados para o atendimento das crianças pequenas, sendo ressaltada a necessidade de serem apontadas alternativas que contribuam para a transformação dos fazeres destes profissionais nos contextos educacionais. Por meio da realização de uma pesquisa-ação, uma das alternativas utilizadas por nós para contribuir neste sentido foi oferecer para três educadoras infantis, em um processo de formação em contexto, oportunidades concretas para que elas refletissem sobre sua prática cotidiana. Neste sentido, este presente estudo tem como objetivo discutir a participação e a avaliação destas do referido processo, que envolveu atendimentos individuais e observações de rotina semanais, além de encontros mensais ocorridos ao longo de vinte e quatro meses. Ao seu término, na avaliação realizada com as participantes, percebemos que elas vivenciaram o mesmo processo de formas diferentes e afirmaram, de forma geral, que foram várias as aprendizagens que tiveram, desde conteúdos de ensino até a alteração de características pessoais. Comentaram que as observações em sala de aula foram difíceis já que se sentiam vigiadas; nos atendimentos elas puderam conversar sobre suas crianças, seus problemas, fazer reclamações, trocar idéias e desabafar; e os encontros de formação foram importantes para seu desenvolvimento profissional. Concluindo, acreditamos que este processo de formação em contexto proporcionou às educadoras um espaço de reflexão que as permitiu expressar, cada uma à sua maneira, suas dificuldades e anseios, e demonstrou a necessidade de que nas propostas de formação seja enfatizada a importância de se considerar que o desenvolvimento profissional é sempre atrelado ao desenvolvimento pessoal.
Palavras-chave: Educadoras. Educação Infantil. Formação em Contexto.
Este artigo apresenta uma reflexão acerca da participação e da avaliação de um
processo de formação em contexto vivenciado por três educadoras infantis durante os
seus vinte e quatro meses de duração. Sabemos que a formação do profissional que atua
na educação infantil é motivo de preocupação de muitos setores voltados para o
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
47
atendimento da criança pequena (secretarias, universidades, fóruns infantis,
organizações não-governamentais). Esta situação impulsiona a realização de pesquisas
que visam apontar alternativas que colaborem na discussão sobre como formar um
educador capaz de superar a dicotomia educar e cuidar no trabalho realizado junto às
crianças, além de compreendê-las como seres sociais dotados de características próprias
e necessidades específicas (Guimarães, 2003; Silva, 2003).
A proposta de realização de uma formação em contexto para educadoras infantis
surgiu de nossa preocupação em contribuir para o desenvolvimento profissional das
mesmas, o que certamente trará reflexos na qualidade de sua atuação enquanto
educadora. Alguns estudos (Oliveira-Formosinho, 2001; Imbernon, 2002) reconhecem a
importância dos contextos de trabalho para o desenvolvimento profissional dos
professores e salientam que este não é um processo individual e sim vivencial que se
produz no contexto de trabalho.
Diante, então, dessa relação que enfatiza o desenvolvimento profissional
participativo e centrado nos contextos de trabalho, Imbernon (op. cit.) propõe a
formação centrada na escola. Para ele, esta não implica somente em uma mudança no
lugar da formação, mas na promoção de programas que atendam às necessidades
levantadas a partir da escola, com vistas a melhorar a qualidade do ensino e da
aprendizagem na sala de aula. Assim, a escola se tornaria o foco do processo ação-
reflexão-ação, como veículo de mudança, desenvolvimento e melhoria do trabalho e da
formação docente.
Tendo como suporte esta concepção teórica, optamos por realizar a formação em
contexto como uma maneira de oferecer uma oportunidade concreta para que as
profissionais refletissem sobre sua prática cotidiana e, posteriormente “construam uma
ação consciente, capaz de negar e superar a aplicação mecânica de uma seqüência de
tarefas e rotinas preestabelecidas” (GUIMARÃES, 2003, s/p).
Dentre as questões que buscamos responder em nossa pesquisa estão:
quem são as educadoras participantes da pesquisa no que se refere à formação
pessoal, acadêmica e profissional? Como foi o ingresso delas na profissão e como
a concebem? Como elas se relacionam com as crianças e com sua prática
educativa? Como foi sua participação na pesquisa? Como avaliam o processo de
formação realizado?
Para alcançar nosso objetivo, escolhemos a pesquisa-ação como proposta
metodológica a ser adotada, por acreditarmos que a mesma possa favorecer aos
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
48
professores o aprender e a construção do conhecimento através do desenvolvimento de
uma prática, o aprender refletindo sobre as ações realizadas, na tentativa de resolver
problemas advindos do cotidiano da instituição escolar. De acordo com Thiollent
(1996), a pesquisa-ação é, então, considerada uma pesquisa com um duplo objetivo:
transformar a realidade e, ao mesmo tempo, produzir conhecimentos a partir dessa
transformação.
Esta pesquisa foi realizada em quatro etapas: a primeira etapa se referiu ao
diagnóstico da instituição realizado por meio de três entrevistas semi-estruturadas
individuais com todas as educadoras envolvidas e reuniões com a equipe; a
segunda etapa foi a construção com a equipe da instituição do planejamento da
ação; a terceira etapa foram a formação e o acompanhamento das educadoras
realizado em serviço; e a quarta etapa foi a reflexão realizada, momento em que as
participantes puderam fazer uma avaliação de sua participação e de suas
aprendizagens durante todo o processo.
As três educadoras participantes desta pesquisa trabalham em uma creche
comunitária localizada em um bairro periférico da cidade de Uberlândia/MG, que
atende a crianças de quatro meses a seis anos de idade.
A seguir, cada educadora será apresentada nos aspectos pessoais, formação
acadêmica, ingresso na profissão docente, relacionamento com as crianças, forma
de participação e sua avaliação do processo de formação realizado.
ÂNGELA: FORMAÇÃO EM CONTEXTO COMO EXIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
Ângela é uma educadora de 26 anos de idade que começou a trabalhar na
instituição pesquisada, no início do ano letivo de 2002. É separada do marido e tem um
casal de filhos. Nasceu em uma cidade do interior do Mato Grosso e cresceu em uma
cidade pequena do interior de Minas Gerais. Descreve sua infância como muito livre e
com muita brincadeira e diversão, comentando sobre o quanto gostava de brincar com
seus vizinhos na rua.
Possui o segundo grau completo, tendo concluído o Magistério há mais ou
menos cinco anos, mas não demonstrou valorizar esse curso que realizou, omitindo esta
informação da pesquisadora por quase dois anos. Seu ingresso na profissão de
educadora ocorreu por necessidade, já que estava procurando emprego, foi indicada na
instituição e deu certo. Anterior a este emprego ela havia trabalhado em um comércio de
sua cidade e nunca havia exercido a docência.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
49
Apesar de afirmar gostar de crianças, foi possível observar, durante as atividades
realizadas que sua postura em relação a elas foi, na maior parte do tempo, de
distanciamento com momentos de irritação e impaciência, chegando, por vezes, a
agressividade percebida em seu tom de voz e em seus gestos. Esta sua atitude se
relaciona com os dados de uma pesquisa realizada por Cruz (2001) em instituições
infantis da cidade de Fortaleza, que comprova um dado por nós já conhecido: apesar de
muitas educadoras afirmarem gostar de trabalhar com crianças, elas não demonstram
isso no cotidiano das instituições de Educação Infantil, ao não atenderem às solicitações
e às necessidades dos pequenos.
Por esse motivo, as crianças demonstravam certo receio em se aproximarem de
Ângela para lhe dizer algo, mesmo quando era ela quem as chamava. Atuava como
expectadora nas atividades desenvolvidas por seus alunos, interagindo com estes,
predominantemente, para chamar-lhes a atenção.
A educadora possuía muitos problemas pessoais, além do problema financeiro,
comentado por ela, várias vezes, durante o tempo de realização da pesquisa. Houve
ainda a doença da filha e uma briga na justiça com o ex-marido, em função da guarda do
filho mais velho, sendo que o pai da criança alegava que Ângela o tinha abandonado.
Quando perguntada sobre seu interesse em participar da presente pesquisa,
Ângela não demonstrou entusiasmo. O seu aceite deu-se mais em função de se sentir
obrigada pela instituição, do que por considerar o projeto importante para sua formação
ou para a melhoria de sua prática cotidiana. Desde o início dos trabalhos, deixou claro
que participaria na condição de que fosse utilizado seu horário de trabalho para o
desenvolvimento das atividades. Sua postura, na maior parte do processo, foi de
desinteresse, falta de entusiasmo, agressividade e ainda, indiferença.
Rosemberg (1994) relatou uma situação acontecida durante uma conferência
realizada na cidade de Paulínia, em São Paulo, que nos alerta para o fato de que a
questão das funções das educadoras e de seu salário, do ponto de vista delas, caminham
juntos. Segundo a autora, uma monitora comentou na ocasião que, diante da carga
horária que tinha e do salário que recebia, rejeitava assumir qualquer papel educativo na
instituição, inclusive participar de cursos de formação, por considerar “uma
responsabilidade acima da função para a qual fora contratada e estava sendo
remunerada” (p. 54), discurso semelhante ao realizado por Ângela.
Em relação à sua forma de ensinar, observou-se que Ângela dava atividades cujo
intuito era o de deixar passar o tempo. Não se envolvia com as mesmas e nem com as
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
50
crianças, também não planejava o que ia fazer anteriormente (escolhia em uma pasta de
matrizes a que daria para as crianças e rodava as folhas mimeografadas em sala de aula).
Ao explicar a atividade para as crianças, fazia-o de forma mecânica e impositiva, ditava
o que podiam ou não fazer com a tarefa.
Segundo Vasconcelos (1997), uma interação de qualidade é sinônimo de uma
interação significativa entre dois indivíduos, um dos quais é mais experiente do que o
outro. A autora afirma que, ao educador cabe a responsabilidade de colaborar com a
criança para que ela dê sempre um passo à frente no seu desenvolvimento. Infelizmente,
não pareceu ser esta a concepção de Ângela sobre seu papel em relação às crianças.
Durante os encontros com o grupo, a educadora demonstrava insatisfação, não
concordando com o que a palestrante dizia, nem mesmo com o que as colegas diziam,
reclamando quando alguma tarefa era proposta e, principalmente, quando era preciso
avaliar algo que ela tinha feito. Normalmente, em relação a este último aspecto, o da
avaliação, Ângela recebia mal qualquer comentário que era feito sobre sua forma de
trabalhar ou de agir com as crianças.
Os atendimentos parecem ter sido para Ângela os piores momentos de todo o
trabalho. Na maioria das vezes, a educadora dirigia-se a contragosto à sala de
atendimento e somente respondia ao que lhe era perguntado. Durante a avaliação, ela os
apontou como ponto negativo, argumentando o fato de que houve dias em que não
queria conversar com a pesquisadora por causa de problemas pessoais pelos quais
passava.
Ângela parecia ver a pesquisadora como uma pessoa que estava ali somente para
vigiar e criticar seu trabalho e, em nenhum momento, para colaborar com ela, ajudá-la
em suas dificuldades. Este foi um fator que dificultou a relação entre ambas, e
conseqüentemente, sua relação com o trabalho proposto na pesquisa.
CLARA: FORMAÇÃO EM CONTEXTO COMO ESPAÇO PARA A DISCUSSÃO DE PROBLEMAS
Clara é falante e tem 26 anos de idade. O tom de voz é marcante por ser muito
alto e tal característica era comentada por todas as suas colegas de trabalho. É solteira e
tem um filho de dois anos de idade, que mora com ela em uma casa alugada. Clara o
descreve como muito inteligente, conversador e muito esperto.
A educadora diz ter muitos irmãos e que, por ser de uma família grande, brincou
muito na infância em companhia deles. Nasceu e cresceu na mesma casa em uma cidade
do interior de Minas, até se mudar, há 10 anos, para Uberlândia. Para ela, as crianças de
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
51
hoje não têm a infância que ela teve. Considera que tinha liberdade para brincar na rua,
sem violência, utilizando somente brinquedos fabricados pelas próprias crianças.
Contava sorrindo sobre suas travessuras, afirmando que elas a ajudaram a se
desenvolver.
Quanto à sua formação acadêmica, a educadora possui o ensino médio completo,
tendo-o concluído em 2002, em um programa supletivo. Clara afirma que gostaria de
cursar uma faculdade, mas que não tem dinheiro para isso, além do mais tem um filho
em sua responsabilidade. Segundo ela, seu interesse pelo estudo está voltado para
cursos da área da saúde, como nutrição, medicina, enfermagem e fisioterapia e não para
cursos voltados para a educação infantil.
Seu ingresso na profissão que exerce deu-se mais por necessidade de ter um
trabalho. Sua irmã já trabalhava na instituição, assim que surgiu uma vaga, ela a indicou
para o trabalho e deu certo.
Clara, em sua relação com as crianças, agia em alguns momentos, incentivando-
as, impondo-lhes limites, preocupando-se com a saúde das mesmas, mas, ao mesmo
tempo, irrita-se com elas. Seu tom de voz alto, em alguns momentos, as intimidava, pois
a educadora parecia gritar com elas, até mesmo quando não o estava fazendo.
Um fato que sempre acontecia é que Clara saia da sala por alguns minutos
quando as crianças estavam conversando, afirmando que precisava descansar um pouco
a cabeça, senão iria enlouquecer. Desde o início da pesquisa, ela dizia que precisava de
um psicólogo porque o trabalho na instituição era muito difícil.
Não se pode afirmar que ela tenha se mostrado entusiasmada com o fato de
participar da pesquisa, mas aceitou sem resistências, falando inclusive que achava que o
trabalho de pesquisa que ia se realizar seria bom.
Clara não se intimidava com a presença da pesquisadora em sua sala de aula.
Nas observações que foram realizadas, percebeu-se que ela propunha atividades para as
crianças como uma rotina a cumprir, não criava situações para que elas participassem e
não havia momentos lúdicos em sua rotina, com exceção de algumas tardes em que seus
alunos iam para o parquinho.
As crianças tinham liberdade para chegar, abraçar e beijar Clara e ela retribuía
tais gestos. Fora essa situação, normalmente ela não se aproximava das crianças para
demonstrar afeto, exceto naqueles momentos em que verificava se estavam sentindo
dores ou com febre.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
52
Durante os encontros, Clara teve uma participação limitada e percebia-se que,
em algumas ocasiões, seu comportamento era influenciado pelo de Ângela, pois elas
estavam sempre juntas. Mas, no geral, sua participação foi adequada.
Nos horários de atendimento, a educadora conversava sobre variados assuntos,
não somente os relacionados ao planejamento e à sua prática em sala de aula. Nestes
momentos, foi possível conhecê-la e saber suas opiniões sobre vários temas. Pareceu
ressentida em relação à postura da instituição no tocante ao tratamento dispensado às
educadoras, comentando que elas não eram valorizadas como pessoas e nem como
funcionárias, já que também acreditava que as representantes da instituição não se
empenhavam em lhes ajudar a resolver sua questão salarial.
Estudos que definem o perfil de profissionais de Educação Infantil
apresentam que, em sua maioria, são educadoras sem uma formação adequada,
que recebem remuneração muito baixa e trabalham sob condições bastante
precárias (BARRETO, 1994; CAMPOS, 1994). O desempenho desse profissional
depende de características de personalidade e das condições de sua própria família
como saúde frágil, problemas com filhos, fatos que levam a educadora a faltar ao
trabalho e apresentar sintomas de estresse (Campos, 1994), como aconteceu com
Clara.
Clara não utilizava seu horário semanal para fazer o planejamento e, no
atendimento, fazia perguntas sobre como lidar com as crianças ou sobre sugestões
de atividades, que, durante as observações realizadas, não foram desenvolvidas
com as mesmas. Excluindo as reclamações rotineiras sobre a presença da
pesquisadora, sua relação com a mesma durante a pesquisa foi adequada.
Na avaliação, quanto às facilidades encontradas, Clara referiu-se, de forma geral,
ao repertório de aprendizagens construído durante o processo de formação, que permitiu
que a educadora transportasse suas experiências da formação para outras realidades. Ao
explicar o porquê de ter sido bom, ao ser questionada sobre o que achou da formação
em contexto, Clara apresentou dois fatores: o fato da pesquisadora estar com elas no
cotidiano da instituição e, também, de serem discutidos nos cursos assuntos e
“dificuldades” do dia-a-dia.
MARIANA: FORMAÇÃO EM CONTEXTO COMO POSSIBILIDADE DE MELHORAR SUA POSTURA
E SUA PRÁTICA
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
53
Mariana tem 26 anos de idade e há três anos é casada com um mecânico de
automóveis. Ainda não tem filho, apesar de afirmar que seu marido já o deseja há muito
tempo e é ela quem está demorando porque quer fazer faculdade antes de ficar grávida.
A educadora não falou de sua família, tendo citado em nossas conversas apenas duas
irmãs por parte de pai e que tem duas mães, já que foi criada pela avó.
Mariana possui o ensino médio completo tendo cursado Magistério por
indicação de uma ex-patroa de sua mãe que trabalhava como professora em uma escola.
A educadora conta que foi se apaixonando aos poucos e que agora pretende se
aperfeiçoar nesta profissão que resolveu seguir fazendo o curso de Pedagogia, mesmo
contra a vontade do marido, que a considera uma profissão mal remunerada.
No momento do diagnóstico da instituição, a pesquisadora encontrou Mariana
muito desmotivada com o trabalho e visivelmente descontente em relação à instituição.
Em conversa informal, relatou que tinha sido trocada de turma e que a coordenação lhe
tinha dito que as crianças do pré-escolar, turma que ela acompanhava, não estavam se
desenvolvendo. Ressentida com o fato, Mariana reclamou que se sentia desvalorizada,
comentário que também foi feito no fim do processo de formação, o que nos fez
entender que sua relação com a instituição era marcada pelo ressentimento, com
sentimentos de rejeição e insatisfação.
Este sentimento pode ser considerado um entrave no processo de
desenvolvimento profissional do educador. André (1995) afirma que para que o
professor se desenvolva no contexto escolar, é necessário, além de um ambiente
propício ao trabalho, uma coordenadora competente apoiada pela direção, que aja, ao
mesmo tempo, criando as condições necessárias à implementação de um projeto de
desenvolvimento profissional e colocando-se a serviço dos docentes para discutir com
eles suas dificuldades e buscar soluções para uma atuação efetiva com as crianças.
Mariana se mostrou muito entusiasmada com a possibilidade de poder melhorar
sua prática, ressaltando que gostaria de mudar sua postura como educadora. Este fator
foi considerado como muito positivo, visto que esta educadora tinha um diferencial em
relação às outras participantes da pesquisa, pois estava na profissão porque a tinha
escolhido como opção de vida.
Apesar disso, verificou-se nas observações realizadas que Mariana se mostrava
insegura com a presença da pesquisadora em sua sala e, a todo momento, explicava o
que estava fazendo e o porquê daquilo, demonstrando procurar uma fala ou um olhar de
aprovação para sua postura.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
54
Em sala de aula, a educadora era carinhosa com as crianças e preocupada com o
bem-estar delas, mas, ao mesmo tempo, era autoritária, gritava com elas, demonstrando
impaciência e intolerância às suas manifestações. Este comportamento era percebido
nos dias em que Mariana estava com algum problema de saúde e, no período em que a
acompanhamos, foram vários os acontecimentos desse tipo: urticária, dor de dente,
gastrite, cólica de rins, furúnculo e ainda problemas de enjôos e dores de cabeça.
Mariana atribuía seus problemas ao salário baixo e à carga horária excessiva de
trabalho, acreditando que tais fatores estavam lhe causando, segundo seu médico, um
quadro de estresse.
Patto (1992) relaciona estas questões às estratégias de sobrevivência
desenvolvidas por educadoras que se encontram em situações desfavoráveis de trabalho
e, por isso, elas atribuem seus problemas de saúde ao estresse que apresentam no
decorrer do ano letivo, como podemos verificar na fala de Mariana.
A educadora aproveitava-se dos horários de atendimento para falar, a maior
parte do tempo, sobre seus problemas com o marido e sobre as dificuldades que sentia
durante o desenvolvimento de atividades com as crianças. Ao ser questionada sobre o
que tinha achado destes horários, Mariana sorrindo responde que eram momentos de
desabafar.
Em relação à sua participação nos encontros de formação, esta compareceu
pontualmente em todos eles e participou de todas as atividades propostas. Mariana
acreditava que aqueles momentos lhe ajudariam a crescer profissionalmente e
considerava que isso acontecerá realmente após cursar a graduação em Pedagogia.
Seu empenho e dedicação durante o desenvolvimento do trabalho são indícios de
que ela, como educadora, poderá desenvolver e melhorar sua forma de lidar com as
crianças e mesmo de ensinar, uma vez que, apesar de serem planejadas anteriormente,
eram predominantemente utilizadas atividades gráficas e pouco criativas com sua turma.
Mariana estabeleceu com a pesquisadora um vínculo muito positivo pautado na
confiança. Este fato fez com que ela se relacionasse com a segunda como um apoio para
seu trabalho e também, para dar-lhe suporte emocional dentro da instituição, local em
que ela se considerava solitária. Podemos afirmar que Mariana mostrou-se
comprometida com a proposta por nós realizada e acreditamos ser este fator essencial
para seu desenvolvimento profissional futuro.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
55
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das dificuldades vivenciadas durante a formação em contexto realizada,
apresentadas anteriormente neste artigo, consideramos que os alcances, ainda que
modestos, foram significativos para as educadoras, pois conforme relataram, elas
tiveram desde aprendizagem de conteúdos de ensino até a alteração de suas
características pessoais.
Acreditamos, também, que esta proposta lhes proporcionou um espaço de
reflexão em que puderam expressar, cada uma à sua maneira, suas dificuldades e
anseios, e demonstrou a necessidade de que nos outros projetos de formação seja
lembrado o fato de que o desenvolvimento profissional é sempre atrelado ao
desenvolvimento pessoal.
Gostaríamos, ainda, de ressaltar que diante da dificuldade de se interferir de
maneira direta na formação inicial de nossos educadores, é salutar buscar alternativas
como esta que colaborarem para formar profissionais que possam, cada vez mais, buscar
por sua profissionalização e por melhores condições de trabalho, o que,
conseqüentemente, será revertido em benefício da população infantil atendida e para seu
desenvolvimento profissional.
Para o alcance deste propósito, far-se-á necessário uma valorização do cotidiano
dos educadores infantis e de seu conhecimento prático, aproximando-os do
conhecimento teórico advindo de pesquisas e estudos da academia, permitindo-lhes
ressignificar seus saberes e, posteriormente, suas práticas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. (1995) Etnografia na prática escolar. Campinas: Papirus. BARRETO, Ângela M. Rabelo F. (1994) Por que a para que uma Política de Formação do Profissional de Educação Infantil? In: Por uma política de formação do profissional de Educação Infantil. Brasília, MEC/SEF/DPE/COEDI, p.11-15. CAMPOS, Maria Malta. (1994) Educar e Cuidar: Questões Sobre o Perfil do Profissional de Educação Infantil. In: Por uma política de formação do profissional de Educação Infantil. Brasília, MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994, p.32-42. CRUZ, Sílvia Helena Vieira. A creche comunitária na visão das professoras e famílias usuárias. (2001) Revista Brasileira de Educação. n.16, fev./mar./abr. 2001, p.48-60.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
56
GUIMARÃES, Célia M. Profissional de educação infantil: práticas de formação inicial e continuada em serviço. ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DO CENTRO-OESTE, 6, 2003. Campo Grande. Anais... Campo Grande: Universidade Católica Dom Bosco, 2003. 1 CD. IMBERNÓN, Francisco. (2002) Formação Docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez. OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia; FORMOSINHO, João. (orgs.) (2001) Associação Criança: um contexto de formação em contexto. Braga: Livraria Minho. PATTO, Maria Helena Souza (1992) A família pobre a escola pública: anotações sobre um desencontro. Psicologia USP. São Paulo, n.3, p.107-120. ROSEMBERG, Fúlvia (1994). Formação do Profissional de Educação infantil através de cursos supletivos. In: BRASIL. Por uma política de formação do profissional de Educação infantil. Brasília, MEC/SEF/DPE/COEDI, p. 51-61. SILVA, Anamaria Santana (2003) O curso de Pedagogia e a formação para a Educação Infantil: análise de algumas experiências. ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DO CENTRO-OESTE, 6, 2003. Campo Grande. Anais... Campo Grande: Universidade Católica Dom Bosco, 2003. 1 CD. THIOLENT, Michel. (1996) Metodologia da Pesquisa-ação. São Paulo: Cortez. VASCONCELOS, T. (1997) Ao redor da mesa grande: a prática educativa de Ana. Coleção Infância. Porto: Porto Editora.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
57
EIXO 2
Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação
A PROVINHA BRASIL NO ÂMBITO DA INSTITUIÇÃO MUNICIPAL
Ana Carolina Caetano
Ana Paula Barcelos Juliana Vieira de Souza
Este trabalho tem o objetivo de compreender o significado e o processo de Avaliação no contexto do sistema educacional e de uma escola pública localizada em um bairro periférico do município de Ituiutaba, focando especialmente a Provinha Brasil. Procura apontar também quais são as soluções que a escola encontra para transformação do atual quadro escolar. A análise foi elaborada por meio da experiência vivenciada no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID e para a concretização desta, utilizamos como metodologia: observação, relatos e uma análise documental visando compreender de fato como se dá este processo avaliativo. Deixa-se claro que o ponto mais relevante da Provinha Brasil é o retorno, pois a escola verifica quais são as problemáticas que os alunos encontram em relação ao nível de alfabetização e incorpora ao PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar quais são as ações que devem ser implementadas, visando a melhoria dos índices de alfabetização. Sendo assim, o trabalho do professor é desenvolvido voltado para estes sistemas avaliativos, focando e preparando os alunos para um bom desempenho nas provas externas, isto é, a Provinha Brasil. O importante é que a avaliação sirva como fonte de informações para a busca de um aprendizado eficiente e não como forma de coerção. Os alunos devem ser conscientizados da importância delas, desenvolvendo atitudes positivas diante das avaliações, percebendo que elas existem para verificarem o aprendizado e identificarem falhas, para que estas sejam sanadas e o grande objetivo seja alcançado: que o aluno adquira cada vez mais conhecimento e aprimore suas competências. Para a consolidação desta perspectiva, apontamos como uma das possíveis soluções, a mudança do currículo escolar e a superação do tradicionalismo, mesmo sabendo que este está enraizado na cultura das instituições e que a maioria dos profissionais resiste a tais mudanças. Palavras-chave: Provinha Brasil, alfabetização e avaliação.
INTRODUÇÃO
Tendo em vista todas as mudanças que a educação vem sofrendo e
principalmente com o novo perfil que o professor precisa ter para acompanhar tais
mudanças, a forma de Avaliação também precisa evoluir. Não podemos mais esperar
que os alunos memorizem fórmulas e regras. É preciso mais: eles tem que compreender
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
58
os conceitos, desenvolver atitudes positivas diante de problemas, sendo capazes de
solucioná-los, estimulando sua criatividade e desenvolvendo seu raciocínio.
Uma avaliação eficiente possibilita ao professor analisar as condições de seus
alunos, verificando se está ocorrendo aprendizado e em qual nível ele acontece.
Embasado nos dados aferidos em uma avaliação, o professor verifica como está o
conhecimento adquirido, como é o raciocínio do aluno, sua criatividade, sua atitude,
enfim, quais as competências que ele adquiriu e quais são suas falhas, para que ele
possa, como mediador do conhecimento, organizar outras formas para sanar estas
dificuldades.
Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de compreender o significado e o
processo de Avaliação no contexto do sistema escolar e de uma escola pública
localizada em um bairro periférico do município de Ituiutaba, focando especialmente na
Provinha Brasil. A análise foi elaborada por meio da vivência no Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID e para concretização deste utilizamos como
metodologia: observação, relatos e uma análise documental, visando a compreender, de
fato, como se dá este processo avaliativo e também quais são as soluções que a escola
salienta para transformação do atual quadro escolar.
O QUE É A PROVINHA BRASIL
A “Provinha Brasil” é uma avaliação diagnóstica que identifica o desempenho
dos alunos de determinadas instituições escolares, como forma de avaliação da
alfabetização infantil, implementada nos primeiros anos de escolarização da criança,
com o intuito de intervenção pedagógica e administrativa para suprir as necessidades
detectadas e visando a auxiliar professores e gestores a melhorar os níveis de
alfabetização de seus alunos.
Esta avaliação visa a compreender como está os processos de aquisição da
língua escrita por parte dos alunos, e através desta, poder trabalhar e desenvolver as
dificuldades dos alunos, para avançar na sua aprendizagem.
Tendo como ponto norteador oferecer às instituições acompanhamento sobre a
aprendizagem destes alunos, para prevenir assim os baixos níveis de alfabetização e
letramento, pois por meio desta prova se tem uma perspectiva para a melhoria da
qualidade de ensino e também reduzir as desigualdades existente em relação ao
processo de alfabetização. Para alcançar esse objetivo, a provinha Brasil acontece
depois de um ano de escolarização.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
59
Ao avaliar as crianças desse nível de ensino e verificar como está o processo de
aquisição das habilidades de leitura e escrita, abrange-se desde o início do processo de
escolarização, de modo que esta avaliação acompanha as habilidades de leitura e escrita,
sendo ou não adquiridas nesse nível de ensino.
Em abril de 2008, o MEC, por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira- INEP, implementou a primeira etapa da prova
disponibilizando-a para todas Secretarias de Educação.
A aplicação do primeiro teste pode proporcionar aos professores uma sondagem
de forma sistemática e uniformizada, em relação ao aprendizado alcançado pelos
alunos. Os dados coletados nesta prova de avaliação visam, quando necessário, à
revisão dos planejamentos para o restante no ano letivo, adequando as táticas de ensino
as necessidades dos alunos.
Há, ainda, uma segunda parte desta avaliação, pois no segundo semestre o
Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP
disponibiliza o “segundo kit da Provinha Brasil”, com o objetivo de possibilitar uma
comparação dos resultados obtidos nesta etapa com aqueles obtidos no primeiro
momento, com vistas a identificar os avanços alcançados e as limitações que ainda
persistiram.
O “segundo kit da Provinha Brasil” é composto por: orientações para as
Secretarias de Educação, descrevendo as maneiras de participação, as possibilidades e
as limitações do instrumental disponibilizado; caderno de teste do aluno original direto
para aplicação; caderno do professor/aplicador assim composto: I. Orientações Gerais –
sobre aplicação da prova; caderno do professor/aplicador II. Guia de Aplicação –
instruções que visam à aplicação do segundo teste; III. Guia de correção e interpretação
dos resultados –informações acerca da correção do teste e reflexões sobre a prática.É a
prova Brasil a responsável de estabelecimento de relações entre os seus resultados e as
políticas que visam a distribuição de recursos pedagógicos vindos do governo federal,
por essa razão, é interessante que as crianças as sintam á vontade para fazer as questões
e que estejam tranqüilas sem sentirem-se testadas..
As Secretarias de Educação que não aplicaram o primeiro teste da Provinha em
2008 em suas escolas, puderam fazê-lo, no momento do segundo teste com os alunos
que estão terminando o segundo ano de escolaridade, para identificar qual nível de
alfabetização as crianças alcançaram ao término de dois anos de estudos.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
60
Torna-se primordial que professores alfabetizadores, juntamente com toda a
comunidade escolar, conheçam o objetivo e as características dessa avaliação.
Constata-se que o foco da avaliação feita por meio deste teste, não deve fixar-se
apenas no desempenho dos alunos ou escolas, mas deve visar a um processo de
reflexão, contribuindo para o planejamento e implementação de diferentes táticas de
acompanhamento das crianças que necessitam de ajuda em sua aprendizagem e para um
melhor investimento das políticas públicas. Destaca-se como ponto primordial uma
formação continuada de professores, para melhor atender a estes alunos que se
encontram em déficit com a alfabetização.
O propósito é avaliar o nível de alfabetização dos alunos nos anos iniciais do
ensino fundamental e diagnosticar possíveis insuficiências das habilidades de leitura e
escrita. Sendo assim, a Provinha Brasil é considerada um mecanismo pedagógico, sem
finalidades classificatórias, devendo apenas servir para oferecer subsídios para
professores, bem como para a escola toda, sobre a evolução do processo de
alfabetização das crianças. Tanto é assim que os resultados da Provinha Brasil não serão
usados na composição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Deste propósito, derivam outras ações, como: estabelecimento de metas
pedagógicas para a escola; planejamento de cursos de formação continuada para os
professores; mais investimento em medidas que garantam melhor aprendizado;
desenvolvimento de ações imediatas para a correção de possíveis deformidades
constatadas; e o mais visível a melhoria da qualidade e redução da desigualdade de
ensino.
O teste da Provinha Brasil é composto por 24 questões de múltipla escolha, cada
uma com quatro opções de resposta, divididas entre aquelas consideradas “fáceis”,
“médias” e “difíceis” para a etapa de escolaridade à qual se destinam. A idéia central a
ser passada aos alunos é a de que estão realizando um exercício para o professor
descobrir o que aprenderam e o que ainda precisam aprender, devendo ser orientados
para responderem apenas o que conseguirem. Para a realização desta avaliação é
necessário que as crianças se sintam a vontade para fazer as questões propostas e que as
mesmas fiquem tranqüilas, para não sentirem que estão sendo testados, avaliadas, pois
não é objetivo desta avaliação, apenas querem medir os desempenhos de cada educando.
Os resultados da prova são analisados pelo professor regente, ou por quem
aplicou a prova, sendo também disponibilizando um guia de como se faz a correção
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
61
desta, pois assim cada docente saberá o nível de desempenho de todos os alunos, pois é
uma avaliação diagnóstica.
Ressaltando assim que os resultados podem apontam a necessidade de um melhor
investimento em políticas de formação e aperfeiçoamento dos educadores que
enfrentam dificuldades em sua prática. Para que isso aconteça, o professor deverá ter
acesso e conhecimento de um documento com detalhamento das habilidades necessárias
para a resolução das questões, o que subsidiará a análise dos resultados alcançados pelos
alunos no processo de alfabetização.
Ressalta-se que a interpretação das respostas dos alunos não pode ser feita a
partir do erro ou do acerto. Sabemos que o erro oferece novas informações e permite a
formulação de novas perguntas sobre a dinâmica aprendizagem/desenvolvimento,
individual e coletiva. Avaliar é interrogar e interrogar-se. Para conhecer e transformar o
processo pedagógico, procura meios de se aproximar do contexto no qual a escola se
insere e dialogar com esse entorno, considerando-o parte significativa da
dinâmica/ensino aprendizagem. Investigando o processo ensino/aprendizagem o
professor redefine o sentido da prática avaliativa, refina seus sentidos e
exercita/desenvolve diversos conhecimentos com o objetivo de agir conforme as
necessidades de seus alunos.
A REALIDADE ESCOLAR FRENTE A PROVINHA BRASIL
Embasados em uma análise realizada a partir das observações realizadas no
PIBID, percebemos que os gestores educacionais acreditam que a avaliação feita através
da Provinha Brasil é de extrema importância para medir o aprendizado, não tendo, em
seu escopo, um conceito de ranqueamento e de méritos. Demonstram, porém, avaliar
dessa forma: quem melhor se sobressai é bem visto pela área educacional.
No entanto, a escola tem uma concepção bastante tradicional quando se fala em
avaliação. Com o intuito de avaliar se o aluno aprendeu ou não, são aplicadas provas ao
longo do ano. De acordo com a diretora e professores, este se torna o único meio de
descobrir se o aluno apreendeu o “conteúdo” transmitido em sala. Percebemos que a
escola enfatiza as notas, seguindo normas impostas pelo sistema educacional.
Os professores focam seus trabalhos da sala de aula na Avaliação Externa, o
que resulta na perda da finalidade do ensino por parte da escola, que prepara o aluno o
ano todo somente para ser avaliado por órgãos distantes. E a partir das notas dessas
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
62
avaliações, professores, supervisores, diretores buscam meios para melhorar o processo
de ensino e aprendizagem, com a tentativa de fazer com que o aluno aprenda de fato.
Deixa-se claro que o ponto mais relevante da Provinha Brasil é o retorno, pois
a escola verifica quais são as problemáticas que os alunos apresentam em relação ao
nível de alfabetização e incorporam ao PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar, as
ações que devem ser implementadas, visando à melhoria dos índices de alfabetização.
Sendo assim, o trabalho do professor é desenvolvido voltado para estes sistemas
avaliativos, focando e preparando os alunos para se saírem bem nas provas externas, em
especial, na Provinha Brasil.
SOLUÇÕES APONTADAS PELA ESCOLA REFERENTE AO ÍNDICE DE
ALFABETIZAÇÃO
A supervisora da escola que acompanhamos no PIBID ponderou que a
Provinha Brasil é um trabalho bem elaborado do governo e que tem o objetivo de buscar
qualidade na alfabetização e contendo questões voltadas para o letramento e o raciocínio
lógico. Esta vem com o intuito de observar a alfabetização no geral e, a partir dos
resultados traçar metas para melhoria e ajudar em todos os sentidos. Segundo a
supervisora, se faz um trabalho coletivo, englobando gestores, professores e a família do
educando, em que o coletivo é garantido através de diálogo na buscam de uma forma de
alfabetizar a criança.
No caso da família, são chamados os pais ou a pessoa responsável para
dialogar sobre o desempenho do seu filho e pedir que o ajude nas tarefas e no que for
solicitado, uma vez que, como defende LEITE (2005):
Na alfabetização das crianças, é preciso considerar sua historia de letramento, os aspectos culturais e políticos envolvidos e também estabelecer um vinculo entre família e escola. É evidente que o papel da família e da escola distinguem-se quanto à função: à família cabe a vertente afetiva, sem caráter sistematizado, e à escola, normatizar a escrita, oferecendo oportunidades de contextualizá-la de acordo com os usos sociais. (LEITE, p.63, 2005.)
No caso dos professores, a supervisora trabalha com reuniões, buscando um
trabalho coletivo com dinamismo. Além disso, elaborou um projeto de literatura
visando reforçar as questões relacionadas ao letramento e à alfabetização, que
acontecem às sextas-feiras, visando às crianças que apresentam defasagem na
aprendizagem. A supervisora pedagógica enfatiza que para conseguir resultados ela
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
63
acredita ser preciso muitos projetos voltados para essa temática como leitura, teatro,
jogos etc.
A escola possui aula de reforço que funciona no próprio turno de aula regular,
sendo encaminhadas à essa atividade, as crianças que apresentaram baixo desempenho.
Percebemos, porém, que o professor fica preocupado com a recuperação somente de
conteúdo, não conscientizando-se que é necessário que haja aprendizagem. A
supervisora relata seu trabalho dizendo que no decorrer da semana observa as crianças
com baixo desempenho, observando suas atividades e o seu crescimento, com relação a
alfabetização.
A cada semana, uma série é acompanhada pela supervisora, sendo em comum
acordo com o professor regente. A mesma dá aulas individuais para melhorar o nível de
alfabetização do aluno acompanhando e busca confeccionar materiais de alfabetização
com base nas dificuldades detectadas.
PROCESSO AVALIATIVO DA INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
A avaliação da escola Municipal analisada tem seu foco no sistema que
sistema? A aprendizagem acontece, porém parcialmente, pois não ocorre uma avaliação
diagnóstica que vise ao nível de aprendizagem do aluno, não dando oportunidade de
verificar o que ele aprendeu, sendo uma avaliação que visa somente à nota.
A avaliação acontece em uma data predeterminada e não como deveria
acontecer, ou seja, cotidianamente. Devemos compreender que cada aluno tem o seu
tempo, e isso deve ser respeitado.
O professor tem um papel muito importante no modelo de educação atual. Ele
é visto como mediador, um facilitador do conhecimento, proporcionando ao aluno
aprender a aprender, a compreender a sociedade em que está inserido, incentivando que
ele participe ativamente, com atitudes positivas, agindo com criticidade, tornando-se um
cidadão consciente de seus deveres e direitos, exercendo sua cidadania.
No entanto, mesmo diante de tanto planejamento, nosso sistema educacional
ainda é muito falho e é objeto constante de estudos na busca de um sistema que seja de
fato eficiente.
De acordo com a análise da respectiva escola de campo, compreendemos que
avaliar é muito importante e o professor deve buscar a melhor forma para fazê-la, o que
não é nada fácil. No entanto, utilizando várias formas de avaliação o professor pode ter
bons resultados, seja com aplicação de avaliações diagnósticas, trabalhos individuais ou
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
64
em grupos ou mesmo avaliando a atitude de cada aluno durante as aulas, verificando sua
participação e envolvimento nos processos.
O importante é que a avaliação sirva como fonte de informações para a busca
de um aprendizado eficiente e não como forma de coerção. A avaliação vem como uma
forma de sondar a aprendizagem dos alunos, com a tentativa de verificação do que o
aluno atingiu. Os alunos devem ser conscientizados da importância delas,
desenvolvendo atitudes positivas diante das avaliações, percebendo que elas existem
para verificarem o aprendizado e identificarem falhas, para que estas sejam sanadas e o
grande objetivo seja alcançado: o aluno adquira cada vez mais conhecimento e aprimore
suas competências.
Para a consolidação desta perspectiva, apontamos como uma das possíveis
soluções, a mudança do currículo escolar e a superação do tradicionalismo, mesmo
sabendo que estes estão enraizados na cultura das instituições e que a maioria dos
profissionais resiste a tais mudanças.
Na instituição, percebe-se que há a tentativa de padronizar os alunos, ou seja,
querem que aprendam a mesma coisa, do mesmo jeito e com um ritmo igual para todos.
Porém, cada aluno tem uma realidade e isso deve ser valorizado dentro do âmbito
escolar.
A avaliação da escola deveria ocorrer de forma a acompanhar todo o processo
de aprendizagem e não apenas um momento predeterminado. No entanto,
historicamente, ela tem sido associada ao autoritarismo, como fracasso, erro,
reprovação. Porém, hoje, com alguns avanços no campo da avaliação percebemos uma
ruptura desses paradigmas. Paulo Freire propõe algumas associações à palavra
avaliação: avaliação e mudança, avaliação e problematização, avaliação e esperança
entre outras e propõe uma avaliação progressista que enxerga o aluno como um ser
completo, sendo um processo contínuo e realizado com diversas técnicas com o objetivo
de um diagnóstico para que possa assim redirecionar a ação educativa.
A reflexão sobre a avaliação só tem sentido se estiver atravessada pela reflexão
sobre a produção do fracasso/sucesso escolar no processo de inclusão/exclusão social. O
processo de avaliação do resultado escolar dos alunos e alunas está profundamente
marcado pela necessidade de criação de uma nova cultura sobre avaliação, que
ultrapasse os limites da técnica e incorpore em sua dinâmica a dimensão ética.
Há uma intensa crítica aos procedimentos e instrumentos de avaliação
freqüentemente usados na sala de aula, que muitas vezes se fazem acompanhar da
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
65
sinalização de novas diretrizes ou de novas propostas de ação. As alternativas para
redefinição do cotidiano escolar, e a avaliação é uma questão significativa nesse
processo.
Compreendemos, com base em nossas observações na instituição de campo, que
a avaliação escolar na forma excludente, silencia as pessoas, suas culturas e seus
processos de construção de conhecimentos; desvalorizando saberes fortalece a
hierarquia que está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados,
percam sua existência e se confirmem como a ausência de conhecimento. A avaliação
funciona como instrumento de controle e de limitação das autuações
(alunos/professores) no contexto escolar. Torna-se necessário a existência de um espaço
onde os conhecimentos estejam em construção e não os conhecimentos já consolidados,
conduzindo assim a prática pedagógica.
De acordo com Freitas (2007), nosso sistema educacional é frágil, excludente e
capitalista, pois se tentou superar o problema de reprovação através de “trilhas de
progressão diferenciada”. Com base nisso, observamos que as instituições escolares
estão excluindo os alunos com dificuldades de aprendizagem que na maioria das vezes
são de classes populares. Isso está acontecendo, mais ainda está velado. Para Freitas
(2007) é uma eliminação adiada, isto é, o aluno que não atingiu a meta mínima para ir
adiante é feito uma progressão automática, porém só adia a sua eliminação no meio
escolar. O que podemos entender é que não se busca meios para melhoria destes déficits
escolares, e sim uma solução instantânea, visando apenas uma estatística um bom
desempenho para a escola, onde se busca somente resultados.
O que vimos é que são oferecidas às classes populares apenas o acesso a
educação, deixando a desejar a permanência, visando somente ao cumprimento de
metas e estatísticas, pois só o aumento do fluxo desses alunos é mais um fator que
contribui para o grande problema da exclusão de conhecimentos que é vivenciada na
sala de aula, pois não se pensou em uma ampliação do número de escolas, o que
acarretou escolas com salas de aula de quarenta ou mais alunos (sendo esta a realidade
da escola observada), o que dificulta o trabalho do professor e da aprendizagem.
Entendemos que as avaliações externas, em especial a Provinha Brasil, sendo
este o nosso foco nesse artigo, podem e devem trazer benefícios para a conquista de
uma educação de qualidade. O que se critica é a forma como elas são usadas para se
transferir responsabilidades e o modo como os critérios avaliativos são postos como
uma “pressão” para a instituição.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
66
Os resultados das avaliações causam o ocultamento da má qualidade do ensino,
pois ao se divulgar avanços na educação, desconsideram-se todos os problemas
educacionais. O que para Freitas (2007) é uma consideração distorcida dos conceitos
educacionais, dando a falsa idéia de um aumento na aprendizagem ao se obter um maior
índice de aprovados. Sendo assim, a avaliação deve ser contemplada por quem está mais
próximo das problemáticas educacionais, isto é, os envolvidos no processo do cotidiano
da instituição.
A idéia, portanto, é que, à municipalização do ensino, deve seguir-se a municipalização da avaliação. Em vez de tentar “adivinhar”, de Brasília, por que uma escola em um determinado município não se sai bem (ou mandar especialistas visitá-las), propomos que isso seja feito por quem está mais próximo da escola, o município ou organismos regionalizados que englobem vários municípios. (FREITAS, p. 977, 2007).
Em suma, fica claro que a melhoria do ensino não vai ocorrer por cobrança à
distância, mas por políticas de Estado que levem a ações locais nos municípios,
destacando-se à Avaliação Institucional das escolas, pois tem presente o envolvimento
dos seus atores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisamos que o educador precisa mudar sua forma de pensar e adequar sua
função, que é ensinar, educar no próprio mundo globalizado, para contribuir na
mudança desse modelo de mundo dominante e excludente que vigora. Não basta o
professor transmitir conhecimento, é necessário ser capaz de criar, para que possa
modificar o atual quadro do ensino no Brasil.
Uma das mudanças necessárias seria uma avaliação mais justa, que se desse em
parceria entre escolas e governo local (município), por meio de processos que se
chamam de qualidade negociada via avaliação institucional. Esta se estabelece entre os
indivíduos e grupos que têm interesses em relação à rede educacional, ou seja, sujeitos
que estão inseridos neste contexto e que tenham responsabilidade para com a mesma.
Estes sujeitos devem explicitar e definir, de modo consensual, todos os valores,
objetivos, prioridades, idéias sobre como é a rede, e sobre como deveria ou poderia vir a
ser.
De acordo com este contexto, percebemos que a mudança só acontecerá a
partir de uma nova concepção de Avaliação, passando de uma visão de
responsabilização para uma visão de participação e envolvimento. O fato é que
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
67
precisamos de uma escola pública de qualidade, com a participação de todos os atores
da escola, o que só ocorrerá a partir da implementação das políticas de Estado, que
deleguem de decisão aos municípios, pois concluímos que a educação pública não deve
desconsiderar a realidade vivenciada pelos estudantes, pelos professores, enfim por
todos os sujeitos envolvidos na rede educacional.
Portanto, a avaliação é antes de tudo um mecanismo para o professor, para o
aluno, os pais e para a escola. Vimos que as avaliações desempenhadas na instituição
municipal indiciam se as práticas desenvolvidas estão surtindo bons resultados, com o
intuito de explicitar o que não está funcionando, visando ampliar o investimento
escolar. A Provinha Brasil demonstra os resultados da avaliação e quais metas foram
alcançadas, ou seja, em que nível de aprendizagem os alunos se encontram, bem como
os progressos e as demandas de cada aluno em particular.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARELARO, Lisete R. G.. Formulação e implementação das políticas públicas em educação e as parceiras público-privadas: impasse democrático ou mistificação política? Educ. Soc; Campinas, v. 28, n. 100, out. 2007. FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976. FREITAS, L. C. de. A lógica da escola. In: - Ciclos, seriação e avaliação: confronto de lógicas? São Paulo: Moderna, 2003. FREITAS, L. C. de. Eliminação Adiada: O ocaso das classes populares no interior da escola e a ocultação da (má) qualidade do ensino. Educ. Soc; Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial p. 965-987, out. 2007. FREITAS, D. N. T. de. Avaliação da educação básica e ação normativa federal. Cadernos de Pesquisa, v. 34, n. 123, p. 663-689, set./dez. 2004. - Qualidade negociada: avaliação e contra-regulação na escola pública. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 92, p. 911-933, Especial - Out. 2005. LEITE, Sérgio Antonio da Silva (org.). Alfabetização e letramento: contribuições para as práticas pedagógicas. 3ªed. campinas, SP: Kamedi, 2005. PERONI, V. M. V.. Avaliação institucional em tempos de redefinição do papel do estado. RPPAE-v. 25, n.2, p.285-300, mai/ago, 2009.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
68
SORDI, Mara Regina Lemes de; LUDKE, Menga. Da avaliação da aprendizagem à avaliação institucional: aprendizagens necessárias. Avaliação (campinas) – online-. 2009, v.14, n2, pp. 316-336. ISSN 14144070. http://provinhabrasil.inep.gov.br/ http://portal.mec.gov.br/index.php
O REFLEXO DA GESTÃO ESCOLAR NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Clarissa Betanho Inácio (UFU-FACIP-PIBID) Fernanda Domingues Bento (UFU-FACIP-PIBID)
Lorena Sousa Carvalho (UFU-FACIP-PIBID) Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID
Este trabalho surgiu a partir da experiência que vivenciamos no 1º semestre do
ano de 2010 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, que
tem como foco a alfabetização, em uma escola municipal da cidade de Ituiutaba-MG.
Este subprojeto visa contribuir no processo de formação inicial das alunas bolsistas,
futuras professoras alfabetizadoras, na inserção da realidade escolar, viabilizando um
diálogo problematizador e uma relação mais próxima com os sujeitos e a dinâmica da
instituição, possibilitando uma reflexão da teoria com a prática, a práxis.
Na primeira etapa do desenvolvimento deste programa, tínhamos como
propósito fazer o diagnóstico da realidade da escola onde desenvolvemos a pesquisa.
Diante deste objetivo nos propomos a trabalhar, dentre outras estratégias metodológicas,
com a análise documental. Nosso foco de atenção inicial foi o Projeto Político
Pedagógico (PPP), mais especificamente as várias nuances que este documento possui;
como foi o seu processo de elaboração, construção e utilização do mesmo na escola
pesquisada; qual o conceito utilizado pela escola municipal observada e a importância
do planejamento para nortear as práticas pedagógicas.
Em relação aos procedimentos metodológicos, primeiramente foi realizada a
leitura e análise do PPP, em seguida foi feito entrevistas semi-estruturadas com duas
professoras que trabalham na escola, uma da área da Pedagogia que ministra aulas no 1º
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
69
ano e outra da Matemática que é docente das séries finais do Ensino Fundamental.
Posteriormente, foi feita uma pesquisa bibliográfica, como a finalidade de realizar o
aprofundamento do referencial teórico que embasou a pesquisa e as posteriores análises
dos dados levantados. Vale salientar que por questões éticas e legais foi garantido o
anonimato dos sujeitos envolvidos, por meio do uso de nomes fictícios nos relatos, além
da cautela de não expor dados que permitam a identificação dos mesmos.
Para a estruturação do trabalho, num primeiro momento, discutiu-se o conceito
de Projeto Político Pedagógico (PPP) com base em alguns autores. Em seguida,
dedicou-se a uma discussão da problemática ao se planejar, buscando na literatura
elementos para uma análise e debate acerca dos equívocos presentes no interior da
escola no processo de elaboração do documento.
CONCEITUANDO O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)
O Projeto Político Pedagógico (PPP), segundo Vasconcelos (2000), apresenta a
seguinte conceituação:
O Projeto Político Pedagógico (ou Projeto Educativo) é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição neste processo de transformação. (VASCONCELLOS, 2000, p. 169).
Assim, pode-se dizer que o PPP, sendo um plano que engloba todas as atividades
institucionais, deve ser elaborado de modo que todos os envolvidos no e com o meio
escolar participem de sua elaboração. Deve ser flexível, pois as práticas educacionais
não se assemelham pelo fato de que a escola se encontra em um meio onde à
diversidade é constante, ou seja, o meio social.
Analisando as entrevistas realizadas com as professoras envolvidas na pesquisa,
percebe-se que as mesmas consideram o PPP um elemento fundamental para direcionar
as ações da escola e que entendem que devem ser elaborado em conjunto.
Eu acho que é um dos documentos, se não for o maior, um dos maiores da escola. O próprio nome já fala: é a proposta pedagógica da escola. Então, os caminhos que a escola quer traçar devem estar dentro do projeto pedagógico ou o PPP. (ENTREVISTA ROSA, 2010)
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
70
É comum e necessário a instituição explicitar suas concepções referentes à
educação e a intenção de suas ações no PPP. Por esse motivo é que este documento
deve ser elaborado em conjunto, possibilitando assim a criação de objetivos coletivos
entre os sujeitos, de modo que partilhem o mesmo ideal, viabilizando um trabalho
interligado de todas as partes (técnicos, especialistas e docentes).
Dias (2007) afirma que o PPP
é essencialmente uma ação democrática e participativa, porque não pode ser feito por uma única pessoa ou por um grupo que não represente a totalidade de vertentes e correntes culturais, sociais e políticas que estão presentes na comunidade afetadas pela escola onde esse Projeto Político-Pedagógico está sendo construído. (DIAS, 2007, p.3)
O PPP para outra professora “é um projeto que é elaborado em conjunto que visa
as metas que serão realizadas durante o ano na escola.” (ENTREVISTA
MARGARIDA, 2010).
Assim, percebe-se que as professoras têm consciência de que o PPP deve ser
elaborado em conjunto, participando desse processo todos os funcionários da escola,
pais e alunos. Entretanto, apesar de entenderem essa necessidade, esse processo coletivo
não acontece na escola pesquisada, uma vez que somente a equipe gestora da escola fica
encarregada de elaborar este documento e não possibilita espaços de planejamento
coletivo. Percebe-se também que consideram o PPP um elemento de extrema
importância para o bom andamento da escola, o qual visa traçar os objetivos para serem
alcançados no decorrer do trabalho pedagógico.
Nesse sentido, Dias (2007) aponta que
O Projeto Político-Pedagógico é um instrumento eficiente e capaz de dar a essa escola pública, condições de se planejar e buscar meios e aglutinar pessoas e recursos na concretização desse projeto, que para nós, antes de tudo é um projeto de vida, de no mínimo uma geração, que necessita de pessoas envolvidas na sua construção e execução, que tenham bem definidas uma visão de homem, uma visão de sociedade e uma visão de mundo, que tenham bem claro, que homem que essa escola irá formar, para qual sociedade e para qual mundo, mundo esse que devido ao fenômeno da globalização afeta qualquer ser humano em qualquer parte do nosso planeta Terra. (DIAS, 2007, p.3).
Nota-se assim que o PPP é tido como um reflexo do que a escola pretende com o
processo educativo, por isso deve ser elaborado por ela, por todos seus agentes,
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
71
respeitando a realidade em que cada instituição está inserida de modo que se planeje e
crie meios que corroborem com a efetivação do projeto. Desse modo, possibilitará que a
escola obtenha uma autonomia quanto a suas escolhas criando e construindo uma dada
realidade educacional.
Por autonomia escolar, Dias (2007) discorre:
Não devemos pressupor, no entanto, que a autonomia desejada por nós seja a que isole a escola da sociedade, que a mantenha como uma célula social que pensa e age sem um sentido de unidade. A liberdade conquistada pela autonomia deverá ser no sentido de permitir que ela dirija o seu destino através das decisões tomadas de forma participativa e democrática, porém fundamentada nas legislações a que a escola está subordinada. (DIAS, 2007, p. 5).
Concomitantemente, percebemos que ao se falar em autonomia institucional,
gestão democrática e liberdade na elaboração do PPP, não significa pressupor um
isolamento institucional, pelo contrário, pois a escola sendo um estabelecimento social
deve considerar todos aqueles fatores que a influenciam, sejam eles de ordem
econômica, social e cultural, pois do mesmo modo que ela influencia a sociedade é
influenciada por ela.
Portanto, é necessário uma proposta que vise à eliminação das práticas
centralizadoras e impostas pelo sistema de cima para baixo, para outra que priorize o
coletivo, a democracia e que torne a escola um espaço de discussão e socialização das
idéias e um espaço para a democracia, o principal objetivo do Projeto Político
Pedagógico para a escola.
A PROBLEMÁTICA DO PLANEJAR
Para Vasconcellos (2000) Planejamento Participativo consiste em planejar as
atividades escolares, consistindo na elaboração de normas, de currículos, etc. Desse
modo, esse planejamento tem o intuito primeiro de refletir sobre as práticas e elaborar
estratégias para modificar a realidade, assumindo, portanto uma dimensão política.
Nessa transformação construímos as contribuições para a construção de uma sociedade
mais justa e democrática, onde todos os sujeitos participam efetivamente.
Padilha (2001) entende por Planejamento Coletivo um processo que envolve
tanto tarefas individuais como coletivas, de modo que possibilite ao mesmo tempo uma
autonomia ao professor para elaborar suas aulas e para optar no processo de elaboração
dos documentos como regimento interno, currículo, etc.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
72
Nas idéias de ambos os autores percebe-se que o intuito é o trabalho em grupo,
criando uma inter-relação e participação de todos os sujeitos. Assim, possibilita um
espaço de reflexão da própria prática tanto dos especialistas como do corpo docente em
busca de mudanças. Mas esses elementos apenas se efetuam se todos se enxergarem
como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que a
importância e o interesse de se planejar não sejam apenas para atender normas
burocráticas, mas para a melhoria do ensino do qual são responsáveis.
Vasconcellos (2000, p.31), vai além ao esclarecer, que o Planejamento
Participativo é uma nova forma de se encarar o planejamento, sendo então fruto da
resistência e da percepção de alguns grupos de educadores que se recusaram a fazer
apenas uma reprodução do sistema, buscando novas formas de fazer educação e de
planejá-la. Em seqüência, diz que para se chegar a tal posicionamento é necessário a
priori que esse grupo valorize o trabalho coletivo tornando-se sujeitos conscientes e
críticos enquanto refletem suas práticas com intuito de modificar a realidade na qual
estão inseridos. Desse modo, é possível também desfazer as relações autoritárias de
poderes verticalizados existentes.
Em relação ao processo de avaliação do PPP, as professoras entrevistadas
relataram que não há esse momento na instituição, o que provavelmente interfere no seu
desenvolvimento, tornando-se assim este documento pronto e acabado, desvinculado da
realidade e da dinâmica da escola, não ocorrendo a dialética, uma vez que não o
repensam de acordo com o andamento do processo pedagógico para atender as
especificidades que se apresentam ao longo do processo.
Eu acho que não existe essa avaliação na escola, pelo menos eu nunca fui comunicada sobre isso e nunca ouvi nenhuma colega comentando, ninguém da escola comentando sobre essa avaliação do PPP. Se ela acontece, acontece entre a direção da escola, a supervisora, a vice-diretora, mas eu acredito que ela não acontece. (ENTREVISTA MARGARIDA, 2010).
Nesse raciocínio, entendemos que o planejamento e a avaliação das práticas
pedagógicas deveriam ser realizadas como parte do trabalho coletivo dos professores e
coordenadores pedagógicos, uma vez que tal condição possibilitaria a troca de
experiências, bem como o aprofundamento da análise das práticas desenvolvidas, num
movimento dialético, envolvendo a relação ação-reflexão.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
73
No sistema capitalista, percebe-se a existência da separação entre o trabalho
intelectual e o trabalho braçal. Para o primeiro é cogitado prestígio, enquanto para o
segundo apenas a posterior execução do que foi pensado, ou seja, ambos participando
de parte do processo, de forma diferente e hierárquica. Esse procedimento é o que vem
ocorrendo dentro da escola, enquanto os especialistas elaboram estratégias que muitas
vezes fogem da realidade vivida em sala de aula pelo professor, este se limita apenas a
realização das atividades educacionais.
Percebemos essa divisão do trabalho no interior da escola ao analisarmos o
depoimento de uma das professoras entrevistadas em relação ao processo de elaboração
do Projeto Político Pedagógico (PPP): “Ele acontece com a direção da escola e com a
vice-direção. Eu não tive participação e não houve comunicação com nenhum
funcionário da escola sobre a elaboração dele”. (ENTREVISTA MARGARIDA, 2010).
Já a professora Rosa diz que
Sempre é feita um pesquisa, pede sugestões para os professores para prever mudanças e nós estudamos algumas propostas. Sempre pede sugestões, agora o termino final do PPP acaba que quem faz é a equipe gestora, não somos nós professores. (ENTREVISTA ROSA, 2010).
Embora, uma professora aponte para a coleta de sugestões no início de sua fala,
esta destaca que o término do PPP é da equipe gestora. Assim, basta indagar se nessa
construção realmente os outros sujeitos são respeitados em seus posicionamentos,
garantindo efetivamente o processo coletivo e democrático.
A gestão democrática é aquela que se efetiva não só pelas decisões de uma
pessoa, mas com a participação de todos, é a que possui a participação de todos os
setores – educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões sobre seus objetivos e
seu funcionamento.
Ela comparece na LDB, lei nº. 9394/96 no artigo 3º, VIII, reforçando o que está
na Constituição:
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I- Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II- Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolar ou equivalente.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
74
Quando as entrevistadas foram questionadas em relação ao alcance dos objetivos
traçados no PPP, relataram que não sabiam se foram alcançados com êxito ou não, pois
não tinham conhecimentos de quais eram, uma vez que não participaram do processo de
elaboração e assim não os elencaram para que tivessem uma prática docente que fosse
ao encontro dos mesmos. “Não sei, porque eu não sei nem quais são as metas.”
(ENTREVISTA MARGARIDA, 2010).
Rosa ressalta ainda que
Fica difícil para eu dar minha opinião porque... quer dizer, nós demos algumas sugestões, elas foram lidas, mas a participação final eu não estava presente. Então, qualquer coisa que eu falar pode não ser verdade. (ENTREVISTA ROSA, 2010).
Assim, podemos perceber, diante das falas colocadas, que a instituição não
considera o ato de avaliar o PPP um processo necessário e importante para o bom
andamento da prática educativa, pois não acontece esse espaço dentro da mesma.
Podemos analisar, ainda diante dessa atitude, que a escola dissocia o que está esboçado
no PPP com o que realmente está sendo praticado em sala de aula para conquistar os
objetivos traçados, havendo assim uma incoerência entre o que propôs alcançar com o
que está sendo de fato praticado para atingir. Além do mais, percebemos que a escola
não considera o ato de planejar flexível, uma vez que não expõe a necessidade de
considerar a dialética e a dinâmica da realidade escolar que está em constante
transformação.
Vasconcellos (2000) cita três princípios que geram nos professores o sentimento
de que o planejamento se tornou algo desacreditado e sem sentido: o idealismo, o
formalismo e a não-participação.
A primeira é justificada pela supervalorização das idéias sobre as práticas,
quando na verdade uma depende da outra e se inter-relacionam. A segunda refere-se aos
tempos curtos e pré-estabelecidos pelas esferas governamentais ou privadas
(mantenedoras institucionais), para a realização de atividades referentes ao planejar, o
que torna esse processo algo meramente formal, sem sentido e sem importância alguma,
contrapondo a importância e as condições dadas para tal. A terceira trata-se do conceito
de dominação, já que se elaborado por uma minoria pode levar interesses individuais
embutidos de ideais dominantes e alienantes, ao mesmo tempo em que elaborado
somente pelo professor pode ser destinado apenas para a escola e não para seu efetivo
trabalho.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
75
Quanto a esses três princípios podemos perceber que acontecem de fato na
realidade escolar investigada, pois as entrevistadas, ao serem questionadas sobre a
importância do PPP para nortear suas práticas pedagógicas, relataram que
acaba acontecendo aí uma falha de comunicação entre o que está escrito no PPP e a prática do professor na sala de aula. Pode haver aí uma certa distância, porque, devido ao que eu falei agora mesmo: a falta de tempo e tudo, a gente acaba não consultando o PPP, mas as sugestões são colocadas, são colocadas em grupo, então é socializado as opiniões. Então, até uma certa parte, as sugestões são colhidas com os professores, mas nos finalmentes acaba que a gente nem consulta o PPP, por que não tem acesso...aliás, temos acesso mas não procura. (ENTREVISTA ROSA, 2010).
Percebemos, assim, que muitas vezes os documentos escolares estão sendo
elaborados apenas para cumprirem uma exigência burocrática, pois não estão sendo
utilizado por diversos fatores. Um dos fatores que não possibilita o acesso ao PPP é a
falta de tempo dos professores que estão sobrecarregados e executam uma
multiplicidade de atribuições e a falta de acessibilidade oferecida pela escola ao
documento, havendo assim uma incoerência entre o que está proposto e o que está
sendo efetivado.
Além do mais, ao analisarmos as entrevistas realizadas com as professoras
envolvidas na pesquisa, percebemos que muitas vezes o PPP não é disponibilizado para
leitura e análise dos funcionários da escola e da comunidade, havendo assim mais uma
forma de distanciamento entre os objetivos traçados e o que está sendo realizado na
escola.
O PPP é engavetado e pra gente pegar ele não é fácil. É muito complicado pegar o PPP. Eu trabalhei nessa escola cinco anos antes de entrar na faculdade e, até então, eu nem sabia o que era o PPP. Foi na faculdade que eu ouvi falar do PPP pela primeira vez. Foi na faculdade que eu despertei minha curiosidade. Na época, nós pedimos o PPP e não foi disponibilizado. Isso eu acredito que acontece não só aqui nessa escola, mas 90% das escolas não trabalham o PPP junto com os professores. (ENTREVISTA MARGARIDA, 2010).
Desse modo, é preciso então que todo grupo escolar reflita sobre suas práticas e
seus conceitos, discutam essas em conjunto e elaborem estratégias que driblem esses
problemas institucionais referentes ao planejamento escolar e suas práticas cotidianas
sem fragmentar as atividades escolares em trabalho intelectual e prático, pois ambos
devem caminhar juntos se o intuito é a melhoria do ensino.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
76
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos são os equívocos encontrados na elaboração do Projeto Político
Pedagógico (PPP). A participação e a não-participação no seu processo de construção é
um tema bastante recorrente nas discussões educacionais.
Assim, percebemos que é necessária uma coerência entre o discurso e a
efetivação do PPP, pois como salienta Vasconcellos (2000) planejar envolve tanto o ato
mental, assim como agir de acordo com o que foi definido pelo grupo, em que o
processo pedagógico e gestão democrática se estendam para além da sala de aula,
oportunizando os membros da comunidade escolar à compreensão do valor da escola e
sua formação integral.
Evidencia-se nesses casos a necessidade de uma participação efetiva, tanto das
professoras que devem ir ao encontro das informações, buscar conhecer a escola em que
atuam, procurar participar da vida da escola, ter uma maior comunicação com a escola,
quanto para a equipe diretiva a incumbência de viabilizar momentos que propiciam a
participação de todos, para que o Projeto Político Pedagógico não seja um documento
que apenas atenda às exigências burocráticas.
Compreendemos que a partir do estudo realizado, a gestão na escola necessita
ser um processo de participação de todos, que promova influências diretas no processo
de desenvolvimento do ensino-aprendizagem realizando, assim, uma educação
comprometida com todos os alunos. A importância da participação da comunidade em
geral adquire força, autonomia em seus projetos e decisões, e, assim, melhora a
qualidade no processo ensino-aprendizagem.
Por meio deste estudo foi possível entender que a democratização é um
desenvolvimento progressivo que pode ser conquistado no dia-a-dia, através dos
processos pedagógicos alicerçando as categorias que nessa pesquisa tiveram ênfase:
autonomia, participação e qualidade.
Compreendemos, ainda, que os profissionais precisam exercer a práxis
pedagógica para adquirirem maior clareza na sua atuação, pois a questão da democracia
propriamente dita é um tema já bastante discutido, relevante, e não consumado de forma
integral.
Concluímos que, a gestão democrática nas escolas públicas deve conquistar a
autonomia e a construção significativa e relevante, em que todos envolvidos com a
educação estão conscientes de suas responsabilidades e seu papel em sua prática
pedagógica. Evidenciamos ainda que a participação deve ser efetiva, propiciando a
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
77
todos da comunidade escolar a possibilidade de vivenciá-la, como também, de discutir,
de dar sugestões, de ter vez e voz para os rumos que terão a instituição escolar da qual
se insere.
REFERÊNCIAS: BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394/96. Cadernos dos Conselhos Escolares. Caderno 2: “Conselho Escolar e a Aprendizagem na Escola”, Brasília/DF: MEC, 2004, 5 volumes. DIAS, Gilmar. A dimensão política do projeto político-pedagógico: rumo à autonomia política e pedagógica da escola pública. Revista pedagogia em debate – desafios contemporâneos, 2007. Acesso em: http://books168.com/index.php?keyword=projeto+politico+peagogico&filetype=doc&page=results em 18.06.2010, às 12 horas e 21 minutos. PADILHA, Paulo R. Planejamento Dialógico: como construir o projeto político pedagógico da escola. São Paulo: Cortez. Instituto Paulo Freire, 2001 (Guia da Escola Cidadã, vol.7). PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. 3. ed., São Paulo: Ática, 2005. VASCONCELOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino Aprendizagem e Projeto Político Pedagógico. Cadernos Pedagógicos do Libertad, 7ª ed. São Paulo: 2000. VEIGA, I.P.A. (org.). Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção possível. 4. ed., Campinas, SP: Papirus, 1997. (Coleção Magistério: formação e Trabalho Pedagógico).
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
78
EIXO 3
Memória e História da Educação
A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM ITUIUTABA-MG (1942-1964)
Andréa Azevedo de Oliveira [email protected]
Thais Parreira de Freitas Oliveira [email protected]
André Luis Parreira [email protected]
Esse trabalho vincula-se à pesquisa no campo da história da educação, apresentando resultados parciais de investigação inédita e em andamento sobre a disciplina escolar Educação Física na cidade de Ituiutaba-MG, no período que compreende os anos de 1942 a 1964. O objetivo central é verificar o papel da Educação Física na disciplinarização e higienização da sociedade, por meio de atividades físicas implantadas nas escolas do município. Os instintos insubordinados deveriam ser disciplinados na infância, submetendo-os a ordem normativa imposta, esse seria o ideal pedagógico dessa disciplina que deveria contribuir para a nova organização social, surgida com a sociedade urbana e industrial, especialmente a partir do pós Segunda Guerra Mundial. A Educação Física surge num cenário higienista e militarista, com o propósito de tornar a população mais saudável, assim recorre-se à higiene acentuando sua importância na escola. O discurso higienista da época veiculava a idéia de que era necessário garantir uma educação higiênica e bons hábitos morais tornando-se importante no sentido de combater grandes surtos epidêmicos e doenças, que significavam graves riscos à população. Na visão militarista, o interesse estava voltado para o desenvolvimento de um grau de eficiência produtiva e, pressupondo a importância da educação escolarizada para se atingir este fim, a tecnicização do ensino patrocinada pelo governo teria como premissa básica a disciplinarização, a normatização e o alto rendimento. A partir dessa perspectiva, buscaremos apontar as especificidades das práticas de professores e alunos nas aulas de educação física nas escolas de Ituiutaba, considerando-se as práticas cotidianas das aulas de Educação Física. Quanto à metodologia adotada, além da revisão bibliográfica, utilizamos de fontes orais (entrevistas com ex-professores e ex-alunos), álbuns de fotografias do acervo municipal e particular e jornais da época. Palavras-chave: História da Educação; História da Educação Física; Triângulo Mineiro.
INTRODUÇÃO
Este artigo insere-se na linha de pesquisa da História da Educação, para o curso
de Pedagogia, da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP), da Universidade
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
79
Federal de Uberlândia (UFU), campus do Pontal, apresentando resultados parciais de
investigação inédita e em andamento sobre a disciplina escolar Educação Física na
cidade de Ituiutaba-MG, no período que compreende os anos de 1942 a 1964, tendo
como referencia histórico que pauta a questão da perspectiva histórico-cultural que
norteia a disciplina com as instituições médicas e militares. Nas instituições médicas
considerando a “Educação Física como sinônimo de saúde física e mental, como
promotora da raça, das virtudes e da moral” (SOARES, 1994, p. 86).
E, militares, devido a presença dos mesmos na formação dos primeiros
professores civis de Educação Física e de sua prática de forma sistemática no Brasil.
Castro (1997) salienta que a Educação Física no Brasil estava relacionada à experiência
francesa, pois os militares brasileiros desempenhavam papel semelhante aos da França.
Nesse contexto, os militares adentraram as escolas com propostas para a prática
da Educação Física e, somente com o fim do Estado Novo houve modificação nessa
situação.
Desse modo, apresenta-se nesse trabalho como objetivos: verificar o papel da
Educação Física na disciplinarização e higienização da sociedade, por meio de
atividades físicas implantadas nas escolas do município; pesquisar como a Educação
Física surgiu num cenário militarista e se estendeu ao escolar; apontar as especificidades
da prática de professores e alunos nas aulas cotidianas de Educação Física nas escolas
de Ituiutaba-MG (1942-1964).
Para realização da pesquisa adotou-se um questionário com 21 (vinte e uma)
questões, entrevistando 05 (cinco) sujeitos estudantes do período de 1942 a 1964, que
apresentaram documentos os quais comprovaram os seus relatos com fotos, ficha
médica, controle de distribuição de merendas, receitas de um curso de alimentação
escolar.
Os fatos históricos narrados pelos depoentes os conduziram até a década em
estudo, retratando a sua percepção quanto às aulas realizadas, os jogos, os desfiles em
praça pública, um momento histórico que vivenciou como protagonista em sua
realidade vivida.
Descortinava-se, assim, sua vivência entre outros atores presentes como os
educadores físicos, despertando emoções até então “guardadas”, quando percebiam a
amizade, o respeito e a o autoritarismo do seu professor. A realidade contextualizada
neste recorte temporal e, ainda, sua memória recordara ações das aulas e com muita
nitidez, o perfil dos professores e com admiração recordam o nome dos mesmos.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
80
Percebe-se o quanto foi significativa essa realidade vivida, o ensinar e o
aprender, a oportunidade de reviver a década de uma trajetória histórica. Assim, pode-se
evidenciar que os fatos ocorrem de acordo com os atores envolvidos permeados pelo
espaço e tempo num contexto histórico-cultural.
Este trabalho teve como objetivo central investigar a Educação Física como
disciplina escolar na cidade de Ituiutaba-MG, no período de 1942 a 1964 e, para melhor
compreensão faz-se uma retrospectiva na história da disciplina buscando fragmentos de
sua origem no cenário militarista e sua inserção na instituição escolar.
FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação Física ao ser refletida e/ou debatida confunde-se sua história com a
dos médicos e dos militares, no que concerne a realização de sua prática e de seus
métodos utilizados e seguidos.
Soares traz sua contribuição ao explicitar que:
As instituições médicas foram privilegiadas e o discurso médico higienista ouvido, pois acreditamos poder encontrar naquelas instituições e no seu discurso, elementos que nos auxiliem na compreensão de uma Educação Física como sinônimo de saúde física e mental, como promotora de saúde, como regeneradora da raça, das virtudes e da moral (SOARES, 1994, p. 86).
Desse modo, os médicos higienistas construíram uma abordagem positivista de
ciência com propostas disciplinares dos corpos, em nome da saúde contribuindo para
uma sociedade brasileira que construía “uma nova ordem econômica, política e social”
(SOARES, 1994, p. 86).
EDUCAÇÃO FÍSICA: INFLUÊNCIA DOS MÉDICOS HIGIENISTAS
Nesse contexto, evidenciam-se avanços nas descobertas científicas da higiene e,
assim, os médicos higienistas ganham lugar de destaque com o apoio do poder de
Estado que “[...] medicaliza suas ações políticas, reconhecendo o valor político das
ações médicas” (COSTA, 1983, p. 29).
Pode-se acrescentar ainda que: “a medicina social, em sua vertente higienista,
vai influenciar e condicionar, de modo decisivo, a Educação Física, a educação escolar
em geral, e toda a sociedade brasileira” (SOARES, 1994, p. 87).
No que concerne a Educação Física no espaço escolar, no Brasil, a partir da
segunda metade do século XIX, Soares (1994) salienta que, pode contar como base para
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
81
as propostas pedagógicas o pensamento médico higienista que considerou-se como
valioso componente curricular, uma vez que, acentuava-se o caráter higiênico nos
pressupostos da moralidade sanitária.
Historicamente, percorreu um longo caminho, já que as questões da saúde, da
higiene relacionados aos corpos dos indivíduos foram percebidas no Brasil colonial
como preocupação das elites estrangeiras, originando nesse período, porém instaurou-se
na República e, assim, expressou-se como traços da modernidade.
No que se refere ao lócus de atuação definido pela higiene teve a família de elite,
como é explicitado por Costa apud Soares:
[...] Não interessava ao Estado modificar o padrão familiar dos escravos que deveriam continuar obedecendo ao código punitivo de sempre. (Os escravos) juntamente com os desclassificados de todo tipo, serão trazidos à cena como aliados na luta contra a rebeldia familiar. Escravos, mendigos, loucos, vagabundos, ciganos, capoeira, etc, servirão de anti-norma, de caos – limite de infração higiênica. A eles vão ser dedicadas outras políticas médicas. Foi sobre as elites que a medicina fez incidir sua política familiar, criticando a família colonial nos seus crimes contra a saúde (COSTA apud SOARES, 1994, p. 88.
Nesse contexto, evidencia que os higienistas consideravam que a família de elite
era incapaz de criar os seus filhos e de cuidar dos adultos, assim, entre a família e a
criança eram colocados os interesses dos médicos e estes assumidos pelo Estado.
Percebia, assim que enquadrava-se o corpo dos indivíduos de elite num espaço
disciplinar pela educação física incluindo os cuidados higiênicos, o exercício físico
acreditando-se como um fator de transformação social.
Segundo Soares:
Essa educação física (que incluía exercícios físicos sob as forma de ginástica), pensada pelos médicos, só poderia ser desenvolvida a contento, se os Colégios que lhe reservavam espaço considerável fossem reorganizados. Eles não poderiam ser um prolongamento da desordem familiar e, muito menos ainda, o espaço de reprodução das idéias dos pais sobre a educação de seus filhos. Aquelas idéias eram absolutamente nocivas conforme observa o médico Joaquim José de Oliveira Mafra, em tese apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, no ano de 1855. Para ele, os Colégios deveriam ser contrários às idéias educacionais dos pais, porque estes desejam que seus filhos sejam superalimentados onde o paladar é mais importante; exigem leitos confortáveis, macios e o excesso de agasalhos; temem pela fadiga dos filhos se submetidos a passeios longos onde a exposição ginástica temendo possíveis acidentes (SOARES, 1994, p. 93).
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
82
Nesse sentido, os Colégios deveriam trabalhar no sentido de construir um
indivíduo saudável, porém lhes faltava um compromisso maior com a unidade nacional,
já que foram criados com o espírito regionalista.
Notava-se, também que os Colégios não eram mantidos pelo poder público e,
desse modo, não ofereciam condições adequadas para educar as elites, já que a
administração nacional era responsável somente pelo ensino superior.
Durante o Império, a partir da segunda metade do século XIX, as reformas
educacionais buscam a orientação literária e científica, Soares (1994) ressalta que essas
orientações eram sensíveis à necessidade da Educação Física, mas sua incorporação não
ocorreu tranquilamente no ensino regular, pois os argumentos médicos não foram
suficientes para acabar com o preconceito em relação à Educação Física julgada como
imoral, em especial quando se dirigia às mulheres.
Soares revela ainda:
Entretanto, se de um lado existiam aqueles que a consideravam imoral para as mulheres, de um outro, vamos encontrar aqueles que a defendiam por julgá-la necessária. Estes afirmavam que o corpo feminino devia ser fortalecido pela “ginástica”, adequada ao seu sexo e às peculiaridades femininas, pois era a mulher que geraria os filhos da pátria, o bom soldado e o elegante e civilizado cidadão (SOARES, 1994, p. 102).
O período do Império marcou-se por formulações legais sobre a Educação Física
nas escolas, havia proibições e liberações bem distintas, principalmente preocupações
com a educação das elites.
Assim aumentavam as propostas médicas, propostas legais, detalhamento do
espaço escolar, currículos. No entanto, no final deste período uma certa preocupação da
elite surgiu em relação à educação da população em geral, isto é, à educação pública.
Ao referir-se às reformas do ensino, no final do Império, Soares (1994) revela
que os dirigentes buscam incorporar a ginástica nos currículos escolares, podendo
destacar o Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, assinado por Carlos Leôncio de
Carvalho que trazia na grade curricular o espaço obrigatório nas escolas primárias e
secundárias do município da Corte. E, ainda, o Parecer de nº 224 sobre a Reforma
Leôncio de Carvalho sintetiza o conjunto de medidas necessárias para a ginástica nos
currículos escolares:
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
83
1º - Instituição de uma secção especial de ginástica em cada escola normal. 2º - Extensão obrigatória de ginástica a ambos os sexos na formação do professorado e nas escolas primárias de todos os graus, tendo em vista, em relação à mulher, a harmonia das formas feminis e as exigências das maternidade futura (grifos nossos). 3º Inserção da ginástica nos programas escolares como matéria de estudo, em horas distintas das do recreio, e depois das aulas. 4º Equiparação, em categorias e autoridade, dos professores de ginástica aos de todas as outras disciplinas (BARBOSA apud SOARES, 1994, p. 113).
Nesse sentido, evidencia-se o seu caráter obrigatório, distinguindo das horas de
recreio, extensão da ginástica a ambos os sexos, realçando que à mulher deveria
acentuar as suas formas feminis, desse modo mostrava-se as diferenças da mulher em
relação ao homem. Percebe-se, também, a preocupação em tornar os indivíduos
saudáveis e fica claro a definição dos papéis e funções desempenhadas pelos homens e
mulheres.
Com o novo regime, ou seja, com o advento da República, tendo na liderança
uma elite liberal, burguesa, capitalista houve um grande impacto com a libertação das
idéias destes líderes, acentuando os padrões de moral e honestidade, como Soares
explicita sobre esse regime:
Um regime assim, se por um lado “desenvolve” a sociedade brasileira, iniciando ainda que tardiamente a sua integração ao capitalismo mundial, por outro, e como face do mesmo processo, acentua a miséria, degrada a vida e destrói os laços mais singelos e ternos que unem os indivíduos, atirando-os, desde muito cedo a um tipo de trabalho degradante e mal pago. Como testemunho da miséria do povo estão os altos índices de doenças e de mortalidade nas primeiras duas décadas da República [...] é com o advento da República que será colocado em prática através de ações intervencionistas apoiadas pelo Estado, com o objetivo de, em nome da saúde, manter a ordem, ampliando para o conjunto da população a determinação de normas para conseguir uma vida saudável, e o “pleno funcionamento da sociedade” (SOARES, 1994, p. 117).
Na República, os médicos começam a assumir cargos administrativos e, assim,
os médicos higienistas mostraram-se eficientes no combate a algumas doenças, às
epidemias.
Destaca-se, também, que havia uma grande preocupação, dos médicos
higienistas, em relação à cidade, considerada alvo que exigia um controle maior, uma
intervenção higiênica; portanto, não foi objeto de preocupação e intervenção higienista
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
84
no meio rural, embora havendo apresentasse os mesmos problemas de saúde e as
mesmas taxas de mortalidade.
“A intervenção médico-higiênica, que ocorre neste cenário citadino e que
expressa, sobretudo, a voracidade do novo regime, não se dará no sentido de alterar as
relações sociais ali presentes. Aquela intervenção estará voltada exclusivamente para o
meio ambiente” (SOARES, 1994, p. 120). Assim, revela este autor que, o ambiente era
considerado responsável direto pela saúde do corpo individual e social.
O cuidado corporal se estende com a Educação Física nos espaços escolares, a
higiene faz parte da Ginástica e da Educação Física e integram às propostas
pedagógicas, tendo suporte legal nas reformas educacionais.
EDUCAÇÃO FÍSICA: INSPIRAÇÃO MILITAR NO ESPAÇO ESCOLAR
A inspiração militar no espaço escolar, no que concerne à educação física, se
deve à preparação dos primeiros professores civis de Educação Física e de sua prática
de forma sistemática no Brasil. Tem-se, ainda, que a Educação Física no Brasil
relacionava-se à experiência francesa, já que desempenhava-se no Brasil, pelos militares
papel semelhante aos da França.
Nesse contexto, Castro revela:
No Brasil, já em 1921 foi aprovado o Regulamento de Instrução Física Militar, destinado ao Exército e calcado no Projet fancês, por influência direta da Missão Militar Francesa, recentemente chegado ao Brasil. No ano seguinte, uma portaria do Ministra da Guerra (10/1/1922) criou um Centro Militar de Educação Física, destinado a “dirigir, coordenar e difundir o novo método de educação física e suas aplicações desportivas”. A portaria estabelecia que: “O curso de instrutores e monitores será dirigido por um oficial da Missão Militar Francesa, auxiliado por dois oficiais brasileiros conhecedores do novo método de educação física e indicados pelo Estado-Maior do Exército”. Esse Centro não chegou a ser instalado (CASTRO, 1997, p. 65).
Nesse sentido, a educação física de orientação francesa foi utilizada no Exército
durante toda a década de 20. “Em 1928 a Missão Militar Francesa passou a contar entre
seus integrantes com um oficial encarregado exclusivamente de dirigir a instrução de
educação física” (CASTRO, 1997, p.65).
No ano seguinte, um anteprojeto de lei, elaborado por uma Comissão Física,
presidida pelo ministro da Guerra, general Nestor Sezefredo Passos, tornava obrigatória
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
85
a educação física em todos os estabelecimentos de ensino, federais, municipais e
particulares.
Essa obrigatoriedade atingia a todos, a partir da idade de seis anos e para ambos
os sexos. Estabelecia, ainda, neste anteprojeto que, enquanto não existisse um método
nacional deveria ser adotado o Método Francês.
Castro revela que:
As iniciativas práticas não tardaram. O Centro Militar de Educação Física promoveu um Curso Provisório que funcionou inicialmente na Escola de Sargentos de Infantaria da Vila Militar (Rio de Janeiro, sob a orientação técnica do 1º tenente Inácio de Freitas Rolim. O curso, que teve a duração de um ano letivo, formou, além de militares, 22 professores civis, que foram lecionar em escolas públicas do Distrito Federal, principalmente na Escola Normal. O método utilizado era o francês, assim defendido por um dos professores: “Da colaboração de todos os interessados, civis e militares, levados em contas as características da curva fisiológica brasileira, surgirá o método geral, aplicável a todos os brasileiros, sem distinção de sexo ou idade, concretizado em regulamento geral. A nossa tendência é, assim nos parece, a adaptação do Método Francês, mais de acordo com o nosso temperamento de latino (CASTRO, 1997, p. 67).
Nesse sentido, a Educação Física praticava o Método Francês, mas surgiu o
interesse dos brasileiros, em uma adaptação de acordo com o temperamento latino, até
que projetassem um método nacional.
Após a Revolução de 30, com destaque ao papel que ocupava os militares no
Estado, a implantação do projeto militar para a educação física e sua inserção nas
escolas ficaram mais fortes.
No entanto, a Associação Brasileira de Educação – ABE, defendia a introdução
da educação física nas escolas, proposta que constava em um projeto de reforma do
ensino secundário elaborado em 1929.
A ABE propunha, ainda, a criação de uma Escola de Educação Física anexa à
Universidade do Brasil, e tinha como objetivo a preparação de instrutores civis que
atendessem as escolas primárias, secundárias e normais.
A ABE não queria permitir que os militares invadissem as escolas,
principalmente por ser um projeto militar; e, também, não concordava com o Método
Francês, que considerava este com espírito e tendências militares.
Outras críticas surgiram em relação ao projeto militar para a educação física, que
ocorreu entre 1930 e 1945, quando da oposição de alguns educadores civis e da Igreja,
porém nada conseguiram, fracassando frente à força militar.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
86
Castro revela que:
Em novembro de 1930 o governo provisório de Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde Pública (MÊS). Em 1931, o ministro Francisco Campos reformou o ensino secundário, tornando obrigatórios os exercícios de educação física em todas as classes (decreto nº 19.890, de 18/4) e pouco depois, ignorando os apelos da Associação Brasileira de Educação, mandou adotas as normas e diretrizes do Centro Militar de Educação Física (portaria nº 70, de 30/6), o que implicou, mais uma vez, a adoção do Método Francês (CASTRO, 1997, p. 69).
Desse modo, prevaleceu a força militar, sendo oficialmente aprovado o
Regulamento de Educação Física do Exército, pelo Decreto nº 21.324 de 27/04/1932.
Segundo Castro (1997), entre 1934 e 1945, o Ministério da Educação e Saúde
Pública – MES, chefiado por Gustavo Capanema, tornou-se estreitos os contatos com a
área militar em relação à educação física, tornando-a definitivamente institucionalizada
no ensino civil.
Em 1937, com a reorganização do MES criou-se a Divisão de Educação Física –
DEF, subordinada ao Departamento Nacional de Educação.
De acordo com Cantarino Filho apud Castro:
Com o fim do Estado Novo, a situação no campo da educação física modificou-se rapidamente. Professores civis reunidos no IX Congresso Brasileiro de Educação, promovido pela ABE em junho de 1945, aprovaram uma Carta Brasileira de Educação Democrática que indicava, entre outras medidas, a extinção da organização Juventude Brasileira (inspirada na juventude nazista) e do Departamento de Educação Nacionalista, bem como “de quaisquer vestígios desse tipo, acaso impregnados na administração escolar” (CANTARINO FILHO apud CASTRO, 1997, 69).
As preocupações continuavam, naquele momento, para a mudança do Método
Francês para um Nacional. Em 1943 foi promovido um concurso de contribuições para
o Método Nacional de Educação Física, publicado um edital no Diário Oficial de
27/7/1943, vencendo o trabalho elaborado por uma Sociedade de Estudo dos Problemas
da Educação Física, intitulado Bases Científicas da Educação Física. Em 1944, outro
concurso, promovido pela Divisão de Educação Física.
Portanto, com a desagregação do regime autoritário do Estado Novo, as
iniciativas para a criação do Método Nacional foram abandonadas. Assim, outros
métodos além do francês foram utilizados.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
87
Assim, a Educação Física continuou a mostrar e assegurar as mudanças
necessárias na educação e a conquistar seu espaço na instituição escolar. Com a Lei nº
4.024/61, em seu artigo 22, teve ratificada sua obrigatoriedade no ensino primário e
médio, não se cogitava de torná-la obrigatória também no ensino superior.
Em 1966, o Conselho Federal de Educação deixou transparecer sua posição a
esse respeito, que segundo Castellani Filho, assim se expressou no Parecer nº 424:
Todos receonhecemos a necessidade e o benefício de exercícios físicos em qualquer idade, desde que devidamente adaptados. Entretanto, a razão de ser da obrigatoriedade prescrita em lei, não é tanta o beneficio, e sim o papel de fator formativo, que inclui atitudes físicas, mentais e morais. Por isso, a obrigatoriedade da Educação Física se ajusta bem aos cursos de nível médio que, de conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases, se destinam à formação do adolescente. Ultrapassada essa faixa de formação, a prática de exercícios físicos já deve ser um hábito agradável e saudável, resultante de um processo formativo [...] Nada impede que nas escolas superiores, haja diversas modalidades de exercícios físicos. O que parece não caber mais, é a obrigatoriedade da Educação Física [...] (CASTELLANI FILHO, 1988, p. 117).
Nesse sentido, defende com clareza o seu ponto de vista. E, mais tarde, com a
força legal, a Educação Física passou a ter a sua obrigatoriedade estendida a todos os
níveis e ramos de escolarização. Concluindo, nos anos sessenta, iniciou-se nova atenção
do governo pela Educação Física.
A EDUCAÇÃO FÍSICA NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR ITUIUTABANA (1942-1964)
O município de Ituiutaba-MG, no período de 1942 a 1964, passou a atender as
exigências educacionais da população, cada vez maior, pois destacava-se seu
desenvolvimento político, econômico e social.
Nesse período contava com escolas conceituadas como Instituto Marden,
Colégio Santa Teresa, Ginásio São José, Escola Noturna Machado de Assis, entre as
demais destacavam as escolas rurais e grupos escolares.
Segundo o Centenário de Ituiutaba 2001, a educação para este município sempre
foi uma prioridade e, fundamenta que:
O município contava com 31 (trinta e uma) escolas funcionando, com apenas 4 (quatro) de pau a pique, porém, cobertas de telhas. As demais possuíam salas amplas e arejadas, quase todas convenientemente com carteiras, quadros-negros, etc. De maio de 1964 a setembro de 1965, foram construídos os seguintes prédios exclusivamente para escola: Escola Prof.ª “Maria José Fratari” –
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
88
prédio de estilo moderno, situada na Serra da Aroeira. Prof.ª Sônia Maria dos Reis. Escola “Antonio Pedro Guimarães” – local denominado Macado. Prof.ª Maria Divina Martins Mariano. Mobiliário fornecido pela prefeitura. Escola “Diôgo de Souza” - local denominado Rancharia. Prof.ª Aurora Tereza de Morais. Mobiliário fornecido pela prefeitura. Escola “São José” – situada no Córrego do Mosquito. Prof.ª Itelvina Silveira da Costa. Mobiliário fornecido pela prefeitura. Escola “Gerôncio Rodrigues Chaves” – situada na Fazenda Ibiranga. Prof.ª Lisbete Rezende (até 22/7/1965). Escola “Aureliano de Freitas Franco – situada na Usina. Prof.ª Mafalda de Melo. Mobiliário fornecido pela prefeitura. Escola “Rui Barbosa”. Situada no Brejão. Prof.ª Célia Maria da Silva. Mobiliário fornecido pela prefeitura. Escola “Carlos Gomes” – situada na Mateirinha. Prof.ª Elza Rosado de Morais (CENTENÁRIO DE ITUIUTABA, 2001, p. 129-130).
Dentre as escolas do município de Ituiutaba-MG tornou-se possível o contato
com alunos que frequentaram as mesmas, no período de 1942 a 1964 e, assim,
contribuíram para a coleta de dados que retrata a Educação Física neste município.
METODOLOGIA
O estudo constituiu-se da pesquisa bibliográfica, baseada na literatura que
aborda a temática nesse período histórico e, a pesquisa de campo, entrevistando 05
(cinco) sujeitos estudantes do período de 1942 a 1964, do município de Ituiutaba-MG.
Assim que discursavam uma realidade vivida, envolvidos pelo espaço e tempo
de um contexto histórico-cultural, suas emoções tornavam-se explicitas.
Os anexos foram oferecidos pelos sujeitos entrevistados para retratar o momento
histórico.
RESULTADOS
A caracterização dos sujeitos pode ser assim apresentada. A faixa etária dos
sujeitos estudantes entrevistados do período de 1942 a 1964 compreendem os anos de
1922 a 1952.
A escola que estudaram foram: Instituto Marden – Escola Normal “Dr. Benedito
Valadares”; Colégio Santa Teresa; Ginásio São José; Grupo Escolar João Pinheiro.
Ao serem questionados se lembravam o nome de seus professores de Educação
Física, a resposta foi afirmativa e falavam os nomes com muita emoção.
Quanto à questão referente à pergunta “Como eram as aulas de Educação Física
na sua época?” As respostas obtidas são visualizadas na Tabela 1, a seguir.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
89
Tabela 1 – Como eram as aulas de Educação Física na sua época?
Sujeitos Respostas 1 As aulas eram realizadas pela manhã, no horário de 6h às 6h50min.
Três aulas por semana. Tínhamos uniforme próprio e era
obrigatório. As aulas eram bem diversificadas, fazíamos exercícios
com bastão, com alteres, praticávamos salto de altura, salto à
distância com vara e tínhamos a parte de esporte e o preferido era
vôlei.
2 Eram de muito exercício.
3 Eram boas, com muitas brincadeiras.
4 Eram aulas que não nos motivavam fazê-las. Fazíamos por
obrigação.
5 Fazíamos ginástica com um bermudão e depois jogávamos bola.
Percebe-se, bastante clareza em suas respostas, mostrando o horário, o número
de aulas por semana, o uniforme obrigatório, aulas diversificadas, a ginástica, o jogo e,
ainda, a ludicidade presente. No entanto, o Sujeito 4, não apresenta muito entusiasmo
com as aulas, sentindo-as como uma obrigação.
A questão a seguir: “Que atividades a escola desenvolvia dentro da Educação
Física que você considerava mais importante?” As respostas são apresentadas na Tabela
2.
Tabela 2 – Que atividades a escola desenvolvia dentro da Educação Física que você considerava mais importante? Sujeitos Respostas
1 O que considerava mais importante dentro das atividades
praticadas na Educação Física naquela época é que fazíamos
apresentações fora da escola, local preferido praça da prefeitura,
usando uniforme de gala, com grande público nos assistindo e
aplaudindo. Nós estudantes tínhamos prazer e orgulho de nos
apresentar, esse dia era dia de festa.
2 Vôlei e marcha.
3 Vôlei, Ping-Pong, Basquete, Queimada.
4 Os desfiles de sete de setembro e dia dezesseis (Aniversário de
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
90
Ituiutaba)
5 Me fazia feliz quando tínhamos as competições e as gincanas.
As respostas nos mostram a diversidade das atividades e a vida social dos
estudantes, sentindo-se bem com as atividades extra-classe.
Dentre as perguntas, muito significativa para o estudo tem a questão de número
10: “Como a Educação Física, em sua opinião, contribuía nos aspectos da higiene
pessoal?”
Tabela 3 – Como a Educação Física, em sua opinião, contribuía nos aspectos da higiene pessoal? Sujeitos Respostas
1 De uma maneira geral, a Educação Física, contribuí na higiene
pessoal, levando a pessoa a tomar banho diário.
2 --
3 --
4 Pela importância da higiene pessoal, na manutenção da qualidade
de vida do ser humano.
5 Preocupávamos apenas com os cabelinhos das pernas e braços.
Fica clara a contribuição com os aspectos da higiene, nas aulas de Educação
Física, que afirma a investigação realizada na literatura, do ponto de vista dos autores
apresentados que delinearam o período de 1942 a 1964.
Outra questão que tornou-se relevante é a de número 15: “Você se recorda se em
algum momento houve repressão quanto à participação das mulheres em atividades
esportivas ou em outro evento qualquer?”
Tabela 4 – Você se recorda se em algum momento houve repressão quanto à participação das mulheres em atividades esportivas ou em outro evento qualquer? Sujeitos Respostas
1 Já na minha época de estudante, as mulheres participavam
ativamente das atividades esportivas e não me lembro de nenhuma
repressão.
2 Não.
3 --
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
91
4 Não.
5 --
Vale ressaltar diante dos resultados que as respostas foram dadas por mulheres,
sendo a escolha dos sujeitos entrevistados aleatoriamente, como procedimento somente
o período da pesquisa coincidindo com o período de suas escolaridades.
Na Tabela 5 visualiza-se a questão de número 18: “Como você avalia a
participação dos estudantes da época nas aulas de Educação Física? Tinha avaliação,
registro de frequência, exames médicos? Como era o processo?”
Tabela 5 – Como você avalia a participação dos estudantes da época nas aulas de Educação Física? Tinha avaliação, registro de frequência, exames médicos? Como era o processo? Sujeitos Respostas
1 A maioria dos alunos demonstrava interesse pelas aulas de
Educação Física. Os alunos eram avaliados mensalmente,
atribuindo-lhes, notas de zero a dez. A frequência era obrigatória,
havia exame-médico, duas vezes por ano.
2 Com muita alegria e participação. Tinha avaliação, respondendo
um questionário e fazendo exame-médico todo ano.
3 --
4 A participação era boa. Sim, éramos avaliados através de exames-
médico e havia registro de frequência.
5 Tinha tudo e era muito organizado as 6 horas e 15min.
Desse modo, e a partir da leitura das respostas das questões que constituíram o
questionário, pode-se perceber que a Educação Física teve grande importância para os
estudantes, naquele momento, contribuiu para o físico como também para incentivar a
prática dos exercícios físicos e esporte, base para se ter uma boa saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa revelou diante do significado histórico que as aulas de Educação
Física surgiram num cenário higienista e militarista, com o propósito de tornar a
população mais saudável, tanto no contexto militar como acentuando a sua importância
na escola.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
92
Os resultados foram significativos e surpreendentes, pois a maioria dos discursos
revelou prazer e disciplina, diversidade nos jogos e modalidades de esporte variadas.
Retratou-se, também, nos discursos, a relação interpessoal professor-aluno, em
que apresentaram divergências em suas respostas, enquanto uns apontavam o
autoritarismo dos professores, outros os admiravam enfatizando o respeito e a
disciplina, amizade e compreensão, dentro de seu perfil exigente.
O registro das narrativas promoveu a análise e compreensão das questões
elencadas que abordam a práxis do docente que ministrou a disciplina Educação Física,
bem como a contribuição nos aspectos que concerne à relação professor-aluno, à
postura do educador físico e ao significado desta disciplina para os sujeitos
entrevistados.
REFERÊNCIAS
CANTARINO FILHO, Mário Ribeiro. A educação física no Estado Novo: história e doutrina. Dissertação de Mestrado (UnB), 1982, In: CASTRO, Celso. In corpora sano: os militares e a introdução da Educação Física no Brasil. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC. Niterói, RJ, 1997.
CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: a história que não se conta. Campinas, SP: Papirus, 1988.
CASTRO, Celso. In corpora sano: os militares e a introdução da Educação Física no Brasil. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC. Niterói, RJ, 1997.
ITUIUTABA. Centenário de Ituiutaba 2001. Prefeitura Municipal de Ituiutaba. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ituiutaba: EGIL, 2001.
SOARES, Carmen Lúcia. Educação Física: raízes européias e Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 1994.
ANEXOS Fotos dos desfiles realizados e atividades físicas
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
93
Fonte: arquivo pessoal Ficha Médica
Fonte: arquivo pessoal
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
94
A IMPRENSA ESCRITA COMO FONTE DE PESQUISA PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
DE ITUIUTABA-MG
Jennifer Maria P. Matos
FAPEMIG/UFU [email protected]
Isaura Melo Franco Cnpq/Pibic/UFU
[email protected] Prof. Dr. Sauloéber Tarsio de Souza
Universidade Federal de Uberlândia-CNPq [email protected]
O presente trabalho se reporta ao projeto "Educação Escolar e Imprensa
(Ituiutaba 1950-2000)" apoiado pela FAPEMIG. Tem como um dos objetivos a
construção de um acervo digital com as notícias jornalísticas referentes ao universo
escolar no município de Ituiutaba (Pontal do Triângulo Mineiro), no período entre as
décadas de 1950 e 1990. Portanto, consideramos o periódico como fonte documental
primária para a história da educação.
Os jornais se constituíram como uma das principais fontes de informação
histórica na atualidade. Por isso, compete aos pesquisadores que os utilizam, olhar os
personagens do passado procurando entendê-los como produto de sua época, figuras
registradas em suas vidas cotidianas de forma bastante particular (CAPELATO, 1988).
A importância dos periódicos também pode ser compreendida observando-se seu
surgimento no país, que se deu paralelo ao nascimento da nação:
A nação brasileira nasce e cresce com a imprensa. Uma explica a outra. Amadurecem juntas. Os primeiros periódicos iriam assistir à transformação da colônia em Império e participar intensivamente do processo. A imprensa é a um só tempo, objeto e sujeito da história brasileira. (MARTINS & DE LUCA, 2008, p.8)
Os jornais permitem estudar fatos aparentemente miúdos e irrelevantes do
cotidiano, contudo, até mesmo os anúncios de variedades presentes nos jornais,
representam uma grande via de acesso aos fenômenos mais gerais do passado de
determinada cultura, constituindo-se em fontes privilegiadas de aproximação ao
pensamento coletivo de uma época:
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
95
A utilização de jornais, como fonte complementar para a recuperação da evolução factual, dos projetos coletivos, das polêmicas, bem como da ideologia que circulava na região é fundamental se acrescida da literatura sobre o tema e o período. De suas páginas afloram não apenas o cotidiano de cidades do interior brasileiro, marcadas por observações de caráter doméstico, muitas vezes provincianas, mas também preocupações maiores com o futuro da comunidade, onde sobressai a questão da educação como mecanismo de promoção social dos indivíduos e de progresso material para a cidade (GONÇALVES NETO, 1997).
Por meio da pesquisa realizada no acervo da Fundação Cultural Municipal de
Ituiutaba, constatamos que o jornal mais antigo do município que se tem notícia seria o
Villa Platina, fundado em 1901 pelo tipógrafo João Lourenço. Assim como vários
outros folhetins essa primeira experiência teve vida efêmera, contudo, há registros de
que tenha causado grande euforia na população local, alguns teriam se alfabetizado por
incentivo de sua circulação, mesmo assim, a maior parte da população era composta por
analfabetos, algo natural num país até então rural. Sobre a relação da imprensa mineira
com as questões políticas assim afirmou um pesquisador norte-americano:
A imprensa local foi outro marco do regionalismo mineiro. De maneira geral, um jornal de cidade pequena continha notícias políticas e anúncios comerciais numa edição semanal de menos de 500 cópias. Geralmente pertencia ao chefe político local, cujo domínio era disputado por um chefe rival com sua própria imprensa. Fica evidente que os jornais desempenharam uma função primordial na política local. Como foro para o combate verbal, a imprensa deu às celebridades locais um meio de sustentar a violência em nível menor, sem tiroteios ou assassinatos (WIRTH, 1982).
O número de jornais que circulou em Ituiutaba ao longo do século XX, cerca de
duas dezenas, e observando-se a origem social dos diretores desses periódicos indicam-
nos que essa relação entre imprensa e poder nos municípios mineiros também era regra
em Ituiutaba. O surgimento e a extinção deles em curtos períodos de existência
evidencia a mudança das lideranças políticas ou a tentativa de se construir novos
projetos locais em oposição aos já estabelecidos.1
1 Os jornais que vão de 1901 a 1950 e que não foram incluídos no projeto são: Villa Platina-1901, Gazeta Paltinense-1913, A Alvorada-1914 a 1917, O Porvir 1918 a 1919, O Sertão 1919 a 1934, Jornal de Ituiutaba 1934 a 1952, O Vencedor 1935 (pensamento estudantil), Folha da Semana 1943 a 1944, Gazeta de Ituiutaba 1949 a 1952, O Tagarela-1913 (humorístico), A Tesoura-1917 (humorístico), A Colmea-1927, O Capeta-1935, Saneando-1946 (Jornal da Congregação Espírita), Folha de Ituiutaba-1942-1954 (Partido Social Democrático). Fonte: Acervo da Fundação Cultural Municipal – PM Ituiutaba.
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
96
Na primeira etapa do projeto (1949-1970) foram catalogadas 531 notícias sobre
as atividades escolares da cidade que abordavam diferentes assuntos e níveis de ensino,
a saber: 130 notícias se referiam ao ensino primário; 101 ao ginasial; 64 ao colegial; 57
ao superior; 56 ao técnico e 169 voltadas para assuntos diversos, tais como homenagens,
torneios esportivos estudantis, formaturas, etc.2 Podemos perceber por esses números
que 42% das notícias faziam referência aos ensinos ginasial, colegial e superior, ou seja,
níveis da educação limitados a pequena parcela da população daquele período,
evidenciando que os jornais priorizavam o restrito universo das classes
privilegiadas/letradas do município, já que em 1950, a taxa de analfabetismo chegava a
57% dos indivíduos acima de 10 anos de idade (Fonte: IBGE, 1950).
Buscando uma melhor visualização dos discursos jornalísticos, procuramos
apontar também algumas das especificidades dos jornais lidos na tentativa de
compreender que interesses estavam por detrás das idéias difundidas por esses veículos
de comunicação. Foram pesquisadas as coleções dos jornais constantes do acervo da
Fundação Cultural Municipal de Ituiutaba constando os seguintes periódicos:
• “Gazeta de Ituiutaba” (1949 a 1952), impresso em duas folhas, era de propriedade da antiga Gráfica Ipiranga S/A, sob a direção de Benjamin Dias Barbosa;
• “Folha de Ituiutaba” (1952 a 1964), impresso em duas folhas, era de propriedade do diretor Ercílio Domingues da Silva, tendo como redatores Geraldo Sétimo Moreira e Manoel Agostinho;
• “Correio do Pontal” (1956 a 1959) circulava em duas folhas, tinha como diretor-proprietário Pedro de Lourdes Morais e a participação de colaboradores diversos;
• “Correio do Triângulo” (1959 a 1965) circulação em três folhas, possuía como proprietário Benjamin Dias Barbosa, direção e redação de Jayme Gonzaga Jayme e como diretor comercial Joaquim Pires das Neves;
• “Cidade de Ituiutaba” (1966 a 1970), impresso em duas folhas, pertencia ao diretor-redator Benjamin Dias Barbosa;
• “Município de Ituiutaba” (1967 a 1970) controlado por órgão oficial, variava de três a quatro folhas e circulava em edições semanais.
Podemos observar acima que a grande atuação nesse período foi do editor
Benjamin Dias Barbosa que entre 1949 e 1970 ficou apenas alguns anos sem atuar no
ramo jornalístico, sendo proprietário de três dos seis jornais pesquisados. Com exceção
2 Nesse primeiro momento foram pesquisadas as coleções constantes do acervo da Fundação Cultural do Ituiutaba dos seguintes jornais: “Gazeta de Ituiutaba” (1949 a 1952); “Folha de Ituiutaba” (1952 a 1964); “Correio do Pontal” (1956 a 1959); “Correio do Triângulo” (1959 a 1965); “Cidade de Ituiutaba” (1966 a 1970); e “Município de Ituiutaba” (1967 a 1970).
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
97
do jornal “Município de Ituiutaba” – órgão oficial do município, todos os outros eram
de iniciativa privada, e viviam às custas dos anunciantes e colaboradores. Em
depoimento de um ex-redator e ex-diretor comercial do Jornal “Correio do Triângulo”,
constatamos que a maioria dos redatores e colaboradores dos jornais pesquisados,
constituía-se por homens influentes tanto no campo cultural quanto na esfera política do
município, porém todos eles exerciam outras ocupações profissionais, no setor bancário,
no comércio ou na indústria.
A leitura e catalogação dos jornais dessas duas décadas revelam-nos relações
existentes entre a realidade nacional, em que passava o país, e a local, colaborando para
a compreensão do processo histórico local, marcado por acelerados processos de
urbanização e industrialização do município, impulsionados pela expansão do cultivo do
arroz a partir dos anos de 1950 (Ituiutaba ficaria conhecida como a “Capital do Arroz”).
Ituiutaba fora inserida na política de modernização nacional, à medida que sua
população tornava-se urbana, formando mercado consumidor em potencial, além de
liberar terras para a expansão dos negócios agrícolas, o que gerava empobrecimento da
população migrante, em função de que nas cidades nem sempre conseguiam sustento.
Nos anos de 1950, o poder público preocupou-se com o Plano Urbanístico local, com
ampliação dos serviços de abastecimento de água e de iluminação pública, arborização e
calçamento de ruas, construção de prédios públicos, buscando atender às demandas da
população que se avolumava. Na década seguinte, a mudança urbanística acelerou-se
ainda mais, com a chegada do asfalto, a construção de praças, implantação do Distrito
Industrial e do primeiro Campus Universitário no município (CORTES, 2001).
O esforço dos dirigentes na consolidação da sociedade de consumo de massa
conciliava interesses tanto das elites nacionais como dos centros capitalistas mundiais,
mentores desse projeto de modernização. A noção de moderno surgira como sinônimo
de mercado de massa, nos EUA, desde os anos de 1920. Após a 2a Grande Guerra, o
conceito de modernização foi utilizado principalmente para caracterizar o provável
processo de transição que os países “atrasados” deveriam passar para alcançarem os
níveis de renda, educação e produtividade dos países industrializados, mas resultou,
numa significação de moderno bastante específica, definida em função do mundo das
mercadorias, da indústria e dos negócios, onde a educação deveria estar a serviço deste
tipo de modernidade. Tal significação fora elaborada por variados canais, entre eles, por
meio da massificação da educação durante os anos de 1950 e 1960, no Brasil, vividos
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
98
entre a democracia e o autoritarismo, mas em ambos os regimes de governos, buscou-se
reforçar esta noção de moderno (SCHWARTZMAN, vol.05).
De acordo com o crescimento da população urbana, também aumentava o
número de escolas, de forma que as notícias sobre a criação dessas instituições
ganhavam destaque nas páginas dos jornais, totalizando 58 matérias jornalísticas, fator
relevante para se compreender a expansão do ensino público no município,
demonstrando sua inserção na política nacional. A criação de escolas passava a gerar
prestígio político já que a população tinha expectativas de ter acesso à educação, num
momento em que o contingente de analfabetos era grande o que preocupava parte das
elites que necessitava de mão-de-obra minimamente qualificada, fator que poderia
entravar o desenvolvimento local.
Destacamos que os anos de 1950 e 1960 foram marcados pela criação de
instituições escolares por todo o país e Ituiutaba também fez parte dessa lógica.
Importante ressaltar que a criação de escolas públicas passou a ser uma das principais
bandeiras dos políticos que buscavam votos junto ao eleitorado portador da expectativa
de acesso a educação. Na inauguração do grupo escolar citado na matéria jornalística
abaixo estiveram presentes autoridades como prefeito, secretários e o deputado estadual
Omar Diniz. Este último ao longo do seu mandato encaminhou vários projetos criando
escolas no município de Ituiutaba:
Solenemente inaugurado o Grupo Escolar Senador Camilo Chaves (...) os presentes de pé cantaram o Hino Nacional. (...) o prefeito Antonio S. Martins sugeriu então que ao 4o. Grupo Escolar de Ituiutaba seja dado o nome de Governador Clóvis Salgado. (Folha de Ituiutaba, 14/01/1956)
Nos anos de 1960, seria o Deputado Luiz Junqueira quem colheria os dividendos
políticos associando sua imagem a criação de escolas na região: “Governador sancionou
lei criando o Ginásio Estadual neste município – Deputado Luiz Junqueira” (Folha de
Ituiutaba, 18/01/1961) E também: “Prédio do Ginásio Estadual de Ituiutaba será
realidade. Ituiutaba está, por assim dizer, com a sua infra-estrutura econômica assentada
e o progresso que nos espera de agora para frente é o mais seguro e promissor. A
construção de um prédio para ginásio estadual aqui, (...) por obra do deputa Luiz A. F.
Junqueira.” (Correio do Triângulo, 29/08/1965) Vemos acima que o progresso a ser
alcançado passava agora pela construção de escolas, essas instituições representavam, a
partir de então, a própria materialização do futuro grandioso, o que atenderia a parte dos
ANAIS -
SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010
99
anseios sociais que viam no acesso a educação a possibilidade de ascensão social.
Na segunda etapa do projeto (período de 1970 a 2000) iniciamos a catalogação
dos jornais Cidade de Ituiutaba (1970 a 1987), Diário Regional (1995 a 2000) e Gazeta
do Pontal (1999) cujas coleções mesmo que incompletas estão devidamente organizadas
no acervo da Fundação Cultural Municipal de Ituiutaba. Destacamos no início dos anos
de 1970 o grande foco dado a criação da primeira instituição de nível superior na
cidade, as notícias falavam dos cursos criados “Escolas superiores aprovadas
definitivamente” (Cidade de Ituiutaba, 17/02/1970) matéria que citava a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, mas a euforia estava em torno dos cursos de engenharia,
administração e pós-graduação que representavam a maior parte das notícias levantadas:
“Faculdades de Engenharia” (Idem, 25/04/1971) ou “Escola de Engenharia sairá
mesmo” (Idem, 24/06/1971) e ainda: “Faculdade de Engenharia autorizada a
funcionários” (Idem, 22/11/1973).
É preciso reconhecer que outros assuntos eram abordados pelos jornais nos anos
de 1970 e 1980, tais como a importância do MOBRAL e das escolas rurais na solução
do problema do grande número de analfabetos na região, a distribuição da merenda
escolar, etc. Porém, a tendência de se discutir com grande ênfase as questões referentes
aos ensinos médio e superior continuou evidente também nesse período, representando
cerca de 36% das matérias jornalísticas catalogadas até o momento. Nos anos de 1980,
acrescente-se as primeiras notícias sobre greve dos professores: “Professores Mineiros
ameaçam entrar em greve na próxima semana” (Idem, 07/05/1986) e: “Greve dos
professores já obteve grande vitória” (idem, 11/06/1986), ainda: “Professores prometem
deflagrar greve” (Idem, 28/04/1987). Nesses anos, as greves por reposição salarial
seriam comuns em função da superinflação em que vivia a economia brasileira.
Ao longo dos anos de 1990, percebe-se uma grande diversificação nas notícias
debatidas pelos jornais, discutindo-se desde as políticas do ministério da educação até as
questões locais de menor relevância como o anúncio da volta as aulas (Diário Regional,
07/02/1995) ou ainda, problemas relacionados ao governo estadual como vemos: “O
governador Eduardo Azeredo garante serão pagos todos os atrasados inclusive alguns
acumulados e diferentes pendentes” (idem, 21/01/1995) ou como a determinação de
eleições para a direção colegiada das escolas no estado de Minas Gerais (Idem,
28/02/1995).
Vemos pelos dados acima que os jornais como fonte de pesquisa primária
revelam muito sobre o universo escolar, permitindo abordagens mais amplas em relação
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
0
ao fenômeno educacional, possibilitando o estudo de concepções pedagógicas que
circulavam pelo imaginário da população local, veiculando ideais de educação, de
professor, de aluno, por exemplo. Recorrendo a Araújo (2005, p.177):
Do ponto de vista temático, a imprensa tem-se revelado em fonte impar, pois sua peculiaridade é revelar o movimento da história (seja ela educacional, social, comercial, industrial, político, literário, econômico, cultural etc.) em sua dinâmica cotidiana, tal como visto por aqueles que decidem o que noticiar. Já afirmou alguém que o jornalismo vive das circunstâncias. Embora, por vezes, o jornal seja encarado como uma fonte suspeita, na verdade é um rico manancial para a investigação histórico-educacional.
Dessa forma, a importância do jornal como fonte nessa pesquisa está no fato de
que sua atividade não consiste apenas em transmitir, mas, igualmente, em gerar
acontecimentos, compondo-os com elementos de uma visão bastante particular do
mundo, somatória de subjetividade e de interesses aos quais o jornal está vinculado
(CAPELATO, 1988).3 Diante dessa perspectiva:
O trabalho do historiador, portanto, pode e deve estar bem próximo daquele exercido pelo jornalista. Ambos utilizam os fatos e voltam-se para a análise do real. A perspectiva do jornalista, contudo, é conjuntural, construindo mais uma memória coletiva, enquanto o historiador busca a observação de longa duração, esperando encontrar as explicações para toda a estrutura, numa análise mais profunda e ampliada. Mas a atitude de curiosidade, de busca dos fatos e da explicação está presente em ambos (GONÇALVES NETO, 1997).
O historiador deve estar atento a quem está por detrás das noticias, pois o jornal
sempre foi espaço de defesa das forças políticas e de interesses dos proprietários, de
forma que as matérias são lançadas de forma estratégica, assim, há a interferência não
apenas dos elementos subjetivos de quem produz, mas também dos interesses aos quais
o jornal está vinculado. Os que duvidam do valor dos jornais de época como fonte de
pesquisa historiográfica alegam a interferência das ideologias no ato de noticiar. De
fato, as ideologias perpassam todas as páginas de qualquer jornal. Não há como ignorá-
las ou fugir delas. Contudo, as ideologias não interferem apenas na veiculação de
notícias jornalísticas, já que integram todo processo de produção e divulgação de idéias,
3 Lembremos que, até o início da década de 70, os jornais, sobretudo os do interior, ainda eram um dos principais veiculadores de discursos e imagens, ficando atrás do rádio que ultrapassava a barreira do analfabetismo, por meio da difusão oral. A televisão só passaria a dominar o mercado da informação mais tarde (MILANESI, 1978).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
1
em todos os tempos e lugares. O estranho seria, justamente, se os jornais fossem isentos
ou neutros (CAPELATO, 1988).
A utilização dos jornais nas pesquisas em história da educação tem relação com
o novo fazer histórico que decorreu das mudanças na dinâmica social, com a imersão de
sujeitos até então, pouco presentes na história oficial. Historiar passou a ter uma
amplitude maior do que se fazia tradicionalmente, de forma que o uso de
documentação oficial, de dados quantitativos, levantamento de datas e personagens
ganhou a contribuição de outros testemunhos do passado, enriquecendo-se o ofício do
historiador que passou a melhor recuperar as relações que os homens estabeleceram
entre eles em épocas passadas.
Nesse sentido, buscou-se documentação que se aproximasse mais do corpus
teórico utilizado, enriquecendo a análise através da utilização de descrições das
medidas governamentais na área da educação, os atores principais deste processo, em
nível local e estadual, a ação da elite política local e as relações de poder existentes, a
ideologia vigente e o discurso que a justifica, o cotidiano da escola, dos alunos, dos
profissionais da educação, o ideal de sociedade projetado, as funções explicitadas para
a educação, os temas malditos ou "esquecidos", a posição dos veículos de comunicação,
etc.
Para este tipo de preocupação o jornal é uma fonte que não pode ser descurada. Sua grande vantagem - e ao mesmo tempo desvantagem - é a grande quantidade de informações que concentra num mesmo espaço. A importância do historiador e da perspectiva teórica impõem-se exatamente por esta falta de organicidade na tematização dos periódicos. Jornal é notícia, é momento, é mercadoria e não pode ser direcionado apenas a um tipo de público, o que reduziria sua área de influência, seu mercado - consequentemente o lucro do editor (GONÇALVES NETO, 1997).
Por fim, entendemos que a importância desse projeto consiste na ampliação das
fontes para a pesquisa histórico-educativa local, especialmente, em função de que a
preservação da documentação escolar oficial é ainda bastante precária em todas as
regiões do país o que faz com que a pesquisa histórico-educativa se utilize de outras
fontes tais como a oral e a jornalística. Acreditamos que as iniciativas de salvaguarda de
diversificadas fontes de informação sobre a cultura das escolas ocorrem pela
constatação da escassez dos acervos escolares, não existindo no interior das escolas o
hábito da guarda da documentação produzida no seu cotidiano, de forma que
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
2
anualmente, cadernos/relatórios de planos de aula são descartados, e em muitos casos
queimam-se papéis antigos com a justificativa de que são “velhos” não tendo validade
como documento.
Dessa maneira, muito pouco dos registros oficiais das escolas e praticamente
nada das produções escolares de professores e alunos foi preservado. Essa prática tem
prejudicado em grande medida o acesso a memória escolar, uma vez que muitas práticas
das gerações passadas acabam por desaparecerem com o descarte desses arquivos.
Assim, cremos que a digitalização das matérias jornalísticas ao longo dessas cinco
décadas de grandes mudanças no campo da educação contribuirá para o resgate de
elementos fundamentais para a história da educação local, constituindo-se em banco de
dados disponível a toda a comunidade. A opção por disponibilizar as notícias sobre o
universo escolar na internet é importante também no sentido de se estabelecer
interlocução com outros pesquisadores da área, contribuindo para se construir análises
comparativas entre contextos diversificados que envolvem as questões histórico-
educativas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, J.C.S., GATTI JR, D. (orgs.). Novos Temas em História da Educação Brasileira: Instituições Escolares e Educação na Imprensa. Campinas, SP: Autores Associados; Uberlândia, MG: EDUFU, 2002. ARAUJO, José Carlos S.; GONÇALVES NETO, Wenceslau; INÁCIO FILHO, Geraldo & GATTI JUNIOR, Décio. “Educação, Imprensa e Sociedade no Triângulo Mineiro: A Revista A Escola, 1920-1921”. História da Educação, Pelotas (RS), 2 (3): 59-93, abr. 1998. CAPELATTO, Maria H.R. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto-EDUSP, 1988. CAPELATO, Maria Helena, Imprensa, uma mercadoria política. História e Perspectiva. Uberlândia: nº 4, jan/jun, 1991. CATANI, Denice Barbara & BASTOS, Maria Helena Camara (Org.). Educação em Revista: A Imprensa Periódica e a História da Educação. São Paulo: Escrituras, 1997. CONTIER, Arnaldo D. Imprensa e Ideologia em São Paulo: 1822-1842. Petrópolis (RJ): Vozes, 1979. CÔRTES, Carmen D.C. Ituiutaba Conta a sua História. 2ª ed. Ituiutaba, EGIL, 2001. DINES, Alberto. O Papel do Jornal: uma releitura. São Paulo: Summus, 1986.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
3
GONÇALVES NETO, Wenceslau et alii. Educação e Imprensa: análise de jornais de Uberlândia, MG, nas primeiras décadas do século XX. Revista de Educação Pública, 1997, Cuiabá, nº 6. JOSÉ, Emiliano. Imprensa e Poder: ligações perigosas. São Paulo: Hucitec, 1996. LIMA SOBRINHO, Barbosa. O Problema da Imprensa. São Paulo: EDUSP, 1997. LINHARES, Joaquim Nabuco. Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte: 1895-1954. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995. LUSTOSA, Isabel. O nascimento da imprensa brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. MARTINS, A.L. e DE LUCA, T.R. (Orgs.) História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. MELO, José Marques de. A Opinião no Jornalismo Brasileiro. Petrópolis (RJ): Vozes, 1994. PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. A imprensa periódica como uma empresa educativa no século XIX. Caderno de Pesquisa, Cortez, n. 104, p. 144-163, jul. 1998.. SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1977. SCHWARTZMAN, Simon “Educação básica no Brasil: a agenda da modernidade” in Estudos Avançados, São Paulo/USP, vol.05, no.13, 1991, pp.49-60. WIRTH, John D. O Fiel da Balança: Minas Gerais na Federação Brasileira 1889-1937. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982. FONTES:
� Coleções dos Jornais:
• “Gazeta de Ituiutaba” (1949 a 1952);
• “Folha de Ituiutaba” (1952 a 1964);
• “Correio do Pontal” (1956 a 1959);
• “Correio do Triângulo” (1959 a 1965);
• “Cidade de Ituiutaba” (1966 a 1987);
• “Município de Ituiutaba” (1967 a 1970);
• “Gazeta do Pontal” (1999) • “Diário Regional” (1995 a 2000)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
4
CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA EM ITUIUTABA-MG: DA
GÊNESE A CONSOLIDAÇÃO (1965-1990)
Nicula Maria Gianoglou Coelho Universidade Federal de Uberlândia
Em 1965, no Pontal do Triangulo Mineiro, havia grande demanda por oportunidades de acesso a educação escolar na região, pois as vagas públicas oferecidas eram bastante restritas, assim, foi pela atuação de lideranças políticas locais, associada a articulação de sua primeira diretora, Guaraciaba Silvia Campos - professora de acordeom, instituiu-se em 25 de novembro, por meio da lei n.3595, o Conservatório Estadual de Música em Ituiutaba, que iniciaria suas atividades em sede improvisada, a partir de 1966. A instituição escolar deve ser observada como apenas uma das possíveis práticas educativas que determinada sociedade desenvolve, de forma que o estudo histórico das escolas como objeto singular deve contribuir para a compreensão do processo educacional global, promovendo avanço do conhecimento, dessa forma, a dimensão da identidade de uma instituição somente estará mais bem delineada quando o pesquisador transitar de um profundo mergulho no micro e, com a mesma intensidade, no macro. Para elaboração desse trabalho, utilizamos das fontes impressas (atas, registros, jornais, etc), iconográficas (fotos de ex-alunos e do arquivo da escola), além do recurso da história oral. Palavras-chave: Música, Conservatório, Evolução.
No momento em que se discute a Educação Musical seus múltiplos espaços em
âmbito nacional é de suma importância conhecer e resgatar a história de instituições
educacionais que se dedicaram a formação artística em Minas Gerais. Ressalta-se que o
referido estado é o único estado da federação a criar escolas públicas seriadas para esse
tipo de ensino. Neste contexto o objetivo central desse trabalho é apresentar reflexão
quanto a criação e consolidação do Conservatório Estadual de Música “Dr José Zóccoli
de Andrade”, no período de 1965 a 1990, instituição escolar implantada na cidade de
Ituiutaba- MG.
A contextualização histórica quanto a origem dos Conservatórios remete
segundo Silva (1997) ao período da Revolução Francesa, séculos XVIII e XIX. A
educação musical era prioridade dentro da sociedade francesa enquanto sinal de cultura
e estatus, as famílias abastadas possuíam professores particulares para educar seus
filhos. Já as escolas de Ensino Musical das igrejas e catedrais eram os únicos meios de
acesso dos populares à música, neste político da história francesa, tais escolas foram
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
5
fechadas. No entanto, em uma importante iniciativa, o capitão do Estado Maior do
Exército Francês, Bernard Sarrete criou um corpo musical, de quarenta e cinco músicos
para a Guarda Nacional, executando cantos e hinos revolucionários nas festas públicas
em Paris.
A escola de música militar oferecia ensino gratuito aos filhos dos soldados e oficiais da Guarda Nacional, o ensino era composto por duas lições semanais de soffejo e três de instrumentos. A escola passou a Instituto Nacional de Música até se transformar no Conservatório de Paris, a partir da Lei de 3 de Agosto de 1795. Segundo Silva (apud Fernandes, 1997:65-6).
De acordo com Harnancout, até o final do século XVIII a musica era um
diálogo, uma declaração, uma linguagem de sons de um mestre que dominava o
instrumento e a forma de expressar-se a partir da arte de tocar, que ensinava todos os
aspectos de técnicos a um aprendiz. A medida da evolução social, ocorre mudanças de
estilos, os conceitos e as idéias sofrem um crescimento e transformações orgânicas.
Percebe-se, então, que esta contextualização possibilitam rupturas, questionamentos e
modificações na relação mestre aprendiz. Harnancourt (1988) afirma que tal relação é
alterada pelo fato de que a educação musical passa a ser instituída a partir de uma
instituição, o que remete a formalidade na aprendizagem.
Esta revolução é percebida a partir do momento em que a educação informal do
mestre é institucionalizada nos projetos pedagógicos do Conservatório, enquanto única
instituição autorizada a ministrar o ensino da educação musical formal.
No Brasil a analise da origem e o processo de desenvolvimento das instituições
escolares é fundamental para a compreensão da cultura de um povo, situado em um
contexto sócio-histórico determinado, enquanto origem política como colônia de
Portugal. A mescla é considerada riquíssima a partir do ponto em que os ameríndios
aqui existentes já possuíam cultura musical própria, no contato com o europeu,
principalmente durante a catequização dos jesuítas houve a oportunidade de mesclar as
duas culturas. Já a partir do contato com os africanos a produção musica no Brasil passa
a ter uma contextualização específica pelo fato de que a riqueza e ritmo característico da
raça negra despontaram com maior especificidade devido até mesmo ao número maior
de negros africanos em relação a população branca no país. Outra questão a ser somente
lembrada é o fato de que a música fazia parte da cultura negra em todas as esferas,
enquanto que nas casas de famílias de origem portuguesa, somente os mais abastados
tinham este acesso.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
6
Lange (1966) constatou então, em relação à produção musical, enquanto
profissionalização da música no Brasil, que seus criadores foram os próprios mulatos,
na maioria de origem humilde, desde que já existia em 1720 um relativo número de
cantores e instrumentistas da Região de Minas Gerais, alguns deles, certamente,
provenientes da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro devido a rápida urbanização em
conseqüência das jazidas de ouro. Esses músicos, com seu gosto e paixão, bem como
uma apurada técnica na interpretação de difíceis composições, conduziram a música ao
apogeu nos anos de 1787-1790, o que possivelmente lhes propiciou o contato com obras
européias. O exercício musical parecia ter uma função específica – o ensino da música,
para esses músicos, que eram recebidos pelas corporações existentes, como a Casa do
Mestre de Música, numa certa correspondência ao Conservatório na Europa, segundo
Lange.
De acordo com Kiefer (1985), a formação desses músicos tinha um caráter
particular, na casa do professor, e eles atuavam em conjuntos, eventualmente solistas,
sendo a Igreja a grande empregadora. No período colonial brasileiro não se pensava na
formação de músicos solistas, o que foi modificado no século XIX, principalmente, pela
vinda da corte portuguesa ao Brasil e a abertura dos portos em 1808; ocorreu assim
“uma ruptura da música em nosso país (id, ibid:15).
Lucas (1980), em estudos realizados no Rio Grande do Sul, observou que no
século XIX os músicos eram profissionais (atividade pública e ensino da música) ou
amadores (educação refinada, adorno, deleite); este últimos intensificaram sua
participação a partir de 1860.
Na passagem do século XX, despontaram dentre os amadores os profissionais
virtuoses, músicos de classe dominante que se serviram da música como profissão,
basicamente; o músico virtuose, o compositor, o cantor e/ou o professor. Nesse
momento surgiram escolas de músicas especializada neste ensino que expediam um
diploma. Data de 1908 o primeiro Conservatório de Música no estado do Rio Grande do
Sul, que integrava o Instituto Livre de Belas Artes atual Instituto de Artes da UFRGS.
Como observa Kiefer (1985) o Rio de Janeiro, como capital do Brasil encontrava-se
numa situação de crescente comércio e importação de bens culturais, principalmente de
países europeus e a formação de uma classe médica estratificada fatores esse
responsáveis pelo surto de pianos na cidade, de início imperando em apresentações
estritamente familiares e depois em recitais públicos.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
7
Andrade (1987) comenta que no Brasil do século XIX o piano era cultuado nos
saraus, até que em 1841, a instância de Francisco Manuel, Dom Pedro II, fundou o
Conservatório de Música que segundo Haas (1991), tornou-se em 1848 o Instituto
Nacional de Música, atual Escola de Música da UFRJ, responsável pela formação de
inúmeros pianistas e compositores.
Na década de cinqüenta, ocorreu a criação dos conservatórios públicos mineiros,
por iniciativa do então governador, Dr. Jucelino Kubitschek de Oliveira, conforme
relata Gonçalves (1993).
O quadro abaixo apresenta a trajetória de criação e institucionalização dos
conservatórios em Minas Gerais.
LOCALIZAÇÃO ATO DE CRIAÇÃO
DATA ATO DE OFICIALIZAÇ
ÃO
FUNCIONAMENTO COMO
ESCOLA ESTADUAL
São João Del Rei Lei n.811 13/12/51 - Marco de 1953 Uberaba Lei n.811 13/12/51 Lei 1.119
03/11/54 Encampado pela
Lei 4.556 de 06/09/67
Diamantina Lei n.811 13/12/51 Outubro de 1970 Visconde do Rio Branco Lei n.811 13/12/51 - Abril de 1953 Juiz de Fora Lei n.811 13/12/51 - Janeiro de 1955 Pouso Alegre Lei n.825 14/02/55 - Setembro de
1954 Leopoldina Lei n.1123 03/11/54 - Janeiro de 1956 Montes Claros Lei n.1239 - - Março de 1962 Uberlândia - - Lei n.2374
07/04/61 Acampado no ano de 1967
Ituiutaba Lei n.3595 25/11/65 - Agosto de 1967 Araguari Decreto
24331 22/03/85 - Março de 1965
Varginha Decreto 24373
22/03/85 - Março de 1965
Fonte: GONÇALVES, Lília Neves. Educar pela música. Dissertação. P.38.
Quinze anos mais tarde, no Pontal do Triângulo Mineiro, na cidade de Ituiutaba,
através de projeto do então Deputado Luiz Alberto Franco Junqueira e do ideal
comunitário tão bem representado na pessoa da professora de acordeon, Guaraciaba
Silvia Campos, criou-se, em 25 de novembro de 1965, no governo de José de
Magalhães Pinto, conforme a Lei nº.3.595, o Conservatório Estadual de Música de
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
8
Ituiutaba, situado à Avenida 15, nº.1.388, autorizado a funcionar pela Portaria nº.11/66,
de 23 de fevereiro de 1966.
O objetivo do presente trabalho não é apenas o de registrar o passado e/ou o
presente, por meio de uma narrativa baseada em fontes, mas de compreender e
interpretar a própria educação praticada em uma dada sociedade e que se utiliza das
instituições escolares, como um espaço privilegiado para executá-la. Dentro deste
objetivo a de se considerar a especificidade a ser traçada pois, investigar a trajetória do
Conservatório desde sua concepção, instituição, até o início da década de 1965 a 1990,
atentando-se para os interesses que motivaram sua criação, além de conhecer a política
educacional e as propostas pedagógicas que subsidiaram a educação ofertada pelo
Conservatório, situar o Conservatório no contexto educacional ituiutabano, mineiro e
nacional é essencial para perceber sua relevância. Pois a singularidade das instituições
educativas mostra e esconde como ocorreu e/ou ocorre o fenômeno educativo escolar de
uma sociedade.
Mergulhar no interior de uma Instituição Escolar, com o olhar do historiador, é ir
em busca das suas origens, do seu desenvolvimento no tempo, das alterações
arquitetônicas pelas quais passou, e que não são gratuitas; é ir em busca da identidade
dos sujeitos (professores, gestores, alunos, técnicos e outros) que a habitaram, das
práticas pedagógicas que ali se realizaram, do mobiliário escolar que se transformou e
de muitas outras coisas. Mas o essencial é tentar responder à questão de fundo: o que
esta instituição singular instituiu? O que ela instituiu para si, para seus sujeitos e para a
sociedade na qual está inserida? Qual é o sentido do que foi instituído? Qual é o
significado de instituir? Dar formação, educar, instruir, criar, fundar.
Interpretar o sentido daquilo que elas formaram, educaram, instruíram, criaram e
fundaram, enfim, o sentido da sua identidade e da sua singularidade.
As instituições escolares têm também uma origem quase sempre muito peculiar.
Os motivos pelos quais uma unidade escolar passa a existir são as vezes a unidade
escolar que surge em decorrência da política educacional em prática. unidade escolar
somente se viabiliza pela conquista de movimentos sociais mobilizados, ou pela
iniciativa de grupos confeccionais ou de empresários. A origem de cada instituição
escolar, quando decifrada, costuma nos oferecer várias surpresas.
Públicos bastante desiguais. Há também a diferença em suas procedências
espaciais ou socioeconômicas. São alunos de um determinado bairro, de uma
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
10
9
determinada região e alunos que, em cada instituição, pertencem em sua maioria a uma
mesma classe social.
O público de uma instituição escolar traz para dentro dela uma certa cultura e
um conjunto de valores que podem estar muito próximos ou muito distantes da cultura
escolar oficial. Isto faz com que os desafios pedagógicos de cada instituição sejam
únicos, o que interfere profundamente no projeto pedagógico de cada unidade escolar.
A identidade de uma instituição escolar a torna singular.
Segundo Gil (1999:9), pode-se entender o método como um “caminho para se
chegar a um determinado fim”. E método científico como um conjunto de
procedimentos intelectuais e técnicos dotados para se atingir o conhecimento”. Para que
seja possível o desenvolvimento da pesquisa propõem-se a pesquisa em fontes como
documentos oficiais, artigos de jornais que circularam no período que tratam do objeto
aqui investigado, além das fontes orais, estudos de atas, fontes iconográficas.
A partir da pesquisa proposta verifica-se a importância de se aprofundar no
estudo da origem da instituição como meio de preservação da memória enquanto
componente fundamental para a dimensão humana.
Observa-se que o indivíduo moderno tem em sua maioria perdido pontos de
referência quanto o seu contexto social e histórico o que o tem tornado um ser muitas
vezes antisocial, ou ainda, com profundas marcas emocionais desta dissocialização,
como as síndromes, as depressões e tantas outras patologias modernas.
A memória remete o ser humano ao meio ao qual ele pertence e, é possível
perceber que o Conservatório Estadual de Música “Dr.José Zoccoli de Andrade” tem
relevância social, política, econômica, mas principalmente emocional para os indivíduos
do município de Ituiutaba, algo percebido a partir da procura por vagas, da participação
dos professores e alunos em eventos comunitários, dos projetos propostos pela
instituição junto aos vários segmentos municipais, como Brincarte e o Coral.
Desde modo se percebe na realidade é que essas escolas são um campo fértil
para a pesquisa cientifica acadêmica e análise da formação profissional oferecida pelas
Instituições de Ensino Superior, além de absorver grande parte da mão-de-obra
especializada oriunda das academias.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Conservatórios estaduais: arte e emoção como aliados da educação em Minas Gerais. Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Educação de Minas, 2002.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
0
FERNANDES, Gisélia. A origem do conservatório nacional superior de música e de dança de Paris. (Monografia). Rio de Janeiro: Academia de Música, 1997. GATTI JUNIOR, Décio. INACIO FILHO, Geraldo Inácio (orgs.). História da educação em perspectiva: ensino, pesquisa, produção e novas investigações. Campinas: Autores Associados, 2005. GONÇALVES, Lilia Neves. Educar pela música: um estudo sobre a criação e as concepções pedagógico-musicais dos Conservatórios Estaduais Mineiros na década de 50. Dissertação (Mestrado), Instituto de Artes. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1993, 179 p. HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons. Caminhos para uma nova compreensão musical. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988, 272p. LIMA, L. O. Estórias da educação do Brasil: de Pombal a Passarinho. 3.Ed.Rio de Janeiro: Brasília, 1997 Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.especial, p.20-27, ago.2006 – ISSN: 1676-2584
CULTURA POPULAR: AÇÕES E REFLEXÕES SOBRE O PATRIMONIO IMATERIAL NO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
André Luis Parreira (FACIP/UFU) [email protected]
Andréa Azevedo Oliveira (FACIP/UFU) [email protected]
Thaís Parreira de Freitas Oliveira (FAPEMIG/UFU) [email protected]
INTRODUÇÃO
Este artigo se insere nas reflexões concernentes ao Patrimônio Imaterial no
ensino escolar, que tem como objeto de estudo uma escola pública de Educação Básica,
situada no município de Ituiutaba/MG, que completou quatorze anos e tem como missão
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
1
a formação integral e prática dos valores morais, preparando o aluno cidadão para uma
vida feliz e participativa.
O estudo se justifica pela valorização da cultura popular, pelo significado dado à
arte, por meio da prática pedagógica que se estende além da sala de aula, com atividades
prazerosas que despertem o interesse e a expectativa do educando e dos membros
envolvidos e comprometidos com a educação.
A pesquisa tem como objetivo geral: tecer reflexões sobre o patrimônio
imaterial, principalmente na perspectiva histórico-cultural no Pontal do Triângulo
Mineiro.
E, assim, tem como objetivos específicos: contribuir no processo educativo
inserindo os alunos na realidade cultural; compreender as historicidades das
representações culturais seja voltado para as artes, teatro ou dança; buscar um ensino
direcionado para sujeitos históricos, propiciando um conhecimento mais amplo da
realidade em que vivem, com atividades prazerosas e fora do âmbito da sala de aula.
A pesquisa se justifica tendo em vista que o espaço escolar é um multiplicador
dos aspectos relevantes do conhecimento, da valorização e da conscientização do
Patrimônio Imaterial, assim pode-se afirmar que é importante mostrar aos educadores e
educandos a necessidade do desenvolvimento deste estudo para proporcionar um melhor
entendimento, uma melhor conscientização e fortalecimento de uma memória local,
enaltecendo a cultura popular.
Dessa forma, a instituição escolar, como unidade social, ímpar, única, possui
formas de organização e funcionamento com peculiaridades próprias, a qual busca sua
identidade construída em sua trajetória histórica, com o intuito de proporcionar um
sistema de ensino que possa ser um fator de mudança social dentro do limite social-
institucional, objetivando, também, valorizar a memória da cultura de um modo geral.
A metodologia utilizada constituiu-se da pesquisa bibliográfica, de acordo com a
fundamentação de alguns teóricos citados ao longo do artigo e ainda, por meio de
leituras de alguns acervos literários do IPHAN e UNESCO; permitiu-se na investigação
a análise documental e entrevista semi-estruturada que trouxeram relevância para o
estudo em coerência com a práxis dos graduandos, autores deste estudo.
PATRIMÔNIO IMATERIAL NO ENSINO ESCOLAR NA PERSPECTIVA
HISTÓRICO-CULTURAL NO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
2
O patrimônio imaterial no ensino escolar e seus programas viabilizam projetos
de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do
patrimônio cultural que busca estabelecer parcerias com instituições dos governos
federal, estadual e municipal, universidades, organizações não-governamentais,
agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura, à pesquisa,
revelando a abertura da escola para a comunidade, gerando um sentimento de identidade
e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana.
A instituição escolar investe no patrimônio cultural, novas abordagens
metodológicas são exigidas na área educacional e, assim, reconhece-se o interesse
social, a atitude de preservação e investigação. Nesse contexto, ampliam-se os estudos e
o ensino da história da educação e da história cultural, divulgando o patrimônio escolar
e educativo.
Tem-se a escola como uma unidade social, que possui formas de organização e
funcionamento com peculiaridades próprias, construídas em sua trajetória histórica na
busca de sua identidade escolar e pretende a construção de um sistema de ensino em que
possa constituir em fator de mudança social dentro do limite institucional social que
possui.
E, nessa práxis pedagógica, promove-se a apropriação da cultura humana em que
a escola, como instituição social, provê a educação sistematizada que difere da
administração capitalista na busca da lucratividade, a administração escolar torna os
processos educacionais mais abertos e democráticos.
O patrimônio cultural imaterial é transmitido de geração em geração e,
constantemente, está sendo recriado pelas comunidades e grupos em função de seu
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história nada mais é que todo
registro e toda a produção humana no contexto histórico, que devem ser preservada,
mas acima de tudo respeitada.
Isso pode ser visualizado na explicitação do IPHAN (2006):
O registro é antes de tudo, uma forma de reconhecimento e busca a valorização desses bens, sendo visto mesmo como instrumento legal que, ”resguardadas as suas especificidades e alcance, equivale ao tombamento. Tombam-se objetos, edificações e sítios físicos; registram-se saberes e celebrações, rituais e formas de expressão e os espaços onde essas práticas se desenvolvem. (IPHAN, 2006, p.272)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
3
A história contribui na construção de uma memória mais democrática do
passado, como afirma Thompson (1992, p. 20): “toda história depende, basicamente, de
sua finalidade social”. Assim, o patrimônio histórico-cultural instaura um tipo de
mediação entre a cultura herdada e a cultura reconstruída, percebe-se um elo entre o
passado e o presente.
A educação como apropriação da cultura humana e, a escola como instituição
que provê a educação sistematizada, difere da administração capitalista que busca a
lucratividade, enquanto a administração escolar busca mudanças significativas nas
relações de poder em todas as áreas de ação política e cultural tornando os processos
educacionais mais abertos e democráticos. Neste sentido, compreendem-se os tipos de
relações existentes frente às diversidades culturais, econômicas, políticas e sociais.
Assim, a educação básica como “direito de todos”, tem como missão criar
oportunidades para que os educandos se desenvolvam, construam e reconstruam o
saber, resultados da prática pedagógica e de sua gestão democrática. “É na conjugação
entre as lutas políticas de largo alcance e a qualificação de cada uma das nossas escolas
que estaremos construindo a democratização da escola pública” (BUENO, 2001, p.
107).
Nesse sentido, a educação brasileira há de se pautar pela liberdade e pelos ideais
de solidariedade humana, o que poderá possibilitar a unidade escolar com o seu espaço
de autonomia para a construção de práticas. Portanto, em relação à melhoria da
qualidade do ensino no Brasil, o sistema educacional busca atualizar-se diante às
inovações, despertando o seu interesse em direção aos critérios para um ensino de
qualidade, abordagens dinâmicas e interativas, oportunidades aos professores para sua
formação de forma crítica-reflexiva, uma liderança estimulante, com compromisso para
resgatar o processo do ensino-aprendizagem.
A escola, em seu papel de transformação, que mudou a sua função social,
também passou a exigir mudança na sua organização, no seu funcionamento bem como
no seu projeto político e pedagógico em que o trabalho em equipe e a participação de
todos os profissionais da educação têm objetivos comuns e definidos pelo coletivo da
escola.
A educação, no momento atual, revela a importância da escola com abertura
para a comunidade, espaço para que todos possam opinar, sugerir, que as vozes se
manifestem com liberdade. Desse modo, os envolvidos tornam-se conscientes de que as
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
4
mudanças na área educacional são essenciais para a concretização de uma gestão
democrática, descentralizada e que a autonomia da escola se constrói com a participação
efetiva, de toda a comunidade.
A escola pública presta serviço à comunidade, reforça sua identidade cultural e
legitima o seu papel social. Assim, percebe-se uma coerência no processo pedagógico,
oportunizando o educando a compreensão do valor da escola e de sua cultura para a sua
formação integral. Entende-se que a gestão democrática trata-se da participação crítica
na construção do projeto político-pedagógico e na sua gestão.
Desse modo, o projeto político-pedagógico busca a melhoria da qualidade do
ensino e fortalece as relações entre a escola e o sistema pedagógico e é através deste
documento elaborado pelos profissionais da educação e sua comunidade que é
construído e vivenciado pelos envolvidos com o processo educativo.
Segundo Veiga (1997):
O projeto político-pedagógico tem sido objeto de estudos para professores, pesquisadores e instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal, em busca da melhoria da qualidade do ensino. [...] A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma suas responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe dêem as condições necessárias para levá-la adiante. Para tanto, é importante que se fortaleçam as relações entre escola e sistema de ensino (VEIGA, 1997, p. 11).
O projeto político-pedagógico é fundamental nas escolas para a melhoria da
qualidade do ensino, como um compromisso definido coletivamente. O projeto político-
pedagógico constitui-se em processo democrático de decisões para a organização do
trabalho pedagógico na escola como um todo e na sala de aula, e sua relação com o
contexto social e atualmente os projetos políticos e pedagógicos das escolas foram
reformulados abordando disciplinas direcionadas ao patrimônio imaterial.
Desse modo, o papel do professor envolvido nessa área é percebido em sua
prática pedagógica e o relacionamento com a comunidade escolar é de grande
importância. No momento da elaboração e construção do projeto político-pedagógico,
deve ser reforçada a necessidade de realçar o espaço para a cultura.
No que concerne ao professor deve haver uma interação com a equipe
profissional, no sentido de contrapor-se à fragmentação do trabalho pedagógico e sua
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
5
rotinização, passar por reflexões e análises da ação educativa, da estrutura
organizacional, do currículo, do tempo escolar, e das relações de trabalho.
Para Veiga (1997):
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político, cultural e social por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade (VEIGA, 1997, p. 13).
As ações educativas e as características necessárias para o cumprimento das
mesmas são definidas no projeto político-pedagógico. No projeto político-pedagógico
pode-se visualizar a intencionalidade da escola, a preparação para que o educando torne
um cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.
O envolvimento de todos que participam, direta ou indiretamente, do processo
educacional buscarão alcançar os objetivos propostos, de acordo com o empenho
coletivo, para a realização das ações e das relações culturais. A participarem da
organização escolar sentem-se responsáveis pelos resultados conquistados e, assim,
constroem a sua autonomia e preservam sua cultura.
Somente por meio da participação em equipe que os profissionais “culturais”
podem superar o exercício do poder individual e promover a competência, respeitando
os demais profissionais e aceitando a diversidade de posicionamentos.
Outro avanço relevante, em relação à preservação do Patrimônio Imaterial, é a
promulgação do Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, que institui o Registro de
Bens Culturais de Natureza Imaterial, define um programa voltado especialmente para
estes bens.
Nesses termos, institui o Artigo 1º do Decreto 3.551/2000:
Art. 1º - Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. § 1º - Esse registro se fará em um dos seguintes livros: I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; IV - Livro de Registro dos Lugares, onde
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
6
serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. § 2º - A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira. § 3º - Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo (BRASIL, 2000, p.1).
O decreto rege o processo de reconhecimento de bens culturais como patrimônio
imaterial, institui o registro e, com ele, o compromisso do Estado em inventariar,
documentar, produzir e registrar conhecimentos apoiando a dinâmica dessas práticas
socioculturais. É dada a importância de promover e proteger a memória e as
manifestações culturais representadas, em todo o mundo, por monumentos, sítios
históricos e paisagens culturais.
A Constituição Federal de 1988 trouxe para o nosso ordenamento jurídico a
vanguarda dos conceitos internacionais de patrimônio cultural e a preservação dos
valores culturais brasileiros, conforme a transcrição do Artigo 216:
Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I. as formas de expressão; II. os modos de criar, fazer e viver; III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, p. 98).
Dessa forma, não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo, há
muito mais, contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em
diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, recriados
coletivamente e modificados ao longo do tempo e o espaço escolar abre as portas para a
preservação e valorização desse patrimônio, onde a docência está desmotivada e busca
uma melhoria no setor educacional.
A ESCOLA MUNICIPAL “AURELIANO JOAQUIM DA SILVA – CAIC: OBJETO DE ESTUDO
A Escola Municipal “Aureliano Joaquim da Silva” – CAIC foi criada através do
Decreto Lei Municipal 3.181 de 09/01/1996, tendo sido o seu funcionamento autorizado
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
7
através da portaria SEE nº 1057/96, MG: 26/10/96. Esta Escola está sediada no CAIC –
Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, no Bairro Novo Tempo II, na
Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175, para atender ao subprograma da Educação Escolar e
da Educação Infantil. Com isto, busca oferecer condições para que o processo de
atendimento às crianças e adolescentes e de integração dos vários serviços públicos
indispensáveis ao pleno desenvolvimento da infância e da adolescência ocorra, com o
envolvimento da família e da comunidade, na responsabilidade conjunta do Estado, da
Sociedade e da Família. Sendo assim, a Escola Municipal “Aureliano Joaquim da Silva”
– CAIC é um subprograma da Unidade de Serviço (U. S.).
A Escola Municipal “Aureliano Joaquim da Silva” - CAIC surgiu com o início
da terraplanagem em 1994 e prosseguiu sua construção até janeiro de 1996. O CAIC
iniciou suas atividades em fevereiro de 1996, com seis turmas de 4, 5 e 6 anos e doze
turmas de Ensino Fundamental, na Escola Estadual Maria de Barros, no período
vespertino, até a data de sua inauguração.
Em 1993 foi institucionalizado o Programa Nacional de Atenção Integral à
Criança e ao Adolescente – PRONAICA, que tem como referência básica, o disposto no
Artigo 227, da Constituição Federal. O PRONAICA é entendido como um conjunto de
ações básicas de caráter sócio-educativo, orientadas pela concepção da Atenção
Integral, em ambientes previamente planejados, preparados e organizados.
O CAIC foi construído em comunidades onde não existem serviços sociais,
foram desenvolvidos oito subprogramas, que são: Proteção Especial à criança e à
Família; Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente; Esportes; Cultura; Educação
para o Trabalho; Alimentação; Educação Infantil; Educação Escolar.
Na gestão do Presidente Itamar Augusto Cautiero Franco e do Ministro da
Educação e do Desporto Maurílio de Avelar Hingel, a pedido do Deputado Federal
Romel Anízio Jorge e com o apoio do Prefeito João Batista Arantes, Ituiutaba integra-se
ao Programa do PRONAICA, para atender a pedagogia do PRONAICA em Ituiutaba.
O CAIC se tornou grande, graças ao trabalho de uma competente equipe,
transformando sonhos em realidade, trabalhando com os pequeninos da Educação
Infantil com amor e carinho, iniciando os pequenos no mundo das letras e dos sonhos
dos livros. O Ensino Fundamental a cada dia vence os desafios e desafia as crianças e
adolescentes a descobrir um mundo cheio de maravilhas, o mundo do conhecimento.
Os núcleos diversificados assim se apresentam e mostram a sua eficiência:
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
8
- Núcleo da cultura - transforma sonho em realidade, movimento em arte, som
em beleza, e através da dança, teatro, música e arte enche os olhos de cor, beleza e
alegria, como se pode visualizar nas fotos 1 a 3.
- Núcleo do trabalho - ensina o caminho do aprendizado para todos em qualquer
idade e das mãos vazias faz brotar o trabalho que ao homem faz muito bem;
Foto 1 – Atividade cultural: música
Fonte: Registro da Escola (2010)
Foto 2 – Atividade cultural: dança
Fonte: Registro da Escola (2010)
Foto 3 – Atividade cultural: teatro
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
11
9
- Núcleo do esporte - descobre e incentiva talentos, mostra que o corpo é um
instrumento de trabalho e que pode vencer limites, mostra um lado da vida lindo e cheio
de oportunidade;
- Núcleo da alimentação e manutenção - preparam com amor e cuidado o
alimento, proporciona um ambiente limpo e adequado, para que educadores e
educandos possam usufruir de tantas coisas e que, às vezes, nem dão conta de sua
presença;
- Núcleo da saúde - cuida de cada um, não apenas alunos, mas de todos os
moradores do bairro, com seu trabalho melhora a qualidade de vida.
Tem, ainda, o projeto Pequenos Horticultores, que trabalha para a formação de
adolescentes, mostrando o quanto é importante o trabalho dos que produzem, com isso
moldando caráter e formando cidadãos conscientes.
O suporte tecnológico proporciona o acesso a um mundo mágico e
desconhecido, aproximando alunos, professores e comunidade às novas tecnologias.
E, também, o projeto “entre na roda”, através da arte, enche a estrutura física de vida
nos finais de semana.
A missão do CAIC é preparar o aluno cidadão para uma vida feliz e participativa,
através da educação integral e da prática de valores morais, resgatando a dignidade do
ser humano, garantindo-lhe o direito à cidadania.
PROCESSOS METODOLÓGICOS
A construção do estudo desenvolvido foi direcionada a leituras de alguns
acervos literários do IPHAN e da UNESCO, bem como a utilização de uma vasta
bibliografia acadêmica, de autores elencados no decorrer do presente artigo que nos
proporcionaram certo grau de compreensão da realidade.
A partir das reflexões analisadas, visitamos o Centro de Atenção Integral à
Criança e ao Adolescente (CAIC), fundamentando-se na proposição adotada e elaborada
pelo coordenador e orientador Professor Dr. Eduardo Giavara, integrante do corpo
docente do curso de História, da Universidade Federal de Uberlândia bem como
conhecer e vivenciar o projeto apresentado que visa o aperfeiçoamento do conceito de
sujeito histórico em seu processo educacional e os sujeitos históricos ativos,
responsáveis.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
0
Durante as visitas ao CAIC, onde foram difundidas várias atividades do
Patrimônio Imaterial, pode-se observar o trabalho desenvolvido pelo Núcleo da Cultura
da Escola, onde os alunos buscaram proporcionar a verdadeira valorização do referido
patrimônio, embora falte a presença de política local para essa e outras questões
relevantes à educação.
Atualmente, no núcleo da cultura, oficinas de músicas, teatro, artes plásticas,
pintura, danças em estilos variados, dança afro, capoeira e congada são oferecidas e tem
em sua biblioteca um acervo literário para a prática de leituras e pesquisas referentes a
essa área.
O pressuposto básico para o trabalho foi de apresentar um projeto, bem como
preparar e contextualizar o patrimônio histórico cultural, em forma de Seminário, onde
o foco principal englobava a produção e desenvolvimento do projeto. A prioridade foi o
debate acerca do projeto em andamento e através de leituras projetadas em datashow,
promoveu-se um diálogo que possibilitou um aprofundamento do tema e a compreensão
da importância de se preservar os bens culturais no espaço escolar bem como a
importância do trabalho desenvolvido pela escola, no que tange o Patrimônio Imaterial.
Prosseguindo as visitas ao CAIC, esta última, teve como objetivo a finalização
do projeto em questão, ressaltando que além deste objetivo, deve-se ir além, ajudar na
construção de um saber criativo e reflexivo, discutir e retomar sempre a relação da
construção da identidade, da educação patrimonial e a prática da cidadania.
No que concerne às atividades educativas, as produções escritas relacionadas aos
textos analisados e à avaliação do processo ensino-aprendizagem realizou-se,
posteriormente, pelo docente responsável da disciplina.
A entrevista foi realizada na escola, com a participação de cinco profissionais.
Seguiu-se um roteiro com cinco questões sobre a importância do trabalho desenvolvido.
Estes sujeitos foram denominados de Sujeito 1 a 5, para preservar as suas identidades.
No momento da entrevista nos foi oferecido um material muito rico, com fotos das
atividades culturais realizados nesta escola, com os alunos aqui matriculados e com a
participação da comunidade escolar.
RESULTADO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Os resultados obtidos na entrevista apresentaram a percepção dos profissionais
da educação desta escola, objeto de estudo deste trabalho, que muito contribuiu para a
concretização do mesmo.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
1
E, assim, quanto à questão referente à pergunta 1:“Quais os fatores positivos que
esse trabalho envolvendo o patrimônio imaterial vem trazendo para a educação de
nossas crianças em Ituiutaba”, obteve-se a seguinte resposta:
Um fator positivo desse trabalho tem sido a valorização dos profissionais envolvidos com a educação em suas várias possibilidades e o destaque na aquisição de uma aprendizagem rica e interessante através das atividades culturais (Sujeito 3).
Percebe-se, o papel reconhecido do patrimônio cultural imaterial e o que
propicia ao ambiente escolar, como o conhecimento e a compreensão da preservação da
identidade e memória e da relevância que o processo representa para a comunidade
escolar.
A questão 2: “Como se dá a relação do professor-aluno com essa cultura
popular?” Esta questão contribuiu significativamente para os objetivos de nosso estudo
diante da resposta:
Nossa cultura brasileira é aberta a todos sem distinção, é criativa e atraente. Ao professor cabe instigar e aperfeiçoar o potencial dos alunos. Os jovens e as crianças são curiosos e aprendem rápido e, ao final, todos saem com algo novo na bagagem, incluindo, claro, os profissionais envolvidos no processo criativo (Sujeito 5).
O Sujeito 5 atua como professora neste processo mostra grande responsabilidade
e entusiasmo ao desempenhar seu papel, conhecimento quanto à importância das
atividades culturais na escola e no envolvimento que atinge a todos. Esclarece, ainda,
sobre o interesse que causa nas crianças e nos jovens e, mais, a facilidade que os
mesmos têm em aprender. Percebe-se, assim, que todos participam efetivamente e, ao
mesmo tempo, aprendem; não só os discentes como os docentes.
Outra questão que merece destaque em sua resposta é a de número 3: “Quais são
as maiores dificuldades encontradas pelo núcleo da cultura do CAIC, para manter viva
essas aulas e, principalmente, o interesse e a motivação das crianças?”
Entre as respostas dos sujeitos entrevistados pode-se perceber nas palavras
abaixo uma compreensão construída na prática pedagógica como se pode visualizar:
Profissionais especializados para contratações de determinadas aulas como, por exemplo, violão, teclado, dança, capoeira; a volta do aluno extra-turno às vezes é impedida por alguns pais que definem outras
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
2
tarefas para os filhos no horário que não estudam regularmente (Sujeito 1).
Na resposta obtida pelo Sujeito 1 pode-se constatar que nem sempre o núcleo da
cultura desta escola é compreendido pelos pais como deveria, o que dificulta aos
profissionais darem continuidade aos seus projetos educativos. Ao mesmo tempo
percebe-se a dificuldade de profissionais especializados para atuarem na escola, sendo
estas aulas as mais procuradas pelos alunos, como exemplifica a entrevista, a falta de
professores especializados de violão, teclado, dança, capoeira, que se apresentam como
dificuldades para o bom andamento dos projetos culturais.
Dentre as perguntas, esta se apresentou muito significativa para o estudo, a
questão de número 4: “Você acha importante trabalhar esse eixo (patrimônio imaterial)
dentro do âmbito escolar? Por quê?”
Pode-se constatar na resposta do entrevistado que assim respondeu: “Sim. Para
destacar outros valores que envolvem o ser humano: habilidades, emoções, sentimentos,
criatividade, envolvimento com o outro, expansão de conhecimentos” (Sujeito 2).
Percebe-se a amplitude desse eixo no contexto escolar e a sua abrangência no
que se refere aos valores que envolvem o ser humano, como as emoções necessárias ao
processo de aprendizagem, que os profissionais da educação souberam, dentro da
metodologia aplicada, viabilizar a inserção da aprendizagem no processo emocional
como parte integrante da vivência de cada um.
A Coordenadora do Núcleo da Cultura do CAIC, professora Débora Azevedo de
Oliveira salienta que
Cidadania é melhorar as condições desses alunos, e nós professores tem o dever de fazer essa questão chegar a sua totalidade e sensibilizar esses educandos da importância do projeto político pedagógico no seu dia-a-dia em prol da melhoria dos mesmos perante a sociedade. Isso é que nos move, é acreditar no trabalho do educando nesse Projeto de grande importância para essa comunidade (2010).
Além da observância aos princípios e fins da Educação Nacional, a Escola tem
suas atividades centradas na Pedagogia da Atenção Integral, isto é, um conjunto de
ações e atividades articuladas que objetiva garantir à infância e à adolescência de baixa
renda, seus direitos fundamentais, seu desenvolvimento integral, com vistas ao preparo
para o exercício da cidadania.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
3
Outra questão que se tornou relevante é a de número 5: “Deixe uma mensagem
para os futuros historiadores e educadores que visam preservar esse tipo de cultura”. E,
a resposta que veio de encontro com nossos anseios e objetivos do estudo pode-se
realçar no discurso abaixo:
Nós, educadores, temos a obrigação de acreditar no ser humano e em todas as suas possibilidades. Temos em nossas mãos a responsabilidade de formar cidadãos e, acima de tudo, pessoas valorosas que acreditam em si mesmas e num mundo melhor (Sujeito 4).
Mais uma vez, os sujeitos entrevistados mostraram com sabedoria o resultado de
seu trabalho e o valor do mesmo para a sociedade em que se insere; respeitando as
habilidades e capacidade de cada um, acreditando e valorizando o ser humano, e, assim,
mostrando o seu compromisso com a educação e a função social da escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As principais conclusões deste estudo mostraram que os profissionais da
educação são influências positivas e essenciais para o bom desempenho dos programas,
sentindo-se motivados a aceitar as responsabilidades cabíveis em sua atuação, bem
como encontrar caminhos diante da pouca valorização e conhecimento do Patrimônio
Imaterial na sociedade.
Entre as principais conclusões apontam que, atualmente,os programas sobre o
Patrimônio Imaterial Cultural alcançaram em suas funções uma dimensão bastante
abrangente, pois orienta, analisa, avalia o andamento da escola, de sua responsabilidade,
estendendo à realização do processo em toda área pedagógica.
Pode-se perceber nas falas dos sujeitos entrevistados que os fatores que
envolvem o patrimônio imaterial traz para a educação fatores positivos, dentre eles, a
valorização dos profissionais, o respeito à capacidade dos educandos, a diversidade das
atividades e a flexibilidade na prática educativa, a aquisição de uma aprendizagem
envolvendo as emoções vivenciadas por cada participante, por cada envolvido no
projeto e nas atividades culturais.
Evidencia-se, também, a importância desses projetos na escola democrática, de
profissionais que participam efetivamente, com compromisso e responsabilidade, que se
envolvem com a organização escolar por um todo, sem fragmentar a estrutura
institucional.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
4
O comprometimento com a organização e o funcionamento das áreas culturais e
pedagógicas, de todos os profissionais em exercício, devem se desenvolver com
competência a serviço dos objetivos da escola, e, assim, exercerem o seu papel com a
qualidade do ensino que todos desejam.
Nesta perspectiva, a escola se define pelas relações sociais que desenvolvem e,
como instituição social, ímpar, fruto da própria trajetória histórica tem como atividade
educacional a preparação do cidadão para a vida da cidadania e uma efetiva
conscientização desta ação humana no fazer histórico e social.
Como instituição social, além do acesso à cultura do conhecimento, socialmente
valorizado, deve-se constituir um espaço de convivência social que favoreça e estimule
a formação da cidadania.
Constata-se, ainda, que o ser humano possui habilidades diferenciadas de
aprendizagem. O aluno adquire na música, no teatro, na dança ou em outra arte, a
capacidade de concentração, descontração, socialização, memória, coordenação motora
dentre outros, tudo isso colabora positivamente com seu desenvolvimento.
Uma escola democrática e participativa e voltada para a cultura é um horizonte a ser
buscado, e este caminho é um aprendizado coletivo, um trabalho realizado por todos
numa interação dos concretos e das pessoas da unidade escolar.
Dentre os objetivos propostos e pensando no seu contexto mais amplo, conclui-
se que no espaço escolar, um multiplicador dos aspectos relevantes do conhecimento, da
valorização e da conscientização do Patrimônio Imaterial pode-se afirmar e mostrar aos
educadores e educandos que se torna necessário o desenvolvimento deste estudo,
proporcionando um melhor entendimento, uma melhor conscientização e fortalecimento
de uma memória local, enaltecendo a cultura popular.
REFERÊNCIAS ANDRADE, M. de. Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. Revista do IPHAN, n. 30, p. 270-287, 2002. BRASIL. Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. (RT Códigos). ________. Decreto nº. 3.551, de 04 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, define um programa voltado especialmente para estes bens.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
5
BUENO, José Geraldo Silveira. Função social da escola e organização do trabalho pedagógico. Revista Educar Curitiba. n. 17, p. 101-110, 2001, Editora da UFPR. THOMPSON, Paul. A voz do passado – história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. VEIGA, I.P.A. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas, SP: Papirus, 1995 (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). OBRAS CONSULTADAS: ABREU, R.; CHAGAS, M. (Org.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 56-76. ARANTES, A. A. Patrimônio imaterial e referências culturais. Tempo Brasileiro. v. 1, n. 147, p. 129-139, 2001. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos.SP: Cortez, 2004. CASTRO Maria Laura Viveiros de, FONSECA, Maria Cecília Londres. Patrimônio imaterial no Brasil. Brasília: UNESCO, Educarte, 2008, 199 p. FONSECA, M. C. L. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, IPHAN, 1997. HORTA, Maria de Lourdes Parreira; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia de educação patrimonial. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial, 1999. UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Paris: UNESCO, 2003. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540por. pdf.>. Acesso em: 10 Dez. 2011. FONTE DOCUMENTAL: ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO JOAQUIM DA SILVA-CAIC. Histórico. Ituiutaba, 2006. Arquivo da Escola Municipal Aureliano Joaquim da Silva. FONTES ORAIS: Débora Azevedo de Oliveira-2010
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
6
DOS PRIMÓRDIOS DA ESCOLA TIRADENTES: E SUA CONTRIBUIÇÃO A
COMUNIDADE DO CÓRREGO DO AÇUDE
Leila Aparecida Azevedo Silva (UFU -CNPQ) [email protected]
Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro (UFU) [email protected]
Este trabalho tem como objetivo apreender a gênese da Escola Rural Arquidamiro
Parreira de Souza localizada na fazenda Rancharia, Córrego do Açude no município de
Ituiutaba MG, compreendendo os reflexos dessa gênese nos dias atuais. Ressalta-se que
as escolas rurais contribuíram com a alfabetização de várias gerações, pois a maioria das
pessoas morava no campo; acompanhando a realidade nacional. O período nacional de
deflagração das campanhas de alfabetização foi o ano de 1932, segundo PAIVA (2003)
este ano foi o marco nacional dessas campanhas, dentre estas a “Cruzada Nacional de
Educação”. No ano de 1940, vieram para o referido município 14 escolas rurais,
juntamente com a segunda escola pública Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da
Silva, segundo os dados da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de
Ituiutaba-MG (1941 a 1951). A autora acima, ainda, relata que, “em 1937, das 29.406
escolas existentes no país, 26.638 (90,58%) eram escolas isoladas, típicas do meio
rural”.
Assim, ALVES (2009) assinala que, no documento da II Conferência Nacional
por uma Educação no Campo, realizada em 2004, são apontados alguns problemas
referentes à educação no campo: ausência de escolas para atender a demanda de
crianças e jovens; infra-estrutura precária; falta de políticas públicas para valorização do
magistério; bem como ausência de apoio às iniciativas de renovação pedagógica, via de
conseqüência, a existência de docentes leigos. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística recenseado em 1° de Setembro de 1940) a situação educacional
de Ituiutaba apresentava as seguintes características: 9.640 pessoas sabiam ler e
escrever, 19.152 não sabiam ler nem escrever, de modo que considerável parcela da
população era analfabeta. No final da década de 1930, especificamente em 1938, foi
instalada na cidade uma máquina de beneficiar arroz, o incentivo à produção de arroz
inaugurou o terceiro ciclo econômico, considerado o mais importante, pois outorgou à
cidade o título de “Capital do Arroz” na década 50. Já no início dessa década, o
município foi considerado o maior produtor de arroz do Estado de Minas Gerais,
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
7
destacando-se, também, com uma grande produção de milho4. Há que se registrar,
entretanto, que, até o ano de 1953, o município de Ituiutaba compreendia uma superfície
de 6.080 Km2, tendo como distritos os atuais municípios de Gurinhatã, Capinópolis,
Ipiaçu e Cachoeira Dourada, e uma população de 55.000 mil habitantes, sendo que
apenas 15.000 mil viviam na zona urbana, demonstrando a preponderância da vida rural
sobre a vida urbana.
A ESCOLA TIRADENTES: Práticas Escolares (1941 a 1970)
Na década de 1940 surge no córrego do açude a Escola Municipal Tiradentes pelo
decreto lei 073 em 25 de novembro de 1941, nesta época o proprietário das terras era o
fazendeiro Antonio Luiz de Carvalho. Em 8 de janeiro de 1944 o Senhor Arquidamiro
Parreira se faz proprietário da fazenda Gambá (córrego do Açude) que contava com
apenas cinco alqueires, região a qual se localizava a escola Tiradentes. Era uma escola
de sala única, funcionava da pré-escola a quarta série onde a professora tinha que
desdobrar-se e ministrar aulas para cinco séries diferentes. Esta escola não tinha água
encanada as professoras traziam de suas casas para ás crianças beber, além de fazer a
merenda, e até a limpeza da escola.
O quadro era dividido em cinco partes e o material que tinha na escola era giz,
lápis, cadernos e depois tiveram uns livros que se chamavam “meus compêndios” que
segundo dicionário se trata de um manual de disciplinas e posteriormente uma cartilha
chamada “cartilha da infância” com letras cursivas e de imprensa bem grandes.
Normalmente os professores moravam na região, alguns estão ali até hoje nos relataram
que era um ensino excelente que a quarta série era melhor do que a oitava de hoje. A
didática da época era de transmissão de conhecimentos os professores detinham o saber
e podiam até castigar as crianças que não dava conta das lições, colocavam-nas de
joelho no milho, davam reguadas, e exigiam a tabuada na ponta da língua. Como a
região contava com vários moradores a população escolar era muito grande, cada
fazenda tinha uma escola que na realidade era uma única sala de aula que eles
chamavam de núcleo, aos arredores da escola Tiradentes havia também os núcleos do
Sr. Mário, D.Clarice, da D.Aurora e várias outras, todas se dispunham apenas de uma
única sala de aula, porque cada agregado que morava ali nunca tinha menos de sete
filhos por isso era preciso várias salas para atender á peculiaridade regional. Estas
4 Em dados de 1952 a produção de arroz foi de 1.700.000 sacas de 60 kilos, o milho de 865.000 sacas de 60 kilos, 600.000 arroubas de algodão e 80.000 sacas de feijão. (Revista Acaiaca, 1953).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
8
pequenas escolinhas se reuniam e comemoravam suas festividades na escola Tiradentes,
reunindo os moradores da região. Na formatura dos alunos que concluíam a quarta série
era celebrada uma missa, os alunos se vestiam de branco para receber o diploma e
depois iam comemorar na festividade oferecida pela escola.
Foto1: Registro fotográfico da reunião de alunos para as festividades escolares na escola rural Tiradentes
Fonte: Arquivo particular D. Maria Delminda (fazenda rancharia década de 1950)
Estas pessoas que aparecem na foto são os alunos e as professoras que iam para
as comemorações realizadas na escola Tiradentes, onde se reuniam todas escolinhas e os
moradores da redondeza. Durante anos viveram assim, a escola representava tudo na
vida deles. Segundo ex-alunos entrevistados, o grande dia para eles era o dia que iam se
formar e para a ex-aluna M.P a mesma relata:“nóis vinha tudo lindo, nossa! Quando a
mãe via o filho se formá nossa! Era uma alegria maió do mundo né!( M. P. Fazenda
Rancharia, dez.De 2009, entrevista concedida a pesquisadora deste estudo no dia 10 de
dezembro de 2009).
Ainda segundo a entrevistada o “ensino era tão bom que quando terminava a
quarta série nóis podíamos dar aulas”(M.P 10 de dez. de 2009), e o ensino que teve na
época, hoje serve para ensinar suas netas” nos salientou a entrevistada.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
12
9
Ela nos diz também que não tinham tempo para brincar, ao chegar na escola iam
lavar as mãos, entravam para a sala e só saiam uns dez minutos para lanchar. Podemos
comparar esta realidade local com a Nacional, a existência de professores leigos, a
precariedade dos prédios escolares e de sala única e as campanhas focalizando apenas a
alfabetização, na zona Rural não era diferente. Isso como tudo não é por acaso podemos
identificá-las com os ideais políticos da época. PAIVA aponta
(...)em 1969 os prédios escolares contavam com 134.909 ou 76% eram rurais... manteve-se a predominância das unidades escolares rurais, embora o número de salas fosse maior na zona urbana, onde eram construídos grupos escolares existentes ao invés de escolas isoladas.(2003, p.159)
Para a zona rural escolas isoladas sem água encanada, esgotos, instalações
elétricas, para o meio urbano grupos escolares com várias salas de aula, embora a
população rural sobrepunha a urbana, esta contava com escolas bem equipadas para
atender e não só alfabetizar, mas formar os filhos da elite.
A seguir, apresentaremos os primórdios do Ginásio Agrícola que originou-se em
1970 e havendo mais tarde o processo de nucleação da Escola Rural Tiradentes. Assim,
ambos passaram a pertencer o mesmo prédio e a escola Tiradentes passa a denominar-se
de Ginásio Agrícola sem perder sua função didática, de oferecer estudos para alunos dos
iniciais do ensino fundamental. Posteriormente em 2oo7, estas escolas acima
mencionadas novamente mudarão os seus respectivos nomes para Escola Municipal
Arquidamiro Parreira de Souza.
DOS PRIMÓDIOS DO GINÁSIO AGRÍCOLA A DENOMINAÇÃO DE ESCOLA
MUNICIPAL ARQUIDAMIRO PARREIRA DE SOUZA
Como vimos para o meio típico rural eram escolas isoladas, como meio de
conter a migração para a cidade, o povo se contentavam com que á eles cabiam, escolas
precárias, falta de material didático e o diploma da quarta série. Na região havia um
fazendeiro, o Sr. Arquidamiro político do conhecimento de todos ali, que nasceu, se
criou e viu seus filhos crescer naquele lugar. Em 1952 D. Maria Delminda muda-se para
a fazenda Rancharia e especialmente para a casa do Senhor Arquidamiro, onde foram
viver juntos e tiveram sete filhos. O Senhor Miro, começou sua vida ali criando porcos,
bezerros, galinhas á meia com os vizinhos de suas terras, conforme descrição da Ata
particular do Sr. Arquidamiro.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
0
Imagem 1: Ata particular do sr. arquidamiro parreira.
Fonte: Arquivo pessoal D. Maria Delminda, esposa.
Segue a transcrição da ata do Sr. Arquidamiro Parreira “Em 7 de Dezembro de 1944 fiz um financiamento no Banco do Brasil da importância
de 5.800 cruzeiros. Em 11 de junho de 1945 peguei 30 vacas de João Sinhá para criar a
meia. Em 27 de Março de 1957 comprei de Eurílio 150 novilhas por 37.500 trinta e sete
mil cruzeiros”.
E assim o fazendeiro aumentava seus bens e se constituía um renomado
fazendeiro chegando a ter oitenta e quatro alqueires, vinte e dois agregados em suas
terras, estes eram seus funcionários que lá moravam e prestavam serviços na lida da
roça. Na época a atividade econômica da região era a agricultura, produzia-se muito
arroz, milho, soja, tinha engenho eles fabricavam melado, rapadura e até açúcar, como
citei outrora nossa cidade chegou a ter o titulo de “capital do arroz”. Segundo D. Maria
viúva do fazendeiro ela foi morar na fazenda em 1952, teve sete filhos nascidos e
criados na região e alguns deles moram ali até hoje. O Senhor Miro, viu á necessidade
de construir uma escola pois seus filhos precisavam continuar os estudos, a escola
Tiradentes e várias outras da região se encontravam em uma situação muito precária, foi
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
1
em busca de construir uma escola. Saia montado num cavalo em busca de materiais de
construção, pedia a uns tijolos a outro cimento, contava com seu prestígio político e
todos na região e redondeza ajudaram-no.
Imagem 2: Ata de encerramento do ano letivo no ano de 1969.
Fonte: Fonte particular da escola Arquidamiro
Ata de encerramento do ano letivo de 1969 da escola Tiradentes, promovendo
todos os alunos ao segundo ano primário. A seguir a transcrição da 1ª parte da ata: Ata
de encerramento do ano letivo da Escola Tiradentes, situada no córrego do Açude de
propriedade do SR. Sebastião Paulino Dutra. Aos dias cinco do mês de dezembro de
mil novecentos e sessenta e nove, ás quinze horas houve o encerramento do ano letivo
ás determinações do diretor da secretaria de educação e cultura da prefeitura de
Ituiutaba, encerrei o ano letivo no estabelecimento por meio dessa ata no qual estão
todos alunos aprovados...
Conforme documentos da secretaria de educação cria-se no ano seguinte o
ginásio agrícola Municipal de Ituiutaba pela lei 1338 em 23 de outubro de 1970,
denominado Ginásio Agrícola Municipal Antônio Bento Parreira no córrego do Açude
em fazenda de propriedade de Arquidamiro Parreira de Souza. Iniciando suas atividades
em 1971 contando com prédio próprio. (Dados da Secretaria Municipal de Educação de
Ituiutaba).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
2
Foto 2: prédio do ginásio municipal agrícola, 1970.
Fonte: Ituiutaba em Revista, Edição comemorativa 1969/1970.
Prédio do Ginásio Agrícola na fazenda do SR. Arquidamiro Parreira de Souza
(1970), podemos ver que se tratava de um prédio de alvenaria com nove janelas amplas,
mas, corredores com pouca ventilação, por ser na zona rural não tem árvores em sua
volta, nem um pátio para o lazer dos alunos.
Já na década de 80, a Prefeitura Municipal de Ituiutaba, cria o cargo de diretor, de
secretário e autoriza a contratação de professores para a instituição de ensino ora
mencionada. A normalização da escola e suas funções legais podem ser apresentadas a
seguir:
“O referido estabelecimento de ensino passou-se a chamar ESCOLA
MUNICIPAL AGRÍCOLA DE ITUITABA DE 1° GRAU (5ª A 8ª série) através da
portaria nº 051/84 de 18-01-84 da SEE/MG, funcionando na localidade já
citada”(Preâmbulo ou Histórico da Identificação da Escola).
Foram criadas disciplinas especiais no currículo do Ginásio Agrícola como:
práticas agrícolas, agricultura e pecuária como assinala PAIVA
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
3
Políticos e educadores manifestavam-se no mesmo sentido: era preciso conter a migração e um dos instrumentos para fixar o homem ao campo era a educação. Não uma educação qualquer mas, uma educação não somente”regionalizada de acordo com os preceitos da Escola Nova, assegurando sua eficiência e penetração, como uma educação especificamente voltada para o meio rural e seus valores.(2003, p.137)
Desde a década de vinte havia uma preocupação em prender o homem a terra e
uma das maneiras era fazê-lo compreender o sentido rural da civilização Brasileira
adaptando os currículos à cultura rural. Em Ituiutaba não era diferente por isso a revista
da época anunciava que no governo da criação do ginásio Agrícola fundava-se uma
escola rural á cada cinqüenta dias
. Em 1966 eleito e empossado um novo prefeito, surgia um programa revolucionário de governo, em perfeita consonância com a nova realidade Nacional. Deu-se ênfase ao ensino em todos os seus graus. A zona rural, principal fonte de nossa economia, sentiu os influxos da nova política educacional através da construção de uma escola rural a cada cinqüenta dias, culminando com a implantação de um ginásio Agrícola que se encarregará de melhorar as condições técnicas e de fixar o homem á terra.(Ituiutaba em revista edição comemorativa 1969-1970, p.74)
Vimos que havia uma intenção política por trás da educação, como há até hoje,
pensa-se em resolver os atuais problemas políticos e nunca em melhorar o ensino, usam
a educação com intenções ideológicas apenas para atender aos seus reais interesses.
Como vimos o 2º objetivo específico da escola mencionava: “Integrar o educando ao
meio, a fim de atender ás pecularidades regionais” (conforme exposto no regimento
escolar). Assim, prossegue-se o histórico da renomada escola quando em 1991 a escola
Municipal Agrícola passa a contar com 2º grau com habilitação em técnico em
agropecuária, tendo como entidade manetedora a Prefeitura Municipal de Ituiutaba. Esta
como representante da instituição solicita a extensão e implantação de 1ª a 4ª série do
ensino fundamental para que seja anexa á resolução nº 7022/92 da Secretaria do Estado
da Educação, eliminando no córrego do Açude as Escolas Municipais Arquidamiro
Parreira, João da Fonseca Filho, Antonio Souza Martins, Tiradentes e Getúlio Vargas,
conforme documento abaixo. Em 28 de Outubro de 1993
Senhor Secretário
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
4
A prefeitura Municipal de Ituiutaba, como representante da Entidade Manetedora da Escola Municipal Agrícola de Ituiutaba, situada na fazenda Córrego do Açude, vem á presença de V. Exa. Solicitar a implantação da extensão de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, para que, anexa a documentação estatuída na Resolução nº 7022/ 92 da Secretaria do Estado da Educação.( Prefeito de Ituiutaba)
Vimos que á agricultura havia perdido seu ápice, o meio rural desestabilizou-se
as famílias migraram para o meio urbano em busca de trabalho, de uma melhor
condição de vida, as escolas unificaram-se pois já não existia mais tantos alunos. E
nada foi feito para mudar esse quadro, a classe popular e muito menos á educação,
nunca foram prioridade das públicas políticas.
Assim, em 1994 implanta-se o ensino primário no Ginásio Agrícola contendo
uma grade curricular de seis disciplinas: português, matemática, Estudos sociais,
ciências, Educação Física, Ensino religioso, Educação Artística e ainda um recreio
dirigido com as disciplinas, ecologia e literatura infanto juvenil. Em meados de 1997 o
SR. Arquidamiro faz a doação legal do terreno onde se localizava a escola agrícola, á
prefeitura Municipal de ITUIUTABA, escritura pública de doação de imóvel rural,
lavrada em 1º de dezembro “cartório do 1º ofício de registro de imóveis C G C M. F. 21
293.410/0001-48 Protocolado nesta data, no livro1- fls 77 sob o n 87902. registrado no
livro 2 leg geral sob o nº R1- 14506 Doação”.( Escritura).
Em 24 de Abril de 2001 o atual prefeito, amplia a escola construindo um
corredor coberto contendo um palco que aparece no meio da foto á seguir e a outra parte
do prédio á direita construiu-se uma biblioteca, uma secretaria e quatro salas de aula. No
lado esquerdo o qual já havia sido construído, funciona atualmente a sala da diretora,
uma sala dos professores, uma sala de aula e a cozinha, não havendo um refeitório.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
5
Foto3: Ampliação do Ginásio Agrícola (24 de abril de 2001).
Fonte: Biblioteca da escola Arquidamiro Parreira de Souza.
Concomitantemente em 2007 sob o decreto da câmara municipal e sancionada
pelo prefeito da época, que por meio da Lei 3.853, de 29 de Maio de 2007, decreta a
modificação no artigo 1º a seguinte sanção: Modifica-se no art. 1º da Lei 1.338, de 23
de outubro de 1970 a denominação do Ginásio Agrícola Municipal de Ituiutaba, que
passa a vigorar com a seguinte redação: GINÁSIO AGRÍCOLA ARQUIDAMIRO
PARREIRA DE SOUZA”.
Neste momento ressaltaremos a importância da escola Arquidamiro Parreira de
Souza para a comunidade do Córrego do Açude.
A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA ARQUIDAMIRO PARREIRA DE SOUZA PARA
A COMUNIDADE DO CÓRREGO DO AÇUDE
O percurso do ginásio Agrícola foi um marco na vida dos Ituiutabanos e da
comunidade local, até hoje a escola tem um grande significado para eles, ela funciona
como ponto de referência para todos. A comunidade lamenta que hoje, o córrego do
Açude conta com apenas setenta famílias, que muitos foram embora em busca de
trabalho na cidade. E que a região foi tomada por plantações de cana, onde vários de
seus animais são encontrados mortos queimados junto com a cana.
A comunidade sobrevive atualmente da pecuária, mais precisamente da venda do
leite, recebem um valor ínfimo por litro vendido, as mulheres levam uma vida sofrida,
acordam ás cinco da manhã para ajudar o marido tirar o leite, além de fazer farinha,
polvilho, artesanato e ajudam a zelar de pequenas plantações de melancia. Uma região
que era muito rica, hoje as pessoas que ali ainda estão lutam com muito sacrifício para
sobreviver. O presidente da comunidade nos disse que a escola é tudo na vida deles, que
quando ele começou o que ele precisava fazer era unir a escola com a comunidade “E
tano ajudano a escola ta ajudano as pessoas da comunidade, a escola ta intercalada
com a comunidade né”.( G. V. G. presidente da comunidade do córrego do Açude) São
pessoas que vêem na escola um refúgio, querem ver os filhos se formar e ser alguém na
vida, nos disseram que os alunos da escola sempre sobressaem nas seleções de
vestibulares, olimpíadas de português, matemática, entre outras. A professora A.L nos
disse que suas filhas estudaram ali, uma é advogada, a outra é nutricionista em Belo
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
6
Horizonte e hoje está exercendo sua profissão e cursando medicina, graças á escola,
disse a professora.
A escola Arquidamiro conta hoje com dezessete professores, uma secretária,
quatro inspetores de alunos, uma diretora, uma especialista, um auxiliar administrativo,
duas cantineiras e três serventes. Houve muita evasão escolar há salas de aula com
apenas oito crianças, no período vespertino funciona da educação infantil ao sétimo ano
do ensino fundamental e no período noturno do oitavo ano do ensino fundamental ao
terceiro ano do ensino médio, um total de apenas cento e trinta e um alunos, nos dois
períodos. A rotina da escola começa ás onze e trinta da manhã, os professores e alunos
se reúnem no pátio, fazem uma oração e vão para a sala de aula, ás quatorze horas tem o
recreio e ás dezesseis e trinta os alunos vão embora, o período noturno começa ás
dezoito e trinta e finalizam ás vinte duas e dez.,diferentemente dos primordios da escola
Tiradentes, mas, demonstrando avanços escolares no contexto escolar ora estudado.
De 1971 a 2004 esta escola teve doze diretores, pois no município estes são
escolhidos pela prefeitura, muda o prefeito muda-se os diretores, é isso ai a educação
serve para atender aos interesses governamentais. Entrevistamos vários professores
todos nos disseram que a escola representa tudo em suas vidas, se emocionaram muito
ao dar o depoimento: DIRETORA: Ah! Minha filha, minha vida é esta escola, sou
apaixonada, faço tudo aqui com muito amor. PROFESSORA 1: Esta escola é um
pedaço de mim!! PROFESSORA 2: Sou aposentada num cargo, falta cinco anos para
aposentar em outro, minha vida foi aqui, aqui, eu acredito na educação, tenho fé que os
políticos vão ver com outros olhos. .PROFESSOR (filho do SR. Arquidamiro) eu moro
aqui desde criança, minha vida é nessa escola, estudei aqui, me formei em biologia na
cidade de Ituiutaba e hoje com muito orgulho sou professor aqui! Sem contar que para
os pais dos alunos e toda comunidade do córrego do Açude a escola também é um ponto
referência na vida deles, é na escola que acontece ás festas, as reuniões e todos os
encontros da comunidade.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
7
Foto5: Foto atual da escola Arquidamiro Parreira de Souza.
Fonte:Foto tirada pela pesquisadora deste estudo dez. 2009.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Como citado outrora este estudo tinha como objetivo apreender a gênese da
escola rural Arquidamiro Parreira de Souza, o que se pode compreender da Gênese é
que essa realidade local se comparava com a Nacional, á existência de professores
leigos, a precariedade dos prédios escolares e de sala única e as campanhas focalizando
apenas a alfabetização na zona Rural. Isso como tudo não é por acaso podemos
identificar isto com os ideais políticos da época para o meio típico rural eram escolas
isoladas, como meio de conter a migração para a cidade, o povo se contentavam com
que á eles cabiam, escolas precárias, falta de material didático e o diploma da quarta
série. Na zona rural escolas sem água encanada, esgotos, instalações elétricas, para o
meio urbano grupos escolares com várias salas de aula, embora a população rural
sobrepunha a urbana, esta contava com escolas bem equipadas para atender e não só
alfabetizar, mas formar os filhos da elite. Quanto á criação do ginásio, a mudança de
nome por várias vezes esse vai e vem, é comum no Brasil, ás políticas públicas “une
uma coisa separa outra”, “põe e tira” para atender seu real interesse, isso é normal á
condição Brasileira. Quanto á escola Arquidamiro o que compreende-se é que ela foi
relevante na vida das pessoas que passaram por ela, muito contribuiu para a comunidade
local, esperamos que os políticos vejam a educação com bons olhos como nos disse a
professora A.L, pois sabemos que ela nunca foi prioridade.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
8
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ALVES, Gilberto Luiz. Análise de uma proposta de escola específica para o campo. In: Educação no campo: recortes no tempo e no espaço (org) – Campinas, SP: Autores Associados, 2009.
CNPq.(2009)Projeto(submetido)“Escolarização pública na região de Ituiutaba-Minas Gerais, nos anos de 1940 a 1950”.Ituiutaba,Universidade Federal de Uberlândia-FACIP/UFU. ITUIUTABA EM REVISTA. Edição Comemorativa, 1969/1970. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA/IBGE. Censo Demográfico/MG/1940/1950. PAIVA, Vanilda. História da Educação Popular no Brasil. Edições Loyola, 6ª Ed. revista e ampliada, São Paulo, 2003. RIBEIRO, Betania de Oliveira Laterza.; SILVA,Elizabeth Farias. Primórdios da Escola Pública Republicana no Triângulo Mineiro. Ituiutaba: Egil, 2003. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER/SMEEL Prefeitura de Ituiutaba. SILVA. Leila Aparecida Azevedo. Dos Primórdios do Ensino Rural no Município de Ituiutaba.Trabalho apresentado nos Anais do VII Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História ISBN 978-85-7078-218-2 P.1-11, 2009. Universidade federal de Uberlândia, Minas Gerais Brasil, EDUFU.(editora da universidade).
ESCOLARIZAÇÃO À SOMBRA DA MAGNOLIA NO INTERIOR DAS GERAES: A GÊNESE DO GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR CLOVIS
SALGADO NOS ANOS DE 1950 A 1960
Thais Parreira de Freitas Oliveira (FACIP/UFU)
[email protected] Andrea Azevedo de Oliveira (FACIP/UFU)
[email protected] Dra.Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro (FACIP/UFU)
INTRODUÇÃO
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
13
9
A presente comunicação trata-se de uma pesquisa em andamento e se inscreve no
campo da história da educação brasileira em geral e na história do município de
Ituiutaba (MG) em particular, sendo vinculada ao projeto intitulado: Escolarização
pública na região de Ituiutaba/M G nos anos de 1940 a 1960 aprovado
pelo CNPq. Propomos construir uma compreensão da institucionalização da escola
pública nesse município — abrangendo especificamente a zona urbana e seus distritos
— para sabermos como esta reverberou no espaço público e entendermos o predomínio
da escola privada laica e confessional nos anos de 1950 a 1960.
O eixo de investigação são as contradições entre um desenvolvimento econômico
ascendente e sua desarticulação com a situação educacional do município, então
precária. Embora a implementação de grupos escolares primários em Ituiutaba date de
1910, esse município não acompanhou a expansão nacional desses grupos na década de
1950, pois esta se manifestou precariamente em todos os âmbitos. No caso específico
deste estudo propõe – se compreender a gênese do Grupo Escolar Governador Clóvis
Salgado. Com o desenvolvimento urbano na década de 1950, a oferta de escolarização
se ampliou, mas não acompanhou tal desenvolvimento.
O processo metodológico está sendo desenvolvido de forma a identificar as
categorias selecionadas, além da análise documental da escola, jornais da época, fontes
orais como entrevistas com ex-diretoras e ex-professoras do lócus investigado, fonte
icnográfica, atas da câmera municipal do período em questão, documentos da
Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba/MG. A referida escola não tinha
prédio próprio, mas já contava com um número relevante de alunos chegando a ter um
total de quinhentos e seis (506).
Enquanto um grupo de alunos assistia às aulas, outro grupo descansava nos
bancos da igreja. Assim, os alunos foram abrigados em uma colchoaria ficando ali por
um longo período. Só depois de muita luta a escola teve seu prédio próprio. Nesse
prisma, os políticos locais assistiam a esse cenário, mas não tomavam as providências
cabíveis, e só bem depois se começa a pensar em criar uma escola, e sem falar que havia
outro grande problema, pois não tinham professores capacitados para atuar no
município tijucano. A seguir abordaremos a pauta sobre os grupos escolares num
contexto mais amplo.
OS GRUPOS ESCOLARES NO CONTEXTO GERAL
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
0
Foi na década de 50 que o Brasil começou a se modernizar. Foi nesta década que
chegou ao Brasil a televisão, ocasionando profundas mudanças nos meios de
comunicação. A imprensa falada ganha corpo com o radio levando informação aos mais
remotos rincões, o mundo passa por uma efervescência cultural atingindo o Brasil com
uma intensa movimentação. O país começa a engatinhar a caminho da modernização,
passando de país agrário, com a maior parte da população morando no campo a
caminhar para a industrialização com a população migrando do campo para as cidades
proporcionando um grande crescimento destas e se urbanizando. Em Habermas
entende-se modernização como
[...] a um conjunto de processos cumulativos de reforço mútuo: à formação de capital e mobilização de recursos; ao desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho; ao estabelecimento do poder político centralizado e à formação de identidades nacionais; à expansão dos direitos de participação política; das formas urbanas de vida e da formação escolar formal; à secularização de valores e normas. (2002, p.5)
Ainda segundo Germani, por modernização entende-se o processo de mudança
sócio-global, no qual se combinam as transformações na esfera produtiva, social e
política:
Concebemos a modernização como um processo global no qual, entretanto, é necessário distinguir uma série de processos componentes. Em cada país, a peculiaridade da transição resulta em grande parte, do fato de que a seqüência, assim como a velocidade, em que ocorrem tais processos componentes, variam consideravelmente de país para país, por causa das circunstâncias históricas diferentes, tanto no nível nacional, quanto no nível internacional. ( 1974, p.8)
Nesse contexto os anos 50 se caracterizaram por uma profunda modificação na
sociedade brasileira que entrava no clima de modernização. Nesta década o Brasil inicia
os primeiros passos para entrar no caminho do desenvolvimento econômico. Foram
anos de intensa movimentação política culminando com a chegada de Juscelino
à presidência, marcado pelos anos de confiança, prometendo modernizar o Brasil. Seu
grande feito que o projetou para história foi a construção de Brasília a nova capital. A
novidade governamental foram seus planos de metas, prometendo governar 50 anos em
5, com projetos voltados à modernização da educação, alimentação, transportes, energia
e indústrias.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
1
[...] o governo de Kubitschek seguiu uma política de nacionalismo desenvolvimentista. Foi uma aproximação pragmática a uma economia já mista, dirigida no sentido se conseguir a mais alta taxa de crescimento possível, encorajando a expansão nos setores tanto privados como públicos. A ênfase maior foi dada às indústrias básicas. Em essência, esta era uma nova fase no processo de substituição de importações, iniciada na mudança do século, acelerada na década de 1930, o que produziu uma virtual auto-suficiência em bens de consumo leves no meio da década de 50.( SKIDMORE, 1982, p. 205)
Foi nesse cenário de desenvolvimento que os grupos escolares começaram a
surgir com mais intensidade trazendo uma nova concepção do educativo escolar dando
espaço a uma nova cultura.
Os grupos escolares e ou instituições escolares surgiram em São Paulo no ano de
1893. Essa modalidade de escolas surgida primeiramente na Europa e nos Estados
Unidos e depois transplantada para o Brasil tinha por objetivo promover modificações e
inovações no ensino primário, ajudando a produzir uma nova cultura escolar no meio
urbano. Está concepção de escola primária, criada inicialmente em São Paulo, nasceu
ligado ao Projeto Educacional Republicano que entendia a educação como instrumento
de desenvolvimento intelectual e moral, requisitos importantes para se alcançar o
progresso nacional. Essa disseminação dos grupos escolares situa-se entre o fim do
Império e a primeira metade da República, inaugurando o novo modelo de ensino
primário no Brasil: as escolas graduadas ou grupos escolares simbolizando também o
inicio da modernização e progresso no país.
Os grupos escolares, portanto, passaram a caracterizar um novo modelo
organizacional de escola que corroborava com as idéias de disseminação do ensino a
toda a população.. Segundo (Ribeiro; Silva, 2009, p. 49) “a concretização dos chamados
Grupos Escolares no território brasileiro marcam a passagem do Brasil monárquico para
o Brasil republicano; indicam uma descentralização de forças culturais, sociais e
políticas para São Paulo e Minas Gerais”.
Assim como no estado de São Paulo outros estados brasileiros incorporaram este
novo modelo de organizar o ensino primário, dentre eles, Minas Gerais, como foi
salientado anteriormente.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
2
Em Minas Gerais, os grupos escolares surgiram segundo a legislação educacional
sancionada por João Pinheiro 5através da Lei nº 439 de 28/09/06 que segundo Araujo
(2006) estabelece dois limites para a explicação efetiva de tal política educacional :
[...] O primeiro limite é o estabelecimento de prioridade às localidades que ofereçam o edifício escolar, terrenos ou somas e dinheiro, como contrapartida ao Estado; no entanto, tal diretriz postula compartilhar com as políticas públicas locais, buscando fazer com que as multiplicidades arquem com o ônus, em atendimento ao norteamento de âmbito educacional. O segundo limite permite enverdar pelas categorias público e privado: de um lado, podem os grupos escolares ser afirmados como expressão de uma política pública estadual, em torno da qual se depositavam esperanças de concretização, tendo em vista revolver determinações estruturais inconseqüentes com o republicanismo e com a democracia etc.( p. 248, 249)
A respeito desse movimento de renovação da escola primária mobilizado pelos
primeiros governos republicanos, pode-se dizer que foi a mais importante reforma até
então realizada na educação primária pública mineira destinada às camadas mais pobres
da população, mostra que a mudança de lugar, físico e simbólico, permitiu a
constituição de uma nova cultura escolar em toda Minas Gerais, possibilitando, com
isso, uma discussão específica sobre o conhecimento escolarizado.
Adentrando o interior do Brasil, mais especificamente em Ituiutaba, município
localizado no Pontal do Triângulo Mineiro, vimos que a preocupação com a instrução primária
era destaque nas manchetes de jornais como vislumbraremos abaixo:
5 João Pinheiro da Silva é um mineiro Serro, que divisa com município de Diamantina, região central do estado, ao norte da atual capital. Nascido em 16/12/1860, falecido em Belo Horizonte, em 25/10/1908, no Palácio da Liberdade, quando exercia o mandato de presidente do estado de Minas Gerais, previsto para o quadriênio que compreendia o período entre 7/09/1906 e 7/09/1910 e foi o autor responsável pela reforma do ensino público primário em Minas Gerais.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
3
Figura: Anúncio sobre o ensino primário em Ituiutaba Fonte: Folha de Ituiutaba, 1953.
A notícia retrata o caos vivido no interior de Minas Gerais, especificamente em
Ituiutaba devido à demanda de alunos sem escolarização primária, com isso, nota-se
que nem todos os municípios acompanharam o movimento de renovação da escola
primária e embora a reforma de João Pinheiro versasse sobre as políticas publicas locais
com o intento de compartilhar ajuda dando atendimento e norteamento no âmbito
educacional, vê-se que as políticas publicas locais tinham outras prioridades deixando a
educação em segundo plano. Abordaremos a seguir a educação no município de
Ituiutaba.
A EDUCAÇÃO NO TRIÃNGULO MINEIRO: A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
Para melhor compreendermos o nosso recorte temporal de 1950 a 1960
discorreremos sobre um breve histórico do município de Ituiutaba, para entendermos o
desenvolvimento educacional no recorte mencionado. Até 1953, o município tinha
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
4
superfície de 6.080 quilômetros quadrados e, como distritos, os atuais municípios de
Cachoeira Dourada, Capinópolis, Gurinhatã e Ipiaçu.
Da população de 55 mil habitantes, 15 mil viviam na zona urbana. No decênio
1935–45, levas e levas de garimpeiros de todas as partes do país engrossaram a
população rural do município graças ao surto minerador no rio Tijuco (que banha o
município), consolidando um primeiro ciclo econômico no município. O incentivo à
produção de arroz inaugurou o ciclo econômico tido como mais importante no
município, cuja cidade-sede — Ituiutaba — ficou conhecida como “capital do arroz” na
década de 1950 (no começo dessa década, o município era considerado o maior
produtor estadual).
O desenvolvimento econômico de Ituiutaba nesse período despertou o interesse
político de tal forma que a cidade foi cogitada para ser a capital federal, conforme
anuncia texto do jornal Folha de Ituiutaba
Conforme vimos anunciados, Ituiutaba tem sido constantemente visitada pelas subcomissões da localização do futuro Distrito Federal. Todos os técnicos e estudiosos que nos visitam não escondem o entusiasmo e as grandes possibilidades de que a região circunda que o nosso município, venha a ser brindada com a preferência da comissão pró-localização da Capital, para sede do Governo Federal. (FOLHA DE
ITUIUTABA, 14 set. 1947).
Assim, a pujança econômica do município chamou atenção de técnicos
pertencentes ao governo federal como possibilidade de ser escolhida como Capital
Federal. Isto explicita a dicotomia existente entre o poder econômico e o precário
investimento a favor de políticas educacionais para a escola pública.
Ora, se a economia do município de Ituiutaba se destacou na primeira metade do
século XX, tal destaque não teve sua contrapartida na educação pública, pois os índices
de analfabetismo eram expressivos, incoerentes com a expansão escolar nacional. Em
parte, essa relação desigual no desenvolvimento resulta do predomínio das escolas
privadas na primeira metade do século XX, pois havia até então duas instituições
públicas.
Desse período até o fim da década de 1960, Ituiutaba e região receberam
migrantes de diferentes lugares. Os fazendeiros precisaram buscar mão de obra de fora
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
5
para trabalhar nas lavouras; o alvo eram as regiões pobres de Minas Gerais6 e o
Nordeste7 — predominantemente Rio Grande do Norte e Paraíba. Os migrantes vinham
em condições precárias em paus de arara; eram analfabetos e desprovidos de condições
mínimas de subsistência. Exerciam trabalho braçal árduo na terra, para fazê-la produzir
em grande escala.
No entanto, o alto índice de analfabetismo acompanhou o crescimento econômico
e populacional, sobretudo na zona rural, onde estava a maior parte da população do
município (TAB. 1). Talvez por isso, em 1937, das 29.406 escolas do país, 26.638
(90,58%) eram isoladas, típicas do meio rural (PAIVA , 2003). Podendo perceber na
tabela abaixo
TABELA 1
POPULAÇÃO RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
ANO POPULAÇÃO
RURAL % POPULAÇÃO
URBANA % TOTAIS
1940 30.696 88% 4.356 12% 35.052
1950 43.127 81% 10.113 19% 53.240
1960 39.488 55% 31.516 45% 71.004
1970 17.542 27% 47.114 73% 64.656 8
Fonte: SOUZA, 2010 (no prelo).
Ainda assim, as escolas rurais9 ajudaram a alfabetizar várias gerações no
município de Ituiutaba. Se a maior parte de sua população morava no campo —
acompanhando a realidade nacional —, entretanto as escolas públicas urbanas também
compuseram o processo de escolarização do município, sendo precária em todos os
sentidos por falta de investimento das políticas públicas nacionais. Constata – se que em
1950 a população era em torno de 53.240 mil habitantes e possuía um índice de
analfabetismo alto, conforme tabela abaixo:
6 Segundo Silva (1997), vieram famílias do município de Luz, do Alto Paranaíba, do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. 7 Cf. SILVA (1997). 8 Nas décadas de 1960 e 1970, a emancipação política de alguns distritos administrados pelo município de Ituiutaba fez decrescer a população; ainda assim, o movimento de urbanização é evidente, como mostram os censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dos anos de 1940 a 1970. 9 Sobre escola Rural ver SILVA, L,A,A. (2009)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
6
TABELA 2
ALFABETIZAÇÃO EM ITUIUTABA EM 1950
PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS
Números absolutos % sobre o total
Discriminação Total Sabem ler
e escrever
Não sabem ler
nem escrever
Sabem ler
e escrever
Não sabem ler
Nem escrever
Quadro urbano Homens 4.032 3.115 917 77,25 22,75
Mulheres 4.445 2.931 1.514 65,93 34,07
Total 8.477 6.046 2.431 71,32 28,68
Quadro rural Homens 18.300 7.116 11.184 38,88 61,12
Mulheres 16.312 5.218 11.094 31,98 68,02
Total 34.612 12.334 22.278 35,63 64,37
Em geral Homens 22.332 10.231 12.101 45,81 54,19
Mulheres 20.757 8.149 12.608 39,25 60,75
Total 43.089 18.380 24.609 42,65 57,35
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, 2007, p. 308.
A tabela demonstra que 57,35% do índice geral não sabiam ler e nem escrever no
município de pujança econômica.
A CRIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR CLÓVIS SALGADO
Conforme citado acima a majestosa cidade trazia o título de capital de arroz e a
precariedade na educação, na década de cinqüenta mais precisamente em 1955, na
câmara os governantes municipais mencionavam a seguinte sansão
Projeto CM/18/55, que dispõe sobre a criação de escolas e professores de autoria do vereador Antenor Tomaz Domingues com a palavra o Dr. Daniel de Freitas Barros que baseado em informações prestadas
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
7
pela prefeitura municipal de que existem 20 escolas paralisadas por falta de professores, acha desnecessária, no momento a criação de mais escolas, que viriam onerar o município.
Posto isso havia uma preocupação em criar mais escolas e o município não
dispunha de professores capacitados que poderiam assumir as salas de aulas, mesmo
assim as autoridades locais viam a necessidade de criar mais um grupo escolar na
referida cidade, pensava-se em expandir e não na qualidade do ensino. Os debates na
câmara frisavam a possibilidade de expansão, mesmo que não conseguissem apoio
governamental, assim mencionavam que
CM/ 1/55, alegando que a situação financeira do município, não permite atender a este encargo, que é da competência do estado. Com a palavra o vereador Sr. Pedro Lurdes de Moraes que diz: “tenhamos ou não auxílio do Estado, necessitamos de mais um grupo escolar”. E pede assim que se vote unanimemente favorável à mensagem. Logo a seguir fala o vereador Sr. Dr. Daniel de Freitas Barros, que, depois de várias considerações sobre a necessidade de mais um grupo escolar para o município, pede que se vote favoravelmente.(ATA DA 11ª SESSÃO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, 16 DE NOV, DE 1955).
Enquanto isso as educadoras tijucanas começavam uma missão de procurar um
local, o qual seria a futura instalação do grupo Escolar Governador Clovis Salgado,
sendo que neste momento não tinham ainda a promessa do Estado de doar um local. A
tenacidade e a coragem dos educadores que estavam à frente para a construção da escola
foram maiores e mais fortes do que a incompreensão dos que faziam o jogo político,
acreditando que para a educação precisa-se de muitas lutas para se chegar às conquistas.
Pensando na possibilidade da criação da escola, D. Maria Moraes que era a diretora
indicada, juntamente com sua auxiliar de diretoria, D. Mirza, foram até o padre João
Avi que era o pároco da igreja responsável pelo prédio dos padres para pedir que ele
alugasse o prédio para que a escola começasse a funcionar. Para a alegria das duas, o
padre disse que alugaria o prédio e que podiam começar a procurar os alunos. Em 1957,
um grupo de dezesseis professoras, lideradas pela educadora Maria Moraes, iniciaram
as matrículas , num trabalho árduo, precorrendo vilas e casas,matriculando um total de
576 crianças, número suficiente para constituirem o 1º corpo discente da escola Clóvis
Salgado que recebeu esse nome para homenagear o governador do Estado, o senhor
Clóvis Salgado.
Sendo assim, pressionados as autoridades locais estudavam a possibilidade de
construir mais um grupo escolar com ou sem o apoio governamental, porque a
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
8
sociedade e as professoras da época mantinham a pressão e não cessavam de lutar pelo
referido grupo. Assim, em 1958 o jornal proclamava:
Figura: Anúncio da construção do grupo escolar - Fonte: Jornal folha de Ituiutaba, 19 de março de 1958. Neste sentido, em reunião na câmara Municipal o pedido foi aprovado por
unanimidade entre as autoridades locais, sendo assim deu-se início aquela edificação.
Logo após este anúncio a cidade recebe a visita do representante do ministério da
educação que discutiram os problemas no que tange a educação do município.
Nesta perspectiva o jornal folha de Ituiutaba anunciava que esteve na cidade nos
primeiros dias da semana mais precisamente no dia 21 de junho de 1958 o Dr. Afonso
de Castro, engenheiro do Ministério da Educação e Cultura que falou do propósito
daquela importante pauta do Governo da União de Construir ainda no ano vigente o
prédio próprio do Grupo Escolar Governador Clóvis Salgado. Ao mesmo tempo o
senhor visitante deu inicio aos entendimentos tendo por o objetivo a doação, para o
município o terreno destinado à referida edificação, que deverá ter uma área de 10.000
metros quadrados (um hectare) e se localizaria possivelmente nos altos da cidade, nas
proximidades da Produtora Industrial. A construção do prédio em questão tem 8 salas
de aula, sala nobre, secretaria, biblioteca e demais dependências, localizadas em um
único pavimento. Seu custo será do valor aproximado de 3 milhões de cruzeiros, moeda
da época, estampando esta edição noutro local, o edital da convocação urgente da
Câmera, para tratar do assunto.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
14
9
Segundo as fontes documentais da escola, a mesma já estava no papel e precisava
se tornar realidade, todavia correntes políticas contrárias impediam a instalação da
escola. De um lado o partido do prefeito da cidade que tinha uma grande resistência em
doar o prédio para o funcionamento da escola e de outro lado o partido do deputado Dr.
Omar Diniz, deputado estadual, que apresentou o projeto para funcionamento da escola
à Assembléia Legislativa do Estado apoiado pelo governador do Estado, o senhor
Clóvis Salgado. Homens políliticos por várias vezes colocava seus interesses
particulares acima dos interesses da comunidade. Conforme o livro comemorativo das
Bodas de Ouro desta Instituição às condições materiais da escola, eram precárias, dentre
as quais se destaca o problema da falta de um prédio próprio para abrigá-la. Como um
ato político e de protesto contra essa situação, as professoras da escola ministraram suas
aulas embaixo de uma árvore magnólia situada na frente da Igreja Matriz de São José.
Com essa atitude, a intenção das docentes era chamar a atenção da sociedade civil e do
poder político da cidade para o problema da falta de um espaço próprio para escola.
Após muitas lutas, a escola ganhou prédio próprio, em um terreno doado por políticos
da época e localizado nas proximidades do cemitério de Ituiutaba; mas a maioria das
professoras não ficaram satisfeita com a construção do prédio nesse local.
O referido município deu início à construção da escola e não se preocupou em
preparar professores para atuarem em tais instituições como havíamos mencionado,
investia-se na expansão e a qualidade ficava à margem dos planos do governo local.
No corrente ano o grupo escolar Governador Clóvis Salgado foi criado pelo
projeto de lei apresentado à assembléia legislativa do Estado, através do então deputado
estadual da região Drº. Omar de Oliveira Diniz, o qual foi aprovado pelo governador
interino do Estado, Drº. Clóvis Salgado.
Ituiutaba já contava com os grupos escolares: João Pinheiro, Idelfornso
Mascarenhas e Senador Camilo Chaves. As escolas particulares eram: Instituto Marden,
Colégio Santa Tereza, Colégio Sao José e Anjo da Guarda. Dentre esses grupos surgia a
4ª instituição escolar pública que visava atender à demanda de uma terra pujante, rica e
em pleno desenvolvimento. Uma vez que
[...] a criação dos grupos escolares era defendida não apenas para organizar o ensino, mas apontando, principalmente, como uma nova forma de reinventar a escola com o objetivo de tornar mais efetiva sua contribuição aos projetos da sociedade, reinventar e escola por meios de novas metodologias e conteúdos, formar, contratar, portanto
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
0
adequar espaços e tempos apropriados para a instrução das crianças (FERREIRA & CARVALHO, 2009, P. 78)
Figura III: 1ª Frente da Escola Clóvis Salgado Fonte: arquivo pertecente ao acervo da Escola Estadual Governadot Clóvis Salgado
A iconografia é referente è primeira fachada da escola e corresponde com a atual,
ou seja, não houve mudanças no que tange à estrutura física . À direita, vemos crianças
se posicionndo para o(a) fotógrafo(a) e à esquera um menino também esperando para
ser fotografado.As crianças descendo das escadarias complementam o cenário para o
registro fotográfico.O uniforme usado na época já não é mais o mesmo, pois o mesmo
mudou com o decorrer dos anos.
Abaixo mostraremos o registro icnográfico do primeiro corpo discente da escola.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
1
Figura IV – Primeiro corpo discente da escola Clóvis Salgado Fonte: arquivo pertecente ao acervo da Escola Estadual Governadot Clóvis Salgado
A iconografia, apresenta crianças na mesma faixa de idade, reunidos no pátio da
escola com o objetvo de serem fotografadas para o registro fotográfico proposto pela
própria escola conforme observação feita no arquivo da mesma.
As crianças em sua maioria expressam sorrisos em função de serem fotografadas.
Observa-se ainda uma proporção no que tange o quantitativo de gênero e faixa etária.
No entanto a presença de crianças negras nesta esola parece ser menor, embora a escola
destinasse ao atendimento a todos os setores da sociedade por ser uma escola pública.A
própria localização geográfica da escola era considerada periferia do município o que
nos leva a compreeensão que este atendimento público também destinava-se à crianças
carentes desprovidas de uma situação finaceira privilegiada. Neste sentido a presença de
crianças brancas supera a de crianças negras.
Depois de muita luta o sonho foi realizado pelas dirigentes da escola e pela
sociedade Tijucana, a diretora Maria Moraes dirigiu a escola durante três anos, de 1957
a 1960, quando se afastou aguardando a aposentadoria. Maria Mirza que era a auxiliar
da diretora, assumiu o cargo com muito empenho e uma vontade enorme de poder
colocar aquela escola tão sonhada a frente dos anseios da comunidade.
Segundo a depoente D. Mirza:
Essa escola foi tão sonhada que não medimos esforços para colocá-la de pé. Nossa, fizemos tanta campanha para comprar materiais para a escola que você nem imagina! Áquela época não podámos contar com verba estadual não, se querámos alguma coisa, tínhamos que correr atrás.Ttínhamos muita garra, fazíamos várias reuniões, que eram feitas a princípio na minha casa para decidir que campaha íamos fazer. Ainda bem que eu podia contar com s professores que sempre me apoiaram e não mediam esforços para ajudar a escola a crescer. (2010)
O corpo docente da escola contava com as seguintes professoras: Judith Andrade,
Maruá Salim Bittar, Nancy Tavares,, Sônia Maria de Andrade, Selma Soares de
Novais, Salma Jorge Cury, Janete Vilela Freitas, Lulu Abdelmur, Alcídia Alves de
Oliveira, Jerônima Gomes de Menezes, Geórgia Maria Abadia e Congeta Pellnus Pinto.
Esse grupo de professoras já será concursado, pois segundo D. Mirza (2010): “ o Estado
já estava exigindo concursos para docentes”.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
2
Figura V: Corpo docente da Escola Clóvis Salgado Fonte: arquivo pertecente ao acervo da Escola Estadual Governadot Clóvis Salgado
Na iconografia observa-se que as professoras vestiam de acordo com o seu tempo
histórico em outras palavras, em um clima de euforia consumista gerada nos anos do
pós-guerra. Contando da esquerda para a direita temos: Geórgia na ponta, em seguida
Nanci, ao meio Sônia, logo após Judith e por último do lado direito, Lulu. A nova
década que começava já prometia grandes mudanças no comportamento, iniciada com o
sucesso do rock and roll e o rebolado frenético de Elvis Presley, seu maior símbolo. Os
cabelos curtos e sorriso nos rosto ,pareciam representar a moça rebelde , mas ingênua e
acima de tudo sonhadora.
O registro fotográfico parece revelar que as professoras pertenciam à sociedade
tijucana e estavam dispostas a lutar pelo Grupo Escolar.
A profissão se misturava-se ao caráter missionário.
Assim, segundo D. Mirza, a partir daí, muito trabalho foi feito, houve um
crescimento horizontal e vertical, onde imprimiu-se uma filosofia humanista, voltada
para uma educação que pensa, age, reflete, onde os sujeitos recebiam uma educação “
para ser mais”, sendo elemento atuante na escola, na família e na comunidade. Os
professores eram dinâmicos e procuravam sempre trazer a realidade vivenciada pelos
educandos como meta para o processo de aprendizagem. A depoente enfatiza que
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
3
Nessa escola, procurou-se cultivar o diálogo, o encontro com o outro, o respeito mútuo, a compreensão e a solidariedade. A gente procurava as formas mais sadias de viver e de conviver, tínhamos confiança e muita fém em Deus. Os professores e alunos buscavam crescimento intelectual com o intuito de se tornarem homens e mulheres capazes de construirem uma sociedade mais humana. (2010)
A priori, percebe-se que a escola conseguiu dar seus primeiros passos trazendo
como lema o diálogo, a compreensão e a solidariedade. Seus componentes procuravam
a melhor convivência possível, assim a família Clóvis Salgado ensinava seus alunos a
construir uma sociedade melhor e mais igualitária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este texto teve como objetivo compreender a origem da escola Clóvis Salgado o
que pode-se entender é que por muitos anos a escola enfrentou problemas no que
refere-se a sua criação, os alunos não tinham um lócus para se abrigar sendo um número
expressivo de discentes se dividiam em dois grupos, parte deles tinham aula numa
colchoaria, outra parte na igreja. Num ato de protesto contra tal condição, as professoras
da escola ministraram suas aulas embaixo de uma árvore magnólia situada na frente da
Igreja Matriz de São José. Contudo a intenção das docentes era chamar a atenção da
sociedade civil e do poder político da cidade para o problema que por sinal estava
escancarado aos olhos de todos. Após muitas lutas, a escola ganhou prédio próprio, em
um terreno nas proximidades do cemitério local.
Enquanto a cidade era coroada de capital de arroz, os alunos da escola Clóvis
Salgado eram abrigados debaixo de uma árvore. Posto isso nota-se que a economia do
município de Ituiutaba se destacou na primeira metade do século XX, tal destaque não
teve sua contrapartida na educação pública, pois os índices de analfabetismo eram
exorbitantes, incoerentes com a expansão escolar nacional.
No período de 1955 a câmara municipal votou a favor de mais um grupo escolar
só em 1958 o grupo escolar Governador Clóvis Salgado foi construído, a educação
caminha a passos muitos lentos ela nunca foi prioridade nas ações das públicas
políticas, vive de promessas, mas nada se efetiva, pensaram em resolver os problemas
da criação de escolas e não na qualidade do ensino porque o município não contava com
professores suficientes para atuarem nas escolas e nem de estabelecimentos
educacionais para todos, tendo a maioria da população analfabeta. Apesar da construção
de mais um grupo escolar não atendia a todos porque a população de Ituiutaba crescia
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
4
na zona urbana, assim aumentava o número analfabetos pois não conseguiam atender a
demanda.
Assim, conclui-se que embora a política pública nacional priorizasse a expansão
no município de Ituiutaba esta ocorre de forma precária encontraste com o município
considerado o celeiro do triângulo mineiro denominado de capital de arroz. Assim a
educação era concebida em segundo plano pelas políticas publicas locais no período ora
analisado.
REFERÊNCIAS ALVES, G. L. Análise de uma proposta de escola específica para o campo. In: ______. Educação no campo: recortes no tempo e no espaço (Org.). Campinas: Autores Associados, 2009. ARAUJO, J. C. S. Da singularidade do “João Pinheiro” de Ituiutaba, MG, ao idéario republicano em torno dos grupos escolares. In: RIBEIRO, B. O. L.; SILVA , E. F. (Org.). Primórdios da escola pública republicana no Triângulo Mineiro. Ituiutaba: Egil, 2003, v. 1, p. 163–77. ARAÚJO, Os grupos escolares em Minas Gerais como expressão de uma política pública: uma perspectiva histórica. In: VIDAL, Diana G. (Org.). Grupos escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância no Brasil (1893–1971). Campinas: Mercado de Letras, 2006, v. 1, 2006, p. 225–35. BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. BOSI, E. Memória & sociedade: lembrança de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. BRANCATO, R. O fogo da modernização: tradição e tecnicismo no abrigo de menores do Estado de Santa Catarina em Florianópolis (1940–1980). 2006. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) — Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. BUFFA, E. Ideologia em conflito: escola pública e escola privada. São Paulo: Cortez CARVALHO, C. H. República e imprensa: as influências do positivismo na concepção de educação do professor Honório Guimarães (Uberabinha–MG, 1905–1922). Uberlândia: editora da UFU, 2004. DESAULNIERS, J. R. Institucionalização e evolução da escolarização. Teoria & Educação, Porto Alegre, n. 6, p. 97–104, 1992. EISENSTADT, S. N. Modernização: protesto e mudança. Rio de Janeiro: Zahar, 1966.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
5
ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR CLÓVIS SALGADO. DAS
MAGNÓLIAS ÀS BODAS DE OURO. DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO GF SERVIÇOS. 2007. 56P FARIA FILHO, L. Escolarização, culturas e práticas escolares no Brasil: elementos teórico-metodológicos de um programa de pesquisa. In: LOPES, A.; MACEDO , E. (Org.). Disciplinas e integração curricular: história e políticas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. FERNANDES, F. Educação e sociedade no Brasil. 2. ed. São Paulo: Domínius, 1966, 608p. GERMANI, G. Sociologia da modernização. São Paulo: Mestre Jou, 1974. LOURO, Guacira L.- “A História (oral) da Educação: Algumas Reflexões” in Revista Em Aberto - “Ensino de História” - ano IX, no.47, 1990. PAIVA, V. História da Educação Popular no Brasil. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2003. TEODORO, António (Org.). Histórias (re) construídas. São Paulo: Cortez, 2004. FOLHA DE ITUIUTABA. Década de 1950.
HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco, 1930 – 1964. Apresentação: BARBOSA, Francisco de Assis; Tradução coordenada: DANTAS, Ismênia Tunes. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.
IMPRENSA FOLHA DE ITUIUTABA. Ituiutaba, Minas Gerais, 1947, ano 6, n. 237. FOLHA DE ITUIUTABA. Ituiutaba, Minas Gerais, 14 set. 1947. FOLHA DE ITUIUTABA. Ituiutaba, Minas Gerais, ano XI, 1958. FOLHA DE ITUIUTABA. Ituiutaba, Minas Gerais, 6 maio 1961. FONTES ORAIS Maria Mirza Cury Diniz - 2010
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
6
ESCOLARIZAÇÃO E A MIGRAÇÃO NORDESTINA PARA O TRIÂNGULO MINEIRO (ITUIUTABA: 1950-1960)
Prof. Dr. Sauloéber Tarsio de Souza Universidade Federal de Uberlândia-CNPq
[email protected] Daiane de Lima Soares Silveira
CNPq/UFU [email protected]
O presente estudo é resultado parcial do projeto “Das Alagoas às Gerais: Migrantes Nordestinos e Escolarização no Pontal do Triângulo Mineiro (anos 1950 a 2000)” que tem como objetivo central estudar os fluxos migratórios nordestinos para o município de Ituiutaba e seus reflexos no sistema de ensino. Entendemos os deslocamentos populacionais como fenômenos que afetam regiões por todo o mundo, sejam na condição de geradoras ou receptoras de migrantes (DEMARTINI, 2008). Desde os anos de 1950, a cidade tem recebido nordestinos que, no princípio, vinham dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Esses fluxos foram motivados pelo ciclo econômico baseado na cultura de grãos (arroz, milho, etc), e os nordestinos que aqui chegavam, buscavam as “oportunidades ilimitadas” no novo “Eldorado Brasileiro” (nos anos de 1950, Ituiutaba foi denominada “Capital do Arroz”). Constatamos que os primeiros grupos migrantes tinham pouco acesso a escolarização já que até mesmo para a população local, a escola era ainda uma “dádiva das classes privilegiadas” às classes menos favorecidas (Folha Ituiutaba, 1963). Os obstáculos para os migrantes se manterem nas escolas eram maiores em função das dificuldades cotidianas decorrentes de sua condição social, mas acentuadas pelas diferenças culturais. Observamos a violência como fator presente na rotina escolar desses migrantes, já que revidavam as agressões físicas e verbais de que eram alvo. Em princípio, o que salta aos olhos neste estudo é o preconceito construído e reproduzido pela comunidade em relação ao migrante. A cidade, arraigada às suas tradições, tem reforçado a valoração negativa atribuída às características da alteridade: o nordestino. Compreender o étnico como elemento fundante da dinâmica social implica no reconhecimento da multiplicidade de culturas vivenciadas no mundo contemporâneo, o que é fonte de interações e confrontos refletidos no processo educacional, de forma que também a educação é fenômeno etnicizado (KREUTZ, 1998).
Palavras-chave: Escolarização, Migração, Triângulo Mineiro.
O presente texto é resultado do desenvolvimento do projeto “Das Alagoas às
Gerais: Migrantes Nordestinos e Escolarização no Pontal do Triângulo Mineiro (anos
1950 a 2000)”10 que tem como objetivo central estudar os fluxos migratórios
10 O projeto com apoio do CNPq no triênio 2009-2012 foi fracionado em três etapas de acordo com a observação dos fluxos migratórios nordestinos para a região do Pontal do Triângulo Mineiro que em seu primeiro momento (1950-1965) foram motivados, especialmente, pela cultura de grãos (arroz e milho) recebendo trabalhadores do Rio Grande do Norte e da Paraíba (SILVA, 1997), no segundo movimento (1966-1980) percebe-se uma retração na chegada dos migrantes e no terceiro momento (1981-2000) a
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
7
nordestinos para o município de Ituiutaba e seus reflexos no sistema de ensino.
Apresentamos aqui problematização inicial, enfocando as décadas de 1950 e 1960,
quando buscamos analisar a “chegada das massas” a rede escolar local, com a
progressiva elevação do acesso à escolarização, desencadeada, sobretudo, com os
fenômenos da industrialização e urbanização desse período.
Os fluxos migratórios e sua relação com a escola devem ser estudados a partir do
contexto de crescimento econômico da cidade, acelerado a partir da segunda metade do
século XX, em função da expansão da cultura do arroz, como podemos ver pelo relato
presente em revista comemorativa de fundação da cidade:
Antevendo o sucesso que poderia advir da cultura do arroz em terras tão férteis, o Sr. Antonio Baduy, distribuía aos fazendeiros locais, sementes selecionadas, estimulando a produção de tipo de melhor qualidade, tais como, amarelão e o pratão, hoje existente com abundância. (...) Assim é que de ano para ano, a produção foi aumentando, (...) Ituiutaba era o maior centro produtor de cereais de Minas (Centenário, 2001).
A indústria de beneficiamento atingiria seu auge nas décadas seguintes,
estimulando o desenvolvimento do município, de forma que também a rede escolar seria
ampliada no mesmo período. Oliveira (2003) apontou a singularidade da história
educacional da cidade, constatando o lento processo de institucionalização da escola
pública em Ituiutaba no período que compreende os anos de 1908 e 1950. Nos anos de
1950, inicia-se a expansão dessas escolas que de apenas 02 passariam para 07 escolas
estaduais, na década seguinte outras 08 escolas seriam criadas, de forma que no ano de
1970, a educação escolar na cidade era marcadamente pública (com 15 instituições de
ensino), rompendo com o predomínio das instituições privadas e/ou confeccionais, que
diminuiriam em números.
Outro fator que demonstra o processo de intensas mudanças no município é o
acelerado crescimento populacional urbano, o que também representa dado bastante
relevante para a compreensão da articulação entre educação escolar e migração.
Atentemos para as estatísticas abaixo:
retomada desse deslocamento populacional em função, sobretudo, da instalação de uma usina de álcool no município vizinho de Canápolis, quando os alagoanos passaram a ser o elemento predominante nas lavouras. O projeto parte do entendimento que a migração, fenômeno social de maior expressão no século XX, gera reflexos em todos os aspectos sociais, e também no campo educacional, configurando-se como elemento gerador de conflitos entre os indivíduos portadores de diferentes culturas.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
8
Tabela 01 – População Rural e Urbana do Município de Ituiutaba
ANO População Rural % População Urbana % Totais
1940 30.696 88% 4.356 12% 35.052
1950 43.127 81% 10.113 19% 53.240
1960 39.488 55% 31.516 45% 71.004
1970 17.542 27% 47.114 73% 64.656
Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos dos anos de 1940 a 1970.
O decréscimo populacional entre os anos de 1960 e 1970 decorreu da
emancipação política de alguns distritos administrados pelo município de Ituiutaba,
mesmo assim, o expressivo crescimento populacional pode ser creditado a alta taxa de
natalidade que era superior a de mortalidade, mas como vemos também, foi resultado da
migração rural, pois neste momento, significativa parcela da população brasileira se
deslocava do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida (saúde,
moradia e educação), com perspectiva de empregabilidade no comércio e setor de
serviços públicos que se expandiam com velocidade, acompanhando o desenvolvimento
nacional. A tabela demonstra essa inversão da relação rural e urbano no município de
Ituiutaba, ou seja, em três décadas a população passou de predominantemente rural para
urbana, nesse mesmo período, o sistema escolar deixa de ser majoritariamente privado
tornando-se marcadamente público.
Os impulsos modernizantes no município eram perceptíveis em outros setores
além do econômico e educacional. Nos anos de 1950, o poder público do município
preocupou-se com o Plano Urbanístico, com ampliação dos serviços de abastecimento
de água e de iluminação pública, arborização e calçamento de ruas, construção de
prédios públicos, buscando atender às demandas da população que se avolumava. Na
década seguinte, a mudança urbanística acelerou-se ainda mais, com a chegada do
asfalto, a construção de praças, implantação do Distrito Industrial e do primeiro Campus
Universitário no município (CORTES, 2001).
É a partir desse contexto que buscamos estudar os fluxos migratórios e sua
relação com a rede escolar pública em Ituiutaba, investigando as representações sociais
elaboradas em torno desse grupo, revelando o processo histórico-educativo vivido pela
região, abrindo novas perspectivas para a compreensão do processo de modernização
local, apontando os migrantes como fator importante nesse movimento, certamente,
uma das especificidades da região.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
15
9
A migração para o pontal mineiro era motivada por notícias em rádios e jornais
por todo o país que difundiam a idéia de “novo eldorado” nos anos de 1950, mas
também pelos recados enviados por parentes e amigos dos primeiros migrantes que
chegaram a região para o trabalho na lavoura, o que deu início a atividade do
“agenciador de mão-de-obra” responsável pela intermediação entre fazendeiros e
trabalhadores.
Os nordestinos “Espalharam-se por essa vasta região trazendo seu modo de vida,
sua linguagem, estabelecendo diferenças, que deram origem a interpretações variadas,
gerando explicações, conceitos e preconceitos.” Chegando ao pontal, eram chamados de
“’nortistas’, ‘pau-de-arara’, ‘barriga-verde’, ‘caicó’”, com seus hábitos e costumes e
com o uso da “peixeira” na cintura, delineou-se um perfil de gente violenta que deveria
ser tratada com cautela e mantida a distância (SILVA, 1997, p.8-9). Tal imagem
também era reforçada pelos jornais locais:
Não encontramos com freqüência o migrante nordestino nas páginas dos jornais, com exceção de algumas notícias sobre a seca no Nordeste, breves notas sobre a sua Associação, artigos denunciando o tráfico de trabalhadores ou nas colunas policiais. (SILVA, 1997, p.16)
É preciso reconhecer que a presença dos nordestinos no município foi marcante
e decisiva no processo de desenvolvimento econômico nesse período, muito embora,
essa participação tenha sido pouco observada, mantendo-se praticamente invisível por
décadas, como apontou Silva (1997, p.127): “O ‘eldorado’ que atraiu muitos
trabalhadores nordestinos, ainda na década de 40, foi em grande parte construído por
eles.”
O perfil do migrante foi assim definido: “(...) a maioria dos nordestinos que para
aqui vieram, eram pessoas simples, analfabetas, de costumes e hábitos rudes e que
habitavam o interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba.”(SILVA, 1997, p.133)
Muitos deles migravam sem informação alguma sobre seu destino, as condições de vida
e de trabalho que os esperavam: “Assim como não escolhiam o patrão, também não
escolhiam o tipo de serviço que iam executar. O destino do sujeito só era conhecido
quando chegava na fazenda e começava a trabalhar.” Além disso, o trabalho que lhe era
reservado era bastante pesado, atividade que pouco interessava à população local:
“Arrancar tocos foi a tarefa da maioria dos nordestinos que chegaram primeiro à região.
Esse tipo de trabalho era extremamente árduo.” (SILVA, 1997, p.72-73)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
0
Nos anos de 1950 e 1960 o acesso a educação pública começava a se expandir,
de forma que parte desses migrantes, sobretudo a segunda geração - os filhos dos
pioneiros, transporia os muros das novas instituições escolares que se multiplicavam
pelos bairros da cidade, mesmo com todos os obstáculos e dificuldades em função de
não portarem de forma plena e “legítima” os códigos culturais da região. Por isso
também, eram olhados com certa desconfiança já que dividiam o espaço do mineiro,
buscando as oportunidades de trabalho, além da expectativa de acesso a serviços
públicos que desconheciam no seu local de origem, tais como saúde e educação.
Esses anseios muitas vezes ficavam no campo do desejo, como vemos nos
comentários de Silva (1997, p.44-45) a partir de um depoimento de migrante:
Apesar das precárias condições de vida oferecidas pelo patrão ele não pareceu se importar. Além do rádio, o chaveiro e a caneta esferográfica que comprou, embora não tivesse chaves e nem soubesse escrever, parecia dar a ele uma ilusão de prosperidade. (...) O chaveiro e a caneta esferográfica talvez simbolizassem um sonho secreto de um dia ter chaves e poder escrever.
A taxa de analfabetismo dos estados do Nordeste em 1950 estava em torno de
70% da população acima de 10 anos (considerando-se as crianças acima de 05 anos essa
taxa atingiria 75%), enquanto nos estados do Sudeste esse número representava 45%.
No entanto, Ituiutaba, apesar de estar localizada geograficamente nessa região,
apresentava número próximo ao da região centro-oeste com 57% de sua população não
alfabetizada, um pouco acima da média nacional de 55% (Recenseamento, IBGE,
1950).
Portanto, o migrante que para a região do pontal se deslocava era não era
alfabetizado, dado que surgiu nas entrevistas realizadas por Silva (1997, p.85), vejamos:
Punham a juro com os fazendeiros, juro barato sabe, porque naquele tempo num usava por no Banco, também muitos nem sabiam escrever. E ainda: (...) mas era um pessoal muito bom, são assim..., vinha muita gente analfabeta, quase igual a eu mesmo, mas muito educado, muito humilde, muito fácil de trabalhar com eles, não me deram problema, esses 11 anos que eu tive a pensão São Pedro eu nunca tive problema com hospede que viesse no caminhão de pau-de-arara. {Depoimento de ex-dona de pensão} (SILVA, 1997, p.114)
Porém, como a pesquisa focou os indivíduos das duas primeiras gerações de
migrantes, ou seja, pais e seus filhos nascidos em suas cidades de origem ou na região
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
1
do pontal mineiro, deparamo-nos não apenas com aqueles que nunca tiveram acesso a
educação, mas também com migrantes que se inseriram nas escolas da cidade cujos
depoimentos constituíram-se em uma de nossas principais fontes. É fato que
trabalhamos na perspectiva da diversidade de fontes, observando-se a
complementaridade entre elas, utilizamos além dos depoimentos, os documentos
impressos e as imagens. De acordo com Demartini (2008, p.03):
(...), a complementaridade entre as fontes já existe na própria construção dos documentos orais, seja antecedendo-os com questões que suscita, seja deles resultando, pelo processo de interação entre pesquisador/pesquisado que permite a exposição e utilização do que ficou guardado, ou, muitas vezes, até esquecido.
Nesse tipo de pesquisa, onde o objeto da investigação está encoberto pela rigidez
das relações sociais, deparamo-nos com dificuldades diversas, mas nenhuma é tão
relevante quanto a que diz respeito ao acesso à documentação nas repartições públicas e
unidades escolares. Uma das formas de superação deste obstáculo é a utilização de
fontes orais e escritas (jornais) que se referiam à presença do nordestino na cidade,
sendo bastante importantes em nosso trabalho para “identificar o modo como (...) uma
determinada ‘realidade’ social é construída, pensada, dada a ler”. (CHARTIER, 1990,
p.15) Pelos depoimentos colhidos, compartilhamos com Silva (1997) a idéia de que
existia diferenciação entre os próprios migrantes em função de sua origem social, uma
pequena parte, acreditamos, migrou em condições melhores, isso se refletiu no acesso e
permanência a escola que foi diferenciado também, de forma que alguns deles
frequentaram instituições privadas e tradicionais da cidade, como vemos nesse excerto
de entrevista de uma das depoentes:
Tinha aquela história, era quatro, três pagava, uma não pagava e mamãe foi trabalhando e pagando nosso estudo. Então nós estudamos a vida inteira em escola particular que era o Santa Tereza, uma escola de freira. (...) Fiquei um ano no Marden, mas eu não me adaptei com a escola, aí fui lá pro Machado de Assis. Aí lá eu fiz o segundo grau. (...) Nessa chegada minha, quando você vai pra uma escola que é de um nível aquisitivo alto, e também por você ser um migrante, havia uma pequena rejeição das pessoas em cima da gente. Então o nordestino era visto como um intruso nessa época. Então assim, o povo te olhava meio assim,... você se sentia um pouco assim de lado, entendeu. Até as pessoas adaptarem com você, te aceitar. eu acho que a gente... Eu sofri um pouco com isso. Entendeu, havia rejeição do mineiro em cima do nordestino. Mas o povo vendo o valor que é o povo da minha terra, eles começaram a aceitar. (Entrevista C, março/2010)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
2
Essa família de migrantes (uma das pioneiras na região) transferiu suas
atividades do nordeste para Ituiutaba, montando comércio e pensão que atendia
especialmente aos migrantes nordestinos. Apesar de terem condições de inserir seus
filhos nas instituições particulares da cidade a permanência deles não era tranqüila, e as
referências a discriminação e a punição “do diferente” surgem em todas as falas:
Não, pra você ter uma idéia, não tinha um dia que a Irmã Letícia não me botava de castigo e não me chamava pra ir lá na frente. Ela pegava... Eu já ia andando pra frente. É eu que ela vai chamar. E era. Nossa! Eu era muito levada. Entrava na clausura da freiras pra ver as freiras sem aquele véu. Entrava no confessionário. Nossa, eu fazia miséria naquele Santa Tereza. Descia aqueles escorregador das escadas, sabe assim. Correndo, assim, escorregando. Subia nas árvores, nas últimas árvores. Subia em cima da mesa de pingue-pongue. (Entrevista C, março/2010)
Os conflitos não ficavam apenas no campo da discriminação, mas chegavam aos
embates físicos: “Tanto que uma vez, eu não sei o que aconteceu, eu dei uma briga na
escola, eu bati em seis menina lá. Eu rodava minha lancheirinha e: _Vem, vem, vem,
vem! E o povo vinha e a lancheirinha batia.” (Entrevista C, março/2010) E outra
depoente que estudou em escola rural assim afirmou: “Eu era meia brava (risos).
Sempre pegava uma briga na escola (muitos risos). Eu era meia brava.” (Entrevista A,
fevereiro/2010)
Esses trechos denotam que no novo universo (a escola) que se abriu a alguns
migrantes e seus filhos, teve início um comportamento local que instituiu o outro, ou o
diferente, como o “não é” ou aquele “que é”, negando ou afirmando a alteridade ao
atribuir-lhe valores negativos ou positivos quanto às suas características regionais,
físicas, e até mesmo emocionais (LÉVINAS, 1997). É fato que as irmãs da depoente
permaneceram na escola, porém, o preconceito em relação aos hábitos nordestinos foi
gradativamente instituído.
Constatamos que os primeiros grupos migrantes tinham pouco acesso a
escolarização já que até mesmo para a população local, a escola era ainda uma “dádiva
das classes privilegiadas” às classes menos favorecidas (Folha de Ituiutaba, 1963). Mas
a partir da segunda metade da década de 1960 esse quadro mudaria de figura, pois os
migrantes começaram a se transferir para a cidade: “Aos poucos, muitos foram
deixando as fazendas em busca da cidade e do estudo para os filhos e depois, com a
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
3
crise na agricultura, provocada pelas estiagens no final dos anos 60 e início de 70”.
(SILVA, 1997, p.101) Até esse período, a maior parte deles estavam nas fazendas que
não contavam com número de escolas adequado para o atendimento a toda a população
da zona rural:
Embora a população rural fosse superior à urbana nos anos 50, não era em todas as regiões que existiam escolas. Se alguns patrões se ocupavam em providenciar escola e professores para os filhos e estendiam esse privilégio aos filhos dos agregados, isso, definitivamente, não era regra geral. Muitos fazendeiros traziam professores para dentro de suas casas, exclusivamente, para a instrução dos próprios filhos. Dona Marlúcia foi professora de uma escola, nos anos 52/53, criada pelo fazendeiro, dono da fazenda onde o pai arrendava um pedaço de terra. As crianças estudavam de manhã e à noite ela alfabetizava os adultos, mas esses ‘queriam só aprender a assinar o nome, depois que assinava o nome ninguém queira mais nada’. (SILVA, 1997, p.101-102)
Em um dos depoimentos de nossa pesquisa, a colaboradora assim descreveu a
escola da fazenda em que estudou:
E era uma escola só, uma professora só. E a professora..., que a professora era prima do papai. Então, foi essa a escola. E lá... E Lúcia foi pequenininha. Lúcia não tinha idade, mas ela queria tanto ir, que ela... que a professora falou: Não, deixa ela ir. (...) Ia a pé. Ia a pé. Às vezes, depois de bicicleta. De a pé enfrentando as vacas no meio do... da estrada que tinha vaca. (...) Uma professora pra quarenta alunos, por aí assim. Eram poucos os migrantes. Era mais já, os que eram daqui mesmo. Poucos os migrantes. (Entrevista A, fevereiro/2010)
Ao longo dos anos de 1960 os fluxos migratórios começaram a ter o meio
urbano como destino final, surgindo, em 1961 a Associação da Colônia Nordestina,
“entidade que visa defender os interesses dos emigrantes nordestinos neste município”
(SILVA, 1997, p.107), pela iniciativa de Cristovam Jose Ribamar Nunes, que buscava
ajudar nordestinos sem documentação, e pela sua atuação juntos a eles, elegeu-se
vereador no ano de 1962. Os migrantes ganharam pouco a pouco visibilidade social,
construindo seus espaços de convívio. A escola passaria a ser local para a produção e
reprodução da cultura do migrante. Segundo Kreutz (1998), o étnico é elemento de
diferenciação social, influi na percepção e na organização da vida social o que significa
que a educação é etnicizada, “atravessada” pela etnia:
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
4
Eleger a etnia como uma das categorias em educação significa entender que o pertencimento étnico, enquanto uma concreção ou singularização do cultural numa especificidade própria, tem uma dimensão engrendradora das potencialidades específicas de grupos no conjunto do processo histórico. (KREUTZ, 1998)
A partir dessa perspectiva as diferenças culturais seriam as novas barreiras
impostas aos nordestinos para permanecerem nas instituições, a partir dos anos de 1970
quando o acesso a educação passou a abranger de forma ampla o grupo migrante em
Ituiutaba. Apesar da expansão das escolas públicas, tal processo ocorreu de forma
bastante precária, de maneira que a permanência na escola continuava sendo privilégios
de poucos, um dos fatores para isso seria a precariedade da rede escolar pública era
apontada pelos jornais locais, como podemos ver abaixo:
O Grupo Escolar João Pinheiro – A Esperada Reforma do seu Prédio (Folha de Ituitutaba, 28-out-1950) Dois anos depois, com a participação do governo municipal é que a reforma dessa escola aconteceria: Ampla colaboração da prefeitura na execução de obras do Estado. (Folha de Ituiutaba, 27-dez-1952)
Os obstáculos para os migrantes se manterem nas escolas eram maiores em
função das dificuldades cotidianas decorrentes de sua condição social, mas acentuadas
pelas diferenças culturais. Nesse depoimento, a colaboradora que estudou em escola
pública estadual abordou alguns desses aspectos:
Então eu ficava puxando a água pra encher as vasilhas assim, até encher. Quando dava o sinal lá na escola é que eu saía correndo pra ir pra escola. Era desse jeito. Minha vida sempre foi sacrificada... desde pequena. (mostrou-se emocionada). (...) Assim, do Ensino Fundamental. Deu pra mim aprender a ler e a escrever. Sabe, assim muito mal, engolindo muitas letras, mas deu. Eu fiquei assim até os cinqüenta anos, quando eu resolvi estudar de novo. (Entrevista D, fevereiro/2010)
Em princípio, o que salta aos olhos neste estudo é o preconceito construído e
reproduzido pela comunidade em relação a população migrante. A cidade, arraigada às
tradições de seu povo, tem reforçado a valoração negativa atribuída às características da
alteridade: o nordestino. Tal atitude é demonstrada nas falas dos indivíduos, em
veículos de comunicação de massa, implicando na negação do diferente e, no mesmo
movimento, a afirmação da própria identidade como superior/dominante. Uma
população que padece de problemas comuns não se identifica entre seus membros,
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
5
tendo como barreira quase intransponível, o sotaque nordestino, supostamente
colocando os miseráveis mineiros em posição superior, relativamente aos miseráveis
nordestinos.
Acreditamos que isso é reflexo da organização interna de sociedades fortemente
hierarquizadas, onde existem comando e subordinação e racionalização do outro. Quem
controla mecanismos de poder atribui valores à sociedade, define o que é bom e o que é
ruim. Aqueles que são sujeitos das atribuições identitárias que os desvalorizam,
especialmente, a seus próprios olhos, muitas vezes, acabam por assumir um papel de
inferioridade, subordinando-se, por exemplo, a situações pouco dignas de trabalho e
sobrevivência, por não portarem códigos culturais locais, entendidos como corretos.
Vimos por alguns depoimentos que nas escolas, esse encontro de culturas gerou
situações diversas e conflituosas frente à cultura migrante que portava a expectativa de
melhoria de vida na região imaginada como o “Eldorado”, terra da fartura e abundância,
mas que se torna realidade a partir da decisão de migrar. Com o desenvolvimento desse
projeto, esperamos desencadear reflexões junto às autoridades locais, no sentido de
capacitar o quadro docente das escolas onde a migração tem reflexos claros ainda hoje,
quando a cidade agora recebe nordestinos, em sua maioria, do estado de Alagoas.
Assim, a diversidade cultural deve ser respeitada, promovendo o avanço da comunidade
local, frente aos desafios da multiculturalidade cada dia mais presente, e como
conseqüência direta, buscando diminuir o preconceito enraizado nos indivíduos.
Um outro reflexo esperado junto ao grupo migrante trata-se de lutar contra uma
auto-identificação negativa, mudando os valores, transmudando as características ditas
vergonhosas em características que orgulham, promovendo o início do fim da dialética
do amo e do escravo, ao menos no que diz respeito ao preconceito frente aos
nordestinos, levando-os a definirem seus próprios valores sociais. A instituição de
novos valores como normas e novas figuras jurídicas que permitem mencionar e punir o
preconceito abrem o caminho para a expansão de uma nova realidade social. As
interdições lingüísticas no mundo escolar, especialmente no encontro de culturas
decorrente da migração, podem apagar a singularidade histórica, social, cultural e moral
dos indivíduos. Desse ponto de vista, é preciso avançar na garantia dos direitos de
grupos minoritários, reconhecendo-se o outro, o diferente não apenas como objeto, mas
como sujeito social. (GOFFMAN, 1998).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
6
BENEVIDES, M. V. M. O governo Kubitschek: desenvolvimento econômico e estabilidade política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. BURKE, Peter. A violência das mínimas diferenças. Folha de S.Paulo, 21 maio 2000. Caderno Mais!, p. 25. CHARTIER, Roger A história cultural: entre práticas e representações. Trad.Maria M.de Galhardo, Lisboa: Difel (85), Rio: Bertrand Brasil, 1990. CORTEZ, Carmen D.C. Ituiutaba Conta a sua História. Ituiutaba, EGIL, 2001. DEMARTINI, Z.de B. F. Pesquisa histórico-sociológica, imigração e educação: as fontes e sua análise. Anais VII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, Porto, 2008. DUSSEL, Enrique. 1492 o encobrimento do outro: a origem do “mito da modernidade”. Petrópolis: Vozes, 1993. GERMANO, José W. Estado Militar e Educação no Brasil (1964-1985). São Paulo: Cortez, 1993. GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. KREUTZ, L. Identidade Étnica e Processo Escolar. Anais XXII ANPOCS, Caxambu, 1998. LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 1997. LOURO, Guacira L.- “A História (oral) da Educação: Algumas Reflexões” in Revista Em Aberto - “Ensino de História” - ano IX, no.47, 1990. OLIVEIRA, L.H.M.M. História e Memória Educacional: o papel do colégio Santa Teresa no processo escolar de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro-MG (1939-1942). Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Uberlândia, 2003. RIBEIRO, Paulo R. M. “História da Educação Escolar no Brasil: Notas para uma Reflexão” in Revista Paidéia- Cadernos de Educação. USP, no.4, 1993. SANTOS, Boaventura de Souza. Uma concepção multicultural dos direitos humanos. Lua Nova, n. 39, 1997. SILVA, Dalva M.de O. Memória: Lembrança e Esquecimento. Trabalhadores Nordestinos no Pontal do Triângulo Mineiro (Décadas de 1950 e 1960). Dissertação de Mestrado: PUC-SP. 1997. SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Editora Vozes, 2000.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
7
FONTES
• ENTREVISTAS:
���� A – migrou em 1952, vindo de Caicó-RN, era criança;
���� B – migrou em 1944, vindo de Santana de Matos-RN;
���� C – migrou em 1950, vindo de São Vicente-RN na primeira infância.
���� D – filha de migrantes que vieram nos anos de 1950.
• JORNAIS/REVSITAS: Consulta as Coleções dos seguintes jornais: “Folha de Ituiutaba”, “Gazeta de Ituiutaba”, “Correio do Pontal”, “Correio do Triângulo”, “Cidade de Ituiutaba” e “Município de Ituiutaba”, constantes do acervo da Fundação Cultural de Ituiutaba. Revista O Centenário de Ituiutaba, 2001.
• SUPERINTÊNCIA REGIONAL DE ENSINO: Consulta aos arquivos oficiais e estatísticas educacionais do município.
• INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA: Recenseamentos de 1940, 1950, 1960 e 1970.
O MOVIMENTO ESTUDANTIL NA PERSPECTIVA DOS JORNAIS DE ITUIUTABA-MG (ANOS 50 E 60)
Isaura Melo Franco - PIBIC/CNPq/UFU
[email protected] Jennifer Maria Pereira Matos - FAPEMIG/UFU
[email protected] Sauloéber Tarsio de Souza
Universidade Federal de Uberlândia-FAPEMIG [email protected]
INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda as representações elaboradas pela imprensa escrita da
cidade de Ituiutaba (interior mineiro) referentes ao movimento estudantil, uma temática
bastante discutida pelos jornais ao longo dos anos de 1950 e 1960. Buscamos realizar
um estudo crítico a partir dessas representações construídas em torno da atuação do
movimento estudantil da cidade, mostrando parte do pensamento da elite intelectual da
região do pontal de Minas Gerais, no que se refere ao ideário de estudante/aluno
daquele período.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
8
Buscamos efetuar essa análise tendo sempre em vista a relação do micro com o
macro, já que entendemos que o particular é expressão do desenvolvimento geral, como
afirmou Araújo (2005, p.182):
Não se pode trabalhar com segurança a história da educação nacional sem o domínio do processo nas diversas regiões (...) Da mesma forma, não se pode promover o estudo isolado da realidade regional, desvinculado da interpretação de caráter geral, mais abrangente.
Assim, antes de abordarmos o movimento estudantil no interior mineiro, é
preciso compreender que o contexto nacional nesse período foi marcado pelas ações
relacionadas às questões político-culturais promovidas pela União Nacional dos
Estudantes (UNE), fundada em 1937. Nessa perspectiva, a partir de algumas
informações sobre a ação do movimento estudantil no país, tentamos contextualizar a
atuação dos estudantes em nível local. Desse modo, esperamos contribuir para a
compreensão do ideal de estudante/aluno veiculado pela imprensa tijucana, analisando-o
a partir do contexto global, salientando-se suas especificidades.
Nos anos de 1950, a grande referência no âmbito educacional foi à discussão em
torno da primeira LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), no.
4024/61, enviada ao Congresso em 1948 e promulgada somente em 1961, após 13 anos
de debates, com a participação de educadores, estudantes, intelectuais e trabalhadores,
caracterizado como um período de redemocratização após os anos do governo Vargas.
Já na década de 1960 destaca-se a chegada dos militares ao poder (1964),
juntamente com a severa repressão exercida contra os movimentos estudantis acusados
de subversivos e de possuírem ideais comunistas, devido à contestação do agravamento
das desigualdades sociais que levavam a população a um sinistro panorama de
extremos, vivido entre a abundância de poucos e a miséria da maioria, provocado pelas
alterações sócio-econômicas e políticas, compatibilizadas ao sistema educacional.
Neste contexto de repressão autoritária, salienta-se a invasão e o incêndio da
sede da UNE no Rio de Janeiro, promovidos por golpistas direitistas e a Lei Suplicy
(1964), que colocou a UNE e as Uniões Estaduais de Estudantes na ilegalidade, criando
órgãos de representação estudantil ligados às autoridades governamentais, proibindo o
livre diálogo entre estudantes e diretórios acadêmicos. Dessa forma, o governo tinha por
objetivo destruir a capacidade do movimento estudantil organizado, privando o
potencial crítico dos estudantes de contestação do sistema vigente (GERMANO, 2005).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
16
9
É nesse cenário que a educação brasileira seria reestruturada, passando por um
brusco movimento de centralização, que atendia aos novos horizontes políticos do país.
Surgiram assim, os acordos MEC-USAID que buscavam influência e controle
ideológicos da educação no país, e os termos eficácia e produtividade passaram a ser
empregados de alto a baixo no sistema de ensino, evidenciando que os EUA
consideravam a educação como área estratégica na integração e posicionamento das
sociedades periféricas no contexto geral do capitalismo internacional. Neste cenário,
aconteceram mobilizações de estudantes contra os acordos MEC-USAID e outros
aspectos político-educacionais, como a privatização do ensino, fazendo com que fossem
exigidas pelos estudantes mais verbas e vagas para a educação.
Como estes acordos eram elaborados a partir da observação de modelo único e
não através das especificidades de cada nível de ensino ou sociedade, o fracasso foi
inevitável, contribuindo para reforçar as análises parciais e tendenciosas realizadas
pelos setores externos sobre os problemas educacionais brasileiros.
O ano de 1968 pode ser considerado “uma onda mundial de revoltas”, como
afirma Groppo (2000), marcado por grandes mobilizações sociais, em que podemos
destacar no cenário nacional, a “passeata dos 100 mil”, realizada no Rio de Janeiro
contra o regime militar e o imperialismo norte-americano, e no cenário internacional, o
protesto contra “a guerra do Vietnã”, a “primavera de Praga” e o “maio francês”.
Em dezembro do mesmo ano, o governo militar decreta o AI-5, em que
Germano (2005), denomina de “terror do Estado”, afirmando que a aplicação deste ato
institucional nas universidades e escolas acabou banindo o protesto estudantil. Neste
período, o governo também decretou leis específicas para a reforma do sistema de
ensino a Lei nº. 5540/68, “Lei da Reforma Universitária”, que tinha como um de seus
objetivos, acalmar a agitação estudantil em torno do tema, supostamente atendendo a
alguns dos anseios da classe, e a Lei nº. 5692/71, as quais também se baseavam no
modelo americano, incompatível com as necessidades da sociedade brasileira, e
visavam acentuar a dependência política e econômica já existente, em relação aos países
centrais.
Podemos perceber acima, que a organização da educação pelo Estado é antes de
tudo, um problema de ordem política, pois a elaboração da legislação é feita pelas forças
políticas instituídas que defendem os interesses das classes que representam no poder. A
partir deste contexto, salientaremos as especificidades do movimento estudantil em
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
0
Ituiutaba, por meio da análise dos jornais da época, tentando entender a representação
do estudante/aluno presente nesses veículos de informação.
A escolha da delimitação temporal do objeto de estudo foi feita a partir do
entendimento de que as medidas no campo da educação escolar são sempre uma questão
de ordem política, de forma que as décadas de 1950 e 1960 são bastante férteis para este
tipo de análise, já que foram marcadas, sobretudo, pela agitação política, tanto no
cenário internacional que exigia posicionamento ideológico frente à polarização
capitalismo versus comunismo, quanto no cenário nacional, através do embate entre
populismo-desenvolvimentista e autoritarismo que resultou na implantação do regime
ditador em 1964.
Neste contexto, é necessário ressaltar que as ações estudantis tiveram grande
repercussão nas lutas sociais e políticas do país, com destaque para a União Nacional
dos Estudantes (UNE), o qual exerceu fundamental importância nos quadros de
oposição ao governo ditador. Obedecemos também, ao critério político-educacional
baseado na proposta inicial de LDB (1948) enviada ao Congresso Nacional, sendo
debatida e reformulada por longos 13 anos, passando por sua promulgação em 1961 (no.
4024/61) até sua substituição pela lei no. 5692/71. Vale lembrar que a periodização
desenvolvida tem apenas valor de referência, representando um critério de delimitação
temporal do objeto, por ser uma necessidade metodológica, devido à abrangência do
tema.
Considerando o fato de que as décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por um
contexto nacional de efervescência política e social e que o particular conduz a
expressão do geral e vice-versa, a importância desse estudo se deve principalmente pelo
ineditismo do tema, visto que a história dos movimentos estudantis em Ituiutaba ainda
deve ser escrita.
MATERIAL E MÉTODOS
Elegemos os jornais como fonte de pesquisa primária, pois as representações
presentes nesses periódicos permitem abordagens mais amplas em relação ao fenômeno
educacional, possibilitando o estudo de concepções pedagógicas e ideologias que
circulavam pelo imaginário da população local, veiculando ideais: de aluno; de
professor; de educação; políticos; e sociais, por exemplo.
Dessa forma, a importância do jornal como fonte nessa pesquisa está no fato de
que, como relatou Maria Helena Capelato, sua atividade não consiste apenas em
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
1
transmitir, mas, igualmente, em gerar acontecimentos, compondo-os com elementos de
uma visão bastante particular do mundo, somatória de subjetividade e de interesses aos
quais o jornal está vinculado (CAPELATO, 1988).
Os jornais nos revelam relações existentes entre a realidade nacional, em que
passava o país naquela época, e a local, fazendo-nos compreender que todo o processo
histórico é produto de uma construção social localizada em determinada época.
Consultamos inicialmente as coleções dos jornais “Gazeta de Ituiutaba”, “Folha
de Ituiutaba”, “Correio do Pontal”, “Correio do Triângulo”, “Cidade de Ituiutaba” e
“Município de Ituiutaba”, todos com veiculação nesse período, constantes do acervo da
Fundação Cultural de Ituiutaba. Assim realizamos a leitura minuciosa dos artigos de
jornais, acompanhada do fichamento de todas as notícias relacionadas à educação,
registrando sempre o número de tombo do arquivo, a data de publicação, o título da
matéria, o assunto tratado e o grau de ensino a que se referia, revelando-nos assim, parte
da atmosfera escolar local ao longo dos acelerados anos de 1950 e 1960.
Mesmo se considerando que no arquivo da Fundação Cultural de Ituiutaba não
constam coleções completas dos jornais publicados, foram analisadas 531 notícias sobre
o universo escolar ao longo dessas duas décadas, das quais 42 se referiam ao
movimento estudantil tijucano.
Após o estudo das matérias jornalísticas, utilizamos como fonte secundária de
pesquisa, a história oral, entendida, de acordo com Ferreira e Amado (2006) como uma
metodologia que nos remete a uma reflexão histórica, por meio de uma dimensão
técnica e uma dimensão teórica.
Nesse sentido, acreditamos ser a história oral um poderoso recurso para a
investigação histórico-educativa, à medida que:
Com vocação para tudo e para todos, a história oral respeita as diferenças e facilita a compreensão das identidades e dos processos de suas construções narrativas. Todos são personagens históricos, e o cotidiano e os grandes fatos ganham equiparação na medida em que se traçam para garantir a lógica da vida coletiva. (MEIHY, 2002, p.21)
Assim, a utilização da história oral, torna-se de fundamental importância neste
estudo para a complementação das informações encontradas nas fontes impressas, pois
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
2
permitem o desvendamento das especificidades que compõem os personagens e o
cenário históricos. 11
Dessa forma realizamos entrevistas semi-estruturadas. A primeira delas a um dos
antigos proprietários e editores dos jornais pesquisados, buscando entender um pouco
melhor do funcionamento desses veículos de comunicação, em um período em que os
jornais eram um dos principais veiculadores de notícias e informações, exercendo
grande influência política e cultural na população tijucana da época. Depois,
entrevistamos alguns dos ex-representantes do movimento estudantil local, buscando
entender melhor essa relação entre a imprensa e os estudantes.
Por meio de uma das entrevistas com um ex-redator e ex-diretor comercial do
Jornal “Correio do Triângulo”, percebemos que a maioria dos redatores dos jornais
pesquisados, constituía-se por homens influentes tanto na cultura quanto na política do
município. Porém todos eles exerciam outras ocupações econômicas, tais como
bancários, dentre estes, Ercílio Domingues da Silva, ex-diretor do jornal “Folha de
Ituiutaba”, e empresários tal como Joaquim Pires Neves, ex-diretor comercial do Jornal
“Correio do Triângulo”. Verificamos também que com exceção do jornal “Município de
Ituiutaba” – órgão oficial do município, todos os outros eram de iniciativa privada,
mantidos por seus anunciantes.
A análise dessas notícias e das entrevistas sobre o movimento estudantil em
Ituiutaba no período destacado permitiu o desvendamento de informações inéditas,
fundamentais para a contribuição da construção da história da educação regional, como
as que apresentamos a seguir.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro decênio que aqui estudamos, o município contava com várias
organizações estudantis, como a “União Estudantil de Ituiutaba”; o “Clube Estudantil
Rui Barbosa de Ituiutaba”; o “Clube Estudantil Ituiutabano”; o Grêmio “Lítero-
educativo” pertencente ao Colégio Santa Tereza; e o grêmio “Lítero-educativo” do
Educandário Ituiutabano. 11 A valorização das fontes orais se deu com o advento da renovação de métodos e perspectivas da análise histórica, a partir dos trabalhos de pesquisa do grupo de estudiosos conhecidos como Escola dos Annales. A utilização dessas novas fontes foi possível devido à incorporação de inventos tecnológicos ao ofício do historiador, como o gravador e o computador, por exemplo. A história oral passou a ser utilizada para informar sobre a existência do documento tradicional ou modificar sua leitura. Thompson vinculou a valorização das fontes orais à ascensão ao poder de grupos ou classes sociais sem uma história escrita, além da necessidade que sentiram alguns historiadores de registrarem lutas clandestinas de grupos que não documentaram suas ações, como perseguidos políticos, por exemplo (LOURO, 1990).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
3
Representantes do movimento estudantil local do período analisado afirmaram
que, com exceção da União Estudantil de Ituiutaba, a criação das demais entidades
estudantis estudadas, dava-se dentro das instituições escolares tijucanas, como o Clube
Estudantil Rui Barbosa, originário na década de 1950 por estudantes de nível secundário
do Instituto Marden12, que tratava de assuntos de interesse dos estudantes da própria
instituição. A União Estudantil de Ituiutaba foi fundada pela iniciativa dos estudantes de
nível superior tijucanos do curso de bacharel em Direito, da Faculdade Estadual de
Minas Gerais e de São Paulo. Quando do período de férias, os representantes da União
Estudantil de Ituiutaba13 na década de 1950, reuniam-se em Ituiutaba para discutirem as
iniciativas da instituição.
O organismo de representação estudantil que mais se destacou no município, no
período analisado, foi a União Estudantil de Ituiutaba, fundada em Belo Horizonte no
início da década de 1950, com sua diretoria composta por estudantes de nível
universitário, cujas primeiras eleições para a escolha desses representantes aconteciam
na capital mineira, em acontecimentos denominados de “secção de Belo Horizonte”. O
engajamento político dos representantes da UEI foi justificado, segundo um dos
fundadores da entidade, como um exercício para atuação política desses estudantes, que
em sua grande maioria pertenciam ao curso de graduação em Direito da Faculdade
Estadual de Minas Gerais, os quais tinham como princípio, a formação para a atuação
na vida política do país, começando pelo âmbito regional, existindo acordo entre eles
que após a conclusão de seus estudos, retornariam a cidade e se candidatariam a
representação política em Ituiutaba.14
Nos anos de 1950, observamos que os estudantes do município, representados
pela União Estudantil de Ituiutaba, surgiam nos jornais com participação política ativa,
como evidenciamos em uma das primeiras ações sociais dessa união, a qual juntamente
com o apoio das lideranças políticas (prefeito municipal David Ribeiro de Gouveia e o
presidente do PSD local, Camilo Chaves Júnior) e da imprensa locais (Jornal “Folha de
12 Instituição escolar particular com cobranças de mensalidade 13 A União Estudantil de Ituiutaba, em seu inicio, na década de 1950, não apresentava a definição de cargos para seus representantes. 14 Historicamente no Brasil, o curso de Direito foi criado ainda no Império com o objetivo de formar líderes políticos, pessoas capazes de administrar o imenso país. Por muitas décadas, a obtenção do título de bacharel garantiria ao seu portador o ingresso na vida política da nação, tendência que começaria a ser alterada a partir dos anos de 1920, mas que poderia ser observada com nitidez em diferentes regiões do país, especialmente no interior. Lembremos que nos anos de 1950, menos de 1% da população tinha acesso a educação superior, ou seja, o legislativo era controlado por elite privilegiada que votava leis em causa própria (SOUZA, 2005).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
4
Ituiutaba”) se empenharam em uma campanha de reivindicação ao governador mineiro,
Juscelino Kubitschek (um dos líderes do PSD), pela construção de uma praça de
esportes para a cidade.
A aproximação das lideranças estudantis com partidos políticos foi sempre
constante no decorrer da história. Também em Ituiutaba, nesse período, o movimento
estudantil era pauta na agenda dos políticos que se esforçavam por cooptar suas
lideranças buscando controlar as ações dos estudantes. Assim, vemos na matéria acima,
que os jornais ressaltavam a presença do aluno em questões de seu interesse como a
construção de uma praça de esportes. Os alunos eram eleitores em potencial não
podendo ser desprezados, essa valorização social desse grupo era fator comum ao
restante do país, já que o acesso ao ensino superior era limitado a restrita classe
dominante.
Em meados da década de 1950, também existia o “Clube Estudantil Rui Barbosa
de Ituiutaba” e era composto por estudantes de nível secundário, possuindo a seguinte
hierarquia: presidente, vice-presidente, secretário, diretor-social, bibliotecário, diretor-
esportivo, tesoureiro e orador. A escolha de seus representantes era realizada por
indicações desempenhadas por integrantes do próprio grupo, pela composição de sua
diretoria, vemos que as atividades esportivas e sociais, além das culturais obviamente, é
que deveriam conformar o perfil do estudante tijucano que deveria se dedicar às
atividades de interesse acadêmico com prioridade.
O estudante ideal, desde os anos de 1950, aparecia nos jornais como um
indivíduo dinâmico, a quem pertenceria o futuro. No entanto, tal qualidade era
ressaltada quando aplicada às atividades acadêmico-escolares, sendo um
comportamento desejado dentro dos muros da instituição escolar ou quando empenhado
na realização de atividades relacionadas à produção de conhecimento, cultura e lazer.
Esse dinamismo da juventude também era ressaltado pelos jornais como uma
atitude patriótica mesmo antes da implantação da ditadura quando se reforçaria essa
tendência. Isto pode ser notado na ocasião da denominação feita por estudantes ao
referido clube estudantil “Rui Barbosa” e pela conseqüente homenagem realizada por
um dos principais jornais em circulação daquela época, como é revelado a seguir:
[...] escolhendo o nome insignado de Rui Barbosa, para patrono da agremiação, cultuam os estudantes de Ituiutaba a memória de uma figura por todos os títulos dos mais ilustres e inconfundível de nossa história política [...] Perpetuar portanto o seu nome em entidades
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
5
desse gênero significa homenagear sinceramente todas as figuras de relêvo da história-pátria. (Folha de Ituiutaba, 31/03/1956) E ainda: [...] Estão de parabéns todos os laboriosos rapazes que lançaram em Ituiutaba essa benigna luz, fonte dos mais belos ideais que tanto nossa pátria reclama e pede. Mister se faz que todos os estudantes ituiutabanos, assistam as reuniões do Club e tornem-se membros dele, para que suscite no alvorecer de amanhã, um sustentáculo forte, indestrutível em prol da juventude ituiutabana e do engrandecimento moral, e intelectual do Brasil (Correio do Pontal, 19/04/1956).
Dentre as ações do Clube Estudantil Rui Barbosa estava a publicação do jornal
estudantil “A Voz dos Estudantes” redatoriado por Armando Campos com a
colaboração de alguns estudantes, o qual também recebia bastante destaque pela
imprensa tijucana. Segundo depoimento colhido, o Clube Estudantil Rui Barbosa na
década de 50, apresentava ligação política com a União Democrática Nacional – UDN,
por meio de seu presidente Armando Campos, que também era redator do jornal
estudantil “A Voz dos Estudantes”, estudante de nível secundário e professor do
Instituto Marden, que se identificava com os ideais políticos do referido partido. O
Clube Estudantil Rui Barbosa realizava eleições de seus representantes a cada três anos,
e foi fundado por estudantes do período noturno de nível secundário do Instituto
Marden, que eram trabalhadores diurnos, dentre estes, dois eram ex-seminaristas, como
seu presidente Armando Campos e seu orador Ênio Gomes de Castro, no ano de 1956.
Em fevereiro de 1956, fundava-se em Ituiutaba mais um clube estudantil, o
“Clube Estudantil Ituiutabano”, que surgiu após uma série de reuniões de estudantes no
Ginásio São José, instituição confeccional com cobrança de mensalidades. O referido
clube também se apresentava com caráter desportivo e social, visto que se tratava de
uma “agremiação esportiva” para a prática recreativa de diversas modalidades do
esporte, além de visar à criação de uma biblioteca para seus associados.
Pode-se perceber também que a maior parte dos dirigentes que recebiam espaço
nas páginas da imprensa do movimento estudantil em Ituiutaba na década de 1950, era
composta por estudantes do sexo masculino como ocorria na União Estudantil e nos
clubes estudantis. As exceções eram os Grêmios “Lítero-educativos” divulgados a cada
ano, pertencentes ao Colégio Santa Tereza, que era uma instituição confeccional com
cobrança de mensalidades, destinada à escolarização de estudantes do sexo feminino. A
escolha para as representantes da diretoria desse grêmio acontecia por eleição na própria
instituição no início de cada ano letivo, sendo divulgada pelos jornais em circulação da
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
6
época. Ainda nos anos de 1950 às mulheres era permitido muito menos que aos homens,
não se via com bons olhos a atuação feminina na política estudantil, especialmente nas
localidades interioranas e tradicionais.15
Ao final dos anos de 1950, o Educandário Ituiutabano também realizou a
fundação de seu grêmio Lítero-educativo, sendo composto pela participação de seu
corpo docente, discente e pela diretoria da instituição, os quais apontaram os nomes do
professor-orientador, presidente, vice-presidente, secretária, tesoureiro, diretor-esportivo
e diretores-musicais. A diretoria desse grêmio incluía alem de esportes as atividades
musicais, um perfil diferenciado do grêmio Rui Barbosa de Ituiutaba.
Segundo o jornal “Folha de Ituiutaba” (26/03/1958), o grêmio Lítero-educativo
do Educandário Ituiutabano realizava seções aos finais de semana de Educação Musical
e Fabulação com audições de discos de histórias juvenis, músicas folclóricas e
patrióticas. Os jornais enfatizavam o patriotismo da juventude brasileira associando-o
aos valores da família e da tradição cristã do país, uma cruzada ideológica realizada por
boa parte dos veículos de comunicação no contexto de polarização internacional entre
capitalismo e comunismo.
Na década de 1960, percebemos o surgimento de novas organizações estudantis
locais, como: o “Comitê Estudantil Masculino pró Lott”; o “Movimento Estudantil
Unido de Ituiutaba”; a Liga Ituiutabana de Esportes Colegiais (LIEC); o grêmio
estudantil “Visconde de Cairú”; o grêmio “Pe. Gaspar Bertoni”; e o grêmio “Bernardo
Guimarães”. Além da reestruturação do grêmio Lítero-recreativo “Profº. Álvaro
Brandão de Andrade” e permanência da existência da “União Estudantil de Ituiutaba”. 16
Essa notícia, no ano de 1960, foi publicada de forma bastante discreta (10 linhas)
em um dos jornais de Ituiutaba, o que indica certa resistência à projeção dos estudantes
relacionados às questões políticas. Contudo, a matéria mostra certo alinhamento do
movimento estudantil local com o nacional, já que a UNE apoiou a chapa Lott-Jango
(presidente-PSD e vice-PTB). Também em Ituiutaba parte dos estudantes demonstraram
simpatia pela aliança PSD-PTB organizando comitês em apoio à candidatura Lott a
presidência do país, como é revelado no seguinte recorte jornalístico: “Comitê
15 Muito embora, o primeiro presidente da UNE era a estudante Ana Amélia Queirós Carneiro de Mendonça, eleita durante o I Congresso Nacional dos Estudantes, em 1937 (GURGEL, 1980). 16 Também podemos destacar que neste período não foram encontradas nenhuma outra notícia referente ao “Clube Estudantil Rui Barbosa de Ituiutaba” e ao “Clube Estudantil Ituiutabano” o que pode indicar certa efemeridade da existência dessas organizações locais que da mesma forma em que se multiplicavam em função da projeção dos estudantes no cenário político como sujeito ativo das decisões do país, elas desapareciam de acordo com o contexto político local.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
7
Estudantil masculino pró Lott. Foi organizado e vai funcionar em conjunto com o
comitê feminino”. (Folha de Ituiutaba, 21/05/1960).
A imprensa abria espaço para estudantes e professores, mas sempre focando a
sua atuação como forma de engrandecimento cultural ou esportivo, retratada pelo Jornal
“Folha de Ituiutaba” (10/06/1961) que assim se referia à publicação do periódico
“Tribuna Estudantil” pela União Estudantil Ituiutabana:
Jornal noticioso, literário e humorístico, traz em suas colunas, além de bem elaborados trabalhos dos estudantes, preciosas colaborações de professores valorizando o empreendimento cultural dos jovens tijucanos, que por sinal é de bem esmerada apresentação gráfica.
Neste período observamos que as eleições para a escolha da diretoria da União
Estudantil de Ituiutaba passaram a acontecer no próprio município e não mais na capital
do estado. A partir dos anos de 1960, o movimento estudantil de Ituiutaba seria
observado por setores da imprensa escrita com mais proximidade, surgindo críticas a
ação dos estudantes, mas que revelavam o desejo de controlar os rumos que esse
movimento social começava a tomar em nível local, mas que representava um reflexo
do processo nacional:
Eleita a nova diretoria da União estudantil. Vitória da juventude democrática – Posse no próximo dia 21. [...] desejamos aos novos diretores da UEI uma feliz gestão, se possível fazendo com que a entidade deixe de ser um mero clube recreativo, para se transformar num órgão de efetiva defesa dos interêsses da classe que representa, que essa é sem dúvida, sua finalidade precípua. (Folha de Ituiutaba, 07/04/1962)
No artigo jornalístico acima, observamos que a imprensa local, especificamente
o Jornal “Folha de Ituiutaba”, apontando o “mero” caráter “recreativo” da União, exigia
dos estudantes uma efetiva participação na mobilização de suas forças em favor dos
interesses da classe estudantil, evidenciando-se mais uma vez, que os estudantes
deveriam cuidar das questões educacionais sua “finalidade precípua”.
Também no início da década de 1960, surgiu mais um órgão de representação
dos estudantes, o Movimento Estudantil Unido de Ituiutaba, que como no resto do país
se destacava pelo ativismo político, como pudemos analisar na ocasião do manifesto
realizado por meio da imprensa local, solicitando providencias emergenciais as
autoridades políticas, devido à paralisação das obras da BR-71, a qual alegavam possuir
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
8
fundamental importância para a economia da região. A ação dos estudantes contribuiu
para que o governador do Estado liberasse o prosseguimento dessas obras.
A efervescência do movimento estudantil local representava a emergência de
movimentos sociais no cenário político por todo o país, acentuado a partir dos anos de
1960, com ascensão do governo Jango que, historicamente, representava o bloco
nacional-reformista (herança de Vargas) e tinha apoio da UNE, por exemplo.
Tal fenômeno pode ser percebido também no interior mineiro, como vemos
pelas matérias de manchete da “Folha de Ituiutaba”: “A União Nacional dos Estudantes
e a verba de 300 milhões” (06/06/1962), que tratava do protesto de membros da Igreja
Católica contra a liberalidade na distribuição de verbas à União Nacional dos Estudantes
que era acusada de praticar o “suicídio da democracia”, pelo uso de 300 milhões de
cruzeiros, verba pública investida em “uma sede nacional do partido comunista”. 17
Porém, na mesma edição, o Jornal “Folha de Ituiutaba”, publicaria a carta do
então presidente da União Nacional dos Estudantes, Aldo Silva Arantes, em defesa dos
estudantes e contra as “agressões insólitas e sem fundamento” praticadas por grandes
jornais e por membros da Igreja Católica classificados pela UNE como “advogados das
classes dominantes contra os humildes e os oprimidos”. Com esta, o presidente da
União Nacional dos Estudantes (UNE), realizou um discurso em favor dos interesses
das classes desprivilegiadas, como os trabalhadores sem terra, os operários com fome,
os doentes sem hospitais e os analfabetos sem escolas, denunciando a minoria da classe
dominante que vive à custa de uma maioria de brasileiros oprimidos e a liberalidade do
direito dos jornalistas de infamar impunemente. A resposta da UNE estava bastante
alinhada ao discurso populista de Jango (PRADO, 1981).
17 Nessa matéria, o presidente da entidade estudantil alegava ser uma acusação “ridícula e descabida”, esclarecendo que no ano de 1960 as verbas recebidas foram de apenas 5 milhões de cruzeiros, em 1961 foram de 15 milhões e em 1962 seria recebido o valor de 18 milhões, dos quais seriam gastos: 5 milhões para a UNE; 10 destinados ao Congresso Nacional e 3 milhões para o Centro Popular de Cultura, afirmando estarem estes valores publicados no Diário Oficial da União. Na referida carta, o presidente da UNE, responde a acusação de “suicídio da democracia”, como sendo representado pelo governo das oligarquias, das minorias e da lógica capitalista. Com isso, encerra sua defesa pela justificativa de estar amparado pela lei da imprensa asseguradora da prerrogativa de resposta as acusações recebidas (Folha de Ituiutaba, 06/06/1962). Os movimentos de educação e cultura populares objetivavam desenvolver projetos políticos juntos às classes operárias que possibilitassem a superação da dominação do capital sobre o trabalho, e se originavam no interior dos movimentos estudantis. Em 1963, a Ação Popular afirmou: “Os meios formais de educação, como escolas e livros, além de promoverem uma educação voltada para as elites e seus interesses, são inacessíveis à maioria das massas populares, mercê das barreiras de custo e dos privilégios de seleção e promoção, e das desigualdades de condições, francamente desfavoráveis aos grupos mais pobres. Constata-se, por exemplo, no quadro educacional brasileiro, que de 200 alunos que iniciam o curso primário, apenas 90 o terminam. Destes, apenas 10 concluem o secundário e somente um alcança a universidade. A par disso, mais da metade de nossa população é totalmente analfabeta.” (FÁVERO, 1983, p.21)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
17
9
Dessa forma, o Jornal “Folha de Ituiutaba” ao noticiar as acusações feitas a UNE
e a carta de defesa do presidente da referida entidade estudantil, buscava transferir sua
responsabilidade editorial, passando a imagem de veículo de informação neutro, não se
comprometendo nem com o movimento estudantil tampouco com seus opositores. De
qualquer maneira, esses veículos estavam sempre vigiando os estudantes com
proximidade, especialmente no contexto em que os movimentos de educação e cultura
populares desenvolviam projetos políticos juntos às classes operárias com o objetivo de
possibilitar a superação da dominação do capital sobre o trabalho, e se originavam no
interior dos movimentos estudantis.
Com a implantação do regime político militar no Brasil, constatamos que o
Jornal “Correio do Triângulo” passa a ser um veículo de comunicação representativo de
ideais anti-comunistas, transparecendo uma concepção que deixa clara o apoio a não
participação dos estudantes na vida política do país, como é mostrado no artigo: “Os
comunistas e a UNE”, (Correio do Triângulo, 09/08/1964). Este revela mais uma vez o
contexto político e social por qual passava o país naqueles anos, como o ataque aos
integrantes da UNE acusados de comunistas e de “desmoralizadores de nossa
juventude”, além da afirmação da atual lógica de mercado capitalista, assegurando ser
necessário à produção de “capital humano” nas escolas para o atendimento das
“necessidades do crescente progresso”, marcado pelo contexto de modernização
nacional daquela época.
A imprensa local, após 1964, com a ascensão ao poder do marechal Castelo
Branco, parece ter tentado afastar o movimento estudantil tijucano da subversão da
UNE, publicando artigo no Jornal “Correio do Triângulo” (coluna Vida Estudantil)
demonstração de apoio às forças militares por parte do movimento estudantil local. Esse
“apoio” do presidente da União Estudantil de Ituiutaba (UEI), em visita à cidade de
Uberaba-MG foi assim noticiado: “[...] o presidente da UEI [...] Levou uma mensagem
de solidariedade e apoio ao presidente marechal Humberto de Alencar Castelo Branco
[...]” (Correio do Triângulo, 24/05/1964).
Mesmo assim, parte da classe estudantil de Ituiutaba viveu a repressão política
em decorrência do novo horizonte autoritário, como na ocasião em que a UEI teve sua
identidade questionada pela revista “Câmara Lenta”, seção “Arrozcap em Câmara Lenta
TN nº 25”, afirmando que a mesma poderia ser uma entidade estudantil ou até mesmo
uma entidade secreta. Em resposta a esse questionamento, o presidente da UEI publicou
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
0
no Jornal “Correio do Triângulo” sua defesa, alegando estar à entidade aberta em suas
reuniões a todos os representantes dos grêmios estudantis do município.
Considerando o fato da existência de um posicionamento hierárquico por parte
dos movimentos estudantis em Ituiutaba, em que as ações da UEI ocupavam um lugar
de destaque frente às outras organizações, constatamos que os estudantes se adequaram
ao regime político autoritário vigente, especialmente no primeiro momento da ditadura.
Essa adequação ao novo horizonte político pode ser percebida em duas tendências: em
primeiro lugar a UEI, no ano de 1964, promoveu uma assembléia geral para reforma em
seus estatutos justificada para a criação de órgãos necessários ao seu “bom
funcionamento” que implicaria mais vigilância a sua diretoria.
Em segundo lugar a observação de uma notável valorização das atividades
esportivas pelos estudantes, por meio das constantes organizações de torneios
esportivos, como as “olimpíadas estudantis de 1964” e os “jogos estudantis da
primavera” promovida pela UEI para alunos do ensino secundário. Além da criação de
organizações estudantis específicos como a Liga Ituiutabana de Esportes Colegiais
(LIEC), formada por estudantes em nível colegial e composta por uma diretoria, que
como todos os outros órgãos, era indicada por meio de eleições posteriormente
publicadas nos jornais em circulação da época.
CONCLUSÃO
Em decorrência das análises realizadas das notícias e das entrevistas acima
discutidas, constatamos que após a implantação da ditadura militar no Brasil, o perfil da
representação do estudante nas páginas dos jornais em Ituiutaba se modificou, existindo
acomodação dos estudantes ao regime político autoritário, visto que suas ações agora
não apresentavam mais reivindicações políticas, restringindo-se a campanhas
beneficentes, homenagens e torneios esportivos, portanto, o perfil do estudante
politizado era gradativamente substituído por aquele comprometido com as causas
assistenciais e recreativas.
Com isso, observamos a presença de dois períodos distintos: o primeiro que vai
do início da década de 1950 até o ano de 1963, em que os estudantes apresentam uma
participação ativa na luta pelos seus interesses com algumas reivindicações de ordem
política; e o segundo que se inicia após a implantação da ditadura militar, no ano de
1964, até o final da mesma década, em que a classe estudantil tem que se adequar ao
sistema autoritário, não apresentando nenhuma contestação as forças políticas
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
1
instituídas, tendo caráter muito mais de movimento social assistencial e de recreação,
até desaparecer das páginas dos jornais a partir de 1969.
Para ampliação das possibilidades de interpretação, continuaremos relacionando
sempre o contexto nacional com o local. Assim, mesmo nos rincões mais distantes do
país, como Ituiutaba, os reflexos de 1964 foram percebidos de forma acentuada sobre as
organizações estudantis locais, desarticuladas, o que tentamos demonstrar por esse
estudo.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, J. C. S. e INÁCIO FILHO, G. “Inventário e Interpretação sobre a Produção Histórico-Educacional na Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba”. In: GATTI JR, D.; INÁCIO FILHO, G. (orgs.). História da Educação em Perspectiva: ensino, pesquisa, produção e novas investigações. Campinas, SP: Autores Associados; Uberlândia, MG: EDUFU, 2005. CAPELATTO, M. H. R. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto-EDUSP, 1988. FÁVERO, O. Cultura popular e educação popular: memória dos anos 60. Rio de Janeiro: Graal, 1983. FERREIRA, M.de M. e AMADO, J. Usos e abusos da história oral. 8ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. GERMANO, J. W. Estado Militar e educação no Brasil. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2005. GROPPO. L. A. Uma onda mundial de revoltas: movimentos estudantis nos anos 1960. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, 2000. Disponível em: < http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000210231> Acessado em: 20/01/2010. GURGEL, R. M. História da UNE: Depoimentos de Ex-Dirigentes São Paulo, Livramento, 1980. LOURO, G. L. - “A História (oral) da Educação: Algumas Reflexões” in Revista Em Aberto - “Ensino de História” - ano IX, no. 47, 1990. MEIHY, J. C. S. B. Manual de História Oral. 4ª ed. São Paulo: Loyola, 2002. SOUZA, S. T. Docentes no Congresso Nacional (5a e 6a Legislaturas – 1963/1967). Tese de Doutorado. Faculdade de Educação da Unicamp, 2005. PRADO, M. L. O Populismo na América Latina. 7a.ed., São Paulo: Brasiliense, 1981.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
2
EIXO 4
Práticas Educativas e Estágios nas Licenciaturas
A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Magnólia Gondim - FACIP/UFU [email protected]
Edineth Freitas Assunção - FACIP/UFU [email protected]
Dalila de Souza Ferreira - FACIP/UFU [email protected]
Melchior José Tavares Júnior - FACIP/UFU [email protected]
O objetivo deste trabalho é perceber e discutir a avaliação da aprendizagem no espaço escolar. Para tanto, selecionamos uma instituição escolar localizada no município de Ituiutaba, Minas Gerais, na qual realizamos observação das aulas e entrevistas semiestruturadas com a supervisora e com três professores da disciplina Ciências, aqui apresentados com pseudônimos. A professora Vera se enquadra dentro dos poucos professores que trabalham a avaliação da aprendizagem, detectando as dificuldades de seus alunos e buscando novas decisões para a obtenção de resultados mais significativos. Já a professora Daniela possui alguns elementos de uma avaliação visando às dificuldades do aluno, no entanto há aspectos em sua didática que precisa ser melhorado, de acordo com o que foi observado. No entanto, o professor Carlos se encaixa na maioria dos professores que utiliza apenas as provas como método de avaliação. Reafirmamos o que preconizam os pesquisadores do assunto desde a década de 80, que a avaliação é feita durante o processo de ensino. Os resultados apontam ainda que essa nova postura pode estar, aos poucos, ocupando espaço na prática docente de professores de Ciências, apesar de alguns ainda possuírem uma postura tradicional, classificatória. Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; professores de Ciências; novas práticas.
CONTEXTO DO RELATO
O trabalho foi desenvolvido na escola Municipal Machado de Assis, localizada
na região central de Ituiutaba/MG, pelas alunas de graduação em Ciências Biológicas –
Integral da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal FACIP-UFU. A escola Machado
de Assis oferece ao município todos os níveis da educação básica, pois possui desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio, a mesma atende a população de todos os níveis
sociais, sendo assim uma escola heterogênea.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
3
Para compreender melhor o sentido da avaliação da aprendizagem em sala de
aula, usamos como recurso metodológico entrevista semiestruturada aliada à técnica de
observação participante, que segundo Laville e Dionne (1999), tem como vantagem a
integração do pesquisador e a participação na vida de um grupo, porém é possível o
pesquisador fazer pequenas anotações em seu diário de bordo, mas ele, sobretudo
guarda as informações necessárias em sua memória.
Os dados foram coletados e analisados durante a disciplina de Projeto Integrado
de Práticas Educativas III (PIPE III), que tinha como objetivo analisar a percepção do
professor de Ciências sobre avaliação e, posteriormente, na disciplina Estágio
Supervisionado I e II cujo objetivo é possibilitar a aproximação do graduando às salas
de aula.
DETALHAMENTOS DAS ATIVIDADES
Durante a disciplina PIPE III, ofertada no período do 1º semestre de 2008, foi
feito um reconhecimento da escola com a supervisora Joana e foi observado um total de
três aulas da professora Vera. Já no Estágio Supervisionado I no 2º semestre de 2009
foram observadas cinco aulas do professor Carlos e no Estágio Supervisionado II,
realizado no 1º semestres de 2010, foram acompanhadas outras cinco aulas com a
professora Daniela. Os nomes dos participantes citados são pseudônimos. Na entrevista
realizada com a supervisora continham tais perguntas:
1. Qual é a característica da comunidade a qual a escola está localizada?
2. Como ocorrem à organização do tempo escolar (ciclo ou série)? Utilizam-se
conceitos ou notas?
3. Quantos alunos compõem a turma? Como é a organização desta?
4. Quantos professores compõem o corpo docente?
5. Como é a qualidade do espaço físico da sala de aula? Há utilização do
laboratório?
6. Qual é a carga horária de cada disciplina?
7. Na escola há definição de semana de prova?
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
4
8. Qual é o mínimo exigido para a aprovação do aluno?
9. Como é realizada a recuperação? Qual a sua periodicidade?
10. Quem planeja a recuperação? Quem realiza esta?
Nas entrevistas realizadas com os professores as questões foram as seguintes:
1. Como é realizada a prática avaliativa em sala de aula? Tem momentos
definidos?
2. Você como professor, utiliza a avaliação com qual finalidade?
3. Através dos resultados das avaliações o que pode ser feito?
4. Como é a avaliação (testes, provas, avaliação oral, trabalhos em grupos,
etc)?
5. Qual é a maior dificuldade enfrentada por você na avaliação (exemplo)?
6. Qual é a sua concepção de avaliação?
ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO
Supervisora Joana
Iniciamos a conversa com o pedido de autorização para que o trabalho se
realizasse. No mais foi realizada uma entrevista com a mesma, buscando informações
relevantes como: número de alunos, corpo docente, nível social, como a escola
estabelece a distribuição de créditos, entre outros. No decorrer do trabalho foram feitas
visitas na escola com a intenção de conhecer como são elaboradas, aplicadas e a
finalidade da avaliação no contexto escolar.
As salas observadas possuem aproximadamente de 25 a 30 alunos, cada uma
delas tem em sua composição docente um total de seis professores. Os professores de
Ciências possuem uma carga horária de 40 horas, cada um deles com três ou quatro
horas-aula por semana.
A própria escola possui um padrão pré-estabelecido de distribuição das notas,
onde a única exigência é que haja a avaliação bimestral, que ocorre no final de cada
bimestre, assim o restante da distribuição fica a critério de cada professor. Para a
aprovação dos alunos é necessário que o mesmo obtenha no mínimo 60% de
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
5
aproveitamento na disciplina, se a porcentagem não for atingida a escola possui um
sistema de recuperação, que é realizada no final de cada bimestre por meio de trabalhos
e provas, que são elaboras e aplicada pelo próprio professor.
Apesar de todos os professores dizerem que utilizam a avaliação apenas para
verificar se o aluno realmente esta aprendendo o conteúdo e que a avaliação é feita no
decorrer das aulas, pudemos detectar na observação que cada um dos três professores
difere na forma de dar aulas, sendo: professor Carlos o tradicionalista, professora Vera
dinâmica e professora Daniela apresentando fragmentos dos anteriores. A seguir,
discorreremos sobre cada um dos três docentes entrevistados.
O professor Carlos
O professor é rígido, onde em sua sala os alunos ficam enfileirados e falam
somente quando têm a permissão do professor. Seu método de avaliação é feito por
meio de provas mensais e bimestrais e trabalho individual extraclasse. Vale salientar
que o professor procura que todos os alunos façam a leitura do livro didático, no
entanto, o mesmo não pode ser utilizado como método avaliativo.
O rigor do professor causa um efeito de repressão nos alunos o que prejudica o
método de avaliação da aprendizagem, visto que numa sala onde não há o retorno do
aluno para o professor a avaliação do dia a dia torna-se deficiente, sendo assim a prova
o único meio de avaliação. Portanto, o mesmo utiliza os recursos avaliativos apenas
para verificar se o aluno está aprendendo ou não, e os acertos de cada aluno e lançado
no diário do mesmo como forma de registro para a escola e nada mais. Tal atitude
mostra que o professor não está muito preocupado com a aprendizagem do aluno e sim
se o conteúdo do planejamento anual será cumprido conforme as datas previstas.
Professora Vera
As aulas são dinâmicas com a participação ativa do aluno, a mesma utiliza de
recursos como leitura com teatro, jogos em sala de aula, trabalhos e projetos isto faz
com que sua aula tenha um perfil de avaliação coerente com a realidade de seus alunos.
A mesma observa os alunos todos os dias enquanto ministra o conteúdo, e assim sabe
detectar onde os alunos estão com dificuldade tentando saná-las antes da avaliação
bimestral ou mensal, por meio de aulas extras classe, nas quais os alunos mais
interessados e os que estão com dificuldades, as frequentam em horário fora de aula.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
6
A professora utiliza o erro dos alunos nas avaliações bimestrais e mensais como
forma de revisão da aula, reservando assim um dia de suas aulas para fazer a correção
da prova em sala de aula, onde a mesma utiliza didática diferente para os alunos
aprenderem o conteúdo.
É importante ressaltar que a professora possui um alto grau de intimidade com
seus alunos, e a mesma, utiliza expressões verbais que se identificam com os alunos, por
exemplo: Rafael18, cara de pastel, copia a matéria!
Professora Daniela
As aulas são dinâmicas, onde a professora procura instigar os alunos a
participarem da aula, no entanto nem todos os alunos participam, e em algumas vezes a
mesma utiliza a obtenção de créditos pelos alunos ao responderem alguma pergunta. A
professora utiliza como recurso avaliativo a prova mensal e bimestral, a participação
dos alunos, e trabalho extraclasse, onde os créditos obtidos pelos alunos são lançados no
diário com algumas alterações. Uma prática comum em sala de aula que pode causar
alguma alteração no lançamento da nota é a dos alunos copiarem a avaliação,
resolvendo os exercícios de forma correta, porém esta não é a única forma de utilização
da avaliação, a mesma também procura ver onde os alunos mais erraram e faz a
correção no quadro negro.
Analisando a postura do professor não podemos afirmar se o mesmo utiliza a
verificação ou a avaliação, pois há fragmentos de avaliação em sua conduta dentro de
sala, no entanto a mesma utiliza poucos recursos avaliativos.
A mesma afirma que é importante para a avaliação aulas dinâmicas e práticas,
no entanto durante nossa permanência em sala de aula a mesma não fez uso destas
aulas, passando assim a aplicação das mesmas para as estagiárias, portanto nestas
condições não podemos afirmar se a mesma somente faz apologia a avaliação da
aprendizagem ou se a mesma aplica tal técnica quando não há presença de estagiários na
sala.
Com base nas aulas assistidas podemos inferir que hoje a cultura da sociedade é
utilizar a avaliação como instrumento de classificação, visando à promoção do aluno,
porém para mudar essa realidade devemos mudar toda uma sociedade, visando que o
aluno realmente estude para aumentar seu conhecimento e não apenas para conseguir
18 Pseudônimo.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
7
avançar para o próximo ciclo, deste modo podemos ver que alguns dos professores
realmente estão interessados em tal mudança, como podemos ver na fala da professora
Daniela: Apesar de o sistema ser excludente, classificatório, ou seja, o que interessa é a
nota, mas para mim não... Não adianta dar o livro todo, se o aluno não absorve nada.
Quando utilizamos algum instrumento avaliativo temos que levar em conta a
autoestima, cultura própria do individuo, filosofia de vida, sentimentos e
posicionamento político da criança/adolescente, pois a avaliação não é só uma prova de
conhecimentos, por isso não devemos ignorar o erro, como diz Luckesi (1990),
devemos utilizá-lo como uma referência para mudanças dentro da sala de aula,
objetivando um desempenho positivo do aluno.
Segundo Rebelo (1993), as dificuldades de aprendizagem podem ser entendidas
como obstáculos, ou barreiras, encontrados por alunos durante o período de
escolarização referente à captação ou assimilação dos conteúdos propostos. Eles podem
ser duradouros ou passageiros e mais ou menos intensos e levam alunos ao abandono da
escola, à reprovação, ao baixo rendimento, ao atraso no tempo de aprendizagem ou
mesmo à necessidade de ajuda especializada.
Diante deste fato nota-se que, a avaliação é utilizada para verificar se o aluno
realmente esta aprendendo o conteúdo e para detectar os problemas na aprendizagem,
como podemos ver na frase do professor Carlos: É através da avaliação que podemos
diagnosticar as falhas na aprendizagem e recuperar o conteúdo com o aluno.
Assim, o professor deve, após que detectado as falhas na aprendizagem do
aluno, trabalhar e reverter essas dificuldades, ministrando novamente o conteúdo, um
dos professores entrevistados utiliza aulas extras como recurso didático, onde os alunos
com maior dificuldade têm uma nova oportunidade de rever e aprender a matéria.
Para Esteban (2000), a avaliação da aprendizagem é essencial desde que essa
seja utilizada de forma coerente, significativa na formação dos alunos. Ela deve ser
dinâmica, continuada, e deve buscar sempre resultados positivos para o aprendizado dos
alunos. Porém avaliar a aprendizagem do aluno é avaliar a intervenção do professor, já
que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens
conquistadas ou não. Essa concepção nos remete à professora Vera: A avaliação deve
ser continuada, trabalhando nos níveis de aprendizagem dos alunos e desta maneira
obtendo os resultados desejados.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
8
Um ponto importante na avaliação, para Luckesi (1998), é o diálogo do
professor com o aluno, pois amplia o conhecimento do aluno e o professor pode assim
refletir sobre o que seu aluno diz e sobre a avaliação que o mesmo havia realizado. O
mesmo autor afirma que ao ter esse contato com o aluno o professor aprende com o
aluno desfaz muros e restabelece laços.
Diante das entrevistas podemos ver que todos os professores utilizam o discurso
de que a avaliação deve ser usada como um instrumento para verificar se o aluno está ou
não aprendendo o conteúdo em sala de aula, e os mesmos afirmam que, após a aplicação
de uma avaliação os resultados devem ser usados para a recuperação do conteúdo que
não foi absorvido pelo aluno, no entanto não e isso o que se vê no dia-a-dia, assim
podemos dizer que na teoria todos visam uma postura inclusiva, onde a aprendizagem
do aluno que é prioridade, no entanto na pratica as maiorias das ações são excludentes e
classificatórias, assim ficam algumas perguntas em nossas cabeças: Porque frases
bonitas e cheias de conteúdo não podem virar ações em sala de aula?
CONCLUSÃO
A tradição brasileira tem sido a de que a escola faz sua parte e não tem nada a ver
com a forma como os alunos resolvem suas dificuldades. Mas está crença aos poucos
vem se transformando e é importante que os futuros professores entendam que para um
professor comprometido com o sucesso escolar de todos os seus alunos, é fundamental a
atenção a essas questões e a naturalidade no tratamento que oferece aos que precisam de
ajuda extra, para que não sejam estigmatizados como incapazes, uma condição
absolutamente desfavorável à sua aprendizagem. Se a prática de ajuda extra fizer parte
do cotidiano da sala de aula da escola, todos começarão a concebê-las como naturais e
necessárias: um recurso do qual um pode precisar e se beneficiar, não sendo
exclusivamente de poucos. Para tanto pra que esse sucesso escolar aconteça é necessário
o trabalho em conjunto professor – coordenador.
A professora Vera se enquadra dentro dos poucos professores brasileiros que
trabalham a avaliação da aprendizagem, detectado as dificuldades de seus alunos e
buscando novas decisões para a obtenção de resultados mais significativos. Já a
professora Daniela possui alguns elementos de uma avaliação visando às dificuldades
do aluno, no entanto há aspectos em sua didática que precisa ser melhorado, de acordo
com o que foi observado. No entanto, o professor Carlos se encaixa na maioria dos
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
18
9
professores que utiliza apenas as provas como método de avaliação.
Este trabalho ampliou nossa visão sobre a avaliação da aprendizagem, como esta
prática vem sendo trabalhada no cotidiano escolar. Deste modo pode-se reafirmar o que
preconizam os pesquisadores do assunto desde a década de 80, que a avaliação feita
durante o processo de ensino parece aos poucos ocupar espaço na prática docente
brasileira, apesar de alguns professores ainda seguirem padrão que foi proposto a
décadas atrás.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ESTEBAN, M. T. Avaliação no cotidiano escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. LAVILLE, C. e DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologias da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda,1999. LUCKESI, C. C. Verificação ou Avaliação: O que pratica a escola? A construção do projeto de ensino e avaliação. São Paulo: FDE, 1990. LUCKESI. C.C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1999. REBELO, J. A. S. Dificuldades da leitura e da escrita em alunos do ensino básico. Portugal: Edições Asa, 1993.
CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO ENTRE DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: NOVAS SINALIZAÇÕES?
Marcel Gomes Vieira
[email protected] Lívia Maria Alves
Melchior José Tavares Júnior FACIP-UFU
O presente trabalho teve como objetivo analisar a concepção de avaliação de docentes da Educação Básica de uma escola Estadual do município de Monte Alegre de Minas. Para tanto, em 2008, foram realizadas entrevistas com quatro professores de diversas áreas do conhecimento, que atuavam desde o ensino fundamental ate o ensino médio. Visando enriquecer os dados obtidos nas entrevistas, buscou-se no regimento da escola, informações sobre a postura da mesma a respeito da avaliação da aprendizagem. Durante a análise dos dados foi possível perceber duas categorias relevantes, sendo estas Em prática verificativa e Caminhando para uma avaliação formativa (Perrenoud, 1999). Embora se trate de uma amostra muito reduzida, consideramos que já ocorrem
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
0
novas posturas e práticas sobre avaliação de aprendizagem, as quais coexistem com práticas tradicionais, sinalizando possibilidades de mudança no processo educacional. Palavras-chave: Educação Básica, avaliação verificativa e avaliação formativa
CONTEXTO DA PESQUISA
O presente estudo foi desenvolvido na disciplina Projeto Integrado de Práticas
Educativas III (PIPE III) do terceiro período do curso de Ciências Biológicas da
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal/Universidade Federal de Uberlândia no ano
de 2008. O PIPE III teve como temática “As práticas educativas da Educação Básica”.
O mesmo tem a intenção de refletir sobre o espaço escolar, focando a temática
Avaliação da Aprendizagem com o objetivo de conhecer o funcionamento da escola,
através de estratégias para a coleta de informações. A investigação foi realizada junto a
professores que atuam na Escola Estadual de Monte Alegre de Minas. Esta instituição
se localiza na região central da cidade atendendo pessoas de todos os bairros, assim
como diferentes classes sociais. Sua existência é fundamental na comunidade onde ela
se encontra, pois é a única escola pública que oferece ensino no nível Médio e Educação
de Jovens e Adultos (EJA).
O termo avaliação sempre foi associado a fazer provas, fazer exame, atribuir
notas, repetir ou passar de ano. Ainda hoje avaliar é confundido como medir, talvez pela
própria origem histórica da avaliação. Segundo Luckesi (1998) a prática de aferição do
aproveitamento escolar realizada pelos professores se divide em três fases: medida do
aproveitamento escolar, transformação da medida em nota ou conceito e utilização dos
resultados identificados. Analisando a conduta do professor na realização desses três
procedimentos, é possível perceber se ele realiza avaliação ou verificação. Para esse
autor a escola brasileira opera com a verificação e não com a avaliação da aprendizagem
pois, geralmente não utiliza os resultados da aferição da aprendizagem para saber o que
fazer no sentido de garantir possíveis intervenções para que todos os alunos aprendam.
Considerando que embora haja avanços no debate acerca da avaliação, as
práticas ainda estão permeadas pela lógica da exclusão, o que nos remete a Esteban
(2000), para o qual “a reflexão sobre a avaliação só tem sentido se estiver atravessada
pela reflexão sobre a produção do fracasso/sucesso escolar no processo de
inclusão/exclusão social.”
Neste trabalho temos como propósito analisar a concepção de avaliação de
docentes da Educação Básica, no sentido de verificar ou não novas sinalizações sobre
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
1
essa temática, amplamente discutida há décadas no Brasil por pensadores como
Cipriano Carlos Luckesi, Jussara Hoffmann, Edmar Rabelo, dentre outros.
PARTICIPANTES DA PESQUISA
Este trabalho foi realizado com quatro professores do Ensino Médio da Escola
Estadual Caminhos do Conhecimento, assim nomeados João, José, Maria e Antônio19.
João possui Graduação em Ciências Biológicas; José possui Licenciatura curta
em Ciências, Licenciatura plena em Biologia e Química e Pós-Graduação em Inovação
Tecnológica na Educação; Maria possui Graduação em Letras e Pós-Graduação Lato-
sensu/Especialização em Inovação Tecnológica e Educação e o Antônio Graduação em
Biologia e Pós-Graduação em Planejamento e Gerenciamento de Recursos Naturais.
DETALHAMENTO DA PESQUISA
A escolha da técnica de coleta de dados a ser utilizada é norteada pelo melhor
método, dentro daquilo que o pesquisador objetiva na sua pesquisa. Como instrumento
de coleta de dados foi utilizado a entrevista com registros em gravação oral. Sobre esse
procedimento, Laville; Dione (1999) afirmam:
(...) a entrevista oferece maior amplitude do que o questionário quanto à sua organização: esta não estando mais irremediavelmente presa a um documento entregue a cada um dos interrogados, os entrevistados permitem-se, muitas vezes, explicitar algumas questões no curso da entrevista, reformulá-la para atender às necessidades do entrevistado.
Segundo Lüdke e André (1986), esse formato flexível é o mais adequado para
pesquisas em educação, pois se não houver uma ordem rígida das questões o
entrevistado poderá discorrer sobre o tema com base nas informações que possui e “na
medida em que houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as informações
fluirão de maneira notável e autêntica”.
Utiliza-se, neste trabalho, a entrevista semi-estruturada, que resulta em uma série
de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o
entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento. Esta modalidade permite ao
entrevistador uma maior flexibilidade, na medida em que pode se alterar a ordem das
19 Pseudônimos.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
2
perguntas e se tem ampla liberdade para fazer intervenções, de acordo com o andamento
da entrevista (BLEGER, 1993). Nesse sentido, Spink (2000, p. 45) afirma:
(...) numa entrevista, as perguntas tendem a focalizar um ou mais temas que, para os entrevistados, talvez nunca tenham sido alvo de reflexão, podendo gerar práticas discursivas diversas, não diretamente associadas ao tema originalmente proposto. Estamos, a todo o momento, em nossas pesquisas, convidando os participantes à produção de sentidos.
Foram formuladas 15 questões abertas tendo como foco a temática Avaliação da
Aprendizagem. Logo após as transcrições de forma literal, as quais foram à base de
análise, para compreendermos o que os professores entendem sobre a prática avaliativa
no cotidiano escolar. Foi feito um trabalho de organização de núcleos de temas
abordados e o agrupamento dos dados colhidos das respostas de cada pergunta da
entrevista, a fim de caracterizá-los por categorias de análise. O local da entrevista foi
escolhido pelos próprios professores, os quais optaram que fossem realizadas em suas
residências, por ser um lugar mais propício onde possibilita que a entrevista fluía sem
interrupções e constrangimentos, o que seria difícil no âmbito escolar.
Além da realização das entrevistas, foi utilizado como ferramenta para coleta de
dados a análise documental, a qual constitui uma técnica importante na pesquisa
qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja
desvelando aspectos novos de um tema ou problema. (LUDKE e ANDRÉ, 1986).
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Para iniciarmos nossa reflexão acerca da avaliação é importante contextualizar
tal discussão, nos marcos e regulamentos que a envolvem no contexto escolar, por isso
discutiremos, embora sucintamente, o regimento interno da escola em que trabalham
esses professores, pois é necessário entender que as falas dos professores estão atreladas
ao contexto cultural da instituição investigada. Pode-se perceber que esta instituição tem
uma intenção de avaliação formativa, como consta no Artigo 131 da Seção II da
Avaliação da Aprendizagem do Regimento da própria escola:
O processo de avaliação do aluno do Ensino Fundamental e Médio terá por finalidade a promoção e, também diagnosticar as deficiências de aprendizagem com vista à sua apuração, sendo contínua e processual, dinâmica e participativa,diagnóstica e investigativa.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
3
Embora exista essa regulamentação coletiva em que participaram todo o pessoal
ligado ao processo ensino-aprendizagem, como podemos perceber no Artigo 133 da
Seção II da Avaliação da Aprendizagem do Regimento “Deverão participar da avaliação
todas as pessoas diretamente envolvidas no processo ensino-aprendizagem.”, cada
professor tem visões diferentes na concepção de avaliação.
A trajetória de formação inicial e continuada de um docente é elemento básico
da construção da concepção. O momento da formação inicial é uma base para a
construção contínua da prática docente e da forma como pensá-la. Durante a formação
inicial o professor necessariamente tem seus primeiros contatos com as teorias e
fundamentos da educação, as opções de métodos e técnicas de ensino, os elementos da
didática, os quais têm a possibilidade de definir no pensamento docente em construção
de uma forma mais intensa, os parâmetros que juntamente com a experiência dos
tempos iniciais de função docente lhe atribuem uma postura profissional que por vezes
ficou acomodada desde então. Alguns professores concluem seu curso de licenciatura e
consideram sua trajetória de formação inicial concluída. Outros professores concluem
sua pós-graduação e consideram sua formação acadêmica finalizada.
As falas dos professores entrevistados acerca de sua experiência na docência nos
pareceram, de modo geral, sinceras e realistas. Independente desses depoimentos, nota-
se um gosto pela profissão professor.
Perceberam-se vários níveis de entendimento, elaboração e opinião formada
sobre a questão. Por vezes houve uma declaração imediata de falta de clareza ou
elaboração a respeito, que aos poucos foi surgindo e se construindo na medida em que
pensava e explanava suas idéias.
Em alguns casos, falar de concepção de avaliação causou incômodo, em outros
causou reflexão, em outros a resposta entusiasmada a respeito de sua concepção o
remeteu à sua pratica de sala de aula. Surgiu ainda a compreensão de uma forma
diagnóstica de avaliar, subsidiando a tomada de decisões e também a relação entre
forma de avaliar e as interações dentro e fora de sala de aula.
Também houve o entendimento da questão da avaliação, assumindo-a como
prática mais tradicional, formal, justificando-a ora como algo difícil em seu
encaminhamento didático de sala de aula.
Durante a análise dos dados foi possível determinar duas categorias relevantes,
sendo estas Em prática verificativa e Caminhando para uma avaliação formativa
(Perrenoud, 1999).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
4
EM PRÁTICA VERIFICATIVA
Entende se por avaliação verificativa aquela em que a aferição da aprendizagem
é utilizada para classificar os alunos. Para Luckesi (1998, p. 75):
A dinâmica do ato de verificar encerra-se com a obtenção do dado ou informação que se busca, isto é, “vê-se” ou “não se vê” alguma coisa. E pronto! Por si, a verificação não implica que o sujeito retire dela conseqüências novas e significativas.
Pode se perceber essa prática nas entrevistas de João e Antônio. João não é
muito experiente, como professor demonstra não ter um gosto exemplar pela profissão,
segue as normas, é evidente a realização de verificação e chama atenção que para ele o
erro não é muito importante prefere chamar atenção apenas para o acerto. Não
demonstra muito assumir a responsabilidade pela qualidade de seus alunos.
Avaliação é o mecanismo através do qual se pode verificar certos conhecimentos e idéias, determinando assim, algo aprendido anteriormente. (Entrevista, João 27/04/08).
Antônio tenta demonstrar interesse pela profissão, mas não é muito conhecedor
de detalhes do funcionamento da escola, realiza a verificação, porém sabe trabalhar com
o erro, utilizando-o a favor do aluno, sua experiência é pequena, e demonstra uma
preocupação com a formação de cidadãos.
Avaliação é a medida do conhecimento de uma pessoa sobre determinado assunto. (Entrevista, Antônio, 15/04/08). A prática educativa da avaliação tem como objetivo verificar o grau de aprendizagem da pessoa, seja ela criança, adolescente, jovem ou adulto, sobre um determinado conteúdo. (Entrevista, Antônio, 15/04/08).
Esse processo de aferição da aprendizagem escolar dessa forma verificativa,
além de não resultar em conseqüências significativas para melhoria do ensino e da
aprendizagem, acarreta conseqüências negativas sob o educando.
CAMINHANDO PARA UMA AVALIAÇÃO FORMATIVA
Para Perrenoud (1999) avaliação formativa é “toda avaliação contínua que visa
auxiliar o aluno a aprender e a se desenvolver”.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
5
A avaliação formativa não tem como objetivo classificar ou selecionar. Deve-se
avaliar o que se ensina, encadeando a avaliação no mesmo processo de ensino-
aprendizagem, somente neste contexto é possível falar em avaliação inicial (avaliar para
conhecer melhor o aluno e ensinar melhor) e avaliação final (avaliar ao finalizar um
determinado processo didático). Se a avaliação contribuir para o desenvolvimento das
capacidades dos alunos, pode-se dizer que ela se converte em uma ferramenta
pedagógica, em um elemento que melhora a aprendizagem do aluno e a qualidade do
ensino. Este é o objetivo de um processo de avaliação formativa.
Pode se perceber uma tentativa da realização dessa prática nas entrevistas de
José e Maria. José demonstra cabeça aberta, conhecimento sobre prática educativa.
Gosta da profissão, porém enxerga uma realidade da educação que não é muito
animadora, é bem realista e preocupado com o futuro de seus alunos, luta na medida do
possível para desenvolver seu trabalho com qualidade. A respeito da avaliação,
demonstra ter vontade de realizá-la de forma formativa, mas às vezes não consegue
devido ao sistema atual de educação no país. E possui uma experiência ampla.
No meu entender avaliação são mecanismos que o professor utiliza para sondar, verificar e quantificar a aprendizagem do aluno e por tabela ter um parâmetro para saber se o ato ensinar esta realmente surtindo os efeitos desejados e seus objetivos estão sendo realmente alcançados. (Entrevista, José, 10/04/08).
Maria demonstra conhecimentos atualizados da realidade da educação, possui
um interesse em melhoras, mas sabe a realidade e “tem os pés no chão”. Apesar de
saber como caminhar para uma melhoria, é um pouco acomodado, mas não por falta de
interesse mas sim devido a essa realidade, mas demonstra gostar da profissão.
Avaliação é um desafio e também um tema serio que deve ser revisto pelos educadores. Nós enquanto mediadores do conhecimento temos que repensar nossa conduta frente as avaliações e aos seus resultados refletindo sobre a nossa pratica .A avaliação de certo modo é vista como um problema .Se prestarmos atenção a nossa volta,poderemos perceber que o sistema,a escola,os professores e pais carregam uma parcela de culpa quanto a questão da avaliação. O sistema desempenha o papel de selecionar e discriminar o aluno socialmente. A escola controla o trabalho do professor. Alguns professores utilizam a avaliação para controlar a disciplina ou para controlar a disciplina ou para reproduzir o saber transmitido. Os pais para pressionar os filhos. (Entrevista, Maria, 02/06/08). A grande questão é o objetivo, a finalidade da avaliação. Avaliar pra quê? A avaliação só tem sentido
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
6
quando provoca o desenvolvimento do educando e deve ser um processo contínuo (Entrevista, Maria, 02/06/08).
Segundo Luckesi (1998) raramente, só em situações reduzidas e específicas,
encontram-se professores que fogem do padrão usual de avaliação verificativa e fazem
da aferição da aprendizagem um ato de avaliação, e para esses professores esse processo
de aferição da aprendizagem manifesta-se como um processo de compreensão do
avanço, limites e dificuldades que os educandos estão encontrando para atingir os
objetivos do curso, disciplina ou atividade da qual estão participando. E nesse trabalho
embora fosse feito com um total reduzido de professores pode se constatar que existe
esse avanço na realidade da prática avaliativa.
Embora não tenha sido foco do trabalho, ressalta-se a importância de novas
técnicas para efetuar o processo avaliativo. Não foi detectada, em nenhum momento a
preocupação dos professores em inovar tal processo, buscando para o mesmo, novas
técnicas e ou metodologias. Dentro desta perspectiva citamos de forma sucinta o
trabalho de Ronca e Terzi (1991) sobre a “prova operatória”, na qual o aluno constrói e
reconstrói conceitos ao longo de um caminho de aprendizagem, distante de mecânicos
questionários, provas e exercícios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora todos esses professores atuem em uma mesma instituição, possuem
concepções diferentes sobre avaliação, sendo a mesma influenciada pela história de
vida, trajetória acadêmica e sua interação social. Embora se trate de uma amostra muito
reduzida, consideramos que já ocorrem novas posturas e práticas sobre avaliação de
aprendizagem, as quais coexistem com práticas tradicionais, sinalizando possibilidades
de mudança no processo educacional.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 1993. ESTEBAN, M. T. (org.). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: UFMG, 1999.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
7
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: E.P.U., 1986. LUCKESI, C. Verificação ou Avaliação: o que pratica a escola? A construção do projeto de ensino e avaliação, n. 8, São Paulo: FDE , 1998. p.71-80. PERRENOUD, P. Avaliação: de excelência à regulação das aprendizagens entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. RONCA, P. A. TERZI, C. A. A prova operatória: contribuições da psicologia do desenvolvimento. 10. ed. São Paulo: Editora do Instituto Esplan, 1991. SPINK, M. J., (org.)Práticas Discursivas e Produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas. São Paulo: Cortez, 2000. DESAFIOS, LIMITES E POSSIBILIDADES DO TRABALHO PEDAGÓGICO:
REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA VIVENCIADA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Alexandra Bragato Vieira Silva - UFU
[email protected] Valéria Moreira Rezende - UFU
INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto de estudos realizados na disciplina Estágio
Supervisionado II do curso de Graduação em Pedagogia da Universidade Federal de
Uberlândia / Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, e tem como objetivo refletir
acerca dos desafios, limites e possibilidades do trabalho do professor na escola pública
e, mais especificamente, do professor alfabetizador.
Na perspectiva de Barreiro e Gebran (2006, p.106), o relatório final de estágio é
um “instrumento de sistematização das atividades propostas e desenvolvidas”, de modo
a verificar se o “estágio atingiu os objetivos propostos, analisar eventuais desacertos e
como foram revistos”. Em outras palavras, o relatório das vivências do estágio
possibilita ao educando o registro de suas experiências, a reflexão em torno das mesmas
e, ainda, a contribuição destes momentos para sua formação.
A escola-campo de estágio oferece ensino nas séries iniciais do ensino
fundamental, contando com 23 funcionários e 150 alunos em média. A instituição não é
homogênea no que tange à classe social: parece haver uma mistura entre alunos de
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
8
classe baixa e classe média. Sustenta como objetivo geral no seu Projeto Político
Pedagógico “preparar a criança, formando seu caráter para que se torne um ser crítico,
participativo e capaz de atuar, no futuro, em uma sociedade mais justa, mais humana,
mais democrática”20. (PPP, 2006, p.3)
Este estudo pretende evidenciar, ainda, a contribuição da disciplina Estágio
Supervisionado II para a minha formação como futura pedagoga. Na Universidade
Federal de Uberlândia / Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, o Estágio é parte
integrante do “eixo da práxis educativa”. O Projeto Político-Pedagógico do curso de
Pedagogia da referida universidade apresenta como objetivos desse eixo:
[...] oportunizar a prática dos alunos na realidade social, portanto em instituições escolares e não-escolares; suscitar momentos de reflexão avaliativa constantes sobre os efeitos da ação na prática pedagógica; gerar uma atitude científica e didática do aluno e do professor, contribuindo para que o processo de formação seja marcado pela experiência de pesquisa; ampliar a concepção de Educação; oportunizar a reconstrução dos saberes acadêmicos, possibilitando um questionamento e reflexão contínuos sobre a prática pedagógica, de um modo mais articulado; propiciar estudos e reflexões interdisciplinares com as diversas áreas do conhecimento que compõe o currículo do curso.
Partindo desse pressuposto, o estágio atua, no curso de Pedagogia da UFU /
FACIP, como um espaço de investigação e reflexão, tendo o propósito de formar
professores aptos a lidarem com a realidade presente no contexto escolar, tendo em
mente os desafios e as possibilidades dessa profissão.
Neste segundo momento de Estágio Supervisionado, o eixo de reflexão pautou-
se no ensino fundamental regular (séries iniciais). Na busca de uma melhor
compreensão das práticas pedagógicas nesse nível de ensino, foi realizada uma imersão
em uma escola da rede pública estadual da cidade de Monte Alegre de Minas-MG.
Inicialmente, se discorrerá sobre a relevância do Estágio na formação de
docentes e, em seguida, serão postas algumas considerações em torno do papel do
professor no processo ensino-aprendizagem e, em particular, no processo de
alfabetização e letramento, uma vez que, no decorrer das vivências na escola-campo, o
foco das observações foi direcionado para questões relativas à leitura e escrita.
Posteriormente, se dará ênfase à análise dos dados coletados na escola-campo,
enfocando principalmente no trabalho do professor e nas possíveis questões que 20 Tivemos acesso apenas ao Projeto Político-Pedagógico do ano de 2006. No entanto, a supervisora da escola nos afirmou que os objetivos da escola não sofreram alterações.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
19
9
interferem na organização do trabalho pedagógico do docente, de modo a possibilitar
uma visão fundamentada em torno do cotidiano escolar da maioria das escolas públicas.
REFERENCIAL TEÓRICO
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
No que tange à relação entre teoria e prática nos cursos de formação de
professores, Pimenta (2006) chama atenção para o fato de que a prática não pode ser
vivenciada por si só. Faz-se extremamente necessário a existência de elementos teóricos
para subsidiá-la. Sendo assim, teoria e prática devem andar juntas, de modo a tomar o
exercício da prática não apenas como uma experiência, mas, sobretudo, como uma
reflexão e possível ação. Na mesma linha de pensamento de Pimenta (2006), Barreiro
(2006) salienta que a formação de professores não pode ser reduzida à reflexão sobre a
teoria, sendo necessário, sobretudo, caminhar para a práxis e, conseqüentemente fazer o
exercício ação-reflexão. Dessa forma o estágio não pode ser taxado nem como teórico
nem como prático, mas sim como a junção entre teoria e prática. Barreiro e Gebran
(2006) advertem ainda que:
De modo geral, os estágios têm se constituído de forma burocrática, com preenchimento de fichas e valorização de atividades que envolvem observação, participação e regência, desprovidas de uma meta investigativa. [...] se reforça a perspectiva do ensino como imitação de modelos, sem privilegiar a análise crítica do contexto escolar. (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p.26)
Partindo dessa premissa, faz-se importante ressaltar que o estágio não deve ser
encarado como uma experiência que vise unicamente a reprodução de modelos. Ele
deve carregar consigo o caráter investigativo, de modo a permitir que o futuro professor
reflita e aja sobre a prática encontrada quando for exercer a profissão docente. Kulcsar
(2008, p.64) define os Estágios Supervisionados como “elo de articulação orgânica com
a própria realidade”. Essa autora destaca ainda que o futuro profissional docente tem
que fazer o constante exercício do posicionamento crítico, atuando sempre, mesmo
depois de formado, como um investigador da realidade. Freire (1998, p.44) assim se
posiciona: “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o
da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de
ontem que se pode melhorar a próxima prática”. E é essa reflexão crítica, também
proporcionada no momento do estágio, que propicia que o futuro docente repense a
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
0
prática já existente e aja como sujeito transformador. Recorrendo novamente a Pimenta
(2006), esta afirma que:
Se entendermos a educação como prática social, então a atividade docente é uma prática social (práxis). A Pedagogia, enquanto ciência que estuda a educação, tem no seu âmbito o estudo da atividade docente – do exercício e do preparo dessa atividade. (PIMENTA, 2006, p.105)
Nessa direção, o Estágio Supervisionado nos cursos de Pedagogia tem relevância
na medida em que propicia ao futuro educador o estudo, a vivência e a reflexão em
torno das práticas pedagógicas atuais. Faz-se importante ressaltar ainda que o Estágio é
significativo tanto para o graduando que já exerce a profissão docente, quanto para o
graduando futuro docente.
Na linha de pensamento de Pimenta (2009), o estágio para os iniciantes
representa oportunidades de reafirmar (ou não) o que diz as luzes teóricas, ou seja,
oportunidades de se perceber o abismo existente entre a teoria e as práticas na escola.
Dessa forma, cabe ao futuro docente, por meio de embasamento teórico, traçar
caminhos que apontem para práticas diferenciadas das observadas / vivenciadas. E esses
caminhos devem sempre estar relacionados com os objetivos que se pretende chegar,
com as práticas que se pretende produzir. Concorda-se com Pimenta (2009), quando
esta afirma que:
O estágio para os alunos que estão em fase de formação inicial e que não exercem o magistério é antes de tudo um estágio de boas-vindas de novos companheiros de profissão. Estes alunos é que ocuparão os lugares dos professores de hoje e continuarão o trabalho que iniciamos. (PIMENTA, 2009, p.117)
Para tanto, é essencial os estagiários sejam bem acolhidos nas instituições, de
modo que não se sintam reprimidos e que possam realizar sua investigação com o apoio
dos profissionais que lá já atuam como educadores.
Em relação ao aluno que já exerce a profissão docente, é válido destacar que o
processo de estágio deve ser encarado como momentos valiosos de formação
continuada. Pois, por meio da teoria oferecida pelo curso de graduação e por meio das
experiências por ele vivenciadas, este profissional poderá repensar a sua prática. Mas,
ao chegar à instituição escolar como um estagiário, é necessário que se tenha um olhar
diferenciado, um olhar de estagiário e, não um olhar de docente em exercício. A
respeito do estágio para os professores em serviço, Pimenta (2009) afirma que o estágio
para o docente em atuação, contribui ainda para a formação de sua identidade:
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
1
[...] o estágio é um retrato-vivo da prática docente e o professor-aluno terá muito a dizer, a ensinar, a expressar sua realidade e de seus colegas de profissão, de seus alunos, que nesse mesmo tempo histórico vivenciam os desafios e as mesmas crises na escola e na sociedade. Nesse processo, encontram possibilidade para ressignificar suas identidades profissionais, pois estas, como vimos, não são algo acabado: estão em constante construção, a partir das novas demandas que a sociedade coloca para a escola e a ação docente. (PIMENTA, 2009, p.127)
No entanto, é preciso enfatizar que, tanto para o aluno docente, quanto para o
aluno futuro docente, haverá desafios que perpassarão todo o estágio. É necessário a
compreensão constante de que o foco do estágio não é a mera reprodução de práticas
observadas na escola. Pelo contrário, as observações realizadas servirão como “dados” a
serem analisados como auxílio das teorias. Será desta análise que partirá a reflexão
sobre a prática que se almeja rumo a uma escola democrática e para todos. E para que
isso ocorra, o estagiário deve carregar consigo algumas qualidades: concentração,
paciência, dedicação, atenção e, sobretudo, olhar investigativo (Vianna, 2003).
O PAPEL DO PROFESSOR RUMO À APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
É sabido que, nos dias de hoje, ainda é possível verificar a discrepância existente
entre as exigências da sociedade atual e as características de escolas ainda presas ao
século passado. A sociedade atual requer sujeitos pensantes, aptos a intervir no mundo
de forma reflexiva e crítica. Não mais é o bastante o professor ser o “dono” do saber, e o
educando um mero reprodutor. É necessário ir mais além, de modo a conceber o
professor como um mediador na construção de conhecimentos.
Na sociedade de hoje, urge cada vez mais a necessidade de conceber o aluno
como ator principal do processo ensino-aprendizagem. Já não cabe mais ao professor o
papel de transmissor do conhecimento. O “dar” aula precisa ser imediatamente ser
substituído pelo “construir” aula, juntamente com o aluno. Talvez seja o “dar” aula que
tanto desmotiva os alunos a freqüentarem o espaço escolar e, sobretudo, leva o
professor ao cansaço demasiado ao final de cada dia. A esse respeito, Santos (2008)
assim se expressa:
Dar aula cansa, frusta, adoece. Cansa porque precisamos manter os alunos quietos e prestando atenção em algo que eles, geralmente, não sentem a mínima necessidade de aprender. Para que eles supostamente aprendam, muitas vezes desprendemos uma energia sobre-humana,
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
2
que vem geralmente acompanhada de frustação e desespero. (SANTOS, 2008, p.2)
Nesta perspectiva, o aprender não é fruto de um processo de transferência de
conhecimentos, onde apenas o professor tem atuação ativa. Aprender é fruto, sobretudo,
do esforço do educando. E, para que este esforço entre em cena, é necessário que o
educador exerça o papel de “desafiador”. Desafiador no sentido de possibilitar que o
aluno busque respostas, faça questionamentos. Para tanto, o educando tem que ser
desafiado a encontrar soluções, desafiado a resolver problemas e não apenas a
memorizar conteúdos fragmentados. No entanto, é essencial que os desafios postos ao
aluno, sejam ligados à sua vida cotidiana. Ou seja, desafios que impliquem soluções
significativas para a sua realidade.
O docente deve buscar desequilibrar o cognitivo dos alunos. E, para que isso
ocorra, se torna fundamental a busca constante por diferentes estratégias estimulantes
que provoquem a instabilidade cognitiva. Este processo, sem dúvida, oportuniza que o
educador afaste os métodos tradicionais de ensino, e dê lugar a processos desafiadores
de construção de conhecimentos. Em outras palavras, será possibilitada a aprendizagem
“profunda” e não mais a aprendizagem “superficial”. Santos (2008) assim define este
novo tipo de aprendizagem:
A aprendizagem profunda ocorre quando a intenção dos alunos é entender o significado do que estudam, o que os leva a relacionar o conteúdo com aprendizagens anteriores, com suas experiências pessoais, o que, por sua vez, os leva a avaliar o que vai sendo realizado e a perseverarem até conseguirem um grau aceitável de compreensão sobre o assunto. (SANTOS, 2008, p.5)
Dessa forma, o educador, ao possibilitar a aprendizagem profunda, estará
possibilitando uma aprendizagem significativa para o aluno. Significativa no sentido de
perceber relevância no que está aprendendo, entender o porquê do que está aprendendo
e, sobretudo, ligar sua aprendizagem à sua realidade.
Outro fator que necessita ser reconfigurado no papel do professor diz respeito à
questão da autonomia. Muitas vezes o que se nota na sala de aula são alunos
impossibilitados de questionar, de tomar decisões, de resolver problemas sozinhos. É
perceptível que a maioria dos educadores favorece a dependência dos alunos e não a
autonomia. Cotidianamente, o que se observa são professores que ao invés de instigar os
alunos à respostas, acabam por dar respostas prontas e acabadas. E, isto pode fazer com
que o educando perca a preocupação em compreender o que faz.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
3
É importante destacar também a essencialidade da interação na sala de aula,
afinal a troca de idéias e experiências representa estímulos para que a criança amplie
suas próprias hipóteses. Como afirma Vigotsky (1999, s/p): “na ausência do outro, o
homem não se constrói como homem”. Ou seja, é na relação com o outro que se
constitui a construção significativa de conhecimentos. Para tanto, o educador deve
instigar os alunos a trocarem idéias, fazendo da sala de aula um espaço de diálogo, de
troca, de cooperação, de interação.
Portanto, o papel do professor é mediar a ação pedagógica. O papel de
“comandante” não mais deve vigorar. Sua função é (ou deveria ser) observar, articular,
instigar, estimular e orientar o aluno. E uma das principais estratégias desse processo de
mediação é o diálogo, tanto entre professor e aluno, quanto entre os próprios alunos. No
entanto, há de se considerar que para que o educador faça bom uso de suas estratégias é
necessário, antes de mais nada, que se tenha clareza sobre seus princípios, concepções e
objetivos pedagógicos, para que não se corra o risco de perder-se no meio do caminho.
O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
O processo de alfabetização muitas vezes restringe o aprendizado da leitura e da
escrita à decodificação de símbolos. No entanto, é perceptível que, nos dias de hoje, a
criança se depara constantemente com situações que envolvem leitura e escrita, e saber
ler e escrever não basta; é preciso refletir, desvendar, criar. Entra em cena então a
necessidade do “letramento”, somada ao processo de alfabetização. Na visão de Soares
(2000), o letramento é:
estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita. [...] Letramento é prazer, é lazer, é ler em diferentes lugares e sob diferentes condições [...] Letramento é informar-se através da leitura, é buscar notícias e lazer nos jornais, é interagir com a imprensa diária, fazer uso dela, selecionando o que desperta interesse, divertindo-se com as tiras de quadrinhos. (SOARES, 2000, p.42)
Ou seja, o letramento ultrapassa a simples decodificação de letras e sons. A
compreensão do sistema alfabético não garante por si só que os alunos adquiram a
capacidade de produzir textos, de ler e de interpretar e, sobretudo, de comunicar-se.
Para tanto, o educador deve criar estratégias na sala de aula para fazer com que os
alunos se tornem aptos, inclusive, para utilizar a escrita como sistema simbólico em
suas relações sociais.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
4
Não se pretende excluir a necessidade de alfabetização. Pelo contrário,
alfabetização deve caminhar juntamente com o letramento. É preciso que exista um
balanceamento entre ambos. Recorrendo novamente a Soares (2000), esta adverte que:
Porque alfabetização e letramento são conceitos frequentemente confundidos ou sobrepostos, é importante distinguí-los, ao mesmo tempo que é importante também aproximá-los: a distinção é necessária porque a introdução, no campo da educação, do conceito de letramento tem ameaçado perigosamente a especificidade do processo de alfabetização; por outro lado, a aproximação é necessária porque não só o processo de alfabetização, embora distinto e específico, altera-se e reconfigura-se no quadro do conceito de letramento, como também este é dependente daquele. (SOARES, 2000, p.90)
Sob essa ótica, é possível afirmar que tanto alfabetização, quanto letramento,
têm suas particularidades e seus respectivas importâncias. O que se propõe é a união
entre estes dois pólos na sala de aula. Em suma, objetiva-se o “alfabetizar letrando”. Por
mais que pareça difícil, não é impossível. Cabe ao professor possibilitar que o aluno vá
além do aprendizado de questões relativas a ortografia e gramática. É necessário se opor
ao modelo ideológico enraizado em nossa sociedade e, em grau maior, na cultura
escolar, que ainda não admite a diversidade de práticas letradas .
O educador necessita compreender que a aprendizagem da língua escrita não é
algo exclusivamente pedagógico, mas também tem íntima ligação com a esfera política
e social. Sendo assim, aprender convenções ortográficas não é o bastante para que os
alunos atuem na sociedade como sujeitos críticos e reflexivos. Como ressalta Ferreiro
(2001, p.24), “a escrita é importante na escola, porque é importante fora dela e não o
contrário”. Em outras palavras, a escrita é necessária porque a utilizamos em nossas
relações sociais. E, as comunicações necessárias nessas relações vão alem do
aprendizado da norma culta.
No que tange especificamente à capacidade de leitura, concorda-se com Vargas e
Lopes (2007): “O ato de ler tem cunho e deve ser considerado como um meio e nunca
um fim. A leitura precisa responder a um objetivo e a uma necessidade de cada pessoa”.
Sendo assim, de nada adianta o educador propor ao aluno a leitura de um texto que não
represente nenhum significado para sua vida cotidiana, para sua vida em sociedade. O
aluno ganha gosto pela leitura quando ele vê significado no que lê, quando a leitura
atende á algum tipo de necessidade sua.
Partindo dessa premissa, o docente carece conhecer a realidade dos alunos, de
modo a adequar suas práticas pedagógicas às crianças, oportunizando que elas
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
5
compreendam o sentido do que aprendem e, enxerguem que podem fazer uso do que
estão aprendendo nas suas relações fora do ambiente escolar. Caminhando nesta
perspectiva, muito provavelmente, as chances de diminuição do fracasso escolar se
ampliam. Afinal, como o aluno pode obter sucesso na escola se ele tampouco vê
relevância no que aprende? Sem dúvida, aprender o que não se enxerga como útil,
desmotiva, mecaniza e torna o educando um mero reprodutor de conteúdos desconexos
de seu cotidiano.
Por último, e não menos importante, faz-se fundamental lembrar aqui que é
imprescindível que o educador saiba reconhecer que cada criança tem seu tempo, seu
ritmo e suas necessidades próprias. Dessa forma, é normal que um aluno aprenda mais
rápido que outro, apresente mais facilidades que outro. Ao mesmo tempo em que, é
essencial compreender também que uma criança que tem dificuldades na escrita, pode
apresentar facilidades na leitura e vice-versa. Portanto, o docente deve valorizar as
habilidades de cada criança.
METODOLOGIA
Para a efetivação desse trabalho, inicialmente, desempenhou-se uma revisão
bibliográfica acerca da temática a ser tratada – ensino fundamental e papel do
professor–, a partir dos estudos de Santos (2008); Vargas e Lopes (2007); Jolibert
(1994); entre outros. Posteriormente foram realizadas observações e coleta de dados na
escola-campo do Estágio, entre o período de 05 de Abril de 2010 a 19 de Maio de 2010,
totalizando em média 40 horas. O processo de coleta de dados incluiu entrevista com a
professora regente da sala de aula-campo, análises documentais do Projeto Político-
Pedagógico e do Regimento Interno da Escola.
Cumpridas as observações e a coleta de dados, partiu-se para a construção do
Projeto de Intervenção. Este ocorreu com base nas observações realizadas na sala de
aula-campo. De início, as observações não tinham foco pré-determinado. No decorrer
das vivências, percebeu-se a necessidade de direcionar o enfoque para questões relativas
à leitura e escrita, uma vez que a maioria das aulas presenciadas foi da disciplina de
Língua Portuguesa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente, é válido ressaltar, mais uma vez, que o eixo do Estágio
Supervisionado II se pautou no ensino fundamental e, mais precisamente, em uma sala
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
6
de aula do 2º ano do Ensino Fundamental. Dessa forma, com o intuito de refletir
criticamente em torno dos desafios, limites e possibilidades existentes em torno do
trabalho do profissional docente, foram utilizados três instrumentos de análise: o diário
de bordo, as respostas obtidas no questionário de entrevista direcionado à professora
regente da sala de aula-campo, o Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Interno da
escola, assim como o levantamento bibliográfico em torno do tema.
Sendo o Projeto Político-Pedagógico, somado ao Regimento Interno, a
identidade da instituição escolar, e, em conseqüência disto, interferem, direta ou
indiretamente, no cotidiano escolar e, sobretudo, no trabalho pedagógico dos
profissionais da escola, primeiramente será colocado em análise o objetivo da escola-
campo do estágio. Conforme já mencionado, a instituição apresenta como propósito:
“preparar a criança, formando seu caráter, para que se torne um ser crítico, participativo
e capaz de atuar, no futuro, em uma sociedade mais justa, mais humana, mais
democrática”. (PPP, 2006)
Este objetivo parece atribuir à escola o papel de modeladora de caráter. No
entanto, como é sabido, há diversas outras instâncias que interferem na formação de
caráter de um sujeito: espaço familiar, círculo de amigos, entre outros. A escola jamais
pode ser responsabilizada, individualmente, pela constituição de caráter. Sendo assim,
evidencia-se que o objetivo da instituição em questão é um tanto quanto ligado à uma
concepção neoliberal, onde o que se busca é moldar educandos para que os mesmos
reproduzam o sistema vigente.
É importante destacar que, em conversa informal com supervisora da escola-
campo do estágio, esta revelou que a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, na
prática, não conta com a participação de todos os profissionais da escola. A
participação, na maioria das vezes, fica restrita à equipe pedagógica da instituição. Na
visão de Vasconcellos (2000):
[...] a participação no processo de planejamento tem a ver com uma questão muito prática: o desejo de que as coisas planejadas realmente aconteçam. Uma das grandes metas (e queixas) na instituição que planeja é que todos ‘vistam a camisa’, incorporem os objetivos traçados, criando uma nova cultura. [...] quanto maior o nível de participação, maiores as chances de vermos o planejamento realizado. A proposta metodológica do planejamento participativo favorece esse envolvimento, visto que nasce na própria participação ativa de cada membro. (VASCONCELLOS, 2000, p. 93)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
7
Partindo deste principio, o planejamento, inclusive o do Projeto Político-
Pedagógico, só obtém êxito se for feito coletivamente, pois, dessa forma ele trará
motivação para sua realização, visto que atenderá a necessidade de todos. Além disso,
um documento que não tenha sido construído por todos os atores da instituição, muito
provavelmente, não é adéquo às reais condições e possibilidades da escola. Sendo sim, a
tendência é que haja uma discrepância entre o que foi estabelecido e o que realmente é
efetivado.
Apresentadas as diretrizes que norteiam a escola, serão colocados em discussão
fatos marcantes vivenciados nas observações. Fatos estes que, quando possível, serão
articulados com as respostas obtidas no questionário de entrevista submetido à
professora. O questionário de entrevista foi composto por 9 perguntas. Procurar-se-á
recuperar aqui os momentos que podem enriquecer as reflexões.
O enfoque das observações na sala de aula-campo, pouco a pouco, se direcionou
para as aulas de Língua Portuguesa, pois além de ter sido a disciplina mais presenciada,
foi a disciplina que mais originou dados para as reflexões. Ao longo do estágio,
evidenciou-se um número demasiado de carga horária destinada à referida disciplina e,
sobretudo, percebeu-se que a maioria das aulas era expositiva, possibilitando ínfimos
momentos de diálogo entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
A professora regente da sala de aula-campo possui graduação em Pedagogia e
pós-graduação em Psicopedagogia, exercendo a profissão docente há quase 25 anos
completos, atuando no nível de alfabetização há, aproximadamente, 20 anos
consecutivos. Define o papel do professor como sendo o de “mediador entre o saber e o
aluno” (Professora regente).
Primeiramente, é válido ressaltar que, em todas as aulas vivenciadas, foi notável
a presença de uma cultura tradicional ainda enraizada na maioria das instituições
escolares: alunos dispostos em fila, silêncio, quadro, giz, o professor falando, o aluno
escutando. Sem dúvida, essa forma de organização aponta para existência de certo
tradicionalismo na prática pedagógica do educador, pois, como ressalta Falcão (1986):
A forma como se arranja a sala de aula reflete, ainda, a concepção de aprendizagem daquele que ensina: cadeiras enfileiradas, com alunos um atrás do outro, indicam que se espera apenas atenção aos ensinamentos do mestre, sem conversas entre colegas nem confronto de idéias. Quando a sala é viva, isto é, quando se muda em função da tarefa, ela evidencia uma distinta concepção do significado de aprender e interagir, ou seja, mostra-se um ato dinâmico, estimulante e
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
8
instigante do quais todos querem e devem participar. (FALCÃO, 1986, p.34).
A relação dialógica entre aluno e professor e entre os próprios alunos pouco foi
observada no decorrer do Estágio. Evidenciou-se a presença constante de aulas
expositivas, principalmente na disciplina de Língua Portuguesa. Inclusive, na entrevista
a própria educadora regente confirmou a aula expositiva como um de suas principais
metodologias.
O fato de a professora fazer uso demasiado de aulas expositivas contradiz com o
papel do professor por ela apresentado, visto que essas aulas revelaram o educador
como o centro do saber e, os alunos, como meros ouvintes. Pouco se presenciou a
mediação de saberes. No decorrer das observações, foi possível perceber que os
educandos têm poucas chances de se expressarem, de questionarem e, sobretudo, de
participares ativamente do processo ensino-aprendizagem. Em suma, notou-se, no geral,
um processo de transmissão de conhecimentos e não de construção de conhecimentos.
A esse respeito, Santos (2008) assim se expressa:
O aluno precisa ser o personagem principal dessa novela chamada aprendizagem. Já não tem mais sentido continuarmos a escrever, dirigir e atuar nessa novela unilateral, na qual o personagem principal fica sentado no sofá, estático e passivo, assistindo, na maioria das vezes, cenas que não ele não entende. (Santos, 2008, p.2)
Em outras palavras, o aluno tem que ser o protagonista da sala de aula, e não
mais o telespectador. E, para que isso ocorra, o professor necessita propiciar espaços
dialógicos. E, sobretudo, momentos em que os alunos se sintam desafiados a solucionar
algo que lhes é significativo. Ou seja, espaço dialógico supõe também aprendizagem
significativa. E pouco se viu a produção de aprendizagens significativas no contexto da
sala de aula-campo. O que se notou foram aulas desconexas do cotidiano do aluno;
aulas que priorizam apenas o aprender simplesmente por aprender. Por exemplo, as
aulas de Língua Portuguesa, exceto raras exceções, tiveram como eixo norteador
convenções de ortografia e gramática, o que vai contra ao processo de letramento
almejado pela escola de hoje, pois, como adverte Vargas e Lopes (2007):
Enquanto somente compreendida no aspecto restrito da construção da escrita alfabética, a alfabetização precisa ocorrer dentro de um processo com mais amplitude da aprendizagem da língua nativa. Uma concepção sobre aprendizagem inicial da leitura é a decodificação. Isto, é transformar letras e sons e a escola tem se mostrado eficiente
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
20
9
em formar leitores com capacidade de decodificação, mas não de interpretação de um escrito. (p.6)
E é justamente o aprendizado restrito de decodificação que parece acontecer na
sala de aula em questão. Questões voltadas para o domínio do fonema e do grafema são
trabalhadas, enquanto questões voltadas para o exercício de um olhar crítico e
interpretativo são postas de lado. Aliás, em alguns raros momentos, até se presenciou
exercícios interpretativos. No entanto, voltados para interpretação de textos que não tem
ligação com a realidade da criança o que, certamente, a desestimula, uma vez que não
encontra significado no que se está fazendo. Condizente com Jolibert (1994): “Lê-se
para ‘responder à necessidade de viver com os outros, na sala de aula e na escola. Para
se comunicar com o exterior, para descobrir as informações das quais se necessita [...]
para alimentar e estimular o imaginário”. (p.31)
Partindo dessa premissa, apresentar aos alunos textos que não atendem às suas
necessidades, às suas curiosidades se torna insignificante. Primeiro porque o aluno não
vai se sentir desafiado à interpretação. Segundo, porque, muito provavelmente, ele não
construirá uma aprendizagem significativa por meio de textos que não se articulam com
as relações sociais que vivenciam no seu dia-a-dia. É necessário assim, que haja uma
articulação entre alfabetização e letramento. Alfabetização no sentido de apreender a
dita norma “culta”. E, letramento no sentido de trazer à escola estratégias de leitura e
escrita que tenham ligação com o contexto político, social e econômico que a criança
vivencia.
Esta desconexão entre conteúdo e realidade evidenciada nas observações,
distancia o discurso da professora regente com a sua prática, uma vez que, em resposta
obtida na entrevista, ela afirmou conceber a educação como “um saber que perpassa os
espaços escolares e tem reflexos na sociedade” (Professora regente). Afinal, como fazer
com que a educação perpasse os espaços escolares se não se oportuniza que o contexto
político e social adentre nas atividades propostas em sala de aula?
É importante destacar também que, durante os exercícios de interpretação e até
mesmo no decorrer de exercícios relativos à ortografia, notou-se que os educandos
pouco tiveram a possibilidades de “pensar”, de encontrar respostas, de se sentir
desafiado. Santos (2008) adverte que:
Na medida em que nos preocupamos mais em dar respostas do que fazer perguntas, estaremos evitando que o aluno faça o necessário esforço para aprender. Eis o passaporte para a acomodação cognitiva.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
0
Dar a resposta é contar o final do filme. Poupa o sofrimento de vivenciar a angústia de imaginar diferentes e possíveis situações de exercitar o modelo de ensaio-e-erro, enfim, poupa o aluno do exercício da aprendizagem significativa. (SANTOS, 2008, p.3)
Sendo assim, à medida que educador impede o aluno de encontrar resposta, ele
lhe rouba sua autonomia, o impedindo de exercitar seu cognitivo. E, ao dar respostas
prontas, o docente impede ainda que a criança obtenha uma aprendizagem significativa,
pois é impossível a criança ver significado no que aprende se tampouco ela é desafiada
a aprender.
Faz-se necessário trazer à tona a concepção de ensinar declarada pela professora
regente: “Ensinar envolve o desenvolvimento das várias competências necessárias para
formar cidadãos críticos, reflexivos, capazes de interagir e atuar conscientemente na
sociedade”. (Professora regente). Esta resposta nos remete à indagação: Como ensinar
para formar cidadãos críticos e reflexivos se não se possibilita sequer que os alunos
busquem soluções?
Ainda se tratando de aspectos relativos à interpretação, resgato aqui o momento
em que a professora regente trabalhou em sala de aula com a poesia “Mãe”, poesia esta
carregada de uma concepção de família ideal. Sem dúvida, a escola, ao cultuar o Dia das
Mães, pode interferir no aprendizado e na identidade dos educandos. Pois não são todas
as crianças que convivem com suas mães. Frente a comemorações e a poesias deste tipo,
a tendência é que essas crianças se sintam reprimidas e rejeitadas. Portanto, vê-se a
necessidade que a escola, em sua totalidade, repense a concepção de família. Pois, a
crise na estrutura familiar é nítida e não pode ser silenciada.
Outro aspecto também carece ser analisado com cautela. Foram presenciados
momentos em que a professora, desmerecia as respostas dos alunos, agia de forma um
pouco rude e parecia não se ater à realidade dos educandos. Parece haver uma ausência
de diálogo e de afetividade, no sentido de amor com rigor, na relação professor-aluno.
Rego (1996, p.) considera que: “Uma relação professor-aluno baseada no controle
excessivo, na ameaça e na punição provocará reações diferentes das inspiradas por
princípios democráticos”. Ou seja, a relação professor aluno carece de laços afetivos
saudáveis. É necessário que o professor esteja disposto ao diálogo e, sobretudo,
possibilite que o aluno caminhe do “erro” ao acerto sem que isto lhe torne reprimido
e/ou constrangido.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
1
Contudo, é necessário ficar claro aqui que, de forma alguma, a intenção é culpar
o professor, unicamente, pelo fracasso escolar e, em particular, pelas possíveis falhas
existentes no processo de alfabetização. É sabido que, por trás do trabalho deste
profissional, está embutida uma série de outras questões relativas ao contexto político e
econômico da educação. Para refletir em torno disto, é importante colocar em jogo,
brevemente, as “temidas” avaliações externas. Sobre tais avaliações, a professora
regente assim se posicionou:
“Há uma cobrança muito grande por bons resultados nas avaliações externas.
Principalmente na Provinha Brasil, que é a avaliação feita especificamente pelos alunos
do 2º ano. A pressão é tanta que muitas vezes temos que deixar de trabalhar as reais
necessidades da sala para focar nos conteúdos que caem nessas avaliações, pra
podermos treinar os alunos. E isso, a meu ver, é muito ruim”. (Professora regente).
Partindo desta resposta, fica evidente que as avaliações externas interferem na
prática pedagógica do professor. E, quando a professora se referiu à Provinha Brasil,
torna-se possível levantar a hipótese de que o foco demasiado nas questões de ortografia
e gramática estejam associadas às “capacidades” cobradas nesta avaliação, uma vez que
a Provinha Brasil prioriza as convenções ortográficas e gramaticais. Na perspectiva de
Moreira e Sordi (2009):
a avaliação externa colidiu frontalmente com a autonomia da escola em administrar seu projeto pedagógico, tornando-o quase inoperante em função de uma lógica de avaliação do desempenho escolar controlada de fora da escola, sem o concurso dos atores locais”. (MOREIRA; SORDI, 2009, p.5)
Dessa forma, é notório que a escola e, conseqüentemente o professor, adere a
essas avaliações de tal forma que elabora o currículo focado no que será “cobrado” nas
mesmas. Parece haver uma preocupação maior em mostrar resultados acima dos da
“concorrente” do que em efetivar, de fato, um ensinar e um aprender significativo e com
qualidade. Frente a isso, os professores se sentem obrigados a voltarem sua atenção
quase que, exclusivamente para a obtenção de altos desempenhos dos alunos nas
avaliações externas, o acarreta, na maioria das vezes, um processo-ensino aprendizagem
desarticulado do contexto escolar e, sobretudo, do contexto do educando.
E, ainda em se tratando de aspectos relativos às políticas públicas, é importante
retomar aqui as metodologias utilizadas pelos docentes. Conforme já mencionado, o
educador da sala de aula-campo prioriza altamente aulas expositivas. Mas, o que pode
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
2
ocorrer, muitas vezes, é a falta de recursos didáticos que possibilitem aos professores a
realização de aulas mais dinâmicas e atrativas. Sabe-se que os recursos financeiros e os
materiais didáticos disponibilizados às escolas públicas são mínimos.
Para, além disso, o episódio de ter se comprovado nas observações e em
conversa informal com a professora, que pouco ela utiliza os livro didáticos
disponibilizados aos alunos, pelo fato de serem livros que não são adequados ao nível
de aprendizagem deles, evidencia o descaso do poder público para com o aluno, que, na
falta do livro didático, acaba por ter que fazer inúmeras cópias do quadro.
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao processo de formação
continuada dos professores. A professora regente da sala de aula-campo assim se
expressa sobre este processo: “Penso que a idéia de formação continuada é boa, mas
ainda falta descobrir qual o melhor caminho para que ela de fato aconteça. A escola
ainda não possibilita esses espaços de formação”. (Professora regente). A partir deste
posicionamento, fica claro que a instituição escolar onde o estágio foi realizado, muito
provavelmente, não “possibilita” aos educadores momentos de formação contínua.
Prada (2001) salienta que:
A Formação Continuada dos Profissionais da educação é uma necessidade para atender às exigências do cotidiano de seu exercício profissional, às solicitações dos estudantes e da sociedade em geral. Contudo, para construir conhecimentos sobre ela, e transformar as práticas cotidianas dos professores, requer-se a criação de espaço para o estudo, análise e socialização da formação continuada entre os próprios docentes. Os coletivos de professores no cotidiano escolar, com o tempo e as diversas situações sociais, políticas e econômicas, rotinizam suas práticas, sendo necessário para transformá-las, construir novas relações de espaços, tempos, pessoas e conhecimentos, tanto os do cotidiano como os universalmente sistematizados. (Prada, 2001, p.3)
Sendo assim, para que o cotidiano escolar não caia em práticas rotineiras e
desmotivantes, é essencial que o educador esteja em constante busca do “novo”. Novos
conhecimentos, novas práticas, novos estudos fazem-se extremamente necessários. O
profissional docente jamais tem sua formação esgotada. Afinal, para mediar a
construção de aprendizagens significativas, é imprescindível que ele esteja atento aos
conhecimentos que circulam na sociedade, tanto no campo educacional, quanto no
campo político e na sociedade como um todo. Para (2005) assim define a o processo de
formação continuada:
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
3
Formação continuada é mais que horas marcadas no calendário escolar. É um tempo de todos os tempos institucionais, inserido em todas as atividades da escola, com momentos específicos, mas, não isolados do cotidiano escolar, nos quais o coletivo se constitui como tal em um processo de aprendizagem mediante o confronto de conhecimentos derivados das experiências com os conhecimentos universalmente sistematizados. É mais que uma soma de horas de formação fragmentada em ações sem seqüência. É um projeto que, no mínimo, ultrapassa o previsto no ano anterior e continua no seguinte. É mais que a soma de pontos ou créditos adquiridos em cursos ou outros eventos por presença de x horas. (PARA, 2005, p.34)
No entanto, é sabido que, para a efetivação real destes espaços, não depende
apenas dos profissionais da escola (equipe diretiva, professores, etc). Há outras questões
envolvidas, como por exemplo, as más condições salariais e a falta de tempo. E são
aspectos que estão intimamente articulados. Pois, muitas vezes, o educador, devido aos
baixos salários, se vê na obrigação de trabalhar dois períodos por dia, não gozando de
tempo suficiente para participar destes espaços. Dessa forma, a oferta qualitativa destes
momentos de formação implicaria em uma série de reconfigurações no âmbito das
políticas públicas direcionadas à educação.
Por último, cabe trazer a esta discussão o processo ensino-aprendizagem
fragmentado que se verificou na sala de aula-campo e, certamente, é também o processo
que vincula na totalidade da instituição escolar. Sem dúvida, o currículo gradeado tende
a dificultar um trabalho de qualidade por parte do profissional docente. Enguita (1989)
ressalva que:
A sucessão de períodos muitos breves – sempre menos de uma hora – dedicados a matérias muito diferentes entre si, sem necessidade de seqüência lógica alguma entre elas, sem atender à melhor ou pior adequação de seu conteúdo a períodos letivos mais longos ou mais curtos e sem prestar atenção à cadência do interesse e do trabalho dos estudantes; em suma, a organização habitual do horário escolar, ensina ao estudante que o importante não é a qualidade precisa de seu trabalho, a que o dedica, mas sua duração. (ENGUITA, 1986, p.180)
Sob essa ótica, é possível afirmar que, a organização dos tempos que permeia no
âmbito educacional, na maioria das vezes, resulta em conteúdos fragmentados, em
tarefas mal acabadas, em conhecimentos interrompidos, em pensamentos cessados. Ao
que tudo indica, a grande maioria das escolas ainda não preza por um processo ensino-
aprendizagem de qualidade. A preocupação com o tempo ainda parece ser maior do que
a preocupação com uma aprendizagem verdadeiramente significativa.
Enfim, o acompanhamento do trabalho do professor na sala de aula, bem como
as respostas obtidas na entrevista, evidenciaram que este profissional está entrelaçado
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
4
tanto por desafios e limites, quanto por possibilidades. Desafios estes relativos à questão
da necessidade de se reconfigurar o seu papel, visto que é imprescindível que o
professor saia do lugar de “dono” do saber para assumir o papel de mediador do
processo ensino-aprendizagem, de modo a propiciar espaços dialógicos . Limites no
sentido de que existem inúmeras barreiras que impedem que o docente efetive um
trabalho de qualidade: má remuneração, falta de recursos didáticos, ausência de espaços
de formação continuada, subordinação do planejamento às avaliações externas, entre
outros.
Frente a esses desafios e limites, há, sem sombra de dúvidas, diversas
possibilidades para que o educador trabalhe rumo à promoção de uma aprendizagem
com qualidade. E, sendo a função primordial do docente a de promover aprendizagens
significativas, as quais têm essa denominação por serem articuladas com a realidade dos
alunos, cabe a cada educador, portanto, delinear as suas próprias possibilidades e
estratégias. Recorrendo a Arroyo (1996):
Não é suficiente pendurar flores nas grades curriculares como estamos fazendo, muitas vezes, com nossas reformas. Não adiantarão novos parâmetros se os currículos continuarem gradeados. A escola que temos é uma escola onde não fazemos o que somos capazes de fazer, onde a iniciativa pedagógica do profissional se sente entre grades. (ARROYO, 1996, p.167-168)
Portanto, fica aqui um convite ao educador: “desgradear” sua iniciativa, de modo
que possa realizar um trabalho pedagógico em prol de uma escola democrática e de
qualidade para todos. De nada adianta um discurso maravilhoso, se as práticas
continuarem inaudíveis. Onde quero chegar? Como posso ir? São indagações como
essas que o profissional deve ter autonomia para responder e, assim, trabalhar em prol
de um processo ensino-aprendizagem significativo para a vida do educando.
PROJETO DE INTERVENÇÃO
É válido lembrar que o projeto de intervenção foi elaborado com base nas
vivências do Estágio. As aulas presenciadas de Língua Portuguesa, como já detalhado,
apontaram para ausência do trabalho com habilidades de leitura e escrita que tenham
significado para a criança e, sobretudo, pouco se notou momentos de interação entre os
educandos. Frente a isso, elaborou-se um projeto com foco no trabalho com os gêneros
textuais biografia e autobiografias.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
5
Durante as atividades, foram oferecidos espaços dialógicos, onde foi
oportunizado aos alunos o direito de se expressarem, questionarem e opinarem. A
produção das autobiografias representou um momento dinâmico e estimulante de
trabalho com as habilidades de leitura e escrita. Além disso, a leitura das autobiografias
possibilitou que os alunos se conhecessem melhor, e também, à professora se aproximar
mais da realidade de seus educandos. Condizente com Ronca (1996, p.37):
Se o papel do professor é dar aulas, enquanto ele dá a sua aula, o aluno faz o quê? A expressão ‘dar aula’ é fruto da era do ‘mundo pronto’. Num contexto de mundo inacabado e em constante mudança nós não temos nenhuma a aula a ‘dar’, mas sim a construir, junto com o aluno. (RONCA, 1996, p.37)
O que se procurou priorizar no projeto de intervenção foi exatamente isto: a
construção. A intenção se distanciou do “dar aula” e se aproximou da construção de
conhecimentos significativos constituídos em uma relação de interação entre os atores
da sala de aula.
Além disso, o produto final do projeto de intervenção – o livro de autobiografias
– , resultou em um recurso didático a ser utilizado pelo profissional docente no trabalho
com o gênero autobiografia e, representou ainda, a certeza da possibilidade de uma
trabalho pautado na coletividade, no diálogo e na realidade do aluno, uma vez que
foram utilizadas estratégias para que o aluno percebesse este gênero como útil no seu
dia-a-dia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estágio Supervisionado II foi de extrema importância para minha formação
acadêmica, uma vez que além de propiciar o exercício da práxis pedagógica (teoria –
prática – ação – reflexão), possibilitou o acompanhamento direto do trabalho do
profissional docente. Foi possível evidenciar alguns dos desafios, limites e
possibilidades que perpassam o campo educacional e, sobretudo, o trabalho do
educador. O estágio, amparado por fundamentação teórica, proporcionou um
entendimento mais claro e real das situações ocorridas no âmbito escolar e,
conseqüentemente, possibilitará, futuramente, que ajamos como sujeitos críticos e
reflexivos. Barreiro e Gebran (2006) ressaltam que o estágio deve ser considerado:
[...] não um simples cumprimento de horas formais exigidas pela legislação, e sim um lugar por excelência para que o futuro professor
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
6
faça a reflexão sobre sua formação e sua ação, e dessa forma possa aprofundar conhecimentos e compreender o seu verdadeiro papel e o papel da escola na sociedade.
E foi justamente isto que o estágio supervisionado oportunizou: um olhar
reflexivo e investigativo sobre a prática pedagógica, que contribui na busca pela minha
identidade como futura profissional do campo da educação. A cada experiência
vivenciada, foi possível enxergar entraves que são postos rumo a uma educação de
qualidade. E, são exatamente estes desafios que me estimulam a continuar.
Faz-se importante salientar também que o exercício de construção e efetivação
do Projeto de Intervenção foi válido na medida em que, além de estar se exercendo parte
do trabalho incumbido ao profissional docente, se ofereceu aos alunos momentos
valiosos e significativos. A sensação de contribuir para o processo ensino-aprendizagem
dos educandos da sala de aula-campo foi de satisfação e de realização de cumprimento
de um objetivo.
Para finalizar, trago à tona a visão da professora regente sobre o estágio. Como
forma de avaliar em que medida o estágio é relevado nas instituições escolares, foi
proposto a ela um questionário de entrevista. Quando foi perguntada sobre a
importância do estágio para a escola, ela declarou que: “a presença do estagiário é de
suma importância, pois, de certa forma, ele traz inovações para a escola. E quando se
realiza projetos de intervenções, ele contribui de forma direta com a aprendizagem dos
alunos” (Professora regente). Dessa forma, evidenciou-se que o Projeto de Intervenção
executado na sala de aula-campo do estágio, na visão da professora, realmente
colaborou com o processo ensino-aprendizagem dos alunos.
Ao ser questionada sobre possíveis sugestões que ela daria ao Estágio, esta
ressaltou que “considera curto o tempo que os estagiários ficam na escola. Certamente,
se o tempo fosse maior, as chances de reflexões mais profundas seriam ainda mais
amplas”. E, sem sobra de dúvidas, concorda-se com a professora neste aspecto, uma vez
que, se o estagiário gozasse de maior tempo para estar na instituição escolar, os
resultados poderiam ser ainda maiores e melhores.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARROYO, Miguel. Prática Pedagógica e Currículo - Anais do VII ENDIPE, Florianópolis, 1996.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
7
BARREIRO, Iraíde Marques; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de Ensino e Estágio Supervisionado na Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2006. COIMBRA, Camila Lima ; DALBERIO, M. C. B. ; VALENTE, L. F. ; RIBEIRO, B. O. L. Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia. Uberlândia: UFU, 2007 (Projeto Pedagógico). ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola: educação e trabalho no capitalismo. Trad. de Tomaz Tadeu da Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. FALCÃO, G. M. Psicologia da Aprendizagem. 3 ed. São Paulo: Ática, 1986. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e terra, 1996. JOLIBERT, Josette. Formando crianças produtoras de textos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. MOREIRA, R. S. M.; SORDI, M. R. L. Avaliação externa como instrumento da gestão do ensino: a adesão e os impasses para a busca da melhoria na educação. Disponível em: http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt05/p053.pdf. Acesso em: 23/06/2010. PIMENTA, Selma G. LIMA, Maria do Socorro L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2009. PIMENTA, Selma G. O Estágio na formação de professores: Unidade Teoria e Prática?. São Paulo: Cortez, 2006. PRADA, Luis Eduardo Alvarada. Dever e direito à formação continuada de professores. Disponível em: http://www.uniube.br/propep/mestrado/revista/vol07/16/ponto_de_vista.pdf. Acesso em: 24/06/2010. PRADO, Maria Elisabete. O papel do professor na criação de situações de aprendizagem. Disponível em: http://www.ich.pucminas.br/pged/interact/viewfile.php/1/file/54/34/PDF.pdf. Acesso em: 25/06/10. REGO, T. C. R. A indisciplina e o processo educativo: uma análise na perspectiva vygotskyana. In: J. R. G. Aquino (Org.) Indisciplina na Escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus editorial, 1996. RONCA, Paulo Caruso. A prova operatória. São Paulo: Finep, 1996. SANTOS, Júlio César Furtado. O papel do professor na promoção da aprendizagem significativa. Disponível em: http://www.famema.br/capacitacao/papelprofessorpromocaoaprendizagemsignificativa.pdf. Acesso em: 26/06/2010.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
8
SANTOS, Roberto Affonso. A Importância do Estágio na Formação Profissional. Disponível em: http://www.atelie-rh.com.br/artigos/A%20Import%C3%A2ncia%20do%20Est%C3%A1gio%20na%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Profissional.pdf. Acesso em: 26/06/2010. SOARES, M. B. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. VARGAS, Ana Lúcia. LOPES, Ana Maria. O letramento e o papel do professor num processo interdisciplinar de construção de conhecimentos. Disponível em: http://www.unifra.br/eventos/jornadaeducacao2006/2006/pdf/artigos/pedagogia/O%20LETRAMENTO%20E%20O%20PAPEL%20DO%20PROFESSOR%20NUM%20PROCESSO%20INTERDISCà.pdf. Acesso em: 24/06/10. VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino Aprendizagem e Projeto Político Pedagógico. Cadernos Pedagógicos do Libertad, 7ª ed. São Paulo: 2000. VIANNA, H. M. Pesquisa em educação: a observação. Brasília: Plano Editora, 2003.
EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS NA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES
Fernanda Duarte Araújo Silva
FACIP /UFU [email protected]
O tema espaço escolar constituiu-se como um dos grandes desafios abordados nos estudos e discussões realizadas pelos profissionais de uma escola de educação infantil da rede pública municipal de ensino, em Uberlândia, Minas Gerais, desde o ano de 2007. Entre os diversos questionamentos abordados na formação continuada realizada na instituição, podemos citar: O que é espaço? Como é utilizado? Como organizar espaços lúdicos e desafiadores para crianças da educação infantil? Como garantir momentos nos quais as crianças possam escolher onde vão ficar e que tempo de atividade irão desenvolver? Como e quem o avalia? No decorrer do ano de 2009, após dois anos de estudos que visavam uma fundamentação teórica de toda comunidade escolar, sobre a importância do lúdico na formação das crianças, a escola também passou por algumas mudanças em sua estrutura física, na busca de alternativas que pudessem enriquecer as experiências das mesmas. Assim, o trabalho com cantos de atividades diversificadas constitui-se como uma importante opção oferecida e organizada pelo professor em vários espaços da sala de aula e até mesmo da escola. As crianças envolvidas no trabalho com os cantos diversificados demonstram em linhas gerais, conseguirem vivenciar distintas situações de aprendizagem, tendo a oportunidade de escolher e exercitar sua autonomia, uma vez que não vivenciam o controle direto do professor, além de permitir observar mais cuidadosamente os problemas enfrentados pelos alunos, suas dificuldades, aprendizagens, gostos e interesses, o que muito o auxiliará no planejamento de sua ação educativa.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
21
9
Palavras-chave: Educação Infantil, Espaço escolar, Lúdico.
O tema espaço escolar constituiu-se como um dos grandes desafios abordados
nos estudos e discussões realizadas pelos profissionais de uma escola de educação
infantil da rede pública municipal de ensino, em Uberlândia, Minas Gerais, desde o ano
de 2007. Entre os diversos questionamentos abordados na formação continuada
realizada na instituição, podemos citar: O que é espaço? Como é utilizado? Como
organizar espaços lúdicos e desafiadores para crianças da Educação Infantil? Como
garantir momentos nos quais as crianças possam escolher onde vão ficar e que tempo de
atividade irão desenvolver? Como e quem o avalia?
No decorrer do ano de 2009, após dois anos de estudos que visavam uma
fundamentação teórica de toda comunidade escolar, sobre a importância do lúdico na
formação das crianças, a escola também passou por algumas mudanças em sua estrutura
física, na busca de alternativas que pudessem enriquecer as experiências das mesmas.
Acreditamos que o desenvolvimento infantil ocorre pela relação estabelecida
entre o sujeito (com sua carga genética e sua história pessoal) e o meio onde está
inserido (objetos, valores morais e existência do outro). Nesse sentido, trabalhar com as
crianças na Educação Infantil é possibilitar que ela estabeleça uma relação sadia com o
meio que a cerca, favorecendo seu desenvolvimento e a construção/apropriação de
novos conceitos e conteúdos.
Segundo Carvalho e Rubiano (1994), os ambientes construídos para crianças
devem atender a cinco funções relativas ao desenvolvimento infantil: promover a
identidade pessoal, a competência, as oportunidades para crescimento, a sensação de
confiança e a segurança e oportunidades para contato social e privacidade.
Nessa linha, encontramos nos Referenciais Curriculares Nacionais para
Educação Infantil (1998):
A oferta permanente de atividades diversificadas em um mesmo tempo e espaço é uma oportunidade de propiciar a escolha pelas crianças. Organizar, todos os dias, diferentes atividades, tais como cantos para desenhar, para ouvir música, para pintar, para olhar livros, para modelar, para jogos de regras etc., auxilia o desenvolvimento da autonomia (p.62).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
0
Assim, o trabalho com cantos de atividades diversificadas constitui-se como uma
importante opção oferecida e organizada pelo professor em vários espaços da sala de
aula e até mesmo da escola.
O QUE É ESPAÇO?
Ao consultarmos no dicionário Larousse (2008), a definição de espaço,
encontramos: “Extensão indefinida, meio sem limites, que contém todas as extensões
finitas. Parte dessa extensão que ocupa o corpo” (p.3874).
Consideramos essa conceituação limitada a aspectos físicos e os objetos que
ocupam esse espaço. Battini apud Forneiro (1998) vai além, contemplando a perspectiva
da criança:
Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê, o que faz nele, Portanto, o espaço é sombra e escuridão; é grande, enorme ou, pelo contrário, pequeno; é poder correr ou ter que ficar quieto, é esse lugar onde ela pode ir para olhar, ler, pensar. O espaço é em cima, embaixo, é tocar ou não chegar a tocar; é barulho forte, forte demais ou, pelo contrário, silêncio, é tantas cores, todas juntas ao mesmo tempo ou uma única cor grande ou nenhuma cor. O espaço, então, começa quando abrimos os olhos pela manhã em cada despertar do sono; desde quando, com a luz, retornamos o espaço (p.231).
Nessa linha, podemos compreender que a organização espacial pode tornar-se
um meio de “controle” ou de “aprendizagem” das crianças, pois o professor tem a
oportunidade de observar e controlar todas as ações das crianças, deixando assim, de ser
considerado como o centro da prática pedagógica.
Mas precisamos ter claro que não basta organizarmos “cantos” com
diversificados brinquedos e materiais na sala de aula. O professor deve planejar sua
ação pedagógica, considerando as possibilidades oferecidas às crianças para explorar os
espaços e participar da construção ou das modificações desses mesmos espaços.
Marques (2007) destaca que é imprescindível considerar o pensamento imaginário das
crianças pequenas e a necessidade que elas têm de modificá-los, criando casinhas,
cabanas, esconderijos ou outros ambientes que lhes permitam representar papéis em
seus jogos de faz-de-conta.
Nesse sentido, o professor que utiliza a proposta dos cantos diversificados em
sala de aula, de forma contextualizada, intencional, demonstra mais do que uma opção
metodológica dinâmica, mas sua concepção de educação e de infância.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
1
FAZ-DE-CONTA, RACIOCÍNIO E LEITURAS
Entre os cantinhos que mais fazem sucesso na instituição, encontramos o canto
do faz-de- conta, que contemplam roupas de adultos, que as próprias crianças trouxeram
de casa, além de fantasias que pertencem ao imaginário infantil.
Um cantinho com diversificados recursos como livros, gibis, revistas, também
estimulam o hábito e o prazer da leitura. Nesse espaço, as crianças têm a oportunidade
de escolherem suas próprias leituras, além de manusearem esses recursos, observando-
os e interagindo com os mesmos de forma mais livre, estabelecendo assim um contato
mais íntimo com os livros.
Vale destacar que os cantinhos construídos permanecem montados na sala de
acordo como interesse demonstrado pelas crianças. Assim, sentimos a necessidade de
sempre discutir com a turma nas rodas de conversa, sobre o que acham desses espaços,
bem como o que sugerem para sua construção.
O canto dedicado às linguagens artísticas: teatro, música, artes visuais, entre
outros, também permeiam o dia-a-dia da escola e estão garantidas nos tempos e espaços
das salas de aula. Sabemos que as crianças que vivenciam as artes, se tornam melhoras
produtoras, apreciadoras, ampliando dessa forma seus conhecimentos sobre si e o
mundo que vivem. Nesse sentido, espaços que também contemplem diferentes
linguagens como o desenho, a colagem, a modelagem, se constituem como espaços
significativos de aprendizagem.
Vale destacar, que essas produções são expostas em diferentes espaços da
escola, como: sala de aula, mural, varal, refeitório, corredores da escola, no intuito de
valorizar as produções infantis, além de serem expostas no Centro Municipal de Estudos
e Projetos da cidade, como na foto abaixo:
Envolvemos nesse trabalho toda a comunidade escolar, que é constantemente
convidada a conhecer, participar e até mesmo ajudar a construir esses espaços,
estreitando assim, os “laços” com a instituição e tendo a oportunidade de interagir de
forma mais rica e agradável com os filhos.
PENSANDO A AVALIAÇÃO DO TRABALHO...
A atualidade marca a intensificação dos debates, estudos e produções na área do
espaço educacional, contudo este tema continua representando um grande desafio nas
práticas pedagógicas dos profissionais das instituições escolares, assim, apesar dos
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
2
estudos teóricos aumentarem, os espaços pouco mudaram. Nesse sentido acreditamos
que avaliar esse trabalho, significa focar um olhar atento nas práticas desenvolvidas e
assim, contribuir para uma boa formação das crianças envolvidas.
Percebemos que os professores e a escola têm dado à avaliação excessiva
valorização quantitativa. Dessa forma, de acordo com estudos voltados para avaliação
da aprendizagem, dentre eles: Romão (1998), Luckesi (1999), Hoffmann (2003),
Vasconcellos (2000), Perrenoud (1999), Rabelo (1998), Esteban (2002), destacam que a
avaliação praticada pelos professores reflete basicamente um tipo de conhecimento
fragmentado, factual e memorístico.
Segundo Luckesi (1999), o processo de verificar se resume na observação,
obtenção, análise e síntese de dados de informação que delimitam o objeto ou ato com o
qual se esta trabalhando. Já a avaliação vai além dessas práticas, já que o valor ou
qualidade atribuído ao objeto conduzem a uma decisão nova: manter o objeto como está
ou atuar sobre ele.
Dessa forma, existe uma distinção entre práticas meramente verificativas e
práticas avaliativas (Luckesi, 1999). Muitas escolas utilizam os resultados da
aprendizagem usualmente para estabelecer uma classificação do aluno, sendo expressa
em sua aprovação ou reprovação. Decorrendo assim, um processo de exclusão dos
alunos que não conseguiram dar as respostas exigidas pelas escolas no tempo imposto.
Para Esteban (2002), é cada vez maior o número de excluídos do acesso ao
conhecimento socialmente valorizado, dos espaços reconhecidos da vida social, bem
como a marginalização de conhecimentos socialmente produzidos, mas não
reconhecidos e validados, vão fortalecendo a necessidade de engendrar mecanismos de
intervenção na dinâmica de inclusão/ exclusão social. Sob esse olhar, a autora destaca
que o processo de avaliação do resultado escolar dos alunos está profundamente
marcado pela necessidade de criação de uma nova cultura sobre avaliação, que
ultrapasse os limites da técnica e incorpore em sua dinâmica a dimensão da ética.
Muitos teóricos em avaliação têm contribuído com suas críticas, pois buscam
uma avaliação emancipatória. Neste sentido, Hoffmann (2003), destaca que o objetivo
do desafio que se enfrenta, quanto a uma perspectiva mediadora da avaliação
principalmente a tomada de consciência coletiva dos educadores sobre sua prática,
desvelando-lhe princípios coercitivos e direcionado a ação avaliativa para o caminho
das relações dinâmicas e dialógicas em educação.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
3
Nessa linha, Vasconcellos (2000) afirma que o problema da avaliação é muito
sério, não sendo então um problema de uma matéria, série, curso ou escola, mas sim de
todo um sistema educacional que impõe valores como utilitarismo, a competição, o
individualismo, o consumismo, a alienação, a marginalização entre outros.
Para o autor é necessário para transformar essa realidade, o querer, o desejar, o
compromisso efetivo, enfim a vontade política. Há necessidade de uma análise para
saber as reais possibilidades de mudanças, tendo-se em conta tanto os determinantes da
realidade, quanto a força de ação consciente e voluntária da coletividade organizada.
Precisamos ganhar consciência de que nossa luta não é inglória, porém é contra um inimigo muito grande, uma vez que estamos nos defrontando com todo um quadro de organização da sociedade, que é ferreamente defendido pela classe dominante e seu cooptador.Se não tivermos esta compreensão podemos não valorizar os pequenos passos possíveis de serem dados (VASCONCELLOS, 2000,pg.20).
Precisamos buscar mudanças no âmbito da avaliação para que ela possa superar
no âmbito escolar, o paradigma da seleção em busca da qualificação e inclusão.
O USO DOS PORTFÓLIOS COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO...
O portfólio pode ser definido como uma coletânea de itens, englobando
registros que informam o desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno. Tais
itens são selecionados pelo professor, pelo aluno e também pela família. Para Shores
(2001), esse instrumento é tido como eficaz devido à sua possibilidade de estimular o
ensino pautado nas singularidades de cada criança. Ou seja, o professor busca
desenvolver um trabalho centrado nas particularidades de seus alunos. Nesse sentido,
acreditamos que os portfólios diferem de uma criança para outra, variam de acordo as
diferenças individuais das crianças.
No decorrer do processo de transição, quando abandonamos a mera verificação e
caminhamos no sentido de pensar uma avaliação que realmente expressasse o nível de
desenvolvimento da criança, cada professor ficou responsável por organizar com a
participação dos alunos, temas de estudo, para que, a partir dessas temáticas, fossem
desenvolvidos projetos.
Essa tomada de decisão exigiu uma nova organização da estrutura escolar. Foi
necessário repensar currículo, planejamento, finalidades e objetivos educacionais. A
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
4
prática avaliativa via portfólio, nos induziu a um novo redimensionamento em nossas
reflexões e decisões pedagógicas.
Sob esse olhar, empenhamos na tarefa de desenvolver uma metodologia de
trabalho comprometida com o progresso das crianças. Para tanto, associado aos nossos
registros escritos e relatórios, coletamos os trabalhos realizados pelos alunos, dentre os
quais podemos destacar: desenhos, registros escritos e atividades artísticas.
Durante o ano, realizamos reuniões semanais com as professoras, no intuito de
discutirmos a construção do portfólio de cada turma. Nesse momento, conversamos sobre
algumas dúvidas, dificuldades e facilidades encontradas e planejamos o trabalho que
seria desenvolvido semanalmente.
A partir desse posicionamento, o trabalho com o portfólio significou um grande
avanço no que diz respeito a uma avaliação que atua como instrumento para a
reorientação da prática pedagógica do professor, valorizando o sucesso da criança e
respeitando-a como ser em contínuo processo de aprendizagem.
Desse modo, as crianças puderam sentir-se agentes do processo de aprendizagem
e não apenas receptores passivos de conteúdos estanques. Assim, conseguiram
estabelecer relações importantes acerca de si mesmas e do mundo em que vivem,
permitindo também a construção de conhecimentos a partir de seu trabalho, de suas
vivências e experiências.
Para Antunes (2004), as escolas de educação infantil devem prestar atenção nas
dúvidas, perguntas e comentários dos alunos, para descobrir anseios de vontade de
aprender, que se transformam em situações de aprendizagem e projetos que devem durar
enquanto se manterem acesa a curiosidade, o desafio, a vontade da descoberta e o espírito
de busca.
As atividades que constituiriam o portfólio foram escolhidas tanto pelas
crianças, quanto pelas professoras num ambiente de diálogo. O importante foi que as
atividades selecionadas demonstraram em que nível de desenvolvimento os alunos se
encontravam, como podemos perceber nas atividades de uma criança de cinco anos:
Vale destacar que aproveitamos esse trabalho com portfólios, para
estabelecermos um maior vínculo entre os profissionais da escola e as famílias das
crianças, integrando-os em todo o processo educativo realizado. Para Shores (2001),
podemos envolver os pais da seguinte forma:
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
5
...solicitando sua ajuda na coleta de informações. Eles representam recursos essenciais na avaliação adequada do ponto de vista do desenvolvimento da criança, porque eles têm a oportunidade de conduzir uma avaliação natural em situação do lar e em muitas outras situações que os professores e profissionais da educação jamais testemunham (p.38).
Assim, realizamos reuniões com os pais mensalmente, nas quais apresentávamos
juntamente com a s crianças as atividades do portfólio do (a) filho (a) e conversávamos
sobre os respectivos desenvolvimentos. Desenvolvemos ações considerando o
conhecimento da criança como uma produção social. Ou seja, acreditamos no percurso
das vivências de nossos alunos, entendendo-as como material importante para sua
escolarização.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES...
Nesse trabalho tivemos a possibilidade de estabelecer uma relação dialógica com a
sociedade, tendo a oportunidade de trocar e interagir de alguma forma na realidade
social que vivemos. Todo o processo de mudanças no espaço da instituição constituiu-
se como momentos de reflexão, diálogo, itens essenciais para a formação dos
profissionais da educação, pois contou com a participação de todos os profissionais da
escola.
A partir das mudanças realizadas na escola, percebemos que o professor tem a
oportunidade de acompanhar de forma mais significativa o desenvolvimento das
crianças, interferindo sempre que necessário. É importante para isso, proporcionar às
crianças novos desafios, assim, novas formas de pensar a organização da sala, a
disposição de novos materiais, jogos podem permitir um novo olhar sobre a mesma
brincadeira. Mas precisamos ter claro quais são nossos objetivos e a partir daí propor
situações que os atinjam.
Cabe assim ao adulto segundo Brougére (2000), construir um ambiente que
estimule a brincadeira em função dos resultados desejados. Não temos certeza de como
a criança irá agir, com esse material, como desejaríamos, mas aumentamos nossas
chances de que ela o faça; num universo sem certezas, só poderemos trabalhar
probabilidades. Daí a necessidade de analisarmos nossos objetivos.
As crianças envolvidas no trabalho com os cantos diversificados demonstram em
linhas gerais, conseguirem vivenciar distintas situações de aprendizagem, tendo a
oportunidade de escolherem e exercitar sua autonomia, uma vez que não vivenciam o
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
6
controle direto do professor, além de permitir observar mais cuidadosamente os
problemas enfrentados pelas crianças, suas dificuldades, aprendizagens, gostos e
interesses, o que muito o auxiliará no planejamento de sua ação educativa.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, Celso. Educação Infantil: prioridade imprescindível. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil . Brasília: MEC/SEF, 1998. Volume 2. BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e cultura. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção Questões da Nossa Época, v.43) CARVALHO, Mara I. Campos & RUBIANO, Márcia R. Bonagamba. Organização do espaço em instituições pré-escolares. In: OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. (org.). Educação Infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez, 1994. p.107-130. ESTEBAN, Maria Teresa. Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. 4º ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. FORNEIRO, L. I. A organização dos espaços na educação infantil. In: ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Tradução Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: ARTMED, 1998. p.229-279. HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 1993. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Pulo: Cortez, 1999. MARQUES, Circe Mara. Caixas de Brincadeiras. In: Pátio- Educação Infantil, ano V nº 13, 2007. p. 32-33. PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999. RABELO, Edmar Henrique. Avaliação: novos tempos, novas práticas. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. ROMÃO, José Eustáquio. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez, 1998. SHORES, Elizabeth. GRACE, Cathy. Manual de Portfólio: um guia passo a passo para o professor. Porto Alegre: Artmed, 2001.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
7
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação: concepção dialética-libertadora do processo de avaliação escolar. São Paulo: Libertad, 2000. ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Tradução Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: ARTMED, 1998.
“ILHA DAS FLORES”: RECURSO DIDÁTICO PARA AS AULAS DE ENSINO RELIGIOSO?
Gabriela Almeida Diniz – UFU [email protected]
Melchior José Tavares Júnior - UFU² Ana Paula Romero Bacri - UFU
O presente texto visa refletir sobre uma experiência vivida por duas alunas do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, por ocasião das atividades de estágio, no primeiro semestre de 2010. A atividade ocorreu na Escola Municipal Machado de Assis, uma das mais antigas instituições educativas da cidade de Ituiutaba/MG. Pelo fato da professora de Ciências também ministrar a disciplina Ensino Religioso, houve um deslocamento das estagiárias para atividades relacionadas a essa disciplina, um convite para trabalhar com a temática dinheiro com as turmas do oitavo e novo ano. As estagiárias optaram pela utilização do curta-metragem “Ilha das Flores” (1989), do diretor Jorge Furtado, para discutir e refletir junto com os alunos a problemática citada. A atividade instigou a produção de 119 relatórios individuais que discutiram o curta-metragem por diversos olhares, desde apenas o resumo da obra, passando pela valorização dos próprios bens até a constatação da desigualdade social. Consideramos que apesar de alguns alunos apresentarem diversas dificuldades para compreensão da temática por meio deste recurso didático, o mesmo é potencialmente educativo.
Palavras-chave: Estágio supervisionado; curta-metragem educacional; Ensino Religioso.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Durante a disciplina Estágio Supervisionado II, ocorrida no 1° semestre de 2010,
as estagiárias do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal (FACIP) Gabriela Almeida Diniz e Suelen Xavier deram continuidade ao
trabalho desenvolvido no 8° ano com a professora de Ciências e ensino religioso Joana
(nome fictício) em uma Escola Municipal da cidade de Ituiutaba/MG.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
8
Num primeiro momento, a iniciativa foi de auxiliá-la nas aulas de
experimentação de Ciências, no laboratório que havíamos reativado com a ajuda de
outros estagiários. Porém, esta professora, além das aulas de Ciências necessita
ministrar as aulas do ensino religioso de quatro das sete turmas de 8° ano, já que esta
escola respaldada pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (BRASIL, 1996),
Art. 33, institui o ensino religioso.
Desde a instituição do ensino religioso nas escolas brasileiras ele tem sido
carregado de uma discussão intensa em torno de sua presença e factibilidade em um país
laico e multicultural (CURY, 2004), no entanto não será o foco deste trabalho analisar o
ensino religioso dentro do ambiente escolar, mas sim discutir uma experiência ocorrida
dentro desta disciplina.
Observamos que na escola citada, os profissionais trabalham a carga horária de
ensino religioso com a seguinte metodologia: os professores responsáveis pela
disciplina religião se reúnem e escolhem quatro temas, um para cada bimestre, para
serem trabalhados ao longo do ano em forma de projetos, os quais são avaliados com
conceitos. No ano de 2010 as primeiras temáticas escolhidas foram Drogas e Dinheiro.
Ao iniciarmos este estágio nos deparamos com a apresentação dos alunos sobre
a primeira temática, percebemos então que os trabalhos feitos ficaram limitados ao
material para-didático disponibilizado pelas professoras sem que houvesse uma reflexão
do próprio cotidiano e sem haver uma ligação entre o trabalho e as demais atividades
das disciplinas, objetivo primordial do ensino religioso nesta escola.
Para trabalhar a temático Dinheiro, a professora encontrou dificuldades na
elaboração do projeto devido, entre outros fatores, a falta de material para-didático
disponibilizado pela escola. Porém, entendendo o objetivo do estágio oferecido pelo
curso de Biologia da UFU/FACIP, que é o de possibilitar pesquisa, reflexão e ação
(PIMENTA; LIMA; 2006), ação esta com o intuito de permitir o diálogo entre professor
– aluno – estagiário, nos pediu que priorizássemos o auxilio neste trabalho em
detrimento do trabalho planejado anteriormente.
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
A partir desta demanda elaboramos um projeto envolvendo a exibição de um
filme, do tipo documentário, pois segundo SILVA et al. (2010) trabalhar com o cinema
em sala de aula é possibilitar a sensibilização dos estudantes e a dinamização da
abordagem de conceitos científicos, já que o cinema é o campo no qual a estética, o
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
22
9
lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra de
arte (NAPOLITANO, 2008, p. 8).
O filme escolhido foi o documentário de Jorge Furtado (1989) “Ilha das Flores”,
pois além de ser um filme que as estagiárias já conheciam ele é potencialmente
educativo, já que segundo Fiúza (2008) há no site Porta Curtas21 da Petrobrás mais de
uma centena de projetos desenvolvidos em escolas somente entre os anos de 2007 e
2008. Com o filme objetivou-se, aproveitar este espaço disponibilizado pela escola, para
discutir e instigar a reflexão junto aos alunos de temas além do dinheiro simplesmente,
como este fator influencia a sociedade humana, refletir sobre o consumismo
exacerbado, sobre a desigualdade social, indo para além do filme ou de conteúdos das
disciplinas, mas relacionado as informações obtidas com o conteúdo apresentado pela
escola, objetivando a percepção holística do currículo da mesma.
Ilha das Flores é um curta metragem22 brasileiro, produzido no final dos anos
1980 que consegue, em cerca de quinze minutos, discutir problemas socioeconômicos e
socioambientais (NAPOLITANO, 2008, p. 132). Acompanhando a trajetória de um
simples tomate, desde a plantação até ser jogado fora, o curta evidencia o processo de
geração de riqueza e as desigualdades que surgem no meio do caminho. O filme
desenvolve sua história numa constante rapidez de imagens e de narração. O texto soa
claramente didático e, às vezes, propositalmente enfadonho, com as seguidas
comparações do homem com os outros animais (FIÚZA, 2008, p. 245). Por representar
os diferentes grupos sociais através de imagens comuns, o reconhecimento da realidade
ali apresentada ocorre facilmente e ainda a constituição do roteiro permite que o
reconhecimento possa ir além, instiga a reflexão sobre o qual somos presos a um
sistema econômico – sócio – histórico – político.
Para este trabalho optou-se por uma abordagem metodológica constituída por:
exibição do filme “Ilha das Flores”, aplicação de relatório dirigido individual e análise
textual. Todos os 134 alunos do 8° ano assistiram ao filme, pois a professora
responsável pelo ensino religioso das outras três turmas do oitavo ano firmou uma
parceria neste projeto. Cada sala se deslocou para a biblioteca da escola, já que apenas
neste local poderia ser exibido o filme, após a exibição os alunos voltaram para as
respectivas salas de aula para debaterem o que foi assistido. Durante este debate
surgiram as questões norteadoras dos relatórios: 1. O que o filme Ilha das Flores me
21 O site porta curtas, patrocinado pela Petrobras, disponibiliza audiovisuais gratuitamente. 22 Curta metragem é um tipo de filme que possui até quinze minutos de duração.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
0
ensinou sobre esta temática? 2. Como e por que o dinheiro foi criado? e 3. Se todos os
homens são iguais, biologicamente, discorra sobre a influência do dinheiro na sociedade
humana. Após esse debate, os alunos redigiram um texto síntese.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Este trabalho proporcionou a elaboração de 119 textos, o que representa 89% do
total de alunos. A análise destes textos possibilitou a construção de categorias de
respostas, assinalando uma frase como representativa e, no final do mesmo, adicionando
um comentário com intuito de instigar o aluno a continuar a reflexão sobre o assunto.
As categorias foram as seguintes:
(1) Resumo, textos apenas com a descrição do curta-metragem;
(2) O dinheiro é tudo, relatórios que afirmavam que sem o dinheiro não seria
possível a sobrevivência da sociedade humana;
(3) È preciso valorizar o que temos, que consistia em reflexões sobre a
valorização dos objetos que possuímos;
(4) Aspectos da biologia, alunos que refletiram sobre os conceitos em biologia
apresentados no filme;
(5) Desigualdade social, reflexões sobre as diferenças sociais como produto da
sociedade humana viver em função do dinheiro e, por fim;
(6) Cobrança da responsabilidade do governo, alunos indignados com o que
viram no filme cobraram alguma ação por parte do estado.
O percentual de cada categoria está apresentado abaixo:
O significativo percentual de alunos que resumiram o filme (20%) nos faz
começar a questionar o resultado da aplicação de tal atividade. O filme seria muito
complicado para o pouco tempo destinado a esta atividade? Os alunos tiveram a
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
1
oportunidade de receber a informação do filme de maneira correta? Houve no momento
da retomada do filme discussão suficiente para sanar todas as dúvidas? As atividades
propostas ao final ficaram bem esclarecidas? As perguntas são muitas, porém
acreditamos que não houve apenas um fator para este resultado.
Noventa e seis alunos produziram relatórios com diversos temas desde a
constatação da desigualdade social revelada no curta até a cobrança da responsabilidade
do governo, este quadro se deve a riqueza e a abordagem de diversos temas no Ilha, que
além da diversidade de campos de conhecimentos que lhe constituem, diferentes temas
estimulam fecundos debates no interior da sala de aula (FIÚZA, 2008, p. 245)
Chamou-nos a atenção o fato de dois por cento dos alunos ultrapassarem as
questões referencia do relatório e das discussões feitas em sala, e cobrarem a
responsabilidade do governo. Foram frases como em G.R.M “Vendo este filme pude
perceber que todos nos (humanos) somos iguais biologicamente, mas socialmente
não(...) O dinheiro é importante para sociedade e a desigualdade existe, o governo
precisa tomar serias providencias.” O filme questiona a “ordem” social ao apresentar os
meios de produção ao longo da história, sem contudo se restringir a crítica ao
capitalismo (FIÚZA, 2008, p. 249) assim ele representa a possibilidade de se iniciar um
trabalho em torno do conceito de estado e sistemas políticos. Em outra frase neste
mesmo tipo de argumentação podemos ver a indignação do aluno e a reflexão sobre o
descaso do estado e o conforto que a crença permite:
Eu acho isso um absurdo por quê, o governo podia pelo menos dar uma comida melhor para essas pessoas, que não tem dinheiro, agora já é tarde, porque se eles tivessem ajudado, essas pessoas no começo não iria existir tanto delas hoje em dia mais ainda, há esperança que as pessoas possam ajudar, essas outras pessoas há terem uma condição, melhor de vida eu irei orar para deus por essas pessoas. L. B. M.
No trabalho com o mesmo curta-metragem realizado por SILVA et al. (2010), as
produções textuais de estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e particulares da
Região Metropolitana do Recife, também apresentaram reflexões sócio-políticas,
evidenciando o potencial do curta neste aspecto.
A ironia é a característica marcante do filme, todas as palavras utilizadas no
roteiro são explicadas ao mesmo tempo em que são lançadas diversas imagens sobre a
tela, o que faz o espectador entender que se trataria de uma comédia, no entanto esta
concepção cai por terra nos minutos finais do documentário. Quando o tomate
produzido no inicio chega na “Ilha das Flores”, que é um lixão a céu aberto da cidade de
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
2
Porto Alegre/RS, o filme apresenta a crua realidade das famílias que moram á margem
da sociedade causando perceptível mudança na expressão do público. Ao selecionar este
material para-didático esta mudança precisa ser utilizada nas provocações em sala de
aula. É necessário abrir a possibilidade de o/a aluno/a apresentar as causas interpretadas
por ele/a para a miséria que viu.
Na experiência realizada, 11% dos relatórios produzidos apresentaram
sentimentos de indignação, de valorização dos próprios bens e de solidariedade.
Podemos ver exemplificar com L.L “Eu fiquei, depois de assistir o filme, com
pensamento muito positivo em não desperdiçar comida porque enquanto eu tenho
opções, tem pessoas lá fora, que não tem”. O sentimento de solidariedade compareceu
também nos relatórios, L.N. disse: “Aprendi que a gente tem que ter mais consciência e
ajudar essas famílias que necessitam de ajuda”.
A intenção de trabalhar este curta metragem era de instigar a reflexão do aluno
para além do dinheiro simplesmente, mas mostrando que ele é um recurso criado pelo
homem (como dito na 2° questão do relatório), e que, como outros fatores, influencia na
constituição da sociedade humana. O roteiro do filme apresenta o dinheiro através do
seguinte texto:
O dinheiro foi criado provavelmente por iniciativa de Giges, rei da Lídia, grande reino da Ásia Menor, no século VII Antes de Cristo (...) Até a criação do dinheiro, o sistema econômico vigente era o de troca direta. A dificuldade de se avaliar a quantidade de tomates equivalentes a uma galinha e os problemas de uma troca direta de galinhas por baleias foram os motivadores principais da criação do dinheiro (...) A partir do século III A.C. qualquer ação ou objeto produzido pelos seres humanos, frutos da conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor, assim como todas as coisas vivas ou não vivas sobre e sob a terra, tomates, galinhas e baleias, podem ser trocadas por dinheiro.
Num primeiro olhar pode pensar que o documentário poderia ser utilizado
apenas nas aulas de história ou de geografia, mas não, ele vai além dos dados (que são
constituintes importantes) ele cutuca questões transdisciplinares, como assim “todas as
coisas vivas ou não vivas(...) podem ser trocadas por dinheiro”?. A transformação de
tudo em comprável está presente no nosso cotidiano, o que não é diferente na sala de
aula. A escola também reproduz a lógica dominante do capital (PIMENTA; LIMA;
2006; p. 109). Por isso a discussão sobre o dinheiro é necessária, e ainda, precisa ser
cuidadosa para que não permita a (re) afirmação do senso comum como ocorreu nesta
primeira experiência:
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
3
O filme me fez enxergar que para tudo que vamos fazer precisamos de dinheiro, o objetivo de uma pessoa em sua vida é conseguir um bom estudo, para depois um bom emprego para aí ganhar dinheiro para ter uma vida sustentável e promissora. A. M. O dinheiro é tudo na humanidade, por que compramos alimentos, moradia, água e sociedade é dividida por quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro G.S.O
Textos como estes foram presentes em 21% dos relatórios, o que representa um
grande número e assim a reafirmação de necessidade de se continuar trabalhando com
esta temática já que a escola não apenas reproduz, mas pode autoproduzir, através do
desenvolvimento de habilidades e conhecimento em prol da transformação social.
O consumismo é outro fator que gostaríamos de abordar com este trabalho,
porém acreditamos que falhamos neste aspecto, pois em nenhum relatório houve
reflexões sobre este assunto. A temática desigualdade social foi bastante presente nos
relatórios avaliados, sendo presente em 36% dos textos.
R.M disse “ Eu entendi que as pessoas são todas iguais só que tem uma diferença, nem todos tem dinheiro”; C.F. “O dinheiro foi criado para facilitar as trocas comerciais mas ele tem um lado negativo, ele interfere na classe social, quem é rico continua rico, quem é pobre dificilmente fica rico”.
Nesta frase podemos visualizar a percepção que o aluno tem sobre o quadro
social apresentado no filme: o de congelamento e quase impossibilidade de
deslocamento social. Esta reflexão indica um cuidado que é preciso ter ao utilizar o Ilha,
pois ao instigar o aluno a perceber a realidade social que se vive sem o tempo e
discussão necessária pode provocar a percepção que este quadro é pronto e acabado
independente da ação social.A desigualdade social foi o foco de duas das nove
produções textuais no trabalho de SILVA et al. (2010), onde os alunos afirmaram que as
pessoas são julgadas pelo que tem e não pelo que são, os autores afirmaram a
importância desta discussão no Brasil, um dos países que apresentam a pior distribuição de
renda, com grande parte da população vivendo abaixo da linha da pobreza (SILVA et al.;p.
2428; 2010).
Muitos alunos citaram no relatório aspectos da biologia e da sociologia, no
entanto houve dificuldades em correlacionar as duas temáticas, como em F.C.A. “Todos
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
4
seres humanos são mamíferos o que os diferencia dos outros e o polegar opositor e o
cérebro desenvolvido. Mas só quem tem dinheiro é bem sucedido na vida.”
Esta dificuldade é um reflexo da metodologia utilizada na escola hoje: as
disciplinas fechadas em caixas, a ausência do diálogo entre os diferentes conteúdos e a
ausência, ainda hoje, de trabalhos interdisciplinares, como foi a intenção deste.
Por fim, os relatórios que citaram apenas aspectos da biologia apresentados no
filme ocorreram devido a entenderem que deveriam falar sobre biologia, pois os
responsáveis da atividade eram professores e estagiários de Ciências.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O documentário “Ilha das Flores” representa uma possibilidade de diálogo,
reflexão e ação na escola, através dele podemos iniciar a nossa percepção sobre as
diversas concepções construídas pelos alunos da escola municipal no qual estagiamos
por dois semestres, o que ultrapassou as percepções construídas nas observações das
aulas sejam expositivas ou experimentais.
Percebemos deficiências na metodologia e a grande dificuldade dos alunos em
integrar os temas apresentados, contudo conseguimos perceber através dos relatórios
aspectos relevantes no reconhecimento daquela realidade escolar tais como os
sentimentos de indignação, de acomodação ou de perceberem o dinheiro como objetivo
único da vida.
A pretensão do Ensino Religioso nesta escola é abordar temas universais e por
isso o curta de Furtado pode e deve ser utilizado nessa disciplina, mesmo tendo como
tela inicial a frase “Deus não existe”.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BRASIL. Lei 9394 – LDB – Lei das Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de dezembro de 1996. CURY, J. C. R; Ensino religioso na escola pública: o retorno de uma polêmica recorrente, Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 27, set.-dez./2004. FIÚZA, A. F; O resto é verdade: história e ficção em sala de aula no curtametragem ilha das flores; HISTEDBR On-line, Campinas, n. 32, dez./2008. p. 243-253. NAPOLITANO M; Como usar o cinema na sala de aula; 4. ed. São Paulo: Contexto, 2008.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
5
PIMENTA, S. G; LIMA M. S. L; Estágio e docência: diferentes concepções. Poíesis, Vol. 3, n. 3 e 4, 2005/2006, p. 5-24. ISSN: 21782442. SILVA, K. M. E; PEREIRA A. F; LOPES F. M. B; Ilha das flores no erebes: buscando articulações entre as esferas ambientais, políticas, econômicas e sociais; In: III Encontro Nacional de Ensino de Biologia, IV Encontro Regional de Ensino de Biologia – região 5 e V Congreso Iberoamericano de Educación en Ciências Experimentales, Revista da SBEnBio n. 3, Outubro de 2010. ISSN: 2423. O BRINCAR NA CONCEPÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Leila aparecida Azevedo Silva [email protected]
Valéria Aparecida de Lima [email protected]
Dulcinéia Gabriela Medeiros Santos [email protected]
Marilda Franco Souza [email protected]
INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo abordar algumas questões do Estágio
Supervisionado II, que é uma das disciplinas do curso de Pedagogia da Faculdade de
Ciências Integradas do Pontal-FACIP/UFU. Essa disciplina nos dá a oportunidade de
desenvolver uma prática educativa investigativa por meio de observações, análises e
reflexões críticas e assim, nos tornarmos sujeitos pesquisadores e futuros profissionais
da educação.
O Estágio é e deve ser visto como parte integrante do currículo e não como um
conteúdo desvinculado dos demais. Por isso, essa proposta de trabalho está atrelada ao
Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, que entende que não é possível
fazer uma leitura da prática, sem uma leitura teórica adequada. Assim sendo, um projeto
deve ser idealizado e construído coletivamente e vinculado às outras disciplinas dos
cursos de formação dos profissionais da área da educação, onde todos os envolvidos,
alunos, professores e orientadores, são responsáveis pelo seu êxito.
O Projeto Político Pedagógico deve nos dar subsídio para a compreensão do
todo, não deixando de lado a necessidade de os seus envolvidos se auto-avaliar e
compreender que o mesmo é um elemento de intercessão.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
6
A investigação, a observação e o registro de dados da prática educativa são de
fundamental importância para uma análise bem sucedida. Os instrumentos de pesquisa
utilizados na coleta de dados devem ser revistos por meio de um estudo criterioso. A
elaboração dos questionários deve se adequar ao objeto primordial da pesquisa. Já a
entrevista aberta deve ser feita de maneira que os detalhes e o envolvimento, que
normalmente não se percebe nos questionários, sejam evidenciados. Quanto à
observação, esta deve ser feita de acordo com o referencial teórico que a determina.
Sendo o Estágio um projeto de pesquisa, torna-se coerente imaginá-lo como um projeto
coletivo de formação de professores.
As nossas observações foram feitas em uma escola municipal sediada na
periferia da cidade de Ituiutaba-MG. A princípio observamos o todo da ala da Educação
Infantil, sem necessariamente termos um foco. Com o passar dos dias, percebemos que
era preciso saber mais sobre a concepção dos professores quanto à questão do brincar na
área infantil. Então, o nosso foco, evidenciado nesse artigo, é o que os professores
pensam sobre o brincar na Educação Infantil, principalmente nessa instituição de
ensino.
Diante da Estrutura física e humana da escola observada, faz-se necessário
indagar: Em que medida os profissionais da Educação Infantil entendem a concepção do
brincar como prática importante para o desenvolvimento físico e mental da criança? Até
que ponto as brincadeiras, o lúdico, a recreação dirigida, fazem parte do planejamento e
das ações desenvolvidas pelo professor na Educação Infantil?
Na metodologia utilizamos uma entrevista semi-estruturada, com todos os
profissionais do turno matutino da área da Educação Infantil da escola municipal que foi
observada. O foco da entrevista era compreender o que as professoras entendem sobre o
brincar na Educação Infantil, se as mesmas brincam com seus alunos; se tem alguma
dificuldade em desenvolver com os discentes as atividades de brincadeiras; se existe
prioridade em algum dos requisitos educar, cuidar e brincar. Foi intento ainda investigar
se as professoras fazem relação do brincar com o desenvolvimento da aprendizagem dos
alunos e se gostariam de mudar alguma coisa em relação ao ato de brincar para
favorecer o desenvolvimento da criança na Educação Infantil.
O BRINCAR NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Diante das observações realizadas na Educação Infantil no período matutino da
Escola Municipal Aureliano Joaquim da Silva – CAIC pelo grupo composto por cinco
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
7
discentes do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU/FACIP,
constatamos, após vinte horas de observação, que os professores tem mais preocupação
com o educar e o cuidar do que com o brincar. O papel das instituições de Educação
Infantil é trabalhar com o tripé educar, cuidar e brincar. Então temos que pensar no
educar, no cuidar e no brincar de forma única, em que os três se amarram um no outro,
todos com a mesma importância em busca do mesmo objetivo que é a formação da
criança, enquanto sujeito de direitos.
Percebemos que as crianças passam a maior parte do tempo fazendo tarefas
mimeografadas, colorindo no espaço da sala de aula, sendo que o tempo das crianças na
instituição acaba se resumindo nessas atividades e no cuidar da higiene corporal
principalmente das salas de período integral. Com isso, reduz-se o tempo de brincar,
sendo que o brincar é fundamental na Educação Infantil. Do pouco que vimos, as
brincadeiras das crianças não eram direcionadas e os professores deixavam as mesmas
muito à vontade enquanto se ocupavam de outras tarefas, sendo que poderiam observar
o comportamento das crianças durante as brincadeiras e colher, deste momento tão
importante para a fase em que se encontram, informações que iriam auxiliar no
direcionamento de suas práticas.
A partir do entendimento de que é nas brincadeiras que as crianças podem
desenvolver capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a
imaginação, entre outras, e o fato de termos observado que a prática dos professores não
traduz esta concepção, consideramos de fundamental importância aprofundar estudos
sobre a temática do brincar na Educação Infantil sob a ótica do professor.
Observar crianças brincando possibilita conhecê-las melhor, ou seja, ultrapassar
os muros da escola, pois o momento do brincar revela parte de suas vidas e seus
significados. É nas brincadeiras que as crianças deixam à mostra sua identidade
enquanto sujeito. O ser humano não nasce sabendo brincar, ele aprende com o outro.
BORBA (2007, p.38) argumenta que “... o plano informal das brincadeiras possibilita a
construção e ampliação de competências e conhecimentos nos planos da cognição e das
interações sociais, o que certamente tem consequências na aquisição de conhecimentos,
no plano da aprendizagem formal.”
Segundo o Dicionário Aurélio, criança é ser humano de pouca idade. No mesmo
dicionário, a infância está definida como um período de crescimento do ser humano,
que vai do nascimento até a puberdade. Na sua origem etimológica, o termo infância em
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
8
latim é infants, e significa sem linguagem. Assim, a criança é focalizada como um ser
menor, alguém a ser adestrado, a ser moralizado, a ser educado.
A infância traz o significado de origem, aquele que não fala, que não tem
palavra, não tem voz. Já a Educação Infantil é o lugar educativo que recebe as crianças
que não são obrigadas a frequentarem como obrigatoriedade escolar. Agora o conceito
de ser criança nos leva a pensar que ela é um ser humano, não é um anjo, nasce com a
formação de sua história, um ser em constante mudança. Ser criança significa brincar,
correr, pular, passear etc.
Portanto, tem toda complexidade de um ser humano.
Na LDB art. 29 e 30 a “educação infantil, primeira etapa da educação básica, em
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. A Educação Infantil será oferecida em: creches, ou entidades equivalentes,
para crianças de até três anos de idade; pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos
de idade.” (LDB, 1996, p. 14)
As creches surgiram com o caráter assistencialista, que visava somente o cuidar,
já que as mães precisavam trabalhar e deixá-las em algum lugar. Percebe-se que são
vários os conceitos de Educar e Cuidar na Educação infantil, que depende da concepção
que a escola tem de Educação Infantil, de como ela vai incorporar o educar e o cuidar ,
pois a escola educa quando oferece à criança condições de aprendizagens que ocorrem
nas brincadeiras intencionais, quando reconhece que são sujeitos de direito, portanto
necessitam de espaços adequados, professores competentes, que vão oportunizá-la a se
desenvolver construindo a sua própria identidade.
Quando falamos de infância, muitas vezes nos deparamos com concepções que
desconsideram que os significados que damos a ela dependem do contexto no qual
surge e se desenvolve, e também das relações sociais nos seus aspectos econômico,
histórico, cultural e político, entre outros, que colaboram para a constituição de tais
significados e concepções, que, por sua vez, nos remetem a uma imagem de criança
como essência universal, descontextualizada ou então, nos mostram diferentes infâncias
coexistindo em um mesmo tempo e lugar.
A concepção de infância foi mudando ao longo dos séculos. Hoje a criança já é
considerada como alguém que tem a sua própria identidade, seus direitos. A infância,
atualmente, dispõe do Estatuto da Criança e do Adolescente. O movimento social fez
com que a criança tivesse lugar na sociedade como um sujeito de direitos. Até mesmo o
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
23
9
direito à vida da criança está sendo conquistado, pois se observa ainda um alto índice de
mortalidade infantil. Outra idéia de educação para as crianças que se faz presente é a
pré-escola. Crianças de cinco e seis anos têm que estar pré-escolarizadas, dominando
habilidades da leitura, da escrita, para chegarem rapidamente na primeira série do
Ensino Fundamental. Vale destacar que a escolarização precoce dificulta que a criança
viva a sua infância, além disso, existem outras funções que a criança moderna tem que
desempenhar como: fazer balé ou capoeira, ter aulas de informática, ter aulas de inglês,
natação, etc. Com isso, diminui o tempo dessa criança de brincar, de se divertir, de ser
criança. Sem contar aquelas que passam todo o dia em creches, devido ao trabalho das
mães.
O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em 1990 legitimou os direitos
fundamentais e inalienáveis das crianças em três eixos: proteção, provisão e
participação.
Entendemos que todo conhecimento adquirido sobre a criança, e por tabela a
infância também, permite sublimar a importância da brincadeira como um elo entre
cada um destes três eixos.
A criança enquanto sujeito de direito, tem direito de estar na escola, e a escola
tem que entender que elas precisam brincar, de viver num ambiente amplo, com direito
a professores qualificados. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
traz que Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento de suas capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com
os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas
crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. (RCN, 1998, p.
23)
Não devemos pensar na criança como um adulto responsável, olhar para ela e
não ver que é uma criança, mas a projetar para o futuro, não se pensa na criança no hoje
e sim no amanhã, então devemos pensar no hoje, no direito de ser criança e de brincar.
Podemos mudar nossa maneira de pensar e não tem nada que nos impeça de mudar esse
jeito de vê-la. Numa sociedade capitalista que a renda prevalece, exige-se que as
crianças cada vez mais cedo sejam formadas para as exigências do mercado. Se não
tomarmos cuidado, acabamos reproduzindo o que os outros sistemas fazem.
O tempo de brincar é necessário e pode ser intencional ou não, é fundamental na
Educação Infantil. Nesta etapa, é este o trabalho da criança. Através da brincadeira ela
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
0
aprende, dá asas à imaginação, pois tem o seu mundo próprio e a brincadeira passa a ter
sentido. Enquanto a criança brinca do que quer, o professor aproveita para observar e
fazer a sua análise e se preciso for, intervir.
As crianças aprendem a brincar e conviver, a aceitar e impor regras, elas não
nascem sabendo brincar, é nas relações estabelecidas com o outro que aprendem. Se não
tiver oportunidades de aprender a brincar, ela não irá fazê-lo. Além das brincadeiras, a
escola também tem que oportunizar a mesma a ouvir histórias, a usar porta textos, a
ouvir músicas etc., mesmo quando bebê, ela é capaz de aprender. Se a família não
proporciona conhecimento, a escola tem que assumir o seu papel e proporcionar.
A criança desenvolve na interação com o outro chegando ao seu potencial. O
tempo todo o professor cria estratégia, problematiza para levar a criança a aprender. A
rotina da escola impede a criança de brincar. WAJSKOP: 2001, p. 37 nos fala “que a
rotina escolar contemple períodos razoavelmente longos entre as atividades dirigidas
para que as crianças se sintam à vontade para brincar”. Por isso é preciso inserir, na
rotina, a brincadeira. Os objetos devem ser contemplados no tamanho e proporção de
maneira que possam manuseá-los, e devemos variar e acrescentar os brinquedos e
objetos, pois é importante que estes sejam renovados. Podemos dar a elas roupas
usadas, bijuterias, para brincarem de mamãe, papai, professor etc., é preciso diversificar
a rotina a cada dia com uma novidade para chamar a atenção.
Durante as brincadeiras se faz importante a professora questionar, problematizar,
fazer a intervenção na hora, porque depois o sentido se perde. É imprescindível a
presença do professor o tempo todo, afinal criança deve ser constantemente
acompanhada.
Borba (2007) nos traz que a brincadeira é uma palavra associada à infância e às
crianças. Porém, em certos lugares como nas sociedades ocidentais, a brincadeira é vista
como de pouco valor principalmente na educação formal, assumindo um significado de
oposição ao trabalho, tanto na escola quanto no cotidiano familiar. Percebe-se que a
significativa produção teórica afirmando a importância do brincar na constituição dos
processos de desenvolvimento e de aprendizagem não foi capaz de mudar as idéias e as
práticas que reduz o brincar a uma atividade a parte, de menor importância na escola.
Mas por outro lado, vemos um discurso da “importância do brincar” não só na mídia
como nos programas educativos.
Muitas vezes, os professores ficam presos a horários e conteúdos e não
encontram tempo para o brincar. Vale à pena refletir sobre essas questões para
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
1
vislumbrarmos mudanças na vida dos professores nas escolas, organizando tanto o
tempo como o espaço nos quais aprendemos e vivemos a experiência de sermos sujeitos
culturais e históricos.
Borba (2007) relata o quanto às brincadeiras na infância ajudam no
desenvolvimento físico e mental da criança, pois brincando a criança exercita seu corpo
e sua mente. Brincando a criança vai construindo seu conhecimento. Por isso, a
importância do professor, pois ele vai criar estratégias para esse desenvolvimento,
através de projetos educativos. Ele é um dos principais representantes do brincar na
infância.
Na escola, ao observarmos as crianças brincando, podemos conhecê-las melhor,
ultrapassando os muros da escola, pois na brincadeira elas se revelam. A autora ainda
destaca que “o processo do brincar referencia-se naquilo que os sujeitos conhecem e
vivenciam” (BORBA, 2007, p.35). Com base em suas experiências, os sujeitos
reelaboram e reinterpretam situações de sua vida cotidiana e as referências de seus
contextos socioculturais, combinando e criando outras realidades.
Wajskaop (2001), nos traz que no fazer de conta da criança, novos papéis sociais
e ações, novas regras e relações entre objetos e sujeitos são instituídas. É assim, por
exemplo, que cabo de vassoura vira cavalo, pedrinhas viram comidinhas, etc. Ela afirma
que na brincadeira [...] a criança se comporta além do comportamento habitual de sua
idade, além de seu comportamento diário, no brinquedo, é como se ela fosse maior do
que ela é na realidade. Isso porque a brincadeira, na sua visão, cria uma zona de
desenvolvimento proximal, permitindo que as ações da criança ultrapassem o
desenvolvimento já alcançado, impulsionando-a a conquistar novas possibilidades de
compreensão e de ação sobre o mundo.(WAJSKAOP apud VIGOSTKY, 2001, p.32)
O brincar supõe também o aprendizado de uma forma particular de relações com
o mundo marcado pelo distanciamento da realidade da vida comum, ainda que nela
referenciada. A brincadeira é um espaço de “mentirinha”, no qual os sujeitos têm o
controle da situação. Justamente essas “mentirinhas”, permitem que a brincadeira seja
desprovida de consequências que as mesmas ações teriam na realidade, abrindo janelas
para novas experiências.
Se o professor observar com cuidado, situações de brincadeiras coletivas
organizadas pelas crianças aprenderão muito sobre os processos de desenvolvimento e
aprendizagem envolvidos nas ações dessas crianças. Nos jogos de imitação, por
exemplo, as crianças agem diferentes do habitual, modificando as vozes, os gestos, os
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
2
modos de andar etc. Essas observações levam a perceber que a brincadeira requer o
aprendizado de uma forma específica de comunicação que estabelece e controla esse
universo simbólico e o espaço interativo em que novos significados estão sendo
partilhados.
É importante enfatizar que o modo de comunicar próprio do brincar não se refere
a um pensamento ilógico, mas a um discurso organizado como lógico e características
próprias. [...] o plano informal das brincadeiras possibilita a construção, a ampliação de
competências e conhecimentos nos planos da inteligência e das interações sociais, o que
certamente tem consequências na aquisição de conhecimentos no plano da
aprendizagem formal. (BORBA, 2007, p.38)
Assim, podemos afirmar que o brincar é um espaço de apropriação e
constituição pelas crianças de conhecimentos e habilidades no âmbito da linguagem, da
cognição, dos valores e da sociabilidade. A autora também nós traz que a brincadeira é
um fenômeno cultural, pois constitui como conjunto de práticas, conhecimentos
acumulados pelos sujeitos no contexto histórico e social em que vivem. Esses saberes
das crianças em relação às brincadeiras são compostos de elementos exteriores e
interiores às crianças. Sendo que Externamente podem ter como fontes a cultura
televisiva, o mercado de brinquedos, a educação dos alunos, e as suas representações
sobre a brincadeira e a infância, além das práticas culturais transmitidas por outras
crianças e adultos. Internamente, compõe-se de atitudes coletivas e elementos culturais
particulares (regras, modo de falar e de fazer, valores, técnicas, artefatos, etc.) gerados
nas práticas e reinterpretações dos elementos externos. (Idem, p.39).
Segundo a autora, a brincadeira é um lugar de construção de culturas fundadas
nas interações sociais entre as crianças e suporte de sociabilidade. No desejo de brincar,
estar e fazer coisas com o outro, é que a criança vai engajar com outros grupos de pares
e neste contexto as crianças estabelecem laço de sentimentos e amizade, criando regras
de convivência social e de participação nas brincadeiras.
Nesse processo, instituem coletivamente uma ordem social que rege as relações
entre pares e se afirmam como autoras de suas práticas sociais e culturais. Brincar com
o outro, é uma experiência de cultura e um processo interativo e reflexivo que envolve a
construção de habilidades, conhecimentos e valores sobre o mundo. O brincar contém o
mundo e também contribui para expressá-lo, pensá-lo e recriá-lo.
Assim, amplia os conhecimentos da criança sobre si mesma e sobre a realidade
do seu entorno. Uma ótima forma de conhecimento sobre o brincar é observar as
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
3
crianças e adolescentes brincando. Adentrar nos seus jogos e brincadeiras ajuda o
professor a colher informações para organização dos espaços-tempos escolares e das
práticas pedagógicas para garantir e incentivar o brincar.
Essas observações contribuem também na aproximação do professor e aluno.
BORBA (2007) também nos traz a escola como espaço de direito de brincar. Mas ao
situarmos nossas observações no contexto da contemporaneidade, veremos que esse
papel cresce em importância na medida em que a infância vem sendo marcada pela
diminuição dos espaços públicos de brincadeira, pela falta de tempo para o lazer, pelo
isolamento, sendo a escola, talvez, o principal lugar de brincar dessas crianças.
O brincar na escola é sugerido como um pretexto ou instrumento para o ensino
de conteúdos. Como exemplo, músicas para memorizar informações, jogos de
operações matemáticas, jogos de correspondência entre imagens e palavras escritas, etc.
Mas quando compreendidas apenas como recurso perdem o sentido de brincadeira, às
vezes até o caráter lúdico, assumindo mais a função de treinar conhecimentos, uma vez
que são usados com o objetivo principal de atingir resultados preestabelecidos. É
preciso entender que o jogo como recurso didático não contém os requisitos básicos de
uma brincadeira como: ser livre, espontânea, não ter hora marcada, nem resultados
prévios e determinados. Isso não significa que a escola não pode usar a ludicidade na
aprendizagem. Pode e deve [...] é preciso colocá-la no real espaço que ocupa no mundo
infantil, e que não é da experiência da brincadeira como cultura. Constituem apenas
diferentes modos de ensinar e aprender que, ao incorporarem a ludicidade, podem
propiciar novas e interessantes relações e interações entre as crianças e destas com os
conhecimentos. (Ibidem, p.43).
Para que uma atividade pedagógica seja lúdica é importante que permita a
fruição, a decisão, a escolha, as descobertas, as perguntas e as soluções por parte das
crianças, se não será apenas mais um exercício. No processo de alfabetização, por
exemplo, os travas-línguas, jogos de rimas, jogos de memórias, palavras cruzadas, e
outros, constituem formas bem interessantes de aprender brincando ou de brincar
aprendendo. Ao planejar atividades lúdicas“é importante demarcar que eixo principal
em torno do qual o brincar deve ser incorporado em nossas práticas é o seu significado
como experiência de cultura”. (BORBA, 2007, p.14).
O professor deve proporcionar tempo e espaço para que as crianças e
adolescentes criem suas brincadeiras, não só no recreio, mas também nos espaços da
sala de aula, por meio de diferentes formas de brincar com os conhecimentos, como
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
4
organizando rotinas que levem as crianças à iniciativa, à autonomia e às interações entre
elas; criando espaços para ações conjuntas para que amizades sejam feitas e criem-se
culturas; que disponibilize às crianças materiais e objetos para descobertas;
compartilhando brincadeiras com as crianças, respeitando-as e contribuindo para
ampliar seu repertório; observando-as para melhor conhecê-las; percebendo as
amizades, hierarquias e relações de poder entre elas; estabelecendo pontes, com base
nas observações, entre o que se aprende no brincar e em outras atividades, dando
oportunidade de enriquecimento; a ação pedagógica centrada no diálogo, trocando
saberes, trazendo a imaginação e a criação para a prática cotidiana de ensinar e
aprender.
Enfim, é preciso que as crianças e os adolescentes brinquem, e com eles
aprendamos a sonhar, a imaginar. Juntos construindo o percurso da ampliação e da
afirmação de conhecimento sobre o mundo. Dessa forma, adultos e crianças, podem se
conhecer como sujeito de direito, fazedores da nossa história e do mundo que nos cerca.
A Escola Municipal “Aureliano Joaquim da Silva” – CAIC foi criada através do
Decreto Lei Municipal 3.181 de 09/01/1996, tendo sido o seu funcionamento autorizado
através da portaria SEE nº 1057/96, MG: 26/10/96. A escola oferece Educação Infantil
para alunos de seis meses a cinco anos, Ensino Fundamental para alunos de seis a
quatorze anos e Educação de Jovens e Adultos, para alunos a partir dos quinze anos.
Esta escola, sediada num bairro periférico da cidade de Ituiutaba-MG, busca
ferecer condições para que ocorra o processo de envolvimento da família e da
comunidade na responsabilidade conjunta do estado e da sociedade, para o atendimento
integral às crianças e aos adolescentes, com a integração dos vários serviços públicos
indispensáveis ao pleno desenvolvimento da infância e da adolescência.
Além da observância aos princípios e fins da Educação Nacional, a Escola tem
suas atividades centradas na Pedagogia da Atenção Integral, isto é, um conjunto de
ações e atividades articuladas que objetiva garantir à infância e à adolescência de baixa
renda, seus direitos fundamentais, seu desenvolvimento integral, com vistas ao preparo
para o exercício da cidadania.
Sua missão é preparar o aluno cidadão para uma vida feliz e participativa,
através da educação integral e da prática de valores morais, resgatando a dignidade do
ser humano, garantindo-lhe o direito à cidadania.
A área total do terreno da escola é de 18.310.76 m² e a área construída são de
5.947.93 m², que se resume em três grandes blocos. Na Educação Infantil, os alunos são
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
5
atendidos em Período Integral, das 7h às 16h30min e no turno matutino na pré-escola de
5 anos de idade. O Ensino Infantil conta com 33 professores para 202 alunos
matriculados.
No terceiro bloco, a Educação Infantil conta com: dois berçários com pia para
higienização dos alunos; uma sala de apoio pedagógico; uma sala da diretoria, uma
secretaria; dois sanitários públicos, sendo um feminino e outro masculino, um refeitório,
um depósito; seis salas de aula, cada uma com vestiários, chuveiros e sanitários, um
lactário; um vestiário com sanitário e chuveiro para os funcionários; uma lavanderia,
uma rouparia, um recreio coberto, uma sala de recepção, jardim, parque, playground.
REFERÊNCIAS
BORBA, Ângela Meyer, O brincar como um modo de ser e estar no mundo, Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense – UFF, 2007, p.33-44. BRASIL, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Brasília, MEC/SEF, 1998. BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, e legislação correlata. 6º edição. Brasília: Câmera dos Deputados, Coordenação de Publicações,2008. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). LDB: Diretrizes e bases da Educação nacional: Lei nº 9.394 de 1996: Emenda Constitucional nº 11, de 1996. KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo.Cortez, 2000. PADILHA, Paulo Roberto: Educar em todos os cantos: reflexões e canções por uma educação intercultural, São Paulo. Instituto Paulo Freire, 2007 WAJSKOP, Gisela. Brincar na pré-escola. São Paulo: Cortez,2001. (Coleção Questões da Nossa Época; v.48)
O ENSINO DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS UTILIZANDO RECURSOS ÁUDIO VISUAIS COMO PRÁTICA EDUCATIVA: UM RELATO DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
Bruno Leonardo Pereira da Silva Rodrigues – FACIP/UFU
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
6
O presente artigo relata uma experiência vivenciada na disciplina de Estágio Supervisionado III, da Universidade Federal de Uberlândia – FACIP/UFU, onde cada discente deveria elaborar uma sequência didática e aplicá-la em sala de aula. O objetivo proposto pela professora supervisora era de planejar uma aula sobre funções trigonométricas, utilizando um método diferente do usual. Com esse intuito a sequencia foi elaborada e aplicada utilizando recursos áudio visuais como Data – Show, Vídeo, Computador. Durante a aplicação notou-se a interatividade dos alunos com o estagiário, mostrando o interesse dos mesmos pelo o conteúdo proposto. A aula foi ministrada em uma turma do segundo ano do Ensino Médio do período noturno de uma escola estadual da cidade de Ituiutaba-MG, onde o principal foco foi à utilização de recursos para a montagem de gráficos trigonométricos. Com o avanço da tecnologia, os professores devem inserir em seus métodos, recursos que ajudem o aluno na aprendizagem matemática.
Palavras Chaves: Tecnologia; Estágio supervisionado; Métodos de ensino.
CONTEXTO DO RELATO
No curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal(FACIP) da Universidade Federal de Uberlândia(UFU) o estágio a docência é
uma das atividades desenvolvidas na disciplina de Estágio Supervisionado III. Essa
disciplina tem como objetivo, criar condições para a vivência de situações concretas e
diversificadas relacionadas à profissão docente; construir a compreensão sobre a
identidade profissional do professor e de sua importância no processo educativo;
promover a articulação teoriaprática e possibilitar situações de ensino a partir das quais
seja possível a experiência de intervenção pedagógica.
Com as transformações que a cada dia vem acontecendo em nossa sociedade,
estamos vivendo tempos que nos permitem discutir e refletir sobre a desigualdade
social. Em um modo que, as políticas educacionais devem identificar uma preocupação
com a inserção de uma classe ativa na sociedade das tecnologias de informação e
comunicação, em que a inclusão é um meio que favorece um potencial de uma
sociedade mais justa, para todos.
O estágio supervisionado III consiste em planejar, desenvolver e aplicar uma
sequência didática de um conteúdo matemático inserido no planejamento do professor.
Nesta etapa o estagiário juntamente com o professor supervisor e professor orientador
de estágio da universidade elaboram uma continuidade de um conteúdo escolhido pelo
professor supervisor.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
7
Este estágio relatado foi realizado em uma escola estadual da cidade de
Ituiutaba-MG, no segundo ano do Ensino Médio regular noturno. Devido as
dificuldades encontradas por alunos no conteúdo de funções trigonométricas, foi
solicitado pela a professora supervisora que fosse elaborado, uma metodologia diferente
da usual. Com esse intuito a sequência realizada foi estruturada por meio de uma aula
com gráficos trigonométricos abordando os conceitos de (seno, cosseno e tangente),
utilizando recursos áudiovisuais.
Logo, esse relato descreve uma experiência obtida na disciplina de Estágio
Supervisionado III, onde durante a elaboração e aplicação da sequência o estagiário
utilizou conceitos obtidos durante a graduação, em especial em Educação Matemática.
Também mostra que na inserção de tecnologia no cotidiano escolar, pode ajudar os
alunos na aprendizagem matemática.
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Como proposta do Estágio Supervisionado III, a sequência didática foi
elaborada e logo após apresentada a uma turma do segundo ano do Ensino Médio
noturno, de uma escola da rede pública estadual de Ituiutaba – MG.
De acordo com Borba e Penteado (2003, p. 64-65),
(...) À medida que a tecnologia informática se desenvolve nos deparamos com a necessidade de atualização de nossos conhecimentos sobre o conteúdo ao qual ela está sendo integrada. Ao utilizar uma calculadora ou um computador, um professor de matemática pode se deparar com a necessidade de expandir muitas de suas idéias matemáticas e também buscar novas opções de trabalho com os alunos. Além disso, a inserção de TI no ambiente escolar tem sido vista como um potencializador das idéias de se quebrar a hegemonia das disciplinas e impulsionar a interdisciplinaridade.
Após a escolha iniciou-se uma pesquisa em livros, revistas e internet, em busca
de uma metodologia diferenciada, que ajudasse os alunos a entenderem o conteúdo. No
primeiro encontro com a professora orientadora, foi lembrado de uma apresentação,
onde um discente na disciplina de Educação Matemática III sugeriu como método de
ensino a utilização de vídeos para a representação de funções trigonométricas.
Com essa ideia formada, pesquisamos em sites alguns videos que mostrasse o
tipo de representação. Ao encontrar um vídeo, notou-se a necessidade da utilização de
slides para a apresentação das funções seno, cosseno e tangente. Em continuidade,
ocorreu a apresentação do plano de aula para a professora supervisora, onde, foi
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
8
solicitado a inclusão do gráfico das interseções das funções seno e cosseno. Após o
pedido da professora, o gráfico foi inserido nos slides.
A conclusão da sequência ocorreu em um último encontro com a professora
supervisora. Posteriormente, o estagiário ministrou a sequência proposta, utilizando os
recursos aúdiovisuais (Projetor multimídia, computador e som) e a duração foi de
quarenta (40) minutos. Durante a aplicação era necessário que os alunos tivessem
conhecimentos prévios em: Circunferências; arco trigonométrico e seno, cosseno e
tangente.
Os objetivos dessa sequência foram: mostrar, na prática, a utilização histórica e
atual das funções seno, cosseno e tangente e também desenvolver o raciocínio lógico
apresentando a versatilidade do uso dos gráficos das funções trigonométricas na
resolução de problemas, por meio de recursos das tecnologias da informação.
Assim os conteúdos contemplados nessa sequência foram: funções
trigonométricas; seno, cosseno e tangente.
Os materiais utilizados durante a aula foram: folha com exemplos, data show,
note book e caixas de som.
No início o estagiário solicitou que os alunos se organizassem e fossem para a
biblioteca da escola, sendo esse o único local onde possui datashow instalado. Ao
chegarem à sala os alunos se acomodaram em suas cadeiras e esperaram a apresentação
começar. Após a chegada, o estagiário apresentou a professora orientadora da
universidade, a eles. Ela esteve presente durante a aplicação da aula, registrando em
video todo o processo para socialização entre os discentes da disciplina de Estágio
Supervisionado III.
Quando todos sentaram o estagiário apresentou-se e relatou que a sequência
seria de funções trigonométricas, e passaria um vídeo para eles assistirem. Durante a
apresentação do vídeo os alunos ficaram quietos, prestando a atenção na história e na
aplicação da função seno no cotidiano.
Ao final do vídeo foi perguntado aos alunos, o que eles haviam entendido, uma
aluna se posicionou falando que durante o vídeo mostrava uma cobra, e a mesma fazia
movimento iguais a da função seno. Após os comentários foi distribuída uma folha para
cada aluno, onde continha todos os gráficos das funções seno, cosseno e tangente.
Em continuidade o estagiário pediu a atenção dos alunos, e iniciou a
apresentação de slides das demais funções. No primeiro gráfico da função seno, os
alunos já com a concepção do vídeo ajudaram o estagiário a montar o gráfico, sendo
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
24
9
que, falaram a polaridade de cada quadrante da função seno de forma correta e bastante
satisfatória. No segundo gráfico da função cosseno, os alunos ajudaram novamente na
montagem do gráfico, onde os mesmos fizeram todas as ordenadas positivas e negativas
do gráfico, satisfazendo o que foi proposto. No terceiro e último gráfico os alunos se
depararam com a função tangente, onde eles tiveram algumas dúvidas no início, mas,
após a intervenção da professora supervisora, as duvidas foram solucionadas. Após o
terceiro gráfico foi perguntado aos alunos se existia alguma dúvida, sendo que, os
mesmos não responderam e aplaudiram a apresentação. Os alunos foram liberados para
voltarem à sala de aula.
Para a avaliação dos alunos creiamos que seja continuada dentro da sala de aula,
por meio de trabalhos e provas que serão propostos pela a professora da escola
concedente.
Essa relação entre estagiário e alunos, foi muito satisfatória, para o crescimento
profissional do estagiário, pois o mesmo conseguiu elaborar a sequência e atingiu os
principais objetivos propostos.
Os alunos durante a apresentação e construção dos gráficos se mostraram
interessados e participaram a todo o momento, respeitando o estagiário e todos os
colegas presentes. Durante as aulas práticas dentro de sala de aula no Estágio
Supervisionado III, foi observado uma turma indisciplinada, onde em muitos momentos
a professora supervisora, interrompeu sua aula para chamar a atenção dos alunos ou até
mesmo retirar alguns da sala de aula. O mesmo conteúdo foi trabalhado dentro de sala
de aula pela a professora, sendo que, o resultado não foi satisfatório.
Os PCN´s (1998, p. 44), apontam que o computador surge como um grande
aliado do desenvolvimento cognitivo dos alunos, o qual manifesta várias finalidades
nas aulas de Matemática, como fonte de informação poderosa para alimentar o processo
de ensino aprendizagem; como auxiliar no processo de construção de conhecimento;
como meio para desenvolver autonomia pelo uso de softwares que possibilitem pensar,
refletir e criar soluções; como ferramenta para realizar determinadas atividades
O momento de uma aula envolvendo a tecnologia pode ser um método de
aprendizagem diferenciado, pois gerou um melhor entendimento do que a aula
tradicional, lousa e giz.
ANÁLISE DO RELATO
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
0
Podemos considerar que estamos diante de um desafio, em que devemos superar
as desigualdades que cercam nossa sociedade, permitindo, realmente a presença de
classes que se caracterizam pela sua diversidade. A adaptação das tecnologias de
informação e comunicação (TIC’s), no espaço escolar faz desistir do conceito de
conhecimento.
Na realidade, a ideia de fazer uso das tecnologias de informação e comunicação
é importante. O uso da mídia, trabalhada de forma integrada ajuda a inserir os
indivíduos, seja, no cenário atual, sociedade tecnológica, além de que viabiliza o
processo educacional em âmbito escolar. Diante desta realidade, o conceito dos
recursos didáticos assume um novo papel frente ao surgimento de meios tecnológicos
aplicados à educação a partir da prática pedagógica planejada.
As TIC’s estabelecem ligações entre a Matemática e os conteúdos de outras
áreas, utilizando-as como elemento interdisciplinar, durante esse processo de ensino
aprendizagem.
Os educadores matemáticos têm buscado novos métodos para levar à prática da
sala de aula as ideias-chave de construção e de compreensão, dentro os quais se
destacam: resolução de problemas, modelagem, etnomatemáticas, transversalidade,
tecnologias de informação e jogos matemáticos.
Borba e Penteado (2003, p. 64-65), falam que a inserção da tecnologia da
informação no cotidiano escolar e de extrema importância, pois, professores de
matemática podem buscar novas metodologias de trabalho para serem trabalhadas com
seus alunos, assim podendo trabalhar também a interdisciplinaridade.
Essas experiências escolares com o computador também têm mostrado que seu
uso efetivo pode levar ao estabelecimento de uma nova relação professor-aluno,
marcada por uma maior proximidade, interação e colaboração. Isso define uma nova
visão do professor, que longe de considerar-se um profissional pronto, ao final de sua
formação acadêmica, tem de continuar em formação permanente ao longo de sua vida
profissional.
Como e proposto nos PCN´s à utilização de recursos tecnológicos como o
computador e a calculadora podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem de
Matemática tornando uma atividade rica, não havendo riscos de impedir o
desenvolvimento do pensamento, desde que os alunos estejam envolvidos em processos
de repensar a sua capacidade crítica. e que o professor seja reconhecido e valorizado,
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
1
onde o papel fundamental que só ele pode desempenhar na criação, condução e
aperfeiçoamento das situações de aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES
O professor nos dias atuais tem um papel importante, pois ele é visto como
mediador e facilitador do conhecimento. É de extrema importância que ele proporcione
ao aluno a capacidade de aprender e compreender a sociedade em que ele está inserido,
incentivando atitudes positivas, com criatividade fazendo assim o aluno um cidadão
consciente de seus deveres e direitos.
Observando os estudos realizados por diversos educadores matemáticos à procura
da melhor forma de ensinar conteúdos matemáticos, podemos ver que a melhor forma
de ensinar é proporcionando ao aluno o desenvolvimento do seu próprio conhecimento.
Para que tais objetivos sejam atingidos, é importante que professores comecem a
utilizar estratégicas pedagógicas que possibilitem um aprendizado, inovando sua
metodologia de ensino, adaptando-se as necessidades de seus alunos. Nesse sentindo,
sugerimos as tecnologias da informação.
Podemos observar então que a formação de professores não e somente dada pela a
graduação e sim por um processo de desenvolvimento por toda vida, onde o professor
deve se adequar diariamente, diversificando suas metodologias e caminhando
juntamente com os avanços do dia a dia. É importante também despertar o interesse dos
alunos pela matemática.
Conclui-se que o ensino de Matemática deve passar por uma reestruturação, onde,
professores devem aproveitar os recursos tecnológicos existentes no espaço escolar,
pois, tais instrumentos podem melhorar a linguagem expressiva e comunicativa dos
alunos. Logo se espera que, em aulas de Matemática professores ofereçam uma
educação tecnológica, desde que não seja uma formação especializada, visando uma
sensibilização dos conhecimentos de recursos tecnologicos e também pela
aprendizagem de conteúdos sobre sua estrutura, funcionamento e linguagem.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Secretária de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: matemática. Brasília: MEC, 1998.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
2
PENTEADO, M. G.; BORBA, M. de C. Informática e Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. YOUTUBE. Funções Trigonométricas. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=7B7O-etHd38 Acesso em: 15 de maio. 2010. GOOGLE. Funções trigonométricas. Disponível em: http://www.google.com , Acesso em 18 de maio. 2010. MEU ALUNO. Gráficos de funções trigonométricas. Disponível em: http://meualuno.com.br/index.php/geometria-animacoes/funcoes/61-funcoes/238-grafico-da-funcao-seno-e-suas-translacoes , Acesso em: 17 de maio. 2010.
O ENSINO DE LITERATURA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Karla Pereira Mendonça - UFU
Valéria Silva - UFU Fernanda Duarte Araújo Silva
FACIP /Universidade Federal de Uberlândia [email protected]
O presente trabalho tem por objetivo retratar nossa experiência enquanto estagiárias do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Uberlândia, no ano de 2009. O projeto intitulado “Produzindo Poesias” foi desenvolvido com 27 crianças da fase introdutória, na faixa etária de seis anos em uma escola da rede pública municipal da cidade de Uberlândia. Esse tema surgiu a partir de observações que realizamos na escola, nas quais percebemos que as crianças tinham um contato restrito com a literatura, principalmente com a poesia. As aulas de literatura restringiam-se às contações de histórias e o recorte e colagem para ilustrações. Os livros de literatura também eram usados como instrumentos para avaliar a leitura das crianças. Em linhas gerais, podemos afirmar que o projeto nos oportunizou uma experiência valiosa, pois aliou a teoria a uma prática, onde o lúdico, as atividades participativas, a construção do conhecimento possibilitaram o desenvolvimento de um imaginário que contribuiu com a formação dos alunos e o enriquecimento concreto de nossa formação enquanto docentes, percebendo as diferentes formas de compreender a leitura, a interpretação, o pensar e o agir, tendo como ponto de partida a literatura. Palavras-chave: Poesia, Literatura, Educação. CONTEXTUALIZANDO NOSSO TRABALHO...
Sobre a integração da universidade com a sociedade, sabemos que a
universidade, constitui-se como um espaço em que se agregam diversas e diferentes
ações. Assim, promover essa integração é considerar a idéia de diversidade de ações, de
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
3
desenvolvimento da ciência aplicada e participação na busca de melhorias e resolução
de problemas sociais que permeiam a região no qual vivemos.
A concepção de extensão como função acadêmica deve ser privilegiada e
considerada como uma atividade a ser realizada por professores e demais profissionais
da universidade, junto principalmente às comunidades carentes. A partir dessa nova
concepção de extensão universitária, esta passa a se constituir como parte integrante da
dinâmica pedagógica curricular do processo de formação e produção do conhecimento,
envolvendo professores e alunos de forma dialógica, promovendo a alteração da
estrutura rígida dos cursos para uma flexibilidade curricular que possibilite a formação
crítica (JEZINE, 2004).
O trabalho da extensão universitária numa perspectiva acadêmica pretende
assim, ultrapassar o limite da ciência técnica, do currículo fragmentado e da visão de
homem como objeto a ser manipulado, encaminhando-se para uma visão
multidimensional, em que as dimensões político-social-humana estejam presentes na
formação do sujeito, concebido como ser histórico.
Um dos caminhos que pretendemos utilizar para desenvolver ensino e extensão
foi o desenvolvimento de projetos educacionais nas escolas municipais da cidade de
Uberlândia, a partir das disciplinas de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia,
que vão de acordo com as necessidades das crianças e das alunas do curso.
Abordaremos a seguir alguns aspectos teóricos discutidos e estudos ao longo do curso
de Pedagogia, que embasaram as práticas desenvolvidas nas instituições escolares.
LITERATURA INFANTIL: ESTABELECENDO ALGUMAS BASES TEÓRICAS
Discutir sobre literatura infantil na sala de aula, nos remete a algumas
reflexões sobre seu histórico no intuito de compreendermos melhor a importância
desse trabalho na atualidade.
De acordo com Zilberman (2003), os primeiros livros para crianças foram
produzidos ao final do século XVII e durante o século XVIII, sendo escritos por
pedagogos e professores. Antes disso, não se escrevia para elas, porque não
existia a concepção de infância. Assim, a compreensão da existência de uma faixa
etária diferenciada, com interesses próprios e necessitando de uma formação
específica, só aconteceu em meio à Idade Moderna.
Até então a escola não trabalhava com a realidade do mundo infantil e negava a
convivência social, apenas ensinando-lhe as normas. Essa educação normativa
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
4
manifestava os ideais burgueses, ou seja, colocava as regras ditadas por aqueles que
tinham o poder. O professor, nesse sentido, colaborava no processo de dominação,
submetendo-se a vontade de classes poderosas. Assim, não podemos negar que a
literatura infantil, a escola, bem como o livro, compartilhavam uma mesma função,
reproduzir o mundo adulto, interferindo assim no mundo imaginário da criança
incutindo ideologias e impedindo a reflexão.
Os textos produzidos para a escola se revelavam nas palavras de Zilberman (2003)
como um manual de instruções, tomando o lugar da emissão adulta, mas não ocultando
o sentido pedagógico. Portanto, com a entrada do livro na escola, a sociedade quis
produzir seres dependentes que adotam normas impostas sem discuti-las.
O caráter normativo dado à literatura, atualmente mudou. Hoje falamos de uma
educação formativa. A escola, o livro, bem como a literatura infantil, e as relações entre
eles e as suas especificidades à formar um sujeito crítico, reflexivo e que participe do
contexto social em que vive.
Vale destacar que para Coelho (2000), sem o registro dessa literatura através dos
livros, não haveria como esta chegar à escola, pois a língua oral, a memória, tem seu
valor, contudo é efêmera. O que é impresso, escrito, permanece na vida dos homens
muito mais tempo. Livros deixam de ser materiais de instrução e passam a carregar
heranças da história, do presente e do futuro.
Acreditamos assim que uma educação transformadora e humanizante passa
necessariamente pela prática da leitura e tem nela seu objetivo maior. E é segundo
Cagliari (1998), a formação de leitores a principal função da escola atualmente.
Acreditamos ainda que, por sua natureza, é a literatura que tem a mais rica, eficaz e
gratificante contribuição a dar na busca desse objetivo. Os textos literários adquirem no
cenário educacional, uma função única, singular: aliam à informação o prazer do jogo,
envolvem razão e emoções numa atividade integrativa, conquistando o leitor por inteiro
e não apenas na sua esfera cognitiva.
Mas ao questionarmos o que é literatura, encontramos diversas respostas que vão
desde uma concepção de literatura como simples forma de prazer sem maiores
conseqüências, até uma concepção de literatura como documento fiel da realidade.
Quando se trata então de respondermos à mesma pergunta, acrescentando-lhe o adjetivo
"infantil", as respostas podem ser ainda mais controvertidas. Mas será que realmente
existe uma literatura estritamente infantil? Alguns estudiosos acreditam até mesmo que
haja uma oposição quase que natural e inconciliável no binômio literário-infantil. Para
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
5
Zilberman (2003), na verdade o que se observa é que quanto maior for o valor literário
de um texto, menores serão as delimitações de faixa etária. Um bom livro dito para
crianças pode ser lido com o mesmo gosto e proveito também por adultos. O que há,
portanto, é apenas literatura, isto é, arte literária.
Na realidade, toda obra literária para crianças pode ser lida pelo adulto: ela é
também para crianças. A literatura para adultos, ao contrário, só serve a ele, sendo assim
menos abrangente do que a infantil. Assim compreendemos que literatura infantil é toda
a literatura que pode ser lida também pela criança.
Tratando-se do projeto de literatura infantil encontramos diferentes gêneros
literários que foram determinados, na antigüidade por Aristóteles, sendo eles: o lírico, o
narrativo e o dramático. O gênero lírico abrange as poesias, com elegias, sonetos, odes,
madrigais e baladas. O narrativo trabalha a ficção, com contos, romances, novelas,
fábulas, mitos, lendas e outros. E o dramático, abrange o teatro com a ópera, a farsa, a
tragédia, a comédia.
Vários elementos determinam a singularidade de cada um deles, no entanto
todos provêm da idéia de que a realidade precisa ser analisada e questionada, bem como
discutida, elogiada e vivenciada. Sendo assim reforçamos a idéia de que a leitura,
conforme estes gêneros, deve ser vista, vivida, falada, ouvida, contada.
Acontece, todavia, que com a denominação de literatura para crianças, muitos
livros sem nenhum valor literário têm sido publicados. Estes, no entanto, não passam de
simples "livrinhos de histórias", sendo que o único aspecto que possuem em comum
com a literatura é o uso do código lingüístico.
Dessa forma, verificamos que sempre, quando o substantivo "literatura" é
subordinado pelo adjetivo "infantil", tem-se cometido, ao longo dos tempos, sérios
equívocos. O maior deles é a sua preocupação pedagógica, que acaba por reduzi-lo à
condição de mero subsidiário da educação formal, relegando-o à simples condição de
livro paradidático. Espera-se, nesse caso, que a criança lendo aprenda a escrever
corretamente, a partir da internalização das estruturas da língua, ao mesmo tempo que se
aproveita para lhe passar ensinamentos morais de toda ordem.
É necessário que a leitura venha de encontro do atendimento dos interesses e das
necessidades do leitor, representando sua maneira de ser e de ver as coisas. Nesse caso,
ela desencadeia o processo de identificação do sujeito com os elementos da realidade
representada, motivando o prazer da leitura.
Deverá ainda, respeitar o leitor - criança na sua maneira de ver e sentir as coisas
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
6
- e, sobretudo, apresentar uma visão aberta de mundo, o que significa apostar na criança
como ser inteligente, capaz de atribuir sentido às coisas. Tudo o que aí está é passível de
questionamento. A sociedade vive em constante transformação. Então é importante que
novas maneiras de ver e interpretar a realidade sejam apresentadas ao leitor, não como
modelos a seguir, mas como sugestões de possibilidades de mudança.
A oposição a esses problemas pode-se revelar igualmente problemática.
Propor a abolição da literatura na escola ou mesmo a abolição da escola representa
tão-somente abandonar a criança à sua própria sorte, após tê-la feito adotar a
imagem de sua impotência e incapacidade. Em outras palavras, trata-se de doar-
lhe um poder sem instrumentalizá-la para seu uso; e, com isso, reforçar o conceito
de seu despreparo e inabilitação. Além disso, enquanto instituições, a escola e a
literatura podem provar sua utilidade quando se tornarem o espaço para a criança
refletir sobre sua condição pessoal. Pois, de um modo ou outro, escola e literatura
infantil têm sido o que restou para a infância, após o êxito do processo de
ilhamento antes descrito. E, se sua dominação procede do gesto soberano do
adulto, os fatores de sua emancipação podem derivar de uma nova aliança entre
estes dois sujeitos.
Percebemos assim, que de modo geral a literatura permite ao leitor descobrir
novos sentidos para a realidade, ampliando e enriquecendo a sua percepção do ser
humano, do mundo e de si mesmo, porque de maneira específica proporciona "a
vivência intensa e ao mesmo tempo a contemplação crítica das condições e
possibilidades da existência humana" pois condensa a realidade, selecionando aquilo
que de mais significativo ela apresenta.
Concluímos que existe uma articulação entre escola, literatura e livro, afinal, a
escola sempre teve a função de reproduzir aspectos sociais para moldarem os alunos,
para que eles obedecessem aos padrões ideais. Hoje ela tem a função de transformar a
sociedade, revendo esses valores, padrões e ideais pregados por uma educação
normativa.
Preservar as relações entre a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala
de aula,· decorre de ambas compartilharem um aspecto em comum: a natureza
formativa. De fato, tanto a obra de ficção como a instituição do ensino estão
voltadas à formação do indivíduo ao qual se dirigem. Embora se trate de produções
oriundas de necessidades sociais que explicam e legitimam seu funcionamento, sua
atuação sobre o recebedor é sempre ativa e dinâmica, de modo que este não
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
7
permanece indiferente a seus efeitos. Que essa é a meta da educação é fartamente
conhecido, enfatizando-se em tal caso sua finalidade conformadora a padrões de
existência e pensamento em vigor.
Nesse contexto, a literatura infantil, deve ser levada a realizar sua função
formadora, que não se confunde com uma missão pedagógica. Com efeito, ela dá
conta de uma tarefa a que está voltada toda a cultura - a de "conhecimento do
mundo e do ser", o que representa um acesso à circunstância individual por inter-
médio da realidade criada pela fantasia do escritor. E vai mais além - propicia os
elementos para uma emancipação pessoal, o que é a finalidade implícita do
próprio saber.
Diante dos vários gêneros literários, optamos pelo poético, que traduz muito da
literatura, em sua delicadeza, sensibilidade. Trata-se de uma leitura agradável,
interessante e divertida onde as crianças tiveram um contato prazeroso com a leitura.
O QUE É POESIA...
Poesia arraiga em um certo modo de perceber e compreender o mundo ao nosso
redor, no intuito de nos auxiliar a captar algo que vai além do visível e do aparente.
Assim, ao questionarmos: O que é poesia? Neste sentido é que encontramos esse
poema:
Que é poesia? Uma ilha Cercada de palavras por todos os lados. (Cassiano Ricardo)
Para este autor, Poesia é palavra, mas não é somente. Coelho (2000) afirma que
é também imagem e som. As palavras expressam emoções e sentimentos através das
imagens e da sonoridade. É devido ao jogo de palavras que produz sonoridade bem
como a possibilidade de musicá-la que atrai as crianças. O jogo poético estimula as
descobertas e atua em suas sensações visuais, auditivas, gustativas, olfativas, tácteis, de
pressão, termais e comportamentais, mas vale destacar que um poema não aborda todas
essas sensações de uma só vez.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
8
A poesia destinada às crianças deve ser breve, com versos curtos, com rimas
para despertar a curiosidade e sensibilidade.
A poesia deve estar sempre presente nos espaços cultos da escola, como também
nas ruas com as cantigas folclóricas, de roda, parlendas, provérbios e nas cantigas de
ninar. Há poetas que brincam com as palavras de forma interessante, como podemos
perceber no poema seguinte, que foi trabalhado com as crianças da escola em que
estagiamos:
Guaraná com canudinho Sérgio Caparelli Uma vaca entrou no bar e pediu um guaraná. O garçom, um gafanhoto, tinha cara de biscoito. Olhou de trás do balcão, pensando na confusão. Fala a vaca, decidida, pronta pra comprar briga: - E que esteja geladinho pra eu beber de canudinho! Na gravata borboleta, gafanhoto fez careta. Responde: vaca sem grana se quiser vai comer grama. - Ah, é? Muge a vaca matreira, quem dá leite a vida inteira? - Dou leite, queijo, coalhada, reclamo, ninguém me paga. Da gravata, a borboleta sai voando satisfeita. Gafanhoto leva um susto, acreditando, muito a custo. E serve, bem rapidinho, guaraná com canudinho.
As rimas são outro recurso poético, e quando bem escolhidas, são gostosas de ler
e ouvir. Vinicius de Moraes, em seu livro Arca de Noé,1971, publicou o poema:
O Pingüim
Vinicius de Moraes Bom dia, pingüim Onde vai assim Com ar apressado? Eu não sou malvado Não fique assustado Com medo de mim Eu só gostaria De dar um tapinha No seu chapéu jaca Ou bem de levinho Puxar o rabinho Da sua casaca
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
25
9
Quando você caminha Parece o Chacrinha Lelé da caixola E um velho senhor Que foi meu professor No meu tempo de escola Pingüim, meu amigo Não zangue comigo Nem perca a estribeira Não pergunte por quê Mas todos põem você Em cima da geladeira
A poesia trata de temas como identidade, conscientização humanitária, as
sensações, os sonhos, as emoções e a vivência infantil.
Abramovich (2001) destaca algumas sugestões de como trabalhar com a
literatura em sala de aula, que utilizamos em nosso trabalho, entre elas citamos: quando
for trabalhada em sala de aula deve ser lida muitas vezes antes pelo professor, para que
assim tenha condições de ler com emoção. Escolhemos também poemas musicados para
as crianças cantarem.
O CAMINHO PERCORRIDO...
Num primeiro momento expomos o tema “Poesias” aos alunos que comentaram
e se mostraram interessados em conhecer melhor e desenvolver trabalhos sobre o tema.
Em seguida, a sala foi dividida em grupos de quatro alunos aos quais entregamos
diversos livros de espessura e tamanhos diversos, uns com ilustrações, outros sem,
dentre eles o de “A arca de Noé,” de Vinícius de Moraes, (1971), “Ou isto ou aquilo” de
Cecília Meireles (1964), entre outros.
Convidamos as crianças para brincarmos com poesias, por meio do seguinte
poema:
Convite José Paulo Paes
Poesia / é brincar com palavras / como se brinca / com bola, papagaio e pião. Só que / bola, papagaio, pião / de tanto brincar / se gastam. As palavras não: / quanto mais se brinca / com elas / mais novas ficam. Como a água do rio / que é água sempre nova.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
0
Como cada dia / que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia?
Os alunos ficaram livres para se expressarem: alguns leram os poemas, outros
ficaram maravilhados com as ilustrações, outros ainda cantaram e relembraram poemas
como “A Casa”, “ O Pato”,entre outros.
Em seguida escrevemos em um cartaz a poesia Pé de Pilão de Mário Quintana:
Pé de pilão
Mario Quintana
O pato ganhou sapato, Foi logo tirar retrato. O macaco retratista Era mesmo um grande artista. Disse ao pato: “não se mexa, Para depois não ter queixa.” E o pato duro e sem graça Como se fosse de massa. “Olhe pra cá direitinho: Vai sair um passarinho.” O passarinho saiu, Bicho assim nunca se viu. Com três penas no topete E no rabo apenas sete.
Anexamos o cartaz no quadro, percebemos uma excelente interação por parte
dos alunos que participaram ativamente através de perguntas. Em seguida conversamos
com as crianças sobre algumas características do estilo literário da poesia, as rimas, os
versos, as estrofes a sonoridade,etc.
No próximo momento, lemos, cantamos e interpretamos com as crianças,
algumas poesias e decidimos com o grupo, construir um poema. A construção coletiva
despertou a sensibilidade dos alunos que empolgados sugeriam alterações, troca de
palavras para o registro.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
1
O título do poema foi: “O gato, o Rato e o Pato”. As crianças se lembraram de
fatos de suas vivências, os passeios, as férias, etc., o que tornou o momento significativo
dando um sentido especial as poesias. Os alunos como sujeitos ativos do processo de
elaboração e construção do poema se sentiram autores orgulhosos e dignos de criarem
uma expressão literária marcante.
O momento mais esperado por eles foi quando escrevemos logo abaixo do título
do poema seus nomes como autores. Os olhos dos alunos ofuscaram de satisfação o que
ocorreu em via de mão dupla, pois também nos sentimos orgulhosas de
proporcionarmos esse momento de construção do conhecimento através de um processo
conjunto. No final, as crianças ilustraram os personagens do poema construído por eles.
Algumas considerações
O projeto nos oportunizou uma experiência valiosa, pois aliou a teoria a uma
prática, onde o lúdico, as atividades participativas, a construção do conhecimento deram
margem a uma imaginário que contribuiu com a formação dos alunos e o
enriquecimento concreto de nossa formação enquanto docentes, percebendo as
diferentes formas de compreender a leitura, a interpretação, o pensar e o agir tendo
como ponto de partida a literatura.
O trabalho com poesias despertou o interesse das crianças em desenvolver
atividades prazerosas, lúdicas, fantasiosas, imaginárias, reais e simultaneamente
indispensáveis ao ensino aprendizagem, sem abandonar o objetivo de conhecermos as
diferentes formas literárias.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo, Scipione, 2001 CAGLIARI, Luiz Carlos. A respeito de alguns fatos do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita pelas crianças na alfabetização. In: ROJO, Roxane (Org.). Alfabetização e Letramento: Perspectivas Lingüísticas. São Paulo: Mercado das Letras,1998. COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. 1ª ed. – São Paulo: Moderna, 2000.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
2
FRANTZ, Maria Helena Zacan. O ensino da Literatura nas séries iniciais. 3ª ed. Ijuí, RS: ed: Unijuí, 2001. JEZINE, Edineide. Mutidiversidade e Extensão Universitária. In. FARIA, Dóris Santos de. (org.). Construção Conceitual da Extensão Universitária na América Latina. Brasília. UnB, 2001. ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 11ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Global, 2003.
UMA PROPOSTA PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Nathália Freitas Santos Nunes Guimarães - FACIP/ UFU [email protected]
Olga Maria De Freitas - FACIP/ UFU Viviane Prado Buiatti – FACIP/ UFU
INTRODUÇÃO
O presente trabalho de intervenção teve o propósito de atingir uma Escola
Estadual de Educação Especial da cidade de Ituiutaba, estado de Minas Gerais. A
referida escola funciona no período matutino e diurno, oferecendo apenas ensino
especial.
Possui como equipe multidisciplinar: psicólogo; fonoaudiólogo;
fisioterapeuta; terapeuta ocupacional; supervisor pedagógico; orientador educacional;
professor; professor de apoio; professor de sala de recursos (atendimento interno);
professor guia intérprete; professor para uso de biblioteca; professor do serviço de
itinerância; professor eventual; professor de educação física diretor; vice-diretor;
especialistas da educação; secretária; auxiliar técnico de educação e ajudante de
serviços gerais.
A Escola Estadual, desmembrada da APAE em 1994, busca educar seus
alunos para o mundo dando-lhes a autonomia necessária e oferecendo á família o
suporte para guiá-los nesse caminho rumo a uma verdadeira inclusão.
Atualmente a escola oferece as seguintes modalidades de ensino:
estimulação precoce; ensino fundamental; serviço de itinerância; sala de recursos;
oficinas pedagógicas como: saberes e sabores da culinária, arte que brilha e jardinagem.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
3
A escola é mantida pelo Estado através da autorização de funcionamento Nº 1797/96,
Decreto de Criação Nº 26.884 de 28/10/1986 e Decreto Lei Nº 18.643 de janeiro de
2007. Cada uma dessas modalidades se organizam de um modo.
A Educação Infantil atende ás crianças de zero a cinco anos, sendo,
Educação Precoce de zero a três anos de idade e Pré-Escola de quatro a cinco anos de
idade. Nos anos iniciais, a organização do ensino fundamental passa a ter cinco anos de
escolarização, sendo dividido, com os três primeiros anos compreendendo primeiro,
segundo e terceiro ano de Alfabetização e os outros dois que são quarto e quinto anos
do ciclo complementar.
A educação básica, no nível fundamental é organizado em, oitocentas horas
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar. A estimulação
precoce, tem duração de duas horas e trinta minutos de atividade semanais, cem horas
de carga horária anual. A educação pré-escolar tem duração de vinte horas de atividades
semanais, oitocentas horas de carga horária anual de vinte horas de atividades semanais,
oitocentas horas de carga horária anual com duração de duzentos dias letivos.
A escola funciona com duzentos e doze alunos em dois turnos, sendo assim
distribuídos: no matutino, dez turmas de regência; uma oficina pedagógica; uma sala de
recursos; três salas de educação infantil; dois professores regentes de educação
religiosa; dois professores regentes de aulas de educação física; um professor guia
intérprete; atendimento interno com profissionais da equipe multidisciplinar,
atendimento externo com uma professora de sala de recurso. Vespertino: nove turmas
de regência; uma oficina pedagógica e um professor de apoio.
Os alunos são procedentes de diversos bairros da cidade. As famílias são, em
sua maioria, de classe baixa, assalariadas e residem em casas alugadas. O nível de
escolaridade dos pais restringe-se ao ensino fundamental (1ª a 8ª séries) e o lazer é, na
maioria das vezes, a visita á casa de parentes, á igreja e festas populares.
Os objetivos específicos da escola segundo o Projeto Político-Pedagógico
são: proporcionar orientação familiar, de modo a gerar ambiente adequado á pessoa
portadora de necessidades educacionais especiais, tanto em casa como no contexto em
que está inserida; oferecer aos alunos condições adequadas para atendimento ás suas
necessidades, por meio de adaptação curriculares; implementar projeto que envolvam a
comunidade escolar, fortalecendo sua participação ativa no cotidiano escolar; favorecer
a participação ativa da comunidade por meio de projeto, de parcerias, festividades,
grupos de trabalho, reuniões, etc.; criar no meio cultural e no mundo do trabalho;
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
4
buscar na sociedade a criação de espaços possíveis para atender as possibilidades de
trabalho de nossa clientela, o aluno portador de necessidades educacionais especiais;
proporcionar condições de aperfeiçoamento aos profissionais da escola, visando ampliar
seus conhecimentos contribuindo para a melhoria do ensino e sistematizar divulgar os
processos e atuações dos profissionais da Escola em seminários, congressos, mini-
cursos, etc., a fim de promover a cientificidade do fazer educativo desta Escola de
Educação Especial.
Realizou-se na disciplina Estágio Supervisionado I um trabalho com a
temática Educação Especial. O trabalho pautou-se de visitas para levantamento de dados
e reconhecimento do ambiente e cotidiano escolar. Nas visitas foram realizadas
conversas com a equipe pedagógica, professores, psicólogos e alguns pais de alunos.
Diante de todas as salas visitadas, escolheu-se pelo grupo, a sala com alunos que
possuem dificuldades de aprendizagem, com idades entre oito e nove anos de idade, do
período vespertino.
Após a realização de visitas, procurou-se relacionar a teoria com a prática,
analisando os dados coletados a partir do embasamento teórico de alguns autores. A
partir dessas análises, percebeu-se que a escola apresenta algumas defasagens para
acolher os alunos com dificuldades de aprendizagem.
Foram notáveis as dificuldades referente á metodologia pedagógica para o
trabalho com as crianças em dificuldades de aprendizagem e outro aspecto diz respeito a
formação de alguns professores, equipe pedagógica e comunidade escolar para elaborar
projetos na escola com esses alunos que convivem com alguma dificuldade. Acredita-se
que essa escola, necessita de formação diferenciada, inicial e continuada para
professores que e lidam diretamente com esses alunos.
Percebe-se que a questão acerca da dificuldade de aprendizagem, vem ao
longo dos anos, visto que os alunos são levados ás escolas especiais para conseguirem
atendimento especializado que corrobore com a sua aprendizagem.
Partindo das possíveis alternativas que levam os professores a acreditarem
que os alunos com dificuldades de aprendizagem não terão êxito e tudo o que se faça
para essas crianças será desnecessário, pretendeu-se executar um projeto que resgatasse
nos alunos e professores, reflexões e alternativas de lidar com esses alunos,
considerando que isso dependerá da interlocução entre alunos e professores. Para tal, a
proposta desta intervenção foi a realização de uma oficina de contação de história, com
o tema de natal, envolvendo a participação ativa dos alunos.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
5
AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: ESTUDO DO TEMA
Partindo do pressuposto de que, todos os alunos são diferentes, tanto nas
capacidades, quanto nas motivações, interesses, ritmos evolutivos, estilo de
aprendizagem, situações ambientais e outros e entendendo que todas as dificuldades de
aprendizagem são em si mesmas contextuais e relativas, é necessário acentuar o
processo de interação ensino/aprendizagem.
Este é um processo complexo e se inclui: aluno, professor, concepção e
organização curricular, metodologias, estratégias e recursos. Mas a aprendizagem do
aluno não depende apenas dele e sim da ajuda do professor ao nível de dificuldade que o
aluno apresenta em cada tarefa de aprendizagem. Observa-se que se o professor ajustar
sua intervenção e prática em metodologias de ensino apropriadas aos alunos com déficit
para aprendizagem, esses poderão apresentar progressos.
Blin (2005) apresenta algumas possíveis causas das dificuldades de
aprendizagem, tais como: a criança com transtornos de aprendizagem tem uma linha
desigual em seu desenvolvimento; seus problemas de aprendizagem não são causados
por pobreza ambiental; os problemas não são devidos a somente atraso mental ou
transtornos emocionais; nem todas as crianças aprendem na mesma maneira e por fim a
escola deve partir das potencialidades e não de suas dificuldades.
O autor acrescenta que
Sem subestimar o efeito de fatores externos á escola, variadas pesquisas sobre a eficácia do ensino têm demonstrado a influência dos professores e da maneira como conduzem a ação pedagógica, não somente sobre a forma como se dá a aprendizagem dos alunos, mas também sobre o modo com que se comportam em aula. (BLIN, 2005, p. 26)
De acordo com Mantoan (2003), é fundamental entender que nem todos os
alunos aprendem no mesmo ritmo e na mesma época e á contramão disto há uma ênfase
na homogeneização. Neste sentido faz-se urgente, criar contextos que se adaptem as
individualidades dos alunos, partindo da especificidade de cada caso. O conhecimento
dos processos e uma prática didática, facilita e pode minimizar grande parte dos
problemas e as “dificuldades de aprendizagem”.
Nessa perspectiva, cabe á escola e aos educadores, adotarem uma postura
ética em relação aos alunos, que assim como eles, convivem em uma sociedade
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
6
altamente excludente. Portanto, diversificar as situações de aprendizagem e adaptá-las é
incluir todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem.
Perrenoud (2001) deixa claro que:
A individualização de itinerários educativos é possível para os professores, PIS ao invés de uma individualização deixada ao acaso, “pode ser feita uma individualização deliberada e pertinente dos percursos educativos ás diferentes características, ás possibilidades, aos projetos e ás necessidades diferentes dos indivíduos. (p. 45)
Durante muito tempo, as crianças com dificuldades de aprendizagem, eram
encaminhadas a um especialista para confirmar sua “normalidade”, conforme fosse o
resultado, a criança era atendida em escolas especiais.
Atualmente, algumas escolas se mostram “inclusivas” ao receberem crianças
com dificuldade de aprendizagem. Contudo, essa é uma questão que exige uma certa
reflexão, levando em consideração que para um trabalho dessa natureza acontecer
concretamente, é necessário algumas condições básicas, como: tempo, situações
apropriadas, etapas didáticas, etc.
Mas algumas escolas, preferem esperar que o aluno seja capaz de se adequar
á forma tradicional de ensino, ou que a família assuma o problema e resolva-o fora da
escola. Assim, esses alunos com dificuldades de aprendizagem, permanecem no mesmo
nível, caso os professores não orientarem de forma específica para acabar com essas
dificuldades.
Independente da sala de aula que os professores atuem, é fundamental que
este professor tenha como base os quatro pilares da educação: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Faz parte da prática do educador,
a tarefa de ensinar aos alunos a pensar, se organizar e buscar nos conteúdos uma relação
dentro e fora da escola. Um dos maiores desafios para os profissionais da Educação é
distinguir quais são os alunos que têm dificuldades daqueles que têm os chamados
distúrbios de aprendizagem.
O educador precisa possuir competência de identificar, no seu espaço de sala
aula, alunos que apresentem indícios de alguma dificuldade acadêmica, para que este
educador tenha condições de avaliar seus alunos, tendo em vista que a avaliação é um
processo contínuo e permanente do desenvolvimento das competências e habilidades de
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
7
cada aluno, observando-se as condições de aprendizagem que se dão antes, durante e
depois da execução de cada atividade.
Segundo GLAT (2007):
Enquanto o número de alunos matriculados nas escolas cresce consideravelmente, aumentam, na mesma proporção, os índices de fracasso escolar. É grande a preocupação dos professores. Assim como o médico não deseja que seu paciente piore, nenhum professor quer que seu aluno fracasse. (p. 65)
O desconhecimento de algumas dificuldades de aprendizagem por parte de
alguns professores, dentre elas a dislexia e os distúrbios de leitura e escrita, induzirá ao
educador, uma avaliação falha, na medida em que este julga e condena este aluno
apenas por seus erros, desconsiderando tanto suas dificuldades, quanto as possibilidades
de desenvolvimento do seu potencial cognitivo, na condição de ser que aprende.
É entretanto necessário, evitar a formula clássica de enumerar sintomas de
patologias, responsabilizando, unicamente, o aluno pelo próprio fracasso, inclusive
porque muitas vezes o que é esperado pela instituição escolar está descontextualizado da
nova cultura que se tece.
Mesmo apresentando algum distúrbio de aprendizagem, qualquer educando é
capaz de ter sucesso acadêmico, desde que tenha o apoio necessário. O diagnostico deve
apontar caminhos, ajudando a escola a compreender o que se passa com este aluno.
Ainda que cada um seja diferente do outro, mesmo com diagnósticos semelhantes.
Evitando rótulos e buscando atender ás necessidades individuais do educando será
possível prevenir, ou minimizar dificuldades de aprendizagem.
Faz-se necessário a construção de práticas pedagógicas que considerem as
necessidades dos alunos, assim como todas as suas possibilidades de aprendizagem,
criando condições e dando autonomia suficiente para que aprendam, não só uns com os
outros, mas também com seus erros, sem medo e sem preconceito. Caso contrário a
escola sempre será um espaço sem atrativo que proporcionem o prazer desses alunos e
logo será rejeitada. Reprimindo seus sentimentos, o aluno apresentará comportamentos
que poderão ser inexplicáveis.
A dificuldade de aprendizagem é um tema que deve ser estudado, levando-se
em conta todas as esferas que o individuo participa (família, escola, sociedade, etc...).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
8
Sabe-se que diante de pesquisas, não há uma causa única para o fracasso escolar e que
também um aluno com dificuldade de aprendizagem não é um aluno que tem
deficiência mental ou distúrbios relativos, na verdade, existem aspectos fundamentais
que precisam ser trabalhados para se obter um melhor rendimento em todos os níveis de
aprendizagem e conhecimento.
A esse respeito Mantoan (2003) diz:
O sucesso da aprendizagem está em explorar talentos, atualizar possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada aluno. As dificuldades e limitações são reconhecidas, mas não conduzem nem restringem o processo de ensino, como comumente deixa que aconteça. (p. 70)
Os termos dificuldades, distúrbios e transtornos de aprendizagem são
freqüentemente utilizados como sinônimos, cabendo esclarecer sua diferença. Dessa
forma, se faz necessário entender os fatores que se implicam na aprendizagem, como:
pedagógico, orgânico, psico-afetivo, psico-cognitivo e social.
Para GLAT (2007):
Diagnosticar e conceituar no âmbito escolar os problemas ou dificuldades só terá sento de for para traçar estratégias de ação que busquem metodologias e recursos, considerando também o desenvolvimento de um perfil para o educador que atue dentro da realidade inclusiva da escola regular.
Aprender é um direito de todos os alunos e não apenas aos considerados
aptos á escola regular. Modificar procedimentos em sala de aula é a medida urgente e
necessária para atender as necessidades de todos os alunos numa mesma sala. Receber
alunos com dificuldades e continuar do mesmo jeito, é contribuir para o insucesso
escolar desses. As dificuldades devem ser interpretadas pelos educadores, não como
fracassos, mas sim como desafios a enfrentar, fazem parte da aprendizagem, as
dificuldades de aprendizagem, algumas dessas dificuldades existem na vida de alguns
alunos, independente da sua vontade ou de sua família.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
26
9
A inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido muito distorcido e um movimento muito polemizado pelos mais diferentes segmentos educacionais sociais. No entanto, inserir alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, mais graves ou menos severos no ensino regular nada mais é do que garantir o direito de todos á educação-e assim diz a Constituição. (MANTOAN, 1991).
Numa perspectiva de senso comum, só alguns alunos têm dificuldades de
aprendizagem, para todos os outros, a grande maioria, tudo ocorre normalmente, sem
problemas. Esta forma de descrever as dificuldades de aprendizagem (pensar que “uns
têm e outros não”) está, muito difundida em nossa sociedade. E nesta perspectiva,
nenhum pai deseja saber que o filho está passando por dificuldades ou precisa de ajuda.
As perguntas são freqüentes e sem respostas. “Estará doente ou traumatizado? Por culpa
de quem? E porquê o meu filho?”
De acordo com WEISS e CRUZ (2001):
O sujeito que aprende, que está em processo de construção de seu conhecimento, em aprendizagem formal e informal, não é determinado somente pelo seu potencial cognitivo. Ele é constituído na articulação entre seu aparelho biológico, suas estruturas psico-afetiva e psico-cognitiva, nas interações com o meio social do qual faz parte e onde está inserido. Entendendo o sujeito aprendente dessa forma, compreendemos suas dificuldades( perturbações, problemas de aprendizagem, fracasso escolar), dentro da pluricausalidades dos fenômenos (...)
Os distúrbios ou transtornos de aprendizagem envolvem sempre um aspecto do
funcionamento orgânico do sujeito. Apesare de não haver “cura” para esta condição,
isso não significa, necessariamente, que o individuo que tenha esse tipo de distúrbio terá
uma dificuldade de aprendizagem se lhe forem garantidas condições para atendimento
de suas necessidades dentro e fora da escola.
A maior parte dos alunos sabe ou aprende como processas a informação e
desenvolver uma estratégia ou um plano organizado quando confrontado com um
problema social ou acadêmico. Contudo, outros consideram que este processo cognitivo
é muito difícil, lêem e relêem informação sobre algum assunto, mas não conseguem
reter as idéias principais. Têm um bom vocabulário oral, mas os relatórios orais e
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
0
escritos são simplistas e aborrecidos, podem estudar durante horas para um teste, mas o
resultado não vai de encontro ás suas expectativas nem ás do professor.
Para BLIN (2005):
As dificuldades de aprendizagem podem surgir em qualquer situação, idade ou momento do seu percurso escolar. Aprender exige esforço, persistência, coloca sempre dificuldades. Algumas tarefas escolares ao repetitivas, rotinas que requerem motivação e persistência. Outras surgem com um grau de dificuldade crescente, exigindo uma constante evolução do aluno. Perante um obstáculo, um erro ou um insucesso, os alunos reagem de diferentes modos: alguns sentem maior empenho e insistem, por brio ou teimosia. Alguns estão sempre a pedir ajuda, outros nem reparam, que o problema existe. (p. 54)
A INTERVENÇÃO
O trabalho de intervenção, a oficina realizada na escola, teve como objetivo
proporcionar aos professores e alunos um espaço de reflexão e interação sobre
alternativas de se fazer um planejamento pedagógico que valorize as crianças com
dificuldades de aprendizagem. Além de promover uma oficina com as crianças para se
trabalhar leitura e escrita de uma forma lúdica.
O primeiro passo que percorremos para a realização desse projeto foi um
contato direto com a direção da escola em que se pretendeu colocar o projeto em
prática. Foram realizadas visitas á escola para observação e neste momento elaborou-se
a execução de uma oficina a partir da percepção das necessidades da instituição.
Para alcançar os objetivos, o trabalho foi realizado com os alunos juntamente
com a participação da professora regente. Foi contada uma história referente ao Natal
(árvore de natal) e após, houve uma discussão com as crianças sobre a história da árvore
e o que estes acharam da mesma e sobre o tema Natal.
Todos os alunos receberam uma folha xerocada com o desenho de um
pinheiro (referente á árvore de natal) e utilizaram da criatividade para enfeitá-la. Depois,
discutiu-se com os alunos e com a professora sobre o que foi positivo e também o que
foi negativo nesse trabalho.
Ao final, todos os alunos apresentaram sua árvore e fizeram uma exposição
das mesmas. Com a professora, foi realizada uma conversa informal para discutir sobre
os objetivos, processo da oficina e a participação de cada aluno.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
1
CONCLUSÕES:
Conclui-se a partir de todas as observações realizadas e da oficina ministrada, que
trabalhar em uma escola especial, requer habilidades e compromissos que não são todas
as pessoas que o têm. Vê-se isso de forma clara mesmo dentro dessa escola e nas salas
de aula em que se foi realizada o estágio.
Notou-se, a incompatibilidades de gêneros que há, entre os professores e também
entre a gestão com um todo. É evidente a falta de colaboração de alguns professores
para o desenvolvimento educacional desses alunos com dificuldades de aprendizagem,
isso tudo foi confirmado pela fala de algumas professoras e pelo desinteresse mostrados
nas aulas.
Assim, podemos entender, que é necessário essa preparação, um estágio que
possibilite aos educandos de um curso de formação de professores, atuarem em todas as
modalidades de ensino e compreendo o que de fato querem e como pretendem atuar.
Ressignificar a prática docente, deve fazer parte da vida de alguns professores que estão
atuantes nessa escola e pretendem apenas concluir o tempo para aposentadoria. Os
alunos necessitam bem mais que apenas uma regente dentro de sala de aula, eles
necessitam de professores que os ajudem a se desenvolverem e serem incluídos na
sociedade em escolas regulares.
A partir dos resultados com a oficina, entendeu-se que, os alunos são
competentes, têm competência e em especial são inteligentes ao ponto de
compreenderem tudo aquilo que lhe é falado. A grande preocupação é que os
professores (com exceções) não pensam dessa forma, acreditam que esses alunos não
têm mais jeito e ficaram no antagonismo pelo resto de suas vidas e não se
comprometem a ensinar e fazer a diferença com esses alunos que necessitam tanto de
uma aprendizagem que os favoreça e os de significados tanto para a vida social como
escolar.
Entende-se que, toda criança precisa da escola para aprender e não para ser
segregada em classes especiais e atendimento á parte. A trajetória escolar não pode ser
comparada a um obstáculo ameaçador, deve haver sistemas organizacionais que
possibilitem essa trajetória ao aluno e de fato o inclua e o possibilite concluir seus
estudos.
Nessa experiência acumuladas ao longo de vinte e quatro horas de estágio em uma
escola especial e referencias teóricas selecionadas pelo grupo, pode se concluir que,
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
2
esses alunos com dificuldade de aprendizagem, dificilmente poderão aprender e se
desenvolverem se não receberem na escola, os recursos adequados para isso.
A Educação Inclusiva não pode significar, portanto, como levianamente vem acontecendo em alguns sistemas escolares, a descontinuidade dos serviços da Educação Especial. Muito pelo contrário, de certa forma, esses serviços são até ampliados na medida em que esta deixa de ser uma modalidade paralela, tornando-se um elemento integrante e integrador presente no cotidiano de todas as escolas. Em outras palavras, com a adoção desta nova proposta educacional rompe-se a dicotomia entre ensino “especial” e ensino “regular”. (GLAT, 2007, p. 187)
Finalmente, se faz necessário que as instituições especializadas em fortalecer
como centros de referencia para formação de recursos humanos, pesquisas, produção
material adaptado, consultorias, entre outras ações. Deve-se considerar o fato de que
esses alunos com dificuldades de aprendizagem fazem parte do contexto discente e não
apenas ser mais um aluno “jogado” dentro dessas escolas “especializadas”.
REFERÊNCIAS:
BLIN, Jean-François. Classes difíceis: ferramentas para prevenir e administrar os problemas escolares. Porto Alegre: Artmed, 2005. FREIRE, Paulo. A Educação na Cidade. São Paulo, SP: Cortez, 1ª Ed, 1999. GLAT, Rosana. Educação inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007. MANTOAN, M.T.E. (1988). Compreendendo a deficiência mental: novos caminhos educacionais. São Paulo: Editora Scipione. MANTOAN, M.T.E. (1991). A solicitação do meio escolar e a construção das estruturas da inteligência no deficiente mental: uma interpretação fundamentada na teoria de conhecimento de Jean Piaget. Tese de doutoramento. Campinas: UNICAMP/Faculdade de Educação. PERRENOUD, Philippe. A pedagogia na escola das diferenças: fragmentos de uma sociologia do fracasso. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
WEISS, Alba Maria Lemme, CRUZ, Maria Lúcia R. A Informática e os Problemas Escolares de Aprendizagem. Rio de Janeiro: Ed. DP&A, 1999.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
3
VELHAS E NOVAS TECNOLOGIAS: UMA NOVA LÓGICA DE ENSINO
Angélica Bisinoto Fernanda Domingues Rúbia Laíz da Costa
FACIP-UFU INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo saber o que são tecnologias, se elas surgem
com a modernidade ou sempre estiveram presentes nas sociedades e como se dá a nova
lógica de ensino frente à nova sociedade da informação. O tema é relevante, pois
estamos vivendo um momento de transição social onde a tecnologia invade o dia-a-dia
das pessoas, e principalmente as escolas devem estar preparadas para superar o modelo
de ensino repetitivo aproveitando o aprendizado cooperativo em rede que a sociedade da
informação oferece. Para isso é preciso redefinir o papel do professor e pensar na sua
formação, pois ele precisa estar familiarizado com as novidades tecnológicas que
avançam a cada dia.
A tecnologia se explica como sendo um conjunto de conhecimentos que junto a
um planejamento especifico, resultam na construção de um determinado objeto para a
realização de certa atividade. As tecnologias sempre existiram e a cada época elas vão
se aperfeiçoando e acompanhando as mudanças decorrentes da cultura. Ela se faz tão
presente em nossas vidas que passou a ser muito mais que um simples suporte,
ocorrendo a humanização dos aparelhos já que interferem diretamente em nosso modo
de pensar, sentir e agir.
NOVAS OU VELHAS TECNOLOGIAS?
Desde a antiguidade, nos tempos mais remotos, o homem com sua vasta
capacidade de planejar e agir, já pensava em que fazer para garantir sua sobrevivência
diante dos fenômenos da natureza, da busca por alimentos e ataques de animais. Assim
ele viu que era possível construir meios e ferramentas que lhe auxiliariam dia-a-dia na
luta pela sobrevivência. A esse conjunto de “conhecimentos e princípios científicos que
se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um
determinado tipo de atividade nós chamamos de tecnologia” (KENSKI, 2003).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
4
Ao contrário do que todos pensam a tecnologia não se restringe apenas à
internet e celulares, se prestarmos atenção ela está presente no dia-a-dia em tudo a nossa
volta. Tudo o que nós utilizamos como talheres, giz, canetas, são formas de tecnologias,
pois para serem feitos precisaram de certo conhecimento e são usados para certos fins.
Somada à tecnologia, temos as diferentes habilidades de lidar com cada uma
delas, a que chamamos técnica, e esta varia entre os grupos, são passadas entre as
gerações que incorporam hábitos e costumes. Existem tecnologias que requerem
maiores técnicas e conhecimentos, como por exemplo, montar computadores. Segundo
o dicionário Aurélio, entende-se por técnica a “maneira, jeito ou habilidade especial de
executar ou fazer algo”.
Não só apenas o século XXI deve ser considerado como a “era tecnológica”,
pois desde a idade da pedra o homem cria instrumentos e os aperfeiçoa na busca da
melhoria de vida. Assim tecnologia é “o conjunto de tudo isso: ferramentas e as técnicas
que corresponde aos usos que lhes destinamos em cada época”. (KENSKI, 2003)
Mas as tecnologias não são feitas apenas de produtos e equipamentos, existem
outros tipos, que vão além, como as tecnologias da inteligência e as tecnologias de
comunicação e informação. A primeira se refere à linguagem oral, a escrita e a
linguagem digital e a segunda é a maneira de se transmitir informações por todo o
mundo através das mídias.
As tecnologias de comunicação e informação são designadas como toda forma
de veicular, determinar, gravar, armazenar, processar e reproduzir as informações.
Têm-se como ambiente de veiculação, incluindo as mídias mais tradicionais, os livros,
o fax, o telefone, os jornais, o correio, as revistas, o rádio, os vídeos, as redes de
computadores e a Internet. E como exemplos de suportes de armazenamento de
informações temos o papel, os arquivos, os catálogo, as fitas magnéticas, os HD’s, os
CD’s. Dispositivos que permitem o seu processamento, são os computadores e os
robôs, e exemplos de aparelhos que possibilitam a sua reprodução são a máquina de
fotocopiar, o retroprojetor, o projetor de slides (data show).
As novas tecnologias de informação e de comunicação, usadas na
comunicação social,são mais que simples suportes, estão cada vez mais interativas, pois
permitem a troca de dados entre seus usuários com recursos que lhes permitem
alternativas e aberturas das mais diferentes, além de influenciar em nosso modo de
pensar, sentir, agir, criando uma nova cultura e uma nova sociedade.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
5
É indiscutível que as novas tecnologias de informação e comunicação,
chamadas TICs, já se fazem presentes em nosso cotidiano e que já avançamos muito
em termos de conhecimento, graças aos novos recursos tecnológicos disponíveis ao
alcance de uma crescente parte da população. Nossa preocupação já não é mais
somente dar acesso a globalização e emitir as informações, mas sim incentivar o
conhecimento.
Nosso atual desafio, além de possibilitar que todos tenham acesso às novas
tecnologias, é também fazer com que o cidadão se torne letrado digitalmente. A nova
lógica do ensino voltada ao uso das tecnologias de informação e comunicação deve
orientar a aprendizagem e a ação docente em qualquer nível de escolaridade,
potencializando as possibilidades de acesso às informações que com um bom mediador
gera conhecimentos.
NOVA LÓGICA DE ENSINO
O acesso e uso das tecnologias de informação e comunicação tem rapidamente
provocado mudanças no campo das ciências, e tais mudanças se refletem na forma de se
pensar a educação. Hoje as diferentes formas de comunicação e informação,
possibilitam que empresas, escolas e todas as pessoas criem e utilizem conhecimentos,
produtos e serviços de qualquer lugar e a qualquer hora.
Frente a essa nova realidade, o ensino já não alcança a qualidade necessária e o
modelo tradicional de educação não dá suporte para se trabalhar com as tecnologias,
pois valoriza um ensino rotineiro e repetitivo. Por isso são exigidos “um novo tempo,
um novo espaço e outras formas de pensar e fazer educação”. (KENSKI, 2003)
Nesse sentido se faz necessário uma reestruturação e adaptação dos currículos
e das metodologias, considerando que o uso das tecnologias estabelece novas práticas
que levam a mudanças urgentes na organização didática. Por isso essa nova cultura
educacional exige um novo estilo de pedagogia que favoreça a aprendizagem.
Os diferentes usos das mídias (tecnologias) mudam os padrões de trabalho, do
lazer, da educação, do tempo, da saúde e da indústria e criam, assim, uma nova
sociedade, novas atmosferas de trabalho, novos ambientes de aprendizagem. Criando-
se assim um novo tipo de aluno que necessita de um novo tipo de professor. Um
professor ligado e compromissado com o que esta acontecendo ao seu redor.
Aí se encontra a questão central: redefinir o papel do professor. Este é o ponto
fundamental nesta nova lógica do ensino. O professor se torna um imigrante frente às
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
6
inovações tecnológicas e passa a fazer parte do grupo de aprendentes, enquanto os
alunos, nativos na área já trazem conhecimento em relação a elas.
Com isto temos uma mudança nos papéis tradicionais desempenhados por
professores e alunos, os primeiros deixariam de ser aqueles que repassam informações,
convertendo-se em coordenadores de um trabalho de pesquisa. Os últimos deixariam de
ser aqueles que recebem informações passivamente, transformando naqueles que
buscam e analisam dados.
Não devemos, porém, nos preocupar com o fato de a informática ser o meio
pelo qual poderá ocorrer uma revolução na educação. Isto já é uma realidade!
Nossa preocupação imediata é como a escola deve utilizar esta nova máquina de
informação? Não basta brigarmos para que uma sala esteja cheia de computadores se
não possuímos um plano estratégico de como utilizá-los a nosso favor.
Contratar um instrutor de informática que tenha noções pedagógicas não nos
garantirá uma educação de qualidade. Afinal o especialista em educação é o professor
que está dentro de sala de aula, ministrando as mais diversas matérias e conteúdos. E é
este profissional que precisamos especializar para introduzir a informática no cotidiano
escolar de forma adequada aos nossos propósitos.
A meta principal da escola não é preparar os alunos para serem profissionais
de computação. Seu objetivo maior deve ser o de capacitá-los para a vida, preparando-
os para sobreviver em um mundo cada dia mais competitivo e o de qualificar seus
profissionais para trabalhar com esta nova ferramenta de ensino.
A tarefa da escola, enquanto instituição de ensino é promover meios para que
os alunos possam interagir com os mais modernos veículos de comunicação, entre eles
o computador, que são utilizados atualmente de forma maciça no mercado de trabalho.
Então não devemos apenas estimular os alunos a comparecer no “laboratório” apenas
para assistir a aula de informática. Ele deve entender o laboratório como um local de
produção de informação e conhecimento
os computadores escolares, estando a serviço de um projeto educacional, propiciarão melhores condições aos alunos e educadores de trabalharem com novos temas, projetos e atividades. Já não dependemos mais das velhas informações impressas nos livros e que muitas vezes estão completamente desatualizadas. Enfim, como um livro ou qualquer outro material didático, o computador deve ser encarado com um veículo informativo. A única diferença é que a informação está
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
7
sempre atualizada, é mais dinâmica, propiciando ao usuário uma interação com o momento real. (COSCARELLI e RIBEIRO, 2005).
Faz-se necessário, porém, criarmos meios de estudo acerca da correta
utilização da informática como auxiliar de uma Proposta Político Pedagógica. Mas
ainda encontramos resistência ao novo. Muitos pais e professores ainda apresentam
resistência na utilização da tecnologia como meio de ensino. Ainda vivemos em uma
sociedade que acredita que os computadores auxiliar na educação. E apesar de
vivermos no século das inovações e do progresso, ainda nos deparamos com duras
críticas ao tentarmos incluir no âmbito escolar o computador como uma ferramenta de
educação.
É preciso entendermos que o papel do computador é ser utilizado como
ferramenta de aprendizagem e não como máquina de ensinar. Ele deve ser um auxiliar
do professor em sua metodologia de ensino, ajudando-o pedagogicamente na
multiplicação de seus saberes. Devemos explorar maneiras de orientar a influência que
o computador pode ter sobre a aprendizagem e a forma de pensar da criança.
O computador pode ser um método de ensinarmos ao aluno. Através dele
podemos passar uma quantidade infinita de informações, além de podermos filtrar
àquelas que apresentam qualidades educacionais.
CONCLUSÃO
Dentro deste contexto, considero que a inclusão digital se faz necessária a fim
de possibilitar que todos possam usufruir desta nova ferramenta, que já faz parte do
nosso cotidiano, mesmo que indiretamente. Afinal, ao entrarmos em um banco para
efetuar um saque em um caixa eletrônico, utilizamos a informática; ligando o aparelho
de televisão, utilizamos a informática; ao atendermos um chamado no aparelho de
celular, utilizamos a informática; ao consumirmos nossos alimentos também utilizamos
a informática a nosso serviço, mesmo que indiretamente, pois atualmente, o processo de
plantio e colheita utilizam e dependem dos mais modernos recursos tecnológicos na
garantia de uma boa safra e na colheita de um bom produto.
Faz-se urgente ampliarmos o nosso conhecimento digital. Enfim, ter acesso a
Internet significa ter acesso a um vasto banco de informações e serviços. E este imenso
repositório de conteúdo e serviços disponíveis a todos deve ser utilizado por todos nós.
E, neste caso, é preciso que a escola, como principal protagonista neste processo de
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
8
conhecimento, assuma seu papel de liderança e atue em conjunto com sociedade
organizando-se a fim de assegurar o tripé da inclusão digital.
Educação e Informática são duas realidades atuais e é nosso papel, enquanto
educadores propiciar esta união na esperança de um futuro melhor, onde as informações
adquiridas e posteriormente transformadas em conhecimento possam difundir-se nos
mais diversos lugares em tempo e quantidades recordes. No mundo contemporâneo a
aliança entre tecnologia, pesquisa e saber são capazes de criar uma nova forma de fazer
educação.
Assim, é papel da escola dar o primeiro passo para percepção dos alunos
perante esta nova realidade, a respeito do que foi feito com tantas outras invenções que
fazem parte do nosso cotidiano, como os livros, o rádio, o telefone e a televisão. Se a
escola não assumir o papel de transformadora de conceitos quem o fará?
O árduo papel de tomar a dianteira na educação é função da escola e dos
educadores, buscando a compreensão dos novos conteúdos, senão alguém o fará por
eles. É possível, por exemplo, que a mídia globalizada o faça, utilizando seus
argumentos manipulativos como vem acontecendo ao longo dos tempos.
Enquanto educadores é preciso nos conscientizarmos que a informática deve ser
utilizada sim na escola e que não podemos fugir dela. Devemos utilizá-la em prol da
construção de uma realidade mais concreta, que nos possibilite um avanço real na
cultura e na construção do saber, não ficando apenas na subjetividade do mundo virtual.
Proponho que o computador seja utilizado de forma educativa, seja um aliado na sala de
aula.
Acredito ser uma alternativa viável para o desenvolvimento e o crescimento do
educando e do educador enquanto sujeitos críticos, reflexivos e construtores dos seus
conhecimentos. A minha proposta alia-se à questão da utilização consciente do recurso
digital, buscando democratizar mais o acesso a esse recurso que a cada dia mais se firma
como precursor de uma nova modalidade de comunicação, na qual também o processo
educacional se cria, se recria e se desenvolve.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS KENSKI, Vânia Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distancia. Campinas, SP: Papirus, 2003, p.17-27.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
27
9
PEREIRA, João Thomaz. Educação e sociedade da informação. IN: COSCARELLI, Carla Viana; RIBEIRO, Ana Elisa. Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. Belo Horizonte: Ceale; Autêntica 2005, p.13-24.
COSCARELLI, Carla Viana e RIBEIRO, Ana Elisa. Letramento Digital: Aspectos sociais e possibilidades pedagógicas, Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2005;
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
0
EIXO 5
Diversidade, Gênero, Etnia, Inclusão e Cidadania
A DOCÊNCIA COMO EXTENSÃO DO LAR: PRÁTICAS PEDAGÓCICAS DAS
PROFESSORAS DO GRUPO ESCOLAR IDELFONSO MASCARENHAS DA SILVA NA ITUIUTABA DO SECÚLO XX (1940-1950)
Valéria Aparecida de Lima (FAPEMIG) [email protected]
Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro (CNPq/FAPEMIG) [email protected]
INTRODUÇÃO
O presente estudo se estrutura a partir do projeto intitulado “Modernização e
Educação Pública no interior do Brasil: estudo de caso no Triângulo Mineiro (1930-
1960)”, aprovado pela FAPEMIG no ano 2009.
O objetivo geral desta pesquisa é analisar a gênese do Grupo Escolar Ildefonso
Mascarenhas da Silva. Os objetivos específicos são compreender as condições de
trabalho das professoras primárias e entender as práticas escolares no magistério
vinculadas a maternidade no referido grupo.
Neste sentido, apresenta-se a seguinte problemática de estudo: o grupo escolar
Ildefonso Mascarenhas foi a 2º instituição escolar pública de Ituiutaba, Minas Gerais, e
estabeleceu-se após 37 anos da implantação do primeiro grupo escolar do município,
vindo ainda com condições precárias, tanto na parte da infra-estrutura, como na
condição de luta das professoras para manutenção e funcionamento da escola, pois a
mesma já começara com mais de 400 alunos.
As professoras naquela época não conseguiam separar a função do magistério com
a maternidade. Segundo CAPELO (2002) “Os papéis sociais não são rígidos; tempos e
espaços público e privado entrecruzam-se tornando quase impossível a separação entre
o “eu pessoal” e o “eu profissional”. Isto contribui para que o trabalho feminino no
magistério fosse considerado uma função inferior.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
1
O argumento para tal conduta explicava-se no fato de a mestra ser naturalmente
vocacionada, aludindo ao magistério como vocação e não como ofício. Tal percepção
pode ser vislumbrada através da vasta quantidade de textos enaltecedores da “missão”
da docente, que a vêem não como um ente humano com necessidades e aspirações, mas
sim como um ser quase divino, transcendental.
Pelo exposto, é notório que os fundamentos sobre os quais se edificavam e
destacavam a construção de saberes em torno da docência são morais e não científicos.
Seu encargo como mestre encontra-se interligado à disseminação de verdades
relacionadas à moral e aos bons costumes. No que tange à questão da moralidade, é
perceptível a ideologia da classe dominante, compondo os elementos de ordem
superestruturais daquela sociedade. Associada aos aspectos da religiosidade, da
tradição e das condições de vida.
Assim, de acordo com o paradigma da época, a docência é entendida como
modelo de conduta e parâmetro, o que significa, outrossim, que tais mulheres deviam
ser zelosas e abdicadas em favor do bem coletivo, mesmo que para tal haja restrições
pessoais.
A metodologia utilizada foi entrevista semi-estruturada com uma das professoras
da primeira turma do Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva de 1947, uma vez
que, tentará localizar outras professoras. No entanto, até o presente momento, tem-se a
participação de apenas uma professora, que também foi diretora do referido grupo
,trabalhando no mesmo por 40 anos.Utilizou-se na pesquisa arquivos pessoais, como
álbum de fotografia particular da professora localizada, documentação oficial da escola,
como atas , recibos ,telegramas de governadores, e da leitura e análise do Jornal local
intitulado”Folha de Ituiutaba”no período selecionado.
Neste sentido analisaremos as seguintes questões: Como surgiu o Grupo escolar?
Como foi a instalação do mesmo? Como eram as práticas escolares das professoras
primárias? O que era ser professora primária nos anos 40? As professoras ajudavam na
manutenção do Grupo escolar? Qual a formação da professora primária? Qual a
influência de tal formação na prática pedagógica da mesma? Como eram as normas de
conduta para as professoras primárias? E qual o comportamento da professora primária
na sociedade?
Sendo assim, expressar-se-ão os bons modos de civilidade, a qual contemplava a
letra, o vocabulário, a forma de tratamento e a estética e também a vinculação entre
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
2
maternidade e magistério, tornando o trabalho da professora como missão e não como
profissão.
A complexidade dessa questão está no fato de que a escola era considerada como
a continuidade do lar, assim como a casa da professora podia ser a própria escola ou
esta uma continuidade daquela. Todos estes pressupostos permitirão à compreensão do
tempo e do espaço escolar vivenciado no segundo Grupo Escolar de Ituiutaba as
professoras primárias e as questões de gêneros relacionadas ao magistério, objeto de
nossa investigação, em uma sociedade considerada progressista como era o caso da
cidade Ituiutaba – MG.
FORMAÇÃO DOCENTE E A MISSÃO DA PROFESSORA PRIMÁRIA
Durante todo o período da Colônia (1500 a 1822), predominou no Brasil uma
educação dirigida à elite e controlada pelos jesuítas. As atividades se resumiam à
formação cultural da classe dominante e o processo de domesticação nas aldeias
indígenas recém convertidas ao catolicismo. Os receptores destes ensinamentos eram os
indivíduos do sexo masculino, pois as mulheres permaneciam em casa saindo apenas
para as práticas religiosas.
Segundo PAIVA (2009) esclarece que o sexo feminino encontrava sérias
dificuldades em ter acesso ao magistério, contudo a Lei Estadual nº. 3.038, de 20 de
outubro de 1882, firmada pelo Presidente da Província, Teóphilo Ottoni, disciplinou a
instrução primária para o sexo feminino, criando a primeira escola pública estadual na
Paróquia São José no atual município de Ituiutaba.
Embora não mais no Brasil Império, o papel do professorado continuou
basicamente o mesmo na República e, sobretudo, na década de 1940-1950, sendo que
esta atividade laboral baseava na renúncia e precariedade de condições de trabalho.
Segundo Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello enfatiza que
A vida do professor de escola é vida toda de paciência, de conformidade de ânimo, de abnegação: e a soma dos sacrifícios nela despendidos só é igualada pela extensão dos benefícios, que ele assegura à sociedade, quando desempenha religiosamente os seus árduos deveres. Daí o respeito universal, em que são tidos em todas as nações cultas os educadores da mocidade que fazem os costumes públicos e particulares, e assim promovem a prosperidade ou a decadência dos estados. A sociedade mal se apercebe da existência desses obreiros modestos, que, sem a sedução de posições brilhantes, trabalham em silêncio, como o homem de bem só
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
3
possuído da idéia do dever, e preparam laboriosamente o destino das gerações por vir. (1873, p. 12).
Percebe-se que paciência, presteza e renúncia eram palavras-chave do cotidiano
do professorado, não somente no Império, mas também no Brasil República. Era
necessário despertar e desenvolver não só em si, mas também em seus alunos
pensamentos e sentimentos republicanos. Já que o magistério era entendido como
função própria da mulher.
Enfatiza-se que o magistério primário era a oportunidade que as mulheres
possuíam para ingressar no mercado de trabalho, como alega ALMEIDA
[...] a possibilidade de aliar o trabalho doméstico e a maternidade uma profissão revestida de dignidade e prestígio social fez que ser professora se tornasse extremamente popular entre as jovens e, se, a princípio temia-se a mulher instruída, agora tal instrução passava a ser desejável, desde que normatizada e dirigida para não oferecer riscos sociais. (1998, p.30).
Assim, a formação da professora e a prática docente eram impregnadas de
representações sociais sobre a identidade da mulher/mãe/professora. Idéias estas que
construíam, também, o imaginário social mais amplo, contribuindo para fomentar o
ideário de que as mulheres eram, naturalmente, predispostas à educação de crianças.
Compreende-se por representações sociais como sistemas de conhecimentos e símbolos
socialmente construídos, que orientam comportamentos e comandos e que, muitas
vezes, interferem na elaboração da identidade individual e coletiva.
A exigência das mudanças educacionais para atender interesses econômicos
resulta em uma discussão sobre a educação, para a adequação da mesma ao contexto
político-econômico-social. Nesse sentido, reformas foram ocorrendo na primeira metade
do século XX, entre as quais se ressalta a Reforma Capanema – 1942 a 1946, moldada
pela preocupação com o Ensino Primário e com as Escolas Normais, cujos princípios
nortearam a formação de professores para o ensino primário, no período de 1946 a
1961, quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB
4.024/61.
É importante ressaltar que a sociedade daquela época atribuía à educação um
papel fundamental, vez que a escola era co-responsável pela “boa formação” das
moças. Assim, a adoção de métodos autoritários de enquadramento da infância e da
adolescência justifica-se, também, pela concepção originária de educar – do latim
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
4
educare – que significa “endireitar o que está torto”, de modo que à escola era
atribuído o papel de “formadora” do caráter de suas educandas. Essa percepção pode
ser observada através da citação a seguir
Somente deve ser professor aquele que surpreende no ofício de educar o cumprimento de um desígnio. Porque o magistério é missão e não emprego. Nem outro, o sentido de vocábulo pedagogo, segundo o qual o mestre é quem toma pelas mãos o aluno e o guia intelectualmente pelos caminhos do espírito. (RE, dezembro. 1956 p.30).
De acordo com o transcrito, educar significava algo mais que instruir. É missão e
não ofício. Referia-se à formação completa que ia do domínio do Francês às boas
maneiras, aos trabalhos manuais, prendas domésticas, dentre outras atribuições
femininas.
Por meio de discursos propagados em revistas veiculadas, precipuamente, às
docentes, a formação de professoras era disseminada em representações que aludiam,
também, a missão de sacerdócio, a ser exercido com base em atributos imateriais e
definida a partir da eleição divina, tal como se pode observar no seguinte trecho de uma
conferência proferida por Padre Leonel Franca: “Em cada geração, Deus escolhe
algumas almas privilegiadas, para depositárias e transmissoras do ideal cristão. São as
almas de quem recebeu como vós a missão nobilíssima de educar.”
Historicamente, o ajustamento da mulher a este cargo de professor primário não
foi fácil, mas a dificuldade é obscurecida com uma ideologia e uso de vernáculos que
procuram criar para a professora que assume este posto qualidades abstratas de
heroísmo (“capacidade de doação”, “mensageiros da esperança”, “farol a iluminar almas
sedentas de saber”, etc.), as quais dimensionam as idéias sobre a relação pedagógica,
constituindo-a de maneira genérica no feminino (“a educação”, “a pedagogia”) e no
universo familiar (mãe, esposa, dona de casa, filha, protetora dos filhos).
É de sobrelevar, assim, que a valorização da profissão docente, como missão, foi
um dos valores instituídos, também, por revistas e manuais pedagógicos da época que
propagavam o ofício de professora, visto como um sacerdócio, vez que era
caracterizado como precário, com baixa remuneração e turnos exaustivos de trabalho.
A necessidade e possibilidade de mão-de-obra barata e qualificada é um fator
relevante para que as mulheres possam ingressar no mercado de trabalho. De acordo
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
5
com Louro (1989), a participação das mulheres na esfera pública e no mercado de
trabalho não foi tarefa fácil, pressupôs uma reorganização dos discursos convencionais,
objetivando adaptá-los à nova realidade e necessidade.
Esta foi uma tarefa difícil, pois a sociedade brasileira na época, sob influência da
Igreja Católica, apresentava opiniões bastante fechadas sobre qual lugar a mulher
deveria ocupar na sociedade e este lugar abrangia aspectos referentes ao marido, filhos,
casa, enfim, tarefas domésticas.
Ademais, a função educativa tinha uma dupla missão: “salvar almas para Deus e
formar cidadãos para a Pátria”.
O GRUPO ESCOLAR ILDEFONSO MASCARENHAS DA SILVA.
Em nove de março de 1947, no prédio nº. 1070 à Rua 20, foi declarada a
instalação do “Grupo Escolar Professor Ildefonso Mascarenhas da Silva”, criado pelo
decreto nº. 2.395, de 31 de janeiro de 1947 e publicado no MG de 01 de fevereiro de
1947. Estavam presentes à solenidade de inauguração autoridades do município
professoras, convidados e o representante do Sr. Secretário de Educação.
Segundo a depoente D. Nagib (2009)
Foi o Dr. Hélio que selecionou as professoras e o Dr. Omar que era prefeito ajudou. Foi só contrário a uma professora, mas as outras ele aceitou “direitinho”. Não teve problema. Agora não ficamos na Prefeitura, nós já fomos nomeadas para o Estado, entendeu?! Nós não ficamos na Prefeitura. O aluguel no princípio foi pago pela Prefeitura, depois passou para o Estado. Na escola velha, escola antiga, uma casa de portal grande, janelas grandes entende?! Era aquela antiga mesmo! “Tava” assim pra cair e nós começamos com 400 e tantos alunos.
D. Nagib enfatiza que, apesar de no princípio o aluguel da escola ter sido pago
pela Prefeitura, tal escola era da competência estadual. Ressalta-se que, o Grupo Escolar
Ildefonso Mascarenhas situava-se ainda à Rua 20, e o proprietário era o Senhor Amador
Soares. Assim, explicita-se que o mesmo localizava-se no centro da cidade de Ituiutaba
– MG, no entanto atendia alunos considerados carentes. Acrescenta também que o
prédio da escola era antigo, em péssimas condições de uso, mas já ministrava aulas para
mais de 400 alunos. Aludindo, assim, a crescente demanda pela escolarização.
Prossegue o depoimento D.Nagib (2009)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
6
Ah! O proprietário que era o Senhor Amador Soares pediu o prédio, entendeu?! Então nós ficamos... Como é que faz a escola já reconhecida fazendo formatura 4º ano. Nesta época, era 4º ano. Então nós assim só tínhamos até o 4º ano, não prosseguia. Então o que? Como o João Pinheiro era do Estado mandaram anexar provisoriamente ao João Pinheiro e lá nós ficamos muitos anos, anos. Sem a sede própria nós ficamos parece 17 anos.
Logo, o Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas transferiu sua unidade da Rua 20
entre a Avenida 13 e 15 para a Rua 20 entre a Avenida 17 e 19, visto que o proprietário
do imóvel desejava demoli-lo para então construir um cinema, o Cine Capitólio.
Com esta proposta inesperada feita a direção do grupo escolar Ildefonso
Mascarenhas logo, teveram de se estalar junto a outra escola que simultaneamente
funcionariam duas escolas: O Grupo Escolar João Pinheiro e o Grupo Escolar Ildefonso
Mascarenhas da Silva. Tal anexação de sede pode ser explicada pelo fato de ambos os
Grupos serem de competência estadual. Vislumbra-se que o prédio era sede do João
Pinheiro, logo o segundo Grupo Escolar ocupava uma sede provisória e que pertencia, a
priori, a outro Grupo Escolar.
Segundo a depoente D.Nagib Bittar (2009)
Nós éramos provisórios, então nós incomodávamos o João Pinheiro plenamente, era uma escola aquele prédio bonito. Não era bem aquilo que é hoje não... Então naquela época, nós ficávamos o João Pinheiro dava aulas das 7 horas às 10 e meia da manhã. Já pensa que horário ruim? 10 e meia nós entrávamos ficava lá correndo páginas até às 11 horas. A aula começava até às duas e meia da tarde. O Outro turno do João Pinheiro e nós éramos o terceiro turno, nós “saía” quase 6 horas da escola, para dar três horas e meia de aula. Então incomodamos muito o João Pinheiro. Eu acredito que elas reclamavam e a gente tinha que aceitar a reclamação era justo.
Apreende-se pelo depoimento de D. Nagib que o turno destinado ao Grupo
Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva era o terceiro, logo após as aulas do próprio
João Pinheiro. D. Nagib entendia ser justa a reclamação dos próprios do Grupo Escolar
João Pinheiro.
D. Nagib (2009) ainda sublinha
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
7
Então era uma briga atrás da outra. A caixa d’água era aqui, a Diretora do João Pinheiro não queria que fosse aqui tinha que levar a caixa para lá...O João Pinheiro sempre teve a “nata” e nós ficávamos com o resto. Custamos a equilibrar e quando abriu o segundo grupo, uns saíram do João Pinheiro e vieram porque a tia ia lecionar, não sei quem ia lecionar. Então nós juntamos um pouco, arrastamos um pouco do João Pinheiro, mas o resto era aluno pobre mesmo, eles alimentavam lá com a gente.
Depreende-se pelos depoimentos que embora ambas as escolas, tal como fora
mencionado acima, pertencessem ao âmbito estadual, o ambiente escolar era marcado
pela rivalidade. Um dos motivos do desentendimento entre os grupos escolares aludidos
pode ser explicado pela diversidade sócio-econômica dos alunos destas instituições,
uma vez que o João Pinheiro era voltado para a elite, enquanto o Mascarenhas atendia à
classe mais desfavorecida, embora ambas as escolas fossem do Estado.
Ainda D. Nagib (2009)
Eu já estava na direção a Dona carmelita que era inspetora, a Delegada de Ensino. Vou falar nos termos antigos. Ela veio e fechou o Gabinete e falou: - Nagib, eu te dou mês um para você sair, senão eu vou acabar com o Mascarenhas, eu vou fechar a escola. Dona carmelita, para onde que eu vou? Aí eu chamei a Dona Clorinda. A Dona Clorinda ainda estava conosco. Dona Clorinda Junqueira muito sensata, uma mulher de valor. Chamei a Dona Clorinda, chamei a Maria Lucia às professoras mais antigas, gente é pra sair, “ta” despejando nós como é que nós vamos fazer? Então vamos sair, procurar casa e procuramos. Aquela casa onde é o sapateiro ali, tivemos lá. Do capitão sapataria do capitão, olhamos e tal... não .não dá . Procuramos até uma casa de mulheres lá em cima “tava” desocupada na 25 c/ a não sei qual, fomos lá tinha uns quartinhos, gente também não dá.Aí a diretora do João Pinheiro, a Dona Jandira, falou eu vou arrumar pra vocês a casa que era do meu sogro,na 21 c/ a 18, uma casa antiga.
Logo, o Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas permaneceu junto ao Grupo
Escolar João Pinheiro por 17 anos, indo posteriormente para Avenida 21 com a Rua 18.
Era esta mais uma grande vitória para todas as pessoas que ali trabalhavam. D.
Nagib, diretora da escola nessa época, pediu as professoras o apoio necessário para que
juntas dessem continuidade ao brilhante trabalho de educadoras. Neste local, funcionou
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
8
até novembro de 1977. No dia 7 de novembro de 1977, foi inaugurada a sede própria da
E.E. “Professor Ildefonso Mascarenhas da Silva” de 1º grau, atual prédio. D. Nagib
(2009) elucida:
Eu fui à Belo Horizonte umas cinco vezes, eu e a Vice-Diretora mais uma outra. A Prefeitura mandava a gente com o Dr. Eurípedes Melo, que era o Engenheiro na Prefeitura nós vamos com ele. Naquele tempo, a gente ganhava, prédio na carpi é onde a gente ia pedir prédio lá em Belo Horizonte a gente ia na Carpi pedia, explicava que estávamos sendo despejados, mas como é que faz? ... Foi um prédio feito de tanto as professoras “amolar” de ir em Belo Horizonte, voltar e pedir, aí nos deram o prédio. Agora, o terreno quem nos deu foi o Acácio Cintra, que era o Prefeito. Ele doou o terreno para o Grupo. Aí nós tivemos. Aí nos tivemos... já tinha o terreno começou a batalhar pra ganhar o prédio. E ganhamos o prédio, hoje aumentado com aquela área que nós aumentamos fizemos mais quatro salas; duas em cima duas em baixo pra poder ter o direito de colocar a 5ª série pra frente. Então no dia da mudança da casa da 21 pra escola nova, eu botei os meninos com as pastinhas saíram cantando pra rua “a fora” mais feliz da vida a hora que chegamos aplaudiram (Grifo nosso). Quando chovia, querida, não tinha forro não. O Mascarenhas já tinha 30 anos quando nós ganhamos o prédio entendeu? Quando nos ganhamos o prédio eu ainda mandei fazer uma faixa “Obrigada Senhor governador após 30 anos estamos no prédio próprio”. Entende?
Sendo assim, a implantação do atual prédio foi conseguida através de muita luta e
determinação, contando com o apoio do então Governador do Estado de Minas Gerais,
dos prefeitos da localidade, de Dr. Hélio Benício de Paiva e, principalmente, através da
determinação das professoras e diretoras da escola, entre as quais: D. Maria Morais, D.
Pelina da Silva Novais e D. Nagib Bitar.
PROFESSORAS PRIMÁRIAS NO GRUPO ESCOLAR ILDEFONSO MASCARENHAS DA SILVA NA DÉCADA DE 1940 A 1950
Como citado outrora à cidade de Ituiutaba recebeu seu primeiro Grupo Escolar
em 23 de dezembro de 1908, hoje atual Grupo escolar João Pinheiro. E teve depois de
37 anos a instalação de um segundo Grupo escolar denominado Ildefonso Mascarenhas
da Silva.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
28
9
A precariedade do ensino era notória, bem como a vontade de educar das
docentes ituiutabanas, assim apesar de todas as desventuras e contratempos que
enfrentavam no cotidiano escolar, as professoras primárias mantinham-se resignadas a
missão de educar de educar. D. Nagib Bittar explicita
A gente tinha que escorar as janelas, era uma casa velha e lá nós funcionávamos de manhã, de tarde e de noite. Com 460 alunos nós iniciamos o mascarenhas, era de nível pobre, era de gente, assim, que não conseguia escola. [...] A merenda saía em uma cozinha amoadinha, muito acanhada, não tinha um pátio, era debaixo de uma mangueira que elas comiam e eu dava aula de Educação Física, então era bem elementar a escola. [...] A professora antiga era batalhadora, ela envolvia assim com garra, a professora daquele tempo era mãezona lá dentro da escola era aquela pessoa que segurava mesmo (2008).
Ressalta-se no depoimento acima que a escola apresentava a extensão do lar, a
professora era considerada mãe e os alunos como filhos. Assim, as professoras
precisavam suprir todas as necessidades da escola e do lar, desresponsabilizando o
Estado das suas funções. Neste contexto as professoras tinham uma missão quase
impossível a separação entre o “eu pessoal” e o “eu profissional”.
A luta das professoras ia além da sala de aula, se estendia, também, a pedir
mantimentos para os alunos carentes, pois, ainda, segundo D. Nagib Bittar
O povo daquela época era mais generoso do que do de hoje, arrumávamos madrinha, uma pessoa que olhava a escola e dizia: “não, eu vou dar um tanto aí pra vocês melhorarem a merenda da escola mais ainda”, naquela época nós comprávamos a merenda. Comprava fubá, macarrão, era um negócio assim de gara para o professor, tinha que agarrar mesmo, fazendo campanha era muito mais difícil do que hoje. Mas parece que o amor e a vontade de vencer que movia todo mundo nos motivava (2008).
O duplo papel de mãe e professora é ressaltado na entrevista
Ser professora é ser muito responsável, ela substituía a mãe mesmo. Sei que a professora de antigamente era comprometida com a escola, comprometida com a educação e quando os alunos não saíam bem, ela se sentia responsável pelo insucesso dos alunos, tinha uma responsabilidade muito grande perante a classe. [...] A professora era autoridade, ela era autoridade.
Assim, a professora primária relaciona-se com seus alunos fora do espaço e do
tempo da vida escolar e incute neles conhecimentos abstratos, em situação, também fora
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
0
do jogo imediato. No seu cargo dentro da escola, a professora primária vive uma
atividade que é corolária dessa separação escolar e que o torna dependente de um
universo de regras, de crenças e de papéis próprios.
O compromisso com a educação e a renúncia de si mesmo são ressaltados no
transcrito abaixo
Quando a gente entrava na sala tinha que estar de acordo com aquele compromisso que a gente fez, eu sou professora... Lecionar tem que levar a sério o magistério, porque tem nas mãos o ser humano, não é uma tigela, uma panela não, é uma ser humano. Então, você tem que moldar aquele ser humano da melhor forma possível.
A entrevista delineia as qualidades necessárias para as professoras primárias,
vistos como instrumentos ao serviço da unidade moral e política da nação, responsáveis
pela formação de “homens a almas”. A alegria e a satisfação das mulheres deveriam
estar sempre presentes, uma vez que assumiram o compromisso com a nação.
FOTO I: Primeira turma de professoras do Grupo Escolar Professor Ildefonso Mascarenhas da Silva, Ituiutaba- MG. FONTE: (acervo particular de Dona Nagib Bittar)
Salienta-se que havia regras na sociedade, as professoras da década tinham quer
ser mulheres de boa conduta, seus trajes era sério, não havia decotes e usavam saiotes, o
que quer dizer que eram saias bem abaixo do joelho. Observa-se, na foto acima, que as
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
1
professoras se trajavam seriamente com sapatos fechados, os cabelos tinham o mesmo
penteado, obedecendo ao padrão que a sociedade estabelecia.
Durante o período de 1940 a 1950, os cargos educacionais eram todos por
indicação, desde a direção à equipe docente.
Segundo Dona Nagib Bittar
[...] a escola era muito ruinzinha, então a posse das professoras foi lá mesmo. A diretora Dona Pelina quem lavrou a ata. Naquele tempo não tinha inspetora. Não tinha nada. Diretora era a autoridade entendeu? E nós éramos anexos a Uberlândia não tinha superintendência, era de Uberlândia que vinha às ordens. Então é o segundo grupo da cidade. Vai se instalando. Foi instalando e coisa e tal...(2008)
Conforme relato da entrevistada, um dos fundadores da escola Dr. Hélio Benício
de Paiva, escolheu as primeiras professoras do grupo escolar em questão. As
professoras tomaram posse na própria escola a qual tinha condições precárias e não
havia nem inspetores de ensino eram advindos da cidade de Uberlândia.
Segundo a depoente D. Nagib Bittar
Foi o Dr. Hélio que selecionou e o Dr. Omar que era prefeito ajudou. Foi só contrário a uma professora, mas as outras ele aceitou “direitinho”. Não teve problema. Agora não ficamos na Prefeitura, nós já fomos nomeadas para o Estado, entendeu?! Nós não ficamos na Prefeitura. O aluguel no princípio foi pago pela Prefeitura, depois passou para o Estado. (2009)
D. Nagib enfatiza que, apesar de no princípio o aluguel da escola ter sido pago
pela Prefeitura, tal escola era da competência estadual. Acrescenta também que o prédio
da escola era antigo, em péssimas condições de uso, mas já ministrava aulas para mais
de 400 alunos.
Assim, LOURO (1989, p.35) também desenvolveu essa questão e mostra que a
relação entre magistério e domesticidade se dá pelo entendimento de que “o magistério
é mais adequado para a mulher, por exigir o cuidado de criança; ser professora é de
certa forma, uma extensão do papel de mãe. Além disso, o magistério passa a ser visto
também como um bom preparo para a futura mãe de família”. A inserção da mulher no
magistério brasileiro está diretamente atrelada à questão de gênero, ou seja, à construção
social da mulher. Como afirma PINTO
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
2
No caso brasileiro, ao longo das primeiras décadas do século XX, já se encontra a hegemonia de um discurso que associa o ensino primário com características consideradas femininas, tais como amor às crianças, a abnegação e a delicadeza, e que relaciona cada vez mais enfaticamente a docência à maternidade. (1998, p. 409)
Era uma profissão que apresentava menor resistência de aceitação da sociedade,
em uma época em que a inserção da mulher no mercado de trabalho era algo ainda
incomum. Deixando, porém a mulher alienada somente as prendas domésticas.
ALMEIDA (1998) afirma que ser uma professora que havia cursado a Escola
Normal imprimia status perante a comunidade. Não são poucos os relatos, como vimos
acima, que destacam que nas cidades pequenas a professora normalista estava
posicionada entre as figuras importantes da cidade, bem como possibilitava uma
condição de autonomia financeira um tanto incomum para as mulheres. “A
possibilidade de aliar o trabalho doméstico à maternidade, por meio de uma profissão
revestida de dignidade e prestígio social, fez com que ‘ser professora’ se tornasse
extremamente popular entre as jovens.” (ALMEIDA, 1998, p.28).
Percebe-se que as tarefas domésticas não deixam de ser uma responsabilidade da
mulher, mas a docência permite que ela desenvolva as duas tarefas, fazendo com que ela
se torne uma mulher cima de tudo.
ENGUITA (1991) afirma que a feminização do magistério é um dos elementos
que contribuiu para a desvalorização da profissão docente. A premissa que subsidia tal
afirmação é a de que o trabalho feminino é historicamente desvalorizado e o ingresso de
mulheres no magistério teria estimulado tal processo. Tal fenômeno ocorre, segundo o
autor, com as profissões em que há predominância de mulheres. Villela (1998, p. 63)
destaca que “ao longo dos séculos, a opressão exercida sobre as mulheres fez com que o
trabalho por elas desempenhado fosse considerado também inferior, instituindo um
binômio perverso: seres inferiores, trabalho inferior”.
NÓVOA (1991, p.126), ao fazer uma análise global desse processo, destaca que: a
feminização do corpo docente primário, fenômeno que, apesar das especificidades de
cada país, pode ser percebido no conjunto das sociedades ocidentais a partir de meados
do século XIX, contribui para uma desvalorização relativa da profissão docente.
Então o magistério, como outras profissões que se feminizam, perde espaço e
prestígio social com o ingresso de mulheres e isso nos remete a um debate de gênero.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
3
CONCLUSÕES PARCIAIS
Compreende-se que a gênese do Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva,
apresentou precariedade de condições de trabalho no referido grupo. Seu primeiro
prédio era no centro da cidade, porém com péssimas condições de funcionamento e
durante mais de uma década o referido grupo ficou sendo acolhido por prédios que não
lhes eram próprio.
Concomitantemente, a educação no município de Ituiutaba foi relegada pelo
governo do estado por 37 anos. O acontecimento que alude esta assertiva é a
permanência de apenas uma instituição pública, o Grupo Escolar João Pinheiro.
Percebe-se que no Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva as professoras
primárias foram mulheres que assumiam uma missão de educar, vinculada a
maternidade, tornando o seu trabalho extensão do lar.
Assim, as professoras precisavam suprir todas as necessidades da escola e do lar,
desresponsabilizando o Estado das suas funções. Neste contexto as professoras tinham
uma missão quase impossível a separação entre o “eu pessoal” e o “eu profissional”.
Desta forma a luta das professoras ia além da sala de aula, se estendia, também, a
pedir mantimentos para os alunos carentes, e assumiram responsabilidade com a
educação.
No período de 1940 a 1950 conforme estudo realizado, a mulher era considerada
como professora, mãezona de seus alunos.
Percebe-se nas entrevistas realizadas neste estudo que as mesmas delineiam as
qualidades necessárias para as professoras primárias, vistos como instrumentos ao
serviço da unidade moral e política da nação, responsáveis pela formação de “homens a
almas”. A alegria e a satisfação das mulheres deveriam estar sempre presentes, uma vez
que assumiram o compromisso com a nação.
Salienta-se que havia regras na sociedade, as professoras da década tinham quer
ser mulheres de boa conduta, seus trajes era sério, não havia decotes e usavam saiotes, o
que quer dizer que eram saias bem abaixo do joelho, trajavam seriamente com sapatos
fechados, os cabelos tinham o mesmo penteado, obedecendo ao padrão que a sociedade
estabelecia.
Neste sentido, conclui-se que na década ora estudada as práticas das professoras
primárias estavam vinculadas as funções de mãe e professora ou seja de magistério e
maternidade.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
4
REFERÊNCIAS:
ALMEIDA, Jane Soares. Mulher e Educação a Paixão pelo Possível. São Paulo: UNESP, 1998. CAPELO, M. R. C. Papéis Sociais Cruzados: Memórias e Representações de Professoras Rurais. In: VI Encontro Nacional de História Oral - Tempo e Narrativa, 2002, São Paulo. Anais do VI Encontro Nacional de História Oral - Tempo e Narrativa. São Paulo, 2002. ENGUITA, F. Mariano. A ambigüidade da docência: entre o profissionalismo e a proletarização. Revista Teoria e Educação (Dossiê: Interpretando o trabalho docente). Porto Alegre: Pannonica editora, n° 4, 1991. (p. 41–61) FISCHER, Beatriz Daudt. A professora primária nos impressos pedagógicos (1950- 1970). p. 324-335. In: STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Câmara (orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil. vol. III: século XX. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL, vol. III: século XX/ Maria Stephanou, Maria Helena Camara Bastos (orgs.). – Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. LOURO, Guacira Lopes, Magistério de 1° Grau: um Trabalho de Mulher. Educação e Realidade. Porto Alegre, v.14, n.2, jul/dez. 1989. (p. 31–39). MUNICÍPIO da Corte. Inspetoria Geral de Instrução Primária e Secundária. Relatório do Inspetor Geral interino Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello, de 24 de março de 1873. Publicado como anexo B-3 do Relatório do Ministro dos Negócios do Império, João Alfredo Correa de Oliveira de 15 de maio de 1873. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1873. NÓVOA, António (Org). Vidas de Professores. Portugal, Porto Editora, 1991. (coleção: Ciências da Educação). PINTO, Marília Carvalho de. Vozes masculinas numa profissão feminina: o que têm a dizer os professores. Estudos Feministas, Florianópolis, V.6, n. 2, 1998. (p. 406–422)
REVISTA DE ENSINO, Belo Horizonte- Minas Gerais (todas as publicações: 1940 a
1950)
XAVIER, Maria Elizabete; RIBEIRO, Maria Luisa; NORONHA, Olinda Maria. A história da educação: a escola no Brasil. São Paulo: FTD, 1994 (Coleção Aprender - Ensinar).
• Fonte documental 1942 – “A Folha de Ituiutaba” – Diretor: Ítalo Gentil.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
5
• Fontes orais
BITAR, Nagib. Ituiutaba, 4 de fevereiro de 2009. 1 fita cassete (60 minutos). Entrevista concedida a nós. PAIVA, Hélio Benício. Ituiutaba, 10 de fevereiro de 2009. 1 fita cassete (60 minutos). Entrevista concedida a nós.
ARTE E EDUCAÇÃO ESPECIAL – CONTRIBUIÇÕES PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
Núbia Pereira Cintra - APAE/ ITUIUTABA [email protected]
Ao longo da história a humanidade tem se expressado e construído novas
realidades por meio de uma diversidade de linguagens. Assim, além dos códigos
lingüísticos, as linguagens artísticas, ampliam as possibilidades de conhecimento do ser
humano sobre si e sobre o outro.
O ensino de arte pela multiplicidade de estímulos e diversidade de linguagens
constitui uma área de grande importância na formação de alunos em geral, com
especiais ganhos para alunos com deficiência intelectual e múltipla.
Ao abordar sobre a Educação Especial a autora deste estudo, atribui-se às
mudanças que ocorreram na prática pedagógica, presente na história, que busca,
especialmente nos dias atuais ressignificar os espaços escolares, compreendendo-o
como espaço sócio-cultural, onde novas posturas devem ser adotadas, visando atender
às necessidades de todos os alunos.
Na área educacional, nas diferentes esferas do poder, realçam os dispositivos
legais que definem o objetivo da escolarização como de capacitar todos os alunos para
tornarem cidadãos ativos em suas comunidades.
Para os educadores apropriarem dos fundamentos que alicerçam a sua práxis,
deve-se respeitar os educandos em suas potencialidades, desenvolver estratégias para
atendê-los em suas necessidades, encontrando práticas de ensino adequadas à
diversidade, e ao mesmo tempo, construir e aplicar programas, planejamentos e projetos
que contemplem a integração das áreas de forma positiva para o desenvolvimento
integral do aluno em seu ciclo de vida.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
6
O presente estudo teve como objetivo refletir sobre a importância da Arte e suas
contribuições para potencializar o processo de aprendizagem no âmbito do Ensino
Especial.
Diante da temática apresentada tem-se o problema: como a Arte pode contribuir
para melhoria da qualidade do ensino na educação especial?
A hipótese provável pretende que as professoras que trabalham com Educação
Especial, busquem melhorar sua atuação, por meio de novas metodologias
experimentadas, formação continuada, que possibilitem às mesmas sentirem, pensarem,
refletirem e sobretudo vivenciarem o processo de inclusão escolar e social dos alunos
com deficiência intelectual e múltipla.
Este estudo justifica-se pela sua relevância sócio-educacional, a favor do
desenvolvimento integral de alunos com deficiência intelectual e múltipla, para que a
Arte seja utilizada como mediadora da construção do conhecimento e que possa
contribuir para práxis pedagógica dos professores uma vez que a mesma, possibilitará
ampliar os diversos significados da arte, especificamente no que permeia o ensino e a
aprendizagem na Educação Especial.
A metodologia utilizada neste estudo busca conhecer a riqueza gerada nos
desdobramentos teórico-práticos oriundos de um intenso processo de discussões
teóricas, a respeito do trabalho com a Arte na Educação Especial, como veículo de
inclusão escolar.
A realização deste estudo se deu, inicialmente pela observação direta da autora,
em sua atuação profissional, que fez um diagnóstico do trabalho de observação da
prática desenvolvida no cotidiano escolar, seguido da construção da fundamentação e
referencial teóricos dentre eles destacam: BUENO(1991), GUIMARÃES(2002),
MARTINS(1979), TIBOLA(2001), que possibilitaram uma abordagem qualitativa sobre
o tema.
DESENVOLVIMENTO
A arte como expressão de sentimentos e ideias surgiu desde os primórdios da
humanidade, quando os homens conforme registro nas cavernas, desenhavam a natureza
querendo dominá-la como forma de poder e força. Ao longo da história da humanidade,
a arte apresentou-se em diferentes formas, permitindo aos seres humanos se
expressarem em seu tempo histórico retratando as questões sociais, históricas, políticas
e culturais que o mundo lhe conferia.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
7
A arte está presente na vida dos homens frente a sua capacidade criadora de
interpretar e de imaginar. Cantar, dançar, tocar, representar, pintar, por exemplo, não
pode ser entendido como privilégio de poucos, a questão não pode ser reduzida ao fato
da pessoa “ter ou não ter dom”, as vivências artísticas se fazem num processo dinâmico
e devem partir do princípio: todos são capazes e podem desenvolver suas
potencialidades.
Além disso, o professor deve ter claro que, essas vivências vão contribuir para
que o aluno construa conhecimentos no nível individual e coletivo, na medida que essas
vivências se voltam para o aluno de maneira abrangente, estimula e potencializa suas
emoções e pensamentos, percepções e criticidade e dessa forma ele se sente seguro pra
criar e recriar, com o colorido das tintas, com a diversidade das formas com gestos ou
com som, com movimentos e a música.
Percebe-se a presença da arte em cada etapa do desenvolvimento da criança e
evolui-se até a fase adulta, como evidencia-se o universo da Arte é amplo e abriga
múltiplas formas de linguagens.
Inicialmente, a criança se expressa graficamente na fase das garatujas, onde
utiliza o movimento, e com as linhas que são traçadas em qualquer direção, tem como
função a coordenação motora. “Somente quando conseguiu confiança em seus
movimentos, a criança passará para outra etapa. Às vezes o processo é lento,
dependendo do estímulo, e não da “interferência dos pais” (MARTINS, 1979, p. 49), ela
pode ser assim classificada:
• Garatuja desordenada: movimentos incontrolados e desordenados, mas que dão prazer à criança que os executa. • Garatuja controlada: mais ou menos seis meses depois das primeiras garatujas, a criança descobre que há relação entre o movimento que faz e o risco que deixa sobre o papel, coordenando sua atividade visual e motora. [...] O prazer que obtém com sua recente descoberta estimula a criança a variar seus movimentos, comprovando assim sua capacidade de controle. Aparecem então as linhas circulares que são resultados de movimentos executados com todo braço.[...] • Garatuja identificada: atribuir nomes às garatujas que faz mesmo sendo impossível reconhecê-las, é da maior importância, pois indica a mudança de pensamento imaginativo indicado por figuras (MARTINS, 1979, p. 50).
A criança apresenta um de seus primeiros meios de comunicação e expressão
que é o movimento, pois através dele, comunica com as pessoas ao seu redor
expressando sentimentos, emoções, utilizando gestos e posturas corporais.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
8
Essas vivências permitem a criança ir aos poucos se organizando internamente
para ser refletida em seu exterior, desse modo ela vai aprendendo a transformar o todo
ou a parte desejada.
A fase da garatuja, segundo MARTINS (1979), inicia aproximadamente dos
02(dois) aos 04(quatro), com traçados em movimentos com lápis de ir e vir,
desordenadamente. Em seguida, traçam linhas circulares e ainda, aos três anos e meio,
enquanto desenha e fala e conta histórias.
Através das linhas traçadas pelas crianças, com firmeza ou delicadeza pode-se
indicar sua agressividade ou fragilidade. Nessa etapa tem-se a coordenação motora
como base para a criança. MARTINS (1979) propõe meios para que se desenvolva a
percepção visual, tátil, auditiva, gustativa e do odor, situações em que os sentidos sejam
utilizados.
A criança dos 04(quatro) aos 07(sete) anos, na fase do pré-esquematismo, passa
lentamente para uma experiência mais consciente do seu mundo exterior, quando a
figura humana apresenta transformação, conforme MARTINS (1979) fundamentou:
Frequentemente começa a ser representada a partir do movimento circular para a cabeça e longitudinal para os membros (representação “cabeça-pés”).[..]A grande flexibilidade evidenciada através da procura constante de esquemas deve ser manipulada para uma maior sensibilização da criança frente ao seu próprio “eu”. Fazê-los sentir cada parte de seu corpo e as funções de cada um serão interessantes para um maior desenvolvimento, mas só será mostrada no desenho se o envolvimento for emocional. A criança pode, no mesmo desenho, colocar uma figura com braços e outra sem desde que não considere importante os braços para que esta figura esteja exercitando. Não devemos chamar a atenção da criança sobre o fato, porque indica uma relação consciente com o próprio desenho (MARTINS, 1979, p. 53-54).
Nesta fase a criança começa a descobrir entre o seu desenho e a sua realidade,
preocupa-se com as formas e não interessa pela cor, una as cores que a atraem. É
importante lembrar que a criança começa a usar o desenho quando à linguagem falada
até em progressão. Os desenhos vão se tornando linguagem real. Nessa etapa o
professor poderá ajudar seus alunos em relação a motivação e aos estímulos,
promovendo movimentos agradáveis com situações ligadas ao “eu” e ao “meu”,
tornando mais sensível quanto aos seus próprios sentimentos.
Progressivamente, o esquematismo, dos 07(sete) aos 09(nove) anos, suas figuras
antes dispersas no papel já relacionam com as outras, tendo uma visão menos
egocêntrica do mundo à sua volta, como MARTINS(1979) explicita:
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
29
9
O conceito definido de homem e do meio representado através do “esquema puro” que não expressa nenhuma experiência intencional. A riqueza deste esquema apresentando maiores ou menores detalhes, dependerá da própria personalidade da criança e do quanto seu conhecimento ativo foi estimulado pelo professor na etapa anterior. Se para a criança é importante a simetria do corpo, o esquema será representado de frente[...] (MARTINS, 1979, p. 58-9)
O autor acima citado realça ainda que: “Em relação à cor da criança também
descobre uma ordem lógica, ligando cada objeto a uma cor definida”(MARTINS, 1979,
p. 61). Esta fase da criança apresenta elementos característicos que permitem ser
analisada deve-se trabalhar a auto estima, o auto conceito e a auto confiança, para que
ela possa se desenvolver.
E ainda, a criança de 09(nove) a 12(doze) anos quando em seu período de
descobertas . “Os temas propostos nesta etapa de desenvolvimento devem girar entorno
da cooperação social). (MARTINS, 1979, p. 66)
Quando na idade do raciocínio, dos 12(doze) aos 14(quatorze) anos, como
MARTINS(1979) define: “as emoções são intensas e pouco controladas, o professor
deve estimulá-los para a observação dos elementos encontrados na natureza e pelo
desenho de objetos de uso cotidiano ao mundo em sua volta”(p.71)
O autor realça o desenvolvimento humano com a arte até a adolescência, que é
definido como período da decisão, pois nesta fase dos 14 aos 17 anos a arte pode ser o
vínculo entre a escola e o seu mundo pessoal:
Fazê-lo entender que alguns dos objetivos da antevisão o de expressar seus problemas e tensões independentemente de um bom e bonito desenho, de desenvolver sua capacidade criadora em qualquer campo em que vá atuar e de torná-lo mais sensível a própria vida , pode modificá-los, fazendo-os assumir uma participação mais efetiva dentro da aula de artes. (MARTINS, 1979, p. 75).
Desse Modo, pode-se perceber a evolução da arte ao vinculá-la a prática
educativa , e no que se refere aos alunos com deficiência intelectual e múltipla, os
conhecimentos devem ser construtivos, como TIBOLA(2001) salienta:
Ao contrário, o direito ao acesso e à construção desses conhecimentos está assegurado a todos cidadãos na legislação. Cabe à escola equacionar as estratégias pedagógicas. No campo das Artes esta orientação é absolutamente pertinente. Recomenda-se, também, que o professor de Arte que em parceria com os profissionais de outras áreas como da fisioterapia, psicologia, educação física, entre outros, com o
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
0
objetivo de criar o suporte necessário para o desenvolvimento do aluno (TIBOLA, 2001, p. 21)
O autor ressalta a importância de que nas escolas de educação especiais as
atividades desenvolvidas em arte, interajam com as demais áreas, a fim de que possam
ser exploradas em situações diferenciadas e sejam dessa forma ressignificadas.
Na educação especial, o professor de arte deve procurar estabelecer temáticas
como ponto de diálogo e convergência entre as áreas, flexibilizando as ações a fim de
dinamizar o desenvolvimento global do aluno com deficiência intelectual e múltipla.
Dentre as atividades de Arte pode-se constituir da música, artes visuais, teatro,
dança e a sua avaliação deve fazer parte dessa disciplina como das demais. Assim,
professores e alunos devem avaliar os objetivos alcançados, os fatores que contribuíram
para o processo, verificando o percurso da aprendizagem, para que possa reajustá-la
para a construção do conhecimento artístico na produção e apreciação das diversas
linguagens.
É importante salientar que a interação com as atividades artísticas, deve-se
enquadrar de acordo com a necessidade do aluno, de modo que contribua de forma
positiva para o desenvolvimento integral do mesmo em seu ciclo de vida.
Ao elaborar a proposta de trabalho em Artes para o aluno com deficiência
intelectual e múltipla no ciclo infantil, o professor deve buscar nessa fase estimular a
capacidade imaginativa a auto expressão e o diálogo. Por meio do brincar e das
vivências, a criança aprende sobre o mundo que a cerca e sobre si mesma, amplia sua
capacidade de expressão de pensamentos e sentimentos, o que contribui para a
construção da autoestima e autoconceito positivos.
Dentre as ações práticas para esta fase o professor de arte deve propiciar: a
exploração da linguagem corporal, da oralidade, exploração plástica e geográfica;
resgate de brinquedos, brincadeiras, músicas e cantigas folclóricas e construção de
brinquedos.
Para o aluno com deficiência intelectual e múltipla no ciclo jovem-adulto o
professor de Artes ao definir sua proposta de trabalho deve oferecer condições para que
nesta fase o aluno construa conhecimento das linguagens artísticas, e que possa a partir
das vivências distinguir o que é uma e outra modalidade. Cabe ao professor, estimular a
descoberta de potencialidade, talentos, a valorização dos desejos individuais em
conformidade com a coletividade.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
1
Nesta fase ao aluno com deficiência intelectual e múltipla deve-se propor
atividades diversificadas que contemplem temas variados, problematizar situações e
estimular a possibilidade de resolução de conflitos, promover oficinas e acesso aos bens
artísticos e culturais.
A educação especial é definida por GUIMARÃES(2002) como:
Modalidade de educação escolar, processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar, e, em alguns casos substituiu os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos, perpassa transversalmente todos os níveis de educação e ensino. Oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, estrutura-se segundo os princípios de flexibilidade curricular e atendimento à diversidade garantindo o acesso, permanência e percurso escolar com sucesso para os alunos com necessidades educacionais especiais. (GUIMARÃES, 2001, p. 42)
Desse modo, as necessidades educacionais especiais constituem das dificuldades
de aprendizagem de condições individuais, econômicas ou socioculturais, e os serviços
de educação especial devem ocorrer nas escolas públicas ou privadas da rede regular de
ensino baseadas nos princípios da escola inclusiva.
TIBOLA(2001) aponta o ensino da arte nas APAES(Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais) e sua importância no contexto educacional formal,
assegurando aos aluno a construção de conhecimento em arte:
A arte é apontada como área de conhecimento (os documentos mais à Educação Artística) e as diferentes linguagens artísticas são respeitadas quanto as especificidades inerentes a cada uma no que tange aos conhecimentos a serem construídos. Assim estão representadas as áreas de Artes Visuais, música, teatro e dança. No caso de ensino médio, acrescenta-se o campo das Artes Audiovisuais que envolvem os recursos tecnológicos contemporâneos à disposição das produções artísticas(vídeo, informática, entre outros). O conhecimento a ser construído em cada uma dessas linguagens esta organizado em torno de três eixos: a produção artística, a apreciação artística e a contextualização histórica cultural dos diferentes fazeres em Arte [...] (TIBOLA, 2001, p.15).
O autor, acima citado, mostra que algumas APAEs iniciaram seu trabalho na
área de educação artística, como a dança, a música e as artes plásticas os professores
não tenham formação especifica na área, mas se interessavam pela disciplina, porém o
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
2
trabalho realizava-se como apoio psicopedagógico e não na construção de conhecimento
de seus alunos como a realidade atual.
Nesse contexto reconhece-se a necessidade de um profissional específico para o
ensino das Artes, para que alcance a proposta, como explicitou TIBOLA(2001).
A proposta de fortalecimento e inserção de Arte nas ações do Movimento Apaeano está voltada para duas grandes linhas de ação: a primeira, orientada pela Proposta APAE Educadora que integra a proposta pedagógica da escola da APAE onde o ensino de Arte é desenvolvido como componente curricular, com objetivos, conteúdos e estratégias metodológicas orientadas pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio. A segunda linha de ação propõe o desenvolvimento de projetos especiais e objetiva o aprofundamento das diferentes linguagens artísticas e vivências para a realização de mostras, festivais, concursos e a preparação da Pessoa Portadora de Deficiência para o mundo do trabalho por meio de atividades artísticas, visando à sua inclusão e reconhecimento social na família e comunidade onde vive (TIBOLA, 2.001, p.19).
Desse modo, o papel da escola é formar seus alunos para o exercício pleno da
cidadania, assegurando ao aluno com deficiência intelectual e múltipla, o direito à
“apropriação do conhecimento sistematizado e o contrato com a produção cultural nas
linguagens visual, musical, teatral e da dança por meio de um ensino de qualidade”
(TIBOLA, 2.001, p.20).
Em conseqüência disso, os alunos melhoram o seu desenvolvimento cognitivo,
social e afetivo o que contribui e fortalece a formação cidadã do aluno com deficiência
intelectual e múltipla. Além dessas contribuições, as vivencias artísticas representam
possibilidades para a família, e comunidade, valorizar e reconhecer o potencial e
habilidades diversas que a pessoa com deficiência é capaz de realizar, o que tem
repercussão para a construção da autoestima e autoconceito positivos.
No cenário nacional, as ações convergem em direção a uma “ Educação para
Todos”, política adotada pelo Ministério da Educação. Por essa razão, ocorreram
mudanças significativas na compreensão da arte, considerada linguagem e área de
conhecimento, possibilitando o desenvolvimento global do ser humano e a relação inter
e intrapessoal, na busca da identidade e do exercício da cidadania.
A base legal deste documento é a Constituição da Republica Federativa do
Brasil, 1.988, especialmente no inciso III, do artigo 208, no Estatuto da Criança e do
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
3
Adolescente, lei n° 8.069/90, e, principalmente na lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), lei 9.394, de 20-12-1.996, Desta última, extraem-se as seguintes
determinações, aplicáveis à formulação do presente documento:
Artigo 26. Parágrafo 2° - O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Artigo 58 – Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais (BRASIL, 2001).
Nesse contexto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define a
Educação Especial como modalidade de educação escolar. Conforme a perspectiva da
política educacional, os presentes delineamentos têm seu fundamento no Plano Decenal
de Educação para Todos (1993-2000) e, como ação pedagógica, encontram respaldo no
Plano Nacional de Educação, na Lei 10.172, de 11/09/2001, nas Diretrizes Nacionais
para Educação Especial na Educação Básica, publicada em 11/09/2001, no Referencial
Curricular Nacional da Educação Infantil – 1998, nos Parâmetros Curriculares
Nacionais: Arte (1996 e 1997), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias (1991).
A Constituição de 1988 garantiu, em seu Artigo 206: “igualdade de condições
para o acesso e a permanência na escola”; e Artigo 205: “A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família” e deve estender-se também ao atendimento educacional
especializado, quer dizer, aos deficientes (Art. 208, III): “atendimento educacional
especializado, aos portadores de deficiência, principalmente na rede regular de ensino”.
Sugere-se, então, que quando pensar na formação do educador deve-se, também,
pensar em uma escola que dê a “todos”, formação básica e o capacitado para isso, em
primeiro lugar, é o professor qualificado, o profissional preparado para lidar com o
aluno, com ou sem deficiência.
Segundo Bueno (1991):
O profissional que trabalha com educação especial deve ser, em primeiro lugar, bom professor: qualificado, dono de um saber reconhecido socialmente, e competente no seu métier. Além disso, há de ser também um profissional voltado para as práticas sociais vigentes, dotado de uma consciência lúcida de sua realidade histórica e dos problemas dela emergentes (Bueno, 1991, p. 145).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
4
Somente dessa maneira poderá contribuir para a diminuição da segregação e da
exclusão dos diferentes pela sociedade capitalista moderna. A história da educação dos
alunos com deficiência tem nos mostrado que sua marginalização é historicamente
determinada por um conjunto de forças sociais, econômicas, políticas, culturais,
ideológicas que convencionam os limites entre normalidade e anormalidade.
O profissional deve se preparar, através de uma formação inicial básica e comum
aos demais profissionais da educação, para atuar não só em classe do ensino regular,
freqüentadas ou não por alunos com as chamadas “necessidades especiais”, mas
também, em escolas especiais – instituições especializadas – e em classes especiais; de
modo a acompanhar o desenvolvimento das ciências e as descobertas da tecnologia para
seu campo de atuação.
A formação do profissional da educação deve insistir-se nesse mundo de
mudanças e ser repensada com base nessas novas realidades e exigências da
contemporaneidade. É preciso garantir ao futuro educador não só uma incontestável
cultura geral, mas também o acesso a outras linguagens e formas de comunicação.
Nesse sentido, Tibola (2001) refere à formação do professor de Arte:
A formação inicial e continua dos professores em Arte estão entre as condições para a promoção de um ensino de Arte de qualidade para o aluno da Educação Básica, período durante o qual ele deverá conhecer e expressar-se nas várias linguagens artísticas, ora em uma, ora em outra, de modo que, ao final do seu processo de escolarização, ela tenha tido a oportunidade de construir conhecimentos significativos em todas elas. As atividades propostas na área de Arte, nas suas várias linguagens, devem garantir e ajudar a desenvolver modos imaginativos e criadores de fazer e de pensar sobre a Arte, exercitando seus modos de expressão e comunicação (TIBOLA, 2001, p. 51).
O ensino de Arte como área de conhecimento supõe a formação contínua do
professor para que no processo de educação e formação de um profissional não se deve
encerrar nos limites de um curso de graduação, na universidade, mais sim, se configurar
como uma formação verdadeiramente continuada, posto que em seu dia-a-dia ele irá
trabalhar diretamente com as transformações que ocorrem diariamente em nossa
sociedade.
CONCLUSÃO
As principais conclusões evidenciam que a arte está presente no cotidiano
escolar, não mais como apoio psicopedagógico, mas como área de conhecimento que
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
5
desenvolve uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal, promove a
interação com a emoção, e mais, valoriza a arte como recurso didático que contribui no
processo ensino-aprendizagem. Desse modo, o educando descobre que a arte leva-o à
descoberta de si próprio e de sua realidade. Percebeu-se que a Arte estimula e
potencializa a forma de expressar emoções e pensamentos, amplia a capacidade de
comunicar, de intervir e construir por meio de múltiplas linguagens, assim colabora para
a construção da autoestima e autoconceitos positivos, o que contribui de modo
significativo para a melhoria do processo pedagógico, social e afetivo dos alunos.
Constatou-se que a arte está presente no desenvolvimento humano, desde a infância até
a fase adulta; traçou-se a evolução da arte desde a infância à adolescência, inicialmente,
como um dos primeiros meios de comunicação da criança, que através do movimento
expressa emoções, sentimentos e desejos por gestos e posturas corporais.
O estudo mostrou que o papel do professor é muito importante quanto à arte na
educação, quando percebe o momento de motivar e estimular seus alunos e, também,
quando não se deve cobrar explicações quanto aos seus desenhos, por exemplo, quando
a criança não vê necessidade de colocar o braço na figura humana, coloca em um e em
outro não.
O professor de arte deve trabalhar em parceria com o regente de turma,
constatando que ainda terão oportunidade de realizá-las de forma agradável, ou seja,
aprender brincando.
Na arte, o professor também tem como procedimento metodológico, a avaliação,
realizada como nas outras disciplinas, de forma diagnóstica, durante todas as atividades,
registrando o aprendizado dos educandos, e o professor fazendo sua autoavaliação, com
a finalidade de avaliar a sua prática para que possa, diante dos resultados obtidos,
avançar no percurso da aprendizagem ou ajustá-las, buscando novas alternativas,
estratégias para que possa contribuir significativamente na melhoria do processo ensino-
aprendizagem.
A autora afirma ainda, que as atividades de Arte desenvolvidas nas escolas de
Educação Especial se integradas à prática docente, aos programas da escola e a
comunidade pode potencializar a descoberta de habilidades e competências múltiplas,
desse modo contribuir de forma positiva para o desenvolvimento integral dos alunos
com deficiência intelectual e múltipla.
Evidenciou-se, também, que a arte pode contribuir na educação, em especial,
numa “Educação para Todos”, como adotado pelo Ministério da Educação, considerada
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
6
como linguagem e área de conhecimento. A base legal, como determina a Constituição
Federal de 1988 e a LDBEN, Lei 9394/96 definem a educação especial como
modalidade da educação escolar, um direito de todos os alunos com deficiência
intelectual e múltipla devem ser preparados para o exercício pleno da cidadania, e para
isso o professor deve atualizar-se em sua formação acadêmica continuada, para a prática
das novas metodologias educacionais, associação da teoria à prática, lidar com a
diversidade, acompanhar as descobertas em seu campo de atuação, e, assim, necessita
de uma formação que promova um ensino em relação à arte com qualidade para garantir
a construção do fazer e pensar criticamente sobre a mesma.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei Darcy Ribeiro (1996). LDB: Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei 9.394, de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; e legislação correlata. 2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. _______. Constituição Federal. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. BUENO, J.G.S. Educação especial brasileira: a integração/segregação do aluno diferente. São Paulo: PUC, Tese de Doutoramento, 1991. GUIMARÃES, Tânia Mafra (org.). Educação Inclusiva: construindo significados novos para a diversidade. Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, 2002. MARTINS, Mirian Celeste Ferreira Dias. Temas e técnicas em artes plásticas. São Paulo: ECE, 1979. TIBOLA, Ivanilde Maria (coord.). Arte, cultura, educação e trabalho. Brasília: Federação Nacional das APAEs, 2001.
EDUCAÇÃO DE MULHERES ASSENTADAS
Thaís F. P. A. Gomes (UFU) Edneia Rissa (UFU)
Karina Klinke (UFU) Financiamento: CNPq
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
7
O presente trabalho traz resultados parciais de uma pesquisa que investiga seis mulheres que residem com suas famílias há três anos no assentamento Novo Pântano Mariano/MG, com objetivo de compreender como as experiências educacionais ali vivenciadas ampliam o acesso ao mundo letrado e suas vivências políticas em ações afirmativas referentes aos direitos propostos no II Plano Nacional de Políticas para Mulheres (2008). A pesquisa de caráter qualitativo busca nas proposições de capital cultural e economia das trocas linguísticas a fundamentação teórico-metodológica para compreensão das relações da comunidade com o poder público, que não proporciona as condições necessárias para ampliar a educação formal dos assentados e os processos educacionais elaborados pelos mesmos. Os procedimentos metodológicos utilizados são as “Rodas de Conversa”, com atividades filmadas, fotografadas, gravadas, transcritas e analisadas. Observa-se nesse período grande dificuldade na conquista de benefícios públicos para a comunidade, embora algumas mulheres lutem por uma sala da modalidade EJA rural, ainda não ofertada pelo poder público. Palavras-chave: educação de adultos, movimento sem terra, mulher.
O projeto de pesquisa em andamento, a partir do qual este artigo se origina,
investiga os usos sociais da língua na vida das mulheres do assentamento Novo Pântano
Mariano/MG. Tem por objetivo compreender como as vivências lingüísticas no
assentamento desenvolvem experiências políticas em ações afirmativas, em especial nos
processos de (re)construção do papel das mulheres na sociedade contemporânea.
A fazenda "Fazenda Pântano ou Mariano", situada na região do Triângulo
Mineiro, foi desapropriada para fins de reforma agrária em 1998. Sua área como gleba
única era de oitocentos e trinta e sete hectares, cinqüenta ares e setenta e cinco centiares.
Em agosto de 2000 houve um conflito na área, denunciado pela Comissão de Direitos
Humanos, com pressão da Polícia Militar/MG para desocupação da área. Segundo
Márcia Helena de Lima (2004) em 2003 estavam acampadas na área 400 famílias. Estas
famílias se subdividiram em três assentamentos: Dentre eles está o Pântano Mariano.
Nele estão assentadas atualmente 12 famílias, cujas quais se encontram em processo de
organização da produção sistemática da terra e, neste sentido, pesquisa está mapeando
as condições produtivas e sociais dos assentados.
Estudos sobre a condição de assentados (CASTELLS, 2001; CUNHA, 1998;
GIULANI, 1997; HIRATA, 2002; MELO, 2001; PAULILO, 2000; PAVAN, 1998;
RUA & ABRAMOVAY, 2000; SALVARO, 2004; SIQUEIRA, 1999; SILVA, 2003)
apontam que suas relações sociais são cheias de contradições sobre o modo coletivista e
igualitário de sua concepção, sendo uma delas a divisão sexual do trabalho. As jornadas
de trabalho são distintas, segmentando atividades produtivas e reprodutivas, cabendo às
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
8
mulheres a realização de tarefas no espaço doméstico: cozinhar, limpar a casa, lavar a
roupa, cuidar de crianças e de velhos enfermos. “Uma correspondência entre a
hierarquia na família, na profissão e na sociedade que produz configurações
extremamente diferentes nos status sociais e nas relações de poder.” (HIRATA, 2002
p.286) Os assentados e assentadas entrevistadas na pesquisa de Giovana Salvaro (2004)
pontuam que ainda é necessário avançar no que se refere às relações de gênero, no
sentido de buscar superar uma dada realidade, de modo que as diferenças entre homens
e mulheres e entre sujeitos singulares parece não estar na prática cotidiana dos
assentados.
É histórica a condição precária das mulheres campesinas no que diz respeito ao
pouco acesso à assistência médica, à orientação sexual, aos direitos legalmente
constituídos, ao crédito e à comercialização, aos espaços de poder e decisão, apesar de
sua participação na produção e reprodução em unidades familiares e coletivas.
(PRESVELOU, 1996) A escolarização destas mulheres comumente não passa de dois
ou quatro anos do Ensino Fundamental, o que indica um alfabetismo funcional – útil
para enfrentar apenas algumas das demandas do cotidiano – e dificulta o acesso à
cultura letrada. Cultura essa que é amplamente disseminada no Brasil, mesmo que de
forma desigual, constituindo-se um sistema de informação e de formação que colabora
amplamente para a dispersão de saberes e servem como instrumento de dominação.
Pesquisas como a de Vera Masagão Ribeiro (et al 2002) revelam como os déficits
educacionais e, conseqüentemente, o alfabetismo funcional, traduzem-se em
desigualdades quanto ao acesso a vários bens culturais, oportunidades de trabalho e
desenvolvimento pessoal que caracterizam as sociedades letradas.
Advém desta realidade nosso interesse em identificar as reais condições de usos
sociais da língua destas mulheres e como elas a utilizam para atuar tanto na comunidade
local quanto no meio social. Os procedimentos metodológicos utilizados com essa
finalidade são as Rodas de Conversa, Leitura e Escrita, proporcionadas no
desenvolvimento de atividades coletivas, que variam entre culinária, trabalhos manuais
com matéria prima coletada no local, canto, contação de histórias, relatos de
experiências, etc. Tais atividades são filmadas, fotografadas e gravadas, quando
autorizadas pela comunidade.
Nos primeiros encontros no assentamento observamos o silenciamento das
mulheres na presença de seus maridos, os quais se responsabilizaram pelo fornecimento
das informações sobre as atividades campesinas, como também elaboraram perguntas
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
30
9
dirigidas a nós. Esta é uma característica dos assentados, buscarem primeiro conhecer a
intenções de quem os procura para saberem em que proporção podem lhes confiar
conhecimentos e compartilhar experiências, uma vez que constroem suas próprias
relações sociais, construindo uma cultura própria. Como afirma Roseli Caldart (2004,
p.54) sobre a Pedagogia do Movimento sem Terra, realiza-se a construção de uma
cultura “como objeto de sua interpretação sobre si mesmo”, sem desconsiderar que “a
maior riqueza simbólica esteja em uma produção que não é intencional nesta
perspectiva”.
É esta interpretação sobre si mesmo que buscamos conhecer a fim de
compreender como as mulheres re-significam seu papel nesta comunidade e diante da
sociedade. Em momentos em que se encontram distantes dos homens elas apresentam
outro comportamento diante das conversas, mesmo que demonstrem manter o cuidado
com o que “podem” e o que “não podem” dizer. Esta dúvida é expressa em frases como:
“acho que isso eu posso dizer, né?”, como aconteceu com a assentada M. (47 anos). Ela
conta que trabalha no campo desde menina, o pai trabalhava nas fazendas da região e
ela acompanhava, mas também sobrava tempo para ir à escola. Com cinco anos
começou a freqüentar uma escola na fazenda, na qual ela ficava para a mãe poder
trabalhar com o pai. Questionada sobre suas lembranças da escola, conta que usava a
Cartilha ABC e depois foi lendo outros livros. Explica:
Eu estudei muito tempo, aí a professora falava assim pra mamãe, “olha você tira a M. da escola e ensina ela a faze crochê, porque ela vai aprende faze isso, que estuda ela num aprende”. Mas só que eu continuei indo pra escola, porque naquela época num tinha as pessoas pra ajuda a gente. Aí eu pensei que se fosse hoje em dia tinha APAE... É a APAE que fala, num é? ...pra me ajuda. Mas eu estudei muito, a idéia que num me ajudo. Eu sei um pouquinho, mas pelo tanto que eu estudei eu era pra te até... Era a idéia mesmo que num me ajudo. (M., 27/09/2009)
Sua experiência escolar é dramática, chega ao ponto de acreditar que tem
problemas mentais e por isso precisaria freqüentar uma escola especial. Mas durante o
desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado foi uma das alunas mais assíduas; a
professora, que também vive no assentamento, conta que ela fazia descobertas de
palavras, antes nunca escritas, a partir da análise dos sons das sílabas. Foi uma das três
alunas do Programa a ser certificada. Canta junto com o companheiro que toca violão e
compõe músicas. Diante dos relatos da professora ela não apresenta nenhuma
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
0
dificuldade mental, ao contrário, se sobressai não somente na leitura e escrita como no
cálculo. Consegue transpor conhecimentos da vida cotidiana, como medidas para
receitas, em cálculos rápidos e precisos.
Sua ida para o acampamento dos sem terra aconteceu após um período de tempo
morando na cidade, onde teve seu primeiro filho. Trabalhava de bóia-fria, apanhando
algodão, e depois em uma refinaria de álcool, cortando cana, onde ficou, segundo ela,
“muitos anos”. Depois a empresa parou de contratar mulheres para trabalhar como
bóias-frias e era difícil arrumar outro emprego, somente de doméstica. Comenta: “Aí
apareceu esse... o sem terra e pra mim foi bom, porque eu trabalho assim mesmo, do
mesmo jeito, né?” (M., 27/09/2009).
Ela relata que ficou somente duas semanas morando na lona, pois quando
conheceu seu primeiro marido ele já vivia no acampamento. Doente, ele passou a terra
conquistada para o nome dela e, com sua morte, ela assumiu todos os compromissos
com a terra, a casa e os filhos. O atual parceiro mora em sua companhia no
assentamento, mas sem compromisso com a produção local, trabalha em outras
fazendas.
É a história de uma mulher que desde a juventude provê o seu sustento e de seu
filho trabalhando no campo, mas com a posse da terra encontra sua autonomia
financeira. Sua perspectiva diante da vida no assentamento, em comparação ao
acampamento, é assim descrita: “eu não conto com a luta só, conto com a vitória,
porque aquela luta já passou tudo, agora eu vou contar com a vitória, né? Agora nois já
ta no nosso lote, ta com a esperança de milhorar mais ainda, né?” (M., 27/09/2009)
O comentário dos homens do assentamento sobre o comportamento de M. é de
que ela “é melhor que muito homem no roçado.” Uma comparação direta de sua postura
com o papel masculino na lida. Uma mulher negra que assumiu o papel de provedora e
que é assim reconhecida e admirada na comunidade: “melhor que muito homem”.
Mas quando os homens se aproximam do grupo de mulheres na Roda de
Conversas elas param o que estavam falando ou mudam de assunto. Trocas de olhares
demonstram certo controle por parte deles, ainda com receio do que vamos fazer com as
gravações. O líder do grupo se propõe a relatar experiências na grande roda, na qual se
juntam homens, mulheres e crianças. Todavia proibiu a gravação, “até que eu entenda o
que vocês querem aqui”. (M.R., mais de setenta anos) Ele afirma o papel dos sem terra
nas mudanças em nosso país, diz com sorriso estampado que os sem terra mudaram a
história do Brasil. Nenhum outro membro da comunidade expressou opiniões políticas
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
1
ou partidárias até o momento e as mulheres trataram exclusivamente da vida pessoal.
Quando questionadas sobre as possíveis diferenças nos papéis masculinos e femininos
no assentamento responderam em uníssono que é muito diferente: em geral elas cuidam
da casa, dos filhos e, na maioria das vezes, são eles quem saem para as compras
necessárias.
Ainda é cedo para tirar conclusões, mas o que foi possível observar até o
momento da escrita deste artigo é que naquela comunidade os papéis femininos e
masculinos não estão tão claramente distintos, visto que nos casos relatados algumas
mulheres vão para a cidade, muitas vezes sozinhas, a passeio ou a trabalho, como é o
caso da professora do Projeto Brasil Alfabetizado. Alem de conquistar o Projeto para a
comunidade, faz campanha junto à prefeitura municipal para conseguir montar uma
turma de Educação de Jovens e Adultos na zona rural, o que o município ainda não
oferece.
As crianças estudam em escolas rurais até o término anos iniciais do Ensino
Fundamental, depois vão estudar na cidade, e os adultos, em sua maioria, são
analfabetos ou se utilizam da leitura e da escrita exclusivamente para fazer anotações do
que precisam comprar na cidade. Mas todos apresentam o desejo de aprender a ler e a
escrever para poder dizer o que querem, escrever as receitas e as letras das composições.
Dizem querer saber mais do que “aprender a ler“, querem “saber ler” e “saber escrever”.
Com estas expressões manifestam sua compreensão dos usos sociais da língua escrita e
como ela pode contribuir em suas formas de expressão.
Entendemos que conhecer os usos sociais da língua de mulheres assentadas, o
que elas lêem e os usos que fazem de suas leituras contribui para fazermos um
contraponto com a representação social mais ampla que se tem da mulher campesina,
com baixos índices de escolarização. Ao mesmo tempo, expandindo as capacidades
linguísticas e de leitura dessas mulheres, acreditamos que elas terão ascensão aos
conhecimentos que ampliam o acesso aos direitos propostos no II Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres (2009), e poderão dinamizar os espaços de ações afirmativas
em sua comunidade.
REFERÊNCIAS CALDART, R.S.. Pedagogia do Movimento Sem Terra. 3. Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2004.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
2
CASTELLS, A.. A criatividade dos sem-terra na construção do habitat: um olhar etnográfico sobre a dimensão especial do MST. 2001. Tese (Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas. CUNHA, A.D.C.. “Relações de gênero na agricultura familiar no perímetro irrigado de São Gonçalo (PB)”. In: BRUSCHINI, Cristina; HOLLANDA, Heloísa B. de (Orgs.). Horizontes plurais: novos estudos de gênero no Brasil. São Paulo: FCC; Ed. 34, 1998. p.195-224. GIULANI, P.C.. Os movimentos de trabalhadoras e a sociedade brasileira. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil. Coordenadora de textos: Carla Bassanezi. São Paulo: Contexto, 1997. p. 640-667. HIRATA, H..Relações de gênero em assentamentos do Movimento do MST (RS): a participação da mulher na produção e reprodução em unidades familiares e coletivas. In: PRESVELEU, Clio; ALMEIDA, Francesca Rodrigues; ALMEIDA, Joaquim Anécio. Mulher, família e desenvolvimento rural. Santa Maria: Ed. da UFSM, 1996. p. 93-116. LIMA, M.H.. Um breve histórico da consolidação da reforma agrária na região do triângulo mineiro: avanços e retrocessos. Caminhos de Geografia. 5(11)67-83, Fev/2004. p.67-83. Disponível em: <www.ig.ufu.br/caminhos_de_geografia.html> Acesso em: 19 jun. 2009 MELO, D.M.. A construção da subjetividade de mulheres assentadas pelo MST. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, 2001. PAULILO, M.I.S.. Movimento de mulheres agricultoras: terra e matrimônio. Cadernos de Pesquisa, Florianópolis: PPGSP/UFSC, v. 21, n. 1, p.1-15, 2000. PAVAN, D.. As Marias Sem Terras: trajetória e experiências de vida de mulheres assentadas em Promissão – SP – 1985/1996. 1998. Dissertação (Mestrado em História Social). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 1998. PRESVELOU, C.; ALMEIDA, F. R.; ALMEIDA, J. A. (orgs). Mulher, familia e desenvolvimento rural. Santa Maria: Ed. UFSM, 1996. RIBEIRO, V. M.; VÓVIO, C. L.; MOURA, M.P. (orgs) Letramento no Brasil: alguns resultados do indicador nacional de alfabetismo funcional. Educação & Sociedade. V. 23, n. 81. p. 49-70. dez./2002. RUA, M.; ABRAMOVAY, M.. Companheiras de luta ou “coordenadoras de panelas”?: As relações de gênero nos assentamentos rurais. Brasília: UNESCO, 2000. SALVARO, G.I.J.. Ainda precisamos avançar: os sentidos produzidos por trabalhadoras/es rurais sobre a divisão sexual do trabalho em um assentamento coletivo do Movimento dos Trabalhadores Rurais (MST) em SC. 2004. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2004.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
3
SILVA, C.B.. As fissuras na construção do “novo homem” e da “nova mulher”: relações de gênero e subjetividades no devir MST – 1979–2000. 2003. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2003. SIQUEIRA, M.J.T.. Novas formas de paternidade: repensando a função paterna à luz das práticas sociais. In: SILVA, Alcione L.; LAGO, Mara C. de Souza; RAMOS Tânia R. O. Falas de gênero: teorias, análises, leituras. Florianópolis: Editora Mulheres, 1999. p.187-201.
MIGRANTES NORDESTINAS E ESCOLARIZAÇÃO NO PONTAL MINEIRO
(ANOS 1950-1960)
Prof. Dr. Sauloéber Tarsio de Souza Universidade Federal de Uberlândia-CNPq
[email protected] Daiane de Lima Soares Silveira - CNPq/UFU
O presente trabalho é resultado parcial da pesquisa em desenvolvimento “Das Alagoas às Gerais: Migrantes Nordestinos e Escolarização no Pontal do Triângulo Mineiro (anos 1950 a 2000)”, que tem como objetivo central estudar os fluxos migratórios nordestinos para o município de Ituiutaba e seus reflexos no sistema de ensino. Apresentamos problematização inicial, enfocando as décadas de 1950 e 1960, quando tentamos compreender como se deu a inserção e permanência das mulheres migrantes nesses espaços institucionais. Uma especificidade encontrada na pesquisa foi a observação de que, enquanto os meninos – filhos dos migrantes – deveriam colaborar com o sustento da famílias o que dificultava sua permanência na escola e muitas vezes o próprio acesso a cultura letrada, as filhas eram, na medida do possível, incentivadas a iniciar e concluírem os seus estudos. Do grupo de entrevistadas, três chegaram ao nível superior, uma concluiu o ensino fundamental, e outras duas apenas o primeiro ciclo desse ensino (4a. série). É possível apontar, a partir desses dados e também nos apoiando em Motta (2010), que há uma ressignificação do “dote intelectual” no novo espaço (Pontal Mineiro), o qual justifica o estímulo à entrada da filha mulher no âmbito escolar, invertendo as estatísticas quando comparadas as do local de origem - o Nordeste do país, que nos anos de 1950 e 60 tinha número elevado de mulheres fora da escola, superior ao da população masculina. A expansão das escolas públicas na cidade nesse período, também contribuiu para a escolarização dessas mulheres, mas acreditamos ser possível afirmar a existência do dote como instrução (ABRANTES, 2010), ou seja, um mecanismo encontrado pelas famílias migrantes, para ampliar as possibilidades de estabilidade econômica no novo destino, porém, o acesso à escola pode ser visto também como uma forma de “dotar” intelectualmente essas mulheres, contribuindo para sua emancipação.
Palavras-chaves: Migrantes Nordestinas, Escolarização, Pontal Mineiro.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
4
O presente estudo é resultado de pesquisa parcial sobre a escolarização de
mulheres nordestinas que migraram para o Pontal do Triângulo Mineiro. Essa
abordagem se deu a partir do projeto em construção “Das Alagoas às Gerais: Migrantes
Nordestinos e Escolarização no Pontal do Triângulo Mineiro (anos 1950 a 2000)” que
tem como objetivo central estudar os fluxos migratórios nordestinos para o município
de Ituiutaba e seus reflexos no sistema de ensino. Apresentamos aqui problematização
inicial, enfocando as décadas de 1950 e 1960, quando buscamos analisar a “chegada das
massas” à rede escolar local, com a progressiva elevação do acesso à escolarização,
desencadeada, sobretudo, com os fenômenos da industrialização e urbanização desse
período, tentando vislumbrar como se deu a inserção e permanência das mulheres
migrantes nesses espaços institucionais.
Antes de observarmos nosso objeto, é preciso fazer referências aos fluxos
migratórios e sua relação com a escola em geral. Entendemos que a migração deve ser
estudada a partir do contexto de crescimento econômico da cidade, acelerado a partir da
segunda metade do século XX, em função da expansão da cultura do arroz, como
podemos ver pelo relato presente em revista comemorativa de fundação da cidade:
Antevendo o sucesso que poderia advir da cultura do arroz em terras tão férteis, o Sr. Antonio Baduy, distribuía aos fazendeiros locais, sementes selecionadas, estimulando a produção de tipo de melhor qualidade, tais como, amarelão e o pratão, hoje existente com abundância. (...) Assim é que de ano para ano, a produção foi aumentando, (...) Ituiutaba era o maior centro produtor de cereais de Minas (Centenário, 2001).
A indústria de beneficiamento atingiria seu auge nas décadas seguintes,
estimulando o desenvolvimento do município, de forma que também a rede escolar seria
ampliada no mesmo período. Oliveira (2003) apontou a singularidade da história
educacional da cidade, constatando o lento processo de institucionalização da escola
pública em Ituiutaba no período que compreende os anos de 1908 e 1950. Nos anos de
1950, inicia-se a expansão dessas escolas que de apenas 02 passariam para 07 escolas
estaduais, na década seguinte outras 08 escolas seriam criadas, de forma que no ano de
1970, a educação escolar na cidade era marcadamente pública (com 15 instituições de
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
5
ensino), rompendo com o predomínio das instituições privadas e/ou confeccionais, que
diminuiriam em números.23
Outro fator que demonstra o processo de intensas mudanças no município é o
acelerado crescimento populacional urbano, o que também representa dado bastante
relevante para a compreensão da articulação entre educação escolar e migração.
Atentemos para as estatísticas abaixo:
Tabela 01 – População Rural e Urbana do Município de Ituiutaba
ANO População Rural % População Urbana % Totais
1940 30.696 88% 4.356 12% 35.052
1950 43.127 81% 10.113 19% 53.240
1960 39.488 55% 31.516 45% 71.004
1970 17.542 27% 47.114 73% 64.65624
Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos dos anos de 1940 a 1970.
O expressivo crescimento populacional demonstrado acima pode ser creditado a
alta taxa de natalidade que era superior a de mortalidade, mas como vemos também, foi
resultado da migração rural, pois neste momento, significativa parcela da população
brasileira se deslocava do campo para as cidades em busca de melhores condições de
vida (saúde, moradia e educação), com perspectiva de empregabilidade no comércio e
setor de serviços públicos que se expandiam com velocidade, acompanhando o
desenvolvimento nacional. A tabela demonstra essa inversão da relação rural e urbano
no município de Ituiutaba, ou seja, em três décadas a população passou de
predominantemente rural para urbana, nesse mesmo período, o sistema escolar deixa de
ser majoritariamente privado tornando-se marcadamente público.
Os impulsos modernizantes no município eram perceptíveis em outros setores
além do econômico e educacional. Nos anos de 1950, o poder público do município
preocupou-se com o Plano Urbanístico, com ampliação dos serviços de abastecimento
de água e de iluminação pública, arborização e calçamento de ruas, construção de
prédios públicos, buscando atender às demandas da população que se avolumava. Na
23 Não fizemos referencias as escolas rurais municipais que eram freqüentemente criadas e extintas, com vida efêmera e pouca estrutura (salas multiseriadas, professores leigos, poucos alunos, alta evasão e repetência) Fonte: Superintendência Regional de Ensino - Ituiutaba-MG, 2010. 24 O decréscimo populacional entre os anos de 1960 e 1970 decorreu da emancipação política de alguns distritos administrados pelo município de Ituiutaba, mesmo assim, o movimento de urbanização fica bastante evidenciado.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
6
década seguinte, a mudança urbanística acelerou-se ainda mais, com a chegada do
asfalto, a construção de praças, implantação do Distrito Industrial e do primeiro Campus
Universitário no município (CORTES, 2001).
É a partir desse contexto que buscamos estudar os fluxos migratórios e sua
relação com a rede escolar pública em Ituiutaba, focalizando o olhar para a
escolarização da mulher migrante. Investigamos as representações sociais elaboradas
em torno desse grupo, revelando o processo histórico-educativo vivido pela região,
abrindo novas perspectivas para a compreensão do processo de modernização25 local,
apontando os migrantes como fator importante nesse movimento, certamente, uma das
especificidades da região.
A migração para o pontal mineiro era motivada por notícias em rádios e jornais
por todo o país que difundiam a idéia de “novo eldorado” nos anos de 1950, mas
também pelos recados enviados por parentes e amigos dos primeiros migrantes que
chegaram à região para o trabalho na lavoura, o que deu início a atividade do
“agenciador de mão-de-obra” responsável pela intermediação entre fazendeiros e
trabalhadores. Os nordestinos “Espalharam-se por essa vasta região trazendo seu modo
de vida, sua linguagem, estabelecendo diferenças, que deram origem a interpretações
variadas, gerando explicações, conceitos e preconceitos.” Chegando ao pontal, eram
chamados de “’nortistas’, ‘pau-de-arara’, ‘barriga-verde’, ‘caicó’”, com seus hábitos e
costumes e com o uso da “peixeira” na cintura, delineou-se um perfil de gente violenta
que deveria ser tratada com cautela e mantida a distância (SILVA, 1997, p.8-9).26
O perfil do migrante foi assim definido: “(...) a maioria dos nordestinos que para
aqui vieram, eram pessoas simples, analfabetas, de costumes e hábitos rudes e que
habitavam o interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba.”(SILVA, 1997, p.133)
Muitos deles migravam sem informação alguma sobre seu destino, as condições de vida
e de trabalho que os esperavam: “Assim como não escolhiam o patrão, também não
escolhiam o tipo de serviço que iam executar. O destino do sujeito só era conhecido
25 A modernização verificada no país manteve-se, principalmente, no âmbito da consolidação dos mercados de massa e na sofisticação do consumo, tendência acentuada em todo o mundo, após a Segunda Guerra, que gerou imenso salto tecnológico permitindo incremento substancial na produção industrial (VIANNA, 1997). 26 Segundo Silva (1997), um dos pontos de ligação entre a região do pontal mineiro e o Nordeste estaria na atividade do garimpo no Rio Tejuco nos anos de 1930, trazendo os migrantes pioneiros para a região. Nos anos de 1950 e 60, as excursões para o nordeste, organizadas por donos de pensões e agenciadores, trariam migrantes em massa para Ituiutaba.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
7
quando chegava na fazenda e começava a trabalhar.”27 Além disso, o trabalho que lhe
era reservado era bastante pesado, atividade que pouco interessava à população local:
“Arrancar tocos foi a tarefa da maioria dos nordestinos que chegaram primeiro à região.
Esse tipo de trabalho era extremamente árduo.” (SILVA, 1997, p.72-73)
Nos anos de 1950 e 1960 o acesso a educação pública começava a se expandir,
de forma que parte desses migrantes, sobretudo a segunda geração - os filhos dos
pioneiros, transporia os muros das novas instituições escolares que se multiplicavam
pelos bairros da cidade, mesmo com todos os obstáculos e dificuldades em função de
não portarem de forma plena e “legítima” os códigos culturais da região. Por isso
também, eram olhados com certa desconfiança já que dividiam o espaço do mineiro,
buscando as oportunidades de trabalho, além da expectativa de acesso a serviços
públicos que desconheciam no seu local de origem, tais como saúde e educação.28
A taxa de analfabetismo dos estados do Nordeste em 1950 estava em torno de
70% da população acima de 10 anos (considerando-se as crianças acima de 05 anos essa
taxa atingiria 75%), enquanto nos estados do Sudeste esse número representava 45%.
No entanto, Ituiutaba, apesar de estar localizada geograficamente nessa região,
apresentava número próximo ao da região centro-oeste com 57% de sua população não
alfabetizada, um pouco acima da média nacional de 55% (Recenseamento, IBGE,
1950).
Portanto, o migrante que para a região do pontal se deslocava não era
alfabetizado, dado que surgiu nas entrevistas realizadas por Silva (1997, p.85), vejamos:
Punham a juro com os fazendeiros, juro barato sabe, porque naquele tempo num usava por no Banco, também muitos nem sabiam escrever. E ainda: (...) mas era um pessoal muito bom, são assim..., vinha muita gente analfabeta, quase igual a eu mesmo, mas muito educado, muito humilde, muito fácil de trabalhar com eles, não me deram problema, esses 11 anos que eu tive a pensão São Pedro eu nunca tive problema com hospede que viesse no caminhão de pau-de-arara. {Depoimento de ex-dona de pensão} (SILVA, 1997, p.114)
27 Freqüentemente, o agenciador prometia: “(...) um salário maior do que realmente era praticado na região ou condições de vida e moradia que nem sempre correspondia à realidade.” (SILVA, 1997, p.32) 28 Esses anseios muitas vezes ficavam no campo do desejo, como vemos nos comentários de Silva (1997, p.44-45) a partir de um depoimento de migrante: “Apesar das precárias condições de vida oferecidas pelo patrão ele não pareceu se importar. Além do rádio, o chaveiro e a caneta esferográfica que comprou, embora não tivesse chaves e nem soubesse escrever, parecia dar a ele uma ilusão de prosperidade. (...) O chaveiro e a caneta esferográfica talvez simbolizassem um sonho secreto de um dia ter chaves e poder escrever.”
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
8
Como vemos nesse depoimento, as mulheres que acompanhavam seus maridos
vinham para reproduzir a vida que tinham no nordeste, ou seja, cuidar do espaço
doméstico e dos filhos, até fins dos anos de 1960 o acesso a escola era mais restrito a
mulher do que aos homens, no nordeste, o analfabetismo era cerca de 30% maior entre
elas do que entre eles (IBGE, 1960). A partir deste dado, como se deu a inserção e
permanência no sistema escolar, das filhas daqueles migrantes que vieram nas décadas
de 1950 e 1960, ou seja, das que nasceram em suas cidades de origem ou na região do
pontal mineiro?
Eleger as mulheres migrantes como objeto desse estudo, tem relação com a
pouca visibilidade da presença das nordestinas no município, já que os trabalhos
existentes sobre migração, como vimos antes, priorizaram o trabalhador rural, em geral
homens por representar a maior parte dos migrantes. A partir do final da década de
1980, o estudo e análise da categoria gênero passam ser para as ciências sociais, de
fundamental importância. E a História também aceita esse desafio colaborando com a
investigação do gênero como um aspecto determinante das práticas sociais de homens e
mulheres na sociedade.
A história não ficou à parte do movimento feminista. Aos poucos, o sexismo, imperante na historiografia de até meados do século XX, foi sendo substituído pela exigência de que se deveria levar em conta os sexos ao se fazer história. (LOPES e GALVÃO apud SIMÕES, 2006)
Dessa forma, estudar a escolarização das migrantes nordestinas em Ituiutaba-
MG, permite-nos refletir sobre o papel social desse grupo de mulheres, colaborando
para o desvelamento da história sobre o feminino na região do pontal. No grupo de sete
migrantes entrevistadas deparamo-nos com relatos marcados pelo preconceito étnico,
uma dificuldade que incomodou e ainda incomoda algumas das depoentes. Na inserção
dessas jovens nas escolas, observamos o encontro cultural repleto não apenas de
violência simbólica, mas também física como elemento constituinte do comportamento
escolar desse grupo, pois a agressão de que era alvo era revidada com a mesma
intensidade, buscando estabelecer seu espaço, como veremos a frente.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
31
9
Nesta pesquisa, procuramos trabalhar na perspectiva da diversidade de fontes,
observando-se a complementaridade entre elas, utilizamos além dos depoimentos, os
documentos impressos e as imagens.29 De acordo com Demartini (2008, p.03):
(...), a complementaridade entre as fontes já existe na própria construção dos documentos orais, seja antecedendo-os com questões que suscita, seja deles resultando, pelo processo de interação entre pesquisador/pesquisado que permite a exposição e utilização do que ficou guardado, ou, muitas vezes, até esquecido.
Nesse tipo de pesquisa, onde o objeto da investigação está encoberto pela rigidez
das relações sociais, deparamo-nos com dificuldades diversas, mas nenhuma é tão
relevante quanto a que diz respeito ao acesso à documentação nas repartições públicas e
unidades escolares. Uma das formas de superação deste obstáculo é a utilização de
fontes orais e escritas (jornais) que se referiam à presença do nordestino na cidade,
sendo bastante importantes em nosso trabalho para “identificar o modo como (...) uma
determinada ‘realidade’ social é construída, pensada, dada a ler”. (CHARTIER, 1990,
p.15)30
Pelos depoimentos colhidos, compartilhamos com Silva (1997) a idéia de que
existia diferenciação entre os próprios migrantes em função de sua origem social, uma
pequena parte, acreditamos, migrou em condições melhores, isso se refletiu no acesso e
permanência a escola que foi diferenciado também, de forma que algumas delas
29 Nossa expectativa é no sentido de dar voz aos grupos sociais pouco “visíveis”, denunciando a estratificação e o conflito social, priorizando nesse trabalho as manifestações das mulheres anônimas, aqui em específico, as jovens nordestinas no Pontal do Triângulo Mineiro. Acreditamos poder estimular a construção de identidades positivas em relação a elas alvos de preconceito, e também poder implementar formas novas de resolução de conflitos com a participação ativa dos grupos sociais interessados. O preconceito, em suas múltiplas manifestações, é pernicioso e impede a integração universalista, transformando os valores humanos em fatos arbitrários que exprimem a força vital da raça, da classe, do gênero, ou outra qualquer. O distanciamento social promovido pela regulação dos comportamentos sociais e individuais não pacificou os relacionamentos, ao contrário, conduziu a uma racionalização do diferente que derivou em construções preconceituosas e violentas das diferenças, desumanizando-se o outro (DUSSEL, 1993). 30 A valorização das fontes orais se deu com o advento da renovação de métodos e perspectivas da análise histórica, a partir dos trabalhos de pesquisa do grupo de estudiosos conhecidos como Escola dos Annales. A utilização dessas novas fontes foi possível devido à incorporação de inventos tecnológicos ao ofício do historiador, como o gravador e o computador, por exemplo. A história oral passou a ser utilizada para informar sobre a existência do documento tradicional ou modificar sua leitura. Thompson vinculou a valorização das fontes orais à ascensão ao poder de grupos ou classes sociais sem uma história escrita, além da necessidade que sentiram alguns historiadores de registrarem lutas clandestinas de grupos que não documentaram suas ações, como perseguidos políticos, por exemplo (LOURO, 1990).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
0
frequentaram instituições privadas e tradicionais da cidade, como vemos nesse excerto
de entrevista31:
Tinha aquela história, era quatro, três pagava, uma não pagava e mamãe foi trabalhando e pagando nosso estudo. Então nós estudamos a vida inteira em escola particular que era o Santa Tereza, uma escola de freira. (...) Fiquei um ano no Marden, mas eu não me adaptei com a escola, aí fui lá pro Machado de Assis. Aí lá eu fiz o segundo grau. (...) (Entrevista C, março/2010)
Essa família veio em condição bastante diferenciada da maioria dos migrantes,
pois era uma exceção. Na fala da maioria das entrevistadas, ao chegarem à região do
pontal, viviam em situações muito difíceis e precárias, suas casas eram de pau-a-pique e
o piso de terra batida.
A minha casa era de terra, chão batido. O fogão era de barro. A casa era de chão e as paredes era de pau. Não era de taboa não. Era de pau, pau mesmo. Pau enfiado no chão. (...) E a nossa casa, o chão, era aguado, nós aguava quase todo dia pra ficar bem... Não tinha uma terrinha. Era chão batidim, batidim, batidim, que a gente podia andar até descalço. (Entrevista F, abril/2010)32
Em alguns casos era pior a situação, como vimos no relato do pai de uma das
entrevistadas. Por ter ficado presente em alguns momentos da entrevista, ele pode narrar
como foi a sua chegada com a família. Fez isso de forma que deixou claro como lhe
doía ver a que circunstâncias estavam submetidas sua esposa e seus filhos: “Chegou na
fazenda, abriram as porteira e vocês entraram e foi lá pra dentro do currá...” (Entrevista
E, abril/2010) Ao rememorar o fato, ele vê apenas a sua família entrando no curral. É
como se ele não estivesse presente, pois o pior era ver os seus familiares em tal
31 Essa família constituiu-se em exceção, pois nesse primeiro momento, grande parte dos migrantes viviam nas fazendas, ir a cidade fazia parte do seu lazer: “Depois de um certo tempo, quando as famílias nordestinas já estavam mais habituadas à vida na região, em muitas fazendas criou-se o hábito de ir à cidade aos sábados fazer compras. (...) a oportunidade para ir à cidade acabava se transformando num passeio.” (SILVA, 1997, p.95) E ainda: “O trabalhador nordestino, quando recebia seu salário e quando tinha a chance de ir à cidade, realizava o seu sonho de consumo.” (SILVA, 1997, p.31) 32 Essa é uma das depoentes que desde muito pequena precisou enfrentar trabalho pesado para colaborar com a manutenção da família. Apesar disso, sempre estudou e terminou a graduação. Hoje está aposentada da profissão de professora de matemática: “Quando eu comecei a trabalhar eu tinha sete anos. (...)eu era menina, mas como eu era muito ativa, era eu e meu irmão. (...)Nós levantava de quatro horas, ia na carreira pros cavalos. Punha os cavalos pra dentro, tratava dos porcos, ia buscar água. Por quê? Porque a cisterna, a água fica barrenta e secava. Aí nós... Nossa casa era a primeira a ser abastecida. Quando era cinco e meia, nós já tava tudo com os latão, tudo que nós tinha, cheio d’agua, que era pra poder nós... Aí depois dessa hora, nós ia trabalhar, ajudar, puxar cavalo, pra levar a comida na roça. As bacia de comida... Punha as rodias, que a gente fazia de pano. (...) Nós levava as comida e vinha na carreira pra nós almoçar, tomar banho e ir pra escola. Porque três horas nós tinha que sair da escola e levar a janta. Tá bom? E ainda pra chegar e ser xingado de nortista, ser achincalhado?” (Entrevista F, abril/2010)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
1
condição. Portanto, para essas famílias a condição social jamais permitiria que
colocassem suas filhas em escolas particulares. O acesso a escola se dava nas próprias
fazendas em situação também precária, em salas multi-seriadas, sem infra-estrutura
alguma. Em um dos depoimentos, a colaboradora assim descreveu a escola da fazenda
em que estudou:
E era uma escola só, uma professora só. E a professora..., que a professora era prima do papai. Então, foi essa a escola. E lá... E Lúcia foi pequenininha. Lúcia não tinha idade, mas ela queria tanto ir, que ela... que a professora falou: Não, deixa ela ir. (...) Ia a pé. Ia a pé. Às vezes, depois de bicicleta. De a pé enfrentando as vacas no meio do... da estrada que tinha vaca. (...) Uma professora pra quarenta alunos, por aí assim. Eram poucos os migrantes. Era mais já, os que eram daqui mesmo. Poucos os migrantes. (Entrevista A, fevereiro/2010)
Em outro depoimento, a colaboradora falou das dificuldades de educação na
zona rural: “Porque nessa época não tinha escola nas fazendas. Ih, era a coisa mais
difícil do mundo escola em fazenda. Só esse povo que podia mesmo é que vinha pra
cidade estudar, né. Quem os pais sabia, ensinava em casa, mas meus pais também não
sabia.” Ela só estudaria quando se transferiu para a cidade, em escola particular
chamada Santa Terezinha (foto abaixo) que era improvisada em uma casa, mas pelos
custos da educação só se manteve na escola por um ano, essa instituição se localizava:
“Na Vinte, na esquina da Dezenove. Hoje ta... desmancharam a casa lá. Tinha quintal,
tinha um pátio de brincar, tudo. (...) Ah, eu fiz só o quarto ano e mais nada” (Entrevista
B, fevereiro/2010)
Fonte: Acervo particular depoente B (com o uniforme escolar e a direita na foto).
Apesar de algumas famílias terem condições de inserir suas filhas nas
instituições particulares da cidade a permanência delas não era tranqüila, e as
referências a discriminação e a punição “do diferente” surgem em todas as falas:
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
2
Não, pra você ter uma idéia, não tinha um dia que a Irmã Letícia não me botava de castigo e não me chamava pra ir lá na frente. Ela pegava... Eu já ia andando pra frente. É eu que ela vai chamar. E era. Nossa! Eu era muito levada. Entrava na clausura da freiras pra ver as freiras sem aquele véu. Entrava no confessionário. Nossa, eu fazia miséria naquele Santa Tereza. Descia aqueles escorregador das escadas, sabe assim. Correndo, assim, escorregando. Subia nas árvores, nas últimas árvores. Subia em cima da mesa de pingue-pongue. (Entrevista C, março/2010)
Os conflitos não ficavam apenas no campo da discriminação, mas chegavam aos
embates físicos: “Tanto que uma vez, eu não sei o que aconteceu, eu dei uma briga na
escola, eu bati em seis menina lá. Eu rodava minha lancheirinha e: _Vem, vem, vem,
vem! E o povo vinha e a lancheirinha batia.” (Entrevista C, março/2010) E outra
depoente que estudou em escola rural assim afirmou: “Eu era meia brava (risos).
Sempre pegava uma briga na escola (muitos risos). Eu era meia brava.” (Entrevista A,
fevereiro/2010) Esses trechos denotam que no novo universo (a escola) que se abriu a
alguns migrantes e seus filhos, teve início um comportamento local que instituiu o
outro, ou o diferente, como o “não é” ou aquele “que é”, negando ou afirmando a
alteridade ao atribuir-lhe valores negativos ou positivos quanto às suas características
regionais, físicas, e até mesmo emocionais (LÉVINAS, 1997). É fato que as irmãs da
depoente permaneceram na escola, porém, o preconceito em relação aos hábitos
nordestinos foi gradativamente instituído.33
Nesse sentido, observamos o preconceito a que eram vítimas, e que afetava não
só a interação professor-aluno34, mas também o comportamento dos colegas da escola.
A discriminação, muitas vezes com agressão física, levava as alunas a uma atitude
também violenta. Entretanto, esse comportamento era uma forma de estabelecer seu
espaço e de externar sua angustia frente a nova situação. Nesse depoimento podemos
33 O estranhamento aos migrantes sírio-libaneses aconteceu de outra forma: “No entanto foram recebidos e aceitos mais facilmente pela sociedade do que os nordestinos. Os Sírio-Libaneses eram comerciantes e empresários, que chegavam para movimentar o comércio da cidade, ao passo que os nordestinos traziam a mão-de-obra, o trabalho braçal, historicamente desvalorizado, na nossa cultura, e relegado a pessoas de condição inferior”. (SILVA, 1997, p.112) 34 Os professores discriminavam o aluno nordestino reproduzindo estereótipos negativos como o de povo violento. “Porque quando eu fiz a quarta série na fazenda com o professor José Gonçalves, ele tinha pavor de nordestino. (...) tinha tanto preconceito com nós quando fazia quarta série, que separava nós. Que falava: ‘Eu quero nortista tudo naquele canto! Que esse povo não presta! Tudo naquele canto! Que vão brigar e vão judiar!’ E punha nós tudo num canto. Nós sentado tudo num canto desconfiado com as cabeça baixa. Você acredita? (risos) Aí nós ficava lá por isso. Aí os menino saía pro recreio, depois que os menino saía é que nós saía., pra nós num brigar. É mole?” (Entrevista F, abril/2010)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
3
ver um pouco mais do estabelecimento dessa relação discriminatória em relação ao
comportamento cultural do migrante:
Mas porque que nós brigava? (...) era cada brigas horrorosas, de esquina, de correr, de tudo quanto era trem. Nós andava armado. Nós andava... Era uma gangue armada. (risos) Eu conto as arma que nós tinha. Nós tinha porrete, tudo escondido. Nós apanhava muito por causa da nossas violências. (...) Mas é porque? Porque nós chegava... Nós, naquela época, chamar de nortista era xingar... Era chegar e eles ficava: ‘nortista, não sei o que’... Aí nós falava: Deixa! Aí se fazia alguma coisa: ‘Foi aquela nortista! Foi as nortista!’ Tudo que acontecia nas escola, era os capeta do nortista! Aí os nortista era revoltado. (Entrevista F, abril/2010)
A formação social e histórica da identidade tem estreita relação com as
interações que acontecem em sala de aula (OLIVEIRA, 2007). Sendo assim, o
preconceito étnico que as migrantes eram acometidas influenciava em sua formação de
maneira determinante, como podemos ver nesse relato de uma depoente ao ser
perguntada sobre sua condição de nordestina:
Porque quando eu fiz a quarta série na fazenda com o professor José Gonçalves, ele tinha pavor de nordestino. (...)E aí depois que eu vim estudar, fazer a quinta série na cidade, eu tive um professor que se chamava Artur Machado Magnino. E um dia ele falou muito importante sobre o nordestino. Sobre as coisas... Aí aquilo me tocou. Aí eu comecei a tomar gosto pelo nordestino e fui incentivando outros nordestino e hoje o meu desgosto é não ter nascido lá. (...) Mas a gente, todos nós tinha muita vergonha de ser nordestino porque todo mundo falando, falando, falando, uai. Não é? Nós tinha vergonha mesmo, não é? (Entrevista F, abril/2010)
Os obstáculos para as migrantes se manterem nas escolas eram maiores em
função das dificuldades cotidianas decorrentes de sua condição social, mas acentuadas
pelas diferenças culturais. Nesse depoimento, a colaboradora que estudou em escola
pública estadual abordou alguns desses aspectos:
Então eu ficava puxando a água pra encher as vasilhas assim, até encher. Quando dava o sinal lá na escola é que eu saía correndo pra ir pra escola. Era desse jeito. Minha vida sempre foi sacrificada... desde pequena. (mostrou-se emocionada). (...) Assim, do Ensino Fundamental. Deu pra mim aprender a ler e a escrever. Sabe, assim muito mal, engolindo muitas letras, mas deu. Eu fiquei assim até os cinqüenta anos, quando eu resolvi estudar de novo. (Entrevista D, fevereiro/2010)
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
4
Em princípio, o que salta aos olhos neste estudo é o preconceito construído e
reproduzido pela comunidade em relação a população migrante, mas em especial a
mulher jovem nordestina que se inseria no espaço escolar. A cidade, arraigada às
tradições de seu povo, tem reforçado a valoração negativa atribuída às características da
alteridade: o nordestino. Tal atitude é demonstrada nas falas dos indivíduos, em
veículos de comunicação de massa, implicando na negação do diferente e, no mesmo
movimento, a afirmação da própria identidade como superior/dominante. Uma
população que padece de problemas comuns não se identifica entre seus membros,
tendo como barreira quase intransponível, o sotaque nordestino, supostamente
colocando os miseráveis mineiros em posição superior, relativamente aos miseráveis
nordestinos. Vimos por alguns depoimentos que nas escolas, esse encontro de culturas
gerou situações diversas e conflituosas frente à cultura migrante que portava a
expectativa de melhoria de vida na região imaginada como o “Eldorado”, terra da
fartura e abundância, mas que se torna realidade a partir da decisão de migrar.
Outro reflexo esperado junto ao grupo migrante trata-se de lutar contra uma
auto-identificação negativa, mudando os valores, transmudando as características ditas
vergonhosas em características que orgulham, promovendo o início do fim da dialética
do amo e do escravo, ao menos no que diz respeito ao preconceito frente aos
nordestinos, levando-os a definirem seus próprios valores sociais. A instituição de
novos valores como normas e novas figuras jurídicas que permitem mencionar e punir o
preconceito abrem o caminho para a expansão de uma nova realidade social. As
interdições lingüísticas no mundo escolar, especialmente no encontro de culturas
decorrente da migração, podem apagar a singularidade histórica, social, cultural e moral
dos indivíduos. Desse ponto de vista, é preciso avançar na garantia dos direitos de
grupos minoritários, reconhecendo-se o outro, o diferente não apenas como objeto, mas
como sujeito social. (GOFFMAN, 1998).35
No que diz respeito às condições sociais das mulheres migrantes, ficou claro que
além das dificuldades com a discriminação étnica, para prover a casa, os pais contavam
com a ajuda ativa das filhas. Apesar de uma vida sofrida, com muito trabalho na
fazenda, elas estudaram e algumas, mesmo com muitas forças contrárias, terminaram a
graduação. Nesse sentido, uma especificidade encontrada na pesquisa foi a observação
35 A generalização do ensino e sua organização mais democrática é uma forma de garantir o desenvolvimento da sociedade, o crescimento econômico, a evolução dos costumes, além de se construir nova cultura de participação política. Por isso mesmo, o esforço pela criação de uma nova cultura local, com apelo multiculturalista, dado as peculiaridades da constituição social da cidade (RIBEIRO, 1993).
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
5
de que, enquanto os meninos – filhos dos migrantes – deveriam colaborar com o
sustento da famílias o que dificultava sua permanência na escola e muitas vezes o
próprio acesso a cultura letrada, as filhas eram, na medida do possível, incentivadas a
iniciar e concluírem os seus estudos. Nesse depoimento fica claro que os meninos
precisavam trabalhar junto ao pai, precisando se afastar dos estudos.
Escola foi pouco, certo. (...) O pai não dava conta, chegou aqui, certo. E aquilo você vai crescendo, aí você vira rapazinho e não dá conta de estudar, que é preciso... aí eles precisa do seu serviço mesmo. Os próprio patrão não aceita você estudar muito, porque eles precisa do seu serviço. Se ocê for pra escola durante o ano, como é que faz? Aí não tem serviço. Aí você não estuda. (...) Eu estudei um tempo. Aí parava e ia trabalhar. (Entrevista G, abril/2010)
Do grupo de entrevistadas, três chegaram ao nível superior, uma concluiu o
ensino fundamental, e outras duas apenas o primeiro ciclo desse ensino (4a. série). É
possível apontar, a partir desses dados e também nos apoiando em Motta (2010), que há
uma ressignificação do “dote intelectual” no novo espaço (Pontal Mineiro), o qual
justifica o estímulo à entrada da filha mulher no âmbito escolar, invertendo as
estatísticas quando comparadas as do local de origem - o Nordeste do país, que nos anos
de 1950 e 60 tinha número elevado de mulheres fora da escola, superior ao da
população masculina. A expansão das escolas públicas na cidade nesse período, também
contribuiu para a escolarização dessas mulheres, mas acreditamos ser possível afirmar a
existência do dote como instrução (ABRANTES, 2010), ou seja, um mecanismo
encontrado pelas famílias migrantes, para ampliar as possibilidades de estabilidade
econômica no novo destino, porém, o acesso à escola pode ser visto também como uma
forma de “dotar” intelectualmente essas mulheres, contribuindo para sua emancipação.
Esperamos com esse projeto aprofundar os estudos acerca das diversidades
étnica, cultural e de gênero, no entanto, especificaremos a análise nas relações que
dizem respeito a esse último aspecto. Assim, buscaremos compreender as diferenças nas
relações de escolaridade entre as filhas e os filhos dos migrantes que vieram para a
região do pontal mineiro, percebendo as desigualdades no pensamento das famílias
migrantes ao proporcionar oportunidades de educação escolar para filhos e filhas. Dessa
forma, responder essas questões na realidade atual em que novos fluxos migratórios de
pessoas vindas do Nordeste chegam à cidade.
Segundo Carneiro (2002) “A emergência desses novos atores decorre da
insuficiência da perspectiva universalista para contemplar as diferentes identidades
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
6
sociais e realizar um dos fundamentos da democracia, que é o princípio de igualdade
para todos”. Dessa forma, percebe-se uma necessidade premente de dar voz às minorias
que durante muito tempo ficaram silenciadas nas instituições oficiais e nos estudos e
pesquisas da História e História da Educação e de outras ciências humanas. Quando nos
reportamos à categoria de análise gênero, percebemos que existe uma educação para
meninos e uma para meninas. É nesse sentido que precisamos voltar as investigações
transformando estigmas negativos, por meio da ciência.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABRANTES, Elizabeth Souza. O dote é a moça educada: mulher, dote e instrução em São Luis na Primeira República. Niterói: Tese apresentada no Programa de Pós-Graduação na UFF, 2010 .
BENEVIDES, M. V. M. O governo Kubitschek: desenvolvimento econômico e estabilidade política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. BURKE, Peter. A violência das mínimas diferenças. Folha de S.Paulo, 21 maio 2000. Caderno Mais!, p. 25. CARNEIRO, Sueli. Por um multiculturalismo democrático. TV Brasil, 2002. Programa Salto para o Futuro. CHARTIER, Roger A história cultural: entre práticas e representações. Trad.Maria M.de Galhardo, Lisboa: Difel (85), Rio: Bertrand Brasil, 1990. CORTEZ, Carmen D.C. Ituiutaba Conta a sua História. Ituiutaba, EGIL, 2001. DEMARTINI, Z.de B. F. Pesquisa histórico-sociológica, imigração e educação: as fontes e sua análise. Anais VII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, Porto, 2008. DUSSEL, Enrique. 1492 o encobrimento do outro: a origem do “mito da modernidade”. Petrópolis: Vozes, 1993. GERMANO, José W. Estado Militar e Educação no Brasil (1964-1985). São Paulo: Cortez, 1993. GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. KREUTZ, L. Identidade Étnica e Processo Escolar. Anais XXII ANPOCS, Caxambu, 1998. LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 1997.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
7
LOURO, Guacira L.- “A História (oral) da Educação: Algumas Reflexões” in Revista Em Aberto - “Ensino de História” - ano IX, no.47, 1990. MOTTA, Diomar das Graças. Ingresso de Mulheres no Magistério Maranhense: Dote Ressignificado. Anais VIII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, São Luís, 2010. OLIVEIRA, L.H.M.M. História e Memória Educacional: o papel do colégio Santa Teresa no processo escolar de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro-MG (1939-1942). Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Uberlândia, 2003. OLIVEIRA, I. M. de. Preconceito e Autoconceito: identidade e interação na sala de aula. Campinas-SP: Papirus, 2007. RIBEIRO, Paulo R. M. “História da Educação Escolar no Brasil: Notas para uma Reflexão” in Revista Paidéia- Cadernos de Educação. USP, no.4, 1993. SANTOS, Boaventura de Souza. Uma concepção multicultural dos direitos humanos. Lua Nova, n. 39, 1997. SILVA, Dalva M.de O. Memória: Lembrança e Esquecimento. Trabalhadores Nordestinos no Pontal do Triângulo Mineiro (Décadas de 1950 e 1960). Dissertação de Mestrado: PUC-SP. 1997. SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Editora Vozes, 2000. SIMÕES, Renata Duarte. Gênero, Educação e Educação Física: um olhar sobre a produção teórica brasileira. 29ª Reunião Anual da Anped. GT23. Caxambu-MG, 2006. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT23-2377--Int.pdf>. FONTES
• ENTREVISTAS: ���� A – migrou em 1952, vindo de Caicó-RN, era criança; ���� B – migrou em 1944, vindo de Santana de Matos-RN; ���� C – migrou em 1950, vindo de São Vicente-RN na primeira infância. ���� D – filha de migrantes que vieram nos anos de 1950. ���� E – migrou em 1953, vinda de Florânia-RN. ���� F – filha de migrantes que vieram nos anos de 1954. ���� G – menino quando migrou em 1958, vindo de Cabeçudo na Paraíba.
• JORNAIS/REVSITAS: Consulta as Coleções dos seguintes jornais: “Folha de Ituiutaba”, “Gazeta de Ituiutaba”, “Correio do Pontal”, “Correio do Triângulo”, “Cidade de Ituiutaba” e “Município de Ituiutaba”, constantes do acervo da Fundação Cultural de Ituiutaba. Revista O Centenário de Ituiutaba, 2001.
• SUPERINTÊNCIA REGIONAL DE ENSINO: Consulta aos arquivos oficiais e estatísticas educacionais do município.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
8
• INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA: Recenseamentos de 1940, 1950, 1960 e 1970.
O MOVIMENTO NEGRO E SUA RELAÇÃO COM A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Emilia Prado de Urzedo-UFU [email protected]
Isaura Melo Franco-UFU [email protected]
Helena Maria da Silva Aguiar-UFU [email protected]
Angela Silva de Oliveira-UFU
INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta como objetivo identificar a relação do movimento
negro com a educação, na perspectiva de valorização da diversidade étnica/racial na
escola.
Dessa forma, apresentaremos: a abordagem teórica que discute os aspectos
referentes ao movimento negro e a Educação anti-racista; os caminhos abertos pela Lei
Federal nº. 10. 639/03; o exemplo do movimento negro de Ituiutaba-MG por meio de
um projeto de inclusão da diversidade étnica/cultural em uma escola pública, e por fim
nossas considerações sobre a prática da inclusão da diversidade étnica/ racial na escola.
Partimos do entendimento, de que o momento atual da educação precisa ser
repensado, e que o educador deve reconhecer seu verdadeiro papel de atuação na
sociedade. O qual deve realizar seu trabalho considerando a amplitude da organização
social, em uma dimensão crítico-transformadora da sociedade, que vai contra qualquer
tipo de exclusão e a favor da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, sem
nenhuma distinção.
Nessa perspectiva, utilizaremos referencial teórico que envolva a antropologia e
a educação. Considerando o fato de que a Antropologia, por se tratar de uma ciência
capaz de superar o etnocentrismo, se torna fundamental para que a educação estabeleça
as bases necessárias para o conhecimento, rompendo assim com o modelo tradicional
escolar homogeneizador para uma lógica que saiba reconhecer e valorizar as diferenças,
neste caso a étnica/racial.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
32
9
BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO NEGRO NA EDUCAÇÃO
Nas primeiras décadas do século passado, já existiam no Brasil associações
negras que desenvolviam atividades educacionais, como a Frente Negra Brasileira, que
é uma movimentação ideológica da comunidade negra paulista, que ofereceu um curso
primário regular na década de 1930, para suprir a demanda que a escola oficial não
propiciava.
Com o passar do tempo, nas décadas de 70 e 80, as lideranças negras se
empenharam para que a escola reveja seu currículo, tratando da participação do negro
na historia e da importância das raízes culturais africanas no Brasil, assim como é
explicitado a seguir:
Se antes o negro almejava simplesmente se educar, paulatinamente ele passa também a reivindicar do sistema educacional formal e da sociedade brasileira o reconhecimento da sua cultura, do seu modo de ser e da sua história. (PINTO, 1993, p.28)
Dentre as principais reivindicações no campo da educação provenientes do
movimento negro, de acordo com Lima (2007) podemos destacar: a Pedagogia
Interétnica de Salvador, que surgiu em 1978 de uma pesquisa sobre as relações raciais,
realizada pelo Núcleo Cultural Afro-Brasileiro de Salvador em colaboração com os
estudantes de Ciências Sociais da Universidade da Bahia, com o objetivo da valorização
do homem independente de sua origem étnica, e que em 1993, por meio de um projeto
de lei passou a ser instituída nas escolas da rede municipal de Salvador, como uma
proposta de combate ao racismo no espaço escolar; a Pedagogia Multirracial, que
aconteceu no Rio de Janeiro em 1986, tendo como princípio o reconhecimento e a
valorização das diferenças na escola; e a Pedagogia Multirracial e Popular do Núcleo de
Estudos Negros, de Santa Catarina em 2001 que, se baseava nas concepções
apresentadas pela proposta do Rio de Janeiro, incluindo as práticas educativas que se
desenvolvem além da escola como os movimentos sociais.
Nesse sentido, percebemos o esforço do movimento negro para o fortalecimento
de sua identidade étnica, como forma de expressarem suas reivindicações perante a
sociedade.
EDUCAÇÃO ANTI-RACISTA NA ATUAL SOCIEDADE BRASILEIRA
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
0
Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003
É necessário compreendermos que a luta dos negros por seu espaço na sociedade
brasileira, assim como a sua história e cultura, sempre foram constantes e ainda são. O
movimento negro trava uma luta inflexível contra preconceitos enraizados em nossa
cultura procurando eliminar a discriminação racial. Uma de suas conquistas foi a
consolidação da lei 10.639/03 sancionada em 09 de janeiro de 2003 decretada pelo
Congresso Nacional Brasileiro e sancionada pelo Presidente da República Luis Inácio
Lula da Silva. Alterando a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
incluindo no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História
e Cultura Afro-Brasileira”, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
oficiais e particulares.
A lei baseia-se em princípios que buscam uma educação aberta à diversidade,
atenta as desigualdades e disposta a contribuir com um processo de mudança de valores
e concepções a cerca da cidadania.
Propõe-se que seja incluído no currículo escolar temas com o estudo da história
da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o
negro na formação nacional. Com o objetivo de resgatar a verdadeira contribuição dos
negros na historia econômica, social e política do Brasil.
Em seu "Art. 79 -B. inclui ao calendário escolar o 'Dia Nacional da Consciência
Negra' no dia 20 de novembro.
É importante ressaltar que a o texto da Lei não garante efetiva concretização de
mudança no processo de exclusão das desigualdades e muito menos resolve sozinha os
problemas causados pela longa historia de negação e descriminação que os negros
sofreram e ainda sofrem. Ela é um avanço significativo porem é preciso avançar na lei.
Entendendo que não é só responsabilidade do movimento negro a discussão da
questão racial, mas da escola enquanto instituição social responsável por assegurar o
direito da educação a todo e qualquer cidadão devendo se posicionar politicamente
contra toda e qualquer forma de discriminação. A lei abre caminho para vários
questionamentos que deve permear o cotidiano da escola, um bom exemplo disso é a
questão do material didático que é escasso e na maioria das vezes inadequado.
PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO ANTI-RACISTA
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
1
Devido a valiosa contribuição que os negros trouxeram para a construção da
riqueza cultural deste país e também que, segundo dados do IBGE (1999), o Brasil é o
segundo país em população negra fora da África, que pretos e pardos representam 45%
da população brasileira, é que devemos tratar das questões da educação e do currículo
envolvendo os afro-descendentes. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço
da marginalização e da desigualdade impostas a outros. Já há algum tempo, diversos
pesquisadores vêm demonstrando o quadro de desigualdades raciais na educação
brasileira.
Rosemberg (1987), ao analisar relações raciais e rendimento escolar no Estado
de São Paulo, afirma que, crianças negras, diante do sistema escolar, apresentam uma
trajetória mais difícil que aquela a que está submetida a criança branca. As taxas de
repetência e de exclusão escolar estão diretamente relacionadas com a questão das
desigualdades raciais na sociedade, assim como no sistema de ensino.
Dessa forma, a escola ao apoiar o mito da democracia racial, (que apregoa a
ausência do preconceito e da discriminação) e a ascensão das mesmas possibilidades de
igualdade econômica e social entre brancos e negros acaba negando a história e a
cultura afro-brasileira e africana.
Segundo Santos (2009) a atual formação de professores não favorece a inclusão
no currículo dos conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira exigidos pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ocasionando o despreparo do profissional
docente para trabalhar com a diversidade étnica e cultural existente na sociedade
brasileira.
A negação da identidade negra e o fracasso escolar vêm sendo decorrentes do
racismo, entendido como preconceito racial, e o não respeito à diversidade presentes nas
instituições de ensino, nos livros didáticos e nas práticas pedagógicas.
O livro didático utilizado nas escolas, quando se refere ao negro, só o faz de
maneira estereotipada ou da época da escravidão, colocando-os sempre no passado,
inferiorizando o negro de maneira diversa como: pobre, sujo e feio. Por ser muitas vezes
o único meio de leitura dos estudantes, estes acabam internalizando a imagem negativa
dos livros didáticos e se envergonhado de sua origem étnica.
Está idéia negativa que foi criada sobre o negro na mídia e em grupos sociais
acaba dificultando a pessoa negra de assumir sua identidade étnica.
Considerando o fato de que a educação ocorre através das relações pessoais, e
que tem grande influência na sociedade e é a partir dela que se constroem crenças e
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
2
idéias, como mostra o estudo de Gomes (2002), em que a trajetória escolar aparece
como um importante espaço na construção da identidade negra, reforçando estereótipos
negativos de seu padrão estético e segmento étnico. Faz-se necessário uma prática
pedagógica que contribua para a construção de uma verdadeira identidade étnica,
valorizando a história e a cultura afro-brasileira, por meio da união de toda a
comunidade escolar em um espaço de respeito às diferenças.
Nessa perspectiva, devemos estar atentos ao fato de que a exposição pura e
simples da diversidade cultural e a celebração da diferença no campo educacional não
aprofundam a discussão do racismo e não problematizam os conflitos e as contradições
das relações étnico-raciais existentes, como é afirmado a seguir:
Mas se a ênfase na discussão da cultura no campo educacional se restringir ao simples elogio às diferenças ou ficar reduzida aos estudos do campo do currículo e da cultura escolar, corremos o risco de não explorar toda a riqueza que tal inflexão pode nos trazer. (GOMES, 2003, p.75)
Com isso percebemos a necessidade de recriação do modelo educativo escolar,
de forma que tenha como eixo norteador o ensino para todos, sem nenhum tipo de
exclusão. Assim de acordo com Mantoan (2003), deve haver uma reorganização
pedagógica das escolas, em uma lógica que o professor não procure eliminar as
diferenças em favor de uma suposta igualdade dos alunos, mas que garanta a todos os
alunos tempo e liberdade para aprender, em espaços de cooperação, diálogo,
solidariedade e criatividade, exercitando o espírito crítico de cada educando, necessário
para a construção de uma verdadeira cidadania.
PROGRAMA DE INCLUSÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICA/CULTURAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA
EM ITUIUTABA-MG Por desenvolver trabalhos significativos na área da educação escolar e em
Ituiutaba e por ser um dos segmentos do movimento negro em Ituiutaba, foi escolhido o
Programa Entre na Roda, que representa o que vem sendo feito na questão étnico racial
na cidade.
Apresentaremos a seguir as principais características e objetivos do programa, de
acordo com a realização de entrevista semi-estruturada a até então, coordenadora do
mesmo.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
3
O programa surgiu com bases legais na lei 10.639/2003. E foi fundado em 2008
por pessoas ligadas à causa afro-descendente em Ituiutaba. É uma associação sem fins
lucrativos que volta suas ações para o desenvolvimento e o resgate da cultura africana
na escola, por meio de atividades de dança, capoeira e congado desenvolvidas com
cerca de 20% das crianças alunas da Escola Municipal Aureliano Joaquim da Silva –
CAIC, localizada na periferia do município.
Inicialmente o Entre na Roda, era um projeto. Mas se tornou um programa
por agregar atividades diversas de inclusão da cultura africana na escola, como os
mini projetos: “Filhos da Luz”, de congada; “Ngolo” que é de capoeira angola; e o
“Corpo Negro” de dança afro.
Dessa forma, apresenta como foco central a questão da educação étnico-
racial, tratando da questão das africanidades na sala de aula, trabalhando com o
resgate da identidade negra, a formação da história do negro no Brasil e o movimento
de resistência do negro no Brasil.
O programa “Entre na Roda” recebe verbas da Prefeitura Municipal de Ituiutaba.
Mas como, segundo a coordenadora do projeto, os recursos financeiros das políticas
públicas não são suficientes, ele realiza parcerias com empresas privadas e com projetos
de extensão da Universidade Federal de Uberlândia, Campus do Pontal para a
arrecadação de verbas.
O público-alvo do projeto são as crianças da escola, que não necessariamente
são moradoras do bairro. E nos finais de semana a escola é aberta para toda a
comunidade tanto para crianças e adolescentes, quanto para adultos.
Existe um acompanhamento em relação a presença das crianças no projeto, para
que não ocorra desvios desses alunos para a rua.
Segundo a coordenadora, o principal objetivo do programa é a sua ação sócio-
educativa desenvolvida, ao manter a criança na escola propiciando uma formação para a
cidadania. Contribuindo assim para a formação da identidade das crianças negras e para
a conscientização do respeito racial para as crianças brancas, por meio da
implementação da lei nº 10.639/ 2003, trabalhando com o conhecimento e a valorização
da cultura africana.
Neste programa acontece o resgate da cultura africana por meio da teoria e da
prática. Visto que, a teoria busca a questão da história da África, onde eles estudam o
mapa por exemplo, e a prática através da realização das atividades de danças, congado e
capoeira.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
4
De acordo com a avaliação parcial deste programa, apontada pela coordenadora,
percebe-se um avanço significativo da disciplina na sala de aula e da aprendizagem das
crianças participantes. Pois segundo a mesma, durante as atividades de dança, capoeira
e congado os alunos desenvolvem habilidades e competências, que funcionam como
pré-requisitos para a aprendizagem dos conteúdos escolares.
No inicio houve preconceito dos pais em relação às atividades realizadas pelas
crianças, mas hoje no ano de 2010, o programa estabelece uma relação dinâmica com a
comunidade. Ocorre o envolvimento e a participação dos pais nas atividades e a
divulgação deste para fora dos muros da escola e do bairro. Dessa forma, acontece a
realização de apresentações culturais das crianças em outros espaços como: nas praças,
em eventos culturais, na prefeitura, na Universidade, e até mesmo em outras cidades.
Com este, percebemos sua fundamental importância em contribuir para a
afirmação da identidade cultural afro descendente, melhorando conseqüentemente a
auto-estima dos alunos envolvidos, através da conscientização da importância da
história e da cultura africana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da necessidade de entendermos as questões em torno de identidade e
apesar da vulnerabilidade nesse território, afirmamos que, no que se refere às questões
raciais e às questões de desigualdade a que estão submetidos os negros no Brasil, ainda
é fundamental afirmarmos uma identidade negra. Assim temos o grande desafio de
transitar entre as capturas em torno dos espaços escolares e a processualidade e
multiplicidade em torno das diferenças.
Nesse sentido, a escola enquanto instituição social deve ser responsável pela
transmissão e socialização dos conhecimentos da cultura. Sendo tarefa dessas
instituições escolares o entendimento do conjunto de representações existentes sobre o
negro na sociedade brasileira, dando ênfase às representações positivas construídas
pelos movimentos negros e pela comunidade negra existente em nosso país.
Implica também na construção de práticas pedagógicas que se aderem ao
movimento de combate contra o rompimento da discriminação racial. Visto que
trabalhar com a cultura negra na educação é considerar a consciência cultural do povo
negro e contribuir para a construção de sua identidade.
Nesse sentido, é importante que as reivindicações do movimento negro sobre a
educação, não sejam consideradas apenas como reforço da identidade do negro na
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
5
sociedade brasileira, mas que propiciem uma conscientização política e pedagógica
sobre a necessária garantia de uma educação de qualidade, que proporcione igualdades
de oportunidades ao aluno negro.
Assim, a educação numa perspectiva anti-racista deve ser criadora e privilegiar
a realidade vivida pelos alunos, a história de vida do sujeito em suas relações com o
meio, de forma que relacione as trajetórias escolares com o processo de construção
identitária do negro.
Dessa forma acreditamos numa educação que busque o encontro com a
alteridade, (com a prática de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal), de
forma que as diferenças possam ser reconhecidas e valorizadas, em uma perspectiva
dialógica e intercultural e que aponte para o transcultural.
REFERÊNCIAS:
GOMES, Nilma Lino. Cultura negra e educação. Revista Brasileira de Educação, 2003. Disponível em :< http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbedu/n23/n23a05.pdf>. Acessado em 08/06/2010. GOMES, Nilma Lino. Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de estereótipos ou ressignificação cultural? Revista Brasileira de Educação, set-dez n.02. Associação Nacional de pós graduação e pesquisa em Educação. São Paulo, Brasil, 2002. Disponível em:<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/275/27502104.pdf. http://portaldaculturanegra.wordpress.com/2009/09/21/a-frente-negra-brasileira/ Acessado em 10/06/2010. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. PINTO, Regina Pahim. Movimento negro e educação do negro: a ênfase na identidade. Cad. Pesq., São Paulo, n. 86, p.25-38, ago. 1993.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
6
EIXO 6
Pensamento Educacional
ANTROPOLOGIA CULTURAL: RESSIGNIFICANDO O OLHAR SOBRE AS NECESSIDADES ESPECIAIS
Dulcinéia Gabriela Medeiros Santos
[email protected] Leila aparecida Azevedo Silva
[email protected] Lázara Abadia da Silva Maia de Menezes
[email protected] Valéria Aparecida de Lima
O presente texto tem como objetivo refletir sobre como as pessoas com
necessidades especiais são vistas e aceitas na sociedade e no campo educacional ao
longo da história. Dessa forma tivemos um conhecimento mais real, que nos levou a
construirmos práticas educativas, desprovidas da negação de tais sujeitos e subsidiadas
do entendimento de que os mesmos têm o direito de serem compreendidos com suas
diferenças, sem que essas sejam utilizadas para discriminá-los ou inferiorizá-los. Este
trabalho surgiu como requisito avaliativo da disciplina Antropologia Cultural com o
intuito de ampliarmos conhecimentos na área da educação; abordaremos o tema
Necessidades Especiais como um novo paradigma educacional, legalmente amparado
pela Lei nº 9394/96, a qual delega à família, à escola e à sociedade o compromisso para
a efetivação de uma proposta de uma escola inclusiva para todos.
O trabalho discorre, sobre a história do sujeito com necessidades especiais, desde
a idade antiga, como ele era, e é visto até hoje, desde as nomenclaturas que foram
usadas para designá-los, a aceitação ou não do mesmo no campo educacional, o papel
do professor diante do aluno com necessidade especial e por último o trabalho
enfatizará a contribuição da Antropologia nessa perspectiva inclusiva. A história revela
para a humanidade o caminho da exclusão social e humana do homem. Se, no passado,
o indivíduo com algum comprometimento era banido da sociedade através da morte,
hoje, este tipo de eliminação não é mais praticado, porém uma exclusão sutil acontece
através das instituições de ensino. Antes os asilos e os manicômios foram criados com
este objetivo: segregar o "diferente" da sociedade. "Enquanto a pessoa está adequada às
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
7
normas, no anonimato, ela é socialmente aceita. Basta, no entanto, que ela cometa
qualquer infração ou adquira qualquer traço de anormalidade para que seja denunciada
como desviante". (MARQUES in MANTOAN,1997, p.20).
Desde a idade antiga já existia preconceito com os diferentes, principalmente com
os deficientes mentais. Os Espartanos cultuavam o corpo e achava certo o extermínio de
pessoas que não eram normais, eram intolerantes com esses e exigiam dos pais que
matassem seus próprios filhos que tivessem alguma anormalidade. Com o cristianismo
essas práticas foram sendo abandonadas em favor da caridade, e por serem reconhecidos
também como filhos de Deus. No entanto diante do livro de Levítico (Bíblia Sagrada)
entendia-se que não era permitida a entrada de pessoas deficientes nos lugares sagrados
(igrejas) e nem a oferta de animais deformados. Então o deficiente era visto como se ele
fosse assim por vontade de Deus, para reparar os pecados da sua família, de seus
antepassados, isso gera um novo tipo de rejeição, onde os mesmos acabam ficando
isolados, segregados.
Assim a família ficava livre de ser apontada como pecadora. A igreja católica na
época da inquisição foi responsável por varias mortes destes que não tendo o uso da
razão eram considerados endemoniados, portanto era justificável a morte deles. Até
mesmo os protestantes deixaram marcas ligadas a esses atos de crueldade, quando
caçavam as bruxas endemoniadas e defendia o castigo pra quem é presa do satanás, e os
doentes mentais eram incluídos nesta categoria. Então ficamos nos perguntando: Qual é
o termo correto - portador de deficiência, pessoa portadora de deficiência, pessoas com
necessidades especiais?
Responder esta pergunta não é tão simples como pode parecer; poderíamos
simplesmente escolher a que para nós soasse melhor, e pronto; mas não é assim, uma
vez que a cada época são utilizados termos cujo significado seja compatível com os
valores vigentes em cada sociedade, enquanto esta evolui em seu relacionamento com
as pessoas que possuem este ou aquele tipo de deficiência; vejamos alguns conceitos e
seus significados e valores sociais. No dizer de Sassaki (1997) no começo da história os
mesmos eram mencionados como “os inválidos”, que subentende-se “individuo sem
valor”. Já no século XX, por volta de 1960, eram classificados como “indivíduos sem
capacidade”, por ser considerados incapazes de fazer coisa alguma. De 1960 a 1980, os
mesmos eram considerados “defeituosos/ deficientes/ excepcionais”, já que os
“defeituosos” significavam que tinham defeitos físicos, os “deficientes” tinham
deficiência auditiva, visual ou múltipla, que não impede de executar as funções básicas
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
8
(andar, correr, sentar, etc.), os “excepcionais” significavam indivíduos com doenças
mentais. Em meados de 1981 até 1987, passou a substituir “indivíduos” por “pessoas”
para se referir as pessoas com deficiência. De 1988 a 1993, acrescentaram-se a palavra
“portadora”, já que ela portava uma deficiência, no ano de 1990, foi substituída
“deficiência” por “necessidades especiais” por isso a expressão “portadores de
necessidades especiais”, na mesma época surge o termo “pessoas especiais”, com
intenção de amenizar a palavra “deficiente”.
Uma pessoa não porta sua deficiência; ela tem uma deficiência. Uma pessoa só
porta algo que ela possa não portar, deliberada ou casualmente; por exemplo, uma
pessoa pode, por exemplo, portar um celular, se houver necessidade, e deixá-lo em
algum lugar, por esquecimento ou se assim decidir; não se pode fazer isto com uma
deficiência dos avanços mais significativos nesses termos, foi o entendimento de quê
não podemos nos referir a tais pessoas como portadoras de deficiências; a condição de
ter uma deficiência faz parte da pessoa. Por isso o termo reintegração já traz implícita a
idéia da desintegração. "Só é possível reintegrar alguém que foi desintegrado do
contexto social e está sendo novamente integrado" (MARQUES in MANTOAN, 1997,
p.20). Considerando que a diferença é inerente ao ser humano, e reconhecendo a
diversidade como algo natural, em que cada ser pode usar de seus direitos coletivos na
sociedade, um novo conceito surge, denominado Inclusão. "Este é o termo que se
encontrou para definir uma sociedade que considera todos os seus membros como
cidadãos legítimos" (MADER in MANTOAN, 1997, p 47). "Conceitua-se a inclusão
social como o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus
sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se
preparam para assumir seus papéis na sociedade" (SASSAKI, 1997, p. 41). Assim, a
pessoa com necessidades especiais deve encontrar, na sociedade, caminho propício para
o seu desenvolvimento através de sua educação e qualificação para o trabalho. Estando
ele já inserido no processo, a sociedade se adapta as suas limitações.
COMO É ENTENDIDA A PRESENÇA DE PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Esse tema tem despertado no meio educacional angustia e entusiasmo que se
caracterizou por ser excludente e segregatório, para agregar necessidades educacionais
de todos, inclusive à dos alunos com necessidades especiais que exige um complexo
processo de mudança, mudança de paradigma, isto provoca nas pessoas reações como
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
33
9
ansiedade, medo, rejeição, resistência, interesse, entusiasmo. Geralmente no começo as
pessoas mudam o discurso para o politicamente correto, mais não muda a ação, o padrão
de comportamento continua o mesmo. Para Saviani (1991), a função da escola é
estender, a todos os seus alunos, o conhecimento elaborado e sistematizado,
fundamental para que as pessoas tenham maior liberdade de ação pela assimilação e
internalização do conhecimento, a partir do processo decisivo e de aprendizagem. E
ainda Mello (1997), acrescenta que cabe a escola a função de estabelecer padrões de
convivência social.
Em meados de 1960 aparece a expressão “portador de necessidades educacionais
especiais” e somente publicado em 1978, modificou a estrutura educacional
reformulando os currículos e cursos de formação. Como nos salienta Silva (1999) [...] as
teorias críticas da educação apontam que a cada modelo de ser humano e de sociedade,
corresponderá um tipo de conhecimento a ser transmitido, um tipo de currículo.
Mencionando o que os alunos devem saber? Isto é, qual o conhecimento que é
importante ou válido para integrar o currículo? Revela que o currículo é o resultado de
uma seleção de conteúdos e visa modificar as pessoas as quais é proposto.
Portanto o aluno portador de necessidades educacionais especiais é aquele que
precisa de um acompanhamento pedagógico mais individualizado, a partir daí mudou-se
o olhar na questão da deficiência com isso a escola era responsável em oferecer uma
resposta para as especificidades de cada aluno. Assim o sujeito portador de necessidades
educativas especiais possui carências básicas como qualquer outro. Como já foi dito,
pensamos que quem porta carrega alguma coisa, seria o portador de necessidade
especial aquele que carrega consigo a sua deficiência? Para nós essa nomenclatura
inferioriza e ridiculariza a pessoa com necessidade especial. A posteriori as instituições
de ensino se empenharam em facilitar o acesso reabilitando o individuo tornando-o
normal.
Para Foucalt (2001) “norma é um mecanismo de disciplina legitimado por
determinado poder”. Quem não obedece é penalizado, sendo que a principal função das
normas não é excluir e sim a idéia de positividade. Os sistemas escolares juntamente
com a educação especial por um longo período verificavam as capacidades do sujeito
durante todo seu desenvolvimento Educacional, para Koff, “normalizar” era adequar o
desviante às normas para transformá-lo em normal, esse era o papel desses sistemas.
Este esforço em adaptar o divergente às normas, onde suas diferenças
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
0
devem ser neutralizadas ao máximo: sua aparência, sua aprendizagem, seu desempenho – tudo isso deve aproximar-se do esteticamente usual do pedagogicamente tradicional de uma pauta de comportamento habitual, constitui-se apenas uma imitação barata de normalidade. (KOFF apud AMARAL 1944, P.44)
Esse pensamento da autora nos diz que o “diferente” ou o deficiente não era
admirado, muito menos respeitado e sim adequado aparentemente, pedagogicamente
aos padrões ditos normais pela sociedade, ou seja, essa normalidade era mascarada.
Mas por outro lado toda essa discussão contribuiu para que o deficiente recebesse uma
educação que há décadas foram excluídos do sistema público de ensino regular. Koff
(2004) acaba criticando o Brasil que segundo ela as mudanças aqui não ocorreram
porque se preocupavam com os excluídos e sim porque debates na comunidade
Européia sobre a inclusão estavam fortemente difundidos. O nosso país, a nossa
educação vive de modismo sempre acompanhando a moda lá fora, se há um modelo em
pauta então vamos nos adequar a ele sempre foi assim desde os primórdios à educação
foi usada ideologicamente e não com intenção de mudar nada.
A inclusão de alunos com necessidades educativas especiais é um tema que dividi
as opiniões dos educadores. Enquanto alguns acreditam que o aluno com deficiência é
excluído na escola de ensino regular porque eles não conseguem aprender como os
outros alunos e que por isso deveriam freqüentar a escola especial, outros educadores
dizem que o aluno com necessidades especiais deve freqüentar a escola de ensino
regular, pois, dessa forma ele vai, através da diversidade, aprender com mais facilidade.
Apesar de a constituição já ter definido sobre a inclusão, as escolas de ensino
regular continuam discutindo se os deficientes podem ou não freqüentá-la. Porém, é
necessário criar estratégias para que estes alunos possam se beneficiar da educação
como as outras crianças. Isso porque eles têm o ingresso assegurado, mas a permanência
na escola regular acontece efetivamente ao longo da história, e contribui para exclusão
de alunos com necessidades especiais. Primeiro foi à igreja que chamava as pessoas
com sofrimento psíquico de endemoniados; depois a saúde que mandava colocar em
manicômios aqueles que julgavam perigosos e por último a escola que além de declarar
que o aluno possuía incapacidade cognitiva, afirmava que uma pessoa com deficiência
não deveria estar no convívio social porque ela não era capaz de aprender e ainda
atrapalharia a aprendizagem dos colegas na sala de aula.
Sabemos que o aluno com necessidades educacionais especiais tem o direito como
cidadão de receber sua educação em classes de ensino comum, ter igualdade de
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
1
oportunidade e as adaptações curriculares necessárias, por isso a autora salienta que
“quando falamos de educação inclusiva, pressupomos uma escola inclusiva, com sua
dimensão espacial e concreta bem como um espaço onde confluem atitudes
comportamentos, regras e relacionamentos”.(KOFF, 2004, p.80)
Percebemos que essa dimensão espacial ainda não é a nossa realidade, a escola
ainda não têm espaço físico apropriado, os professores não têm formação em libras e
braile quando chega um aluno com alguma deficiência o mesmo não está preparado
para lidar com ele, isso dificulta o relacionamento entre ambos. Assim muitas vezes, o
professor culpabiliza o sujeito pela sua própria dificuldade de aprendizagem, além de
perceberem suas salas estanques da escola, não trabalham coletivamente para solucionar
os problemas pedagógicos que vão surgindo. “Avaliar a questão das diferenças, tão
cara à antropologia e tão desafiadora no campo pedagógico justamente por sua
característica institucional homogeneizadora, não é uma tarefa simples.” (GUSMÃO,
1997, p.2). A principal contribuição da Antropologia para Educação é a concepção de se
pensar a escola como processo de heterogeneidade e não homogêneo, as diferenças têm
que ser consideradas para acrescentar, somar, possibilitar formas de olhar e reconhecer
o outro, que cada cultura tem o seu valor.
Quanto não considero as diferenças não acrescento nada pelo contrario vou
excluir, desconsiderar. E a escola mitifica e colocam os alunos homogêneos, isso
precisa ser modificado as estratégias de ensino precisam dar conta das diferenças, mas
sabemos que isso ainda não acontece, precisaríamos que as políticas públicas fizessem
investimentos em recursos didáticos e prioritariamente em recursos humanos. Neste
momento histórico, o que se espera é o avanço no sistema educacional que cumpra com
o proposto pela LBD (1996), favorecendo a formação de cidadãos críticos e
responsáveis, possibilitando o acesso ao saber cientifico e à sua utilização critica e
funcional rotineira e desta forma, atuando na construção de uma sociedade mais
igualitária e humana.
O OFICIO DO PROFESSOR NO ÂMBITO ESCOLAR: PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
É preciso acreditar na possibilidade de haver inclusão escolar, mais antes é de
suma importância acreditar na tolerância, no respeito às diferenças, em uma escola que
acolhesse a todas as crianças sem descriminá-las por sua cor, raça, cultura, condição
sócio econômica, gênero credo e necessidades educativas especiais. Neste momento
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
2
vamos abordar o papel do professor que lida com os alunos que necessitam de educação
especial, e luta como agente de transformação, contra o preconceito a exclusão. Muitas
vezes os profissionais da área da educação, são professores por falta de opção. Também
tem a questão de ser uma profissão que rapidamente já estão no mercado de trabalho.
Acabam se deixando levar se tornando um profissional insatisfeito, consequentemente
vão levando uma vida que não gostaria de ter. Por outro lado existem aqueles que ao
iniciarem a sua formação como professora por falta de opção passa a gostar e são
profissionais realizados, o mesmo pode acontecer com muitas que desde criança já
demonstrava o gosto por ser professora.
Durante muitas décadas essa profissão não dava prestigio, com isso o salário era
precário, a profissão era desvalorizada, até mesmo pelos professores que achavam que o
salário era para complementar a renda da família ou preencher o ócio. Além de tudo
também são desvalorizadas pelos próprios pais dos alunos. Há também professores que
estão recorrendo constantemente a informações a outras pessoas competentes, a fim de
poder realizar um bom trabalho. Se pensarmos a docência como uma vocação estará
correndo o risco de sermos entendidas como sacerdotisa que doam o seu trabalho sem
receber nada em troca. Se o aluno não aprende não é culpa do professor, já que este
nasceu pré-disposto a ensinar. Por ser considerada uma profissão que vai servir uma
espécie de vocação a desvalorização começa a acontecer já que não há um salário digno
que pague essa nobre profissão. Também tem aqueles que fazem dessa profissão um
bico e assim sendo não há como cobrar competência dedicação, assiduidade.
Existe uma precariedade de profissionais da educação formados para atender essa
população diferente é papel da escola fazer esse trabalho com o sujeito, porque ele já
traz consigo este sentimento de rejeição da própria família, que é considerado um
entrave tanto para aprendizagem como para o desenvolvimento social, cultural. O
primeiro problema que o sujeito tido como diferente enfrenta segundo Koff é o “luto da
família” porque esperam um filho perfeito quando este não chega ocorre um sentimento
de perda. Assim subentende-se que a responsabilidade não é só dos profissionais da
educação, mas de toda sociedade de resgatar a cidadania dos indivíduos excluídos e até
daqueles desfavorecidos economicamente e culturalmente. Dedicar-se a essa profissão é
considerar nos seus planos de aula e ações a necessidade de favorecer os excluídos sem
pensar que o seu aluno é sua propriedade particular, pois quando assim pensamos
acabamos prejudicando o desenvolvimento dos trabalhos coletivos, que é fundamental
para que a inclusão escolar venha de fato acontecer.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
3
Existe vários saberes necessários que os profissionais da educação precisam ter
como não só os saberes oriundos da formação os das ciências humanas, não só os
saberes curriculares que corresponde a conteúdos e métodos, mas os saberes da
experiência que originam no exercício da profissão docente, “um saber no que se refere
ao conceito de professor reflexivo que procura solucionar seus problemas cotidianos do
exercício da sua profissão” (KOFF apud SCHON 1995). E ainda há o saber da
experiência que é importância do diálogo de troca de relatos entre os professores, o que
ainda não é a realidade da maioria das escolas. A relação professor / aluno de
necessidades especiais é muito parecida com a relação mãe/filho. Às vezes o medo de o
aluno não sobressair nos ensinamentos, leva a professora a ter uma relação mais afetiva
e não pedagógica com ele. Limitam-se apenas a sentimentos esquecendo-se de investir
no potencial do mesmo.
Se desejar reconhecer um professor que respeita o incluído, é só verificar como
direciona as suas atividades, como estimula, instiga potencialidades, eleva a auto-
estima, que atende o aluno de maneira individual. Segundo Gonzales Rey, a
singularidade dos sujeitos deve ser considerada, em seu desenvolvimento, como
sujeitos, individual, com novos sentidos sociais, que impulsionam sua identidade, com
ações e valores próprios, através da subjetividade social e individual. A subjetividade,
de acordo com o autor pode ser definida “como a organização dos processos de sentido
e significação que aparecem e se organizam de diferentes formas, e em diferentes níveis
do sujeito e na personalidade, assim como nos diferentes espaços sociais em que o
sujeito atua.” (REY, 2003, p.108). É no espaço da relação entre professor e aluno que a
formação do cidadão acontece, por isso cabe a educação especial atender as
necessidades especifica e peculiares do aluno, e oferecer suporte técnico – cientifico ao
professor da classe regular que o atende. A inserção dos alunos com deficiência nas
classes regulares, não garantem, por si só, uma pratica inclusiva de ensino.
Pesquisas revelaram as problemáticas vivenciadas na sala de aula, principalmente
a relação professor – aluno, o quanto isso prejudica a eficiência do funcionalmente que
se espera alcançar na educação inclusiva. Sabemos que a falta de respeito pelas
diferenças está por toda a sociedade. A escola muitas vezes inclui porque é obrigado a
incluir, o professor que inclui procura na formação continuada a manter sua postura de
includente. A autora explica que
A escola deve oferecer condições para estes docentes investirem na
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
4
continuidade da sua formação, seja por intermédio de cursos e palestras que possibilitem maiores informações sobre suas dúvidas, bem como possibilitar reuniões, específicas e em pequenos grupos, onde eles poderão debater e buscar soluções para entraves relacionados à inclusão. (KOFF, 2004, p.125)
Se continuarmos a trabalhar na perspectiva homogênea e não diferenciarmos a
educação para atendermos as diversas maneiras de se aprender estaremos camuflando a
exclusão escola.
A IMPORTÂNCIA DA ANTROPOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO
Antropologia é a ciência que estuda o homem, a sua cultura. Antigamente a
mesma recebia informações e fazia os relatórios de uma determinada pesquisa, numa
perspectiva de atender a colonização que conhecendo o outro vai manter a dominação.
Hoje vai-se a campo, colher dados, conhecer a cultura do outro, defende que cada
cultura tem o seu valor, nenhum é menos ou mais importante do que a outra, vão
estudar o processo educacional não na escola, mais nas comunidades, como uma cultura
passada de geração para geração em rituais que são os processos formativos nos
mostrando que a Antropologia não desconhece o campo da educação. Entendemos que
não existe uma cultura e sim várias culturas e que
A palavra cultura tem uma polissemia de significados e se presta a várias abordagens. A cultura em seu aspecto mais amplo pode ser entendida como tudo aquilo que remete ao conhecimento no âmbito intelectual e social. Quando nos divertimos, vamos ao teatro, vamos ao cinema, vamos ao museu, costumamos dizer que estamos praticando cultura, adquirindo-a. No entanto, a palavra cultura não é só isso. Ela pode ser entendida, estudada, analisada e compreendida levando-se em consideração a enorme complexidade de tudo que está associado a ela, e o papel formador que assume em todos os aspectos da vida social, e não como única e universal. (COUTINHO in BACKES, 2010, p.2)
Todos nós temos cultura, porque pensamos, agimos temos maneiras de ser. Então
cultura é a maneira de pensar e agir de um povo ou comunidade. É no reconhecimento
da cultura do outro que reafirmo a minha. A cultura vista como uma diversidade de
conceitos e significados, vai se modificando constantemente, e se reinventando de
maneira que em cada contexto presenciamos a sua legitimidade e ela que nos mostra
que cada um tem a sua identidade própria.
As preferências modificam-se, porque a tradição modificou já não se sente mais o
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
5
mesmo sabor de alguma comida, por exemplo, como gostávamos antes. “O homem
como ser variável, mutável no temperamento e no comportamento, não fica à mercê de
sua natureza e de sua cultura, mas sim está sujeito a condições históricas determinadas e
determinantes do universo em que está inserido.” (GUSMÃO, 1997, p.4). Identidade é
todo o meu eu, um ser social, que se forma a partir do eu e o outro, que às vezes
acontece numa relação de conflito de crise, já que os sujeitos interagem com sua
identidade, por ser dinâmica se constrói, destrói, sucessivamente, e é traduzida porque
no conflito entre elas é que se faz outra.
Muitas vezes não aceitamos o nosso corpo e queremos modificá-la
biologicamente em função da cultura que nos é imposto. Precisamos entender que a
cultura é mais do que o biológico, é não deixar de ter uma identidade porque sofremos
interferência. Sabemos que quem oferece os meios para ressignificar a cultura é a
sociedade, então é na socialização que ressignifico a cultura ou reproduz-se
estereótipos, isso vai depender da consciência social que tenho.
A Antropologia busca esclarecer quem é o homem na sua totalidade. Cabe a
“totalidade como categoria antropológica, demonstrar a incapacidade de elaborar uma
definição para o homem; ou seja, ele não pode ser reduzido e definido em comparação
ou oposição a outros objetos.” (KOFF, 2004, p.35). Então percebemos que não é fácil
conceituar o homem, muito menos a sua totalidade, pois não imaginamos que o
pensamento tenha limite e que objetos podem comparar como total, não existindo uma
representação mental que nos diga ser a totalidade. Se não existe conceito para definir o
homem, entendemos que ele só pode ser entendido a partir dos elementos que constitui
à sua existência. E um constante buscar dessa totalidade, que nos leva apensar que não
existindo a totalidade os rótulos como deficiente e incapaz não deveriam existir, pois
não temos um limite Máximo de homem que nos leva a pensar ser este ou aquele
incapaz. É na relação um com o outro que procuramos superar as dificuldades.
Alteridade é entendermos o outro, a sua presença no mundo, para entender a
nossa. É o corpo, a presença do outro que nos confere o reconhecimento de que
surgimos em outro, a alteridade nos possibilita pensar no homem dual, eu e o outro.
Permite um movimento que procura diminuir a tensão entre as diferenças, nos
mostrando que existem confrontos nas relações. Por isso não podemos negá-las, se
assim fazemos estamos negando a alteridade que nos leva a refletir sobre a humanidade.
A diferenciação é a responsável pela necessidade da alteridade é no movimento da
totalização que a alteridade se concretiza. Segundo Koff a diferenciação nos mostra que
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
6
realmente a compreensão do homem é uma tarefa indefinida. É a diferenciação que nos
permiti pensar no homem plural, em todas as suas manifestações próprias, é ele o autor
do seu eu. As experiências adquiridas não são definitivas, já que as suas vivencias se
modificam constantemente. Uma “pessoa não pode ser aplicada nenhuns conceitos
operacionais, construídos segundo um modelo que submeta o objeto a regras de
experimentação a partir das quais se obtenham resultados indefinidamente repetíveis”.
(KOFF apud VAZ, 2004, p.49).
A necessidade de se ter uma sociedade que respeita a diferença, nos leva a pensar
o que entendemos por tolerância. A palavra Tolerância aparece no SÉC. XVI pela
primeira vez, quando se viu a necessidade que as pessoas tinham de tolerar a escolha
religiosa uma das outras. Então o conceito de tolerância dessa época vem de encontro
com o conceito que nos possibilita uma educação justa e igualitária, onde não
houvessem excluídos. A tolerância é muitas vezes confundida com limite, já que
pensamos que quando chegamos ao limite de algo temos que pensar mais um pouco e
tolerar. Outras vezes e entendida como respeito à diferença, saber aceitar e respeitar a
diferença, porque o respeitar anda junto com a diferença. Eu só respeito o diferente
quando procuro diversificar o ensino. É preciso que os cursos de formação
proporcionem a esses profissionais a possibilidade de serem professores tolerantes, e
aqueles que já estão a mais tempo na escola a oportunidade na sua formação continuada,
já que
[...] a tolerância é uma virtude individual, que se desenvolve no momento em que somos capazes de assumir uma opinião, defendê-la e, essencialmente, respeitar as convicções e o modo de agir do outro; ou seja, se respeitássemos a pluralidade e o dinamismo, inerentes à própria humanidade, aceitaríamos o divergente como coerente e parte fundamental na implantação de uma educação “de qualidade para todos”, bem como para composição de uma sociedade mais justa.”( KOFF, 2004, p.57)
Uma escola que se diz ser inclusiva com certeza deve contar com indivíduos que
aceita o diferente, respeita a diversidade e tem ações pautadas na tolerância. Um
professor tolerante, que respeita as diferenças, tem interesse no aprendizado do aluno
vai adequar através da sua prática às atividades de acordo com as necessidades e
diferenças de cada um, diversificam a maneira de ensinar e faz da avaliação uma forma
flexível de se avaliar e tem apreço a sua formação continuada. Pois
Relacionar a tolerância com a educação escolar é procurar torná-la
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
7
menos excludente e discriminatória. É acima de tudo defender o direito a todos de ter acesso a um ensino de qualidade, num ambiente menos restritivo, em relação às barreiras arquitetônicas, sociais, culturais, étnicas. É fomentar a igualdade de oportunidades para todos os alunos, tanto educacionais como econômicas. (KOFF, 2004, p.115)
E ainda segundo, Sassaki há seis tipos de barreiras excludentes para as pessoas
com necessidades especiais: arquitetônica (não permite a acessibilidade da pessoa com
dificuldade de locomoção), comunicacional (a linguagem verbal ou visual utilizada não
alcança todas as pessoas), atitudinal (atitude preconceituosa), metodológica (métodos de
ensino, trabalho e lazer homogêneos), instrumental (instrumentos utilizados para
trabalhar, brincar que não atendem as limitações), programática (leis, portarias,
regulamentos e políticas que perpetuam a exclusão); enquanto a sociedade não remover
as barreiras nessas seis áreas, essas pessoas vão continuar excluídas. Então ficam claro
que tolerar é respeitar a diversidade, as diferenças que de certa forma está ligado a nós,
é aceitar o outro como ele é, com ou sem deficência, não achar que as minhas verdades
são absolutas, é não condenar o outro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para as considerações finais sobre este texto percebemos a priori que o sujeito
com necessidade especial seja ela educacional, física, visual, auditiva, mental etc, tem
direito a uma educação de qualidade, o fato de simplesmente incluí-lo numa sala de aula
regular não garante a qualidade que ele precisa para aprender. Vimos que desde a
década de 60 foram usadas várias nomenclaturas para nomear este sujeito como
defeituoso, deficiente, excepcional e até incapacitado.
Sem falar que até o direito a vida lhes era negado sendo até mesmo condenados à
morte, desde o âmbito familiar, na igreja, nas instituições de ensino, em toda sociedade
não tinham o direito à diferença, viviam em ambientes segregados. Sabemos que os
alunos com necessidades educacionais especiais têm o direito como cidadão de receber
sua educação em classes de ensino comum, ter igualdade de oportunidade e as
adaptações curriculares necessárias, entendemos que essa não é a nossa realidade, o
simples fato de estarem em salas regulares de ensino não garante a aprendizagem, os
currículos são engessados e não priorizam esse aluno, as nossas escolas não têm acesso
e principalmente na nossa cidade de Ituiutaba-MG., a maioria das escolas contam com
escadas, os profissionais da educação da escolas regulares não tem formação para lidar
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
8
com esses alunos com necessidades especiais, uma minoria sabe ensinar em libras e
braile.
Entendemos como respeito à diferença, saber aceitar e respeitá-la, porque o
respeitar anda junto com a mesma. Eu só respeito o diferente quando procuro
diversificar o ensino. Nós como futuras pedagogas devemos ao chegar à escola defender
e lutar pelo que realmente acreditamos e saber fundamentar essas questões. A
Antropologia vai nos subsidiar nesta tarefa o respeito ao outro, a sua cultura, seu modo
de agir e pensar, nos dará suporte para tal. Ela é uma ciência que estuda o homem, a
cultura, a maneira de pensar, agir e sentir de uma comunidade, todo indivíduo tem
cultura porque todos têm maneira de pensar, agir e sentir, ela também é a ciência da
alteridade, a partir do outro é que eu vou me identificar, o indivíduo sabe sua cultura
quando ele conhece a do outro.
E principalmente vai nos ajudar a pensar a escola como um espaço heterogêneo e
nas formas de como vou conhecer e olhar o outro. O papel da antropologia é ajudar a
educação a pensar na heterogeneidade, pensar a escola como um processo de diferença,
as formas de olhar e conhecer o outro. Por fim vimos que o olhar antropológico nos
ajuda muito a olhar a escola por outros ângulos, o olhar do pedagogo é discutir a
necessidade especial apenas pelo lado da aceitação, quando não aceitamos nada a não
ser porque tem uma lei que nos obriga a obedecer. E a antropologia nos mostra outro
olhar, um olhar mais elaborado, nos fala que devemos compreender o outro na sua
totalidade que o papel do professor não só dos que trabalham com necessidades
especiais mas de todos é lutar contra a discriminação. Para Koff 2004 “a alteridade faz
parte da nossa constituição humana, possibilitando pensar o homem como uma
dualidade, ele se compõem simultaneamente, entre eu e o outro”. Ainda diz que negar a
diferença é suprimir a alteridade, ou seja, simplesmente anulá-la.
As políticas públicas não fazem investimento para atender essa população
diferente, a maneira de como querem jogar os alunos com necessidades especiais na
escola acabam por incluir excluindo. Precisamos lutar para que a inclusão seja um
sonho realizável, se tivermos o apoio das políticas públicas sejam bem vindas se não,
devemos nos esforçar e fazer a nossa parte enquanto profissionais da educação.
Portanto, a necessidade da inclusão de alunos com necessidades educativas especiais é
uma realidade que está clara, mas que ainda falta muito para se concretizar
definitivamente. Falta a segurança por parte dos pais de entregar esses alunos ao
professor, e acreditar que eles são capazes de conviver com outras crianças, falta
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
34
9
segurança e preparo dos professores e escolas para recebê-los, e mais atenção dos
governantes que não investem financeiramente na educação.
REFERÊNCIAS: COUTINHO, Márcia Maria de Azeredo; BACKES, José Licínio. A construção de uma perspectiva teórica para a compreensão dos deficientes visuais. Acessado no site: http://www.rededesaberes.org/ em 25/06/2010 ROSA, Rejane Souza. – Professora de séries iniciais. Graduação em psicologia peã PUCRS; pós-graduação em Psicologia Clínica pela UFRGS; pós – graduação em Educação Inclusiva pelo IES. KOFF, Lúcia Bernadete Fleig. Professoras de uma Escola Inclusiva: um estudo da Relação entre a Concepção de uma Pessoa e a Postura Tolerante. Dissertação de Mestrado – UFSM, Santa Maria, RS. Pg. 1- 142. 2004 GUSMÃO, Neusa M. Antropologia e educação: origens de um diálogo. Cadernos CEDES, n. 43, p. 8-25, 1997. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. A integração de pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memmon, 1997. SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 3.ed. Rio de Janeiro: WVA, 1999. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teoria da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política. 25.ed. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1991.
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NA EDUCAÇÃO BÁSICA: pesquisa realizada sobre a temática interdisciplinaridade com professores das escolas
públicas de Ituiutaba
Lorraine Cristina da Silveira Pereira – FACIP/UFU [email protected]
Claudiane Rosa Mathias – FACIP/UFU [email protected]
Luciana Moura Silva – FACIP/UFU [email protected]
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
0
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa realizada sobre a temática interdisciplinaridade com professores da Educação Básica nas escolas públicas de Ituiutaba, com o intuito de identificar o conhecimento que eles possuíam sobre a temática e como aplicam tais conhecimentos em sua prática pedagógica. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário contendo sete questões fechadas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual os dados foram coletados e analisados com vista a compreender a realidade do Ensino Básico no que diz respeito a interdisciplinaridade. Para analisar os dados recolhidos, estabelecemos quatro categorias de respostas e a partir destas buscaremos compreender o que os professores apontaram na pesquisa. As categorias foram: o conceito de interdisciplinaridade conhecido pelos professores, à prática interdisciplinar, à prática interdisciplinar que ocorre na escola e sobre a interdisciplinaridade e a formação do aluno. Entender essa temática, que não é tratada por um consenso por todos os estudiosos que a citam, é de extrema importância para se implantar os paradigmas inovadores e assim poder atender as necessidades da sociedade atual, onde os sujeitos precisam se conscientizar do seu papel na comunidade e dos problemas que existem na atualidade. Para abalizar a pesquisa, buscaremos subsídios em Fazenda (1997 e 1998), Behrens (2005), Libâneo (1999), Ferreira (1997), Saviani (1996), Morin (2001) e Costa (2009), apresentando os conceitos que foram estudados por nós durante a disciplina Construção do Conhecimento Interdisciplinar I.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade - Prática Interdisciplinar - Prática Pedagógica
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O presente artigo tem o objetivo de apresentar uma pesquisa sobre a
interdisciplinaridade, realizada nas escolas públicas de Ituiutaba-MG, com professores
da Educação Básica. Temos por finalidade buscar a compreensão sobre o conceito que
esses professores trazem sobre interdisciplinaridade e como aplicam essa temática na
prática pedagógica.
Sabemos que os métodos de ensino utilizados pelos professores influenciam
ativamente no processo de ensino e aprendizagem, e conhecendo esses métodos e
práticas dos docentes, podemos obter um quadro da educação atual, no qual observamos
que os métodos tradicionais de ensino persistem. A fragmentação do conhecimento
através de disciplinas isoladas, a dicotomia entre a teoria e a prática e os modelos
pedagógicos ultrapassados do paradigma conservador estão presentes ainda no cotidiano
escolar. Essa é, portanto, uma justificativa que se apresenta para essa pesquisa.
O paradigma conservador que caracterizou o ensino por longas décadas não
oferece suporte necessário para a busca de soluções dos problemas que vem surgindo
com a globalização e o crescimento tecnológico da atualidade. Não forma sujeitos
investigadores e pesquisadores, preocupados com as novas questões da sociedade atual,
oferecendo ainda uma educação voltada para a compartimentalização do conhecimento
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
1
visando à reprodução e memorização, sem levar em consideração a realidade e
diversidade dos educandos.
Outra justificativa é que desejamos compreender até que ponto os
pedagogos/professores entendem sobre a temática, visando oferecer esse conhecimento
para uma possível mudança em suas práticas pedagógicas, proporcionando uma
alternativa que possibilite a integração do conhecimento tratando o sujeito e os saberes
em sua totalidade.
Na perspectiva interdisciplinar, o aluno é tratado na sua integridade, respeitado
em suas especificidades, como ser inacabado, que precisa ser ativo e consciente dentro
do processo.
Os paradigmas inovadores vêm contrapor a prática existente, apresentando um
novo olhar sobre a escola, o conhecimento, o professor e o aluno, integrando-os numa
rede social, onde todos têm autonomia e são ativos no processo e busca pelo saber.
Provoca a interpretação do conhecimento, e não apenas sua aceitação. Assim, conhecer
esse processo de inovação é de extrema importância para o professor, pois permite que
ele repense suas ações, oferecendo a seus alunos uma aprendizagem significativa e
crítica que se relaciona diretamente com o cotidiano no qual vivem.
O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário, contendo
sete questões fechadas, cuja temática é a interdisciplinaridade, tendo como público alvo
professores da educação básica do ensino público. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
onde os dados foram coletados e analisados com vista a compreender a realidade do
Ensino Básico no que diz respeito à interdisciplinaridade. Seguindo a metodologia,
estudamos alguns autores que tratam sobre o tema, fundamentando as interpretações que
fizemos através do questionário.
Para abalizar a pesquisa, buscaremos subsídios em Fazenda (1997 e 1998),
Behrens (2005), Libâneo (1999), Ferreira (1997), Saviani (1996), Morin (2001) e Costa
(2009), apresentando os conceitos que foram estudados por nós durante a disciplina
Construção do conhecimento Interdisciplinar I.
REVISÃO DE LITERATURA
Entende-se que o conceito de interdisciplinaridade é amplo e faz parte de um
processo coletivo, no qual as relações são estabelecidas através de diálogo, e várias
especialidades didáticas comungam, visando assim, uma totalidade do conhecimento e
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
2
da realidade. Interdisciplinaridade é atitude, ação e conscientização. Para Fazenda
(1997):
O que caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da busca, da pesquisa; é a transformação da insegurança num exercício do pensar, num construir. A solidão dessa insegurança individual que brota o pensar interdisciplinar pode transmutar-se na troca, no diálogo, no aceitar o pensamento do outro. Exige a passagem da subjetividade para a intersubjetividade.
Assim, para acontecer práticas interdisciplinares é necessário primeiro que
ocorram mudanças de atitudes por parte dos envolvidos no processo de educação, onde
necessitam ter vez e voz nesse processo de reconstrução de um currículo condizente
com as atuais necessidades dos professores e alunos. Destacamos então o proposto por
Costa (2009, p.25):
Um trabalho de natureza interdisciplinar necessita de uma equipe engajada, disposta a dialogar e contribuir de forma crítica e recíproca com informações a cerca dos conteúdos das diferentes disciplinas, uma atitude de comprometimento e compartilhamento dos saberes, a fim de vencer as barreiras do isolamento e enfrentar os desafios complexos, amplos e globais da realidade atual.
Nesse contexto, o professor tem um papel de destaque, pois sem a vontade de
buscar novos conhecimentos, sua prática se torna obsoleta. A formação de professores
muitas vezes se apresenta deficiente, não atendendo as necessidades encontradas na
realidade da escola, como por exemplo, o trabalho interdisciplinar. É preciso que o
professor tenha atitudes de pesquisador e compreensão sobre a temática, além da
conscientização da importância da mesma na sua prática pedagógica e na formação do
aluno. Libâneo (1999, p.59) assim se posiciona:
Todos os educadores seriamente interessados nas ciências da educação, entre elas a Pedagogia, precisam concentrar esforços em propostas de intervenção pedagógica nas várias esferas do educativo para enfrentamento dos desafios colocados pelas novas realidades do mundo contemporâneo.
Compreende-se assim, que a busca do professor pela formação continuada é de
extrema importância, mais não é o único recurso que precisa ser utilizado. A atitude de
investigação, leituras, diálogos e troca de experiências entre os docentes favorece suas
práticas e constrói um conhecimento significativo para eles e para os alunos, dando o
impulso necessário para as mudanças acontecerem. O ensino interdisciplinar nasce da
proposição de novos objetivos, novos métodos, enfim, de uma “nova pedagogia”, cuja
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
3
tônica primeira seja a supressão do monólogo e a instauração de uma prática dialógica
(Costa, 2009), onde os sujeitos têm autonomia na busca pelo conhecimento.
O aluno nesse contexto é considerado em suas completudes, seu conhecimento
prévio e sua realidade são importantes dentro do processo, ele é sujeito participante e
consciente, intervindo no meio em que vive de forma crítica. Assim, o paradigma
inovador poderá atender as necessidades desse aluno, e velhas práticas poderão ser
ultrapassadas, pois já não são suficientes ou eficazes na produção do conhecimento no
mundo onde a informação está em constante movimento. Costa (2009, p.25) contribui:...
o aluno é o sujeito do seu próprio aprendizado, ele organiza e contextualiza de acordo
com o meio em que se encontra e interage, a ação docente é a de proporcionar ao aluno
um diálogo com seus próprios saberes.
O professor dessa maneira precisa ser mediador no processo de ensino e
aprendizagem, pois assim ele contribui para que aconteça a construção do conhecimento
pelo aluno de maneira significativa e contextualizada, favorecendo a autonomia e o
desenvolvimento do pensamento crítico. Porém, os cursos de formação de professores
muitas vezes não dão o suporte necessário a essas atitudes, pois ainda se mostram
conservadores. Assim, o processo se torna lento e as barreiras aumentam, dificultando a
implementação dos novos paradigmas.
A ‘Educação’ é uma palavra forte: ‘Utilização de meios que permitem assegurar a formação e o desenvolvimento de um ser humano (...)’. O termo ‘formação’, com suas conotações de moldagem e conformação, tem o defeito de ignorar que a missão do didatismo é encorajar o autodidatismo, despertando, provocando, favorecendo a autonomia do espírito. O ensino, arte ou ação de transmitir os conhecimentos a um aluno, de modo que ele os compreenda e assimile, tem um sentido mais restrito, porque apenas cognitivo. A bem dizer, a palavra ensino não me basta, mas a palavra educação comporta um excesso e uma carência.(MORIN, 2001, p.10)
Portanto, a educação ainda apresenta déficits, que só serão sanados a partir da
conscientização e de tomadas de atitudes favoráveis as transformações da sociedade atual, que
precisa repensar suas ações frente aos novos problemas sociais, econômicos, culturais e
políticos presentes no cotidiano.
Pesquisa já realizada sobre essa temática por Costa (2009), a qual reuniu professores e
alunos de um curso técnico em Apicultura no desenvolvimento de uma atividade interdisciplinar
revelou que os alunos ficaram mais motivados e interessados quando puderam visualizar todo o
processo em que estavam envolvidos, e os professores notaram que, os conteúdos que antes
eram trabalhados repetidas vezes em várias disciplinas, puderam ser “enxugados”,
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
4
proporcionando mais tempo e disposição para se tratar de assuntos novos, o que mostra mais
uma vez a necessidade de se repensar o planejamento pedagógico a fim de criar espaços
favorecendo a interdisciplinaridade. Os envolvidos ainda relataram que a experiência se mostrou
“criativa, enriquecedora e uma boa alternativa para promover a construção do conhecimento
numa visão holística da realidade complexa da atual sociedade”. (Costa, 2009, p.46)
Visto que a Pedagogia se trata de uma ciência interdisciplinar por natureza, pois
trabalha pensando em diversas áreas do conhecimento, sem desprezar as particularidades dos
fatos, no qual para realmente conhecer o aluno é preciso contextualizá-lo e relacioná-lo a todo o
processo educativo, social, político, econômico e cultural, abordar o tema interdisciplinaridade
se torna imensamente importante, pois interdisciplinaridade é atitude, que parte do individual
para o coletivo e vice-versa numa perspectiva holística (Costa, 2009, p.21).
Entender essa temática, que não é tratada por um consenso por todos os estudiosos que
a citam, é de extrema importância para se implantar os paradigmas inovadores e assim poder
atender as necessidades da sociedade atual, onde os sujeitos precisam se conscientizar do seu
papel na comunidade e dos problemas que existem na atualidade.
ANÁLISE DOS DADOS
De acordo com a pesquisa realizada na disciplina Construção do Conhecimento
Interdisciplinar I nas escolas públicas de Ituiutaba, desvendamos o que alguns
professores entendem por interdisciplinaridade e de que forma eles atuam em suas salas
de aula. Para analisar os dados recolhidos, estabelecemos quatro categorias de respostas
e a partir destas buscaremos compreender o que os professores apontaram na pesquisa.
A primeira categoria trata do conceito de interdisciplinaridade conhecido pelos
professores. Quando foi perguntado aos professores o que é interdisciplinaridade, 53,3%
responderam que é uma mudança de atitude em busca da unidade do pensamento,
26,7% responderam que é a união das disciplinas em torno de um só conteúdo. No
primeiro caso, entendemos que os professores têm um conceito que se aproxima daquilo
que os autores apontam sobre a interdisciplinaridade, o que pode significar que esse
professores buscaram de alguma forma conhecer e compreender essa prática. Tal fato
pode apontar que essa prática já ocorre no interior das escolas.
No segundo caso, a resposta nos remete ao que diz Fazenda (1997) que é
necessário à integração, que vai além da simples união das disciplinas. Assim,
acreditamos que os professores que apóiam seus conceitos nessa premissa, ainda não
compreenderam a interdisciplinaridade e se a colocam em prática, estão fazendo de
maneira inadequada. Ainda nessa categoria, 20% dos professores responderam que
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
5
interdisciplinaridade é a justaposição das diversas disciplinas em busca de um novo
sentido para o conhecimento. Essa perspectiva precisa ser ultrapassada. Justapor
significa por junto e, não basta por junto às disciplinas, é preciso integrá-las, eliminado
as fronteiras para a comunicação entre elas para acontecer à troca e o compartilhamento
de saberes.
Ainda sobre o conceito, foi solicitado aos professores que, dentre algumas situações
práticas, escolhessem a que mais se aproximasse do conceito de interdisciplinaridade que têm.
A maioria escolheu uma situação em que pais, alunos e professores estão buscando uma
proposta de educação pautada na atitude interdisciplinar com foco na formação crítica do aluno.
A par disso podemos analisar que muitos professores têm conhecimento sobre o tema e sabem o
que precisam fazer para torná-lo presente na educação, e que talvez já estejam tomando essas
atitudes. Mas muitos ainda têm um conceito errado sobre interdisciplinaridade.
Analisando essa realidade demonstrada pelos professores, percebe-se que ainda há
necessidade de os docentes ressignificarem seu conhecimento sobre interdisciplinaridade,
buscando uma visão holística do mundo, que estabelece relações entre várias especialidades
didáticas, onde o conhecimento não é fragmentado, os conceitos se relacionam e as áreas
comungam de forma prática relacionando-se com a realidade. Segundo Ferreira (1997, p.34):
A interdisciplinaridade perpassa todos os elementos do conhecimento, pressupondo a integração entre eles. Porém, é errado concluir que ela é só isso. “A interdisciplinaridade está marcada por um movimento interrupto, criando ou recriando outros pontos para a discussão”. A mesma autora ainda ressalta que ”Apesar de não possuir definição estanque, a interdisciplinaridade precisa ser compreendida para não haver desvio na sua prática. A idéia é norteada por eixos básicos como: a intenção, a humildade, a totalidade, o respeito pelo outro etc. O que caracteriza uma prática interdisciplinar é o sentimento intencional que ela carrega. Não há interdisciplinaridade se não há intenção consciente, clara e objetiva por parte daqueles que a praticam.
Mesmo que uma grande parte entenda o conceito de interdisciplinaridade
erroneamente, a maioria entende o que este significa, pois afirmaram ser essencial o
trabalho coletivo, envolvendo toda a comunidade escolar em torno de uma proposta
educativa.
A segunda categoria refere-se à prática interdisciplinar dos professores, que
quando perguntados sobre o contato que tiveram com a temática interdisciplinaridade,
26,7% responderam que participaram de cursos de capacitação na escola ou outros
locais, 13,3% na leitura de livros e artigos científicos, 33,3% somente no curso de
graduação e 26,7% na prática vivenciada em sala de aula como professor.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
6
Na outra questão em que foram interpelados sobre se consideravam suas atitudes
interdisciplinares, 46,7% responderam que sempre, pois acreditam nessa perspectiva de
trabalho, 6,7% responderam que de vez em quando, para abordar determinados
assuntos, 33,3% disseram que apenas quando a escola desenvolve projetos comuns e
13,3% responderam que quase nunca acontece, pois o sistema não permite
Os dados obtidos nos apontam que muitos professores se sentem presos ao
sistema de ensino, só tomando atitudes quando elaboradas primeiro pela direção das
escolas ou órgão superior. Percebemos ainda que a maioria dos entrevistados teve
contato com o tema apenas no curso de graduação, não vivenciando na prática do
cotidiano escolar, e que também não participam de cursos de formação continuada, ou
tentam aprimorar os seus conhecimentos buscando leituras sobre o assunto, o que pode
nos revelar falta de interesse ou de oportunidade. Talvez por isso não costumem tomar
atitudes autônomas para elaborar suas aulas de forma interdisciplinar ou propor projetos
na escola em que trabalham.
Visto que se trata de um tema muito discutido atualmente, devido à necessidade
de mudanças no processo de ensino/aprendizagem, muitos professores se mostraram,
por essas questões da segunda categoria, desinteressados ou desinformados sobre o
assunto, cujo conhecimento é fundamental para que se trabalhe dentro dos novos
paradigmas educacionais. Behrens (2005, p.23) assume que:
A visão fragmentada levou os professores e alunos a processos que se restringem a reprodução do conhecimento. As metodologias utilizadas pelos docentes têm estado assentadas na reprodução, na cópia e na imitação. A ênfase do processo pedagógico recai no produto, no resultado, na memorização do conteúdo, restringindo-se em cumprir tarefas repetitivas que, muitas vezes, não apresentam sentido ou significado para quem as realiza.
Significativa parcela de professores se mostra alienados pelo sistema, que apenas
conduz os educadores a prática de ensino sem consciência e autonomia, negando a estes
a participação ativa no processo e forçando-os a “aceitar todas as coisas da escola como
verdades absolutas e inquestionáveis” (Behrens, 2005).
Mas, também, houve grande parte de professores que assumiram acreditar nesta
proposta pedagógica e de trabalhar segundo seus propósitos, o que nos remete a pensar
que a realidade das escolas está no caminho interdisciplinar.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
7
A terceira categoria se refere à prática interdisciplinar que ocorre na escola.
33,3% dos professores responderam que ela acontece no espaço escolar, 33,3%
responderam que ela acontece somente na sala de aula, 6,7% responderam que está
presente na escola como um todo e principalmente na sala de aula, o que é nos mostra
que a realidade escolar está em processo de mudança de paradigmas, pois a maioria
reconhece atitudes interdisciplinares, mesmo que isoladas ainda na sala de aula. Ainda
na mesma questão, 26,7% disseram que a interdisciplinaridade não esta presente em
nenhum desses espaços. Já em outra questão feita aos professores, a respeito do diálogo
com outros profissionais sobre interdisciplinaridade, 40% disseram que acontece 13,3%
disseram que não acontece e 46,7% responderam que o diálogo entre pares acontece
algumas vezes.
O diálogo é uma importante ferramenta, tanto entre professor e aluno, quanto
entre os professores, pois, através deste se dá a troca de saberes e experiências. Para
estabelecer a interdisciplinaridade é essencial que todos se unam em torno desse
objetivo, relacionando vivencias e contribuindo em conjunto para a mudança de
paradigma. O ser humano é por natureza um ser social, que aprende através da interação
com pessoas e objetos, por isso, os profissionais da educação precisam trabalhar no
coletivo, para juntos aprenderem a ensinar e ensinar a aprender, e cabe a escola
favorecer esses momentos de troca, assim como os projetos interdisciplinares.
É grande o número de professores que assumiram não vivenciar a
interdisciplinaridade em nenhum momento, nem na escola, nem na sala de aula, e
também é alto o índice de profissionais que assumiram só estabelecer o diálogo às vezes
com outros professores. Por isso a conscientização desses docentes se torna o primeiro
passo para a mudança, pois se percebe que eles não entendem o conceito de
interdisciplinaridade ou sua importância dentro do processo de ensino e aprendizagem.
Mas uma vez, a formação desses profissionais vem a culminar na realidade
conservadora da escola. Saviani (1996, p. 145) alerta para o fato de que o educador é
aquele que educa, o qual, conseqüentemente, precisa saber educar, precisa aprender,
precisa ser formado, precisa ser educado para ser educador, precisa dominar os saberes
implicados na ação de educar. Através dessa visão, entendemos que ocorrem inversões
nos papeis: “em lugar de os saberes determinarem a formação do educador, é a
educação que determina os saberes que entram na formação do educador”. Fazenda
(1998, p.13) contribui:
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
8
O primeiro passo para a aquisição conceitual interdisciplinar seria o abandono das posições acadêmicas prepotentes, unidirecionais e não rigorosas que fatalmente são restritivas, primitivas e “tacanhas”, impeditivas de aberturas novas, camisas-de-força que acabam por restringir alguns olhares, tachando-os de menores. Necessitamos, para isso, exercitar nossa vontade para um olhar mais comprometido e atento às práticas pedagógicas rotineiras menos pretensiosas e arrogantes em que a educação se exerce com competência.
A quarta categoria discorre sobre a interdisciplinaridade e a formação do aluno,
sobre a qual 53,3% dos professores responderam que esta é importante para a formação
do aluno, pois já vivenciaram essa prática, 6,7% disseram que não, pois nunca tiveram
uma experiência interdisciplinar e 40% responderam que sim, mas ainda não
vivenciaram nenhuma experiência interdisciplinar.
Entendemos a partir desses dados que os professores compreendem a
importância da interdisciplinaridade, e que ela faz a diferença na formação dos seus
alunos, mas grande parte (40%) dos professores nunca vivenciou essa experiência
interdisciplinar. É visível que há uma esperança para a implementação dos novos
paradigmas, buscando uma educação pautada no aluno consciente, no professor
mediador e no conhecimento contextualizado, em que a escola se torne um espaço
aberto e democrático, com um currículo acessível às diversidades e a realidade
contemporânea. Para isso, torna-se necessário o investimento governamental e a atitude
escolar de gestores e professores que busquem efetivar na prática a educação proposta
no paradigma inovador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa nos ofereceu dados de extrema importância no que tange o
conhecimento interdisciplinar apresentado pelos professores, que através de seus relatos
demonstraram algumas contradições sobre a temática abordada, mas mesmo assim
entendemos que ainda permanece uma visão conservadora de ensino, onde a divisão das
disciplinas e áreas, a dicotomia entre teoria e prática, os modelos pedagógicos
ultrapassados, entre outros, estão presentes nas escolas.
Porém, notamos que, os professores reconhecem que a interdisciplinaridade pode
ser um novo caminho para a transformação da escola e de suas práticas, faltando deles a
atitude de busca, compreensão da realidade e das novas exigências educacionais trazidas
pela implementação do paradigma inovador.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
35
9
Essa pesquisa também contribuiu para nossa formação, pois nos trouxe o
conhecimento de uma nova realidade que permeia o cotidiano escolar, além da
importância da interdisciplinaridade no processo educacional, nos conscientizando, para
exercermos esta metodologia em nossa prática pedagógica, visando à melhor formação
do aluno.
As discussões e leituras feitas durante o estudo dessa disciplina, nos permitiu
formular algumas sugestões para os docentes da educação básica que desejam
implementar em sua prática essa metodologia, como contextualizar e relacionar os
conteúdos, pra que os alunos reconheçam esses em sua realidade; instigar o aluno, ser
parceiro deste na construção do conhecimento de ambos; reconhecer sua incompletude e
a incompletude dos alunos; estimular a autonomia, a troca de conhecimento; avaliar
para a promoção do aluno dentro de um processo que considera o crescimento deste em
relação ao que já apresentou anteriormente; buscar novos conhecimentos e informações,
estudar sempre novas maneiras de trabalhar e avaliar-se continuamente, entre outros,
ajustando suas práticas ao novo paradigma que esta, segundo nossa própria pesquisa,
está cada vez mais presente na sociedade atual.
REFERÊNCIAS
BEHRENS, M.A. O Paradigma Emergente e a Prática Pedagógica. Petrópolis, RJ. Editora Vozes, 2005. COSTA, A.P. da. A Interdisciplinaridade como Prática Educacional Tecnológica em Apicultura: estudo de caso da escola agrotécnica federal de Castanhal, PA. Disponível em: WWW.ufrrj.br/abelhanatureza/paginas/docsoutros/Ensino.pdf. Acesso em 26 de maio de 2009. FAZENDA, I.C.A. (org.) Didática e Interdisciplinaridade. 10ª ed. Campinas, SP. Editora Papirus. 1998. FERREIRA, S.L, Introduzindo a noção de Interdisciplinaridade, Práticas Interdisciplinares na escola;/Ivani Catarina Arantes Fazenda, coordenadora (org.) – 4ª edição. São Paulo: Cortez, 1997. LIBÂNEO, J.C. Pedagogia e pedagogos, para quê?. 2ª ed. - São Paulo: Cortez, 1999. MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução Eloá Jacobina. 5ª ed.. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. SAVIANI, D. Os saberes implicados na formação do educador. In: BICUDO, Maria Aparecida; SILVA JUNIOR, Celestino Alves (Orgs.). Formação do educador: dever do Estado, tarefa da Universidade. São Paulo: Unesp, 1996.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
0
EIXO 7
Desenvolvimento Humano e Espaços não Escolares
A ADOLESCÊNCIA NA SOCIEDADE MODERNA:
CONFLITOS PSICOLÓGICOS E FORMAÇÃO DE IDENTIDADE
Renato Mateus – História – FACIP/UFU [email protected]
Ricardo Vitor Campos – História – FACIP/UFU [email protected]
Sidney Leopoldino da Mata – História – FACIP/UFU [email protected]
Cirlei Evangelista Silva Souza – Pedagogia – FACIP/UFU [email protected]
A adolescência é um período compreendido pela sociedade ocidental como um momento de transição na vida do ser humano, em que ocorrem mudanças fisiológicas, hormonais, sociais, familiares e profissionais que chegam de forma intensa e que fazem o indivíduo conceber sua própria identidade, contribuindo de forma significativa para a passagem da fase infantil para a adulta. Nesta pesquisa tivemos como objetivo identificar as ambigüidades vivenciadas pelo adolescente em suas diversas instâncias de convivência (escolar, social e familiar), relacionando-as aos aspectos psicológicos que influem na formação de sua identidade. Para isso, aplicamos questionários individuais para um grupo de cinco alunos com idades entre 14 e 17 anos de idade, que estudam na rede estadual de ensino de Ituiutaba/MG. Apesar de preliminares, os resultados alcançados revelaram que o grupo entrevistado demonstrou comportamento compatível com as teorias consultadas ao apresentarem conflitos relacionados à sua identidade sexual, profissional e ideológico, além de uma instabilidade emocional comum que contribui para que a sociedade os rotule como rebeldes. Em síntese, concluímos que diante desse complexo momento em que os adolescentes vivenciam conflitos e considerando que estes repercutem nas relações estabelecidas por eles nos ambientes escolar, social e familiar, entendemos que pais e educadores devem estar atentos ao ritmo de desenvolvimento de cada indivíduo nesta fase, de forma a atuar enquanto mediadores, contribuindo com os adolescentes para a vivência e a superação destas questões que os afligem e que fazem parte do processo constitutivo de sua identidade. Palavras-chave: Adolescência. Formação da Identidade. Conflitos psicológicos.
INTRODUÇÃO
Quando eu tiver setenta anos então vai acabar esta adolescência
Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
1
Vou fazer o que meu pai quer começar a vida com passo perfeito Vou fazer o que minha mãe deseja
aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade
e terminar meu curso de direito Então ver tudo em sã consciência quando acabar esta adolescência.
Paulo Leminski
A sociedade moderna trouxe consigo um elemento, até então, pouco considerado
dentro da estrutura de classificação do desenvolvimento humano, tanto social quanto
psicológico, que é a figura do adolescente. A adolescência é um período que se estende,
segundo Davidoff (2001), entre 13 a 18 anos de vida, sendo um momento de transição
entre a infância e a vida adulta. Neste ocorrem mudanças fisiológicas, hormonais,
sociais, familiares e profissionais que chegam de forma intensa e que contribuem para o
indivíduo conceber sua própria identidade.
Dessa forma, a adolescência é uma invenção cultural tratada pela sociedade
ocidental de forma diferenciada, ou seja, ela não é “universal”. Os grupos tribais, por
exemplo, não separam o período infantil da fase que antecede o ingresso do jovem no
mundo dos adultos. Para eles, a adolescência não existe, pois assim que o jovem atinge
a maturação biológica ele ingressa no grupo social adulto, sendo esta ocasião marcada
por rituais de iniciação (RAPPAPORT, 1982, p.11-12).
As culturas consideradas menos tecnicamente sofisticadas não retardam o
ingresso dos jovens nas suas estruturas sociais, uma vez que, para estas, é necessário
apenas que eles sejam capazes de reproduzir-se, prover os filhos de sustento, no caso
dos homens, e cuidar dos afazeres domésticos, no caso das mulheres.
Por outro lado, nas sociedades mais tecnológicas como a nossa, exige-se cada
vez mais profissionalização do jovem para atender a esta demanda de formação. Sendo
assim, a puberdade mistura-se com a idade adulta inicial, sendo que o aprendiz só estará
pronto por volta dos 25 anos, o que representa uma defasagem de 10 anos entre o
momento em que ele se torna um produtor biológico (13 a 15 anos) e aquele em que ele
está “apto” a tornar-se um produtor social, por volta dos 25 anos (RAPPAPORT, 1982.
p.12).
Poderíamos, então, dizer que o tratamento histórico que a sociedade
contemporânea confere à adolescência impõe-lhe uma ideologia social ambígua e
especuladora sobre o que deve e quando cobrar dos jovens adolescentes. Assim, o
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
2
adolescente tende a apresentar muitos conflitos frente a esta exigência de responder às
demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, tomar consciência de seu espaço no mundo.
E a entrada a esta nova realidade, acaba por produzir muita confusão também em seus
sentimentos, conceitos e, até mesmo, perda de suas referências.
Neste sentido, a pesquisa que ora apresentamos neste artigo teve como objetivo
identificar as ambigüidades vivenciadas pelo adolescente em suas diversas instâncias de
convivência (escolar, social e familiar), relacionando-as aos fatores psicológicos que
influem na formação de sua identidade, aspectos traduzidos nas inquietações trazidas
pela poesia de Paulo Leminski esboçada na abertura desta introdução. Para tal,
aplicamos um questionário em cinco adolescentes com idades entre 14 e 17 anos,
estudantes do ensino médio da rede de ensino municipal de Ituiutaba/MG.
Por outro lado, para discutirmos esta fase da vida de todo ser humano, optamos
por utilizar como referencial teórico alguns estudiosos da Psicologia que discorrem
sobre a constituição do adolescente, as características desta fase e como estas interferem
na formação de sua personalidade. São estes teóricos que serão apresentados a seguir.
AS CONCEPÇÕES DE TEÓRICOS DA PSICOLOGIA SOBRE ASPECTOS DA
ADOLESCÊNCIA: PIAGET, FREUD E ERIKSON
Para um melhor detalhamento deste período, buscaremos suporte em alguns
teóricos na área da Psicologia que discorrem sobre aspectos diferenciados no
desenvolvimento do adolescente: Piaget aborda o desenvolvimento cognitivo; Freud o
desenvolvimento psicossexual; e Erikson o desenvolvimento psicossocial. Este último
aspecto que se relaciona diretamente com a temática deste trabalho que é a identidades e
os conflitos psicológicos vivenciados pelo adolescente.
No que se refere ao desenvolvimento cognitivo apresentado pelo adolescente,
Piaget (apud Fontana e Cruz, 1997) postula que o mesmo se dá através das relações
entre o organismo e o meio, dentro de um processo de troca no qual este organismo se
adapta a esse meio ao mesmo tempo em que o assimila, sob a lógica de um processo de
equilibração sucessiva, no qual se processa a maturação biológica. Ao mesmo tempo em
que propõe mudanças na maneira como os adolescentes pensam sobre si mesmos, sobre
seus relacionamentos pessoais e sobre a natureza de sua sociedade têm como fonte
comum o desenvolvimento de uma estrutura lógica que ele chamava de operações
formais. Nesta, pensamento liberta-se da experiência direta e as estruturas cognitivas da
criança adquirem maturidade. Esse aparato maturacional do sujeito tem ligação também
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
3
com o meio social, sendo necessário estar em condições de assimilar as contribuições
desse, uma vez que esses fatores estão relacionados dinamicamente.
Em se tratando do desenvolvimento psicossexual, Freud (apud Nunes e Ferreira,
2009) classificou o período da adolescência como “Puberdade”, momento em que há
uma retomada dos impulsos sexuais e o adolescente passa a buscar, em pessoas fora do
seu grupo familiar, um objeto de amor. Para o autor, este é um período de mudança no
qual o jovem tem que elaborar a perda da identidade infantil (figura dos pais, da própria
infância), para que, pouco a pouco, possa assumir uma identidade adulta. Ele procura se
diferenciar do outro, ao mesmo tempo em que procura se inserir num grupo com estilos
e gostos próprios.
Referindo-se à adolescência, Erikson, autor da teoria Psicossocial do
Desenvolvimento, afirma que o período em questão é marcado pela tomada de
consciência de um novo espaço no mundo e que a entrada em uma nova realidade
produz confusão de conceitos e perda de certas referências. Para o autor, há um
encontro dos iguais no mundo dos diferentes, ou seja, os adolescentes buscam seus
pares ou seus “iguais”, os quais normalmente estão inseridos em grupo determinado, de
maneira particular, portanto, sendo tratados como diferentes. Eles procuram lugar de
livre expressão e reestruturação da personalidade, geralmente encontrado nos grupos de
afinidades comuns nesta fase, o que corrobora com a justificativa supracitada.
Erikson afirma que o processo de construção de identidade é pessoal e social e
ocorre através de trocas entre indivíduos e o meio social no qual está inserido. Neste
processo, as crises que aparecem devem ser encaradas como situações a serem
resolvidas e fazem parte do contexto do desenvolvimento, pois é através delas que os
sujeitos buscam soluções para a vida adulta e desconstroem o conceito da infância,
estabelecendo, assim, a sua própria identidade.
Outra contribuição importante para entender este contexto pode ser percebida
em Rappaport (1982) que salienta que os conflitos que o adolescente vive durante o seu
desenvolvimento serão melhores ou piores compreendidos pelos pais na proporção que
estes resolveram seus conflitos passados, fazendo opções que lhes são significativas, ou
seja, pais seguros, que fizeram opções profissional, sexual e ideológica, absorverão
melhor as decisões que os filhos tomarem, porque é a segurança do que somos e a
coerência de nossas escolhas que nos permite aceitar o que o outro é, e a escolha que
faz. Sendo assim, torna-se mais compreensível porque os pais tentam impor um modelo
de mundo aos filhos.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
4
A complexidade deste processo que se dá em níveis social, familiar e individual,
pode deixar mais clara o porquê da adolescência ser tratada de forma tão abstrata por
quem não procura conhecê-la através dos fundamentos teóricos, classificando-a de
acordo com o senso-comum, como um período turbulento e tumultuado, terminando por
rotular todos os adolescentes com esta equivocada impressão de serem todos rebeldes.
Para Erikson, a configuração da identidade propriamente dita é o momento em
que o sujeito definirá realmente quem ele é, sendo tratada em três níveis: identidade
sexual, profissional e ideológica (RAPPAPORT, 1982, p.30). A segurança do papel
sexual assumido é o que lhe permitirá estabelecer filiações características nas etapas
seguintes, ou seja, é estando seguro do que se é, que se pode finalmente buscar a relação
com o outro sem contaminações. Sendo assim, o outro não é visto em relações
projetivas, como extensão do eu, mas sim como outro com quem se relacionar. A partir
desta aquisição, pode o adolescente suportar as diferenças, entendê-las e conviver com
elas, pois as divergências já não mais ameaçam os próprios valores, seguro que está o
sujeito de suas aquisições.
Já a realização profissional é que dará ao indivíduo a capacidade de sentir-se
membro ativo e produtivo dentro do grupo social, agregando as concepções de
independência e co-participação na realização do mundo material. O adolescente, como
ser que está permanentemente em reconstrução interna, deve acompanhar também a
reconstrução do mundo e posicionar-se. Para Erikson, o adolescente é portador de uma
energia que possibilita revoluções e rupturas dos modelos que não servem mais.
A aquisição ideológica configura-se em dois níveis: o político que é aquele em
que o jovem definirá qual o modelo real que quer viver pessoalmente, para que sua
opção tenha a perspectiva de realizar-se. No outro plano, o religioso, surge o
questionamento: Deus existe ou não? A perspectiva de uma vida espiritual está no
centro deste questionamento.
A resolução dos três níveis de identidade dará ao indivíduo a segurança
necessária para as etapas posteriores, onde definido o que é, poderá projetar-se como
realizador. De acordo com Erikson, a superação destas etapas de formação da identidade
deixará para o adolescente o sentimento básico de que “eu sou”, e que a adolescência é
um momento crítico de integração das etapas anteriores. Dessa forma, fica difícil
compreendê-las em análise completa do ciclo vital e que as crises psicossociais de
desenvolvimento que ele propõe têm uma correlação direta com as fases propostas por
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
5
Freud. Neste contexto, a fase genital de Freud equivale à adolescência que Erikson
propõe como sendo a terceira etapa do ciclo evolutivo: iniciativa versus culpa.
RAPPAPORT (1982) entende que esta relação está posta no momento em que
Erikson privilegia a progressiva organização do Ego na constituição do sujeito, à
medida que vai definindo por suas interações e aquisições com o mundo. Cita a título de
exemplo que o incorporar do ato de caminhar e de correr, estabelece uma relação do
sujeito com a gravidade e o libera para descobrir o que pode fazer, e não o que está
fazendo, conferindo-lhe autonomia e exercitando a sua fantasia. A partir disso, estará
pronto para manifestar a sua sexualidade, passando a buscar o seu papel dentro do grupo
familiar e considerar os papéis que vale a pena assumir ou imitar.
Portanto, compreendemos que a adolescência se constitui em um momento de
transformações para o adolescente que precisam ser vivenciadas por ele, aceitas e
favorecidas pelos adultos, visto que as mesmas fazem parte de sua constituição
enquanto pessoa. Como nem sempre isso acontece, consideramos salutar colocar em
evidência tal temática, considerada por nós essencial para todos aqueles que lidam com
este público.
METODOLOGIA
Para a consecução do objetivo proposto neste trabalho, realizamos uma pesquisa
dentro da abordagem qualitativa que nos permitiu compreender, de forma mais
detalhada, a complexidade que envolve a formação da identidade destes indivíduos que
as sociedades modernas chamam de adolescentes.
Em uma pesquisa de campo, utilizamos um questionário composto por seis
questões objetivas que puderam ser respondidas individualmente e sem tempo pré-
determinado por cinco adolescentes que estudam na rede estadual de ensino do
município de Iutiutaba/MG.
Na tabela 01, podemos perceber que eles possuem idades entre 14 e 17 anos e
são, em sua maioria: do sexo feminino, de religião católica e estão cursando o 2º ano do
ensino médio.
Tabela 1: Caracterização dos adolescentes participantes da pesquisa.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
6
PARTICIPANTE IDADE SEXO RELIGIÃO ESCOLARIDADE
1 17 F Católica 2º ano/ Ensino Médio
2 15 F Católica 2º ano/ Ensino Médio
3 14 F Não tem religião 1º ano/ Ensino Médio
4 16 M Ateu 2º ano/ Ensino Médio
5 15 M Católica 1º ano/ Ensino Médio
Fonte: Questionários aplicados aos adolescentes no ano de 2010.
Os temas que foram tratados na pesquisa buscam identificar, dentro do público
alvo, as características às quais se referiram os teóricos já citados, sendo elencados os
seguintes questionamentos: a escolha da profissão e se houve influência na sua decisão;
se busca aconselhamento frente às decisões difíceis e a quem recorre; liberdade para
falar sobre sexualidade e com quais pessoas; concepção política e se está preparado para
assumir as responsabilidades da vida adulta.
RESULTADOS
Os resultados obtidos na pesquisa são preliminares, mas nos revelaram nuances
bastante interessantes desta faixa etária, mostrando-nos traços característicos e
individuais próprios deste momento de transição e que, normalmente, é sucedido pela
aquisição do senso de responsabilidade. Esta concepção foi percebida quando
observamos no item profissão que a maior parte dos entrevistados declarou-a como
definida, apesar da pouca idade que possuem e pelo fato deste ser um período em
ocorrem mudanças em seus conceitos e referências, como já dissemos anteriormente
neste texto.
Esta resposta também pode demonstrar maturidade dos adolescentes em suas
opções pessoais, mas, ao mesmo tempo, quando avaliamos a questão seguinte referente
à busca de auxílio na tomada de decisões difíceis e a grande maioria afirmou que ainda
busca aconselhamento junto aos pais, podemos inferir sobre a participação destes
também na escolha da profissão futura, não sendo esta uma decisão individual do
adolescente.
Mas é importante ressaltar que normalmente se deposita na escolha da profissão
todo o futuro de uma pessoa e este não depende exclusivamente deste fator. Segundo
Bock, Furtado e Teixeira (2002, p. 310), “podemos dizer que a escolha profissional –
que é um momento de conflito e por isso um momento difícil – é um fator importante,
mas não exclusivo, na construção de um futuro”. Estes autores ainda salientam a
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
7
importância de que o adolescente compreenda e conheça as influências sociais e os
componentes pessoais que compõem sua escolha, para assim, ter maior controle sobre
ela.
No que se refere à sexualidade, observamos de fato existir uma considerável
dificuldade dos adolescentes e de seus pais para vencer certos paradigmas que se
encontram instituídos socialmente e que refletem diretamente na relação entre eles, uma
vez que a maior parte dos entrevistados declarou-se mais a vontade para tratar do
assunto com pessoas situadas fora do convívio familiar. Bock, Furtado e Teixeira (2002,
p. 241) alertam que “a falta de diálogo franco e aberto entre jovens, pais e educadores,
coloca o jovem distante das informações básicas sobre sua própria sexualidade”.
Sobre o quesito política, os entrevistados demonstraram uma indefinição sobre a
importância desta para a sociedade, no entanto, suas respostas indicam que a maior
parte dos entrevistados já desenvolve reflexões neste sentido.
Finalmente, quando perguntados se o estágio de maturidade em que se
encontram lhes permite assumir as responsabilidades da vida adulta, percebemos que a
maior parte declarou-se não estar pronto para tal. Esta analogia sintetiza-se na afirmação
de Erikson de que fica difícil compreender a adolescência sem a análise completa do
ciclo vital e que as crises psicossociais observadas no período de desenvolvimento
completam este processo, delineando o indivíduo para enfrentar crises, questionar
opções e seguir seguro do que é e do que quer (ERIKSON, 1972 apud RAPPAPORT,
1982).
Apesar de preliminares, os resultados alcançados revelaram que o grupo
entrevistado demonstrou comportamento compatível com as teorias consultadas ao
apresentarem conflitos relacionados à sua identidade sexual, profissional e ideológico,
além de uma instabilidade emocional comum que, infelizmente, contribui para que a
sociedade os rotule como rebeldes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao trabalharmos com o tema “adolescência” tivemos contato com várias
concepções teóricas relacionadas ou produzidas por autores e teóricos conceituados.
Neste contexto, foi possível entender que esta fase de transição pela qual todos os seres
humanos necessitam passar, não pode ser delineada de forma precisa no que se refere à
faixa etária dos adolescentes.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
8
Tal fato se explica uma vez que o processo de maturação do indivíduo varia de
acordo com aspectos sociológicos, psicológicos e ambientais. Isso nos possibilita dizer
que não se pode esperar que indivíduos com faixas etárias semelhantes disponibilizem o
mesmo padrão evolutivo, o que corrobora para que pais e educadores considerem estas
variáveis ao lidar com as crises vivenciadas em diferentes tempos por estes grupos tão
severamente criticados em nossa sociedade.
Nossa pesquisa de campo nos possibilitou estabelecer uma correlação entre o
discurso teórico e a práxis observada no cotidiano social, permitindo-nos compreender
de forma mais detalhada a complexidade que envolve a formação da identidade destes
indivíduos. Pudemos também perceber que o processo de adolescência é permeado de
ambigüidades que se refletem normalmente em seus atos, fazendo com que a sociedade
tenha uma impressão equivocada destes indivíduos.
Em síntese, concluímos que diante desse complexo momento em que os
adolescentes vivenciam conflitos e considerando que estes repercutem nas relações
estabelecidas por eles nos ambientes escolar, social e familiar, entendemos que pais e
educadores devem estar atentos ao ritmo de desenvolvimento de cada indivíduo nesta
fase, de forma a atuar enquanto mediadores, contribuindo com os adolescentes para a
vivência e a superação destas questões que os afligem e que fazem parte do processo
constitutivo de sua identidade.
REFERÊNCIAS
BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São Paulo: Saraiva, 2002. DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001. FONTANA, Roseli; CRUZ, Nazaré. Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: Editora Atual, 1997. NUNES, Ana Ignez Belém Lima; SILVEIRA, Rosemary do Nascimento. Psicologia da aprendizagem: processos teorias e contextos. Brasília: Líber, 2009. RAPPAPORT, Clara Regina. Psicologia do Desenvolvimento. São Paulo: EPU, 1982. MELO, Maria Aparecida S. Concepções de Adolescência em Jean Piaget. Disponível em: <http://www.psicologado.com/site/psicologia-geral/desenvolvimento/concepcoes-de-adolescencia-em-jean-piaget>. Acesso em: 18 abr. 2010.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
36
9
LEPRE, Rita Melissa. Adolescência e Construção da Identidade. Disponível em: <http://www.psicologia.org.br/internacional/pscl36.htm>. Acesso em: 18 mai. 2010.
AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO E SUAS
IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Plínio Andrade Guimarães do Nascimento - UFU
[email protected] Leonardo Batista Pedroso - UFU
[email protected] Vinícius Ghouther Tirone do Prado - UFU
[email protected] Viviane Prado Buiatti Marçal - UFU
INTRODUÇÃO
As relações afetivas e cognitivas construídas pelos sujeitos (alunos-professores)
no espaço escolar passaram e ainda passam por diferentes concepções que variam
segundo cada contexto histórico específico. Entende-se nessa perspectiva que, as
normas e regras da escola tradicional privilegiam somente a objetividade (razão) no
processo de ensino-aprendizagem, no qual a subjetividade (emoções, sentimentos,
valores etc.) é significativamente desvalorizada na interação estabelecida entre aluno-
aluno e professor-aluno.
Essa predominância da razão sobre a emoção reflete tipicamente os interesses da
classe social burguesa. Segundo Leite (2006, p. 17)
[...] até o século XX, predominou a interpretação de que a razão deve dominar e controlar a emoção, o que seria possível pelo processo de desenvolvimento, no qual os mecanismos institucionais educacionais, com destaque para a família e a escola, teriam um papel fundamental. Nesse sentido, compreende-se que essas representações tiveram papel crucial nas instituições escolares, em especial nos currículos e programas educacionais, contribuindo para considerar apenas as dimensões racionais/cognitivas no trabalho pedagógico.
Embora nesta época fosse desconsiderada a questão subjetiva, isto não significa
que ela não deixava de se manifestar no espaço da sala de aula, ou então, nas relações
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
37
0
complexas de aprendizado, em que o aluno pudesse demonstrar certo interesse ou
vontade, desejo etc. em aprender ou não tal disciplina ou conteúdo. Entretanto, as
relações entre os sujeitos que predominavam no campo do conhecimento neste período
foi uma concepção dualista entre razão e emoção (LEITE, 2006).
É importante ressaltar que, as questões afetivas vinculadas ao processo de ensino
construído pelos sujeitos no espaço escolar em sua totalidade foram realmente
consideradas, somente com as transformações ou surgimentos de novas concepções
teóricas, especialmente, em diversas áreas do conhecimento, bem como na maneira de
agir e pensar da sociedade em geral.
Leite (2006, p. 17) afirma que
[...] o surgimento de novas concepções teóricas centradas nos determinantes culturais, históricos e sociais da condição humana, em especial durante o século XX, criaram-se as condições para uma nova compreensão sobre o papel das dimensões afetivas no desenvolvimento humano, bem como das relações entre razão e emoção.
Considera-se, então, que as relações afetivas e cognitivas que permeiam os
sujeitos (professor e aluno) na realidade escolar são indissociáveis, principalmente, pelo
fato destes administrarem ao mesmo tempo a racionalidade e a vontade de aprender,
ensinar, isto é, as experiências objetivas e subjetivas se integram.
Na abordagem histórico-cultural valorizada nos estudos de Vygotsky e na
psicogênese da pessoa referenciada por Wallon, a criança se desenvolve principalmente
na interação estabelecida com as pessoas mais experientes que a circundam. Nessa
perspectiva, a relação com o “outro” é importante para o processo de aprendizado e
desenvolvimento humano, seja tanto no interior do espaço escolar, mas também no
ambiente familiar, na igreja, na vizinhança etc. Ou seja, constitui-se como uma forma
cultural de se relacionar e de se desenvolver socialmente em diferentes etapas do
contexto histórico.
Considerando a influência das interações sociais para o desenvolvimento
humano, principalmente, no espaço da sala de aula, que esta pesquisa tem como
objetivo estabelecer interlocução entre as relações de afetividade, o professor e aluno no
processo de ensino-aprendizagem.
AFETIVIDADE ENTRE PROFESSOR-ALUNO: INTERAÇÃO OU ISOLAÇÃO?
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
37
1
Nas relações que o professor desempenha especialmente de intermediação do
conhecimento em sala de aula, entre sujeito (aluno) e objeto, os aspectos cognitivos
passam a ter grande importância para o aprendizado do educando, mas somam-se a isso
as experiências subjetivas.
Ao analisar o campo destas funções afetivas do ser humano, percebe-se que elas
são cada vez mais complexas, pois se vinculam também às condições cognitivas.
Segundo Leite (2006, p. 21)
[...] a afetividade envolve as vivências e as formas de expressão mais complexas e humanas, apresentando um salto qualitativo a partir da apropriação dos sistemas simbólicos, em especial a fala – o que possibilita a transformação da emoção em sentimentos e sua representação no plano interno, passando a interferir na atividade cognitiva e possibilitando seu avanço.
Percebe-se que desde o século XX, houve transformações na maneira de se
relacionar principalmente no espaço da sala de aula entre professor-aluno e aluno-aluno,
entretanto, diversas instituições de ensino do Brasil, não acompanharam essas
mudanças, pois entendem que o papel do docente (professor) é o de se restringir a
transferência de conhecimento para os discentes (aluno).
É importante ressaltar que, a forma como o educador se expressa na realidade
escolar, principalmente, nas condições de ensino produzidas em sala de aula, afeta
consideravelmente o aprendizado dos estudantes (sujeitos) sobre determinado objeto.
Segundo Carneiro e Silva e Schneider (2007, p. 85)
[...] um professor afetivo com seus alunos que busca a aproximação e realiza sua tarefa de mediador entre eles e o conhecimento, atuará na zona de desenvolvimento proximal, isto é, na distância entre o nível de conhecimento real e aquele que os alunos poderão construir com sua ajuda. A afetividade passa, então, a ser um estímulo que gerará a motivação para aprender. No entanto, cabe ressaltar que a motivação para aprendizagem depende das estratégias didáticas, da qualidade das intervenções do professor e também do modo como planeja e utiliza certos recursos em suas aulas, como: metodologia de projetos, aulas-passeio, dramatização, lúdico, entre outros.
Entretanto, se um professor mantém distante dos alunos, no qual não considera a
participação destes no processo de ensino-aprendizagem; utiliza praticamente o mesmo
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
37
2
recurso metodológico, como por exemplo, o livro didático em suas aulas e dificilmente
os alunos se perceberão como seres ativos nesta interação cognitiva, pois geralmente, o
conteúdo presente neste material está distante da vivência dos alunos e o educador não
busca realizar uma conexão entre os fatos.
Nesse sentido, os alunos se desinteressam e geram certa repulsão quanto ao
conhecimento não intermediado pelo professor, principalmente pelo afastamento criado
por este nas suas relações afetivas e cognitivas ao mesmo tempo.
Esse perfil de docente tradicional sobrevive em muitas escolas brasileiras no
período contemporâneo, pois além de não intermediar o saber e as informações
próximas da vivência dos alunos por meio de um planejamento de aula consistente,
[...] o professor ensina e avalia; se o aluno for bem, é sinal que o professor ensinou de forma adequada; se o aluno for mal, é o único responsabilizado, podendo ser reprovado ou excluído. Nessa perspectiva, ensino e aprendizagem são entendidos como processos independentes e desvinculados: o ensino é tarefa do professor; a aprendizagem é obrigação do aluno (LEITE, 2006, p. 37-38).
Para que o aluno possa aprender determinado conteúdo, Vigotsky afirma que o
professor precisa se aproximar e/ou intermediar esse processo, sendo que, então,
dificilmente o mesmo conseguiria interpretar diversos assuntos de forma autônoma, isto
é, sem seu apoio intelectual e afetivo.
Tassoni (2000), embasada em Vigotsky (1994), nos mostra que o
desenvolvimento do sujeito pautado nas interações sociais em um processo histórico-
cultural, considera as idéias de mediação e internalização como aspectos fundamentais
na aprendizagem, moldando sua personalidade e inferindo em suas formas de pensar e
agir.
Na medida em que o sujeito fortalece suas relações sociais com aqueles ao seu
redor, a afetividade ocasionada ali resulta em maior liberdade e conseqüente
internalização de suas experiências.
Tassoni (2000, apud Vigotsky, 1994) afirma que o processo de internalização
envolve uma série de relações, podendo estas serem divididas em duas esferas: social
(interpsicológica) e individual (intrapsicológica), as quais permeiam as diferentes
funções neste processo. Dessa forma, a função psicológica se desenvolve em dois
planos: primeiro na relação e depois no próprio indivíduo, do social para o individual.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
37
3
Nossas maneiras de pensar e agir são resultado da apropriação de formas culturais de
ação e de pensamento.
Neste sentido, em ambiente escolar, a afetividade implica diretamente na
qualidade e eficiência do aprendizado do aluno, oriundos de uma relação sadia entre
professor e aluno. Portanto, as interações sociais e o papel do outro em distintas
experiências e influências são fundamentais no processo de aprendizagem.
Para Wallon (1995), as emoções assumem o mais forte vínculo entre os homens;
bem como, a afetividade como fator primordial no desenvolvimento das relações
sociais. Entretanto, vale ressaltar que, para este autor, há uma clara distinção entre a
emoção e a afetividade. Segundo ele, a emoção representa manifestações subjetivas
direcionadas para expressões de origem biológica, como exemplo, o choro de uma
criança ao reclamar de contrações intestinais. Já a afetividade denota maior
complexidade, envolvendo elementos de caráter psicológico (como sentimentos) e ao
mesmo tempo biológico (emoções).
Ao contextualizar essas experiências subjetivas para o espaço da sala de aula,
destaca-se que a forma como o professor estabelece suas práticas pedagógicas
específicas, reflete significativamente no aspecto cognitivo e afetivo dos seus alunos.
Em respeito a isso, Leite (2006, p. 37) afirma que
[...] a atividade de ensino que não possibilita um bom desempenho do aluno, por algum problema no seu planejamento e execução: podem ocorrer falta de instruções claras, ausências de intervenções adequadas do professor, falta de feedback por parte do professor, etc. Tais problemas, quando ocorrem com alta freqüência, podem transformar a atividade escolar em uma situação de sofrimento para o aluno, produzindo freqüentemente efeitos indesejáveis como a tentativa de se esquivar ou fugir de situação, enganar o professor etc.
Deve ressaltar que, a afetividade passa principalmente pelas funções simbólicas
(linguagem, gestos, símbolos etc.), por exemplo, quando o docente (professor) realiza
críticas verbais aos estudantes, conforme a seguinte fala “você não tem competência
para aprender o conteúdo da disciplina na qual ministro”, isso gera um desinteresse do
aluno em aprender a matéria, especialmente, pelo mesmo não ter construído um
sentimento de confiança em relação ao discente ou auxiliá-lo nas suas dificuldades, seja
por sugestões de idéias ou outras estratégias didáticas.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
37
4
Nos estudos de Andrade (2004) sobre as relações de afetividade entre professor-
aluno, a autora explica que torna necessário ampliar a visão sobre os aspectos
psicológicos e didáticos na convivência entre educador e educando, por meio de
considerações sobre as condições históricas, políticas e sociais que influenciam nestes
relacionamentos.
Para tal, Andrade (2004, p. 4) ressalta que
[...] é necessário que o professor assuma um compromisso ético, buscando oferecer ao aluno condições – através da educação escolar – de conviver com a maior dignidade possível na nossa sociedade. Porém, isso não se dá ao acaso. Para que isso seja possível, o professor deve desenvolver – durante sua formação e experiência profissional – uma visão crítica da sua atuação na sala de aula, do sistema escolar e da sociedade em que vivemos, a fim de não levar a excluir ainda mais aquele que já se percebe excluído.
Torna-se necessário, então, considerar também os problemas sociais que
professores sofrem perante a sociedade, como as condições de trabalho e os baixos
salários, pois, cotidianamente estes se sentem afetados e trazem consigo tais conflitos
para o ambiente escolar, conseqüentemente, atrapalhando seu desenvolvimento
cognitivo e suas relações com o próximo. Podemos exemplificar com uma criança pobre
que freqüentemente sofre com problemas de ordem econômica e social; ao chegar à
escola, depara-se com ausência de materiais escolares básicos. Neste sentido, a criança
se sente desmotivada e sem estímulo e qualquer eventual problema e/ou discriminação
pode prejudicar ainda mais sua convivência com colegas e professores, bem como seu
rendimento em sala de aula.
Não obstante, a escola atualmente perde seu foco e denota um padrão negativo e
excludente:
As relações estabelecidas no contexto escolar têm se revelado cada dia mais difíceis e conflitantes. A descrença de que a escola possa constituir-se num espaço de construção de conhecimento, de alegria, de formação de pessoas conscientes, participativas e solidárias, tem recrudescido. Os sentimentos em relação a ela têm sido de desilusão, desencanto e impotência diante dos inúmeros problemas cotidianos (PANIZZI, 2004, p. 1)
Nessa perspectiva, deve-se considerar que a escola vem sofrendo uma perda de
identidade, principalmente, pela ausência de objetividade das atividades propostas pelos
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
37
5
professores, coordenadores, supervisores etc., no qual não considera realmente o
contexto vivência dos alunos, bem como o esmaecimento de se trabalhar a consciência
crítica destes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto neste trabalho, conclui-se que se faz necessária uma mudança
na atual concepção de escola. As relações afetivas e cognitivas passaram a se entrelaçar
cada vez mais no processo de ensino-aprendizagem, entretanto, algumas instituições de
ensino no Brasil, ainda não conseguiram acompanhar essas transformações, e com isso,
privilegiam somente os aspectos intelectuais.
Acredita-se também, que as metodologias, as práticas de ensino utilizadas pelo
professor e a sua forma de se relacionar com seus alunos, influencie consideravelmente
nos sentimentos e emoções que estes têm sobre o mesmo, além do aprendizado obtido
por meio do resultado dessa inter-relação dos aspectos cognitivo-afetivo, seja no espaço
interno ou externo da sala de aula.
Em consonância com isto, torna-se necessário que o docente seja inovador nas
suas práticas de ensino, no qual possa utilizar diversos recursos didáticos segundo as
necessidades de cada aula que ministrar e também estabeleça relações do conteúdo
ministrado com a realidade de vivência dos alunos.
Por fim, acredita-se que as escolas brasileiras em geral, não devem centrar seus
objetivos somente nas atividades intelectuais, mas procurar desenvolver articuladamente
com isso, os aspectos afetivos por meio de eventos artístico-culturais que envolvam as
relações de proximidade entre os sujeitos e as suas formas de expressão no espaço
escolar.
REFERÊNCIAS ANDRADE, S. A. R. A Afetividade e suas implicações no processo de ensino aprendizagem. Disponível em: <http://www.mgtmartins.com.br/monografias/ARTIGO%20AFETIVIDADE%20E%20SUAS%20IMPLICACOES%20NO%20ENSINO%20APRENDIZAGEM.pdf>. Acesso em 16 nov. 2009. LEITE, S. A. S; TASSONI, E. C. M. A afetividade em sala de aula: As condições de ensino e a mediação do professor. Disponível em: < http://www.fe.unicamp.br/alle/textos/SASL-AAfetividadeemSaladeAula.pdf>. Acesso em 16 nov.2009.
ANAIS - S
EMANA D
A PEDAGOGIA – FACIP-UFU -
OUT/2010
37
6
LEITE, S. A. S. Afetividade e Práticas Pedagógicas. In: _______. Afetividade e Práticas Pedagógicas. 1 ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006, v. 1, p. 15-45. LIMA, C. A. F. A relação afetividade – aprendizagem no cotidiano da sala de aula: Enfocando situações de conflito panizzi. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt13/t132.pdf>. Acesso em 16 nov. 2009. TASSONI, E.C.M.; Afetividade e aprendizagem: a relação professor-aluno. Campinas, 2000. Disponível em: <http//www.anped.org.br/reunioes/23/textos/2019t>. Acesso em: 21 nov. 2009. VIEIRA, A. S; LOPES, M.D. Afetividade e Cognição: A Afetividade entre Professor e Aluno é o suporte de todo processo de aprendizagem escolar. Disponível em: <http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC33075141801.pdf> Acesso em 16 nov. 2009.