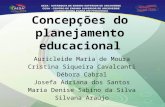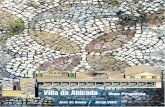ROBÓTICA CIS PROGRAMA EDUCACIÓN PARA PENSAR MINERD CIM INTEC
Robótica Educacional Pervasiva: Proposta de Trabalho
Transcript of Robótica Educacional Pervasiva: Proposta de Trabalho
Editorial
The FEI University, in Sao Bernardo do Campo, Brazil, hosted the Workshops of the
Joint Conference 2010 in October. The Conference covered the latest practical
applications and techniques on Artificial Intelligence, Neural Network and Intelligent
Robotics.
This workshop series is aimed at individuals who currently works (or plan to work) on
Artificial Intelligence, Social Simulation, Computational Intelligence, Text and Web
Intelligence and Educacional Robotics.
Those workshops were convened to begin a dialog between the scientific community
that is central to the Artificial Intelligence, Neural Network and Intelligent Robotics:
• V Workshop on MSc Dissertation and PhD Thesis in Artificial Intelligence;
• VII Best MSc Dissertation and PhD Thesis Contest;
• II Brazilian Workshop on Social Simulation;
• III Workshop on Computational Intelligence;
• III International Workshop on Text and Web Intelligence;
• II Workshop on Educacional Robotics.
All these workshops were edited and jointed to create these digital document, that
gather and organize the papers in a logical order, based on the agenda that was
developed prior to the workshop individuality.
The workshop consisted of invited presentations on the topics identified in the agenda
and group discussions on several questions. All of the presentations made at the
workshop are included in this workshop series.
Finally, we wish to acknowledge the support of FEI University, Brazilian Computer
Society (SBC) and the event's sponsors, without whom its completion would not be
possible. We also highlight and thank all members of the Special Commissions involved
in the event, the various discussions and support throughout this time of workshops
preparation.
Plinio Thomaz Aquino Junior - Workshop Chair
Flavio Tonidandel – Joint Conference General Chair
São Bernardo do Campo, Brazil, Outubro 2010
Index
BWSS 2010 - The Second Brazilian Workshop on Social Simulation - Committee 6
BWSS 2010 - The Second Brazilian Workshop on Social Simulation - Preface 10
On the Operationality of Moral-Sense Decision Making 11
Modeling Ethnic Digital Divide Evolution Theories 23
A Multi-agent System for Dynamic Path Planning 35
Enhancing Cooperation in the IPD with Learning and Coalitions 44
From Input-Output Matrixes to Agent-Based Models: A Case Study on Carbon Credits in
a Local Economy 56
Exploring the Emergence of Organized Crime in Rio de Janeiro: An Agent-Based
Modeling Approach 68
Simulating Urban Growth and Residential Segregation through Agent-Based Modeling 81
Analysis of von Neumann Neighborhoods Parallel Simulations 93
An Interactional Characterization of Social Functions 105
Overcoming theoretical bounds around the rational choice approach through Agent-
Based Models 118
Preliminary Analysis of the Impact of Trust in Coalition Formation 129
Recognizing and Learning Observable Social Exchange Strategies in Open Societies 140
CTDIA 2010 - VII Best MSc Dissertation/PhD Thesis Contest - Committee 153
CTDIA 2010 - VII Best MSc Dissertation/PhD Thesis Contest - Preface 155
Otimização por Nuvem de Partículas Multi-objetivo no Aprendizado Indutivo de Regras:
Extensões e Aplicações 156
Mineração de Dados Temporais mediante a Identificação de Motifs e a Extração de
Características 168
Building Object-Based Maps for Robot Navigation 180
Avaliação de métodos não-supervisionados de seleção de atributos para Mineração de
Textos 192
HTILDE: Scaling Up Relational Decision Trees for Very Large Databases 204
Entropy Guided Transformation Learning 216
Identificação de espécies vegetais por meio da análise de textura foliar 228
Localização e mapeamento em terrenos irregulares utilizando robôs móveis 239
Aprendizado Semissupervisionado Multidescrição em Classificação de Textos 251
Factored MDPs with Imprecise Transition Probabilitie 263
Revisão de Teorias Relacionais Probabilísticas através de Exemplos com Invenção de
Predicados 275
Interoperabilidade Organizacional em Sistemas Multiagentes Abertos baseada em
Engenharia Dirigida por Modelos 287
SOARI: A service-oriented architecture to enable interoperability of agent reputation
models 299
Contribuições para a construção de taxonomias de tópicos em domínios restritos
utilizando aprendizado estatístico 311
Novel optimization-based algorithms for graph clustering 323
Aprendizado por reforço relacional para o controle de robôs sociáveis 335
Memetic Networks: Problem-Solving with Social Networks Models 347
Fuzzy-CCM method to fuzzy modeling by a context-sensitive approach 359
Seleção de Atributos Via Agrupamento 371
SIM: Um Modelo Semântico Inferencialista para Expressão e Raciocínio em Sistemas de
Linguagem Natural 383
Depuração automática de programas baseada em modelos: uma abordagem
hierárquica para auxílio ao aprendizado de programação 395
WCI 2010 - III Workshop on Computational Intelligence - Committee 407
WCI 2010 - III Workshop on Computational Intelligence - Preface 409
Estudo da dinâmica populacional de camarões: uma aplicação de redes neurais
artificiais recorrentes 410
Agrupamento de Objetos: Aplicação de Busca Local e K-means na Meta-heurística ACO 416
Recomendação Semântica de Documentos à Especialistas Utilizando a Lógica Fuzzy 422
Comparação entre os métodos Máquinas de Vetores de Suporte e Vizinhos mais
Próximos no domínio de imagens de descargas atmosféricas 428
Algoritmo de Colônia de Formigas aplicado na Segmentação de Imagens 434
Statistical Processing on High Resolution Calorimetry Information 440
Classificação Automática de Gravuras Baseada em Análise de Texturas e Mapas Auto-
Organizáveis 446
Correlação entre Medidas de Validação Externa em Estratégia de Seleção de Partições 452
Classificação de objetos em imagens onidirecionais com uso de retificação de imagens e
de múltiplos núcleos em máquinas de vetor de suporte 458
Sistemas Baseados em Regras Fuzzy para Tomada de Decisão em Grupos Multicritério 464
Explorando dependências entre rótulos no classificador multirrótulo Binary Relevance 470
Reinforcement Learning Hybridized with Differential Evolution 476
Ontology Refinement through Theory Revision Techniques 482
Avaliação de árvores de Decisão no Controle de Navegação Robótica 488
Avaliação de Técnicas de Otimização Aplicadas à Formação e Atuação de Grupos
Robóticos 494
Avaliação de Partições vs Avaliação de Clusters 500
Lógica nebulosa para modelagem de comportamentos defensivos em futebol de robôs
simulados 506
Uma Heurística Elitista para o Algoritmo Genético na Geração de Caso de Teste para o
Teste de Mutação 512
Navegação Visual de Robôs Móveis Autônomos Baseada em Métodos de Correlação de
Imagens 518
Detecção de Novidades em Séries Temporais: Uma Abordagem Automática Baseada na
Transição Entre Estados e Utilizando Enxame de Partículas 524
Adaptação do Algoritmo Copt-aiNet ao Problema de Roteamento de Veículos com
Coleta e Entrega Simultâneas 530
Geração Genética Multiobjetivo de Regras Fuzzy Utilizando a Abordagem Iterativa 535
Trajectory of Robots by Using PSO Combined to Leader/Follower Strategy 541
Algoritmo Genético Construtor de Modelo Probabilístico Aplicado à Programação em
Lógica Indutiva 547
Hybrid evolutionary algorithm guided by a fast adaptive Gaussian mixture model
applied to dynamic optimization problems 553
Gerando Políticas Não Dominadas em Processos Markovianos de Decisão 559
WRE - II Workshop on Educacional Robotics - Committee 565
WRE - II Workshop on Educacional Robotics - Preface 566
Aprendendo Computação na Prática: Uso Didático de Kits Robóticos LEGO na UFABC 567
Robótica Pedagógica e Currículo 575
Robô Humanóide ROBONOVA-I como Ferramenta de Ensino 581
Programação via USB de Robôs Móveis Microcontrolados Utilizando Software
Educacional 588
Integração da Robótica Educacional na Formação de Professores do Ensino Infantil 598
Robótica Educacional Pervasiva: proposta de trabalho 605
Robótica Educacional Favorecendo a Inclusão Sócio-Digital de Estudantes 613
Um arcabouço para trabalhar Robótica Educacional 620
Programação Gráfica de Robôs na TV e no PC 629
Experenciando a Robótica Educacional no ensino não-formal: O Caso da empresa
RoboEduc 636
Estendendo o Ginga-NCL para controle e programação de robôs em programas
educativos na TV 644
Configuração Minimal: Uma proposta de Problem Based Learning aplicado à Robótica 652
Uso de Robótica para Programas Educativos na TVDI 661
WTDIA - Workshop de Teses e Dissertações em Inteligência Artificial - Committee 669
WTDIA - Workshop de Teses e Dissertações em Inteligência Artificial - Preface 671
Seleção de Atributos por meio de Algoritmos Genéticos Multiobjetivo 672
The Full Employment Theorem for Solver Designers and Related Issues in CP Modeling 682
Alinhamento de árvores sintáticas português-inglês 692
Uma Análise da Influência entre Blogs Baseada no Conceito de Memes 702
Composição Dinâmica de Variáveis em Sistema Adaptativo Fuzzy Genético para
Despacho de AGV 712
Aprendizado por Reforço Relacional para Reaproveitamento do Conhecimento em
Navegação Robótica 722
IGMN: An Incremental Neural Network Model for On-Line Tasks 732
BDI Agents with Fuzzy Perception 742
SLAM monocular com reconstrução de planos para ambinetes internos 752
Análise de Componentes Independentes para uma Filtragem Online Baseada em
Calorimetria de Alta Energia e com Fina Segmentação 762
Mapeamento e Localização Simultâneos para Multirobôs Cooperativos 772
Monitoring the Evolution of Clusters 782
Ontologias Fuzzy para Representação e Processamento de Conhecimento Impreciso 792
Processo de Mineração de Dados para a Predição do Nível Criminal 802
Selecionando Candidatos a Descritores Para Agrupamentos Hierárquicos de
Documentos Utilizando Regras de Associação 812
WTI 2010 - III International Workshop on Web and Text Intelligence - Committee 822
WTI 2010 - III International Workshop on Web and Text Intelligence - Preface 825
Online Classifier Based on the Optimal K-associated Network 826
A Feature Extraction Process for Sentiment Analysis of Opinions on Services 836
The use of frequent itemsets extracted from textual documents for the classification
task 846
Semantic Query Extension using Query Contexts and Probabilistic Description Logics 856
Supervised Learning for Link Prediction in Weighted Networks 866
An Approach to Enrich Users’ Personomy Using Semantic Recommendation of Tags 876
Deployment and Evaluation of a Usage Based Collaborative Filtering Recommendation
System with Blacklists 886
Reducing label complexity in the presence of imbalanced class distributions 896
Forgetting mechanisms for incremental collaborative filtering 907
Robótica Educacional Pervasiva: proposta de trabalhoRodrigo Barbosa e Silva*, Luiz Ernesto Merkle*
*Universidade Tecnológica Federal do Paraná
[email protected], [email protected]. We propose in this paper an extension of educational robotics towards ubiquitous computing, in particular in courses given to elementary public schools. We assume that as informatics becomes increasingly pervasive, at least potentially, efforts must be made to develop appropriate curricula, pedagogical approaches, and associated educational technology directed specifically towards the different needs found in our schools and society. We ground some of our interdisciplinary actions on Papert and follower's constructionism, on Weiser's concept of ubiquitous computing, and on the the Studies of Technology and Society. A case in the city of Guarapuava, Paraná, Southern region, Brazil, is briefly commented.
Keywords: constructionism, learning through tinkering, ubiquitous computing, Studies in Technology and Society
Resumo. Propomos neste artigo uma extensão de robótica educacional para a computação ubíqua, particularmente em cursos ministrados no ensino fundamental de escolas públicas. Assumimos que, como a informática torna-se cada vez mais pervasiva, pelo menos potencialmente, esforços devem ser feitos para desenvolver currículos adequados, abordagens pedagógicas e tecnologias educativas associadas dirigidas especificamente para as diferentes necessidades encontradas em nossas escolas e sociedade. Baseamos parte de nossas ações interdisciplinares em Papert e seguidores no construcionismo, no conceito de Weiser de computação ubíqua, e sobre os estudos de Tecnologia e Sociedade. Um caso na cidade de Guarapuava, Paraná, região Sul do Brasil, é brevemente comentado.
Palavras chave: construcionismo, aprendizagem através de bricolagem, computação ubíqua, Estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade
A construção de tecnologia educacional face à temática social
O Ministério da Ciência e Tecnologia, no Livro Verde que trata da Sociedade da Informação no Brasil, elenca uma série de diagnósticos, desafios e metas para tornar a tecnologia um meio de promoção da igualdade social desejada no país.
educar em uma sociedade da informação significa muito mais que treinar as pessoas para o uso de tecnologias de informação e comunicação: trata-se de investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes permitem ter uma atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se também de formar os indivíduos para ‘aprender a aprender’, de modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação da base tecnológica (BRASIL, 2000, p. 45).
Joint Conference 2010 605 Workshop Proceedings
Brasil (2000, p. 45) afirma que “formar o cidadão não significa ‘preparar o consumidor’”. Para Vieira Pinto (2005, p. 226), termos como explosão tecnológica, tecnoestrutura e cultura de massas são porta-vozes de interesses de frações minoritárias e dominantes da sociedade. Este autor identifica que a tecnologia se desenvolve onde há base científica, levando assim à necessidade de medidas políticas que assegurem o completo domínio do processo econômico, pois importar conhecimento não resolve a questão do desenvolvimento geral (p. 302). Conforme Santos e Schenetzler (1997 apud SANTOS e MORTIMER, 2002, p. 3), “alfabetizar, portanto, os cidadãos em ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do mundo contemporâneo”1
Para Brasil (1997a, p. 34), “as técnicas, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos principais agentes de transformação da sociedade, pelas implicações que exercem no cotidiano das pessoas”. Constatando que “a formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado”, lança um desafio para a escola: “como incorporar ao seu trabalho, apoiado na oralidade e na escrita, novas formas de comunicar e conhecer” (BRASIL, 1997b, p. 15).
Paulo Freire (1984 apud ALENCAR, 2009, p. 171), identificado como otimista e crítico da tecnologia, pergunta: “a serviço de quem as máquinas e as tecnologias avançadas estão?”2 Freire e Torres (1991 apud ALENCAR, 2009, p. 166) dizia que a técnica e a tecnologia são fundamentais na prática educativa e sempre existiu com elas: “penso que a educação não é redutível à técnica, mas não se faz educação sem ela”3. Feenberg (2010, p. 160) discute o modelo que moldará o futuro da educação: a fábrica (lógica de produção mecânica e gerencial) ou a cidade (lugar de interações e comunicações). A reflexão deve ser sobre a cidadania que se deseja educar: preparar pessoas que submetem-se a seguir instruções e programas criados por outros ou formá-las com condições de tomar as próprias decisões e moldar suas vidas em relação às necessidades da coletividade. A pergunta correta não é “o que os computadores farão por nós?”, mas “o que nós faremos com os computadores?”. “O ponto” – segundo Papert –, “não é predizer o futuro do computador. O ponto é fazê-lo” (PAPERT, 1990).
O educando construindo o conhecimento
Experiências precursoras de computadores em escolas foram feitas com a linguagem Logo como forma de minimizar a burocracia imposta por currículos lineares, separação de matérias e despersonalização do trabalho. A escola respondera de forma a simular ao que a segmentação disciplinar e a especialização profissional prescreveram, colocando os computadores em laboratórios de informática. Assim a computação passou a ser vista de forma curricular (PAPERT, 1997).
O construcionismo, de Papert, compartilha uma base com o construtivismo de Piaget ao assumirem que os processos de ensino e aprendizagem podem ser facilitados com uma dimensão concreta e que isto pode ser visto como uma etapa do desenvolvimento do raciocínio abstrato, lógico e formal. Para Papert e Harel (1991) o construcionismo tem a proposta de permitir o aprendizado pela experiência: o aluno,
1 SANTOS, W. L. P., SCHENETZLER, R. P. Educação em Química: compromisso com a cidadania. Ujuí: UNIJUÍ, 1997.2 FREIRE, Paulo. A máquina está a serviço de quem? Revista BITS, [S.I.], p. 6, mai. 1984.3 FREIRE, Paulo; TORRES, Carlos Alberto. Educação na Cidade. São Paulo: Cortez, 1991, p. 98.
Joint Conference 2010 606 Workshop Proceedings
conscientemente, engaja-se na construção de um artefato – a conclusão do objetivo demanda o entendimento do objeto que é construído.
Investigando formas de tonar efetivo o construcionismo, Resnick (1998) exemplifica que, durante os anos no jardim de infância, a criança tem um ambiente com vários materiais que podem ser manipulados. Segundo o autor, “como as crianças constroem e experimentam com esses materiais manipuláveis, desenvolvem entendimentos profundos de conceitos matemáticos como número, tamanho e forma”. Entretanto, com o crescimento e ascensão aos próximos níveis de ensino, há poucas interações com materiais manipuláveis e uma tendência à abstração que, infelizmente, dificulta o entendimento de conceitos por muitos alunos. Para combater o problema, o autor propõe objetos manipuláveis acoplados de capacidade computacional. O objetivo seria promover a construção por parte do aluno para promover a participação ativa no design, interdisciplinaridade, pensamento plural, reflexão e visão do pensamento de outros. Para este autor, o interesse da infância em interagir com objetos seria, dessa forma, mantido em benefício da educação.
Caso: robótica educacional em Guarapuava/PR4
Resnick, Rusk e Cook (1998), Sipitakiat, Blinkstein e Cavallo (2004) discorrem sobre experiências de crianças construindo objetos. Neste artigo, descrevemos um caso desenvolvido pelo primeiro autor e por Luiz Rodrigo Grochocki na rede de ensino do município de Guarapuava. Por iniciativa da Prefeitura, em 2009 dez escolas implantaram robótica educacional com sucata e software livre. Envolve um grupo de dezessete professores atuantes em laboratórios de informática da rede municipal, três profissionais do setor pedagógico da Secretaria de Educação e Cultura e população discente de 1600 estudantes em 2009.
As atividades tiveram início em março de 2009 com curso de linguagem de programação, 20 horas em Logo traduzido pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Universidade Estadual de Campinas (SUPERLOGO, 2000). Em seguida, no mês de abril, também com carga horária de 20 horas, o curso de eletrônica voltada à educação tratou do tema reaproveitamento de sucata e montagem de trabalhos com interface de controle (GOGO BOARD, 2005). Em outubro foi ministrado curso de 20 horas que tratou de projetos de trabalhos e refinamento das atividades desenvolvidas durante o ano letivo de 2009. Em complementação a estes cursos, quatro encontros bimestrais ocorreram para oportunizar a troca de experiências entre docentes de zonas rurais e urbana. No primeiro semestre de 2010 estima-se que 2084 crianças terão aulas de robótica educacional e há projeção de expandir o ensino para mais quatro escolas no segundo semestre letivo.
Destaca-se a implantação de software livre, principalmente do Logo, nos laboratórios. Durante os treinamentos foi possível diagnosticar lacunas na formação docente dos cursos de licenciaturas da cidade. Professores relataram não ter conhecido durante o curso superior qualquer plataforma educacional envolvendo tecnologias da informação e comunicação. Em função disto, as disciplinas dos cursos ministrados almejaram inicialmente expandir a capacitação dos docentes para além da utilização de sistemas operacionais, pacotes de escritório e meios de apresentação de slides, pois uma
4Esta experiência em Guarapuava é detalhada em BARBOSA E SILVA, Rodrigo; GROCHOCKI, Luiz R.; MERKLE, Luiz E. Caso de Implantação de Robótica Educacional em Guarapuava/PR. XXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE. No prelo 2010.
Joint Conference 2010 607 Workshop Proceedings
formação pedagógica precária e potencialmente submissa a soluções proprietárias tornaria o custo inviável para a realidade local. Aulas de robótica educacional podem proporcionar novas reflexões em sala de aula. Antes de executar um programa ou construir um dispositivo, o docente propõe aos alunos que desenvolvam por escrito a ideia, o projeto, do trabalho desejado. Sobre a redação antes da construção de robôs, um docente relatou que:
Quanto ao registro nos cadernos foram efetuados e eles sabem a importância que isto tem em trabalhos posteriores. Alguns realizaram o relatório após as aulas. Percebi que a maioria não gosta de escrever. Sabem o que aprenderam porém sentem-se inibidos de registrar. Acredito que têm dificuldade de organizar as ideias. Percebi que se faz necessário trabalhar mais a produção textual especialmente a organização dos parágrafos.
Destacamos também a opinião de outro docente:
Nada se assemelhou ao entusiasmo deles quando solicitei que trouxessem "sucata tecnológica". Foi uma adesão em massa e todos aguardaram ansiosos o momento do "desmonte", como eles mesmos batizaram. Os alunos adoraram cada momento, já que para eles é algo incomum de se fazer dentro da escola. Os pais também foram parceiros em todo o trabalho desenvolvido durante o ano, enviando materiais, textos informativos interessantes, literatura pertinente; e isso certamente favoreceu o interesse dos alunos por tudo o que foi desenvolvido. (grifos nossos)
Os resultados alcançados em 2009 exemplificam a viabilidade do uso de software e equipamento em plataformas livres na inclusão digital. Da mesma forma que os casos de estudo mostrados em Sipitakiat et al (2004), a opção de Guarapuava por ensino de robótica estimula o afloramento de ideias próprias de professores e alunos com abordagem de assuntos locais. Em face ao que Papert e Harel (1991) previram, a robótica educacional estimulou o aprendizado porque, ao construir os próprios modelos, a criança desenvolveu a curiosidade e exercitou conhecimentos externos ao ambiente escolar. Para exemplificar, a figura 1 reproduz cena de uma reportagem veiculada pela afiliada local da TV Globo em que o aluno relata a experiência de construir um monjolo: “na casa da minha avó tinha um” (BOM DIA PARANÁ, 2009).
Figura 1 - Monjolo desenvolvido por aluno de escola rural
A robótica educacional em perspectiva da computação pervasiva
Papert (2008, p. 169) discorre sobre a importância da transparência dos objetos na concepção das pessoas. Para Papert, a prática em objetos outrora mais transparentes, até por meio de engenhosidade e improvisação (tinkering), contribui para a mentalidade de aceitar desafios e resolver problemas. Segundo o autor, seria necessário apropriar-se das ideias, possibilitando entendimento mais específico de assuntos do que “algo
Joint Conference 2010 608 Workshop Proceedings
funciona assim porque foi programado para fazer isso”. Papert exemplifica uma resposta possível ao assunto “mísseis”:
são programados de uma forma particular usando ideias específicas cujo desenvolvimento desempenhou um importante papel na história intelectual do século XX e cujas implicações poderiam desempenhar um papel até mesmo maior no vindouro. (2008, p. 169)
Papert (1997) disse que “enquanto ideias multiplicam-se e enquanto a presença de computadores ubíquos solidifica-se, o prospecto de uma mudança profunda torna-se mais real”. A visão de computação ubíqua, também chamada de pervasiva em um anglicanismo que começa a ser usado, é a criação de ambientes saturados com computação e capacidade de comunicação. Weiser (1991) vislumbrou que “as tecnologias as mais profundas são aquelas que desaparecem. Tecem-se na fábrica da vida quotidiana até que estejam indistinguíveis dela”. Elementos críticos da computação ubíqua, com o progresso do hardware, estão disponíveis na atualidade: handhelds e computadores acoplados à vestimenta, redes wireless e dispositivos para monitorar e controlar aparelhos (SATYANARAYANAN, 2001, p. 1).
Mark Weiser não enxergava em equipamentos como desktops, laptops, televisão, realidade virtual e objetos 3-D, entre outros, metamorfoses para o computador do futuro porque não estimulam a computação “invisível” (1991, 1993). Weiser (1993) assevera: “o valor da invisibilidade é geralmente subentendido. Infelizmente, nossa metamorfose comum para a interação com computador leva-nos para longe da ferramenta invisível e direciona a fazer da ferramenta o centro da atenção.”
Resnick et al (1998, p. 2) compara a fluência tecnológica ao uso da fala. Para os autores, a habilidade de usar ferramentas tecnológica equivale a falar frases comuns de uma língua. Para a fluência verdadeira em uma língua, como Inglês ou Francês, é necessário articular ideias complexas ou contar uma história envolvente, ou seja, “fazer coisas” com a língua. Em análogo, a fluência tecnológica envolve não somente usar ferramentas, mas também saber como construir algo significante com essas ferramentas. Papert (1997) ecoa o pensamento de Koschmann (1997)5 ao comparar o ensino de linguagem de programação ao Latim que fora ensinado nas escolas pela suposição de ser adequado para o desenvolvimento de habilidade cognitivas em geral. Para Papert, a linguagem de computação pode ter um papel similar em relação a uma gama extensa de área de conhecimento. Tais comparações são interessantes tendo em vista que Weiser (1991) considerou a escrita como a primeira tecnologia de informação: “a habilidade de capturar uma representação simbólica da linguagem falada para armazenamento em longo prazo libertou a informação dos limites da memória individual”. Assim como a língua é considerada uma tecnologia invisível, a computação tende a tornar-se um componente trivial na vida humana.
A tecnologia necessária para esta futura forma de informática necessitaria ser barata e com baixo consumo de energia, possuir displays convenientes, rede com capacidade de conectá-los e sistemas de software que implementam aplicações ubíquas (WEISER, 1991, p. 6). Pode-se então inferir que as novas opções de display hoje disponíveis, o aumento da velocidade de processadores, facilidades de bancos de dados comunicação em rede wireless e mobilidade, permitem vislumbrar a computação como invisível ao usuário, incluindo as aplicações no meio educacional.
5 Koschmann, T. Logo-as-Latin redux. The Journal of the Learning Sciences, 6, 409-415, 1997.
Joint Conference 2010 609 Workshop Proceedings
Acreditamos que é possível conceber a robótica educacional como uma ferramenta transparente, ou mesmo “invisível”, de ensino e apropriação de conhecimento tecnológico. A implantação crescente de laboratórios nas escolas deve ser acompanhada de uma concepção que privilegie a construção de artefatos pelos educandos e permita o exercício de experiências com os equipamentos e tecnologia disponíveis no futuro. Além da presença de equipamentos, dever-se-ia levar em conta que aparelhos celulares estão disponíveis – inclusive começam a ser descartados como sucata –, e poderiam ser utilizados em experiências científicas nas escolas.
Apresentamos aqui o desafio de prover ferramentas que permitam atingir as metas de trabalho sem que o material utilizado, a linguagem de programação e o equipamento de controle sejam o centro do processo de ensino e aprendizagem. O foco se expande dos artefatos para o humano.
Roteiro de trabalho para robótica educacional pervasiva
A proposta aqui apresentada prima pelos aspectos de construção social da tecnologia educacional. É um projeto em desenvolvimento e parte de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Visamos conceber um programa curricular de robótica que preocupe-se com a formação crítica e consciente do uso dos artefatos computacionais. Esperamos consolidar estudos na seara de Ciência, Tecnologia e Sociedade com autores como Álvaro Vieira Pinto e Andrew Feenberg. Estes autores podem auxiliar uma compreensão mais profunda das implicações e dos potenciais desdobramentos de uma robótica pervasiva na sociedade contemporânea e auxiliar no desenvolvimento e a avaliação de métodos, currículos e melhores práticas de ensino.
Há necessidade de abordar os estudos em bricolagem de autores como Papert, Resnik e de centros reconhecidos de pesquisas na área - destaca-se o Future Of Learning Group, MIT. Em seguida, computação pervasiva é o tema a ser aprofundado em autores como Mark Weiser e em centros de pesquisas como o dinamarquês Center for Pervasive Computing6, o taiwanês UbicompLab7, e os brasileiros UFSC Pervasive Computing Research Group8 e GMob – Grupo de Sistemas de Computação Móvel – Informática/UFSM9.
Também buscar-se-á o entendimento de como currículos que versam sobre robótica estruturam, principalmente, as questões de CTS e de assimilação dos objetos utilizados na construção de robôs. Objetos miniaturizados, fechados, e softwares com licenças que não permitem abertura, aliados a um currículo desprovido da necessária reflexão sobre o sentido da tecnologia na vida social, podem induzir à formação do “consumidor” e sedimentar a dependência de ferramentas e tecnologias produzidas externamente.
É importante evitar a alienação no uso da tecnologia, o pensamento determinista e o maravilhamento frente a recursos prontos e acabados (PINTO, 2005). Para isso, o trabalho objetiva:
a) Levantar a possível contribuição do campo de CTS à abordagem de tecnologia na educação e na formação dos professores;
6 http://www.pervasive.dk7 http://mll.csie.ntu.edu.tw/8 http://www.inf.ufsc.br/~rcampiol/pervasive_computing/9 http://gmobserver02.inf.ufsm.br:8082/features.html
Joint Conference 2010 610 Workshop Proceedings
b) compreender a utilidade de softwares e equipamentos livres na construção própria do saber do aluno, permitindo que (des)construir objetos robóticos proporcione uma experiência educacional libertadora e formuladora de pensamento crítico, além da intenção geral de formar o cidadão com o conhecimento tecnológico necessário para a vida do porvir;
c) apontar melhorias no currículo de robótica educacional de forma a estimular o pensamento crítico, o uso de recursos livres e a fluência tecnológica, aqui representada pela transparência de plataformas e linguagens;
d) conceber e compartilhar um ambiente de trabalho básico que permita a liberdade e aprofundamento desejados por estudantes e professores.
Conclusão
Para uma concepção de robótica educacional pervasiva, o artigo aponta a importância das relações entre Tecnologia e Sociedade para a educação como forma de promoção da igualdade desejada pelo país. Especial atenção foi dada aos estudos de autores construcionistas e a experiência de robótica educacional no ensino público. Também foi proposto um roteiro de trabalho que abrange os principais componentes teóricos da iniciativa. Com o reconhecimento dos elementos de computação pervasiva, bricolagem e construção social da tecnologia, será possível conceber a educação em robótica com atenção à incorporação da computação nos artefatos e ambientes. Para isto, são necessários esforços voltados a uma educação contemporânea afinada com as tendências em curso na informática, como mobilidade, comunicação sem fio e sistemas distribuídos.
Referências
ALENCAR, Anderson F. (2009) A Tecnologia na obra de Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire In: Software Livre, Cultura Hacker e Ecossistema da Colaboração. Disponível em <http://softwarelivre.org/livro>. Acesso em: 10 jul. 2010.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: matemática. – Brasília: MEC/SEF, 1997a. 142p. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2010.
______. Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais. Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997b. 136p. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro04.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2010.
______. Sociedade da Informação no Brasil: livro Verde. – Brasília: MCT, 2000.
CRIATIVIDADE NO NATAL. Bom Dia Paraná. Curitiba, Rede Globo de Televisão, 14 de dezembro de 2009. Programa de TV. Disponível em <http://www.rpctv. com.br/paranaense/video.phtml?Video_ID=68559>. Acesso em: 10 jul. 2010.
FEENBERG, Andrew (2010) A fábrica ou cidade: qual o modelo de educação a distância via web? In: Neder, Ricardo T. (org.) – Andrew Feenberg: racionalização democrática, poder e tecnologia. Págs. 159-181. Brasília: Observatório do Movimento pela Tecnologia Social na América Latina/Centro de Desenvolvimento Sustentável – CDS. Ciclo de Conferências Andrew Feenberg. Série
Joint Conference 2010 611 Workshop Proceedings
Cadernos PRIMEIRA VERSÃO. A construção crítica da Tecnologia e Sustentabilidade. Vol. 1. Número 3.
GOGO BOARD. Versão 3.0. Massachusetts: MIT Media Lab, 2005.
PAPERT, Seymour. A Critique of Technocentrism in Thinking About the School of the Future. Publicado em M.I.T. Media Lab Espistemology and Learning Memo nº 2, Setembro de 1990, baseado na palestra apresentada em Children in na Information Age: Opportunities for Creation, Inovattion and New Activities (Sofia, Bulgaria, Maio 1987). Disponível em <http://www.papert.org/articles/ACritiqueof Technocentrism.html>. Acesso em: 07 jul. 2010.
______. A máquina das crianças. Porto Alegre: Artemed, 2008.
______. Why School Reform Is Impossible, The Journal of the Learning Science, 1997. Disponível em <http://www.papert.org/articles/school_reform.html>. Acesso em: 11 jul. 2010.
_______, Harel, Idit. Situating Constructionism. Capítulo do livro “Construcionism”, Ablex Publishing Corporation, 1991. Disponível em <http://www. papert.org/articles/SituatingConstructionism.html>. Acesso em: 11 jul. 2010.
PINTO, Álvaro V. O conceito de tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. v1.
RESNICK, Mitchel. Technologies for Lifelong Kindergarten. Educational Technology Research and Development, vol. 46, no. 4, 1998. Disponível em < http://llk.media.mit.edu/papers/llk/index.html>. Acesso em: 09 jul. 2010.
______; Rusk, N.; Cooke, S. The computer Clubhouse: Technological Fluency in the Inner City. In High Technology and Low-Income Communities. MIT Press, 1998.
SANTOS, Wildson Luiz Pereira; MORTIMER, Eduardo Fleury (2002) Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira . ENSAIO – Pesquisa em Educação em Ciências Volume 02 / Número 2 – Dezembro 2002. pág 1-23.
SIPITAKIAT, Arnan; BLINKSTEIN, Paulo; CAVALLO, David. 'GoGo Board': Augmenting Programmable Bricks for Economically Challenged Audiences. In Proceedings from International Conference of the Learning Sciences, California, USA, junho: 481-488. Disponível em <http://web.media.mit.edu/~arnans/ resources/pdf/GoGo board ICLS2004.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2010.
SUPERLOGO Versão 3.0. Campinas: NIED, 2000. Disponível em <http://www.nied.unicamp.br/>. Acesso em: 10 jul. 2010.
WEISER, Mark. The computer for the 21st Century. Scientific American, Setembro, 1991. Disponível em < http://www.inf.ufsc.br/~rcampiol/pervasive_computing/ Artigos/The Computer for 21st Century.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2010.
______ . The world is not a desktop. Perspective article for ACM Interactions, Novembro, 1993. Disponível em <http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/ ACMInteractions1.html>. Acesso em: 11 jul. 2010.
Joint Conference 2010 612 Workshop Proceedings