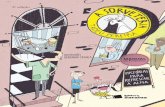Trabalho, educação e sociabilidade
Transcript of Trabalho, educação e sociabilidade
3
TRABALHO, EDUCAÇÃO E SOCIABILIDADE
Prefácio
João Valente Aguiar
Organizadores
José dos Santos Souza • Renan Araújo
Amélia Kimiko Noma • Arakin Queiroz Monteiro • Ariovaldo Santos
Domingos Leite Lima Filho • Edilson José Graciolli • Eliane Cleide da Silva Czernisz
Edinéia F. Navarro Chilante • Eraldo Leme Batista • Fábio Kazuo Ocada
Georgia Sobreira dos Santos Cêa • Geraldo Augusto Pinto • Henrique Amorim
João Guilherme de Souza Corrêa • Neide Tiemi Murofuse • Paulo Sérgio Tumolo
Paulo Vinicius Lamana Diniz • Ricardo Lara • Roberto Leme Batista
Editora Práxis 1ª Edição
4
PROJETO EDITORIAL PRÁXIS
Conselho Editorial Prof. Dr. Ariovaldo Santos Prof. Dr. Domingos Leite Lima Filho Prof. Dr. Edilson Graciolli Prof. Dr. Francisco Luiz Corsi Prof. Dr. Giovanni Alves Prof. Dr. João Bosco Feitosa Prof. Dr. Jorge Luis Cammarano Gonzalez Prof. Dr. José dos Santos Souza Prof. Dr. José Menelau Neto Prof. Dr. Paulo Sérgio Tumolo Prof. Dr. Renan Araújo Profª. Drª. Vera Lúcia Navarro
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Biblioteca ___)
5
SOBRE OS AUTORES
• Amélia Kimiko Noma Doutora em História pela PUC-SP. Professora do Departamento de Fundamentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas e Gestão da Educação na América Latina e Caribe (PGEALC). Membro da Rede de Estudos do Trabalho (RET). Autora de capítulos de livros e artigos de revistas. Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão da Educação.
• Arakin Queiroz Monteiro Doutorando em Ciências Sociais pela UNESP/Marília, onde também concluiu o Mestrado e a Graduação em Ciências Sociais. Atua como Coordenador de Comunicação da Rede de Estudos do Trabalho (RET), como Membro do Grupo de pesquisa Estudos da Globalização (GPEG) e do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso a Informação (GPOPAI/USP). Também desenvolve pesquisa em parceria com o Observatório de Economia e Comunicação (OBSCOM/UFS).
• Ariovaldo Santos Doutorado em Sociologia e Ciências Sociais pela Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), com mestrado em Ciência Política pela UNICAMP e graduação em Ciências Sociais pela UNESP. Professor da Universidade Estadual de Londrina. É membro da Rede de Estudos do Trabalho (RET) e atua na área de Sociologia, principalmente nos seguintes temas: trabalho, sindicalismo, globalização, capitalismo e mundo do trabalho.
• Domingos Leite Lima Filho Doutor em Educação pela UFSC, com Pós-Doutorado pela Facultad de Ciencias Sociales da Universidad de Salamanca. Professor do Departamento Acadêmico de Eletrotécnica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), onde atua no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE) e lidera o Grupo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Educação e Tecnologia (GETET). Membro do GT “Trabalho e Educação” da ANPEd e da Rede de Estudos do Trabalho (RET). Pesquisa sobre Políticas para educação profissional, técnica e tecnológica. Autor e co-autor de vários livros e artigos em periódicos nacionais e estrangeiros, destacando-se: “Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: desafios,tensões e possibilidades”, publicado Ed. Artmed, e “O Pragmatismo como fundamento das reformas educacionais no Brasil”, publicado pela Ed. Átomo & Alínea.
• Edilson José Graciolli Doutor em Ciências Sociais pela UNICAMP, com Pós-Doutor em Sociologia pela UNESP/Araraquara. Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Lider do Grupo de Pesquisa "Trabalhadores, Sindicalismo e Política"; membro da Rede de Estudos do Trabalho (RET); Membro dos conselhos editoriais das revistas Crítica Marxista, Margem Esquerda e História & Luta de Classes. Atua na área de Sociologia, com ênfase em Teoria Sociológica, e de Ciência Política, com ênfase em Teoria Política Moderna e Contemporânea. Autor dos livros “Privatização da csn: da luta de classes à parceria”, pela Ed. Expressão Popular, e “Um caldeirão chamado CSN - resistência operária e violência militar na greve em 1988” , publicado pela EDUFU, além de diversos capítulos de livros e artigos de periódicos.
• Edinéia Fátima Navarro Chilante Doutoranda em Educação pela UNICAMP, com Mestrado em Educação e graduação em Historia, ambos pela Universidade Estadual de Maringá. Professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual do Paraná – Campus Paranavaí/FAFIPA. Atua na área de Educação, com ênfase em Política Educacional, pesquisando sobre: história da educação brasileira; políticas públicas educacionais; educação de jovens e adultos e gestão educacional.
• Eliane Cleide da Silva Czernisz Doutora em Educação pela UNESP/Marília, com mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Maringá e graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina. Professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina. Atua na área de Educação, com ênfase em Política e Gestão da Educação, pesquisando sobre gestão da educação; organização do trabalho pedagógico; educação e trabalho; política do ensino médio e da educação profissional.
6
• Eraldo Leme Batista Licenciado em Ciências Sociais pela PUC/Campinas e Mestre em Educação pela UNICAMP, onde conclui o Doutorado em Educação. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas HISTEDBR (Historia, Sociedade e Educação no Brasil) da UNICAMP, do Grupo de Estudos e Pesquisas Marxismo, História, Tempo Livre e Educação e da Rede de Estudos do Trabalho (RET).
• Fábio Kazuo Ocada Doutor em Sociologia pela UNESP e professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UNESP/Campus de Marília.
• Georgia Sobreira S. Cêa Doutora em Educação: história, política e sociedade pela PUC-SP. Professora do Centro de Educação da UFAL; docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira (PPGE/UFAL) e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/Unioeste). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Estado, Sociedade e Educação (GP-TESE) e do GT “Trabaho e Educação” da ANPEd. Autora de diversos artigos em periódicos e capítulos de livros, também organizou a coletânea intitulada “O estado da arte da formação do trabalhador no Brasil”, publicada pela EDUNIOESTE.
• Geraldo Augusto Pinto Doutor e mestre em Sociologia, bacharel em Sociologia e Ciência Política, todos pela UNICAMP. Professor do Centro de Educação e Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (CEL/UNIOESTE), campus de Foz do Iguaçu, onde atualmente leciona na graduação em Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Líder do “Grupo de Pesquisa em Estado, Sociedade, Trabalho e Educação” (CEL/UNIOESTE), pesquisador do “Grupo de Pesquisa Estudos sobre o Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses” (IFCH/UNICAMP) e membro da Rede de Estudos do Trabalho (RET). Autor do livro “A organização do trabalho no século 20: taylorismo, fordismo e toyotismo”, publicado pela Ed. Expressão Popular.
• Henrique Amorim Doutor em Ciências Sociais pela UNICAMP, com Pós-Doutorado em Sociologia pela UNICAMP e pela EHESS/Paris. Professor de Sociologia da UNIFESP/Campus Guarulhos. Membro dos conselhos editoriais das Revistas “Crítica Marxista”, “Margem Esquerda” e “Outubro”. Autor dos livros: “Trabalho Imaterial: Marx e o Debate contemporâneo”, publicado pela Ed. Annablume e “Teoria Social e Reducionismo Analítico: para uma crítica ao debate sobre a centralidade do trabalho”, publicado pela EDUCS, além de diversos capítulos de livros e artigos em periódicos científicos. Atua predominantemente na área de Teoria Sociológica e Sociologia do Trabalho.
• João Guilherme de Souza Corrêa Mestre em Educação pela UFSC e Cientista Social pela UFU. Professor do curso de Ciências Sociais e de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), campus Uberaba. Integrante do Grupo de Pesquisa Trabalhadores, Sindicalismo e Política (GPTSP/UFU). Atua na área de Sociologia, Sociologia do Trabalho e Trabalho e Educação, com estudos sobre Formação de trabalhadores e Formação Sindical.
• José dos Santos Souza Doutor em Sociologia pela UNICAMP. Professor do Departamento de Educação e Sociedade do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ, com participação no quadro docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc) e do Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola (PPGEA). Líder do Grupo de Pesquisas Sobre Trabalho, Política e Sociedade (GTPS/UFRRJ), membro da Rede de Estudos do Trabalho (RET) e do GT “Trabalho e Educação da ANPEd. Além de co-autoria de diversos livros e de autoria de artigos em periódicos, é autor do livro “Trabalho, Educação e Sindicalismo no Brasil – anos 90”, publicado pela Ed. Autores Associados, e do livro “O Sindicalismo Brasileiro e a Qualificação do Trabalhador”, recentemente publicado pela Editora Práxis.
• Neide Tiemi Murofuse Mestre em Enfermagem Fundamental pela Escola de Enfermagem da USP/Ribeirão Preto, onde também concluiu o Doutorado em Enfermagem Fundamental. Professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e integrante do Núcleo de Estudo em Saúde e Trabalho (NUESAT/USP-Ribeirão Preto), onde investiga sobre saúde do trabalhador.
7
• Paulo Sérgio Tumolo Doutor em Educação pela PUC-SP, com Pós-Doutorado pela Universidade Autônoma de Barcelona. Professor do Centro de Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC. Membro do coletivo 13 de Maio-NEP (Núcleo de Educação Popular); do GT “Trabalho e Educação” da ANPEd e da Rede de Estudos do Trabalho (RET). Além de diversos artigos em revistas, é também autor do livro "Da contestação à conformação: a formação sindical da CUT e a reestruturação capitalista", publicado pela Ed. Edunicamp, e co-autor dos livros "Trabalho, economia e educação: perspectivas do capitalismo global" e "Trabalho e educação: contradições do capitalismo global", ambos publicados pela Ed. Práxis.
• Paulo Vinícius Lamana Diniz Mestrando em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, onde se graduou em Ciências Sociais.
• Renan Araújo Doutor em Sociologia pela UNESP/Campus Araraquara. Professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Paraná – Campus Paranavaí (FAFIPA). Atualmente é pesquisador do Projeto Observatório da Precarização do Trabalho (OPT) e membro da Rede de Estudos do Trabalho (RET). Atua nas áreas de Sociologia, História e Ciência Política, com ênfase para os seguintes temas: juventude, reestruturação produtiva, sociabilidade, educação, trabalho flexível e estranhamento.
• Ricardo Lara Doutor em Serviço Social pela UNESP/Campus Franca. Professor da UFSC, onde atua na graduação e no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Tem experiência na área de serviço social, com ênfase em teoria social, atuando principalmente nos seguintes temas: fundamentos do Serviço Social, trabalho e sociabilidade, pensamento social da modernidade.
• Roberto Leme Batista Mestre em Ciências Sociais pela UNESP/Campus de Marília, onde conclui também o Doutorado em Ciências Sociais. Professor de Teoria da História e de História Contemporânea na Universidade Estadual do Paraná – Campus de Paranavaí/FAFIPA e da Rede Pública estadual de Educação no Paraná. Membro da Rede de Estudos do Trabalho (RET) e do Grupo de Pesquisa "Estudos da Globalização".
9
SUMÁRIO
Prefácio ........................................................................................................................11 Parte I Trabalho, Precarização e Sociabilidade no Capitalismo Global
1. Da atividade humana sensível à ciência real unificada ......................................... 19 Ricardo Lara
2. Processo de trabalho em frigoríficos e as possibilidades de constituição de novas sociabilidades ......................................................................................... 41 Georgia Sobreira dos Santos Cêa Neide Tiemi Murofuse
3. Trabalho, informação e valor: o processo de infoespoliação ................................. 71 Arakin Queiroz Monteiro
4. Maquinaria e manufatura na fábrica flexível: autonomia e heteronomia no trabalho ............................................................................................................. 93 Geraldo Augusto Pinto
5. Do trabalhador descartável à re-efetivação do ser genérico: um debate acerca do tempo disponível a partir da experiência dekassegui ......................................... 109 Fábio Kazuo Ocada
6. Responsabilidade social empresarial e Estado neoliberal ................................... 123 Edilson José Graciolli Paulo Vinícius Lamana Diniz
Parte II A Relação Trabalho e Educação e as Contradições da Sociabilidade do Capital
7. Trabalho, educação e luta de classes na sociabilidade do capital ...................... 141 José dos Santos Souza
8. Trabalho imaterial, classe social e qualificações profissionais ............................ 169 Henrique Amorim
9. A reestruturação produtiva do capital e a emergência da noção de competência no mundo do trabalho ..................................................................... 185 Roberto Leme Batista
10
Parte III Ações Públicas e Privadas de Formação do Trabalhador de Novo Tipo
10. Trabalho, educação e sociabilidade na transição do século XX para o XXI: o enfoque das políticas educacionais .................................................................. 207 Amélia Kimiko Noma Eliane Cleide da Silva Czernisz
11. Reformas educacionais e redefinição da formação do sujeito ............................. 227 Domingos Leite Lima Filho
12. Juventude, trabalho e educação: "paradoxos" do ideário da qualificação profissional ....................................................................................... 255 Edinéia Fátima Navarro Chilante Renan Araújo
13. A formação de trabalhadores e a política nacional de formação da CUT – uma análise do período 1998-2008 .................................................................. 275 João Guilherme de Souza Corrêa Paulo Sergio Tumolo
14. Trabalho, ideologia e educação profissional no Brasil: análise da visão industrial nas décadas de 1930 e 1940 ...................................................... 305 Eraldo Leme Batista
15. Ideologia e dominação em desenhos da Disney e Pixar ......................... 329 Ariovaldo Santos
11
PREFÁCIO: educação mutilada e vulnerabilidade laboral na
sociabilidade contemporânea
ducação, sociabilidade e trabalho são comumente tratados como termos antinômicos na Sociologia do mainstream. Desde a compartimentação disciplinar entre, por exemplo, a Sociologia da Educação e a Sociologia do Trabalho, até ao
estudo das sociabilidades num nível estritamente fenomênico e superficial (vejam-se os importantes mas claramente insuficientes estudos do interacionismo simbólico de Goffman e de Becker), torna-se evidente a importância deste livro em romper com essa compartimentação disciplinar – que acarreta compartimentações conceptuais e analíticas – e com a tendência vigente em abarcar os fenômenos sociais precisamente a partir do seu lado mais visível, sem nunca procurar integrá-lo numa perspectiva de totalidade. Nesse sentido, este livro contribui fortemente para ajudar a superar esse estado de coisas. Em suma, o livro procura retomar e resgatar teses de totalidade e de complexidade enunciadas por autores clássicos como Marx ou Lukacs, mas as projetando num plano, digamos, mais concreto onde se entrecruzam categorias analíticas densas e a construção de objetos empíricos de estudo relevantes. No fundo, realizando uma combinação entre um patrimônio teórico riquíssimo e a necessidade de adequar essas ferramentas conceptuais à compreensão do novo dentro do (capitalismo) já existente.
A esse título, a primeira parte deste livro evoca, entre outros aspectos, uma categoria central na sociologia marxista clássica: a crise estrutural do capital. Sendo esse um conceito que ganhou forte ampliação a partir da obra “Para além do capital” de Istvan Mészáros, a verdade é que o capitalismo (e, por inerência, a humanidade) se encontra num contexto de encruzilhada. De um lado, o capital evidencia fortes dificuldades para manter uma taxa média de lucro capaz de evitar a sua tendência para a sua diminuição. Por outro lado, a destrutibilidade e a irreversibilidade do sistema de produção de mercadorias sob a égide do capital, demonstram que o capital não passará a um modo de produção
E
12
qualitativamente novo de forma automática. Portanto, a passagem de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista não só implicará a construção de novas relações de trabalho – os produtores livres e associados – como igualmente implicará, previamente, o desenvolvimento de novas formas de sociabilidade humana que sempre surgem (e sempre surgiram) no decurso das lutas populares e operárias contra o capital: a solidariedade e a construção progressiva de uma igualdade substantiva.
Por conseguinte, a crise do capital desaguará em duas possíveis alternativas. Ou o capital continua a determinar a ofensiva política, ideológica e econômica no plano da luta de classes. Isso implicará o aprofundamento dos mecanismos de exploração do trabalho, nomeadamente, a partir da aposta na fragmentação da classe trabalhadora mundial decorrente de processos técnico-econômicos – a reestruturação produtiva – e de processos ideológicos – o empreendedorismo e a transformação do trabalhador num agente personificado de constante interiorização dos mecanismos de sua vendabilidade no mercado. Ou então a classe trabalhadora suplanta o atual contexto de forte retração social e se alavanca a uma condição de sujeito histórico coletivo e mobilizado pelos seus interesses em torno do emprego, da saúde pública, da previdência e, claro está, por uma educação que lhe dê ferramentas para os indivíduos se realizarem de um modo integral, pleno e sem os constrangimentos imputados pelo capital.
Na segunda parte, o livro foca um aspecto paralelo do triângulo trabalho, educação e sociabilidade: a produção de conhecimento e de saberes como uma mercadoria. Ou seja, não só se trata de analisar os mecanismos de captura da subjetividade pelo capital, mas também de descortinar os processos pelos quais o capitalismo incorpora o saber como um produto do trabalho assalariado, logo, como uma mercadoria portadora de valor, de mais-valia. Nesse campo, o capital necessita que o trabalhador que lida com este domínio da atividade econômica e social seja capaz de articular polivalência – decorrente de uma formação escolar/académica prévia definida para tal – e capacidade de tomar decisões, em nome individual, no intuito de incrementar ainda mais o engajamento do trabalhador no processo de produção de novas mercadorias e de novos produtos. No fundo, no paradigma da acumulação flexível, não só o trabalhador é colocado em crescentes
13
situações de contratos individuais de trabalho, como a própria operacionalização no local de trabalho coloca a tônica no indivíduo. Não no sentido de o autonomizar do poder do capital, mas precisamente porque ele incorpora, por via da escola e da formação profissional, todo um comprometimento com a produção de mercadorias, o indivíduo trabalhador vai ter de responder isoladamente aos constrangimentos evocados pela dinâmica da acumulação de capital inscrita em cada unidade produtiva. Com efeito, a atomização da classe trabalhadora não só decorre de uma necessidade de ampliar a polivalência inerente ao modelo toyotista, como é também uma ferramenta simbólico-ideológica de grande alcance. De fato, os níveis de conformação (e de conformismo) que o capital conseguiu definir nos trabalhadores são de tal ordem que organizações sindicais outrora combativas e organizadoras dos interesses dos trabalhadores como a Central Única dos Trabalhadores, hoje se vêem completamente enleadas e amarradas a um sindicalismo de negociação e capitulação coletiva.
Ora, quando o capital prevalece na determinação das políticas educativas – objeto de estudo da terceira parte – denota-se o uso da escola como possibilidade (ilusória) para resolver as suas contradições econômicas e sociais de base. De fato, e principalmente em momentos de crise, as políticas educativas surgem como argumento ideológico para tentar, de um lado, formatar massas de jovens trabalhadores num espírito menos reivindicativo e consciente dos seus direitos e, de outro lado, colocar a tônica na mudança das mentalidades e na necessidade do aumento da qualificação acadêmica e da formação profissional como supostos remédios para as dificuldades de lucratividade do capital. Em suma, não só o capital busca formar força de trabalho disponível de acordo com a divisão internacional do trabalho que imprime a nível internacional como, em simultâneo, as políticas educativas se afiguram como essenciais para o condicionamento ideológico e cultural de grandes massas – que se querem ver individualizadas e em plena e constante competição – de jovens trabalhadores. A esse título, o papel de instituições nacionais e internacionais (como o Banco Mundial, por exemplo) é de sobremaneira nuclear para os desígnios de implementação e aprofundamento das lógicas mercantis na educação.
Termino esta pequena introdução e apresentação do livro chamando a atenção para o principal mérito de todos os textos: a contribuição para
14
desnaturalizar e desmontar as falácias de uma falsa universalização e essencialização do capital, como se tratasse de algo inerente à condição humana. Como se a educação tivesse de ser sempre uma formação unilateral e virada unicamente para o mercado (da força) de trabalho. Como se a sociabilidade tivesse de se constituir continuamente em patamares de estranhamento. Como se o trabalho fosse uma categoria meramente técnica e desprovida de outra significação que não fosse a exploração capitalista.
Assim, este livro tem o mérito de ajudar estudantes, pesquisadores e ativistas em desconstruir o domínio da naturalização do status quo, na medida em que esta dimensão se encontra frequentemente presente nas ideologias dominantes, pois, cabe a estas justificar a sua existência não apenas para as classes dominantes, mas também para toda a restante população. Não podemos deixar de considerar que, como argumenta Wallerstein,
num conflito profundo, os olhos dos oprimidos são geralmente mais perspicazes acerca da realidade, pois é do seu interesse percebê-la claramente para poderem tornar claras as hipocrisias da classe dirigente. Eles têm menos interesse no desvio ideológico.
Não se trata de conferir um estatuto de pureza moral e ontológica às classes dominadas como se de agentes redentores ou messiânicos se tratassem. Na realidade, queremos apenas chamar a atenção para a maior probabilidade de as classes sociais subalternas procurarem rejeitar os princípios opacos da universalização e da naturalização no decurso da sua produção ideológica própria. Esta maior probabilidade refere-se, por um lado, em relação às classes dominantes e, o que é mais relevante, quando são capazes de se constituírem historicamente como agentes coletivos. A constituição das classes populares como sujeitos coletivos política e/ou socialmente mobilizados passou quase sempre pela contestação e questionamento das ideologias dominantes, isto é, pelas pretensões destas à eternização e à inevitabilidade históricas. Daí que tenhamos colocado esta questão em termos probabilísticos e não como uma essência classista inata, ela própria universalizante e naturalizante. E esse é, entre outros, o propósito e o mérito deste livro. O de questionar a ordem do capital. O de desnaturalizar os seus eixos simbólico-ideológicos de legitimação. O de ressaltar os veios complexos por onde se move a “condição de
15
proletariedade” (Giovanni Alves). E o que pode parecer pouco é, nestes tempos de barbárie social protagonizada pelo capital, muitíssimo.
João Valente Aguiar* Porto, 17 de março de 2010
* Pesquisador do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (ISFLUP). Bolsista da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Pesquisador co-responsável do Projecto Europeu Sounds and Arts in City Spaces (SACS). Editor e membro da Comissão Científica da Revista Arte e Sociedade: http://arteesociedade.wordpress.com.
19
DA ATIVIDADE HUMANA SENSÍVEL À CIÊNCIA REAL UNIFICADA
Ricardo Lara*
O caminho que leva ao socialismo está plenamente de acordo com a ontologia histórico-social geral de Marx. Além do mais, ela se opõe a qualquer hipótese de “fim da história”. (LUKÁCS, 1979, p. 166).
O TRABALHO COMO CATEGORIA FUNDANTE DE ANÁLISE DA SOCIEDADE
HUMANA.
Na contemporaneidade a irracionalidade burguesa avança a passos vastos, as concepções científicas de todas as áreas do saber mostram-se capacitadas para responder as necessidades de um modo de vida que sobrevive entre a plena realização da coisa (fetiche do capital) e a barbárie social. As possíveis respostas para os fenômenos sociais e naturais que afligem a humanidade estão presentes em todas as ciências, mas os abismos entre a realidade social e suas percepções científicas geram concepções caóticas. Os “paradigmas” científicos explicam o homem tentando buscar sua essência, mas não compreendem que a essência humana deve ser encontrada no conjunto das relações sociais, pois “a essência humana não é uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais” (MARX; ENGELS, 2007, p. 534).
Diante de todas as propostas ilusionistas do pensamento social contemporâneo,1 ousamos afirmar que o trabalho como categoria fundante de análise da sociedade humana é a base sobre a qual podemos nos aproximar da essência humana, no caso, do conjunto das relações sociais. Marx (1999, p. 11), nas Teses sobre Feuerbach, faz uma
* Professor Adjunto da graduação e pós-graduação do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 1 Observem a advertência de Lukács (1967, p. 09) em relação ao pensamento ocidental contemporâneo: “Não tenho muita confiança nas tendências do pensamento ocidental contemporâneo, quer se trate de neopositivismo ou de existencialismo. Acho mais útil reler Aristóteles pela vigésima vez.”
20
afirmação teórico-filosófica de seminal importância, que inaugura a concepção materialista-dialética da história:
O principal defeito de todo o materialismo existente até agora – o de Feuerbach incluído – é que as coisas [Gegenstand], a realidade, o sensível, só é apreendido sob a forma do objeto [Objekts] ou da contemplação; mas não como atividade humana sensível, como prática, não subjetivamente. Daí decorreu que o lado ativo, em oposição ao materialismo, foi desenvolvido pelo idealismo – mas apenas de modo abstrato, pois naturalmente o idealismo não conhece a atividade real, sensível, como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis [sinnliche Objekte] efetivamente diferenciados dos objetos do pensamento; mas ele não apreende a própria atividade humana como atividade objetiva [gegenständliche Tätigkeit] [...] (MARX; ENGELS, 2007, p.537)
Ao reconhecer a atividade sensível do homem e sua dependência inseparável entre sujeito e objeto, o mundo torna-se palco da ação humana pelo trabalho, a explicação sobre a realidade social passa a ser compreendido como a relação específica entre ambos. Para Chasin (1995, p. 395), o mérito marxiano “foi a precisa identificação ontológica da objetividade social – posta e integrada pelo complexo categorial que reúne sujeito e objeto tendo por denominação comum a atividade sensível”. O homem, ao confirmar seu ser, sanciona, simultaneamente, o seu pensamento, pois “o ser do homem é o ser de sua atividade, assim como o seu saber é o saber de seu ser ativo”.
O homem, por meio de sua atividade sensível, o trabalho, desperta as forças da natureza e aprimora os seus conhecimentos. Na medida em que o homem se apropria da natureza pelo trabalho, faz com que a própria natureza seja transformada segundo os seus interesses e necessidades sociais. Nesse sentido, o mundo natural é o palco e o momento da práxis humana e se torna, por conseguinte, no mundo social. Parafrasendo Lukács (1981, p. 54):
[...] il lavoro rivela il veicolo dell’autocrearse dell’uomo come uomo [...] Com il suo autorelizzarsi, che ovviamente implica anche in lui stesso um arretramento della barriera naturale, quantunque non possa mai condurre allá scomparsa, al superamento totale di questa, egli entra in un essere nuovo, autofondato: l’essere sociale.
21
Para compreender o homem nas suas intrincadas relações com o mundo, partimos da discussão sobre o trabalho e entendemos a atividade sensível do ser como uma das dimensões da vida humana que revela a humanidade, pois é pelo trabalho que o homem transforma o meio natural e satisfaz as suas necessidades sociais. O trabalho é a relação constante e eterna de o homem afirmar o seu ser e o seu saber e assegurar o seu ser vivente no mundo. De acordo com Marx (1983, p. 39): “Atividade sistemática visando a apropriação dos produtos da natureza sob uma ou outra forma, o trabalho é a condição natural do gênero humano, a condição – independente de qualquer forma social – da troca de subsistência entre o homem e a natureza”. Tal afirmação enfatiza o trabalho – atividade sistemática – como a mediação indispensável do homem com a natureza e o meio de apropriar-se dos recursos necessários à produção e reprodução de sua vida.
As indicações marxianas situam o trabalho como o processo recíproco de interação entre o homem e a natureza. Processo em que é afirmada a ação humana sobre o mundo. O homem, ao relacionar com a natureza, objetiva-se por meio das forças do seu corpo, com o intuito de apropriar-se dos recursos naturais disponíveis. Esta interação possibilita ao homem, ao mesmo tempo, transformar a natureza e a si mesmo. A relação entre homem e natureza proporciona o desenvolvimento das potencialidades humanas e, consequentemente, submete a natureza ao seu domínio. Nesse processo ocorrem transformações recíprocas e aprimoramento da atividade sistemática. Por esta questão: “L’essenza del
lavoro umano, invece, sta nel fatto che, in primo luogo, esso nasce nel
mezzo della lotta per l’esistenza e, in secondo luogo, tutti i suoi satdi
sono prodotti dell’autoattività dell’uomo” (LUKÁCS, 1981, p. 13).
No entanto, o trabalho é a mediação ineliminável do homem com a natureza, que objetiva suprir as carências humanas, sejam elas materiais ou espirituais. No processo de apropriação da natureza, o ser começa a produzir os seus meios de vida e a si mesmo, pois ao objetivar-se pelo trabalho ele não só supri suas carências imediatas como também cria novas carências, que vão se complexificando ao longo da história da humanidade. O ato de externação da vida pelo trabalho nunca é algo acabado em si mesmo, mas um processo de constantes superações, pois o próprio processo de trabalho cobra novos avanços. O homem que o executa ao dar respostas para determinada situação cria necessariamente
22
novas perguntas, que nunca serão respondidas definitivamente. Se acreditarmos que as respostas dadas pelo homem, por meio do processo de trabalho, fossem acabadas em si mesmas, estaríamos negando a capacidade teleológica do homem de negar a condição dada, e pré-idealizar uma nova forma de produção e reprodução social.
A constituição do homem como ser que dá respostas às suas perguntas, tendo como finalidade suprir suas carências, é condicionado por suas características corporais e a principal é a capacidade teleológica. O pôr teleológico é o momento exclusivo do trabalho, em que o homem, na sua relação objetiva com a natureza, já tem construído idealmente o que ele pretende tornar concreto. Esse momento de pré-ideação, com um fim direcionado, resulta num produto final, que o homem já tinha idealizado antes de tornar concreto. Claro que o processo do pôr teleológico sofre as influências das condições reais de existência. Ou melhor, toda maneira possível de dar vida à idealização humana depende, em primeira instância, das condições materiais estabelecida por determinada época histórica.
De acordo com Lukács (1981, p.20):
Mentre cioè la causalità è un principio di automovimento riposante su se stesso, che mantiene questo suo carattere anche quando uma serie causale abbia il próprio punto di avvio in un atto di conscienza, la teleologia invece è per sua natura una categoria posta: ogni processo teleologico implica una finalità e quinti una coscienza che pone un fine. Porre, in tale contesto, non vuol dire perciò semplicemente assumere nelle coscienza, come avviene nel caso di altre categorie, e anzitutto della causalità; invece qui la conscienza con l`atto del porre dà inizio a um processo reale, per l`appunto al processo teleologico.
Na concepção marxiana e lukacsiana, o trabalho tem sua forma de existir na intrínseca relação entre consciência e ato, que se configura em um momento unitário, o de pensar e transformar. O trabalho é um complexo unitário formado por dois momentos – ideal e real –, ou seja, consciência e ato, dois momentos diferentes de uma mesma coisa. Lukács (1978, p. 04) oferece pistas precisas da relação intrínseca entre idéia e realidade, que configura o complexo unitário do trabalho. Para ele, a essência do trabalho consiste precisamente em ir além da fixação dos seres vivos na competição biológica com seu mundo ambiente. O
23
momento essencialmente separatório é constituído não pela fabricação de produtos, “mas pelo papel da consciência, a qual, precisamente aqui, deixa de ser mero epifenômeno da reprodução biológica: o produto, diz Marx, é um resultado que no início do processo existia ‘já na representação do trabalhador’, isto é, de modo ideal”.
O trabalho, nessa concepção de mundo, apresenta-se como uma categoria exclusivamente social, em que a posição teleológica se realiza no âmbito do ser social, como nascimento de uma nova objetividade. Marx ao conceber o trabalho desta forma, supera a concepção de outros pensadores como Aristóteles e Hegel que, por exemplo, concebia a teleologia como uma categoria universal. Para Marx e Lukács, a teleologia só existe no ser social e, no interior deste, apenas como momento do processo de trabalho. Marx recusa in limine toda teleologia no desenvolvimento ontológico global, como também toda teleologia na história, a teleologia se faz operante somente no interior do processo de trabalho (LESSA, 2002).
Segundo Lukács (1981, p. 19):
[...] Aristotele e Hegel abbiano afferrato com tutta chiarezza il carattere teleologico del lavoro [...] Il problema, però, è Che la posizione teleologica non viene intensa – né da Aristoteles né Hegel – come delimitata al lavoro (oppure in senso ampliato, ma ancora legittimo, alla prassi umana in genere), essa viene invece elevata a categoria cosmológica universale.
O trabalho ganha vida por meio do pôr teleológico, constituído por posições primárias e secundárias. Nesse momento, é bom ressaltar que o homem é um ser concreto e histórico, que realiza uma série de relações ativas e conscientes com a natureza e com os outros homens. O trabalho, nessas dimensões – capacidade teleológica primária e secundária –, constitui o processo pelo qual o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo social.
O trabalho é resultante do processo de transformação social do ser genérico. Segundo Lukács (1978, p. 13), “[...] o homem deixa a condição de ser natural para tornar-se pessoa humana, transforma-se de espécie animal que alcançou um certo grau de desenvolvimento relativamente elevado em gênero humano, em humanidade [...]”. A posição teleológica secundária é um processo elevado, em que os homens desenvolvem
24
“capacidades de trabalho” que têm por finalidade “a consciência de outros indivíduos”, ou seja, trabalhar sobre as “condutas e relações humanas”. O desenvolvimento da posição teleológica secundária comprova a seguinte afirmação de Lukács (1978, p. 13) “[...] o processo em si não tem uma finalidade. Seu desenvolvimento se dá no sentido de níveis superiores, por isso, contém a ativação de contradições de tipo cada vez mais elevado”.
A posição teleológica secundária está próxima dos estágios mais evoluídos da práxis social, como exemplo, faz emergir “[...] a práxis social alternativa, cujo objetivo é convencer outros seres sociais a realizar determinado ato teleológico. Isso se dá porque o fundamento das posições teleológicas intersubjetivas tem como finalidades a ação entre seres sociais”. (ANTUNES, 2001, p. 139).
As posições teleológicas secundárias constituem momentos de interação entre os seres sociais que visam ao convencimento e à inter-relação entre os homens e expressam-se de forma mais complexa. Nesse sentido, percebemos sua dimensão qualitativa, que se distingue pela habilidade própria e inerente a toda forma de reprodução social mais elaborada e complexa. Na medida em que o homem vai aperfeiçoando suas próprias projeções mentais, sua práxis social vai sendo cada vez mais intricada. As formas mais complexificadas da práxis social, que Antunes (2001) nomeia de ações interativas, acabam assumindo uma supremacia frente aos níveis inferiores, mas estes ainda continuam permanentemente sendo a base da existência daqueles mais complexos.
Por mais complexificada que seja a práxis social na potencialização das capacidades teleológicas secundárias, sua manifestação tem por origem o trabalho como protoforma originária de toda atividade humana. A autonomia das posições teleológicas é relativa quanto a sua estrutura original. As relações entre a ciência, a teoria e o trabalho são exemplos. A ciência e a teoria, mesmo quando atingem um grau máximo de desenvolvimento, de auto-atividade e de autonomia em relação ao trabalho, não podem desvincular-se completamente do seu ponto de origem, não podem romper inteiramente a relação de última instância com sua base originária. Mesmo sendo complexificadas e avançadas, a ciência e a teoria preservam vínculos com a busca das necessidades do gênero humano que são determinadas pelo sistema de metabolismo societal dominante. (LUKÁCS apud ANTUNES, 2001).
25
INDICAÇÕES SOBRE OS NEXOS CAUSAIS ENTRE TRABALHO, CIÊNCIA E
FILOSOFIA2
As considerações seguintes propõem levantar discussões que têm como alvo central estabelecer e demonstrar o caráter do trabalho como elemento fundante de toda práxis social.
A relação do homem com a natureza por meio do trabalho – criador de valores de uso – é uma condição ineliminável da existência humana. O homem é um ser natural, ele é um ser que faz parte da natureza e não podemos conceber o conjunto da natureza sem nela inserir a espécie humana. Ao mesmo tempo em que se constitui como ser em constante relação com a natureza, o homem é ativo e produz os seus meios de vida. Primeiramente o processo de trabalho é objetivado para a produção das necessidades elementares, ou seja, a sobrevivência. No desenvolvimento histórico da sociedade humana emergem sistemas de mediações mais complexas, que se apresentam como resultantes de outros tipos de necessidades humanas, como é o caso do surgimento de formas ideais de explicação da realidade social. As idéias – capacidade teleológica – são as expressões das relações e atividades reais do homem estabelecidas no processo de produção de sua existência social.
O homem tem necessidades físicas elementares, historicamente determinadas e precisa produzir os seus meios de vida. No entanto, suas ações não ficam estagnadas na mera reprodução biológica, muito pelo contrário, suas carências, suas necessidades de respostas às condições objetivas da vida material projetam avanços que potencializam o desenvolvimento da atividade prática sensível do homem em graus cada vez mais elaborados. Exemplo disso é a ciência que confirma a existência das posições teleológicas secundárias na sua ativação com a causalidade.
Conforme Lukács (1981, p. 59 - 60):
[...] ci basta per rilevare la situazione paradossale per cui – venuta in essere nel lavoro, per il lavoro, tramite il lavoro – la coscienza dell’uomo innesta la marcia della propria autoriproduzione. Potremmo dire cosí: l’autonomia del rispecchiamento del mondo
2 As considerações desenvolvidas neste item têm como referência a nossa tese de Doutorado, cujo título é: “A Produção do Conhecimento em Serviço Social: o mundo do trabalho em debate”. A publicação da tese será realizada pela editora UNESP/São Paulo.
26
esterno e interiore è un indispensabile presupposto affinché sorga e si sviluppi il lavoro. E però la scienza, la teoria come fugura auto-operante e independente di originarie posizioni teleologico-causali nel lavoro, anche quando sai pervenuta al massino grado di sviluppo non può mai rompere del tutto questo legame di ultima istanza com la própria origine.
A ciência é uma atividade humana originária do trabalho, mais precisamente uma ação interativa que ganha vida a partir das posições teleológicas secundárias. Por mais que a ciência se autonomiza, ela tem sua origem no trabalho e carrega consigo essa relação de ultima instância.
Uma das características essências para o desenvolvimento social e o surgimento de práxis elaboradas e complexas, é que o homem não se limita à produção e reprodução imediata das situações com que se depara. A ação humana não é apenas biologicamente determinada, mas se estabelece principalmente pela incorporação das experiências e conhecimentos produzidos e transmitidos entre as gerações. O processo histórico da humanidade mostra que, em cada uma de suas fases, encontra-se um resultado material, uma soma de forças de produção, uma relação historicamente criada com a natureza e entre os indivíduos, que cada geração transmite à geração seguinte; uma massa de forças produtivas, de capitais e de condições que, embora sendo em parte modificada pela nova geração, prescreve a esta suas próprias condições de vida e lhe imprime um determinado desenvolvimento, um caráter especial. “Mostra que, portanto, as circunstâncias fazem os homens assim como os homens fazem as circunstâncias.” (MARX; ENGELS, 1999, p. 56).
Segundo Marx (1982, p. 206 - 207):
[...] os homens não são livres para escolher as suas forças produtivas – base de toda a história –, pois toda força produtiva é uma força adquirida, produto de uma atividade anterior. Portanto, as forças produtivas são o resultado da energia prática dos homens, mas esta mesma energia é circunscrita pelas condições em que os homens se acham colocados, pelas forças produtivas já adquiridas, pela forma social anterior, que não foi criada por eles e é produto da geração precedente. O simples fato de cada geração posterior deparar-se com forças produtivas adquiridas pelas gerações precedentes, que lhes servem de matéria-prima para novas produções, cria na história dos homens
27
uma conexão, cria uma história da humanidade, que é tanto mais a história da humanidade quanto mais as forças produtivas dos homens, e, por conseguinte, as suas relações sociais, adquiriram maior desenvolvimento. Conseqüência necessária: a história social dos homens é sempre a história do seu desenvolvimento individual, tenham ou não consciência deste fato. As suas relações materiais formam a base de todas as suas relações. Estas relações materiais nada mais são que as formas necessárias nas quais se realiza a sua atividade material e individual.
A transmissão das experiências e conhecimentos – através da produção material e, por conseguinte, da educação, da cultura e da linguagem – permite que, no homem, as gerações posteriores sejam, de certa forma, favorecidas ou prejudicadas pelas relações sociais produzidas pelas anteriores. Esse processo constante de humanização da natureza vai adquirindo a marca da ação humana. Tal relação é recíproca e causa modificações nas formas de existência do próprio homem. De acordo com Marx e Engels (1999, p. 67), o mundo não é algo dado imediatamente por toda a eternidade, uma coisa sempre igual a si mesma, mas o produto do estágio social, ou seja, a sociedade é “um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, cada uma das quais se alcança aos ombros da precedente, desenvolvendo sua indústria e seu comércio, modificando a ordem social de acordo com as necessidades alteradas.” A interação homem-natureza-socialidade é um processo permanente de mútua transformação, o que torna o processo de produção da existência humana em constante mudança e nunca finalizado, mas na permanente busca dos meios para satisfazer a necessidade humano-social.
Para Lukács (1981, p. 28 – 29):
[...] la semplice subordinazione dei mezzi al fine non è poi cosí semplice come sembra al primo sguardo. Non bisogna cioè mai perdere di vista il semplece fatto Che la finalità diviene realizzabile o no a seconda che nella ricerca dei mezzi si sia riusciti a trasformare la causalità naturale in una causalità (ontologicamente) posta. La finalità sorge de un bisogno umano-sociale; ma affinhé essa divenga una vera posizione di um fine, è necessário che la ricerca dei mezzi, cioè la conoscenza della natura, sia pervenuta a un certo livello, adeguato ad essi; quando tale livello non è ancora raggiunto, la finalità resta un mero progretto utópico, una sorta di sogno, cosí come per esempio il
28
vólo rimase un sogno da Icaro a Leonardo e anche parecchio tempo dopo. Insomma, il punto in cui il lavoro si connette com l’origine del pensiere scientifico e com il suo sviluppo, dal punto di vista dell’ontologia dell’essere sociale, è próprio quella zona da noi designata come ricerca dei mezzi.
Para entendermos esse processo de inter-relações entre o homem-natureza-socialidade, recorremos à interpretação de Mészáros (2006, 79–80) que diz que o ponto de partida ontológico é o “fato auto-evidente de que o homem, parte específica da natureza (isto é, um ser com necessidades físicas historicamente anteriores a todas as outras) precisa produzir a fim de se manter, a fim de satisfazer essas necessidades”. O homem só pode satisfazer essas necessidades primárias criando necessariamente, no curso de sua satisfação por meio da sua atividade produtiva, uma complexa hierarquia de necessidades não-físicas, que se tornam assim condições igualmente necessárias à satisfação de suas necessidades físicas originais. As atividades e necessidades humanas de tipo “espiritual” têm, assim, sua base ontológica última na esfera da produção material como expressões específicas de intercâmbio entre o homem e a natureza, mediado de formas e maneiras complexas. Como diz Marx: “toda a assim denominada história mundial nada mais é do que o engendramento do homem mediante o trabalho humano, enquanto o vir a ser [Werden] da natureza para o homem”. A atividade produtiva é, portanto, o mediador na “relação sujeito-objeto” entre homem e natureza. Um mediador que permite ao homem conduzir um modo humano de existência, assegurando que ele não recaia de volta na natureza, que não se dissolva no “objeto”. “O homem vive da natureza”, escreve Marx, “significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza.” (MÉSZÁROS, 2006, p. 80).
A apropriação e a superação das condições materiais não se limitam as transformações das velhas necessidades, mas a incorporação das novas necessidades que passam a ser tão fundamentais quanto as primeiras necessidades humanas. Em alguns casos, passam até mesmo a equivaler às básicas para sua sobrevivência. Marx e Engels (1999, p. 70) nos esclarecem sobre o processo histórico da seguinte forma: “A história nada mais é do que a sucessão de diferentes gerações, cada uma das quais
29
explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas gerações anteriores”; ou seja, de um lado, prossegue em condições completamente diferentes a atividade produtiva precedente, enquanto, de outro lado, “modificando as circunstâncias anteriores através de uma atividade totalmente diversa”. Essa concepção de história3 compreende o homem, tendo como ponto de partida a práxis social, que se origina do trabalho e que sempre é manifesto mediando uma resposta às suas carências. Para Lukács (1978, p. 05):
[...] é inegável que toda atividade laborativa surge como solução de resposta ao carecimento que a provoca. Todavia, o núcleo da questão se perderia caso se tomasse aqui como pressuposto uma relação imediata. Ao contrário, o homem torna-se um ser que dá respostas precisamente na medida em que – paralelamente ao desenvolvimento social e em proporção crescente – ele generaliza, transformando em perguntas seus próprios carecimentos e suas possibilidades de satisfazê-los; e quando, em sua resposta ao carecimento que a provoca, funda e enriquece a própria atividade com tais mediações, freqüentemente bastante articuladas.
No processo de dar respostas às suas carências, o homem não produz apenas meios de trabalho, como também desenvolve conhecimento, crença, valor, ciência. O conhecimento alcançado em determinado momento histórico é apropriado pela humanidade e, por este motivo, é um valor universal passado de gerações para gerações.
O processo de produção da existência humana é um processo social; o homem não vive isolado, ao contrário, depende de outros, da comunidade. “Um ser que não tenha nenhum objeto fora de si não é nenhum ser objetivo. Um ser que não seja ele mesmo objeto para um terceiro ser não tem nenhum ser para seu objeto, isto é, não se comporta objetivamente, seu ser não é nenhum [ser] objetivo. Um ser não-objetivo é um não-ser”. (MARX, 2004, p. 127). Os seres sociais são interdependentes em todas as formas da atividade humana, sejam quais forem as suas necessidades – produção de bens à sobrevivência,
3 “E como tudo o que é natural tem de começar, assim também o homem tem como seu ato de gênese a história, que é, porém, para ele, uma [história] sabida e, por isso, enquanto ato de gênese com consciência, é ato de gênese que se supra-sume (sich aufhebender Entstehungsakt). A história é a verdadeira história natural do homem.” (MARX, 2004, p. 128).
30
elaboração de conhecimento. A relação de carência e reciprocidade entre os homens é criada, atendida e transformada de acordo com a organização social de determinada particularidade histórica.
No processo de produção e reprodução da existência humana, o trabalho é o nexo causal de todas as relações humanas. Ele determina e condiciona a vida, organizando a produção dos meios e bens necessários. Essa organização implica maneiras específicas de dividir o trabalho em determinada sociedade, o que dá origem às relações inerentes aos meios de trabalho e à apropriação do produto do trabalho. A forma de organizar a divisão do trabalho, que é composta, principalmente, pelos meios de trabalho e a força de trabalho, constitui as relações de produção que compõem a estrutura econômica de uma dada sociedade.
A produção material, apreendendo o trabalho como mediador do metabolismo da sociedade com a natureza (LUKÁCS, 2003), determina as formas políticas, jurídicas e, conseqüentemente, o conjunto de idéias que existem em cada sociedade. A transformação dessa base econômica ocasiona necessariamente as mudanças em toda a sociedade, o que implica um novo modo de produção tanto material como espiritual.
A estrutura econômica da sociedade, não compreendida de forma isolada e rígida, mas dialética, é o determinante fundamental da produção e reprodução da vida social. Tais relações sociais baseadas no trabalho estranhado e na propriedade privada, as quais sustentam a sociedade burguesa, resultam em classes sociais que têm interesses conflitantes. Nas sociedades em que existem relações envolvendo interesses antagônicos, as idéias refletem essas diferenças. Embora predominem aquelas que representam os interesses do grupo dominante, a possibilidade de produzir idéias que representam a realidade social do ponto de vista de outro grupo reflete a possibilidade de transformação presente na própria sociedade. Portanto, espera-se que, num dado momento, os pensamentos diferentes que protagonizam a negação encontrem o campo de possibilidades para sua concreção.
Os conflitos travados na materialidade social da sociedade têm suas expressões na produção espiritual, pois as idéias revolucionárias surgem do antagonismo entre as classes sociais. Segundo Marx e Engels (1999, p. 73): “A existência de idéias revolucionárias numa determinada época já pressupõe a existência de uma classe revolucionária [...]”. A oposição não
31
se faz somente na estrutura econômica da sociedade, na qual a minoria detém a riqueza socialmente produzida e a maioria tem acesso somente à miséria crescente, mas nas formas de organização e tomada de consciência da classe revolucionária que começa a produzir conhecimento que objetiva superar o estado de coisas vigente. A emersão de outras formas de interpretação da realidade cobra uma ação prática e transformadora das condições da existência social. Isso é possível quando as condições objetivas são favoráveis.
As idéias produzidas pelo homem representam grande parte do seu conhecimento, em relação ao mundo. O conhecimento se expressa nas suas diferentes formas, podendo ser senso comum, científico, teológico, filosófico, estético, conservador, reacionário, revolucionário. Mesmo sendo incorreto ou parcial, ou expressando posições conflitantes, exprime as condições de existência social de um determinado período histórico.
A ciência, portanto, é uma das formas do conhecimento produzido pelo homem no decorrer de sua história. A ciência é determinada pelas necessidades materiais do homem. A ciência caracteriza-se por ser a tentativa de o homem entender e explicar racionalmente a natureza humanizada e o homem naturalizado, buscando formular leis que, em última instância, permitem a atuação plenamente humana.
A ciência do homem é um produto da auto-atividade (selbstbetätigung) prática do homem (MARX, 2004, p. 157), e está submetida a determinadas condições históricas. Em toda a sua existência, ela é criação do homem e, por conseguinte, deveria estar comprometida em suprir as carências da humanidade. Entendemos que, em princípio, a principal função da ciência seria desenvolver conhecimentos que facilitem e humanizem o desenvolvimento social, mas tal objetivo está muito distante da ciência burguesa que tem sua reprodução submetida aos interesses do capital.
Após o surgimento da grande indústria e o apogeu da ordem do capital, a ciência se desenvolveu com objetivos voltados para a acumulação capitalista. A ciência foi aprimorada para dar respostas eficientes à produção de mercadorias. As denominadas ciências naturais é parceira insubstituível da indústria, enquanto que as ciências sociais desenvolveram sofisticadas tradições apologéticas, com fortes traços contra-revolucionários.
32
As ciências naturais tiveram avanços memoráveis, mas, quanto mais desenvolve suas capacidades técnicas voltadas para a produção capitalista, mais distante fica do conhecimento em prol do homem. Isso teve resultados imediatos com a separação e a fragmentação do conhecimento, ou seja, a ciência foi dividida em ciências. Temos as ciências sociais e as ciências naturais. No caso específico das ciências naturais, que é mais propícia para dar respostas às condições materiais da existência humana, a técnica apoderou de sua reprodução e, infelizmente, ocorreu o distanciamento das ciências sociais. Isso desencadeou a fratura entre a ciência e a filosofia. A separação entre filosofia e ciência é essencial, pois a técnica oferecida pela ciência do capital é suficiente para a ampliação da riqueza insana de uma sociedade alienada, enquanto a filosofia, desde que não seja a especulativa e contemplativa que se tornou disciplina isolada, ao cumprir a sua função social, vai desenvolver-se ad hominem e voltar os seus questionamentos em defesa de uma genuína condição humana.
A filosofia tem uma tarefa histórica com a prática humana, ou seja, o seu papel “[...] é estabelecer a verdade deste mundo. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é desmascarar a auto-alienação humana [...].” (MARX, 2005, p. 146). Na contemporaneidade a filosofia e a ciência estão em campos estranhos, elas não estabelecem relações entre si para o entendimento do mundo social. A filosofia, pela “cabeça” dos ideólogos da sociedade burguesa, restringiu-se à especulação e não tem como objetivo questionar as condições da existência humana. Enquanto que a ciência está submetida e compromissada com a acumulação capitalista.
A filosofia e a ciência deveriam estar voltadas para os interesses da humanidade. Grande parte do “saber filosófico” contemporâneo nada tem de aproximação com o esclarecimento prático da realidade social e está distante de ser a cabeça da emancipação humana. O mesmo acontece com a ciência, pois suas preocupações são privadas e representam os interesses da atividade produtiva alienada. Segundo Mészáros (2006, p. 97): “O problema imediato de Marx é: por que existe um abismo tão grande entre a filosofia e a ciências naturais? Por que a filosofia continua tão alheia e hostil a elas, assim como elas em relação à filosofia?”
33
Observe os comentários de Marx (2004, p. 111-112) sobre as ciências naturais, sua relação estranhada com a filosofia e seu desenvolvimento harmônico com a indústria.
As ciências naturais desenvolveram uma enorme atividade e se apropriaram de um material sempre crescente. Entretanto, a filosofia permaneceu para elas tão estranha justamente quando elas permaneceram estranhas para a filosofia. A fusão momentânea foi apenas uma ilusão fantástica. Havia a vontade, mas faltava a capacidade. A própria historiografia só de passagem leva em consideração a ciência natural como momento do esclarecimento (Aufklärung), da utilidade, de grandes descobertas singulares. Mas quanto mais a ciência natural interveio de modo prático na vida humana mediante a história, reconfigurou-a e preparou a emancipação humana, tanto mais teve de completar, de maneira imediata, a desumanização. A indústria é a relação histórica efetiva da natureza e, portanto, da ciência natural com o homem; por isso, se ela é apreendida como revelação exotérica das forças essenciais humanas, então também a essência humana da natureza ou a essência natural do homem é compreendida dessa forma, e por isso a ciência natural perde a sua orientação abstratamente material, ou antes idealista, tornando-se a bases da ciência humana, como agora já se tornou - ainda que em figura estranhada - a base da vida efetivamente humana; uma outra base para a vida, uma outra para a ciência é de antemão uma mentira.
Para Mészáros (2006, p. 98), Marx não é guiado por um ideal mal concebido de remodelar a filosofia com a ciência natural. De fato, ele crítica agudamente tanto a filosofia como as ciências naturais. A primeira por ser “especulativa”, e a segunda por ser “abstratamente material” e “idealista”. Na concepção marxiana, tanto a filosofia como as ciências naturais são manifestações do mesmo estranhamento. As expressões “abstratamente material” e “idealista” indicam que a ciência natural é, “numa forma alienada”, a base da vida humana real, devido ao fato de estar necessariamente interligado com uma forma alienada de indústria, correspondente a um modo alienado de produção, a uma forma alienada/estranhada de atividade produtiva.
A reivindicação de Marx por uma ciência humana nada mais é do que solicitar uma ciência de síntese concreta integrada com a vida real. Segundo Mészáros (2006, p. 98), o ponto de vista da ciência humana proposta por Marx é o ideal do homem não-alienado, “cujas necessidades
34
reais humanas – em oposição tanto às necessidades inventadas especulativamente como às necessidades abstratamente material, praticamente desumanizadas – determinam a linha de pesquisa em cada campo particular”. As realizações dos campos particulares – guiadas desde o início pela estrutura referencial comum de uma ciência humana não-fragmentada – são, então, reunidas numa síntese superior que, por sua vez, determina as linhas subseqüentes de investigações nos vários campos do saber.
Chasin (1988, p. 45) escreve o seguinte sobre o abismo entre filosofia e ciência:
Ao inverso do pauperismo intelectual que cava abismos entre ciência e filosofia, presencia-se na elaboração marxiana a reemergência da forma rica do saber: unitário, sintético e direcionado à totalização. Contata-se, em verdade, o reencontro do espírito originário do termo filosofia, na medida em que sofia é conhecimento teórico e prático e amor se desvela como carência, necessidade vital de algo não possuído. Filosofia, pois, como carência de saber do mundo e mundo carente de transformação.// Filosofia que se põe como representação e prática, não em paralelas, mas em momentos distintos de uma processualidade integrada. Uma filosofia que se constituiu como representação radical – conhecer o mundo até o fim, até a raiz – ontologia; e que se realiza no mundo também por uma prática de raiz, por uma ação transformadora que vai até o fim – revolução.
A fragmentação e abismo entre ciência e filosofia é o resultado direto de uma sociedade que se sustenta numa vida social alienada e, por conseguinte, determina uma série de necessidades alienadas, que são guiadas pela acumulação privada de capital e, simultaneamente, da substituição das carências humanas em carências mercadológicas. No processo produtivo, o homem torna-se objeto de suas próprias criações, os instrumentos de trabalho submetem o trabalhador às condições ditadas pela produção e, não ao contrário, o homem submete os instrumentos de trabalho às suas carências.
Em relação à filosofia especulativa como resultado da socialidade auto-alienada, temos uma dupla alienação na esfera do pensamento: “[...] (1) em relação a toda prática – inclusive a prática, por mais que alienada, da ciência natural – e (2) em relação a outros campos teóricos, como a economia política, por exemplo.” (MÉSZÁROS, 2006, p. 99). Em sua
35
“universalidade” especulativa, a filosofia se torna um “fim em si mesmo” e “para si mesmo”, um saber pelo saber, não tendo nada a ver com o saber para fazer, mudar, transformar. A filosofia torna-se “um reflexo abstrato da alienação institucionalizada” dos meios em relação aos fins. Como separação radical de todos os outros modos de atividade, a filosofia parece ser, aos seus representantes, no caso específico os apologistas do capital, a única forma de atividade intelectual, sendo totalmente descompromissada com as mudanças das condições existentes, ficando satisfeita com a contemplação. Assim, em vez de ser uma dimensão universal de toda atividade, integrada na prática e em seus vários reflexos, ela funciona como uma “universalidade alienada” independente (verselbsändigt), mostrando o absurdo de todo esse sistema misterioso de todas as especialidades esotéricas, rigorosamente reservadas aos “sumos sacerdotes” alienados (os Eingeweihten) desse comércio, que se tornou o saber. Aqui incluem-se a filosofia e a ciência natural. (MÉSZÁROS, 2006, p. 97-99).
Se o caráter “abstratamente material” das ciências naturais particulares está ligado a uma atividade produtiva fragmentada e desprovida de perspectivas, o caráter “abstratamente contemplativo” da filosofia expressa o divórcio radical entre a teoria e a prática, em sua universalidade alienada. Eles representam as duas faces da mesma moeda: a auto-alienação do trabalho manifestada num modo de produção caracterizado por Engels e Marx como “a condição inconsciente da humanidade”. (MÉSZÁROS, 2006, p. 99).
A filosofia e a ciência, pela cabeça dos “intelectuais” da burguesa, não conseguem vislumbrar o seu compromisso histórico com a humanidade. Quando cobramos o compromisso da ciência e da filosofia perante a humanidade, queremos reivindicar uma questão crucial que é a transformação da sociedade, pois teoria e prática são campos das mesmas condições de existência do homem. Se a produção e reprodução das relações sociais são alienadas, ou seja, os valores que deveriam ser atribuídos ao homem são atribuídos às coisas, é porque os homens, que são criadores e criaturas de tais relações sociais, não atingiram a maturidade e o momento histórico em que a filosofia e a ciência terão como principal objetivo a superação da auto-alienação humana. A questão não é remodelar a ciência ou a filosofia, mas, de acordo com Marx, é instaurar uma ciência humana, ou seja, o que está em pauta é
36
uma situação prática. Observe as argumentações de Marx (2004, p. 112) em defesa de uma ciência humana:
A sensibilidade (vide Feuerbach) tem de ser a base de toda a ciência. Apenas quando esta parte daquela na dupla figura tanto da consciência sensível quanto da carência sensível – portanto apenas quando a ciência parte da natureza – ela é ciência efetiva. A fim de que o “homem” se torne objeto da consciência sensível e a carência do “homem enquanto homem” se torne necessidade (Bedürfnis), para isso a história inteira é a história da preparação / a história do desenvolvimento. A história mesma é uma parte efetiva da história natural, do devir da natureza até ao homem. Tanto a ciência natural subsumirá mais tarde precisamente a ciência do homem quando a ciência do homem subsumirá sob si a ciência natural: será uma ciência. | | X | O homem é o objeto imediato da ciência natural; pois a natureza sensível imediata para o homem é imediatamente a sensibilidade humana (uma expressão idêntica), imediatamente como o homem outro existindo sensivelmente para ele; pois sua própria sensibilidade primeiramente existe por intermédio do outro homem enquanto sensibilidade humana para ele mesmo. Mas a natureza é o objeto imediato da ciência do homem. O primeiro objeto do homem – o homem – é natureza, sensibilidade, e as forças essenciais humanas sensíveis particulares; tal como encontram apenas em objetos naturais sua efetivação objetiva, [essas forças essenciais humanas] podem encontrar apenas na ciência do ser natural em geral seu conhecimento de si. O elemento do próprio pensar, o elemento da externação da vida do pensamento, a linguagem, é de natureza sensível. A efetividade social na natureza e a ciência natural humana ou a ciência natural do homem são expressões idênticas.
Em qualquer modelo que temos em mente de filosofia e ciência, sua “aplicabilidade” dependerá da totalidade da prática social, pois é ela que produz, em toda situação sócio-histórica, as necessidades materiais e intelectuais. Mészáros (2006, p. 108) nos esclarece que a realização do ideal de Marx de uma ciência humana pressupõe a existência auto-sustentada (“positiva”) de tais necessidades no corpo social. A própria formulação do ideal de Marx, em contraste, corresponde à necessidade de negar – em seus aspectos teóricos – a totalidade das relações sociais de produção existentes. A reivindicada ciência humana torna-se uma realidade na medida em que a alienação é suprimida praticamente e assim a totalidade da prática social perde seu caráter fragmentado. “Nesta
37
fragmentação, a teoria é contraposta à prática e os campos particulares ‘da atividade essencial estranhada’ – tanto teórica quanto prática – opõem-se mutuamente”. Para a realização da ciência humana, todas as ciências fragmentadas, ou seja, a filosofia, a economia política, as ciências naturais etc. devem ser integradas reciprocamente. O mesmo deve ocorrer em relação à totalidade de uma prática social, a qual não mais será caracterizada pela alienação e reificação das relações sociais de produção. Pois a ciência humana é precisamente essa integração dual - “como transcendência da alienação dual vista anteriormente – dos campos teóricos particulares: 1) entre si mesmos; 2) com a totalidade de uma prática não alienada.” (MÉSZÁROS, 2006, p. 108).
Os obstáculos postos no caminho para a realização da ciência humana não são mais do que a supressão da alienação na prática social. A ciência “abstratamente material” e a filosofia “especulativo-contemplativa” são produto da prática social alienada, portanto a superação da alienação na prática social é inconcebível sem superar, ao mesmo tempo, as alienações nos campos teóricos. O processo efetivo de superação (Aufhebung) ocorrerá no movimento dialético entre o teórico e o prático na busca pela reintegração recíproca.
Em relação às manipulações/obstáculos sofridas pelo saber em busca de uma ciência genuinamente humana, Lukács (1981, p. 123 - 124) afirma o seguinte:
[...] mentre negli stadi primitivi era l’arretratezza del lavoro e del sapare che impediva una genuina indagine ontologica intorno all’essere, oggi è próprio il latto che il dominio sulla natura va dilatandosi all’infinito a creare ostacoli all’applo fondimento e alla generalizzazione ontologici del sapere, per coí quest’ultimo deve lottare non contro le fantasticherie, ma contro il suo stesso ridursi a fondamento della propria universalità pratica [...] mera manipolazione ci fermeremo piú avanti. Qui dobbiamo soltanto constatare che la manipolazione trava le sue radici materiali nello sviluppo delle forze produttive e le sue radici ideali nelle nuove forme del bisogno religioso e che essa non si limita a rifiutare semplicemente una ontologia réale, ma nella pratica opera contro lo sviluppo scientifico.
De acordo com a elaboração marxiana, a superação da ciência e filosofia, que pouco respondem às carências do gênero humano, só ocorrerá quando o terreno da vida social prática e, conseqüentemente, do
38
pensamento aceitar e estiver pronto para as transformações sociais. Os “problemas” em relação à filosofia e a ciência alienada não serão superados no pensamento, mas somente na prática social, pois as insuficiências ou “problemas” do saber sistematizado do homem são reflexos e expressões da realidade social. O conhecimento fragmentado do mundo apresentado pelos campos do “saber moderno” é um reflexo necessariamente alienado da alienação prática. Marx tem um ideal de uma ciência humana que seria a síntese não-alienada de todos os aspectos da vida social. A exigida ciência humana de Marx – que é a síntese superada da filosofia especulativa e da ciência da indústria – seria orientada por um conhecimento não-artificial e abrangente, mas para o próprio homem.
Segundo Mészáros (2006, p. 21):
Marx esboça nos Manuscritos de Paris as principais características de uma nova “ciência humana” revolucionária – por ele contraposta à universalidade alienada da filosofia abstrata, de um lado, e à fragmentação e à parcialidade reificadas da “ciência natural”, de outro – do ponto de vista de uma grande idéia sintetizadora: “a alienação do trabalho” como a raiz causal de todo o complexo de alienações.
Os críticos de Marx fazem referência às suas preocupações “filosóficas” e “econômicas”, mas isso não é verdade. As inquietações de Max em relação à filosofia nunca foram “filosóficas”, mas sempre humanas e práticas, como também, o seu interesse pela economia política nunca foi meramente “científico-econômico”, mas humano e prático. (MÉSZÁROS, 2006, p. 214). Para Marx, tanto a filosofia como a economia política foram, desde o início, imersas em uma aflição humana prática. De acordo com Mészáros (2006, p. 213), nos Manuscritos Econômico-Filosófico de 1844, Marx não estava menos interessado em “economia política” do que em seu Robentwurt ou em O Capital. Nas últimas obras, mesmo se preocupando com a crítica à economia política, o autor continuava fazendo “filosofia”– o seu tipo de filosofia, é claro, tal como nas obras de juventude e nos Manuscritos de Paris. Os estudiosos que negam isso tendem a identificar grosseiramente o humano com o “econômico”, ou aqueles que, em nome de abstrações psicológicas mistificadas, tratam com extremo ceticismo a relevância das medidas socioeconômicas para a solução dos “problemas” da humanidade.
39
Os “problemas” da humanidade são práticos e reivindicam um saber para transformar. A perspectiva de ciência apontada por Marx e seus principais estudiosos, desvenda um horizonte no qual o conhecimento sobre o mundo dos homens propõe a superação do saber fragmentado, do saber especulativo, da ciência voltada inteiramente para a técnica em que ela é sinônimo de tecnologia e que potencializa, sobremaneira, a acumulação capitalista.
A proposta de realizar uma síntese não-alienada de todos os campos do conhecimento é uma tarefa inacabada que tem como principal objetivo a integração recíproca da teoria e da prática. De acordo com Marx e Engels (1999, p. 38): “Aonde termina a especulação, na vida real, começa também a ciência real, positiva, a exploração da atividade prática, do processo prático de desenvolvimento dos homens. As frases ocas sobre a consciência cessam, e um saber real deve tomar o seu lugar”. Todas as conquistas do conhecimento humano da ciência real unificada estarão voltadas para o aperfeiçoamento do homem e não das coisas, pois a verdadeira ciência humana nunca chegará a um estágio acabada, mas a cada nova conquista tem por finalidade o aperfeiçoamento do gênero humano para o próprio gênero humano.
A tarefa da ciência humana é despertar no homem a sensibilidade para os “problemas” da humanidade e resolvê-los de modo prático. A importância da construção de uma genuína ciência humana está em voltar o olhar para a humanidade por meio da lógica do trabalho. A visão proporcionada pela lógica do trabalho possibilitará, portanto, a negação e posterior superação do trabalho estranhado e da vida alienada exercida pelo homem na ordem burguesa. Portanto, a emancipação do trabalho só será possível com a revolução socialista e, conseqüentemente, pela plena extinção da propriedade privada dos meios de produção, o que possibilitará, no processo histórico de rupturas, os caminhos viáveis e necessários da construção da sociedade comunista enquanto associação social de livres produtores associados.
REFERÊNCIAS:
1. ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2001.
40
2. CHASIN, J. Da razão do mundo ao mundo sem razão. Marx Hoje: cadernos ensaio. São Paulo: Ensaio, 1988.
3. _______. Marx – estatuto ontológico e resolução metodológica. In: TEIXEIRA, F. Pensando com Marx. São Paulo: Ensaio, 1995.
4. LESSA, S. Mundo dos homens: trabalho e ser social. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002.
5. LUKÁCS, G. Ontologia do Ser Social: os princípios ontológicos fundamentais de Marx. São Paulo: Ciências Humanas, 1979.
6. ______. As bases ontológicas do pensamento e da atividade humana. Temas de Ciências Humanas. São Paulo: Ciências Humanas, 1978. v. 4.
7. ______. Existencialismo ou marxismo. São Paulo: Senzala, 1967.
8. ______. Per una ontologie dell´essere sociale. Roma: Riuniti, 1981.
9. ______. Pósfácio (1967). História e Consciência de Classe. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
10. MARX, K. Miséria da filosofia: resposta à Filosofia da Miséria do Sr. Prodhon. São Paulo: Ciência Humanas, 1982.
11. ______. Contribuição à crítica da economia política. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1983.
12. ______. Manuscritos econômico-filosóficos. Lisboa: Edições 70, 1993.
13. ______. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004.
14. ______. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005.
15. ______.; ENGELS, F. A ideologia alemã. 11. ed. São Paulo: Hucitec, 1999.
16. ______. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2009.
17. MESZÁROS, I. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006.
41
PROCESSO DE TRABALHO EM FRIGORÍFICOS E AS POSSIBILIDADES DE CONSTITUIÇÃO DE
NOVAS SOCIABILIDADES*
Georgia Sobreira S. Cêa** Neide Tiemi Murofuse***
INTRODUÇÃO
Ao tratar das novas formas de organização industrial, Antunes destaca que
Com a redução dos ciclos de vida útil dos produtos, os capitais não têm outra opção, para sua sobrevivência, senão inovar ou correr o risco de ser ultrapassados pelas empresas concorrentes (ANTUNES, 2000, p. 50).
Um produto/mercadoria especial do processo de trabalho capitalista não escapa desse desígnio: também os ciclos de vida útil da força de trabalho vêm sendo reduzidos.
Inúmeros estudos inseridos nos campos da sociologia do trabalho e da saúde do trabalhador denunciam o crescimento alarmante de episódios envolvendo acidentes e doenças do trabalho em diferentes ramos empresariais: no setor automobilístico, (MARCELINO, 2004, p. 151-155; OLIVEIRA, 2004, p. 181-201; FRANCA, 2007, p. 108-110), no telemarketing (NOGUEIRA, 2004, p. 54-86; COSTA, 2007), na indústria farmacêutica (RODRIGUES, ALVES, SILVA, 2008), no setor ferroviário (SELIGMANN-SILVA, 1997), no setor bancário (MUROFUSE, 2000; GRISCI, BESSI, 2004), na indústria avícola (NELI, 2006; DELWING, 2007; FINKLER, 2007), no setor da saúde
* Este texto apresenta reflexões decorrentes de estudos desenvolvidos no projeto de pesquisa “Processo de trabalho em frigoríficos da região oeste do Paraná: trabalho, educação e saúde”, financiado pelo CNPq (Edital MCT/CNPq 03/2008 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas). ** Doutora em Educação: História, Política e Sociedade (PUC-SP) e professora adjunta da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). E-mail: [email protected] *** Doutora em Enfermagem Fundamental (USP-Ribeirão Preto) e professora adjunta do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). E-mail: [email protected]
42
(MUROFUSE, 2004), na área da educação (GASPARINI, BARRETO, ASSUNÇÃO, 2005; SGUISSARDI, SILVA JÚNIOR, 2009), no setor calçadista (NAVARRO, 2006). Nem as empresas públicas escapam deste processo (BRANT, MINAYO-GOMES, 2009).
A situação não é distinta no setor frigorífico. Delwing (2007, p. 37) afirma que “[...] a incidência de lesão nos trabalhadores dos frigoríficos é quase quatro vezes superior em relação aos trabalhadores manuais das demais manufaturas”.
Para se ter uma ideia da gravidade da situação, os frigoríficos, juntamente com os supermercados, a indústria de calçados e o telemarketing foram recentemente apontados pelo Ministério da Saúde como os setores mais críticos na ocorrência de doenças osteomoleculares, que respondem por 70% das doenças relacionadas ao trabalho (O GLOBO1, apud. UNB CLIPPING, 2007).
No caso específico dos frigoríficos, o exponencial aumento dos casos de acidentes e doenças do trabalho é proporcional ao crescimento econômico do setor, que ocupa posição de destaque no agronegócio brasileiro, especialmente pela sua capacidade de internacionalização (exportações e abertura de filiais no exterior), alavancada nas últimas décadas. Apesar da crise financeira mundial, as grandes empresas do setor “[...] se encontram em situação menos preocupante, especialmente porque receberam aportes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)” (SAMORA, 2009, p. 1). Tais aportes, além de contribuírem com a estratégia de internacionalização, também se voltaram para a modernização do setor, conforme atesta Ramos (2007, p. 162):
A principal fonte de financiamento [do agronegócio] para investimento de capital de origem pública a partir de meados da década [de 1990] passou a ser o BNDES, operando através de repasses de recursos obtidos no exterior. Esses recursos, tomados junto ao sistema financeiro a taxas de juros reduzidas, permitiram a relocalização e modernização de plantas industriais, como foi o caso dos créditos obtidos pelos frigoríficos (aves, suínos e bovinos), conservas e óleos vegetais.
1 Jornal O Globo, edição de 07 abr. 2005.
43
Um dos mais expressivos ramos do setor frigorífico no Brasil é a avicultura, voltada especialmente para o abate e beneficiamento de aves. Neli (2006, p. 36) assevera que “[...] o aumento da intensidade de trabalho nas indústrias avícolas e as consequências para a saúde do trabalhador, de modo geral, mostram-se bastante trágicas”. Tal situação reflete os custos humanos do crescimento econômico de um dos setores mais lucrativos do agronegócio.
Com base em dados da União Brasileira de Avicultura, Zen (2009, p. 26) argumenta que
Apesar de ser o segundo maior produtor mundial (10,2 milhões de toneladas em 2007, contra 16 milhões de toneladas produzidas pelos Estados Unidos), o Brasil lidera o ranking de exportações de frango (3.286 milhões de toneladas exportadas em 2007, contra 2.618 milhões de toneladas exportadas pelos Estados Unidos). Ao final de 2007 o Brasil chegou a um total de 150 mercados compradores, e uma participação de 40% no comércio internacional de carne de frango. Juntos, Brasil e Estados Unidos abarcaram cerca de 75% do mercado mundial de carne de frango em 2007.
Se pudessem, as aves, enquanto vivas, possivelmente comemorariam com o empresariado da avicultura a pujança quantitativa e qualitativa do setor:
Na Conference on Global Trade and Farm Animal Welfare, evento encerrado [em 21 de janeiro de 2009] em Bruxelas, na Bélgica, o Brasil mais uma vez mostrou por que é líder absoluto na exportação de frangos. Durante o encontro, o país marcou posição e mostrou que está bem adiantado em relação às questões de bem estar animal. Encontro, aliás, que contou com forte mobilização do setor público e privado, com as presenças da UBA [União Brasileira de Avicultura], da ABEF [Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos] e de um grande time de especialistas do Ministério da Agricultura. Entre eles, o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Mapa [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento], Márcio Portocarrero, que teve uma das participações mais marcantes do evento. Lá, Portocarrero destacou a implantação dos padrões de bem estar animal no Brasil, especialmente no que diz respeito ao frango de corte. Durante sua apresentação, os esforços da UBA e a ABEF foram
44
ressaltados, juntamente com a forte ação da WSPA [Sociedade Mundial de Proteção Animal] para a implantação de métodos humanitários em plantas frigoríficas [...] (BRASIL..., 2009).
Os “métodos humanitários” empregados nas empresas frigoríficas que buscam garantir o “bem estar animal no Brasil” parecem apartar os homens do rol de cuidados que devem cercar os “seres vivos” envolvidos na produção. O aniquilamento da saúde por força de uma dada forma de organização do trabalho destrói não apenas o ser trabalhador, mas também o ser humano que se manifesta em outras esferas, além daquela constituída pelo trabalho alienado.
Segundo Neli (2006, p. 81),
O trabalho no setor agroindustrial avícola pode suscitar [...] distúrbios bastante graves não só pelo ambiente, repetição, intensidade, barulhos e riscos de acidentes a que estão expostos os trabalhadores, mas também problemas de saúde provocados pela desestruturação psicológica [...], como exemplos, as dificuldades geradas no relacionamento familiar pelo trabalho em turnos e noturno, sono nos outros afazeres cotidianos (como nas aulas) e até confusão entre os horários (como o funcionário que confunde o horário de entrada no trabalho).
Apesar de todos os riscos humanos e das consequências para a saúde dos trabalhadores envolvidos na produção de frigoríficos, Vasconcellos, Pignatti e Pignati (2009, p. 670) informam que
[...] dados revelam que há uma insuficiente ação de vigilância/fiscalização estatal do setor, bem como baixos investimentos dos empresários na saúde e segurança no trabalho, provavelmente relacionados ao reducionismo econômico do emprego ou empregabilidade, e à priorização dos aspectos econômicos em relação às demais questões, como se “oferecer emprego” justificasse o não investimento na sua qualidade e nas medidas de prevenção de acidentes de trabalho.
O breve quadro esboçado nos parágrafos anteriores pretende apresentar o caráter mais geral que o processo de trabalho em frigoríficos assume: é um espaço de produção de pessoas adoecidas e até mesmo inválidas, física e psicologicamente, antes de ser um espaço de produção de alimentos de origem avícola.
45
A partir deste contexto, trataremos aqui do processo de trabalho em frigoríficos, com o objetivo de apresentar elementos que indicam a instauração de formas de sociabilidade que são produzidas no confronto entre os trabalhadores vitimados por condições de trabalho que aviltam sua saúde. Para tanto, organizou-se o texto da seguinte forma: apresentação dos referenciais de análise do estudo; caracterização do processo de trabalho em frigoríficos, destacando a incidência de casos de agravo à saúde dos trabalhadores e discutindo suas origens; reflexão sobre os desafios para a organização dos trabalhadores no contexto atual e, por fim, apresentação de formas coletivas de enfrentamento dos trabalhadores de frigoríficos do oeste do Paraná, na luta pela preservação da saúde.
APRESENTANDO OS REFERENCIAIS DE ANÁLISE
As análises deste estudo constroem-se a partir das relações entre trabalho, educação e saúde, tomando como referência o processo de trabalho em frigoríficos.
O trabalho, compreendido como forma de produção da existência humana (do próprio homem e dos bens materiais e simbólicos), é a categoria a partir da qual podem ser compreendidas formas de sociabilidade, forjadas na interconexão das dimensões objetivas e subjetivas da realidade.
Mészáros (2002), ao tratar da lógica sociometabólica do capital, explicita que nela prevalecem mediações de segunda ordem, de caráter predominantemente econômico, que aprisionam e subordinam as necessidades humanas aos imperativos da acumulação do capital, por meio da preponderância material do valor de troca sobre o valor de uso, expressão da subordinação radical deste àquele. A lógica do valor subsume as mediações de primeira ordem, fundadas nas necessidades humanas e na prevalência e independência do valor de uso em relação à troca. Essa lógica é a que caracteriza, em última instância, as diferentes formas de sociabilidade no capitalismo. Compreendê-la significa rechaçar quaisquer “[...] concepções da sociabilidade fundadas na intersubjetividade ou em complexos sociais como a política e o mercado” (LESSA, 2002, p. 47), para as quais a inserção produtiva do homem na sociedade deve resultar de relações particularistas e atomizadas.
46
Considerando a essência contraditória da sociedade capitalista – onde a produção de riqueza (capital) se assenta na exploração material dos que a produzem (trabalho) –, supõe-se um “[...] desenvolvimento contraditório da sociabilidade” (SILVA JR; GONZÁLEZ, 2001, p. 109), sendo esta forjada no embate entre as classes sociais antagônicas. Há, portanto, formas de sociabilidade capitalista que se tornam hegemônicas, frente às quais a classe trabalhadora se coloca, seja no sentido de reforçá-las, seja no sentido de lutar contra elas.
Nessa dinâmica, a educação – compreendida no seu sentido lato de complexo de atividades que visam socializar o saber (dimensão gnosiológica) e (con)formar as consciências (dimensão ontológica) (LUKÁCS, 1981) – se torna processo integrante das aprendizagens, sistemáticas ou não, do/no trabalho e das formas de agir/reagir frente às condições de trabalho.
Nas formas de sociabilidade capitalista, produzidas a partir do fato da alienação humana frente aos meios, aos processos e aos resultados do trabalho, não cabe ao trabalhador reger e/ou definir as condições de uso da força de trabalho, vendida como mercadoria e mobilizada em função dos interesses e necessidades econômicas dos compradores. O panorama apresentado na introdução deste texto demonstra o quanto este nível de alienação pode implicar no próprio desgaste físico da mercadoria força de trabalho, a ponto de torná-la descartável, como vem sendo observado no processo de trabalho em frigoríficos. Assim, ao se tratar da ocorrência de agravos à saúde dos trabalhadores, é necessário compreender que
A Saúde por referência ao trabalho deriva de seus componentes econômicos, sociais, tecnológicos, organizacionais e ambientais, sendo dotada de historicidade, em que o perfil de morbi-mortalidade, de sofrimento e mal-estar dos coletivos de trabalhadores, bem como o controle da nocividade, das cargas, e desgaste do processo de trabalho são determinados pelas relações político-econômicas e sócio-culturais estabelecidas entre capital e trabalho em cada sociedade concreta (LACAZ, 1996, p. 411).
A partir destes referenciais, abordaremos os temas propostos neste texto.
Para além do imediatismo entre o processo de trabalho e o adoecimento de trabalhadores: o coletivo interditado pelo capital
47
A importância da avicultura paranaense no país pode ser atestada pelo fato do estado ser o maior produtor de frangos do país. Em 2007,
[...] de acordo com a Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado abateu mais de 2 milhões de toneladas de frango, equivalentes a 22,89% da produção nacional (AMORIM, 2008, p. 13).
O oeste do Paraná tem expressiva participação na colocação do estado na economia nacional. Dos 50 municípios da região oeste do Paraná, tomada aqui como referência geográfica, em 12 deles há cooperativas, frigoríficos e abatedouros de suínos, bovinos e aves, totalizando 35 empresas. Entre estas, o destaque é para a indústria processadora de carne de aves, com 8 unidades de processamento que representaram, em 2003, 34,3% do faturamento em todo o Paraná, sendo a região com maior participação nos resultados econômicos do setor (IPARDES, 2005, p. 134). Segundo o IPARDES (2003, p. 63-64), “[...] o segmento de abate de aves é o maior empregador da região, com 13,84% da mão-de-obra industrial”. Essa importância no desenvolvimento regional demonstra o grande potencial das indústrias frigoríficas para a geração de emprego e renda2 (DONDA JR., 2002, p. 54).
Segundo Espíndola (2002), a partir dos anos de 1990, os frigoríficos do sul do país, e neles os situados no oeste do Paraná3, aprofundaram a utilização de medidas de modernização que contribuíram para a redução de custos da produção. Entre essas medidas pode-se citar: reorganização
2 Os frigoríficos do oeste do Paraná costumam empregar grandes contingentes de trabalhadores, utilizando diferentes estratégias de contratação (carteira assinada, trabalho temporário, terceirização). A oferta de vagas é constante, também em função da alta rotatividade, especialmente no setor da produção (chão da fábrica). A maioria das vagas não tem requisitos rígidos de escolarização, pelo fato das atividades serem praticamente manuais. As cidades onde as empresas estão localizadas nem sempre atendem as demandas de vagas, sendo comum a prática de recrutamento de força de trabalho em municípios menores, havendo ônibus fretados para a locomoção dos trabalhadores. (Informações prestadas por funcionários do setor de recursos humanos das empresas em entrevistas concedidas às pesquisadoras). 3 A pesquisa que origina este texto tomou por base a realidade de cinco empresas frigoríficas, das oito existentes no oeste do Paraná. Foram coletadas informações diretas em duas empresas frigoríficas; nas demais, a pesquisa utilizou relatos de trabalhadores (concedidos em entrevistas e questionários) e outros estudos (DONDA Jr., 2002; NELI, 2006; DELWING, 2007; ESPÍNDOLA, 2007; POZZOBON, 2008) que tiveram como objeto de análise o processo de trabalho em frigoríficos localizados na região.
48
da produção (especialmente por meio do just in time4), aquisições de
novos equipamentos, inovações dos produtos, mudanças nas estratégias de relacionamento fornecedor/cliente, melhoramento qualitativo da matéria-prima, flexibilização das relações de trabalho, implementação de técnicas de controle de qualidade, etc. Sintetizando os resultados dessas iniciativas, o autor indica
[...] o surgimento de empresas especializadas na produção de um elevado mix de produtos, com alto grau de capital investido e com novas relações de produção na estrutura administrativa, gerencial, no chão da fábrica e nos processos de fornecimento de matéria-prima. (ESPÍNDOLA, 2002, p. 3).
Esse conjunto de medidas articulou-se com uma estratégia econômica pautada no processo de internacionalização (exportações e implantação de filiais em diversos países), num alto grau de integração vertical (parcerias com aviários, rede nacional de vendas e distribuição de produtos) e na ampliação das possibilidades de especialização/diversificação da produção (multiplicidade de linhas de produtos) (POZZOBON, 2008).
Apesar de existirem diferenças quantitativas e qualitativas entre as oito empresas frigoríficas situadas no oeste do Paraná, é possível afirmar, com base nos estudos já realizados e na pesquisa em andamento, que todas se enquadram num contexto de reestruturação produtiva, na direção da modernização industrial pautada na organização flexível do trabalho. Além disso, é uma prática corrente na região o estabelecimento de contratos de produção entre as empresas5. Isso implica no fato de que,
4 O just in time é um sistema de organização que visa o melhor aproveitamento possível do tempo de produção. Este sistema possibilita o planejamento dos estoques e a entrega de mercadorias de acordo com as necessidades e especificações das empresas, tendo a demanda como orientadora do processo. No nível do chão da fábrica, nas empresas frigoríficas, introduziram-se placas informativas nos diferentes espaços da produção, contendo gráficos e planilhas que indicam o tempo de produção por unidade e a quantidade que deve ser produzida e encaminhada às seções subsequentes. Em algumas empresas, esse controle é de responsabilidade de um “fiscal da gerência”, que atualiza, indica e repassa às diferentes unidades os dados produtivos e as metas a serem alcançadas (ESPÍNDOLA, 2002, p. 3). 5 Na região oeste do Paraná está localizada uma das filiais da empresa que lidera o ranking nacional na produção de congelados, resfriados, aves e suínos e nas exportações de frango. É com ela que várias empresas da região estabelecem contratos de produção, em que uma determinada demanda é “encomendada” a outro frigorífico. Segundo informações coletadas em entrevista com uma funcionária (psicóloga) do setor administrativo de uma das empresas visitadas, contratada pela empresa líder, “A parceria é que diz o que vai acontecer. A produção é quase 100% para o mercado externo. A empresa produz o que a contratante exige. A empresa tenta mostrar o máximo padrão [determinado pela empresa
49
independente do tamanho e da posição ocupada pelo frigorífico na economia do setor, as empresas nivelam os procedimentos e níveis de exigência da produção, a partir dos requisitos e imposições da empresa contratante. Dessa forma, a fixação de índices de produtividade e a padronização de medidas de controle de qualidade atingem os setores externos (granjas, lavanderia e manutenção – que podem ser atividades realizadas em regime de “parceria”) e setores internos (administração, apoio e produção) dos frigoríficos.
Pelas características intrínsecas ao setor frigorífico, considerando-se especialmente as empresas localizadas na região geográfica analisada, essa modernização combina um acentuado desenvolvimento tecnológico e organizacional com a permanência de procedimentos e técnicas de marca taylorista-fordista, de forma que a presença do trabalho simples (de pouco ou nenhum conteúdo científico), fragmentado e repetitivo ainda é uma constante. Este tipo de trabalho – combinado com as diferentes estratégias de aceleração da produção e de aumento da produtividade – contribui decisivamente para a ocorrência de incontáveis casos de acidentes e adoecimento nos espaços laborais, de forma que qualquer trabalhador, independentemente do setor de atuação (das granjas às linhas de produção), tem sua condição de saúde ameaçada.
O caso do chão da fábrica, onde ocorre o abate e processamento das aves, é paradigmático nesse sentido. Ali se encontra mais visivelmente a fragmentação do trabalho em dezenas de atividades6, num ambiente extremamente hostil aos trabalhadores.
Em linhas gerais, o trabalho realizado no chão da fábrica das empresas frigoríficas investigadas apresenta as seguintes características:
contratante] para poder se manter. Hoje em dia eu acredito que a crise vem justamente para isso; aqueles que não estão bem, eles caem. E os frigoríficos que vão ficando são aqueles que estão liderando no mercado”. 6 Pela natureza deste texto, eximiremo-nos de apresentar detidamente todas as etapas que envolvem o processo de trabalho em frigoríficos. Para os interessados, indicamos a leitura de Donda Jr. (2002), Neli (2006) e Delwing (2007). Resumidamente, podemos apresentar a divisão do setor de abate de aves da seguinte forma: recepção de aves (recebimento, pendura, insensibilização e sangria das aves), depenagem (escaldagem, retirada das penas e corte das patas das aves); evisceração (retirada das vísceras e miúdos da carcaça); chiller (resfriador, onde ocorre o resfriamento da carcaça); sala de corte (cortes selecionados do frango – asa, coxa, sobrecoxa, peito); embalagem (processamento dos miúdos e embalagem dos frangos e/ou partes das aves); congelamento; expedição (carregamento e estocagem dos produtos) e fábrica de farinhas (processamento das penas e vísceras em farinhas para a produção de ração) (DELWING, 2007, p. 54).
50
repetitividade de movimentos; ritmo de trabalho imposto pela máquina; invariabilidade do trabalho; posturas inadequadas; uso de força física; trabalho muscular estático; pressão mecânica; exposição a temperaturas altas e baixas (dependendo do setor7); convivência com odores fortes; barulho excessivo; contato com ambientes úmidos por longos períodos de tempo (mesa de trabalho; chão); manuseio de instrumentos pérfuro-cortantes. Além disso, a pressão por produtividade exercida pelos funcionários responsáveis pela fiscalização da produção sobre os demais trabalhadores interfere na motivação, na atitude e no comportamento destes, podendo afetar até mesmo sua saúde mental8 (NELI, 2006; DELWING, 2007).
A necessidade de sobrevivência e o receio da perda do emprego acabam por obrigar
[...] o trabalhador a subordinar-se às exigências que, com o tempo, acarretam problemas de saúde com consequências drásticas para sua vida, não só no ambiente de trabalho, mas em todos os demais espaços e relações sociais que vivencia (CÊA, MUROFUSE, 2008, p. 430).
Os custos sociais desse momento de sociabilidade do capital – capaz de combinar flexibilidade e rigidez em prol de margens cada vez amplas de produtividade, como se observa no processo de trabalho em frigoríficos – são imensos. Antunes (2000, p. 33) que “[...] em meio a tanta destruição de forças produtivas, da natureza e do meio ambiente, há também, em escala mundial, uma ação destrutiva contra a força humana de trabalho [...]”.
7 “A temperatura ambiente no interior da indústria avícola varia de acordo com a etapa da produção, chegando a ultrapassar 20° graus Celsius negativos, em determinadas sessões” (NELI, 2006, p. 63). Na etapa da depenagem, os trabalhadores manuseiam aves imediatamente retiradas de tanques “[...] com água a temperatura média de 58 a 62° C, com borbulhamento e renovação contínua, sendo que as aves ficam submersas no tanque por um período médio de 58 segundos, com o objetivo de facilitar a depenagem” (DELWING, 2007, p. 58). 8 Os danos à saúde mental dos trabalhadores incluem depressão, baixa estima, isolamento, síndrome do pânico, etc., e muitas vezes esses danos decorrem de situações de assédio moral no trabalho. “Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o assédio moral no ambiente de trabalho é um comportamento irracional, repetido, em relação a um determinado empregado, ou a um grupo de empregados, criando um risco para a saúde e para a segurança. Pode-se entender por ‘comportamento’ as ações de um indivíduo ou um grupo. Um sistema de trabalho pode ser utilizado como meio para humilhar, debilitar ou ameaçar. O assédio costuma ser um mau uso ou abuso de autoridade, situação na qual as vítimas podem ter dificuldades para se defender” (FREIRE, 2008, p. 369).
51
Segundo Cavalcanti e Galvão (2007, p. 274, apud. RODRIGUES, ALVES, SILVA, 2008, p. 7-8), diversas são as consequências das relações de trabalho contemporâneas, marcadas pela acentuação desmedida da precarização do trabalho. Entre elas estão
[...] a intensificação do trabalho e o aumento do sofrimento subjetivo daqueles que permanecem trabalhando; a neutralização da mobilização coletiva contra o sofrimento, a dominação e a alienação do trabalho; estruturação de estratégias defensivas em que todos precisam resistir e “não podem fazer nada” pelo sofrimento alheio e, por fim, diante da ameaça de demissão, o individualismo, o “cada um por si”.
Componentes das formas de sociabilidade do capital que se tornam hegemônicas neste atual momento de configuração do processo de trabalho capitalista, tais características defrontam-se, entretanto, com uma contradição inerente a esse mesmo processo, conforme atesta Yves Clot (ENTREVISTA..., 2006, p. 103):
Certamente, a gestão tende a individualizar as questões e os sociólogos têm insistido muito nisso, mas o real do trabalho impõe, cada vez mais, um trabalho coletivo; para fazerem face ao real, os trabalhadores têm que fazê-lo juntos. No mundo do trabalho atual há uma gestão individualizante, mas há uma necessidade muito, muito forte do coletivo. [...] O coletivo é solicitado e, ao mesmo tempo, interditado e eu penso que é a causa profunda do sofrimento no nível profissional. [...] a organização do trabalho oficial tenta rechaçar o coletivo, mas esse coletivo é qualquer coisa que é demandada pelo real do trabalho. Assim, eu sou bastante crítico sobre certas descrições sociológicas do trabalho atual, que retêm uma única tendência.
De fato, o trabalhador coletivo combinado, identificado por Marx (1985, p. 269) como “[...] o mecanismo vivo da manufatura, compõe-se porém apenas de tais trabalhadores parciais unilaterais”. Nesse sentido, como reivindica Yves Clot (ENTREVISTA..., 2006, p. 103), “[...] a questão do coletivo merece ser aprofundada como uma tendência do lado do real do trabalho. [...] Isso quer dizer que o coletivo não é qualquer coisa que deve ser defendido, mas algo que deve ser reencontrado”.
Inferimos que esse “reencontro” passa pela capacidade dos trabalhadores, coletivamente, interferirem no processo de trabalho, buscando uma organização e um direcionamento das formas de produção
52
no sentido das capacidades e necessidades humanas, em contraposição às exigências e imposições resultantes do “fetichismo da mercadoria” (MARX, 1985). Nas formas de sociabilidade capitalista, entretanto, qualquer ação coletiva dos trabalhadores nesse sentido se torna objeto de interdição. Nessa direção segue também a análise de Antunes (2000, p. 48), ao referir-se às formas contemporâneas de sociabilidade do capital:
Opondo-se ao contra-poder que emergia das lutas sociais, o capital iniciou um processo de reorganização das suas formas de dominação societal, não só procurando reorganizar em termos capitalistas o processo produtivo, mas procurando gestar um projeto de recuperação da hegemonia nas mais diversas esferas da sociabilidade. Fez isso, por exemplo, no plano ideológico, através do culto de um subjetivismo e de um ideário fragmentador que faz apologia ao individualismo exacerbado contra as formas de solidariedade e de atuação coletiva e social [grifo do autor].
Para Yves Clot, esse aspecto da sociabilidade capitalista, tecida e produzida no confronto entre objetividade e subjetividade do trabalho, é o campo capaz de elucidar a origem e/ou causas da ocorrência de sofrimento no trabalho.
A saúde se degrada no ambiente de trabalho sempre que um coletivo profissional torna-se uma coleção de indivíduos expostos ao isolamento. A saúde se degrada, na verdade, quando deixa de haver a ação de civilização do real, a qual um coletivo profissional deve proceder a cada vez que o trabalho, por seus imprevistos, põe esse coletivo a descoberto. Dito de outra forma, a saúde se degrada quando a história do gênero profissional se encontra suspensa. Quando, para dizer ainda de outro modo, a produção coletiva das expectativas genéricas do ofício é posta em sofrimento. Cada um individualmente se encontra então confrontado às más surpresas de uma organização do trabalho que deixa “sem voz” face ao real (CLOT, 2002, p. 5).
Os aportes teóricos elaborados por Yves Clot obrigam-nos a avançar no trato das interfaces entre trabalho e saúde para além da conexão imediata entre tarefas desempenhadas na produção e ocorrência de acidentes e doenças do trabalho. Decerto que tal conexão é aquela que se apresenta de forma mais visível e todo estudo que colabore para o aprofundamento da questão tem validade. Entretanto, reconhecer a contradição básica entre capital e trabalho como origem das ocorrências
53
de agravos à saúde do trabalhador permite focar a análise em movimentos do real, protagonizados pelos trabalhadores, que se encaminham na direção do enfrentamento da raiz da problemática.
O real diz respeito à situação tomada como referência. Yves Clot cita o estado de precariedade social que se coloca de forma adversa para os trabalhadores, que lhes “escapa” e lhes “agride” como uma expressão do real, que não é a única. Também compõe o real “[...] o fracasso de uma organização do trabalho que os coloca em dificuldade e sobre a qual eles não podem agir [...], assim como “[...] o fracasso na exploração dos meios de afrontar a situação e a decepção por sua impossibilidade de se engajar em uma obra de tessitura comum e individual” [...]. E, dialeticamente, o real também pode ser representado por potencialidades e/ou circunstâncias em que “[...] a equipe pode provar coletivamente seu poder de agir no ambiente e sobre si mesma”. Esse caráter contraditório do trabalho, apreendido por Clot, é que o leva a afirmar que “[...] No trabalho, o real se apresenta frequentemente na figura de Janus9. Mas em todos os casos, o inatingido é essencial” (CLOT, 2002, p. 5).
Seguiremos a análise, orientados por essa compreensão, refletindo sobre os desafios postos para a organização dos trabalhadores no contexto atual, considerando, em especial, o tema da defesa da saúde nos processos de trabalho.
A URGÊNCIA HISTÓRICA DE NOVAS FORMAS DE SOCIABILIDADE
Refletindo sobre as condições adversas vivenciadas pelos trabalhadores a partir da investida do capital em seu mais recente momento de crise, Chauí (1997 apud. SILVEIRA, 2005, p. 9) questiona:
O que pode ser uma nova sociabilidade da classe trabalhadora, quando, em decorrência da forma atual do capital e da revolução tecnológica, ela perdeu todos os referenciais de identidade de
9 Na mitologia greco-romana, Janus era o deus dos portões e das transições, representado por duas faces. “Conta uma lenda que Janus um dia acolheu Crono, que agradeceu a gentileza concedendo a Janus o poder de ver o passado e o futuro. [...] Janus era adorado como o Senhor dos Inícios e protetor das Portas e Passagens. Na Antigüidade, muitas cidades tinham fortificações com portas que sempre precisavam de proteção. Janus era o protetor ideal, pois podia olhar para frente e para trás, para esquerda e para direita, interior e exterior... Janus era também o porteiro celestial. Sua face dupla podia olhar as entradas e as saídas e tinha uma tarefa especial, que era abrir as portas do ano que iniciava” (FIRMINO, 2007, p. 1).
54
classe (portanto, de sua subjetividade) e seus referenciais de espaço e tempo? [...] Que nova subjetividade coletiva pode ser criada numa sociedade que se assenta sobre o desemprego estrutural, mas continua valorizando moralmente o trabalho e por isso desmoraliza, humilha, degrada o desempregado, e que julga todo trabalhador um desempregado potencial e, como tal, descartável? Como poderá ser inventada uma nova subjetividade emancipadora e emancipatória, depois desse terrível refluxo simbolizado pela queda do Muro de Berlim que simbolizou não só o desocultamento final do totalitarismo, mas sobretudo a construção do verdadeiro muro, invisível e intangível, o da divisão social do trabalho entre uns poucos poderosos que dominam o planeta e a massa dos deserdados da terra, a massa planetária dos descartáveis, do lixo?
A reflexão nos exorta a considerar a complexidade e a gravidade de um momento histórico bastante adverso para a classe trabalhadora, no qual a investida do capital contra os interesses e necessidades do trabalho se ancora, entre outros, na suspeição e na desqualificação de alternativas societais emancipadoras; tais posturas são assumidas, inclusive, por parcelas da própria classe trabalhadora e de seus intelectuais orgânicos. Entendemos ser pertinente compreender tanto as posturas de adesão e consentimento ao ideário hegemônico quanto as posturas de envolvimento e resistência dos trabalhadores – conforme adverte Oliveira (2004, p. 204) – a partir da “[...] confluência histórica entre o desenvolvimento do capitalismo e a constituição de uma particular relação de classes [...]”.
Nesse sentido, as alterações operadas pelo capital nos processos produtivos não esgotam a compreensão dos efeitos que as mesmas provocam na composição, organização e atuação dos trabalhadores. É necessário compreender que
[...] não basta modificações no processo de trabalho com todas as suas técnicas para caracterizar o “toyotismo”, faz-se necessária uma série de contrapartidas sociais para dar coerência e sustentar o desenvolvimento do “toyotismo” (OLIVEIRA, 2004, p. 69).
Dentre as contrapartidas sociais que vêm merecendo especial dedicação da classe capitalista é a desestruturação do papel histórico desempenhado pelos sindicatos de trabalhadores. No caso específico da luta em defesa da saúde dos trabalhadores, a situação parece ganhar
55
contornos ainda mais complexos, visto que, tradicionalmente, as questões econômicas, cuja luta salarial é a mais expressiva, são aquelas que direcionam a ação sindical. Nesse sentido, Lacaz (1996, p. 411) destaca que, além do abalo do sentido histórico do movimento sindical “[...] nesse contexto sócio-econômico de flexibilização e informalização das relações capital-trabalho [...], deve-se considerar
[...] a séria deficiência estrutural que acompanha a trajetória do sindicalismo brasileiro, fomentada pelo conservadorismo da classe dirigente. Trata-se da quase impossibilidade de organização dos trabalhadores nos locais de trabalho, estratégia que se impõe em qualquer projeto que pretenda transformar condições e ambientes de trabalho. Esta é a tarefa fundamental que cabe o sindicalismo assumir, rompendo com uma timidez e acomodação que o acompanha mais recentemente desde a brecha aberta pela Constituinte. O não enfrentamento dessa questão pode colocar sob risco qualquer política sindical neste campo. Até propostas sedutoras muitas vezes apresentadas pela iniciativa do Estado, como a negociação coletiva, são inócuas se este crônico óbice não for superado com empenho.
Diante desse impasse histórico, Antunes (2005, p. 121) sugere a compreensão de que
O desafio maior do mundo do trabalho e dos movimentos sociais que têm como núcleo fundante a classe trabalhadora é criar e inventar novas formas de atuação autônomas capazes de articular intimamente as lutas sociais, eliminando a separação, introduzida pelo capital, entre ação econômica, de um lado (realizada pelos sindicatos), e ação político-parlamentar, do outro pólo (realizada pelos partidos). Essa divisão favorece o capital, fraturando e fragmentando ainda mais o movimento político dos trabalhadores.
A partir dessas reflexões é que julgamos pertinente destacar alguns processos coletivos envolvendo os trabalhadores de frigoríficos da região oeste do Paraná, na luta pelo direito à recuperação e preservação de sua saúde, luta essa que tem como horizonte o que por ora se mostra como inatingível, mas que de fato constitui o essencial dos confrontos e enfrentamentos protagonizados por essa parcela de trabalhadores.
56
DESAFIOS DA AÇÃO COLETIVA: EM BUSCA DE NOVAS FORMAS DE
SOCIABILIDADE
Com a intensificação do ritmo e intensidade de trabalho, combinada com formas de organização da produção orientadas para o máximo de produtividade, a incidência de acidentes e doenças do trabalho se agrava no Brasil ao longo da segunda metade do século XX. Nesse contexto, as lesões por esforços repetitivos (LER) passam a figurar entre os principais agravos à saúde dos trabalhadores10:
[...] entre as décadas de 60 e 70, os trabalhadores mais atingidos eram os de montadoras e grandes indústrias; na década de 70, as vítimas passaram a ser os digitadores, programadores e analistas de sistema; na década de 80, os maiores afetados foram os trabalhadores de bancos e atualmente vários outros profissionais também têm sido afetados [...] (MUROFUSE, 2001, p. 24).
Desde então, no Brasil, o tema da saúde do trabalhador passou a compor o rol de reivindicações de inúmeros sindicatos, mormente aqueles cujas categorias são acometidas, de forma mais incisiva, por agravos à saúde em função das condições de trabalho. Entretanto, esse tema permanece como “[...] uma verdadeira agenda política a ser assumida pelo movimento sindical [...]” (STOTZ, 2003, p. 32).
No oeste do Paraná, a ocorrência de agravos e a frágil atuação do sindicalismo frente à questão também se tornaram realidade. Em Cascavel, uma das principais cidades do oeste do estado, as dificuldades encontradas pelos lesionados junto aos sindicatos que lhes representavam obrigaram os trabalhadores a buscar outras formas de organização, como aconteceu em diversas localidades do país11. Foi assim que um grupo de trabalhadores vitimados pelo processo de trabalho criou a Associação de Portadores de Lesões por Esforços Repetitivos de Cascavel (AP-LER),
10 A ocorrência das LER no Brasil atinge o status de epidemia, chegando a responder “[...] por 70% das doenças relacionadas ao trabalho”, segundo matéria de O Globo, divulgada pela Unb (UNB CLIPPING, 2007). 11 Em várias localidades do país foram criadas entidades voltadas exclusivamente para atuação na luta em defesa da saúde dos trabalhadores. Entre as associações de portadores de lesões por esforços repetitivos podem ser citadas as de Presidente Prudente e Região, de Goiás e Tocantins, de Blumenau e região, de Porto Alegre, do Alto Uruguai Catarinense e de Curitiba. Além dessas, tem-se, entre outras, a Associação de Defesa da Saúde do Trabalhador (ADVT/APLER), no Paraná, e o Movimento em Defesa da Vida, Saúde e Segurança da Classe Trabalhadora Catarinense (MOVIDA), em Santa Catarina.
57
em 1997, tendo como principais finalidades a organização da luta coletiva pelos direitos dos trabalhadores lesionados e a intervenção na realidade para diminuir os casos de adoecimento em função da organização do trabalho (ESTATUTO..., 1997, p. 1)12.
Os anos de 1990 registraram grande incidência de casos junto a bancários e telefonistas, mas em pouco tempo a entidade passou a atender demandas de trabalhadores dos mais diversos setores13, incluindo categorias acometidas por outras doenças do trabalho, além das LER14.
Desde sua fundação, a AP-LER vem desenvolvendo uma série de ações e protagonizando disputas e enfrentamentos em diferentes âmbitos, podendo ser destacados os seguintes fatos e episódios, entre outros:
• Ações judiciais voltadas para revisão de laudos, perícias e seguros concedidos pelo INSS; para reintegração de trabalhadores demitidos indevidamente em função de adoecimento no trabalho; para concessão de aposentadorias e indenizações a trabalhadores tornados inválidos por doenças ocasionadas pelo processo de trabalho;
• Denúncias na Procuradoria Regional do Trabalho sobre condições indevidas de trabalho em diferentes empresas;
• Representação política em diferentes fóruns, como o Conselho Municipal de Saúde de Cascavel (CMS)15 e a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST/CMS);
12 As informações contidas a partir deste parágrafo foram sistematizadas com base em entrevista concedida às pesquisadoras por dois integrantes da diretoria da entidade, em dezembro de 2008, e em um histórico da AP-LER elaborado por Scalco e Cêa (2008). 13 Além dos já citados, outros trabalhadores de variados setores da economia buscam a entidade como, por exemplo, caixas que atuam no comércio, trabalhadores de supermercados (padeiros, fatiadores), atendentes de telemarketing, costureiras, secretárias, digitadores, auxiliares de serviços gerais, controladores de tráfego, etc. 14 Pode-se citar o caso dos trabalhadores da Companhia Cascavelense de Transporte e Tráfego (CCTT), responsáveis, entre outros, pelo registro e controle dos estacionamentos nas vias públicas. Além da ocorrência de doenças nos membros superiores, ocasionadas pela escrita sem apoio devido, foram diagnosticados casos diversos de doenças na pele, em função da exposição prolongada ao sol e ao vento, mesmo com a utilização obrigatória de protetores solares. 15 A atuação da AP-LER no Conselho Municipal de Saúde de Cascavel teve seu momento político mais significativo quando um dos membros da entidade foi eleito presidente do CMS, rompendo com a hegemonia dos gestores no cargo e inaugurando a prática da rotatividade dos segmentos ali representados (gestores, profissionais e usuários) na presidência.
58
• Ações junto à política estadual de saúde, com decisiva influência na estruturação e consolidação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Cascavel16, na criação do Conselho Gestor do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador – CEREST/Cascavel, na criação da CIST do Conselho Municipal de Saúde de Toledo, na criação do Comitê Macrorregional de Investigação de Óbitos e Amputações Relacionados ao Trabalho (oficializado pelo CEREST);
• Integração com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em diversas atividades envolvendo a entidade e pesquisadores das áreas de saúde e educação, como por exemplo: realização de seminários, palestras, projetos de pesquisa e extensão.17
A partir de 2003 a AP-LER passou a ser procurada por um número significativo de trabalhadores de frigoríficos da região, o que foi avaliado pelos membros da entidade como resultado de um processo de trabalho que, apesar de produzir trabalhadores doentes há muitos anos, passou a ocasionar um expressivo aumento no número de casos de acidentes e adoecimento em função da agressiva investida do setor no aumento da produtividade.
A demanda de trabalhadores de frigoríficos mostrava, segundo os membros da entidade, uma radicalidade ainda maior, se comparada à situação de outras categorias profissionais mais organizadas, como a dos bancários, por exemplo. Pelas características das relações de trabalho nos frigoríficos – marcadas, entre outros, pela contratação de mão-de-obra pouco qualificada, de baixa escolarização, pelos baixos salários e pela
16 O CEREST abrange as macrorregiões de Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, envolvendo 52 municípios das 3 Regionais de Saúde do Paraná. 17 O projeto de pesquisa que origina este texto é parte desse processo de interlocução entre a AP-LER e a Unioeste, que vem resultando em inúmeras produções acadêmicas desenvolvidas na forma de projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, artigos e capítulos. Parte do conhecimento produzido pode ser encontrado em Orso e Antunes (1998); Murofuse (2000; 2001); Orso et. al. (2001); Cêa e Matias (2006); Finkler (2007); Cêa e Murofuse (2008); Cêa e Zen (2008); Murofuse et. al. (2008); Scalco e Cêa (2008); Finkler e Cêa (2009); Cêa, Murofuse e Andrade (2009); Zen (2009). Deve-se destacar que a necessidade de conhecimento da realidade para a atuação da AP-LER foi uma meta estabelecida pela entidade desde sua fundação e as relações com pesquisadores da universidade foram se estreitando, de modo que demandas sociais de trabalhadores passaram a orientar muitas das atividades acadêmicas desenvolvidas.
59
frágil rede de proteção social –, era alarmante o nível de desinformação dos trabalhadores acerca de seus direitos e dos procedimentos básicos a serem tomados no caso da ocorrência de acidentes e doenças do trabalho. Em síntese, o contato da AP-LER com a realidade os trabalhadores de frigoríficos revelou a situação de abandono experimentada por eles no encaminhamento de questões relacionadas à saúde/doença: negativa dos postos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em reconhecer os nexos entre o acidente/doença e o processo de trabalho; inexistência de cobertura de planos de saúde; dificuldades de dar continuidade aos tratamentos necessários em função da morosidade das agências públicas de saúde ligadas ao SUS (Sistema Único de Saúde); demissões por justa causa a trabalhadores que apresentavam atestados médicos18, etc.
Junto aos trabalhadores de frigoríficos, além das ações anteriormente citadas desenvolvidas pela entidade, a AP-LER vem protagonizando uma situação que têm como foco a intervenção direta no processo de trabalho e que, por este motivo, vem custando à entidade os maiores enfrentamentos com as empresas e com um sindicato de trabalhadores da área de alimentação, identificado como “pelego”19 pela atuação conivente que assume perante as empresas.
A AP-LER realizou inúmeras reuniões com trabalhadores de frigoríficos e em todas elas a necessidade de intervenção no processo de trabalho aparecia como a medida mais incisiva para que se buscasse evitar a continuidade da incidência de agravos à saúde dos trabalhadores. O percurso definido foi o encaminhamento de denúncias das condições
18 Numa das entrevistas realizadas com a responsável pelo setor de recursos humanos de uma empresa, indagou-se sobre que motivos/razões que podem levar à dispensa de um colaborador. A resposta foi a seguinte: “Quando ele demonstra que não quer trabalhar, quando diminui sua produção, quando começa a trazer muitos atestados e faltar no trabalho. A empresa possui um sistema de advertências, quando o trabalhador é advertido varias vezes é demitido por justa causa. Tem muitos trabalhadores que começam a trabalhar pouco, trazer atestado e faltar para ser mandado embora. Mas a empresa não faz isso de imediato, ela dá advertências para o trabalhador até que ele seja demitido por justa causa”. Depoimentos de diversos trabalhadores confirmam que essa é uma prática comum às empresas do setor frigorífico na região. 19 No movimento sindical, assim costumam ser identificados os sindicatos de trabalhadores que assumem uma atitude conciliatória frente à entidade patronal. Ao tratar do peleguismo, Boito (1996, p. 82) caracteriza-o da seguinte maneira: “Fruto da estrutura sindical corporativa de Estado, esse campo é composto pelos dirigentes sindicais cuja prática é essencialmente governista. São politicamente conservadores, combatem as correntes reformistas mais avançadas e as correntes revolucionárias, e, no plano da ação reivindicativa, distribuem-se num espectro que vai da passividade completa, ponto no qual se situa a maioria dos pelegos, à ação reivindicativa moderada e localizada”.
60
de trabalho em frigoríficos à Procuradoria Regional do Trabalho (em 2005 e 2006), que abriu processos investigatórios. Como decorrência, o Ministério Público do Trabalho firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)20, obrigando a empresa a implementar inúmeras medidas nas plantas industriais de 5 de suas filiais localizadas na região, visando eliminar os riscos à saúde dos trabalhadores. Entre as medidas que mais afetam a organização e a gestão do trabalho e que constam das cláusulas do TAC, podem ser destacadas: realização de melhorias para as situações de riscos ergonômicos; pleno funcionamento do comitê de ergonomia na empresa, com garantia de participação permanente dos trabalhadores no processo; instituição de pausas regulares e rodízios nas atividades onde houver exigência postural, repetitividade, sobrecarga muscular estática e/ou dinâmica, objetivando a recuperação física e mental dos trabalhadores; garantia de iluminação adequada, apropriada à natureza da tarefa; implementação de assentos adequados nos postos de trabalho que proporcionem aos trabalhadores condições de boa postura, visualização e operação; garantia aos empregados, a qualquer momento da jornada de trabalho, da saída do posto de trabalho para que satisfaçam suas necessidades fisiológicas (ir ao banheiro); promoção do diagnóstico, de forma precoce, das doenças e dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, afastando o empregado do trabalho sobre o qual haja suspeita de estar acometido de doenças ocupacionais, custeando integralmente o respectivo tratamento (MPT, 2008).
Os prazos para cumprimento das determinações do TAC variam de 90 dias a 12 meses, dependendo das medidas a serem tomadas. O descumprimento ou atraso das ações e prazos fixados nas cláusulas pode incidir em multa fixada entre 5 mil reais e 50 mil reais, multa essa que pode ser diária ou multiplicada pela quantidade de casos de descumprimento notificados.
20 “O Termo de Ajustamento de Conduta é um ato jurídico administrativo bilateral em relação à vontade das partes e unilateral em relação à onerosidade das obrigações nele assumidas; simples ou complexo, dependendo se a eficácia está condicionada ou não à homologação do Conselho Superior do Ministério Público, visando à resolução de violação de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. [...] O Termo de Ajustamento de Conduta, cuja iniciativa pode partir do órgão legitimado para a ação civil pública ou do próprio interessado, tem por objeto negociar as condições de tempo, modo e lugar para adequação da conduta do interessado às exigências legais, bem como definir as cominações aplicáveis ao compromissado no caso de não cumprimento do pactuado. O termo de ajustamento de conduta pode regular uma conduta passada, presente ou futura” (SILVA, 2000, p. 14).
61
Após um ano de vigência do TAC, frente à negligência da empresa as determinações ali contidas, a AP-LER protocolou nova denúncia na Procuradoria Regional do Trabalho, que solicitou ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) uma rigorosa fiscalização, ocorrida em setembro de 2009.
Pelo conteúdo das medidas postas no TAC, é possível identificar alguns dos crônicos problemas ainda vivenciados pelos trabalhadores de frigoríficos, que abrangem desde a proibição de idas ao banheiro para a satisfação de necessidades fisiológicas, até o cumprimento de extenuantes jornadas de trabalho, passando pelas condições ergonômicas e ambientais dos postos de trabalho21. A reversão dessas situações pressupõe a alteração da dinâmica operacional e de gestão do processo de trabalho e é isso que a empresa vem se recusando a fazer.
Segundo a AP-LER, após a força-tarefa do MTE para fiscalizar o cumprimento do TAC por parte da empresa, a mesma
Agora está garantindo aos seus empregados o custeio integral de todo o tratamento, incluindo consultas, exames, remédios, terapias e cirurgias. Nada mais justo, uma vez que tais doenças são oriundas do processo de trabalho adotado pela empresa.
Falta ainda a adoção de mudanças na organização e no ambiente de trabalho para proteger a saúde dos trabalhadores (AP-LER, 2010, p. 1).
Ao longo dos últimos anos, entre o encaminhamento das denúncias e a celebração do TAC, os trabalhadores organizados em torna da AP-LER passaram a ter que enfrentar outra instituição, além da empresa: o sindicato que formalmente representa os trabalhadores das empresas de alimentação da região. Segundo relato de membros da AP-LER em entrevista às pesquisadoras, a situação tem se tornado cada vez mais tensa, envolvendo ameaças, difamações e provocações de diferentes ordens: “Eles consideram a gente [da AP-LER] inimigo, eles difamam a gente, eles falam mal da gente, eles desmentem os nossos achados, as nossas pesquisas, os dados que a gente divulga, eles nos consideram inimigos mesmo”.
21 Ressalta-se que a maioria das determinações contidas no referido TAC estão respaldadas em normas regulamentadoras definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que são, via de regra, sumariamente desconsideradas pelas empresas.
62
A situação ora experimentada pela AP-LER com a entidade sindical que representa (ou deveria representar) os interesses dos trabalhadores das empresas frigoríficas difere da relação que vem sendo estabelecida ao longo do tempo com sindicatos de outras categorias cujos trabalhadores se filiam, participam e encaminham demandas à AP-LER. Com alguns sindicatos, a “[...] relação [é] mais ou menos pacífica, é de reciprocidade, quer dizer, os associados dessas entidades são atendidos pela AP-LER indicados por essas entidades [...] quando eles entendem que precisam de ajuda pra essas pessoas [...] muitas vezes eles [os sindicatos] até fazem contribuição financeira pra gente, dão uma ajuda eventualmente pra gente [...] [São] sindicatos que a gente não tem uma atuação forte, que a gente não está atuando assim diretamente na categoria profissional deles, que em tese não é essa intromissão que [a AP-LER quer], eles nos ignoram, nos ‘engolem’, na verdade, mas esse aí [dos trabalhadores de frigoríficos] nos trata como inimigos”.
As ações da AP-LER, ao longo de sua existência, contabilizam muitos êxitos políticos e sociais. Mas alguns impasses permanecem: para aqueles trabalhadores que alcançam sucesso nas medidas jurídicas encaminhadas coletivamente, é necessário, na maioria dos casos, a aprendizagem da convivência com a irreversibilidade dos agravos sofridos no trabalho; para os trabalhadores que participam organicamente da AP-LER, as inúmeras conquistas revelam, ao mesmo tempo, a potencialidade da ação coletiva numa perspectiva classista e a força da interdição do capital sobre essa coletividade.
Mas o capital que interdita não se resume às empresas localizadas na região; trata-se do setor da economia que é líder mundial em exportações de frangos, que disputa ombro a ombro com os Estados Unidos a ponta do mercado mundial da avicultura, que conta com o fundo público – gerenciado pelo Estado – para o financiamento de seus incrementos logísticos e tecnológicos e que tem todo apoio governamental para aprimorar cada vez mais os padrões de bem estar animal no país e os métodos humanitários no tratos das aves em plantas frigoríficas. A luta dos trabalhadores dos frigoríficos da região oeste do Paraná que resistem à “desumana sociabilidade” que lhes é imposta poderia ter uma epígrafe bem ao gosto do gênio Chaplin: “Não sois aves; homens é o que sois”.
63
POR UMA APOSTA NA POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE NOVAS
SOCIABILIDADES
Na discussão sobre uma concepção materialista de história, Marx e Engels (1984, p. 39-40) argumentam que:
[...] somos forçados a começar constatando que o primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história, é que os homens devem estar em condições de viver para poder “fazer história”. Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios que permitam a satisfação destas necessidades, a produção da própria vida material, e de fato este é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, como há milhares de anos, deve ser cumprido todos os dias e todas as horas, simplesmente para manter os homens vivos. [...] A primeira coisa, portanto, em qualquer concepção de história, é observar este fato fundamental em toda sua significação e em toda a sua extensão e render-lhe toda a justiça.
A atualização das formas de sociabilidade do capital na direção de relações sociais cada vez mais competitivas torna os clássicos do marxismo ainda mais compreensíveis: a manutenção do ou a ruptura com o estabelecido historicamente não tem como prescindir do fato de que, em ambos os casos, os homens precisam estar vivos. Isso ganha ainda mais significado num contexto em que a saúde da força de trabalho é um dos insumos mais consumidos pelo processo de trabalho.
O percurso da análise empreendida neste texto buscou refletir sobre os impasses e possibilidades da atuação coletiva dos trabalhadores na luta por formas de sociabilidade que lhes permitam “estar em condições de viver para poder fazer história”. E buscou-se fazer isso destacando elementos que denotam o caráter contraditório das relações sociais capitalistas, mostrando como a exacerbação e o aprimoramento das condições de exploração e extenuação da força de trabalho podem abrir espaços para a construção de formas de sociabilidade marcadas pelo enfrentamento ao caráter atomizado e individualizado da sociabilidade capitalista.
Ao apresentar e destacar ações e episódios protagonizados coletivamente por trabalhadores de frigoríficos da região oeste do Paraná
64
frente às condições adversas de trabalho, este texto não teve nem a pretensão nem a ingenuidade de compreender tais situações como modelos ou paradigmas de ação que rompem com a realidade posta; teve, sim, a intencionalidade de ressaltar que as formas de sociabilidade do capital, embora hegemônicas, não se impõem de forma absoluta, como se os homens fossem aves dependuradas nas nórias22, seguindo inertes para o abate.
REFERÊNCIAS:
1. AMORIM, G. Perspectivas da avicultura brasileira e paranaense. Análise Conjuntural – IPARDES. Paraná, v. 30, n. 11-12, p. 12-14, nov./dez. 2008.
2. ANTUNES, R. O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2005.
3. ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2000.
4. AP-LER. Informativo AP-LER, v. 12, n. 12, fev. 2010, p. 1-2, mimeo.
5. BOITO JR. A. Hegemonia neoliberal e sindicalismo no Brasil. Crítica marxista – CEMARX. Campinas, n. 3, p. 80-105, 1996.
6. BRANT, L. C.; MINAYO-GOMEZ, C. Manifestação do sofrimento e resistência ao adoecimento na gestão do trabalho. Saúde e Sociedade. São Paulo, v.18, n.2, p. 237-247, 2009.
7. BRASIL em vantagem. Informe UBA, v. 1, n. 6, 22 jan. 2009. Disponível em: <http://www.uba.org.br/site3/informe/informe_uba_ ano_i_n_6_22_01_2009.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2009.
8. CÊA, G. S. S.; MATIAS, L. V. Quando trabalhar é uma fria: um estudo sobre as relações de trabalho em empresas frigoríficas da região oeste do Paraná. SEMINÁRIO DO TRABALHO, 5, 2006, Marília. Anais-Resumos. Marília: UNESP, 2006, p. 10-11.
9. CÊA, G. S. S.; MUROFUSE, N. T. Associação dos Portadores de LER (AP-LER) na luta pelos direitos dos trabalhadores de
22 “Correia transportadora onde os frangos são pendurados pelos pés” (NELI, 2006, p. 35).
65
frigoríficos do oeste do Paraná. In: TUMOLO, P. S.; BATISTA, R. L. Trabalho, economia e educação: perspectivas do capitalismo global. Maringá: Práxis, 2008, p. 421-436.
10. CÊA, G. S. S.; MUROFUSE, N. T.; ANDRADE, L. A. S. Processo de recrutamento, seleção e admissão dos trabalhadores em frigoríficos da região oeste do Paraná. In: SEMINÁRIO NACIONAL ESTADO E POLÍTICAS SOCIAIS, 4, 2009, Cascavel. Anais. Cascavel: Unioeste, 2009, p. 1-16.
11. CÊA, G. S. S.; ZEN, R. T. A parceria nas relações de trabalho: problemas e contradições. In: SEMINÁRIO DO TRABALHO, 6, Marília. Anais. Marília, mai. 2008, p. 1-14.
12. CLOT, Y. Clínica da Atividade e Repetição [Publicado em Cliniques Méditerranéennes, n. 66, 2002]. PQV-UNIFESP, p. 1-5. Disponível em: <http://www.pqv.unifesp.br/ClinicadaAtividadee RepeticaoYvesClot.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2009.
13. CLOT, Y. Clínica do trabalho, clínica do real [Publicado no Le
journal dês psychologues, n. 185, mar. 2001]. Trad. Kátia Santorum e Suyanna Linhales Barker. PQV-UNIFESP, p. 1-9. Disponível em: <http://www.pqv.unifesp.br/clotClindotrab-tradkslb.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2009.
14. COSTA, I. S. A. Teletrabalho: subjugação e construção de subjetividades. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 41, n. 1, p.105-24, jan./fev. 2007.
15. DELWING, E. B. Análise das condições de trabalho de uma empresa do setor frigorífico a partir de um enfoque macroergonômico. 2007. 131f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
16. DONDA JÚNIOR, A. Fatores influentes no processo de escolha da localização agroindustrial no Paraná: estudo de caso de uma agroindústria de aves. 2002. 141 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
66
17. ENTREVISTA: Yves Clot. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho. São Paulo, v. 9, n. 2, p. 99-107, 2006.
18. ESPÍNDOLA, C. J. Tecnologia e novas relações de trabalho nas agroindústrias de carne do Sul do Brasil. In: Scripta Nova. Barcelona, v. 6, n. 119, p. 1-7, ago. 2002. Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-85.htm>. Acessado em: 25 abr. 2007.
19. ESTATUTO da Associação de Portadores de Lesões por Esforços Repetitivos de Cascavel. AP-LER, Cascavel, 1997. mimeo.
20. FINKLER, A. L. A relação entre os problemas de saúde dos trabalhadores e processo de trabalho em frigoríficos. 2007. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Orientadora: Neide Tiemi Murofuse.
21. FINKLER, A. L.; CÊA, G. S. S. Atuação dos trabalhadores nos frigoríficos da região oeste do Paraná: as qualificações requeridas. Revista da RET, v. 3, n. 5, 2009, p. 1-13. Disponível em: <http://www.estudosdotrabalho.org/10revistaRET5.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2010.
22. FIRMINO, S. O senhor dos inícios. Portal de literatura e cultura. Coluna Mito em contexto, n. 17, 2007. Disponível em: <http://www.blocosonline.com.br/literatura/prosa/colunistas/sfirmino/sf0017.php>. Acesso em: 12 dez. 2009.
23. FRANCA, G. C. O trabalho no espaço da fábrica: um estudo da General Motors em São José dos Campos – SP. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
24. FREIRE, P. A. Assédio moral e saúde mental do trabalhador. Trabalho, educação e saúde. Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 367-380, jul. out. 2008.
25. GASPARINI, S. M.; BARRETO, S. M.; ASSUNÇÃO A. A. O professor, as condições de trabalho e os efeitos sobre sua saúde. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 31, n. 2, p. 189-199, mai./ago. 2005.
67
26. GRISCI, C. L.; BESSI, V. G. Modos de trabalhar e de ser na reestruturação bancária. Sociologias. Porto Alegre, v. 6, n. 12, p. 160-200, jul./dez. 2004.
27. IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Os vários Paranás: estudos socioeconômico-institucionais como subsídios aos planos de desenvolvimento regional. Curitiba: IPARDES, 2005.
28. IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Arranjos produtivos locais e o novo padrão de especialização regional da indústria paranaense na década de 90. Curitiba: IPARDES, 2003.
29. LACAZ, F. A. C. Saúde do trabalhador: um estudo sobre as formações discursivas da academia, dos serviços e do movimento sindical. 1996. 432 f. Tese (Doutorado em Ciências Médicas). Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
30. LESSA, S. Mundo dos homens: trabalho e ser social. São Paulo: Boitempo, 2002.
31. LUKÁCS, G. O trabalho. Ontologia do ser social. 1981. Tradução: Ivo Tonet, mimeo.
32. MARCELINO, P. R. P. A logística da precarização: terceirização do trabalho na Honda do Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2004.
33. MARX, K. O capital: crítica da economia política. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
34. MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec, 1984.
35. MÉSZÁROS, I. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2002.
36. MPT. Ministério Público do Trabalho. Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região. Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Aditivo nº 6/2008. Toledo, fev. 2008, p. 1-5.
37. MUROFUSE, N. T. Mudanças no trabalho e na vida de bancários ocasionadas por Lesões por Esforço Repetitivo-L.E.R. Ribeirão
68
Preto, 2000. 204f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
38. MUROFUSE, N. T. Mudanças no trabalho e na vida de bancários portadores de lesões por esforços repetitivos: LER. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 9, n. 4, jul. 2001, p. 19-25.
39. MUROFUSE, N. T [et al.] (org.) Cartilha sobre saúde do trabalhador: fique de olho para não entrar numa fria. Cascavel: EDUNIOESTE, 2008.
40. MUROFUSE, N. T. O adoecimento dos trabalhadores de enfermagem da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais: reflexo das mudanças no mundo do trabalho. Ribeirão Preto, 2004. 298f. Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
41. NAVARRO, V. L. Trabalho e trabalhadores do calçado. São Paulo: Expressão Popular, 2006.
42. NELI, M. A. Reestruturação produtiva e saúde do trabalhador: um estudo com os trabalhadores de uma indústria avícola. Ribeirão Preto, 2006. 100f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
43. NOGUEIRA, C. M. O trabalho duplicado: a divisão sexual no trabalho e na reprodução – Um estudo dos trabalhadores do telemarketing. São Paulo: Expressão Popular, 2004.
44. OLIVEIRA, E. Toyotismo no Brasil: desencantamento da fábrica, envolvimento e resistência. São Paulo: Expressão Popular, 2004.
45. ORSO, P. J. et. al. Reflexões acerca das lesões por esforços repetitivos e a organização do trabalho. Rev. online Bibl. Prof. Joel Martins, Campinas, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 47-58, fev. 2001. Disponível em: <www.fae.unicamp.br/etd/include/getdoc.php?id= 984...340...>. Acesso em: 2 fev. 2005.
46. ORSO, P. J.; ANTUNES, J. (org.). Seminário sobre L.E.R. 1998. Cascavel. Anais. Cascavel: Edunioeste, 1998.
69
47. POZZOBON, D. M. Explorando soluções internacionais: o caso dos frigoríficos brasileiros. In: ENCONTRO DA ANPAD, 32, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro, 2008, p. 1-16.
48. RAMOS, P. (org.). Dimensões do agronegócio brasileiro: políticas, instituições e perspectivas. Brasília: MDA, 2007.
49. RODRIGUES P.; ALVES G.; SILVA; N. R. Trabalho e subjetividade: um estudo de caso sobre a saúde de trabalhadores da linha de produção da indústria farmacêutica. In: SEMINÁRIO DO TRABALHO, 6, 2008, Marília. Anais. Marília: UNESP, 2008, p. 1-14.
50. SAMORA, R. Expansão de frigoríficos no Brasil é abatida na crise. G1 – Portal de Notícias da Globo, 21 jan. 2009. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/ 0,,MUL966374-9356,00.html>. Acesso em: 15 nov. 2009.
51. SCALCO, D. C.; CÊA, G. S. S. A luta pela saúde do trabalhador: um histórico da Associação de Portadores de Lesões por Esforços Repetitivos (AP-LER). Relatório final de pesquisa de iniciação científica apresentado ao comitê PIBIC/CNPq/UNIOESTE, 2008. Orientadora: Georgia Sobreira dos Santos Cêa.
52. SELIGMANN-SILVA, E. Saúde mental e automação: a propósito de um estudo de caso no setor ferroviário. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 95-109, 1997.
53. SGUISSARDI, V.; SILVA JÚNIOR, J. R. O trabalho intensificado nas federais: Pós-graduação e produtivismo acadêmico. São Paulo: Xamã, 2009.
54. SILVA JR, J. R.; GONZÁLEZ, J. L. C. Formação e trabalho: uma abordagem ontológica da sociabilidade. São Paulo: Xamã, 2001.
55. SILVA, E. B. Inquérito civil trabalhista. Termo de ajuste de conduta. Execução do termo de ajuste de conduta na Justiça do Trabalho. Revista do Ministério Público do Trabalho. Brasília, v. 10, n. 20, p. 10-20, set. 2000. Disponível em: <http://www.anpt.org.br/ site/download/revista-mpt-20.pdf >. Acesso em: 5 jan. 2010.
56. SILVEIRA, M. L. S. Algumas notas sobre a temática da subjetividade no âmbito do marxismo. Assistentesocial.com.br – O
70
portal do Serviço Social. Caderno especial, n. 24, p. 1-14, out. 2005. Disponível em: <http://www.assistentesocial.com.br/novosite/ cadernos/cadespecial24.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2008.
57. STOTZ, E. N. Trabalhadores, direito à saúde e ordem social no Brasil. In: São Paulo em Perspectiva, v. 17, n. 1, p. 25-33, 2003.
58. UNB CLIPPING. Mal silencioso. Disponível em: <http://www.unb.br/acs/unbcliping2/2007/ind070223.htm>. Acesso em: 23 fev. 2007.
59. VASCONCELLOS, M. C.; PIGNATTI, M. G.; PIGNATI, W. A. Emprego e acidentes de trabalho na indústria frigorífica em áreas de expansão do agronegócio, Mato Grosso, Brasil. Saúde e Sociedade. São Paulo, v.18, n. 4, p. 662-672, 2009.
60. ZEN, R. T. O processo de trabalho dos avicultores parceiros da Sadia S.A.: controles, mediações e autonomia. 2009. 124f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel.
71
TRABALHO, INFORMAÇÃO E VALOR: o processo de infoespoliação
Arakin Queiroz Monteiro*
INTRODUÇÃO: O QUE É INFOESPOLIAÇÃO?
O modo de produção capitalista é essencialmente espoliativo. Historicamente, sua esfera de exploração não se limita ao consumo produtivo da força de trabalho. Há um fazer social geral que de múltiplas formas é apropriado pela lógica de acumulação. Marx já havia apontado a centralidade da acumulação primitiva (ou original) na constituição histórica do capitalismo e no seu desenvolvimento ulterior. No capitalismo contemporâneo, a capacidade de mercantilizar informações resultantes da interatividade da internet tem se tornado um elemento central na determinação de seu desenvolvimento tecnológico e de sua dinâmica peculiar de acumulação. A infoespoliação pode ser pensada como o processo de apropriação, manipulação, armazenamento e mercantilização do substrato informacional/interativo utilizado nos processos produtivos das empresas de comunicação, sobretudo para aquelas que atuam no âmbito da internet comercial.
Diferente do ocorrido com o advento do rádio ou da televisão, nos quais tínhamos um único emissor ativo para diversos receptores passivos, na rede, o usuário final é obrigado a interagir ativamente com os mecanismos de comunicação. A interatividade da rede não é apenas uma conseqüência contingente de seu desenvolvimento tecnológico, mas um de seus fundamentos técnico-materiais. Subordinada à lógica de acumulação capitalista, foi precisamente o desenvolvimento desta potencialidade de comunicação descentralizada em rede, um dos vetores que historicamente direcionaram os processos de produção e inovação tecnológica das empresas de internet, estabelecendo novos usos para a tecnologia disponível, além de novas modalidades de acumulação de capital.
* Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (UNESP/Marília). E-mail: [email protected]
72
A comercialização de mercadorias na rede (sejam elas tangíveis ou intangíveis) exigiria dos usuários-consumidores-comunicadores uma ação pró-ativa no processo produtivo, ao buscar mercadorias, conteúdos e serviços por meio de subjetivações interativas. Esta ativação individualizada do consumo, apropriada pela lógica de acumulação de capital (em sua fase de crise estrutural), forneceu uma ferramenta de grande potencial para o marketing, pois as empresas passaram a obter uma vantagem nunca antes experimentada de capturar e reter informações sobre seus clientes, seus comportamentos, desejos e necessidades. E de forma relativamente simples: cada manipulação na rede deixa uma marca pelo usuário que acaba por desenhar um auto-retrato em termos de centros de interesses (culturais, ideológicos, simbólicos, de consumo, etc.), cujas informações são utilizadas para vender (ou simplesmente atrair) novos consumidores, sabendo, entretanto, o que eles gostariam de ler, assistir, ouvir, consumir, etc.
Com a migração das grandes corporações de comércio, mídia e entretenimento para a internet, ela acabou transformando-se em mais um veículo da indústria cultural e da mercantilização da sociabilidade, na medida em que pode beneficiar-se do mapeamento do perfil e hábitos dos usuários, exprimindo o lugar assumido pela concorrência oligopolista e pela diferenciação de produtos, notadamente no mercado de bens de consumo final.
Após a queda da Nasdaq em março de 2000 - no bojo de uma profunda reestruturação produtiva - tornou-se necessário repensar os modelos de financiamento dos empreendimentos23. Foi neste contexto, de crise e reestruturação, que a internet comercial parece ter encontrado no “capital publicitário” a alternativa adequada para dar escoadouros
23 Se analisarmos a constituição histórica da Internet comercial, veremos que no ano de 1999 houve uma intensificação nos investimentos voltados às empresas do ramo tecnológico-informacional, impulsionado por um excesso de liquidez no setor financeiro especulativo americano, inflando um mercado de alto risco e de elevadas margens de lucro. A Nasdaq, bolsa de ações das empresas americanas voltadas para segmento de negócio on-line, recebeu grande fluxo de capital, sobre-valorizando empresas de infra-estrutura a exemplo da Cisco Sistems, IBM, Informix, Oracle, Microsoft, Sun Microsystems. Os investimentos foram voltados ao desenvolvimento de produtos de hardware, software, propagandas, telefonia celular, armazéns, empresas de logística etc. Nada mais conveniente para o setor financeiro que criou estruturas de investimento para esse capital e capitalizou um segmento da economia extremamente carente de recursos e, certamente, com grande potencial de crescimento. Neste contexto, a economia americana atraiu um enorme volume de investimentos para esse setor, refletindo e influenciando as economias do Brasil, da Europa e da Ásia.
73
lucrativos aos excedentes de capital investidos no setor (BOLAÑO, 2007; BRENNER, 2003). A partir daí, os processos de controle e manipulação do fluxo da rede ganhariam enorme empuxo, sobretudo com o desenvolvimento dos mecanismos de buscas (Google, Yahoo, Cadê, MSN, Alta Vista, etc). A infoespoliação surge, portanto, como a forma contraditória de dominação e controle sobre a reprodução social, ao transformar a própria interatividade da rede em um ativo capaz de dar-lhe sustentação e lucratividade, ou seja, transformando-a em mais uma força produtiva do capital.
Como instrumento de controle a serviço da reprodução econômica, a internet comercial vem gradativamente assumindo a função de informar (em tempo real) sobre as mudanças dos hábitos de consumo, assumindo, em grande medida, aquele papel que era anteriormente cumprido por institutos de pesquisa, representantes comerciais ou os próprios sistemas de informação das empresas situadas no âmbito da circulação. Mais que isto, observamos em sentido inverso a colonização do ciberespaço por estes atores, em busca de vantagens competitivas proporcionadas pelo caráter interativo das TIC.
Este caráter eminentemente interativo e descentralizado da rede24, por sua vez, colocaria novas determinações que iriam incidir diretamente nos processos produtivos (processo de trabalho e valorização), no consumo e, conseqüentemente, em seu modo de acumulação. Para compreender a complexidade destas transformações cumpre observar três aspectos: a) o primeiro diz respeito às contradições imanentes à forma mercadoria-informação; b) o segundo está ligado à re-configuração do fator subjetivo na subsunção do trabalho ao capital, em decorrência do desenvolvimento e aplicação da informática e da telemática nos processos produtivos; e por fim; c) o terceiro aspecto a ser observado está diretamente ligado aos processos de infoespoliação na imbricação entre produção e consumo, constituindo formas peculiares de acumulação que se estabelecem fora de uma relação direta entre capital e trabalho.
24 Muitas vezes, empresas como estas atuam exclusivamente no ciberespaço, trabalhando em redes desterritorializadas com alcance global, intermediando ou interagindo com relações humanas. Do ponto de vista técnico, a “organização virtual” é aquela capaz de transmitir e receber informações entre locais distantes, tornando dispensável, para qualquer finalidade, a presença física dos clientes e trabalhadores. Ou seja, trata-se daquele tipo de empresa que “não precisa estar em lugar algum”, mas “está em todos os lugares”.
74
Apontar caminhos preliminares para discutir estas questões e suas articulações é, precisamente, o objetivo deste ensaio.
NOTAS SOBRE A MERCADORIA-INFORMAÇÃO A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas nascem no estômago ou na fantasia, não altera nada na coisa. Aqui também não se trata de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se imediatamente como meio de subsistência, isto é, objeto de consumo, ou se indiretamente como meio de produção (MARX, 1988, p.45 – grifos meus).
A partir das últimas três décadas do século XX, a produção de informações ganha enorme relevância. A emergência de um novo paradigma tecnológico organizado em torno das novas tecnologias da informação (TIC), mais flexíveis e poderosas, possibilitaria que a informação se tornasse um insumo necessário aos processos produtivos.
O próprio desenvolvimento da informática e da telemática poderia ser entendido como parte dos investimentos necessários ao processo histórico de mundialização do capital, na medida em que a integração internacional dos mercados financeiros, como resultado da liberalização e desregulamentação, levou à abertura dos mercados nacionais e permitiu sua interligação em tempo real. A teleinformática proporcionou às grandes empresas e aos bancos o acesso a instrumentos qualitativa e quantitativamente mais eficientes e poderosos para controlarem e expandirem seus ativos em escala internacional, reforçando o âmbito mundial de suas operações.
É no âmbito da mercantilização da informação que os processos de infoespoliação se intensificam. A mercadoria-informação, enquanto resultado de um processo produtivo específico, configura a esfera mais imediata e fenomênica deste movimento. Ela é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz um conjunto de necessidades, seja diretamente como um bem de consumo, ou indiretamente como um meio de produção. Como qualquer outra mercadoria, ela traz um duplo caráter: possui valor de uso (meio) e valor de troca (finalidade). Como o valor de troca não abole o valor de uso da forma mercadoria – mas o subsume de forma contraditória - a
75
mercadoria-informação traz particularidades que determinam aspectos concretos nos diversificados processos produtivos em que é produzida e utilizada.
Um dos seus aspectos mais importantes diz respeito a sua constituição material. Digo material porque apesar de se tratar de algo intangível, a informação encontra-se em última instância determinada e constrangida pelo aparato tecnológico informacional que lhe dá suporte. É preciso evitar a falsa dicotomia entre material e imaterial dos quais resultam diversos equívocos, fetiches e distorções teóricas, a exemplo daqueles orquestrados pela escola cognitivista
25. Esta falsa dicotomia tende remeter tudo aquilo que é intangível para o âmbito do “imaterial”, reduzindo o conceito de materialidade a atributos de volume e densidade. Como toda práxis social, a informação só pode ser compreendida em profundidade se considerado seu caráter material elementar, como produto e resultado da dialética do trabalho.
Esta flexibilidade do material informacional, por sua vez, traz uma outra característica fundamental: a de que o seu valor de uso não se esgota no ato de seu consumo, tendendo, pelo contrário, a alargar sua utilidade na medida em que, apesar de exigir um determinado quantum de trabalho para sua produção, sua reprodução torna-se simples e potencialmente ilimitada, colocando um novo paradoxo para a lógica de valorização no âmbito da produção capitalista de informações.
Estas determinações materiais subvertem uma “economia da escassez” tal como historicamente ela tem se efetivado na dinâmica de acumulação. Sua valorização viria a depender de barreiras artificiais: instrumentos técnicos, jurídicos e burocráticos que determinariam, neste caso, a estrutura concreta do mercado, em meio a um complexo processo de construção simultânea da hegemonia nas esferas política e econômica. Esses direitos são as formas jurídicas encontradas para manter a acumualção por meio do monopólio sobre o conhecimento e o controle dos fluxos de informação (BOLAÑO, 2000).
As informações necessárias para o funcionamento desse sistema complexo de produção, bem como as informações necessárias para a produção de mercadorias-informação, dependem diretamente da
25 Vide: LAZZARATO; NEGRI, 2001.
76
combinação de diversas forças de trabalho de diferentes formações. As informações (independente se utilizadas como insumos ou produtos), sendo elas próprias cada vez mais conjuntos complexos de diferentes saberes, exigem a cooperação de diferentes trabalhadores intelectuais “parciais”. Aflora aqui o sentido da divisão capitalista do trabalho enquanto condição de dominação, ou seja, é somente porque a divisão capitalista do trabalho atingiu um grau extremamente desenvolvido, fazendo com que o trabalhador intelectual coletivo só exista materialmente enquanto trabalhadores intelectuais parciais, que a informação pode ser transformada em capital e mercadoria (MELO NETO, 2004).
Sob o discurso contemporâneo em torno da liberdade e igualdade do acesso à informação e ao conhecimento, escamoteia-se a desigualdade estrutural contida nos processos produtivos, tanto no que se refere à organização burocrática do trabalho, quanto à fragmentação das cadeias produtivas ampliadas com o desenvolvimento das TIC. Não podemos desconsiderar que, no âmbito do processo de trabalho, a informação deixa de ser uma comunicação entre iguais e adquire inequivocamente a forma de “informação de classe”, em que o trabalhador assume a condição de receptor no interior de um processo comunicativo que tem como pressuposto a relação capital/trabalho e que cumpre a função de fazer com que as determinações da burocracia da empresa capitalista passem para o interior do processo produtivo (reforçando esta relação de dominação) (BOLAÑO; HERSCOVICI, 2005).
Aqui entra em cena um elemento central para a compreensão do processo de infoespoliação: é preciso salientar que a comunicação no processo de trabalho exige não apenas aquela informação hierarquizada que faz com que as decisões sejam cumpridas pelos trabalhadores, mas também uma comunicação horizontal, cooperativa, entre esses trabalhadores individuais que formam o trabalhador coletivo subsumido ao capital. Historicamente há uma apropriação (espoliação) dos conhecimentos dos trabalhadores e seu re-processamento, uma espécie de “acumulação primitiva do conhecimento” (BOLAÑO, 2000). Esta base de apropriação do conhecimento (da qual, por exemplo, emerge o taylorismo), aliada ao desenvolvimento das ciências físicas e naturais, constituíram as condições objetivas para a revolução permanente das forças produtivas.
77
No contexto da globalização capitalista, esta informação expropriada no processo produtivo adquire um novo valor de uso: servir à concorrência capitalista transformando-se em uma mercadoria que pode ser negociada em um mercado específico (sob sigilo), determinando posições de vantagem competitiva para as empresas. Neste processo de apropriação do conhecimento e mercantilização da informação, ocorre uma bifurcação que constitui dois tipos básicos de informação: (1) uma ligada diretamente ao processo de trabalho, cujo valor de uso (comunicação direta, hierarquizada, cooperativa, objetiva e não mediatizada) constitui-se num insumo indispensável, e outra (2) que agregada e controlada pelo corpo técnico e burocrático da empresa capitalista, é sempre, efetiva ou potencialmente, mercadoria-informação. Os dois tipos de informação articulam-se de forma a ampliar e assegurar os modos de reprodutibilidade do capital em processo.
A falsa dicotomia entre material e imaterial somada à fetichização desta segunda forma de informação (ligada essencialmente ao processo competitivo) contribuiu para a formulação das teses tão em voga sobre a “perda da centralidade do trabalho”. Esta visão dourada e pós-moderna da informação e gestão do conhecimento no âmbito da concorrência, presa à esfera fenomênica da mercadoria-informação, ignora a sua essência contraditória sob o modo de produção capitalista, encobrindo, em seus mais variados aspectos, a desigualdade fundamental que se expressa no caráter classista da informação.
TRABALHO, VALOR E SUBJETIVIDADE
Contraditoriamente, neste momento em que ganham ênfase os discursos em torno da "perda da centralidade do trabalho" ou da emergência de uma “sociedade da informação”, evidenciamos, pelo contrário, a promessa frustrada (e reprimida) do “pós-máquina” (ALVES, 2007) e da mediação plena de uma sociabilidade auto-determinada. Como se a natureza viesse espontaneamente atender às necessidades sócio-reprodutivas, o “devaneio coletivo” advindo com desenvolvimento e expansão das TIC (ao compasso “delirante” da ofensiva neoliberal) passou a confundir a “forma de trabalhar” com o próprio “ato de trabalhar”.
78
Em termos ontológicos o trabalho é dispêndio genérico de energia humana. Trata-se do processo de efetivação humana no mundo material concreto, em orgânica inter-relação entre homem e natureza. Ele pode ser entendido como a relação entre o fazer e o pensar, ou ainda, como o próprio “fazer pensado” no processo sócio-histórico. Ele não dispensa, de modo algum, uma dimensão intelectual e outra objetiva, que é exteriorizada. É a sua efetivação que lhe dá um sentido e aí reside o seu caráter ontológico. O indivíduo objetiva os resultados de sua ação respondendo às necessidades com a quais se depara em sua práxis. Esta objetivação torna-se a esfera por excelência da afirmação de sua individualidade. A “essência” sócio-genérica do ser social é, portanto, uma conseqüência de atos teleologicamente postos pelos indivíduos. Objetivação esta que, em última instância, funda a humanidade e o mundo que permeia por meio desta efetivação. (LUKACS, 1981, p.6-7).
Em decorrência de seu caráter ontológico, o trabalho concreto é uma categoria ineliminável da existência humana. Quando falamos em produção capitalista, entretanto, não estamos nos referindo a um “trabalho social genérico”, mas de um trabalho socialmente necessário (trabalho abstrato) que se efetiva no interior de um sistema sócio reprodutivo historicamente específico. Ao tratar do trabalho subsumido no capital, Marx não restringe sua análise ao gênero de muitos trabalhos concretos, mas de muitos trabalhos concretos reduzidos à trabalho abstrato (PRADO, 2005), ou seja, o que lhe interessa é a forma pela qual o trabalho concreto é subordinado (subsumido) ao processo de valorização. Esta distinção entre trabalho concreto e trabalho abstrato é de fundamental importância para que este último não seja remetido a um nível fisiológico (o trabalho abstrato como gasto fisiológico de músculos, nervos, etc.), ou reduzido a uma subjetivação (o trabalho abstrato como representação abstrata do trabalho em geral). O gasto de força humana para Marx é apenas a base material do trabalho abstrato e não o seu conteúdo, que é social.
É necessário, portanto, pensar o trabalho abstrato em termos de uma coisa-social-substância – porque o valor não é um quantum que os agentes estabelecem subjetivamente, mas algo que se impõe socialmente, e que é ao mesmo tempo qualidade e quantidade para chegar a uma definição do capital em termos de movimento-sujeito. Para que o valor (tempo de trabalho, trabalho como generalidade abstrata) seja valor, é
79
essencial que, além dessas determinações, haja posição, ou que essas determinações sejam determinações postas, socialmente existentes (FAUSTO, 1987, p.100; 184).
Na reciprocidade determinante destas posições, a força de trabalho é uma mercadoria peculiaríssima porque nenhuma outra tem essa qualidade extraordinária: a de que seu valor de uso é precisamente a substância valorizadora, capaz de um trabalho maior do que o trabalho nela contido. O processo de trabalho não é mais do que um meio do processo de valorização específico, no qual a troca entre capital e força de trabalho assume um agudo caráter contraditório (e antagônico) na medida em que acontece uma troca de equivalentes de naturezas distintas: um é o valor de uso da força de trabalho e o outro é o seu valor de troca. Embora o que o capitalista receba imediatamente, em troca do salário que paga, seja a força de trabalho, cedendo um valor para possuir um valor idêntico, o que recebe na realidade não é simplesmente força de trabalho, mas o valor de uso desta força de trabalho. O que o capitalista recebe imediatamente é trabalho vivo e não simplesmente o trabalho objetivado nessa mercadoria que compra (NAPOLEONI, 1981, p.65- 66).
Sob o modo de produção capitalista, o trabalho é formalmente subsumido ao capital. Esta subsunção formal do trabalho ao capital pode ser entendida em dois sentidos distintos: em sentido “genérico” e em sentido “específico”. Em sentido (1) “genérico” a subsunção formal do trabalho está inserida em um processo produtivo cujo sentido é a produção de mais-valia, ou seja, cujo significado reside exclusivamente no aumento de valor do capital inicial. Mas ela também pode ser entendida em sentido (2) “específico”, para indicar a situação na qual, embora o trabalho esteja inserido em processo capitalista de produção, o processo de trabalho – do ponto de vista técnico – mantém ainda as formas em que se processava antes que a relação capitalista interviesse. Em outras palavras, estamos naquela situação, não apenas lógica, mas também cronológica inicial, na qual o capital apropriou-se apenas formalmente do processo produtivo, no sentido de que o conteúdo particular do processo de trabalho continuou a ser o antigo; o processo produtivo, do ponto de vista do processo de trabalho, desenvolveu-se sob as formas técnicas que o capital ainda não conseguia influenciar e tornar homogêneas a si mesmo.
80
A plenitude da produção capitalista, entretanto, só tem lugar quando o capital determina a tecnologia, ou seja, quando se observa a passagem da subsunção “especificamente” formal, para a subsunção “especificamente” real. Para Marx, a subsunção do trabalho ao capital sendo formal e material, é também real. Dada a impossibilidade do capital eliminar o trabalho vivo do processo de mercadorias (em decorrência da própria posição estrutural que o mesmo ocupa em sua dinâmica) ele deve, além de incrementar o trabalho morto corporificado no maquinário, aumentar a produtividade, intensificando as formas de extração de mais-valia em tempo cada vez mais reduzido. Assim, a subsunção real do trabalho ao capital é a situação na qual não se trata tão somente do fato de que o trabalho se encontre inserido em um processo produtivo cujo sentido reside na produção de mais-valia. Mais que isto, trata-se também do fato de que o próprio processo de trabalho – enquanto processo técnico da relação entre o trabalho e os meios de produção – foi transformado pelo capital a ponto de torná-lo homogêneo à relação formal já existente entre trabalho e capital.
Sabemos que a subsunção formal e a subsunção real (em sentido específico) estão direta e respectivamente ligadas à mais-valia absoluta e à mais-valia relativa. Se a subsunção real é também e sempre subsunção formal (em sentido genérico), o contrário não é, via de regra, verdadeiro, uma vez que a subsunção formal pode não necessariamente implicar na subsunção real. Independente disso,
[...] as duas formas da mais-valia, a absoluta e a relativa – se se quiser considerar cada uma per si, como existências separadas (e a mais valia absoluta precede sempre a relativa) - correspondem a duas formas separadas da subsunção do trabalho ao capital, ou duas formas da produção capitalista, das quais a primeira precede sempre a segunda, embora a mais desenvolvida, a segunda, possa constituir por sua vez a base para a introdução da primeira em novos ramos da produção (MARX, 1985, p.93 – grifos meus).
Assim, o sentido genérico da subsunção formal continua sendo a direta subordinação do processo de trabalho à valorização de capital, independente da forma técnica (ou tecnológica) em que ele seja efetivado. Isto significa, que o fator subjetivo do trabalho - para além da tendência à reestruturação dos processos produtivos com vistas a ampliar a produtividade do trabalho por meio da incorporação do trabalho morto -
81
re-configura qualitativamente a dimensão de subordinação intelectual do trabalho, respondendo, a cada momento, a uma relação dialética entre os processos de valorização e as possibilidades técnicas-materiais.
Diante destas considerações, como pensar a re-configuração do fator subjetivo do trabalho e sua subsunção no capital, diante das transformações ocorridas em decorrência da adoção generalizada das TIC nos mais variados processos produtivos?
Para além da internet, o desenvolvimento da informática e da telemática contribuiu para uma significativa expansão de um trabalho dotado de maior dimensão intelectual, quer nas atividades industriais mais informatizadas, quer nas esferas compreendidas pelo setor de serviços ou comunicações. Na indústria, as transformações foram profundas tanto pela racionalização da produção, como pela mecanização desta, contribuindo para o crescimento de uma força de trabalho excedente de enorme proporção. Estas transformações, entretanto, não se restringiram somente à indústria, sendo também (e principalmente), estendidas às atividades de caráter gerencial (prestação de serviços) devido ao crescimento de “atividades eletrônicas” em ambientes que são cada vez mais informatizados.
Se, por um lado, como observa Lojkine (1995), o sistema automático para processamento de dados assemelha-se aos sistemas automáticos da maquinaria de produção - naquilo em que reunificam o processo de trabalho eliminando os muitos passos que eram, anteriormente, atribuição de trabalhadores parcelados - por outro lado, houve uma mudança na relação homem/instrumento-de-trabalho em que, diferentemente da relação ocorrida com a máquina da grande indústria, o homem tende a não ser meramente meio, mas pólo ativo de um processo de subjetivação. Com a conversão do trabalho vivo em trabalho morto a partir do desenvolvimento dos softwares, a máquina informacional passa a desempenhar atividades próprias da inteligência humana. Partindo destas constatações em torno do processo de objetivação das atividades cerebrais junto à maquinaria, então capazes de transferir o saber intelectual e cognitivo da classe trabalhadora para a maquinaria informatizada, Lojkine enxergou uma tendência (otimista) ao apagamento das fronteiras entre trabalho manual e intelectual.
82
Em oposição aos excessos advindos na literatura corrente com relação a este aspecto particular do processo de trabalho, devemos salientar que esta intelectualização crescente do trabalho mediante a introdução da informática e da telemática nos processos produtivos, nada tem a ver com uma superação da alienação do trabalho, mas com a mudança do sentido da alienação e com o aprofundamento do enquadramento do trabalhador, “com o avanço da exploração das suas energias e capacidades mentais, para além das suas energias físicas e capacidades criativas manuais”. Em síntese, de uma subsunção intelectual do trabalho. É por meio dos softwares que o sistema enquadra o trabalho mental, padroniza-o e explorar as suas potencialidades. É a forma em que se materializa num elemento do capital constante, o conhecimento que antes era propriedade do trabalhador intelectual isolado, de forma semelhante ao que ocorreu com o trabalho manual a partir do surgimento da máquina-ferramenta. Há, portanto, uma convergência das tendências de desenvolvimento da subsunção do trabalho nos processos de produção cultural e intelectual em geral, que se estende de forma considerável para amplas camadas da classe trabalhadora (BOLAÑO, 2000). Em muitos aspectos, padronização do trabalho intelectual configura uma passagem (em sentido específico) da subsunção formal à subsunção real do trabalho intelectual no capital, aquilo que Braga (2009), de certo modo, denomina infotaylorismo.
Com o implemento tecnológico-informacional, as “máquinas inteligentes” passaram a utilizar-se do trabalho intelectual do operário que, por sua vez, transfere parte de seus atributos intelectuais à nova máquina que resulta deste processo. Estabelece-se um complexo processo interativo entre trabalho e ciência, cuja retroalimentação exige uma força de trabalho ainda mais complexa e multifuncional, a qual será explorada de maneira mais intensa e sofisticada, ao menos nos ramos produtivos dotados de maior incremento tecnológico. Não se pode desconsiderar, afinal, que a dimensão de subjetividade presente neste processo de trabalho está tolhida e voltada para a valorização e auto-reprodução do capital, para a “qualidade”, para o “atendimento ao consumidor”, entre outras formas de representação ideológica, valorativa e simbólica que o capital introduz no interior do processo produtivo. Mesmo diante de um trabalho dotado de maior significação intelectual, o exercício da atividade subjetiva está constrangido em última instância pela lógica da forma mercadoria e sua realização (ANTUNES, 2000; 2001) e, nesse sentido, a
83
direção da transformação de determinados dados brutos em mercadoria-informação, também portador de uma utilidade, não é dada pelo próprio trabalhador, essa direção é atributo exclusivo do capital ali aplicado para este determinado fim.
Restaria aqui fazer uma ressalva: se, como observa Braga (2009, p.59-60), a tendência em torno do apagamento das fronteiras entre trabalho manual e intelectual, tal como defendido por Lojikine, demonstrou-se historicamente otimista26, isso não abole, em última instância, as potencialidades contraditórias advindas com as TIC. Pelo contrário, torna explícita as contradições colocadas, de um lado, pelo pleno desenvolvimento das forças produtivas, e por outro, os seus entraves determinados pela miserável base de acumulação subordinada à relação capital-trabalho e à forma mercadoria.
A INFOESPOLIAÇÃO NA INTERNET COMERCIAL
Das reflexões que fizemos até aqui, podemos chegar a duas considerações preliminares: (1) a primeira é a de que a informação ganha maior relevância nos processos produtivos contemporâneos, assumindo a forma mercadoria com aspectos materiais específicos, os quais, por sua vez, terão reflexos na produção e no consumo; (2) no âmbito da reestruturação produtiva do capital, a segunda consideração diz respeito à re-configuração do fator subjetivo do trabalho em decorrência do incremento tecnológico-informacional nos processos produtivos, ampliando, por um lado, as potencialidades de comunicação e criação humanas, mas por outro, reproduzindo um processo histórico de reificação do trabalho (por meio do desenvolvimento dos softwares e sua aplicação). Contudo, não se pode desconsiderar que, independente se uma tendência ou apenas uma potencialidade frustrada, a aplicação das TIC na transformação contínua dos processos produtivos (sobretudo para as empresas de comunicação) colocam obstáculos/limites à subsunção do trabalho e às diversas modalidades de acumulação, em decorrência de um conhecimento tácito irredutível portado pelo trabalhador. Paralelo às formas de infotaylorização, esta ampliação da dimensão intelectual do trabalho (indissociável do trabalho vivo) deve agora ser incorporado
26 Vide: ANTUNES, R; BRAGA, R. Infoploretários: degradação real do trabalho virtual. São Paulo: Boitempo, 2009.
84
como mais um insumo na busca de diferenciais competitivos que permitam as empresas galgar vantagens competitivas.
Para além destas questões, no âmbito das empresas de comunicação, é preciso pensar na ativação operacionalizada pelos consumidores-usuários, a qual muitas vezes constitui-se enquanto troca não diretamente mercantil: o usuário oferece sua privacidade, ações, desejos, necessidades, preferências e todo um conjunto de informações relativas ao seu comportamento na rede, que irão compor bases dinâmicas de comportamentos e intenções. Em troca destas informações, as empresas de internet oferecem serviços online das mais variadas espécies.
A infoespoliação deve ser pensada, portanto, na articulação entre as esferas de produção e reprodução do capital. Ela não diz respeito à “subtração” de algo, tendo em vista que a informação, como já observamos, não se esgota no ato de seu consumo. Os sistemas produtivos da internet comercial apropriam-se do valor de uso desta informação em troca de um serviço oferecido ao usuário final, como um bem aparentemente “gratuito”. Daí a emergência das teses sobre a “gratuidade na rede” que, impregnadas de fetichismo tecnológico, não conseguem ultrapassar a forma fenomênica do processo.
A lucratividade na internet comercial está ligada à forma pela qual as empresas dirigem seus investimentos em tecnologia, voltadas à estabelecer e administrar uma grande variedade de relacionamentos interiores e exteriores aos limites das organizações. Diante da extrema competitividade e da crescente capacidade de transmissão de informações, isto significa construir processos extremamente flexíveis, capazes de atuar e transformarem-se em tempo real. O fim último deste processo é construir estruturas capazes de abrigar diversas demandas e responder a elas agregando serviço, de modo que seu resultado retorne e realimente o processo de trabalho, desenvolvendo e multiplicando as cadeias cooperativas. O desenvolvimento tecnológico volta-se para a construção de sistemas altamente coesos e integrados, cujos serviços são implementados visando funcionar o mais automaticamente possível, de modo a permitir que a própria dinâmica de seus usuários crie uma sinergia favorável à sua expansão e sedimentação.
Por este motivo, nas atuais condições competitivas do mercado de internet, possuir milhões de usuários sem um perfil definido constitui um
85
problema central para o modelo de acumulação em que se encontram estas empresas, restringindo-lhes diversas possibilidades de receita, tornando-lhes imprescindível, pois, manter o controle das preferências individuais e gerais para fornecer, aos mais diversos empreendimentos capitalistas (sejam eles virtuais ou não), um conjunto de informações extremamente relevantes sobre os respectivos mercados que se deseje atingir (sobretudo, para aquelas atividades diretamente ligadas ao marketing e ao mercado publicitário).
A nova aproximação das corporações sobre as redes sociais ( “web 2.0” ou “web colaborativa”, para utilizar o jargões contemporâneos) representam, em última instância, a necessidade de expansão de seus canais comunicativos com vistas a absorver (em tempo real e a baixos custos), as informações que possam: (1) compor ou ampliar suas bases de dados para elaboração perfis de consumo; (2) fidelizar clientes e ampliar “fatias” de mercado; (3) servir como plataforma para o lançamento de novos produtos, além do conhecimento de sua recepção pelo mercado.
As redes socias, a exemplo do Orkut, Facebook, Twitter, Delícious, dentre outras, constituem comunidades virtuais que se organizam no ciberespaço por meio dos softwares disponibilizados on-line. Sua característica essencial está ligada à capacidade de produzir relacionamentos a partir de interesses comuns. Esta finalidade básica, por sua vez, possibilita que estes mecanismos tornem-se poderosos instrumentos para a coleta e re-processamento de informações.
Salientamos que as comunidades colaborativas virtuais estão na própria base de popularização do ciberespaço (BOLAÑO, 2007), mas foi o desenvolvimento dos mecanismos dotados com novas funções (imagem, som, vídeo), além do crescimento da largura de banda e ampliação do acesso, que fizeram das redes sociais um instrumento de comunicação em massa, com ampla e diversificada participação social.
Sob o aspecto de seu valor de uso estes dispositivos permitem aos usuários relacionarem-se por meio da retro-alimentação de informações em um banco de dados amplo e dinâmico, passível de ser visitado, alterado, etc, criando uma situação em que o campo de comportamentos, ações e comunicações dos usuários, muitas vezes, coincida com os próprios sistemas de coleta, registro e distribuição de informações. Os dados coletados no preenchimento destes perfis formam um conjunto
86
amplo de informações pessoais que vão desde dados objetivos (como nome, idade, endereço, telefone, aniversário, sexo, descrições físicas, etc.) até dados subjetivos (como opção sexual, posicionamento político, gosto musical, literário, cinematográfico, culinário, etc). As próprias comunidades de interesses nas quais os usuários podem afiliar-se (ou mesmo criá-las) já demonstram, por si mesmas, um conjunto bastante diversificado e bem definido de informações segmentadas, classificadas e modificadas conforme as afinidades e interesses diretos dos usuários. Mais do que um mecanismo de comunicação elas constituem dispositivos de visibilidade e vigilância, onde o voyeurismo e exibicionismo se confundem.
Do ponto de vista econômico, entretanto, seu principal objetivo não é produzir um saber sobre um indivíduo especifico, mas usar um conjunto de informações pessoais para agir (possivelmente) sobre outros indivíduos, que permanecerão desconhecidos até se transformarem em perfis que despertem interesses de qualquer natureza (BRUNO, 2006). O cruzamento de dados organizados em categorias amplas irá projetar, simular e antecipar perfis que correspondam a indivíduos e corpos “reais” a serem pessoalmente explorados, monitorados, cuidados, tratados, informados e assediados por diversos canais. São, portanto, consumidores potenciais
O que presenciamos nesta crescente imbricação entre produção e consumo, no âmbito da exploração capitalista da internet, constitui uma espécie de acumulação que explora as energias e capacidades cognitivas despendidas sob condições que ultrapassam uma relação direta entre capital e trabalho. O capital cria as estruturas e “absorve” da sociedade um conhecimento gratuito, não compulsório e, em certo grau, aleatório. Trata-se, portanto, de algo qualitativamente distinto do que ocorria no pré-capitalismo.
Como observado anteriormente, o caráter espoliativo do capital não é algo propriamente novo. Suas origens remontam à acumulação primitiva (ou originária), tal como formulada por Marx. Harvey (2004), por sua vez, fala sobre as modalidades predatórias do capitalismo contemporâneo no âmbito da mundialização do capital, da acumulação flexível e do neoliberalismo, como formas de repor, a seu modo, a acumulação primitiva. Elas não são mais relegadas à uma etapa originária, tida como não mais relevante, ou “exterior” ao capitalismo como sistema fechado
87
(LUXEMBURG, 1983), mas uma característica fundamental de sua atual dinâmica de acumulação, o que significa que estas formas predatórias não apenas já ocorreram, como continuam ocorrendo, explicitando sua dimensão sistêmica enquanto “sócio-metabolismo da barbárie” (ALVES, 2007).
Em síntese, a “acumulação via espoliação” está ligada à liberação de um conjunto de ativos (incluindo força-de-trabalho) a custos muito baixos (e, em alguns casos, zero). O capital sobre-acumulado pode apossar-se desses ativos e dar-lhes imediatamente um uso lucrativo (HARVEY, 2004, p.124). A acumulação por espoliação diz respeito às diversas formas pelas quais o capital pode ser acumulado fora de uma relação propriamente capitalista (troca e exploração de mais-valia), havendo em seu modus operandi muitos aspectos fortuitos e casuais. Sob o foco deste estudo específico, a espoliação está ligada à transformação em mercadorias de formas culturais, históricas e da criatividade intelectual, que podem ser espoliados de populações inteiras cujas práticas tiveram um papel vital no desenvolvimento desses materiais27.
Ruy Braga (2009, p.72) dá pistas deste processo ao falar da degradação da relação de serviço informacional tanto por meio de terceirizações, como pelo processo de transferência lenta e gradual (mas segura) de parte da carga de trabalho ao cliente, criando procedimentos que eliminam o conteúdo comunicativo colocado nesta relação. Quando nos referimos à infoespoliação, entretanto, não estamos restringindo nossa análise apenas a esta externalização parcial do processo de trabalho para o consumo. É mais que isto: o usuário-consumidor não apenas será o ponto de partida do processo de trabalho ampliado, mas, em decorrência do caráter interativo da rede, sua ativação será algo sem o que, o próprio processo produtivo específico não existira. Não se trata, portanto, de uma conseqüência secundária, como simples alternativa à redução de custos e aumento da lucratividade, mas algo constituído sobre estes pressupostos técnicos-materiais.
Esta “produção intelectual em geral”, espoliada no processo interativo da internet comercial e transformada em um substrato (que é
27 Evidenciamos um recrudescimento da ênfase nos direitos de propriedade intelectual nas negociações da OMC (o chamado Acordo TROPS) que apontam para maneiras pelas quais o patenteamento e licenciamentos de todo tipo de produto permite uma acumulação rentista.
88
materializado em um elemento de capital constante) não configura um “consumo produtivo da força-de-trabalho”, ou seja, aqui não há mais-valia. Quando falamos, portanto, em conhecimento codificado nos referimos à dados organizados passíveis de transformarem-se em informação que, por intermédio do trabalho vivo, passam a servir como matéria-prima para novos processos produtivos. É preciso, pois, evitar o risco de pensar que trabalho e conhecimento são coisas separadas e considerar este último como um “novo fator de produção”, pois o mesmo só pode ser entendido como atributo do próprio trabalho vivo (BOLAÑO; HERSCOVICI, 2005).
Este aspecto contraditório de seu processo produtivo, portanto, não deve ser entendido como fusão, dissociação ou substituição do trabalho diretamente produtivo. Exploração de mais valia articulada à infoespoliação, antes de constituírem rupturas ou obstáculos recíprocos à acumulação de capital, se complementam ampliando notavelmente a sinergia destes processos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O caráter crescentemente híbrido e metamórfico da internet coloca consideráveis dificuldades não apenas para o desenvolvimento de pesquisas que a tomam como objeto de estudo, como também para sua própria regulamentação jurídica e utilização capitalista, as quais, por sua vez, colocam novas e amplas incongruências entre reprodução social e forma social do capital nas sociedades capitalistas contemporâneas.
O que buscamos salientar neste ensaio é que existe um vínculo orgânico entre a “acumulação via espoliação” e as novas práticas empresariais de “captura” da subjetividade do trabalho vivo, dos quais a infoespoliação, se caracterizaria como o processo de apropriação, manipulação, armazenamento e mercantilização do substrato informacional/interativo utilizado nos processos produtivos das empresas de comunicação.
Talvez, a infoespoliação seja apenas o início de um processo mais amplo de mercantilização do intelecto geral. Disto resulta que o fazer humano, sua práxis, independente da forma que assuma e/ou se metamorfoseie na dinâmica de acumulação contemporânea, tende (lógica
89
e estruturalmente) a limitar o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas.
REFERÊNCIAS:
1. ABBATE, J. Inventing the internet. Cambridge: MIT Press, 1999.
2. ALVES, G. Ciberespaço e Fetichismo. in ALVES; MARTINEZ (Org.) Dialética do Ciberespaço – Trabalho, Cultura e Tecnologia no Capitalismo Global.. Bauru: Editora Práxis, 2003.
3. ______. Crise estrutural do capital, trabalho imaterial e modelo de competência: notas dialéticas. In ALVES; BATISTA (Org.) Trabalho e Educação: contradições do capitalismo global. Maringá: Ed. Práxis, 2006.
4. ______. Trabalho e Subjetividade. Ensaio sobre o metabolismo social da reestruturação produtiva do capital. Tese de Livre Docência. UNESP. Marília: 2007.
5. ANTUNES, R. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo, Boitempo Editorial,1999.
6. ______. Adeus ao trabalho? Ensaio Sobre as Metamorfoses e a Centralidade do Mundo do Trabalho. São Paulo, 2002.
7. ______. Material e imaterial. Folha de São Paulo, caderno Mais! São Paulo: 13/08/2000.
8. ANTUNES, R; BRAGA, R (org). Infoproletários: degradação real do trabalho virtual. São Paulo, Boitempo, 2009.
9. BOLAÑO, C (org.). Privatização das telecomunicações na Europa e na América Latina. Aracaju: EDUFS, 1997.
10. ______. Indústria cultural, informação e capitalismo. São Paulo: Hucitec, 2000.
11. ______. Trabalho intelectual, comunicação e capitalismo. A re-configuração do fator subjetivo na atual reestruturação produtiva. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, Rio de Janeiro, n. 11, p. 53-78, dez. 2002.
90
12. ______. Economía política y conocimiento en la actual reestructuración productiva. In: ______. Da derivação à regulação: para uma abordagem da Indústria Cultural. Revista de Economia Política de lãs Tecnologias de la Información y Comunicación. vol.V, n.3, sep-dic, 2003. Disponível em: <www.eptic.com.br>.
13. ______. Economia política da internet. Aracaju: Ed. UFS, 2007.
14. BOLAÑO; MASTRINI; SIERRA (Eds.) Economía política, comunicación y conocimiento: una perspectiva crítica latinoamericana. Buenos Aires: La Crujía, 2005.
15. BRAGA, R. Infotaylorismo: o trabalho do teleoperador e a degradação da relação de serviço. Revista de Economia Política de lãs Tecnologias de la Información y Comunicación. vol.VIII, n.1, ene-abr, 2006. Acesso em: 01/03/2008. Disponível em: <www.eptic.com.br>.
16. BRAVERMAM, H. Trabalho e Capital Monopolista: A degradação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977.
17. BRUNO, F. Dispositivos de vigilância no ciberespaço: duplos digitais e identidades simuladas. Revista Fronteiras – estudos midiáticos. VIII (2): 152-159. Unisinos, maio/agosto, 2006.
18. CHESNAIS, F. A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996.
19. CRUZ, L.R. Internet e direito autoral: o ciberespaço e as mudanças na distribuição cultural. Dissertação de Mestrado. UNESP. Marília: 2008.
20. FAUSTO, R. Marx – lógica & política. Investigações para uma reconstituição do sentido da dialética. Tomo I e II. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1983; 1987.
21. ______. Marx – lógica & política. Investigações para uma reconstituição do sentido da dialética. Tomo III. São Paulo: Ed. 34, 2002.
22. FLEURY, A.L. Dinâmicas organizacionais em mercados eletrônicos. São Paulo: Ed. Atlas, 2001.
91
23. FRAGOSO, S. Quem procura, acha? O impacto dos buscadores sobre o modelo distributivo da World Wide Web. in. Revista de Economia Política de lãs Tecnologias de la Información y Comunicación. vol.IX, n.3, sep-dec, 2007. Acesso em: 01/03/2008. Disponível em: <www.eptic.com.br>.
24. GORZ, A. O imaterial. Conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005.
25. HARDT, M; NEGRI, A. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001.
26. HARVEY, D. O novo imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
27. LAZZARATO, M; NEGRI, A. Trabalho imaterial. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
28. LOJKINE, J. A Revolução Informacional. São Paulo, Ed. Cortez, 1999.
29. LOPES, R.S. Informação, conhecimento e valor. São Paulo: Radical Livros, 2008.
30. LUKÁCS, G. Il Lavoro, Ontologia Dell’Essere Sociale. Trad. Alberto Scarponi. Roma: Riuniti, 1981.
31. LUXENBURG, R. A acumulação do capital. 3ª edição. Rio de janeiro: Zahar, 1983.
32. MARX, K. Capítulo VI Inédito de O Capital. Resultado do processo de produção imediata. São Paulo: Ed. Moraes, 1985.
33. ______. O Capital: crítica da economia política. (Os Economistas). São Paulo: Nova Cultural, 1988.
34. MELO NETO, A.P. Tele-trabalho: novas formas de subsunção do trabalho ao capital? (2004). Acesso: março/2005 <http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/TeleTrabalho>.
35. MONTEIRO, A. Trabalho, ciberespaço e acumulação de capital: estudo sobre produção e consumo na interatividade da internet comercial. Dissertação de mestrado. Marília, 2008a.
36. _______. Google, subjetividade e valor: notas sobre produção e consumo na interatividade da internet comercial. In: TUMOLO,
92
Paulo e BATISTA, Roberto (Org.). Trabalho, Economia e Educação: perspectivas do capitalismo global. Maringá: Práxis; Massoni, 2008b.
37. NAPOLEONI, C. Lições Sobre o Capítulo VI (Inédito) de Marx. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Ed. Ciências Humanas, 1981.
38. OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista: o ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2008.
39. PRADO, E. Desmedida do valor. Crítica da pós-grande indústria. São Paulo: Xamã, 2005.
40. RECUERO, R. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.
41. WOLFF, S. Informatização do trabalho e reificação: uma análise à luz dos programas de qualidade total. Campinas: Ed. Unicamp; Londrina: Eduel, 2005.
93
MAQUINARIA E MANUFATURA NA FÁBRICA FLEXÍVEL:
autonomia e heteronomia no trabalho*
Geraldo Augusto Pinto∗∗
A década de 70 inaugurou um período de fortes desequilíbrios econômicos globais, causados tanto pelo súbito aumento de preço do petróleo no mercado internacional em 1973 e em 1979, quanto pelas sucessivas valorizações e desvalorizações do dólar, praticamente impostas pelos EUA desde então, como em 1978 e em 1985. Como decorrência, iniciou-se as primeiras grandes variações nas taxas de câmbio dos países, acentuando a internacionalização e o já crescente volume de investimentos em capitais financeiros, que, por meio da tecnologia microeletrônica aplicada à informação, passaram a especular sobre estas flutuações cambiais. A tal conjuntura, somaram-se as quedas das taxas de lucro, sobretudo, nos setores industriais, pondo em xeque o “período áureo do capitalismo” e sua combinação do taylorismo/fordismo junto às políticas estatais keynesianas (Cf.: DEDECCA, 1998; HARVEY, 1992; MATTOSO, 1994; QUADROS, 1991; TAVARES, 1992).
Expandiram-se, então, as designadas experiências “flexíveis” de gestão do trabalho e da produção, entre as quais, destacaram-se, no que tange as relações entre as empresas no mercado, a chamada “especialização flexível”, na Terceira Itália (Vêneto, Emilia-Romana, Marcas e Toscana), ou então, no plano interno das plantas, a gestão do trabalho em Grupos Semi-Autônomos em Kalmar, na Suécia (Cf.: CATTANI, 1999; FLEURY & VARGAS, 1983).
Porém, o mais polêmico e ousado sistema de gestão foi o desenvolvido na Toyota Motor Company, no Japão, desde os anos 50: além da profunda reorganização do trabalho internamente às plantas, tal
* Texto originalmente apresentado e publicado no anais do III Simpósio Nacional de Tecnologia e Sociedade, realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, PR, em nov. 2009. ∗∗ Doutor em Sociologia (Unicamp) e professor da UNIOESTE em Foz do Iguaçu. E-mail: [email protected]
94
sistema sustenta-se numa rede de subcontratação entre grandes firmas cujas relações são muito mais fortes e estruturadas que no caso italiano, e sua difusão entre as firmas ocidentais na década de 80 foi significativa (Cf.: AMIN & MALMBERG, 1996; CURRY, 1993; HIRAOKA, 1989; GARRAHAN & STEWART, 1994).
Tais sistemas, sobretudo, o toyotista, passaram a questionar a “rigidez” inerente à estrutura verticalizada e estandardizada fordista como a melhor forma de manter-se a combinação entre produtividade, baixos custos e o alto controle administrativo1. Uma capacidade para atender rapidamente pedidos pequenos e variados foi sendo obtida pela introdução de mecanismos de parada automática nas máquinas, permitindo-as serem operadas em grande número pelo mesmo trabalhador, concomitante à adaptação de técnicas de gestão de estoques, desde o âmbito da produção até o nível das relações entre as empresas enquanto clientes e fornecedoras nas cadeias produtivas – just in time/kan ban (Cf.: ANTUNES, 1995; CORIAT, 1994; GOUNET, 1999; OHNO, 1997; SAYER, 1986; SILVA, 1991).
O resultado é uma horizontalização da estrutura produtiva e da hierarquia de cargos nas empresas, por meio da qual alteram-se das funções ao conteúdo das atividades desempenhadas pelos trabalhadores, gerando-se a chamada “polivalência”, a organização em células ou em equipes de trabalho, entre outras inovações cujas implicações sobre os trabalhadores compõem um quadro ainda bastante heterogêneo e em construção.
Enfocando especificamente a questão da qualificação, há uma controvérsia acerca dos reais efeitos destas estratégias de gestão. Há estudos que trazem evidências de que, em certos casos, promoveu-se uma relativa ampliação do raio de ação dos trabalhadores sobre o conjunto de tarefas que desempenham nas empresas, apontando para uma inversão da especialização taylorista/fordista. Apontam-se, inclusive, elevações nos níveis de escolaridade nas empresas, dado que atividades de controle de qualidade e a operação e a programação de equipamentos de base micro-eletrônica exigem uma formação educacional mais extensa (Cf.:
1 A questão da continuidade ou ruptura deste sistema com relação ao taylorista e ao fordista, é um
assunto que não trataremos aqui, mas é discutido por Castro (1995); Coriat (1993, 1994); Pinto (2007a, 2007b); Posthuma (1994); e Silva (1991).
95
FREYSSENET, 1993; POSTHUMA, 1995; RACHID, 1994 E 2000; RABELO, 1989 E 1994; SILVA, 1991).
Outros estudos, porém, mostram que tais situações têm se concentrado nas grandes empresas líderes, sobretudo, em suas matrizes e que, mesmo nestes casos, o alto nível de formação técnica e escolar, a flexibilidade nos postos de trabalho e na organização das equipes são nada mais que a contraface de um “envolvimento” dos trabalhadores construído pelas gerências mediante programas onde se mesclam a persuasão e a coerção (Cf.: BRUNO, 1996; CASTILLO, 1996 e 2000; GOUNET, 1999; LEITE, 1995; LIMA, 2004; MARCELINO, 2004; SHIROMA, 1993; RIQUELME, 1994; OLIVEIRA, 1996). Além disso, há evidências de que esta elevação dos níveis de escolaridade seja o resultado de substituições de quadros pelas empresas2 e, aliás, de que até mesmo os novos e supostamente mais qualificados trabalhadores não lograram maior estabilidade ou reconhecimento profissional (Cf.: ANTUNES, 1995; DEDECCA, 1998; JÁCOME RODRIGUES, 1998; MATTOSO, 1994; SALM, 1998; SENNETT, 2002; SMITH, 1994).
A reestruturação produtiva iniciou seu avanço no Brasil na década de 80, mas expandiu-se de forma mais abrangente e sistemática após o contexto de abertura comercial e ajustes recessivos internos dos anos 90, sob a égide dos governos neoliberais. A indústria automotiva, tal como nos países centrais, foi por excelência o palco desse processo, sendo o setor de autopeças o protagonista das mais severas transformações, em um primeiro momento pelas urgentes reestruturações que suas maiores empresas empreenderam em face do impacto da sua exposição à competitividade internacional, e, em um segundo momento, pelas estratégias postas em curso pelos próprios oligopólios transnacionais que as adquiriram3.
Uma pesquisa no setor de autopeças do Brasil, realizadas entre 1996-1997 em três estados da federação, apontou que a difusão de elementos do sistema toyotista como o just in time/kan ban, a reorganização da produção em células e dos postos de trabalho com vistas à polivalência,
2 Demissões de trabalhadores mais velhos, formados no trabalho e com baixos níveis de escolaridade,
seguidas de contratações de jovens com maior escolaridade e formação técnica em instituições formais de ensino (ROSANDISKI, 1996). 3 Sobre este movimento de desnacionalização do setor de autopeças brasileiro, ver Pinto (2006).
96
bem como a utilização da automação microeletrônica junto à presença de uma força de trabalho com elevados níveis de escolaridade, são atributos visivelmente superiores da região de Campinas, no interior do Estado de São Paulo, frente às demais do país (ABREU et al., 2000)4. E, de fato, pudemos comprovar estes aspectos em um estudo de caso que realizamos nesta região entre 2005-2006, em uma planta subsidiária de uma sistemista transnacional de autopeças, à qual nos referiremos aqui pelo nome fictício de American Company do Brasil (Cf.: PINTO, 2007c).
Um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas que entrevistamos teceu-nos as seguintes considerações no tocante às novas exigências em termos de formação educacional e profissional dos trabalhadores na reestruturação produtiva:
Teve mudanças, grandes mudanças. Quem entrava nas [empresas] metalúrgicas eram ajudantes, profissionais que vinham do SENAI ou da indústria. Hoje, não: nas próprias empresas as pessoas vão aprendendo, e isso exige uma escolaridade maior. Não [se trata] necessariamente [de] um profissional que é criado nas fileiras industriais, que vem só do SENAI. Hoje não. Hoje, a pessoa entra e vai se aprimorando dentro das próprias fábricas (FRANCISCO, 2006 – transcrição de gravação).
Este aprimoramento não implica, no entanto, necessariamente uma ampliação das qualificações operárias. Um candidato a operador-ajustador de prensa ou de enroladeira, por exemplo, para ser contratado já necessitaria ter, no mínimo, a formação completa em nível médio e um curso técnico de ajustagem ou de mecânica, sendo desejável uma experiência profissional de pelo menos dois anos. A gerência já contava à época, inclusive, com um plano estratégico entre cujas metas está a formação em nível médio de todos os trabalhadores da produção direta. A organização em células, por sua vez, acumulou entre estes trabalhadores atividades de manufatura, troca de ferramental, controle de qualidade, manutenção dos equipamentos e apontamentos da própria produção em
4 Esta pesquisa coletou dados em 53 empresas de autopeças localizadas em três Estados do país – São
Paulo (região de Campinas), Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, entre agosto de 1996 e maio de 1997. Na região de Campinas, foi estudada uma empresa de médio porte, fabricante de freios, e dez de seus fornecedores (de pequeno e médio porte). Note-se que esta região atualmente concentra o maior número de empresas por estado e o maior contingente de trabalhadores do setor no país (SINDIPEÇAS; ABIPEÇAS, 2009).
97
terminais eletrônicos, além do deslocamento a qualquer ponto da fábrica, conforme as demandas de cada célula.
No entanto, se de um lado tais trabalhadores passaram a receber treinamentos sobre sistemas de qualidade, metrologia industrial, estatística, interpretação de desenhos e gráficos, programação e em alguns casos até mesmo a manutenção de equipamentos computadorizados, de outro lado assumiram também a limpeza dos gabinetes, bancadas, máquinas e até mesmo do chão onde trabalham, embora não tivessem percebido quaisquer mudanças salariais compatíveis com estas funções.
Um dos operadores-ajustadores que entrevistamos, por exemplo, indagado se o seu pagamento foi ampliado pelo acúmulo de novas funções, ou se houve algum reconhecimento formal por parte da gerência, quanto ao cargo, que se tornou mais complexo, nos disse:
Não teve não. Não que eu estou falando, assim, que é o pior salário de Campinas. Eu estou falando em termos de reconhecimento salarial. Não houve, para muitos casos aconteceu assim: a pessoa passou disso para aquilo e não teve aquele reconhecimento. Pode ser que tenha, mas até hoje... Eu não fui contratado para ser inspetor [de qualidade]. Na época, o inspetor ganhava até mais que o ajustador. Eu não fui, mas agora tenho que ser inspetor. A gente faz inspeção. Não fui contratado como mecânico, mas faço a lubrificação, a preventiva, e o transporte [das peças e matérias-primas no interior da fábrica] (CÉSAR, 2006 – transcrição de gravação).
Segundo o gerente de recursos humanos da American Company do Brasil, isso ocorre...
[...] porque é muito complicado. Nós [a gerência] já estudamos isso e é muito complicado, e há problemas legais ainda no Brasil, principalmente em nível sindical, que não reconhece isso [ou seja, pagar ao mesmo funcionário pelas funções que acumula]. Mas eu acredito que, em termos de futuro, não só nós, mas o mercado já estará migrando para isso (RIBEIRO, 2005 – transcrição de gravação).
Foi-nos relatado, pelo próprio presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, que muitas empresas da região insistiram, ao implantar a polivalência, em alterar as descrições de cargos de suas
98
hierarquias, mediante a reunião de atividades as mais distintas num só cargo, designado “operador multifuncional”, exatamente para descaracterizar as qualificações precedentes dos trabalhadores nelas anteriormente ocupados para, num segundo momento, promover um “rateio por baixo” de todos os salários:
As empresas passaram a absorver cada vez mais o nosso conhecimento, eu costumo dizer isso em porta de fábrica, o conhecimento do operário, e não estão pagando por isso. Porque quando elas eliminaram funções como os inspetores de qualidade, de linha, ou os chamados preparadores de máquina, elas diminuíram a quantidade de mecânicos de manutenção, eliminaram os empilhadeiristas, e toda uma série de funções que os trabalhadores acabaram fazendo. É uma lógica em que as empresas tentaram até descaracterizar mesmo a função. Então, elas queriam “operadores multifuncionais”. Foi uma briga do sindicato para que isso não se alterasse. Ao invés de ser, por exemplo, um operador de máquina, um operador de centro de usinagem ou um operador de torno CNC, elas queriam como definição desse cargo “operadores multifuncionais”, exatamente porque você faz várias funções (SANTOS, 2007 – transcrição de gravação).
A questão vai além dos salários. O intuito das gerências é que as células formem entre si um grande e coeso “time de trabalho” e que se reproduza, em todos os níveis hierárquicos da fábrica, o comprometimento com os resultados finais do negócio. Em outros termos, a intenção é reproduzir, o mais fielmente possível, nas relações entre os funcionários gerenciais e operacionais, o ideário das relações de troca mantidas entre as empresas clientes e fornecedoras no nível da cadeia produtiva em que se insere a planta. Nas palavras do mesmo gerente anteriormente citado: “[...] é a figura do ‘cliente interno’, e de que tudo se interliga. E o que manda é o resultado final da empresa, quando a peça for faturada ‘exclusiva’ para um cliente” (RIBEIRO, 2005 – transcrição de gravação).
As gerências contam, para isso, com a instituição de “líderes” de setores e células, aos quais atribuem, dependendo dos seus conhecimentos sobre os processos, a coordenação do trabalho dos colegas. No caso da empresa que pesquisamos em Campinas, a escolha
99
destes líderes passa pela sua pró-atividade e comprometimento com a fábrica, além da possibilidade de assumir funções diversas.
Disse-nos o gerente de recursos humanos:
São aqueles funcionários que se destacaram mais, aqueles que sem ninguém falar nada eles aprenderam o “beabá” das máquinas, eles tiveram a curiosidade de se desenvolver; eles fizeram quase todos os cursos que a empresa ofereceu, são pessoas interessadas, são pessoas que precisam ter o perfil de liderança(RIBEIRO, 2005 – transcrição de gravação).
É perceptível que neste “perfil de liderança” deve haver algo mais que o conhecimento técnico: deve haver, sobretudo, o comprometimento com os ideais da empresa e o bom relacionamento no ambiente de trabalho. Ou seja, se a escolaridade, a formação e a experiência profissional5, aspectos bastante tangíveis e, portanto, “rígidos”, compõem os três itens mais importantes nas contratações (conforme pudemos identificar como requisitos mínimos nas descrições de cargos elaboradas pela American Company do Brasil), eles não são os únicos itens requisitados nas promoções do mercado interno de trabalho na empresa, pois contam, neste ponto, elementos comportamentais que são definidos no dia a dia, muitas vezes em situações adversas e quase sempre intangíveis ou imensuráveis pelos próprios trabalhadores. São estes elementos que concebemos como “fluidos”.
Trata-se de uma relação entre gerência e produção que, contrariamente à “rigidez” presente nas prescrições tayloristas e fordistas, assenta-se em uma espécie de “fluidez” que reforça a idéia de “clientes” e “fornecedores” entre os agentes de um trabalho dividido em vários níveis de uma empresa.
Em outras palavras, espera-se que um operário ultrapasse em boa medida os deveres que lhe cabem segundo o estatuto que rege o seu cargo. Espera-se que busque, autonomamente, ampliar cada vez mais os
5 Por experiência profissional, compreendemos o “conhecimento tácito”, aquele que, em suas bases
cognitiva e prática, é desenvolvido espontaneamente pelo trabalhador no contínuo exercício das suas atividades, sendo muitas vezes compartilhado, embora nem sempre de maneira formal, entre os colegas de trabalho mais próximos. Por formação profissional, nos referimos tanto aos treinamentos realizados pelos trabalhadores dentro e fora das empresas, de caráter técnico e voltados a uma atividade especializada, quanto aos cursos de formação tecnológica de nível médio e superior, assim como os cursos de graduação e pós-graduação.
100
seus conhecimentos acerca da função que desempenha para, a partir daí, analisar, criticamente, tanto o seu próprio desempenho, quanto o papel exercido pela sua função na divisão do trabalho da empresa, análise que lhe permitirá intervir em outras funções acima e abaixo da sua na hierarquia de cargos, seja na prevenção de falhas, seja na sugestão de melhorias. Espera-se, em última instância, deste novo perfil de trabalhador, um controle não apenas do próprio desempenho, mas dos demais colegas com os quais suas atividades estejam envolvidas diretamente na empresa.
É impressionante como a introdução deste sistema, ao tempo em que reforça o espírito de equipe pela divisão das tarefas, amplia a individualização entre os pares no interior das equipes e entre estas, sobretudo, considerando-se o seu desenvolvimento conjuntamente aos chamados “mercados internos de trabalho” nas empresas, elemento que, paralelamente ao uso intensivo da força de trabalho, promove o seu uso extensivo e em larga escala como engrenagem da acumulação de capital.
No comprometimento da empresa em aproveitar os seus próprios quadros estão presentes não apenas suas ações no sentido de intensificar o trabalho por meio da polivalência, mas, na mesma direção, sua postura de servilizar o corpo de trabalhadores dentro das suas relações de dominação. E em nenhuma das duas situações isto está, como bem diz o gerente de recursos humanos que entrevistamos na American Company do Brasil, “determinado no papel”. Nas suas palavras:
[...] A mensagem que nós passamos para todos os funcionários é: “Esteja preparado para quando a vaga aparecer e você ser o melhor candidato, pois nós garantimos que só vamos buscar no mercado se a gente não encontrar internamente”. Então, têm vários funcionários que estão estudando, voltaram a estudar. Tem duas pessoas nesse Telecurso aí, que se inscreveram, que têm cinqüenta e um anos de idade, se inscreveram para fazer. Então, o pessoal está tendo uma consciência de que nem tudo dá para você determinar no papel (RIBEIRO, 2005 – transcrição de gravação).
O que os trabalhadores têm “consciência”, segundo o gerente, é de que nada que parta diretamente deles mesmos, lhes garante uma promoção de cargo. Tudo o que lhes é possível angariar, em termos de suas qualificações educacionais, profissionais e comportamentais, são
101
apenas pré-requisitos para uma eventual promoção, pré-requisitos que podem, inclusive, mudar de feição ao longo do tempo de permanência dos trabalhadores na empresa. Permanência esta, aliás, que, embora lhes provenha de experiências profissionais e de um convívio mútuo, também nada lhes garante de concreto.
É o mundo da efemeridade nas relações sociais, sobre as quais, contraditoriamente, se constroem lealdades comuns, profundamente enraizadas e constantemente realimentadas por compromissos bastante objetivos, todos, no entanto, passíveis de serem rescindidos, de forma abrupta, sob qualquer circunstância que interesse a apenas uma das partes. Um mundo da moral descartável sobre o qual Sennett insiste dolorosamente em seu ensaio, pois todos já nos cansamos de vivenciar tais situações dentro e fora das nossas relações de trabalho:
Na apropriada expressão da analista de negócios Rosabeth Moss Kantor, hoje os velhos “elefantes” burocráticos “estão aprendendo a dançar”. Parte dessa nova dança é resistir a negociações categóricas em grandes instituições, e em vez disso traçar caminhos mais fluidos e individualizados para promoções ou salários (SENNET, 2002, p. 101). 6
Em síntese, em consonância com apontamentos presentes em grande parte da literatura sobre o assunto, o estudo de caso que realizamos no setor de autopeças de Campinas demonstra que a automação de base microeletrônica, a celularização e a polivalência resultaram em visível redução de custos à empresa, seja pelo maior controle que as gerências adquiriram sobre os processos de trabalho e sua flexibilidade, seja pela concentração de atividades sob a responsabilidade de um quadro cada vez mais enxuto. Os trabalhadores, sobretudo, nas esferas operacionais, além de estarem desempenhando de forma mais intensa e vigiada suas tarefas, não perceberam quaisquer mudanças nos seus salários, cuja variação permanece atrelada apenas às variáveis exógenas à economia da empresa, como a inflação e o custo de vida, numa clara explicitação do salário como preço da mercadoria força de trabalho, destinado a provê-la na reprodução das suas condições mínimas de subsistência.
6 A citação que Sennett utiliza neste trecho foi extraída do livro da autora por ele citada, intitulado When
giants dance, impresso em Nova Iorque, pela editora Simon & Schuster, em 1989.
102
A forte integração interfirmas num plano de cadeias globais de fornecimento, as reduções de níveis hierárquicos nas plantas e as necessidades cada vez maiores de focalização, são processos que têm colocado a formação educacional e profissional, assim como o conhecimento de mais de um idioma, como requisitos “básicos”, além dos quais valorizam-se saberes como “trabalhar em equipe”, “manter conhecimentos gerais atualizados” e autonomia para “qualificar-se por conta própria”. E mais: a aceitação, pelo trabalhador, em não esperar que a empresa “cuide de sua carreira”, mas de “trabalhar por ela” e “sob pressão”, conforme nos informou o gerente de Recursos Humanos entrevistado da American Company do Brasil.
Trata-se, portanto, de formas de precarização dos contratos e das condições de trabalho que têm sido impostas aos assalariados, paralelamente ao aumento da produção material, da acumulação de capital e da riqueza concentradas sob o controle de grupos oligopólicos transnacionais.
REFERÊNCIAS:
1. ABREU, Alice Rangel de Paiva et al. Produção flexível e relações interfirmas: a indústria de autopeças em três regiões do Brasil. In: ABREU, Alice Rangel de Paiva (Org.). Produção flexível e novas institucionalidades na América Latina. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2000. p. 27-73.
2. AMIN, A.; MALMBERG, A. Competing structural and instituional influences on the geography of production in Europe. In: AMIN, A. (Edit.) Post-fordism: a reader. Oxford: Blackwell, 1996.
3. ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. Campinas, SP: Cortez; Ed. da UNICAMP, 1995.
4. BRUNO, Lúcia. Educação, qualificação e desenvolvimento econômico. In: BRUNO, Lúcia (Org.). Educação e trabalho no capitalismo contemporâneo: leituras selecionadas. São Paulo: Atlas, 1996. p. 91-123.
5. CASTILLO, Noela Invernizzi. Automação e qualificação do trabalho: elementos para um enfoque dialético. 1996. Dissertação
103
(Mestrado) – Instituto de Geociências/UNICAMP, Campinas, SP, 1996.
6. ______. Novos rumos do trabalho: mudanças nas formas de controle e qualificação da força de trabalho brasileira. 2000. Tese (Doutorado) – DPCT/IG/UNICAMP, Campinas, SP, 2000.
7. CASTRO, Nadya Araújo de. Modernização e trabalho no complexo automotivo brasileiro: reestruturação industrial ou japanização de ocasião? In: CASTRO, Nadya Araújo de (Org.). A Máquina e o equilibrista: inovações na indústria automobilística brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
8. CATTANI, Antonio David. Trabalho e tecnologia: dicionário crítico. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes; Ed. da UFRGS, 1999.
9. CÉSAR, Paulo. Depoimento [entrevista realizada com trabalhador da esfera da Produção da American Company do Brasil em 2006]. Entrevistador: Geraldo Augusto Pinto. Campinas, SP: [s. n.], 2006. 2 cassetes sonoros (120 min.) [Arquivo pessoal do pesquisador].
10. CORIAT, Benjamin. Ohno e a escola japonesa de gestão da produção: um ponto de vista de conjunto. In: HIRATA, Helena Sumiko (Org.) Sobre o “modelo” japonês: automatização, novas formas de organização e de relações de trabalho. São Paulo: EDUSP, 1993. p. 79-91.
11. ______. Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho e organização. Rio de Janeiro: Revan; Ed. da UFRJ, 1994.
12. CURRY, James. The flexibility fetish: a review essay on flexible specialisation. Capital & Class, n. 50, summer 1993.
13. DEDECCA, Cláudio Salvadori. Reestruturação produtiva e tendências de emprego. In: OLIVEIRA, Marco Antônio (Org.). Economia & Trabalho: textos básicos. Campinas, SP, CESIT/IE; Ed. da UNICAMP, 1998. p. 163-186.
14. FLEURY, Afonso Carlos Corrêa. Rotinização do trabalho: o caso das indústrias mecânicas. In: FLEURY, Afonso; VARGAS, Nilton (Coord.) Organização do trabalho: uma abordagem interdisciplinar – sete estudos sobre a realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 1983. p. 84-106.
104
15. FRANCISCO, José. Depoimento [entrevista realizada com um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas em 2006. O nome usado aqui é fictício. Entrevistador: Geraldo Augusto Pinto Campinas, SP: [s. n.], 2006. 2 cassetes sonoros (120 min.) [Arquivo pessoal do pesquisador].
16. FREYSSENET, Michel. Formas sociais de automatização e experiências japonesas. In: HIRATA, Helena Sumiko (Org.) Sobre o “modelo” japonês: automatização, novas formas de organização e de relações de trabalho. São Paulo: EDUSP, 1993. p. 153-162.
17. GARRAHAN, P.; STEWART, P. Progress to decline? In: GARRAHAN, P.; STEWART, P (Edits.) Urban change and renewal: the paradox of place. Aldershot: Avebury, 1994.
18. GOUNET, Thomas. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999.
19. HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
20. HIRAOKA, L. Japanese automobile manufacturing in an American setting. Technological Forecasting and Social Change. Vol. 35, n. 1. March. 1989. p. 29-49.
21. JÁCOME RODRIGUES, Iram. Sindicalismo, emprego e relações de trabalho na indústria automobilística. In: ANTUNES, Ricardo (Org.). Neoliberalismo, trabalho e sindicatos. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 1998. p. 115-129.
22. LEITE, Elenice. Renovação tecnológica e qualificação do trabalho. In: CASTRO, Nadya Araújo de (Org.). A máquina e o equilibrista: inovações na indústria automobilística brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. p.159-177.
23. LIMA, Eurenice de Oliveira. O encantamento da fábrica: toyotismo e os caminhos do envolvimento no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2004.
24. MARCELINO, Paula Regina Pereira. A logística da precarização: terceirização do trabalho na Honda do Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2004.
105
25. MATTOSO, Jorge E. L. O novo e inseguro mundo do trabalho nos países avançados. In: OLIVEIRA, Carlos Alonso de et al. (Org.). O mundo do trabalho: crise e mudança no final do século. São Paulo: Ed. Página Aberta; Scritta, nov. 1994. p. 521-562. (Projeto Mercado de Trabalho, Sindicatos e Contrato Coletivo, MTb/PNUD, CESIT/IE/UNICAMP, FECAMP).
26. OHNO, Taiichi. O sistema toyota de produção: além da produção em larga escala. Porto Alegre, RS: Bookman, 1997.
27. OLIVEIRA, Dalila Andrade. A qualidade total na educação: os critérios da economia privada na gestão da escola pública. In: BRUNO, Lúcia (Org.). Educação e trabalho no capitalismo contemporâneo. São Paulo: Atlas, 1996. p. 57-90.
28. PINTO, Geraldo Augusto. Uma introdução à indústria automotiva no Brasil. In: ANTUNES, Ricardo (Org.) Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006. p. 77-92.
29. ______. A máquina automotiva em suas partes: um estudo das estratégias do capital nas autopeças em Campinas. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2007c.
30. ______. A organização do trabalho no século XX: taylorismo, fordismo e toyotismo. São Paulo: Expressão Popular, 2007a.
31. ______. Uma abordagem metodológica do tema reestruturação produtiva. Idéias, Campinas, SP, v. 14, p. 149-159, 2007b.
32. POSTHUMA, Anne Caroline. Japanese production techniques in Brazilian automobile components firms: a best practice model or basis for adaptation? In: SMITH, Chris; ELGER, Tony (Edits.). Global japanization? The transnational transformation of the labour process. London, New York: Routlegde, 1994. p. 348-377.
33. ______. Técnicas japonesas de organização nas empresas de autopeças no Brasil. In: CASTRO, Nadya Araújo de (Org.). A máquina e o equilibrista: inovações na indústria automobilística brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. p. 301-332.
34. QUADROS, Waldir José de. Crise do padrão de desenvolvimento no capitalismo brasileiro: breve histórico e principais
106
características. Campinas, SP: CESIT/IE/UNICAMP, 1991. (Cadernos do CESIT, textos para discussão n. 6).
35. RABELO, Flávio Marcílio. Automação, estrutura industrial e gestão da mão-de-obra: o caso da introdução de máquinas ferramenta com comando numérico na indústria metal mecânica. 1989. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 1989.
36. ______. Qualidade e recursos humanos na indústria brasileira de autopeças. 1994. Tese (Doutorado) – Instituto de Economia da – Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 1994.
37. RACHID, Alessandra. O Brasil imita o Japão? A qualidade em empresas de autopeças. 1994. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 1994.
38. ______. Relações entre grandes e pequenas empresas de autopeças: um estudo sobre a difusão de práticas de organização da produção. 2000. Tese (Doutorado) – Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2000.
39. RIBEIRO, Jorge. Depoimento [entrevista realizada como o gerente de Recursos Humanos da American Company do Brasil em 2005]. Entrevistador: Geraldo Augusto Pinto Campinas, SP: [s. n.], 2005. 9 cassetes sonoros (540 min.) [Arquivo pessoal do pesquisador].
40. RIQUELME, Graciela C. La Gestión de Calificaciones en un Contexto de Reestructuración Productiva Internacional. In: GITAHY, Leda (Org.). Reestructuración productiva, trabajo y educación en America Latina. Campinas, SP: IG/UNICAMP; RED CIID-CENEP: Buenos Aires, 1994. p. 153-170.
41. ROSANDISKI, Eliane Navarro. Reestruturação organizacional: uma avaliação a partir da estrutura do emprego do setor automotivo paulista – 1989-1994. 1996. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 1996.
107
42. SALM, Cláudio. Novos requisitos educacionais do mercado de trabalho. In: OLIVEIRA, Marco Antônio (Org.) Economia & Trabalho: textos básicos. Campinas, SP, CESIT/IE; Ed. da UNICAMP, 1998. p. 235-252.
43. SANTOS, Jair dos. Depoimento [entrevista realizada com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas em 2007]. Entrevistador: Geraldo Augusto Pinto. Campinas, SP: [s. n.], 2007. 2 cassetes sonoros (120 min.) [Arquivo pessoal do pesquisador].
44. SAYER, Andrew. New developments in manufacturing: the just-in-time system. Capital & Class, n. 30, winter 1986.
45. SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro, RJ: Record, 2002.
46. SHIROMA, Eneida Oto. Mudança tecnológica, qualificação e políticas de gestão: a educação da força de trabalho no modelo japonês. 1993. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 1993.
47. SILVA, Elizabeth Bortolaia. Refazendo a fábrica fordista: contrastes da indústria automobilística no Brasil e na Grã-Bretanha. São Paulo: Hucitec; FAPESP, 1991.
48. SINDIPEÇAS – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores; ABIPEÇAS – Associação Brasileira da Indústria de Autopeças. Desempenho do Setor de Autopeças: 2009. São Paulo: [s. n.], 2009.
49. SMITH, Tony. Flexible production and the capital/wage labour relation in manufacturing. Capital & Class, n. 53, summer 1994.
50. TAVARES, Maria da Conceição. Ajuste e reestruturação nos países centrais: a modernização conservadora. Economia e Sociedade, Campinas, SP: IE/UNICAMP, Scritta, n. 1, p. 21-57, ago. 1992.
109
DO TRABALHADOR DESCARTÁVEL À RE-EFETIVAÇÃO DO SER GENÉRICO:
um debate acerca do tempo disponível a partir da experiência dekassegui*
Fábio Kazuo Ocada*
INTRODUÇÃO
A repercussão da crise mundial do capitalismo entre aqueles que partiram rumo aos postos de trabalho das fábricas japonesas se apresenta como uma espécie de atualização dramática do ciclo de incerteza instaurado pela reestruturação produtiva, com o descarte de uma parcela crescente destes trabalhadores e a intensificação ainda maior do trabalho sobre aqueles que vêm permanecendo empregados.
Em meio a esta realidade, assiste-se à chegada de um considerável contingente de trabalhadores desempregados, iniciando um tortuoso processo de readaptação forçada ao contexto brasileiro. Do dia para a noite suas vidas foram novamente viradas de cabeça para baixo em razão das oscilações do mercado de trabalho e da queda da demanda por força de trabalho.
Uma angústia renovada emerge deste contexto, uma expectativa permanente em relação a esta condição provisória instaurada pela ordem social do capital em sua atual fase de desenvolvimento histórico neoliberal. Em grande medida, o silêncio que perpassa o movimento de chegada destes trabalhadores os assemelha àqueles combatentes da Primeira Guerra Mundial mencionados por Walter Benjamin – em Experiência e pobreza (1933) –, que retornavam silenciosos das
* Este artigo foi elaborado a partir da reunião de um conjunto de dados coletados para a elaboração da tese “A tecelagem da vida com fios partidos: as motivações invisíveis da emigração dekassegui ao Japão em quatro estações”; financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), sob orientação da Profª. Drª. Maria Aparecida de Moraes Silva, e defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da FCL-Unesp, Campus de Araraquara, em junho de 2006, para a obtenção do título de doutor. * Doutor em Sociologia pela UNES/Campus Araraquara e professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP/Campus de Marília.
110
trincheiras dos campos de batalha, “mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos.” (BENJAMIN, 1994, p.115).
Por trás da crise econômica objetivada em dados estatísticos referentes às diminuições das taxas de lucro e dos níveis de emprego, existe a experiência econômica vivenciada por estes sujeitos, vivência intraduzível, senão pelo silêncio de perplexidade diante da instabilidade da própria condição de existência, da subordinação radical às determinações do mercado de trabalho. Deste modo, o presente artigo propõe desenvolver uma breve reflexão acerca da imprescindibilidade da categoria trabalho e do tempo disponível, para a construção efetiva de uma vida dotada de sentido, não no ócio gerado pelo desemprego, mas a partir do próprio trabalho concebido não de forma abstrata, enquanto mercadoria, mas concretamente como atividade genérica produtora de valores de uso, com vistas à satisfação de necessidades humanas, sejam elas provenientes do estômago ou da fantasia.
O FETICHE DA TECNOLOGIA E A DESEFETIVAÇÃO DO SER GENÉRICO
Entre os jovens trabalhadores retornados do Japão, as conversas informais, ao mesmo tempo em que constroem imagens positivas da vida deixada para trás, trazem à tona uma realidade de trabalho estranhado, de intensa mobilidade e acentuado desgaste. Nesta forma historicamente determinada de trabalho, no qual o indivíduo não se apropria do resultado de sua atividade, a energia vital despendida torna-se própria do objeto. Esta fetichização do produto do trabalho estranhado é condicionada, portanto, pelo fato de que a energia vital despendida na atividade não foi apropriada pelo sujeito, mas pelo objeto, que, fetichizado, adquire uma posição de predominância sobre os próprios trabalhadores.
Por esta razão, os relatos dos momentos de descontração de muitos destes trabalhadores migrantes confundem-se com o consumo fetichizado de mercadorias, de objetos tão supérfluos e descartáveis quanto a própria força de trabalho empregada para produzi-los, quanto as próprias vidas tornadas mercadorias produtoras de valor, pela lógica da acumulação capitalista. Dentro deste universo, o entorpecimento por meio de entretenimentos e jogos eletrônicos é lícito e amplamente difundido entre crianças, trabalhadores jovens e adultos. Quando fora do local de
111
trabalho, dedicam grande parte do tempo livre e das economias a atividades inócuas e paralisantes relacionadas ao consumo.
Pelos cantos dos alojamentos e apartamentos de aluguel, avolumam-se os produtos, as mercadorias compradas durante as horas de folga. Freqüentemente, por ocasião do retorno ao país de origem, os inúmeros produtos adquiridos são encaixotados e despachados por via marítima ao Brasil. O grande volume de produtos supérfluos adquiridos contradiz flagrantemente, tanto com a instabilidade da condição de emprego, quanto com os escassos recursos financeiros trazidos por muitos destes trabalhadores após anos de trabalho.
Simultaneamente a este processo de subjetivação do produto do trabalho estranhado, o vínculo social entre os indivíduos assume a forma de “coisa”. A pobreza do trabalhador, enquanto mercadoria – força de trabalho –, não se resume numa pobreza estritamente material, mas também se traduz por um empobrecimento de seu mundo interior, uma limitação de todos os sentidos1 ao sentido de ter, ou seja, de possuir objetos.
Em relação a este fenômeno, desde o período de ascensão do nazismo ao poder, Benjamin (1994) já atentava para o surgimento desta nova forma de miséria surgida a partir deste monstruoso desenvolvimento da técnica sobrepondo-se aos seres humanos, segundo ele:
[...] a angustiante riqueza de idéias que se difundiu [...] sobre as pessoas, com a renovação da astrologia e da ioga, da Cristhian Science e da quiromancia, do vegetarianismo e da gnose, da escolástica e do espiritualismo, é o reverso dessa miséria (BENJAMIN, 1994, p.115).
Na relação do trabalho estranhado/alienado – mostra Silveira (1989) fundamentado na reflexão marxiana – cada indivíduo considera o outro segundo o critério e a relação na qual ele mesmo se encontra. O estranhamento interno ao próprio sujeito está implicado em sua relação estranhada com outros sujeitos. É a subjetivação do valor de troca operando como núcleo das relações intersubjetivas. No valor de troca, o vínculo social entre as pessoas transforma-se em relação social entre
1 “A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até
aqui.” (Marx, 2004, p.110).
112
coisas. Esse nexo social – o valor de troca – produz efeitos de um profundo desenraizamento sobre os indivíduos. Transforma a dependência pessoal em uma independência pessoal fundada na dependência com relação às coisas; numa dependência material em oposição à dependência pessoal. Esta independência é apenas uma ilusão que, segundo Silveira (1989), melhor seria designada como indiferença, mútua e generalizada. Esta dependência mútua e generalizada dos indivíduos reciprocamente indiferentes constitui o nexo social da sociabilidade capitalista, expressa no valor de troca.
Objetivados por este universo tecnológico da produção industrial e do consumo de mercadorias, muitos jovens trabalhadores no contexto da sociedade de consumo japonesa buscam evadir-se quando fora do trabalho, da única forma que lhes é assegurada, qual seja, no consumo de mercadorias dotadas de superioridade frente aos próprios trabalhadores, que, diante das prateleiras das lojas de departamento se detêm enfeitiçados pelo brilho luminoso dos monitores digitais portáteis, dos computadores, televisores, telefones celulares, jogos e demais aparelhos eletrônicos. Ofuscados pelas tecnologias informacionais em avançado estágio de desenvolvimento, tendem a perder de vista a necessidade urgente da mobilização política e da luta revolucionária. Atomizados, a possibilidade de superação da ordem social – mediante a efetivação da práxis orientada pelo entendimento conseqüente acerca da natureza histórica e contraditória da própria condição de classe – apresenta-se como algo impensável, impraticável.
A desefetivação do ser genérico do homem, mencionada por Marx (2004) em seus Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844) – traduz-se entre estes trabalhadores por uma naturalização da própria condição adversa, como um destino “inevitável”, intransponível. A relação estranhada com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo, aparece ao trabalhador, como algo inerente à própria “natureza humana”, uma percepção distorcida, desvinculada do entendimento do processo histórico efetivo, confinando-o a uma existência individualizada, esvaziada de sentido, presa ao trabalho estranhado, à ideologia do consumo e à ilusão de um tempo presente eternizado, como se o viver sempre, desde o início dos tempos, tivesse sido dessa maneira.
A despeito desta percepção distorcida de um presente contínuo, um quarto de século se passou efetivamente desde que teve início esta
113
emigração de trabalhadores dekassegui ao Japão. Com o acirramento da crise, do dia para a noite, muitas destas famílias depararam-se repentinamente com suas reais condições de existência, lançadas à própria sorte e forçadas a retornar ao Brasil em razão da diminuição das vagas de emprego neste mercado de trabalho completamente precarizado.
Em meio a esta conjuntura de crise estrutural do capital, como mostra Mészáros (2006), o desemprego vem se tornando uma característica dominante em todos os países, levando a uma crescente precarização das condições de trabalho e das formas de contratação pelo mundo todo; e gerando um imenso volume de insegurança, tanto entre os desempregados, quanto entre aqueles que, para assegurar a subsistência, continuam a encontrar quem compre sua força de trabalho. Como decorrência desta tendência mundial, o problema do desemprego já não se restringe apenas aos trabalhadores sem qualificação, mas atinge também um contingente crescente de trabalhadores qualificados. Ao mesmo tempo em que os principais setores da indústria expulsam um número cada vez maior de pessoas de seus processos produtivos tendem a prolongar as jornadas de trabalho entre aqueles que se mantém empregados.
AS DESCOMPENSAÇÕES PSÍQUICAS À LUZ DO CONCEITO DE
ESTRANHAMENTO
O trabalho transformado em mercadoria, na medida em que sua finalidade torna-se a ampliação da riqueza alheia, torna-se uma atividade danosa ao trabalhador, destruidora de suas faculdades genéricas espirituais livres. Em conformidade com esta afirmativa, o estudo de Dejours (1992) mostra que os processos de descompensação psicopatológica assumem duas formas principais: a primeira caracterizada por sintomas como, prostração, abatimento, desespero, depressão, alcoolismo e suicídio; a segunda marcada pelo impulso reacional de revolta desesperada, que resulta em atos de violência, depredação, vingança e sabotagem.
Tais descompensações, de acordo com o estudo, são mal conhecidas porque são ocultadas pelas direções das empresas. Os casos que se tornam públicos são raros. Toda vez que surge um caso nos veículos de informação, este se passa por “excepcional”. Embora as conseqüências
114
funestas deste trabalho estejam presentes por toda sociedade, somente esporadicamente ganham as páginas sensacionalistas dos jornais, onde são reduzidas à condição banalizada de informação desvinculada do contexto social das relações de trabalho; e desprovidas de análise teórica capaz de rearticulá-las criticamente a um nível de entendimento aprofundado das relações sociais.
O drama vivenciado pela família S., no município de Sertãozinho (SP), é ilustrativo desta questão. Conforme noticiado pelo jornal Folha de
São Paulo, do dia 18 de agosto de 2000, o ex-bancário M. Y. S., então com 33 anos de idade, foi preso após assassinar a própria mãe, a balconista N. S. (66 anos de idade), e tentar o mesmo com o pai, servindo-lhe um copo de leite envenenado. Segundo o depoimento prestado à polícia por um vizinho da família, conforme a reportagem, M. Y. S. vinha sofrendo de transtornos mentais, desde que retornara do Japão, há pouco mais de dois anos. Três meses antes do assassinato, havia sido internado num hospital psiquiátrico, em Ribeirão Preto, após uma tentativa frustrada de suicídio. No momento em que fora encontrado pela polícia, o ex-bancário e ex-trabalhador dekassegui, dopado, empreendia uma nova tentativa de suicídio, amarrado a uma corrente, no interior de uma piscina da casa da família.
O que a reportagem do jornal não menciona, porém, é que este episódio não constitui um caso isolado, excepcional, mas parte integrante da vida cotidiana numa sociedade subordinada à sociabilidade moldada pelo capital, no contexto da reestruturação produtiva. Fenômenos da mesma natureza também foram constatados por Yoshioka (1995), durante o período em que esteve no Japão, antes mesmo do auge da crise econômica. O trabalho realizado pelos médicos psiquiatras Itiro Shirakawa, da Escola Paulista de Medicina, e Décio Issamu Nakagawa, da Beneficência Nipo-Brasileira – “Migração e saúde mental no Brasil” (apud YOSHIOKA, 1995) –, dá uma idéia apenas aproximada da realidade cotidiana vivenciada por estes trabalhadores.
O estudo inicial realizado por eles, com 62 pacientes atendidos no ambulatório da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo e em consultório particular, no período de janeiro a maio de 1993 apresentou os seguintes quadros clínicos:
115
[...] 59 pacientes (95,1%) com características sindrômicas de esquizofrenia, ou distúrbio paranóide; dois pacientes (3,2%),[com] distúrbios depressivos; e um paciente (1,6%),[apresentando um] quadro epilético. Associados a esse quadro clínico, 44 pacientes (74,5%), apresentavam anorexia; 23 (38,9%), tendências suicidas; oito (13,5%), já haviam tentado o suicídio. Como conclusão do trabalho, os autores afirmam: “Apesar de se tratar de um primeiro estudo meramente descritivo, foi possível verificar que os dekasseguis vêm apresentando crises psiquiátricas em função de fatores estressantes, devido à desadaptação sócio-cultural [...] (YOSHIOKA, 1995, p.141-2).2
Embora as considerações tecidas pelos médicos psiquiatras desconsiderem a relevância do conceito de estranhamento (Entfremdung), todas estes dados acerca das descompensações psíquicas de trabalhadores retornados do Japão, apontam que as condições em que se encontram após o retorno, estão diretamente relacionadas à determinação de que o trabalhador se relaciona com o produto de seu trabalho, como com um objeto estranho. Portanto, a afirmação marxiana acerca das conseqüências desta “objetivação como perda do objeto” revela-se bastante atual.
Retomando assim a reflexão de Marx (2004), o trabalho estranhado faz do ser genérico do homem, tanto da natureza, quanto da faculdade genérica espiritual dele, um ser estranho a ele próprio. Estranha do homem o próprio gênero humano, seu próprio corpo, assim como a natureza fora dele, estranha sua essência espiritual, a sua essência humana. Uma conseqüência imediata de o homem estar estranhado do produto do seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser genérico é o estranhamento do homem pelo próprio homem. E se a reação generalizada entre os próprios trabalhadores diante destes acontecimentos é de indiferença e apatia, é porque na relação do trabalho estranhado, cada homem considera o outro, segundo o critério e a relação na qual ele mesmo se encontra como trabalhador.
2 Painel apresentado no 1º Simpósio de Psiquiatria Brasil-Japão, que precedeu o Congresso Internacional de Psiquiatria do Rio de Janeiro, e no Simpósio O futuro da comunidade nikkei, realizado em São Paulo no período de 6 a 7 de novembro de 1993 apud YOSHIOKA, 1995, p.141-2.
116
O DESCAMINHO DA NORMALIDADE SOFRENTE
Em meados da década de 1990, o estudo de Rifkin (1995), embora circunscrito à tese do “fim dos empregos”, indicava paradoxalmente que sob as práticas da produção toyotizada, o estresse dos trabalhadores vinha atingindo proporções alarmantes. O governo japonês, atento ao fenômeno recorrente, sobretudo, entre os trabalhadores da indústria automobilística, designou o termo karoshi para referir-se a uma nova doença relacionada à produção. O Instituto Nacional de Saúde Pública do Japão reconheceu oficialmente o karoshi como uma condição na qual as adversidades do trabalho industrial, são toleradas pelos trabalhadores, levando-os ao acúmulo de fadiga do corpo e a uma condição crônica de exaustão por excesso de trabalho, resultando em um esgotamento fatal.
Tendo em vista o mesmo fenômeno, o artigo de Sargentini (1996), publicado por volta deste mesmo período, também atentava para a situação dos trabalhadores no Japão. Anualmente, segundo seu artigo, cerca de dez mil pessoas tornam-se vítimas de “overdose de trabalho”. O diretor de uma Associação de Advogados, responsável pela defesa das famílias dos mortos por “overdose de trabalho”, declara que muitos trabalhadores, principalmente da indústria automobilística japonesa, vão a óbito em razão do karoshi, ou se suicidam vencidos pela depressão. Os casos de indenizações são raros e os sindicatos participativos não dispõem de meios eficazes para intervir na situação. Com a intensificação da crise econômica, a situação tende a piorar, pois as indústrias reduzem o número de trabalhadores, intensificando ainda mais o ritmo de trabalho.
Pesquisas na indústria automobilística mostram que o sofrimento daqueles que trabalham assumem formas novas e inquietantes. As inúmeras tentativas de suicídio, ou suicídios consumados, atestam o impasse psíquico criado pela falta de interlocutor que dê atenção àqueles que sofrem. A elevada taxa de suicídio é indicativa do acentuado nível de sofrimento presente na sociedade como um todo. No ano de 2003, no Japão, o número de suicídios já havia batido o recorde, superando, pelo sexto ano consecutivo, a casa dos 30 mil. De acordo com a Agência Nacional de Polícia, o número subiu 7,1%, em relação ao ano anterior e chegou a 34.427 casos de suicídio. Foram, em média, 34 casos de suicídio por dia, os principais motivos apontados são “problemas de saúde” (44,8%) ou dívidas (14,6%).
117
Segundo o depoimento de um advogado especializado em casos de saúde mental, Hiroshi Kawahito, um número cada vez maior de assalariados tem cometido suicídio, devido ao cansaço excessivo e ao estresse causado por reestruturações em suas empresas. A reportagem não especifica a porcentagem de imigrantes estrangeiros, mas chama a atenção para um significativo aumento de suicídios entre jovens. No ano de 2003, foram registrados, no Japão, 613 suicídios de pessoas com menos de 20 anos de idade, o que representa um aumento de 22,1%, em relação ao ano anterior. A elevada taxa de suicídio coloca o arquipélago entre os primeiros da lista de países com maior índice de suicídios.3
A organização do trabalho, comprovadamente, coloca em perigo a integridade física e psíquica dos trabalhadores. Conforme mostra o estudo da psicodinâmica do trabalho realizado por Dejours (2000), se, diante destas condições, o sofrimento não se faz acompanhar de descompensações psicopatológicas generalizadas, é porque em resposta a ele, os trabalhadores empregam “defesas” que lhes permitem relativo auto-controle. O conceito de ideologia defensiva refere-se a estas estratégias coletivas de defesa, colocadas em prática pelos trabalhadores, frente às condições reais de risco e perigo, inerentes ao trabalho. Nestas condições, portanto, se a maioria dos trabalhadores permanece na “normalidade”, é porque recorrem a estas estratégias coletivas de defesa.
Deste modo, ocorre uma inversão do problema, onde o próprio estado de “normalidade” torna-se enigmático. A “normalidade”, nesta problematização invertida por Dejours (1992), é interpretada como o resultado de uma composição entre o sofrimento e a luta (individual e coletiva) contra o sofrimento decorrente do trabalho. Normalidade, afirma o autor, não implica na ausência de sofrimento. Pelo contrário. A condição psíquica destes trabalhadores define-se por um estado de “normalidade sofrente”, resultante da dura luta contra a desestabilização psíquica provocada pelas pressões do trabalho. Estas estratégias defensivas cumprem um papel contraditório, pois ao mesmo tempo em que são necessárias à proteção da saúde mental, contra os efeitos destrutivos do sofrimento relacionado ao trabalho, podem também
3 “Suicídio bate recorde: mais de 34 mil se mataram no ano passado” (JORNAL NIPPO-BRASIL, 8 a 14 de setembro de 2004).
118
funcionar como uma armadilha que insensibiliza contra aquilo que faz sofrer, contribuindo para o acirramento da adversidade psicopatológica.
Paradoxalmente, os próprios trabalhadores tornam-se cúmplices da negação do real no trabalho, na medida em que esta negação torna-se condição necessária para suportar as condições objetivas impostas pela organização do trabalho. Se o indivíduo for capaz de construir defesas contra esse sofrimento, poderá manter seu quadro de normalidade e sua performance produtiva no contexto de suas atividades, o que não elimina, conforme Dejours (1992), o perigo inerente às condições reais de trabalho.
Entre os trabalhadores acometidos por distúrbios mentais, o diagnóstico mais freqüente, segundo o jargão da psiquiatria, foi a “Psicose Situacional Persecutória”. Segundo a descrição de Nakagawa (2002):
[...] eram pacientes confusos, agitados, sentindo que estavam sendo vigiados e perseguidos. Em vários serviços, esse quadro agudo era erroneamente diagnosticado [...] [como] surto esquizofrênico [...] (NAKAGAWA, 2002, p. 224).
De acordo com o médico psiquiatra, o trabalho clínico com estes migrantes retornados tem revelado também um “quadro confusional transitório”, desencadeado a partir da chegada ao Brasil. Este quadro transitório denominado “Síndrome do Regresso”, costuma se manifestar mais claramente entre pacientes que estiveram por mais de seis meses no Japão e apresenta os seguintes sintomas: “Dispersão do pensamento; Distanciamento afetivo; Grande sensibilidade às diferenças; Tendências autodestrutivas; e Tendência a reencetar viagem ao Japão” (NAKAGAWA, 2002, p.224).
O TEMPO DISPONÍVEL E A ATIVIDADE DO SER GENÉRICO
Dentro deste contexto de degradação das condições de existência posta pelo capital, segundo Mészáros (2006), as lutas trabalhistas pela redução das jornadas e da semana de trabalho assumem uma importância estratégica, pois, o resultado esperado do enfrentamento desse desafio é o imperativo de fazer do trabalho algo significativo, por meio de uma reapropriação do tempo livre. Numa escala crescente, segundo o autor, o sistema produtivo do capital cria o “tempo supérfluo” na sociedade como
119
um todo, ao mesmo tempo em que não pode reconhecer a existência desse tempo excedente, socialmente produzido, como algo potencialmente criativo, como “tempo disponível” do qual todos dispõem e que poderia ser utilizado para a realização de muitas das necessidades humanas.
As incompatibilidades radicais que ocorrem entre a ordem social existente e aquela na qual seres humanos estão no controle da sua atividade essencial, incluem a questão do “tempo livre”. O conceito de “tempo disponível”, tomado no seu sentido positivo e libertador, é inseparável da consciência e da necessidade fundamental de viabilizar e adotar um modo de controlar a própria reprodução sociometabólica, com base no tempo disponível e não no “tempo necessário” (MÉSZÁROS, 2006).
Para Mészáros (2006), esse é o objetivo ao qual é preciso dedicar-se, para efetivamente lidar com o problema do desemprego: uma alternativa estratégica que regulamente a reprodução social metabólica, com base no tempo disponível. Qualquer tentativa de introduzir o tempo disponível como o regulador dos intercâmbios sociais e econômicos atuaria, segundo o autor, como dinamite social, fazendo explodir a ordem reprodutiva estabelecida, pois o capital é incompatível com o tempo livre utilizado autonomamente e de forma significativa por indivíduos sociais livremente associados. .
Com vistas à elaboração de uma resposta a este cenário de “precarização da vida”, conforme Vasapollo (2006), é necessário considerar a riqueza e a miséria do trabalho para além de sua dimensão estritamente econômica. Neste sentido, o objetivo desta reflexão consiste, assim, em problematizar o debate em torno da redução da jornada de trabalho e do trabalho baseado no tempo disponível, trazendo à tona a preocupação com a dimensão qualitativa do trabalho, tendo por fim avançar no conhecimento desta dimensão estruturante do trabalho concreto, produtor de valores de uso – a “essência positiva da propriedade privada e [...] a natureza humana da carência [...]” (MARX, 2004, p.105) –, voltado tanto à satisfação das necessidades materiais e espirituais do indivíduo e do grupo, quanto à constituição de uma vida dotada de sentido.
120
Para este fim, a importância central da categoria trabalho, conforme defendido por Antunes (2000), reside no fato de que ela se constitui como fonte originária, primária, de realização do ser social, uma “protoforma da atividade humana” e “fundamento ontológico básico da omnilateralidade humana”. Esta definição da categoria trabalho, conforme adverte o autor, não se refere ao trabalho caracterizado pelo estranhamento – que se generalizou juntamente com a expansão das relações capitalistas de produção e que vem levando os trabalhadores ao esgotamento psíquico e ao karoshi –, mas ao trabalho como criador de valores de uso, ou seja, o trabalho em sua dimensão concreta, como atividade vital, “necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio entre o homem e a natureza” (ANTUNES, 2000, p.167).
Quando se toma como ponto de partida essa formulação, segundo Antunes (2000), torna-se problemático advogar em defesa da tese do “fim da centralidade do trabalho”. A “crise da sociedade do trabalho abstrato”, segundo o autor,
não pode ser identificada como sendo nem o fim do trabalho assalariado no interior do capitalismo [...] nem o fim do trabalho concreto, entendido como fundamento primeiro [...] da atividade humana [...] Fazer isso é [...] desconsiderar [...] a distinção marxiana entre trabalho concreto e trabalho abstrato [...]” (ANTUNES, 2000, p.168).
Para o entendimento desta dimensão concreta do trabalho, Marx (2004) já atentava, desde antes do término da primeira metade do século XIX, para a universalidade do trabalho como atividade genérica mediadora da relação dos seres humanos com a natureza. A atividade vital consciente, segundo ele, distingue imediatamente o homem da atividade vital animal, razão pela qual é possível defini-lo como ser genérico. Precisamente por ser um ser genérico, sua própria vida lhe é objeto.
Assim, explica Marx (2004), o homem desenvolve-se enquanto um ser genérico na medida em que faz do próprio gênero e do restante das coisas, o seu objeto; e também quando se relaciona consigo mesmo como gênero vivo, como um ser universal, por isso livre. Deste modo, a própria concepção de liberdade presente no pensamento marxiano, está associada à qualidade genérica do ser humano, “sua própria vida lhe é objeto”, eis porque a sua atividade torna-se atividade livre. A universalidade do
121
homem enquanto ser genérico aparece precisamente na universalidade que faz da natureza inteira o seu corpo inorgânico. A natureza, afirma o autor, “é o corpo inorgânico do homem [...] com o qual ele deve ficar num processo contínuo para não morrer [...]” (MARX, 2004, p.84). É ela quem oferece os meios de subsistência física ao trabalhador, constituindo-se na própria matéria sobre a qual o seu trabalho se efetiva, de modo que nada pode ser criado sem ela.
Em razão desta estreita vinculação, a vida física e mental dos seres humanos, mostra o autor, está interconectada com a natureza e, neste sentido, a natureza está interconectada consigo mesma, pois “o homem é uma parte da natureza”; de modo que a própria história constitui parte efetiva da história natural. No devir deste processo, a indústria constitui a relação histórica efetiva da natureza com o homem;4 e quando, no interior dela, as relações capitalistas de produção se apropriam sistematicamente dos produtos de sua atividade genérica retiram-lhe sua efetiva objetividade genérica, revertendo sua vantagem com relação às demais formas de vida, na desvantagem de lhe ser retirado o seu corpo inorgânico, ou seja, a natureza.
Enfim, a relevância destas considerações para o entendimento da adversidade social vivenciada atualmente pelos trabalhadores dekassegui em particular e por todos os trabalhadores em geral, reside na objetivação de um importante ponto de reflexão para a superação consciente do estranhamento-de-si humano – expresso pelos inúmeros casos de transtornos psíquicos, suicídios e mortes por excesso de trabalho –, qual seja, a proposição efetiva de uma mobilização, não em torno de reivindicações salariais, ou em defesa da simples regulamentação do emprego, mas de uma atividade genérica baseada no tempo disponível – gerado como “tempo supérfluo” pelo próprio sistema produtivo do capital –, um trabalho com vistas à reapropriação de uma vida dotada de sentido humano e portanto social, enquanto ser para si, universal e livre.
REFERÊNCIAS:
1. ANTUNES. R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2000.
4 “...a indústria é a relação histórica efetiva da natureza e, portanto, da ciência natural com o homem.” (Marx, 2004, p.112)
122
2. BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.
3. DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez, 1992. 168p.
4. DEJOURS, C. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: FGV, 2000. 158p.
5. JORNAL NIPPO-BRASIL, 8 a 14 de setembro de 2004, p. 3B.
6. MARX, K. Manuscritos Econômicos-Filosóficos. (Tradução e notas Jesus Ranieri) São Paulo: Boitempo Editorial, 2004.
7. MÉSZÁROS, I. Desemprego e precarização: um grande desafio para a esquerda. In: ANTUNES, R. (org.) Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006, p.27-44.
8. NAKAGAWA, D. I. Migração e saúde mental. In: CARIGNATO, T. T.; ROSA, M. D.; FILHO, R. A. P.(orgs.). Psicanálise, Cultura e Migração. São Paulo: YM Editora e Gráfica, 2002, p.221-5.
9. SILVEIRA, P. Da alienação ao fetichismo – formas de subjetivação e de objetivação. In: SILVEIRA, P. & DORAY, B. (orgs). Elementos para uma teoria marxista da subjetividade. São Paulo: Vértice, 1989, Enciclopédia Aberta da Psique, p.41-76.
10. VASAPOLLO, L. O trabalho atípico e a precariedade: elemento estratégico determinante do capital no paradigma pós-fordista. In: ANTUNES, R. (org.) Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006, p.45-58.
11. YOSHIOKA, R. Por que migramos do e para o Japão. São Paulo: Massao Ohno, 1995. 180p.
123
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E ESTADO NEOLIBERAL
Edilson José Graciolli* Paulo Vinicius Lamana Diniz**
Este texto tem por objetivo analisar a relação existente entre a chamada “Responsabilidade Social Empresarial” (RSE) – uma nova forma de intervenção sócio-politica, em que empresas, através de institutos e fundações, passam a se ocupar do trato da “questão social”1 – e a sociedade política (Estado no sentido estrito) de configuração neoliberal, marcada por um constante afastamento e descomprometimento orçamentário quanto à questão social. A ênfase dada à sociedade política não é aleatória e constitui-se justamente uma das dimensões centrais da pesquisa empírica que deu origem ao que aqui é apresentado.2
No momento de racionalização e aprofundamento do padrão de desenvolvimento neoliberal no Brasil, que implicou uma nova maneira de
* Doutor em Ciências Sociais pela UNICAMP e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: [email protected] ** Mestrando em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, onde concuiu a Graduação em Ciências Sociais. E-mail: [email protected] 1 A “questão social” é entendida neste artigo como sendo expressão da desigual participação na distribuição da riqueza social que o capitalismo como modo de produção específico funda. É uma dimensão da dialética do desenvolvimento societal capitalista, impossível de ser verdadeiramente solucionada nos marcos que o balizam, exatamente por ser expressão da contradição capital x trabalho. São os problemas que conhecemos das sociedades urbano-industriais respondidos – num primeiro momento por via estritamente repressiva - através de “políticas públicas” (políticas de Estado para esses fenômenos) referentes à moradia, alimentação, saúde, educação, previdência, seguridade social, etc. Só se tem um padrão (uma lógica) de resposta/trato a ela de maneira relativa, condicionado para melhor ou para pior pelo desenvolvimento da luta de classes, ou seja, pelo grau de combatividade (organização e confrontação) de uma classe sobre a outra, ou, de forma mais precisa, pelo arranjo existente entre as frações de classe, seja no bloco no poder, seja em termos de aliança ou apoio ao bloco no poder. 2 Referimo-nos à pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, mediante o convênio Dipoc 176/04 com a Universidade Federal de Uberlândia, intitulada Responsabilidade Social Empresarial, sociedade política e disputa por hegemonia, da qual, além dos autores deste capítulo, participaram os discentes Marcílio Rodrigues Lucas e Rafael Dias Toitio, que publicaram, respectivamente, como co-autores os artigos “Terceiro setor” e ressignificação da sociedade civil, na Revista Margem Esquerda, 13:100-116, maio de 2009, e “A responsabilidade social empresarial como aparelho de hegemonia, na Revista Lutas Sociais”, 21/22: 166-178, junho de 2009.
124
comportamento do Estado com relação à questão social, empresas passaam a ter, através de institutos e fundações, forte e articulada atuação, sendo claramente funcionais a este movimento. Nesse processo a questão do controle social evidencia-se. Tanto Estado quanto empresas, cada um a sua maneira, preocupam-se com a questão social. Isto porque o aparente (ou relativo) consenso de que o Estado deve ser o principal agente de trato à questão social, ainda que ecoe no discurso de alguns ideólogos do Estado e de parcela da sociedade civil, vem se dando de outra forma. Parece haver agora outro consenso: um acordo com vistas à legitimação do poder social (do capital) e do projeto de sociabilidade das empresas quanto ao tratamento dos fenômenos englobados pela chamada questão social.
Não negamos as interações dialéticas e mútuas influências entre sociedade civil e sociedade política, mas destacamos a relação que dá título a esta reflexão. Para isto foi necessário analisar o período que alguns autores consideram como sendo de racionalização neoliberal no país: o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 1995 a 2002. Por meio dos Cadernos 1 e 2 da Reforma do Estado desenvolvido pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – a MARE (BRASIL, 1998), dirigido por Luiz Carlos Bresser Pereira nos dois mandatos do governo FHC, podem ser entendidos os fundamentos do discurso e das práticas que passaram a ser implementadas pela sociedade política, com vistas à consolidação de uma nova cultura política em oposição à gestada na década de 80. O neoliberalismo implantava uma nova postura tanto do Estado quanto das empresas com relação à intervenção social, processo que se evidencia através das propostas de ação e política estatais formuladas no período.
Iniciamos pela tentativa de compreender o contexto em que emerge a RSE, forma contemporânea de as empresas, por meio de seus institutos e fundações, intervirem na questão social. Ela é ao mesmo tempo prática e discurso. Surgiu no Brasil em meados da década de 1990.
A possibilidade real de entendimento do Estado e suas políticas (especificamente as relacionadas à questão social) devem ser encadeadas através da explicitação das determinações mais gerais do capitalismo contemporâneo. Levando em consideração, sempre, que a produção e reprodução material da existência são os fatores ontologicamente primários na explicação da história, implicando a produção e reprodução
125
das relações sociais globais, logra-se a compreensão das formas de ser do Estado em cada conjuntura e particularidade capitalista.
De acordo com alguns autores, o capitalismo, principalmente pós década de 1970, vem tentando dar respostas a sua crise, a de se enfrentar a tendência de queda da taxa de lucro.
O capital, visando escapar dessa tendência, dá respostas por meio de reestruturações produtivas, que são a política do capital na esfera produtiva, jamais podendo ser vistas como start mecânico e suficiente para tantas e significativas modificações em outros planos. Todo o processo de reestruturação do capital implica uma ofensiva com vistas a aumentar a produtividade do trabalho para atingir novos (ou retomar antigos) patamares de lucratividade. As formas dos capitalistas se adaptarem a essa lei individualmente variam de caso para caso, empresa para empresa e não implicam mecanismos meramente econômicos (de reestruturação produtiva), como uma nova plataforma ou parque industrial. Obviamente, o capital e sua reestruturação supõem, para além dos aspectos “técnicos” e de gestão da força de trabalho, toda uma complexa indumentária político-ideológica - uma nova maneira interna e externamente aos espaços de trabalho -, imprescindível às transformações capitalistas em curso. A reestruturação do capital em escala global é um dos pontos que nos possibilita entender a RSE.
De acordo com Antunes (1999), a crise capitalista do pós 1970 teve seis principais razões: a) uma queda da taxa de lucro decorrente do aumento do preço da força de trabalho conquistado, principalmente, pela intensificação das lutas sociais dos anos 1960; b) o esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de produção; c) a hipertrofia da esfera financeira que ganhava relativa autonomia frente aos capitais produtivos; d) a maior concentração de capitais graças às fusões entre as empresas monopolistas; e) a crise do welfare state e de seus mecanismos de funcionamento, acarretando a crise fiscal do Estado capitalista e a necessidade de retração dos gastos públicos e sua transferência para o capital privado; e f) incremento acentuado das privatizações, tendência generalizada às desregulamentações e à flexibilização dos processos produtivos, dos mercados e da força de trabalho.
Isso consolidou o projeto de sociabilidade capitalista neoliberal, resultado e resultante do processo de reestruturação, e, portanto, de
126
resposta à crise do capital como relação social global. De acordo com Petras (1997 p. 36), “Neoliberalismo é uma forma histórica de capitalismo”. A caracterização do capitalismo contemporâneo como neoliberal leva-nos a investigar a forma de ser do Estado que lhe é correspondente.
Como maneira de conceber as relações políticas institucionais (aquilo que cabe ou não ao Estado), o neoliberalismo move-se principalmente pela tese do Estado mínimo, que visa à redução do tamanho, papel e funções do Estado e faz apologia do mercado, mostrado como o melhor e mais eficiente mecanismo de organização e alocação de recursos na sociedade.
O diagnóstico dos ideólogos neoliberais acerca da necessidade de tornar o Estado mínimo para a questão social, antes não levado a sério (década de 1940), começou a ser aceito no movimento de crise estrutural do capital. As teses neoliberais passaram a balizar a prática real de governos e tornaram-se o receituário político a ser seguido em escala planetária (Cf.: ANDERSON, 1996 e MORAES, 2001). O processo não se deu de forma homogênea, sem contradições ou seguindo à risca as recomendações dos teóricos neoliberais, mas a partir da realidade singular de cada país. Como afirma Saes (2001 p. 83) “os Estados capitalistas atuais praticam o neoliberalismo possível nas condições socioeconômicas e políticas vigentes”.
Porém, apesar das políticas neoliberais assumirem particularidades concretas em cada Estado-nação, podemos caracterizar, de forma geral, as políticas neoliberais:
[...] nessas condições histórico concretas, as políticas estatais inspiradas no liberalismo econômico têm necessariamente de: a) ser vazadas em termos gradualistas (é politicamente inviável uma radical “revolução” liberal dentro das sociedades capitalistas atuais); b) configurar-se como ação reformista afirmativa de desmonte da política estatal anterior. Uma análise política que leve em consideração tais ponderações não reservará o qualificativo “neoliberal” tão-somente às políticas estatais que se formarem integralmente com os princípios econômicos defendidos por autores como F. Hayek ou Milton Friedman. Será considerada neoliberal toda ação estatal que contribua para o desmonte das políticas de incentivo à independência econômica nacional, de promoção do bem-estar social (welfare state), de instauração do
127
pleno emprego (keynesianismo) e de mediação dos conflitos socioeconômicos (SAES, 2001, p. 82).
O desmonte caracteriza-se por três políticas estatais específicas: privatização, desregulamentação dos direitos sociais e abertura econômica ao capital internacional. Essas políticas têm como conseqüência uma mudança no padrão de intervenção do Estado. Para Saes,
[...] Toda operação de desmonte tem custos nada desprezíveis. A desativação das políticas de independência econômica nacional, de bem-estar social, de pleno emprego e de mediação dos conflitos socioeconômicos tende a suscitar a hipertrofia da ação regulamentadora do Estado e, correlatamente, a montagem de uma infra-estrutura específica de apoio a essa modalidade de ação (SAES, 2001, p. 82).
Há, portanto, uma necessidade de se formar uma infraestrutura específica de apoio ao desmonte, ou seja, desmonta-se algo montando-se correlatamente um novo arranjo inclusive quanto ao tratamento da “questão social”. A nova forma de trato à questão social que emerge no neoliberalismo brasileiro via “terceiro setor”3 (em que a RSE se insere), nada mais é do que uma infraestrutura de apoio que visa minimizar os impactos da barbárie capitalista num momento em que se desmontam as políticas sociais estatais.
De maneira geral, na literatura sobre o assunto é consensual que os anos de 1990 correspondem ao período de aprofundamento e consolidação do padrão de desenvolvimento neoliberal em território nacional. Neste marco temporal o Estado brasileiro teve sua configuração revista, modificada e racionalizada para um novo padrão de desenvolvimento capitalista e, portanto, de intervenção no social. A década de 1990 no país alavancou e fomentou uma nova lógica de tratamento da “questão social” - lógica que corresponde a um desmonte, à ruptura de um processo, ainda que tímido, de expansão dos direitos sociais que vinha da Constituição de 1988.
3 Para os que endossam a tese da existência de um terceiro setor, este estaria à parte de Estado e mercado, não lucrativo e voltado para o atendimento público. Nossa perspectiva não corrobra tal tese. Para uma crítica radical à noção de “Terceiro Setor”, ver Montaño (2002) Lucas (2009) e Toitio (2009).
128
Para entendermos a constituição de uma nova lógica de trato da questão social faz-se necessário compreender a lógica anterior. De acordo com Montaño (2002, p. 29) o neoliberalismo “procura reverter as reformas desenvolvidas historicamente por pressão e lutas sociais dos trabalhadores, tendo seu ponto máximo expresso na Carta de 1988.” A Constituição de 1988 foi a cristalização de um movimento amplo por redemocratização da sociedade e de luta de classe ascendente no país em que universalizaram-se direitos básicos, fundamentando um tipo de cidadania mais elevada que de outros períodos da história brasileira. Nesse sentido, ela representou uma vitória relativa das classes trabalhadoras, firmando objetivamente uma nova postura e conduta por parte do Estado com relação aos direitos sociais. As lutas da década de 1980 no Brasil engendraram uma cultura política combativa e reivindicadora de direitos sociais. Por esta razão, tal década no Brasil – que alguns teóricos e parte da mídia chamam de perdida - é vista por Moraes (2001, p. 65) como uma década de espaços conquistados em que o processo de “redemocratização controlada” não conseguiu evitar intrusos (organização sindical, movimentos populares, manifestações de massa etc) possibilitando e colocando na agenda política, ainda que de maneira não tão sólida - tendo como parâmetro de direitos e seguridades sociais no capitalismo o welfare state europeu -, uma prevalência e reforço da “lógica do público”4 (do Estado em sentido estrito) acerca da questão social.
O neoliberalismo e sua racionalização no país impulsionaram cada vez mais a ruptura do processo mencionado, favorecendo um refluxo do Estado junto às áreas sociais, fundando uma nova cultura política no país, isto é, uma ressignificação da política. Inversamente ao ocorrido na década de 1980, ocorreu um processo de desresponsabilização do Estado em termos de educação, saúde etc. Segundo Moraes (2001), as políticas sociais então passaram a ser influenciadas por outros lemas: focalização, ao substituir a política de acesso universal pelo acesso seletivo; descentralização e privatização, processos que andam na maioria das vezes juntos, ao transferir suas competências para as coletividades locais (sociedade civil).
4 Não concebemos o Estado como neutro diante das classes sociais, mas reconhecemos que direitos sociais conquistados e firmados pelo Estado têm maiores possibilidades de ampliação (universalização), horizonte rechaçado pela lógica do privado (mercado).
129
A racionalização neoliberal no país imprimiu um movimento na sociedade política de subsidiar os caminhos para a privatização do público (bens e serviços públicos) e publicização do privado (do mercado e das empresas), ou seja, transformar o que resta de público em privado.
De acordo com Antunes (2004, p. 1) “O neoliberalismo iniciado com Collor5, de modo aventureiro, encontrava com FHC uma nova racionalidade visando pavimentar os caminhos do neoliberalismo no país”. A racionalização do projeto neoliberal encampada por esse governo forneceu o entendimento concreto da lógica de privatização do público e publicização do privado (que podemos chamar de ampliação das empresas) em que se reconfigurou o tratamento dispensado à questão social, ajudando a selar uma nova cultura política no país.
Optamos por fazer a discussão da racionalização do projeto neoliberal através da concepção de reforma do Estado presente no governo FHC. Tal concepção encontra-se em A Reforma do Estado dos
anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle de Luiz Carlos Bresser Pereira6, texto fundamental desse período. Nele encontramos o substrato da redefinição das relações entre sociedade política e sociedade civil, e, ainda que não a totalidade, boa parcela da sociedade política (e também da sociedade civil) convergiu à aplicabilidade e ideologia nele presentes. Tal discurso, como veremos, realiza uma operação, ainda que indireta, com vistas à ampliação da lógica empresarial no que tange ao objeto de análise deste texto.
Para Bresser, “a grande tarefa política dos anos 1990 é a reforma ou a reconstrução do Estado” (PEREIRA, 1997, p. 7) e sua explicação para tal fato decorre da constatação de que “A Grande Crise Econômica dos Anos 80 teve como causa fundamental a crise do Estado – uma crise fiscal do Estado, uma crise de intervenção do Estado no econômico e no social, e uma crise da forma burocrática de administrar o Estado” (PEREIRA, 1997, p. 9). Objetivando superar esses problemas, Bresser redige seu plano de Reforma do Estado. Segundo suas convicções, ele
5 Fernando Collor de Mello, eleito em 1989 à presidência da República. Candidato pelo PRN (Partido da Reconstrução Nacional) foi empossado em 1990. Em 1992 sofreu processo de impeachment, sendo substituído pelo vice Itamar Franco cujo mandato se encerrou em 1994. 6 Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro da fazenda em 1987, ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) entre 1995 e 1998 e ministro da ciência e da tecnologia entre 1999 e 2002.
130
comporia uma frente intitulada “social-liberal” apta a desenvolver este novo tipo de Estado que não é o “Neoliberal sonhado pelos conservadores” (PEREIRA, 1997, p.18) e nem o Social-Burocrático que entrou em crise. Seria prudente indagarmos sobre essas considerações pois, ao lermos com mais cuidado todo texto, percebemos que seu “social-liberalismo” é uma forma de Estado neoliberal. O próprio autor responde:
O princípio geral é o de que será preferível o mecanismo de controle que for mais geral, mais difuso, mais automático. Por isso o mercado é o melhor dos mecanismos de controle, já que através da concorrência obtêm-se, em princípio, os melhores resultados com os menores custos e sem a necessidade do uso do poder, seja ele exercido democrática ou hierarquicamente. Por isso a regra geral é a de que, sempre que for possível, o mercado deverá ser escolhido como mecanismo de controle (PEREIRA, 1997, p. 37).
Por erigir o mercado como a melhor instância de regulação social para a sociedade, e colocá-lo como superior a outras formas e mecanismos de controle social, Bresser não rompe em nada com o que ele chama de direita neoliberal ou neoliberalismo conservador. Mas afinal, o que então diferencia o neoliberalismo conservador (radical) do social-liberalismo? Somente a adjetivação “conservador”. Se os neoliberais radicais acreditam no pleno controle da economia pelo mercado; na necessidade de privatizar, liberalizar, desregular, flexibilizar os mercados de trabalho, de forma radical, em que o Estado limitar-se-ia a garantir a propriedade e os contratos desvencilhando-se de todas as suas funções de intervenção no plano econômico e social nacional, o neoliberalismo dos social-liberais seria menos “radical” (na verdade, menos fundamentalista), pois, segundo postulam, preocupam-se com a questão social (proteção dos direitos sociais) e com a promoção do desenvolvimento econômico nacional. Será?
Em seu próprio escrito, Bresser entra em uma situação paradoxal (e podemos mesmo mencionar, contraditória). Na nota 09 de A Reforma do
Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle, o autor afirma que há uma clara relação entre o conceito de Estado Social-Liberal e o workfare state de Shumpeter, já que este último promove inovação em economias abertas e subordina a política social às necessidades da flexibilização dos mercados e às exigências de competição internacional.
131
Ora, como conciliar então direitos sociais com a necessidade de flexibilização dos mercados e competição internacional? Como sustentar que a sociedade política ainda está preocupada com um tratamento de qualidade - público, gratuito e universal, capaz de se constituir em direito - à questão social? Não está. A rigor, o social-liberalismo é um neoliberalismo mais cínico, dotado de algumas mediações importantes, que constituirão todo seu aspecto nebuloso na tentativa de explicar o refluxo do Estado a esse respeito.
Um dos principais pontos para alcançar os objetivos da Reforma é delimitar a nova maneira e áreas de atuação do Estado. Para Bresser, reformar o Estado “significa, antes de mais nada, definir seu papel, deixando para o setor privado e para o setor público não-estatal as atividades que não lhe são específicas.” (PEREIRA, 1997, p. 22). As atividades exclusivas são aquelas em que o “poder de Estado” é exercido, tais como legislar, regular, julgar, policiar, fiscalizar, definir políticas, fomentar. Entre as atividades não-exclusivas de Estado estão aquelas que não envolvem “poder de Estado”,
[...] entre as atividades exclusivas de Estado e a produção de bens e serviços para o mercado, temos hoje, dentro do Estado, uma série de atividades na área social e científica que não lhe são exclusivas, que não envolvem poder de Estado. Incluem-se nesta categoria as escolas, as universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, as creches, os ambulatórios, os hospitais, entidades de assistência aos carentes, principalmente aos menores e aos velhos, os museus, as orquestras sinfônicas, as oficinas de arte, as emissoras de rádio e televisão educativa ou cultural, etc.. [...] (PEREIRA, 1997, p. 25).
Com a noção de “atividades não-exclusivas” retira-se da órbita da sociedade política a “exclusividade” (que a leitura crítica deve ler como obrigação do Estado - obrigação resultante sempre de um intenso processo de luta de classes) - no trato da questão social, supostamente por serem atividades “competitivas”, isto é, “não envolvem poder de Estado”. Claramente o que se arquiteta é o condensamento da sociedade política no seu núcleo estratégico, naquilo que têm de caráter mais repressivo, policial e servil aos interesses capitalistas (principalmente os financeiros), reais funções do Estado (sentido estrito) numa sociedade de classes. Ainda Bresser:
132
Nestes termos não há razão para que estas atividades permaneçam dentro do Estado, sejam monopólio estatal. Mas também não se justifica que sejam privadas - ou seja, voltadas para o lucro e o consumo privado - já que são, freqüentemente, atividades fortemente subsidiadas pelo Estado, além de contarem com doações voluntárias da sociedade (PEREIRA, 1997, p. 25).
O aparente paradoxo a respeito do tratamento da questão social revelado na passagem acima, qual seja, o de que o Estado não pode se ocupar dela, pois fora relegada à atividade “não exclusiva”, e de que tão menos seja privada (voltada para o lucro e consumo privado), é resolvido, ao menos teoricamente, com sua noção de publicização. Esta fórmula mágica de Bresser Pereira se enraíza num conceito extremamente problemático advindo da compreensão do autor de que no capitalismo contemporâneo há uma terceira forma de propriedade além da propriedade privada e da propriedade estatal: a propriedade “pública não-estatal”. Se,
definirmos como público aquilo que está voltado para o interesse geral, e como privado aquilo que é voltado para o interesse dos indivíduos e suas famílias, está claro que o público não pode ser limitado ao estatal, e que fundações e associações sem fins lucrativos e não voltadas para a defesa de interesses corporativos mas para o interesse geral não podem ser consideradas privadas (PEREIRA, 1997, p. 25-26).
Essa representação afirma haver uma forma de propriedade definida pelo critério da utilidade. O efeito político dessa tese é a eliminação do debate de que fundações e associações “voltadas para o interesse geral”, “sem fins lucrativos”, são também formas de propriedade privada e ou estatal. Ao dizer que se o uso da propriedade for voltado para o interesse geral (que não é senão outra abstração) estaremos frente a uma propriedade pública não-estatal, anula-se a discussão e se oculta que se trata de um processo de privatização da questão social. Por isso, para Bresser, o projeto de Estado para a questão social “não implica em privatização, mas em publicização - ou seja, em transferência para o setor público não-estatal.” (1997, p. 25). Defende-se, então, a: transferência dos serviços para as propriedades que não sejam estatais e que se voltem
133
para o interesse geral (suposta garantia de não haver finalidades lucrativas).
Para além das aparências, a noção de publicização constitui-se numa teorização política e ideológica que pavimenta e fomenta pelo Estado (sociedade política) uma nova cultura política na sociedade: a da desresponsabilização, restrição e minimização do Estado para as questões sociais; ou, de outra maneira, do tratamento focalizado, privado, setorializado e não constitutivo de direito pela sociedade civil. Expressão disto é o chamado “Terceiro Setor”.
O “terceiro setor”, para os signatários da tese de sua existência, se diferencia da lógica estrita de Estado (público com fins públicos) e da lógica estrita de mercado (privado com fins privados, leia-se lucrativos). De acordo com Costa & Visconti (2001, p. 04),
O terceiro setor constitui-se na esfera de atuação pública não-estatal, formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. Nesta definição, agregam-se, estatística e conceitualmente, um conjunto altamente diversificado de instituições, no qual incluem-se organizações não governamentais, fundações e institutos empresariais, associações comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, assim como várias outras instituições sem fins lucrativos.
Toda teorização realizada por Bresser consolida pela sociedade política o “Terceiro Setor” como espaço legítimo e bem quisto para o tratamento da questão social. O movimento de promoção, estímulo e ida ao “Terceiro Setor” e não ao Estado para o tratamento da questão social é o que fica confirmado inclusive em um dos tópicos do caderno MARE nº. 02, intitulado “A crise do Estado e o Movimento em Direção ao Terceiro Setor”, em que se critica a capacidade de ação do Estado e se enaltece o “terceiro setor”. Aqui podemos reparar claramente a funcionalidade do “terceiro setor” (espaço em que a RSE se insere) na configuração neoliberal do Estado. Por claramente haver uma regressão da presença estatal nas áreas sociais, desenvolveu-se, usando as palavras de Saes, uma infra-estrutura correlata de apoio que tenta amortecer os impactos da questão social no capitalismo contemporâneo. Como mostrará o trecho a seguir, tal fato serve ao mesmo tempo de alívio, pois agora há uma parcela da sociedade civil (principalmente as empresas) fazendo o que o Estado deveria fazer, ao lado de uma exaltação para que essas atividades
134
se fortaleçam ainda mais. O projeto de reforma do Estado de Bresser Pereira, ao colocar o Estado em posição secundária, de apoiador do tratamento da “questão social”, já que esta não envolve “poder de Estado”, contribui para o fortalecimento da capacidade de ação e institucionalização/legitimização do “Terceiro Setor”.
[...] Tornou-se, conseqüentemente, inadiável o equacionamento da questão da reforma ou da reconstrução do Estado que, se por um lado já não consegue atender com eficiência a sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo na área social; por outro já dispõe de um segmento da sociedade, o terceiro setor, fortalecendo-se institucionalmente para colaborar de forma cada vez mais ativa na produção de bens públicos. A reforma do Estado não é, assim, um tema abstrato: ao contrário, é algo cobrado e iniciado pela sociedade, que vê frustradas suas demandas e expectativas (BRASIL, 1998, p. 8).
O discurso da publicização, do “público não-estatal” e do “Terceiro Setor” na sociedade política petrifica a privatização da questão social no Brasil, sela o movimento de busca de parcerias entre público e privado, consolida o entranhamento do capital na sociedade política. Segundo Montaño (2002, p. 235),
[...] O Estado, dirigido pelos governos neoliberais, se afasta parcialmente da intervenção social, porém é subsidiador e promotor do processo ideológico, legal e financeiro de “transferência” da ação social para o “terceiro setor”. É um ator destacado nesse processo. É o Estado que nos inunda de propaganda sobre o “Amigo da Escola”, que promove o Ano Internacional do Voluntariado, que desenvolve a legislação para facilitar a expansão destas ações, que estabelece parcerias [...].
Neste contexto de repolitização (que é a ressignificação aludida por nós) do trato à questão social, Ruth Cardoso7 afirmou que “O
7 Doutora em antropologia pela USP, falecida recentemente, foi uma intelectual destacada no Brasil. Foi fundadora e presidente da Comunidade Solidária (1995 – 2002), entidade do “Terceiro Setor”, no governo de seu marido FHC. A Comunidade Solidária significou, de maneira alinhada com o governo FHC, um novo modelo de atuação social baseado no princípio da parceria e muito trabalho voluntário (cf., a respeito, <http://www.planalto.gov.br/estr_02/SecExec/Oque.htm>). Atualmente, o mesmo
135
empresariado brasileiro já entendeu a responsabilidade de participar de ações sociais” (in MONTAÑO, 2002, p. 213). Realmente o empresariado havia captado bem a nova cultura política em curso, passando a agir com “responsabilidade social” por meio de seus institutos e fundações. A RSE é fruto da nova cultura política fundada pelo neoliberalismo no país.
Gramsci, no século XX, aproximou-se da discussão acerca da intervenção da burguesia na questão social quando refletiu sobre o Rotary Clube8. Sua análise é fecunda à intelecção da RSE como nova ideologia (nova filosofia da burguesia):
[...] Parece que o seu programa essencial baseia-se na difusão de um novo espírito capitalista, na idéia de que a indústria e o comércio, antes de serem um negócio, são um serviço social; ainda mais, são e podem ser um negócio na medida em que representam um “serviço”. Assim, o Rotary desejaria que o “capitalismo de rapina” fosse superado e se instaurasse um novo costume, mais propício ao desenvolvimento das forças econômicas (GRAMSCI, 1988, p.415/416).
Esse novo espírito, comenta Gramsci, buscou unir todos os associados, independente de credo religioso, em torno de um objetivo comum: a prestação de serviços9. A filosofia “rotariana” representaria uma superação orgânica da maçonaria já que se definiriam interesses mais concretos e possibilitar-se-ia a filiação de pessoas de outros credos desde que alinhadas em torno da idéia da indústria como um serviço.
trabalho é continuado na ONG “Comunitas” que também foi presidida por Ruth Cardoso. Essa ONG vem contribuindo muito para a divulgação da RSE. 8 Apesar de suas origens estarem assentadas no que à época chamaríamos de profissionais liberais, tanto que foi fundado nos Estados Unidos em 1905 por um advogado (Paul Harris) e amigos, o Rotary Clube sempre foi uma organização das classes altas, que dispunham de maior poder aquisitivo, só voltada para as classes subalternas de maneira indireta, na prestação de serviços, objetivo principal da instituição. O código moral rotariano aprovado num congresso em St. Louis baseia-se no princípio de o clube ser “fundamentalmente uma filosofia da vida que pretende conciliar o eterno conflito existente entre o desejo de cada um de ganhar e o dever e conseqüente impulso de servir ao próximo. Esta é a filosofia do serviço: dar de si antes de pensar em si, baseada no princípio moral: quem serve melhor ganha mais.” 9 É muito interessante o trecho da fala de um rotariano que Gramsci seleciona: “transformou-se a honestidade num interesse, criando-se a nova figura do homem de negócios que sabe associar, em todas as atividades profissionais, industriais e comerciais, o seu interesse ao interesse geral, o qual é, no fundo, o verdadeiro e grande objetivo de toda atividade, pois cada homem que trabalha nobremente serve mesmo inconscientemente ao geral.” (GRAMSCI, 1988, p.417). Essa é uma idéia que guarda muita proximidade com a de “RSE”.
136
Em geral, o desenvolvimento do capitalismo no globo foi marcado por práticas de intervenção burguesa na questão social, algumas de maneira mais orgânica, no sentido que Gramsci aponta ao falar do Rotary Clube, outras nem tanto, se limitando mais à ajuda tópica, sem um corpo de idéias tão coeso de pano de fundo capaz de orientar a ação. Em solo brasileiro também não foi diferente. Nossa historiografia registra inúmeras ações filantrópicas da primitiva burguesia nacional (Cf. PAOLI, 2005).
Em um contexto diverso – o do neoliberalismo - assistimos no Brasil não só à continuidade de um movimento antigo, mas à sua ampliação e uma revitalização, a RSE, que lhe confere novo caratê, o de firmar o projeto de sociabilidade neoliberal.
A RSE deu resposta à questão social em um momento em que o Estado tornou-se mínimo, ajudando a amortecer a possibilidade de conflitos e favorecer para que a sociedade política passasse a se concentrar cada vez mais em seu núcleo estratégico (no que tem de caráter repressivo - às lutas e aos conflitos sociais classistas - e servil/estratégico aos interesses capitalistas), real objetivo do projeto de (contra) reforma do Estado. A RSE é uma instituição de classe que intensifica as dificuldades para que a maioria social tenha acesso a direitos sociais.
A educação é prioritária à RSE que atua, em larga medida, nas escolas públicas através de parcerias com as prefeituras municipais, abrindo caminhos para que o projeto pedagógico empresarial tenha presença cada vez mais profunda e abrangente nas localidades em que se faz presente. As empresas passam a absorver cada vez mais funções antes específicas do Estado, ao mesmo tempo em que formatam as comunidades atendidas ao seu projeto de sociabilidade.
REFERÊNCIAS:
1. ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, E.; GENTILI, P. (orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1996. p. 9-38
2. ANTUNES, Ricardo. A desertificação neoliberal no Brasil (Collor, FHC e Lula). Campinas: Autores Associados, 2004.
137
3. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999
4. BRASIL. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Organizações sociais: Cadernos do Mare, nº 2. Brasília: Mare, 1998.
5. COSTA, C. S. & VISCONTI, G. R. Terceiro Setor e desenvolvimento social. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Área de Desenvolvimento Social, julho de 2001 (Relato Setorial, 3).
6. GRACIOLLI, Edilson José & LUCAS, Marcílio Rodrigues. “Terceiro setor” e ressignificação da sociedade civil. Margem Esquerda, nº 13, p.100-116, maio de 2009.
7. GRACIOLLI, Edilson José & TOITIO, Rafael Dias. A responsabilidade social empresarial como aparelho de hegemonia. Revista Lutas Sociais, nº 21/22, p. 166-178, junho de 2009.
8. GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988.
9. MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002.
10. MORAES, Reginaldo C. C. de. Neoliberalismo – de onde vem, para onde vai? São Paulo: Editora Senac, 2001.
11. PAOLI, Maria Célia. “Empresas e responsabilidade social: os enredamentos da cidadania no Brasil”. In: SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Democratizar a democracia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 373-418.
12. PETRAS, James. Os fundamentos do neoliberalismo. In: RAMPINELLI, Waldir J. & OURIQUES, Nildo D. (orgs.). No fio da navalha: crítica das reformas neoliberais de FHC. São Paulo: Xamã, 1997. p. 15-38.
13. SAES, Décio. A política neoliberal e o campo político conservador no Brasil atual. In: ______. República do capital – capitalismo e processo político no Brasil. São Paulo, Boitempo, 2001. p. 81-92.
141
TRABALHO, EDUCAÇÃO E LUTA DE CLASSES NA SOCIABILIDADE DO CAPITAL*
José dos Santos Souza**
O conjunto de transformações vivenciadas desde os anos 1970 significa a materialização da crise de um modelo de desenvolvimento do capital fundado no regime de acumulação rígida, que possuía no taylorismo/fordismo seu modelo de organização produtiva, e no Estado de Bem-Estar Social, seu modelo de regulação social. O esgotamento desse modelo de desenvolvimento fundado no pós II Guerra Mundial, somado ao acúmulo de inovações tecnológicas no campo da microeletrônica e da informática e ao avanço das conquistas políticas da própria classe trabalhadora, constituíram as condições objetivas que condicionaram a empreitada do capital e obrigaram-no a recompor suas bases de acumulação e implantar novas modalidades de produção e de mediação do conflito capital/trabalho no nível mundial.1
No campo estrutural, o trabalho tem demandado maior capacidade de abstração, exigindo do trabalhador competências técnico-operacionais que extrapolam a manipulação da maquinaria, atingindo inclusive a subjetividade operária (Cf.: ALVES, 2000). Exige-se do trabalhador, também, a capacidade para manipular signos, símbolos e códigos, de modo que as comunicações orais e escritas tornam-se imprescindíveis à atividade produtiva. Mas não pára por aí. Busca-se formar, ainda, a competência para compreender o contexto no qual o trabalho se processa.
* Procuramos neste texto reunir algumas reflexões apresentadas anteriormente no livro “Trabalho, Educação e Sindicalismo no Brasil – anos 1990” (SOUZA, 2002) e no livro “O Sindicalismo Brasileiro e a Qualificação do Trabalhador” (SOUZA, 2009), dando-lhes uma forma mais sistematizada e com um foco mais preciso: a disputa de hegemonia no campo educacional, o que lhes confere, em nosso entendimento, um caráter mais sintético. ** Doutor em Sociologia pela UNICAMP e professor de Economia Política da Educação do Departamento de Educação e Sociedade do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ, onde lidera o Grupo de Pesquisas Sobre Trabalho, Política e Sociedade (GTPS). E-mail: [email protected] 1 É oportuno ressaltar que, embora essa recomposição do capital mundial venha provocando mudanças significativas na área social, política, econômica e cultural, seus princípios fundamentais não se alteraram: a apropriação privada da produção social, a extração de mais-valia, a alienação do trabalho etc. Tantas mudanças, como se pode notar, ocorrem apenas na dinâmica da acumulação de capital, mas a natureza da ordem social capitalista permanece inalterada ou, talvez, radicalizada.
142
Esta competência é imprescindível para desenvolver as condições propícias para o exercício da criatividade, de modo a recuperar e incorporar ao processo de valorização do capital o saber constituído no “chão-de-fábrica” (Cf.: MACHADO, 1996). Além disto, a nova cultura empresarial tem buscado construir na classe trabalhadora talvez a mais importante de todas as competências no atual estágio de desenvolvimento do capital: a capacidade para assimilar e aceitar de forma positiva as mudanças que se impõem ao trabalhador no contexto do processo de trabalho e de produção. De modo geral, essas são as competências necessárias à conformação psicofísica do trabalhador aos novos métodos e processos de trabalho e de produção que se consubstanciam na captura da subjetividade operária em nome de uma nova dinâmica de subsunção real do trabalho ao capital.
Como forma de expressão política dessas mudanças estruturais, no campo superestrutural, as relações de poder têm se tornado cada vez mais complexas, na medida em que a burguesia tem sido obrigada a ampliar os espaços de participação da classe trabalhadora organizada como mecanismo de mediação do conflito de classe.2 Para manter sua hegemonia a partir de condições renovadas de construção do consenso, a burguesia tem necessitado formar determinadas competências sociais no conjunto da classe trabalhadora que consistem na disseminação de uma pedagogia política capaz de conformar ética e moralmente a sociedade civil nos limites das leis do mercado, sob condições renovadas, mais de acordo com o estágio atual do desenvolvimento do capital.3
Para a renovação de sua pedagogia política, com o intuito de torná-la mais eficaz na construção do consenso em torno da sociabilidade burguesa, a classe dominante vem promovendo a redefinição do papel do Estado e o fomento de uma “nova” cultura cidadã fundada no individualismo e na competitividade, regulada pela lógica mercadológica, compondo a formação de um novo bloco histórico, um novo industrialismo, um novo tipo de metabolismo social para, assim, conservar em condições renovadas a sociabilidade do capital.
2 O que chamamos aqui de “mecanismos de mediação do conflito de classe” são as estratégias de caráter político-ideológico implementadas pela burguesia em busca do consenso em torno de sua concepção de mundo, condição essencial para a manutenção de sua hegemonia. 3 Sobre a dinâmica das estratégias burguesas de manutenção da hegemonia na atualidade, tomamos como referência as teses de Neves & Sant’Anna (2005) e Martins (2005) sobre a nova pedagogia da hegemonia.
143
Neste contexto, o Estado brasileiro vem adquirindo características que expressam uma redução do uso de seus mecanismos de coerção para a mediação do conflito de classe, passando a utilizar-se cada vez mais de estratégias de persuasão em busca do consentimento das massas (COUTINHO, 2000). Este fenômeno decorre da contradição existente entre o avanço das forças produtivas e as conquistas da classe trabalhadora, o que traz à tona novas demandas de mediação do conflito de classe. Em função desta reconfiguração das relações de poder, a partir do final dos anos 1980, a burguesia tem sido obrigada a reorganizar-se para o enfrentamento das pressões da emergente reorganização da classe trabalhadora e dos movimentos populares de um modo geral (NEVES, 1994, p. 35).
A presença dos movimentos sociais urbanos na arena política, como instrumento de democracia direta de massas, significa a mais importante contribuição para a ampliação dos mecanismos de controle social sobre as decisões estatais,4 o que beneficiou a conquista e consolidação de direitos sociais e enriqueceu a organização da sociedade civil na década de 1980. Os partidos políticos, por sua vez, embora com suas limitações, foram responsáveis pela importante atuação na transição política desta década, enquanto buscavam sintetizar as demandas sociais das classes em conflito, bem como buscavam atuar como articuladores entre a sociedade civil e o Estado (NEVES, 1994, p. 37).
No bojo da nova pedagogia política do capital, constam conteúdos que buscam resgatar o consenso em torno da legitimidade da livre concorrência, revitalizando-a, na tentativa de estabelecer na sociedade civil um ambiente propício à livre competição entre os indivíduos. Esta pedagogia política se desenvolve por intermédio de um apelo à individualidade, ao imediato, aos interesses locais. Constrói-se uma supervalorização à organização corporativa, muitas vezes em forma de “falsas cooperativas” ou de outros tipos de organizações. Às vezes até na forma de organizações não-governamentais, como meio de valorização
4 Não confundir este processo de ampliação dos mecanismos de controle social sobre as decisões estatais com o ápice da emancipação das camadas subalternas no campo das relações de poder na sociabilidade do capital. Trata-se, simplesmente, de uma necessidade de manutenção da hegemonia por parte da classe dominante, diante dos avanços na organização e luta da classe trabalhadora. Este alargamento da participação das camadas subalternas nos mecanismos de controle social sobre as decisões estatais restringem-se, portanto, aos limites da valorização do capital.
144
do comportamento econômico-corporativo em detrimento da organização da sociedade em torno de interesses políticos de caráter coletivo.
Faz parte desta pedagogia, também, a disseminação de formas pseudocientíficas de apreensão da realidade social que valorizam o particular, o local, o efêmero, em detrimento de uma compreensão mais objetiva dos elementos que articulam e dão sentido ao Bloco Histórico que comporta as diversas particularidades da vida social. A naturalização da ideologia da “mão invisível do mercado” como reguladora eficiente do cotidiano social também faz parte do conteúdo desta pedagogia política. De modo geral, esta constitui o mecanismo pelo qual a burguesia busca formar as competências necessárias à conformação ética e moral do trabalhador em uma dinâmica renovada de construção do consenso em torno da concepção de mundo burguesa, consolidando, assim, no meio social, por meio da naturalização da lógica de mercado, a subsunção real do trabalho ao capital. Trata-se, enfim, da nova pedagogia da hegemonia a que Neves (2005) se refere, que apesar de ser inerente à sociabilidade do capital, na atualidade ganha contornos específicos de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas e do acúmulo de conquistas da classe trabalhadora.
Neste contexto, as políticas públicas de caráter social assumem um papel simultâneo. Ao mesmo tempo em que dão resposta às necessidades objetivas e subjetivas da valorização do capital, também funcionam como estratégia de mediação política dos interesses antagônicos que perpassam a sociedade urbano-industrial. Por esta razão, a educação, como política social do Estado capitalista, conserva em si esta contradição, pois ao mesmo tempo em que responde às necessidades da valorização do capital, por meio da formação do capital humano necessário à ampliação das taxas de mais-valia, também se constitui em espaço de disputa de hegemonia, permeado de contradições, onde a burguesia procura construir o consenso em torno de sua concepção de mundo. É esta dinâmica que procuraremos detalhar a seguir.
A DIALÉTICA DA POLÍTICA PÚBLICA PARA A FORMAÇÃO DO TRABALHADOR
A necessidade estrutural do estágio atual de desenvolvimento do capital de ampliar – mesmo que de forma ainda limitada – as oportunidades de acesso ao conhecimento para uma parcela restrita da
145
classe trabalhadora, necessariamente, é justificada por meio de um discurso integrador de defesa da universalização da educação básica, ampliação das oportunidades de educação profissional e combate ao trabalho infantil. Mas este discurso é, de fato, uma ilusão necessária à manutenção do monopólio do conhecimento. Por meio desta ilusão, a burguesia controla o acesso ao conhecimento científico e tecnológico aplicado na produção, promovendo diferentes tipos de formação/qualificação profissional. É inerente a este fenômeno a ocorrência da dualidade entre formação para o trabalho intelectual – destinado a uma elite da classe trabalhadora – e formação para o trabalho manual – destinado à grande maioria dos trabalhadores.
No caso brasileiro, esta ilusão necessária também funciona como mecanismo de conformação ético-moral de um imenso contingente de trabalhadores desempregados que, ao submeterem-se a cursos de formação/qualificação profissional de curta duração,5 em caráter de treinamento, alimentam a esperança de se inserirem no mercado de trabalho. Mas, o que de fato ocorre é que uma parcela significativa desses trabalhadores jamais adquire emprego formal como pretende, quando busca qualificação. Muitas vezes, o único efeito pedagógico desses cursos é gerar no trabalhador o sentimento de resignação diante das dificuldades de conseguir emprego e de voluntarismo para enfrentar de forma criativa a nova dinâmica da precariedade a ele imposta e buscar, por conta própria, formas alternativas de geração de renda para além do emprego formal. Seria o que poderíamos chamar de uma conformação ética e moral à nova dinâmica da precariedade.
Assim, no campo educacional, a ofensiva do capital tem se materializado em ações e formulações no sentido da reconfigurar o sistema educacional para atender de modo mais eficiente as novas demandas produtivas, seja preparando o trabalhador para ocupar postos de trabalho em condições mais flexíveis, seja formando o contingente excedente da força de trabalho para aceitar passivamente as condições
5 Trata-se de cursos de manicure/pedicure, cabeleireiros, massagem, depilação, confecção de tortas e salgadinhos, recepcionista, informática etc, muitos deles com apenas 20 horas de duração. De modo geral, esses cursos formam trabalhadores para ocupações informais. A formação em si carrega em seu bojo um conteúdo muito mais ético-moral, voltado para adaptar o trabalhador desempregado à nova realidade do desemprego e da precariedade, do que o conteúdo técnico-operacional, embora este último seja explícito no currículo e o primeiro não.
146
laborais de precariedade, informalidade ou desemprego. Para isto, têm-se empreendido esforços para formar competências sociais e profissionais no conjunto da classe trabalhadora em busca da formação de um trabalhador de novo tipo, mais adaptado à volatilidade do mercado e à velocidade das mudanças no trabalho e na produção, propiciadas pelo avanço da ciência e da tecnologia, especialmente da informática e da microeletrônica. Mas ao mesmo tempo, há a necessidade de se conformar o número imenso de trabalhadores excluídos. Para isto, o recrudescimento da Teoria do Capital Humano tem servido de cimento ideológico das iniciativas públicas e privadas de formação do trabalhador de novo tipo (Cf.: SOUZA, 2003).
Enfim, a política pública para a educação, ao mesmo tempo em que serve para atender as demandas de produtividade e competitividade das empresas, também funciona como aparelho privado de hegemonia capaz de mediar conflitos de classes que emergem da desigualdade de oportunidades geradas pelo desemprego estrutural. A forma mais comum desta pedagogia da hegemonia tem sido a propagação da idéia de que a razão do desemprego é a carência de qualificação profissional. Graças à forte base social que esta idéia encontra, o sistema educacional tem sido amplamente redimensionado para atender a esta dupla função da política pública de formação do trabalhador.
Desde meados dos anos 1990, o empresariado e o Governo Brasileiro vêm empreendendo esforços no sentido de reconfigurar a institucionalidade da política de formação/qualificação profissional. Seu objetivo é adequar o sistema educacional brasileiro às atuais demandas das empresas instaladas no país. Trata-se de uma ação do Estado para ajustar as iniciativas individuais de acúmulo de capital humano às demandas do mercado de trabalho, desonerando o Estado por meio do apelo à participação individual do trabalhador no financiamento de sua própria qualificação, bem como por medidas de racionalização dos gastos públicos com este tipo de serviço.
Esta política consubstanciou-se no Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), do Governo Fenando Henrique Cardoso, e no Plano Nacional de Qualificação (PNQ), do Governo Lula. Trata-se de programas que, de certo modo, contemplaram algumas das reivindicações acumuladas em diferentes segmentos do movimento sindical brasileiro, a saber: a) desenvolver esforços para universalizar a educação básica,
147
garantindo a gratuidade para o ensino fundamental e ampliar a oferta de educação profissional; b) articulação entre educação básica e educação profissional; c) participação dos trabalhadores organizados na gestão dos fundos públicos para a educação profissional; d) inserir a política de formação/qualificação profissional no conjunto das políticas públicas de trabalho e renda.
Apesar de estarem submetidos ao controle social por intermédio de conselhos tripartites e paritários, os programas governamentais de formação e qualificação profissional constituem um espaço importante de construção do consenso em torno da concepção burguesa de formação humana. Contraditoriamente, como todo e qualquer aparelho privado de hegemonia, esses programas governamentais também podem funcionar como uma possibilidade concreta de tomada de consciência dos limites do discurso oficial de universalização da educação básica e de ampliação das oportunidades de formação profissional por parte de seus usuários. É neste sentido que a política pública de formação e qualificação profissional, articulada com a política de universalização da educação básica, constitui-se como campo de disputa de hegemonia, uma vez que expressa em seu desenvolvimento o conflito de classe inerente à sociabilidade do capital. Tratemos então deste aspecto com mais detalhe.
O atual patamar de desenvolvimento da ordem capitalista nos oferece elementos suficientes para afirmar que o ritmo e a direção do desenvolvimento dos sistemas educacionais no mundo contemporâneo são determinados pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, assim como do nível de alargamento dos mecanismos de controle social sobre as decisões estatais. Estes fatores têm se consubstanciado, na atualidade, no impacto econômico e político-social da aplicação da ciência e da tecnologia nos processos produtivos.
A partir dessa premissa, entendemos que a formação/qualificação profissional da classe trabalhadora deve ser concebida como uma ação humana de caráter técnico-político inerente ao processo de ampliação da maquinaria e do controle social sobre as decisões estatais. Ou, como afirma Neves (1994), a formação da classe trabalhadora, como política social do capitalismo no mundo contemporâneo, é uma prática social determinada pelo binômio industrialismo/democracia. Trata-se da unidade emanada da relação entre o avanço científico e tecnológico do trabalho e da produção, de um lado, e o processo de socialização da
148
política, de outro, verificados na história do capitalismo como uma tendência a ele inerente.
Ao concebermos a educação da classe trabalhadora como conseqüência da incorporação da ciência e da tecnologia ao processo produtivo e das mudanças no padrão de sociabilidade humana, torna-se evidente o crescente estreitamento entre ciência e trabalho, entre ciência e vida, entre teoria e prática, entre trabalho e educação no processo de industrialização, embora ainda nos limites da valorização do capital. Tal fato vem evidenciando-se através do notório crescimento da demanda social por formação e qualificação da força de trabalho por parte de diferentes segmentos da sociedade civil. Mas está claro que esta demanda crescente por educação funda-se no ideal burguês de formação de um novo tipo de homem, coerente com uma nova dinâmica de sociabilidade e um novo tipo de escola. A propagação deste ideal é um mecanismo de construção do consenso em torno do modelo flexível de organização das forças produtivas e das relações de produção e da nova dinâmica de relação entre Estado e a sociedade civil.
Entretanto, o estágio atual de desenvolvimento científico e tecnológico das forças produtivas no Brasil nos remete à consideração de que a educação da classe trabalhadora no mundo contemporâneo deve ser concebida a partir de dois aspectos fundamentais: a preparação para o trabalho, em seu sentido lato, e a preparação para o trabalho, em seu sentido stricto. No primeiro aspecto, a formação para o trabalho refere-se às ações educativas da sociedade capitalista contemporânea que têm em vista a conformação técnica, política e cultural da força de trabalho às necessidades da sociabilidade urbano-industrial presididas pela lógica científica da organização do trabalho e das relações de produção. Nesta perspectiva, a formação para o trabalho identifica-se com escolarização (NEVES, 1997 p. 23).
Assim, entendemos que o termo “educação básica” faz referência ao sentido lato da formação para o trabalho, ou seja, faz referência à socialização da capacidade de produção do conhecimento científico e tecnológico minimamente necessário ao indivíduo para que ele possa assimilar o nível de racionalidade do trabalho nas empresas e a complexidade da vida contemporânea por intermédio da escola.
149
Já no sentido stricto, a formação para o trabalho no mundo contemporâneo refere-se a um ramo do sistema educacional destinado à permanente qualificação e atualização técnico-produtiva e cultural da força de trabalho escolarizada, após o seu engajamento potencial ou efetivo no mundo da produção. Seu principal objetivo é criar aptidões para o trabalho na sociedade urbano-industrial, por meio da permanente atualização técnico-produtiva da força de trabalho escolarizada. Nesta perspectiva, formação para o trabalho identifica-se com ensino técnico-profissionalizante ou, conforme o discurso oficial, educação profissional.
Assim, o termo educação profissional faz referência ao sentido específico da formação para o trabalho, ou seja, faz referência à qualificação e atualização permanente da força de trabalho escolarizada para o domínio de aptidões técnico-produtivas adequadas ao nível de racionalização do trabalho nas empresas contemporâneas.
Observe-se que, embora aparentemente, quando se concebe a educação da classe trabalhadora como “formação para o trabalho”,6 o senso comum que paira nos movimentos sociais normalmente entende como restrição de sua potencialidade, na realidade, não é isto o que ocorre. Poderíamos até afirmar que ocorre exatamente o contrário, uma vez que se amplia o sentido do ato pedagógico para além do paradigma humanista. A concepção da educação da classe trabalhadora como “formação para o trabalho” afina-se com o ideal de formação humana para o domínio do conhecimento técnico-científico e filosófico socialmente acumulado para sua aplicação diretamente produtiva, através do processo de trabalho. Como se percebe, ao ampliar-se a concepção de formação para o trabalho, ao contrário do senso comum, considera-se a formação para o trabalho uma prática corrente do mundo contemporâneo que engloba desde a escolarização básica até ações educativas voltadas para o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. A formação para o trabalho, portanto, é concebida como uma prática educativa que se dá tanto no âmbito da escola regular quanto no âmbito das instituições de ensino profissionalizante. Esta perspectiva rompe de uma vez por todas com a visão dicotômica entre formação para o trabalho e escolarização, entre trabalho e educação, que tem predominado em nossa sociedade. 6 Obviamente, trabalho aqui concebido no sentido ontológico, nos termos muito bem explicitado por Marx (1993), posteriormente explorado e sistematizado por Lukács (2004). Se não fosse assim, toda a compreensão da relação entre trabalho e educação aqui apresentada estaria comprometida.
150
Porém, é sempre oportuno assinalar que no processo de desenvolvimento do capital o conflito de classe também se evidencia na concepção e na política de educação básica e de educação profissional, de modo que somos obrigados a considerar sempre pelo menos dois projetos distintos para a formação do trabalhador: um mais identificado com os interesses empresariais de ampliação das taxas de mais-valia, que consideramos aqui como aquele da ótica do capital; e outro que é fruto da organização e luta dos trabalhadores pela superação da sociedade de classes, que consideramos aqui como aquele da ótica do trabalho. Não obstante, ambos têm como pressuposto a aplicação da ciência e da tecnologia no processo de produção.
Na ótica do trabalho, portanto, a formação para o trabalho, em sentido stricto, seria um ramo da educação escolar, de natureza técnico-científica; espaço privilegiado para o aumento da capacidade produtora de ciência e de tecnologia, uma vez que o conhecimento científico e suas aplicações diretamente produtivas no mundo contemporâneo têm se tornado a principal força produtiva no estágio atual de desenvolvimento do capital, além de se constituírem em uma reserva estratégica na conquista de espaços privilegiados nas relações de poder.
Assim, espera-se que um projeto construído de acordo com a ótica
do trabalho, na atualidade, deve impor como objetivos da formação para o trabalho no mundo contemporâneo, seja no âmbito da escola básica ou da educação profissional, o seguinte: a) identificar os princípios que presidem a relação ativa entre homem e natureza e a relação orgânica entre o indivíduo e os outros indivíduos ao longo da história da humanidade; b) apreender os fundamentos e os conteúdos do trabalho em determinado padrão de desenvolvimento científico e tecnológico da produção em nível internacional, de modo a intervir autonomamente nesse processo; c) solidificar uma consciência moral que atenda aos objetivos da luta pela superação da ordem social burguesa de produção e reprodução social da vida material – em lugar da luta pela “cidadania plena”.
De acordo com essa concepção, está implícito um modelo de desenvolvimento em que as reivindicações para a universalização da educação básica e das oportunidades de educação profissional visam, não apenas ao aumento da produtividade industrial para a garantia de maior qualidade de vida da população em geral, mas sim o rompimento com o
151
monopólio do conhecimento exercido pela burguesia. A propósito, a luta da classe trabalhadora pela apropriação da ciência e da tecnologia aplicada no trabalho, na produção e no cotidiano social é parte da luta histórica dos trabalhadores pela superação da ordem social burguesa de produção e reprodução social da vida material. Na perspectiva da ótica do
capital, o aumento do nível educacional de base científica e tecnológica de uma reduzida parcela da classe trabalhadora, em detrimento da qualificação de outra parcela cada vez maior, tem como propósito o aumento de produtividade do trabalho em um contexto em que o trabalho vivo é cada vez mais reduzido. Mas, para a perspectiva da ótica do
trabalho, o aumento da produtividade decorrente da ciência e tecnologia aplicada na produção só faz sentido como fator de diminuição da jornada de trabalho e conseqüente aumento do tempo livre do trabalhador como fator de construção da consciência de classe. Por esta razão, a luta estratégica de aumento do tempo livre do trabalhador deve estar articulada à luta pela garantia de acesso a bens materiais e imateriais indispensáveis à dignidade da vida humana.
Já para o projeto hegemônico vigente, construído segundo a ótica do
capital, a formação para o trabalho não assume caráter unitário, conforme estabelece a ótica do trabalho. Embora seja impossível para as relações sociais de produção capitalista a radicalização da dicotomia entre teoria e prática no processo produtivo e de ciência e vida nas relações de produção, devido ao atual patamar de desenvolvimento das forças produtivas e do alargamento da participação social nas decisões estatais, as ações políticas da ótica do capital procuram impor limites à classe trabalhadora por meio da socialização desigual do conhecimento científico e tecnológico – o que configura o monopólio do conhecimento. Para isso, impõe objetivos diferenciados à formação para o trabalho, seja no âmbito da educação básica ou da educação profissional. Para uma ampla parcela da força de trabalho prevê a conformação técnica e ético-moral apenas suficiente para torná-la capaz de adaptar ou operar produtivamente as tecnologias produzidas; para outra parcela mínima da força de trabalho, prevalecem os objetivos voltados para o domínio dos fundamentos e dos conteúdos do trabalho em determinado padrão de desenvolvimento científico e tecnológico da produção.
Desse modo, de acordo com a ótica do capital, a formação para o trabalho baseia-se na distinção entre formação para o trabalho manual
152
para a grande massa de trabalhadores e formação para o trabalho intelectual para uma elite privilegiada. No entanto, para ambas as parcelas da força de trabalho, a educação tem como objetivo a constituição de um novo tipo de trabalhador voltado para o mercado, quer como sujeito empreendedor, quer simplesmente como sujeito de consumo. Nessa perspectiva, a formação para o trabalho vem atender aos mecanismos sociais e políticos de reprodução das relações sociais fundadas na estrutura de dominação de classe.
Nessa última concepção está implícito um modelo de desenvolvimento em que as reivindicações para a universalização da educação básica e para o desenvolvimento da educação profissional visam ao aumento da produtividade industrial para maior valorização do capital – por meio do aumento da mais-valia relativa.
Não obstante, na disputa capital/trabalho em torno da concepção e da política de educação básica e educação profissional, tanto os sujeitos coletivos que partilham da ótica do capital, como aqueles que partilham da ótica do trabalho partem do interesse de aplicar de forma produtiva a ciência e a tecnologia no mundo do trabalho, ou seja, na sociabilidade do mundo contemporâneo. No entanto,
a explicitação dos dois projetos de sociedade, em disputa pela hegemonia na atualidade brasileira, põe em evidência as diferenças existentes entre a proposta de educação pública e gratuita com qualidade para todos em todos os níveis e a proposta de educação básica de qualidade para a competitividade industrial. A primeira se caracteriza como uma proposta educacional na ótica do trabalho e, a segunda, como uma reivindicação baseada nos interesses do empresariado (NEVES, 1995, p. 114).
É exatamente a partir do confronto entre estas duas concepções de aplicação diretamente produtiva da ciência e da tecnologia que surge a proposição de um tipo de escola anticapitalista, absolutamente comprometida com o rompimento da dicotomia existente entre educação e trabalho, entre ciência e vida. Procuraremos, então, sistematizar os fundamentos filosóficos desta proposição político-pedagógica nascida na dinâmica da militância socialista.
153
A ATUALIDADE DA PROPOSTA REVOLUCIONÁRIA DE FORMAÇÃO DO
TRABALHADOR
Engels (1988) já havia percebido este conflito entre projetos distintos de formação do trabalhador em meados do século XIX, quando analisava a situação da classe operária na Inglaterra, e denunciou que a educação da classe trabalhadora se dá a partir da relação de subordinação de classe. O ensino transmitido nas escolas se dá na direção da classe dominante para a classe subalterna. Isto ocorre de forma tal que, ao realizar-se, faz com que a classe trabalhadora perca toda a sua “disponibilidade” original, conduzindo-a a uma autêntica e verdadeira atrofia moral e desolação intelectual. Trata-se de um tipo de educação interessada, utilitarista, que prepara o trabalhador apenas para atender a demandas da empresa capitalista, em oposição à educação desinteressada, típica das camadas burguesas.7
Por outro lado, a educação desinteressada que a burguesia reivindica para si é inconsistente, despossuída de qualquer capacidade prática. Assim, a denúncia de Engels contra o instrumentalismo da escola destinada à classe subalterna associa-se à condenação da cultura tradicional e da educação das classes dominantes. Engels já havia percebido, naquela ocasião a dualidade entre a educação interessada,
7 A categoria “saber desinteressado” que se refere à “escola desinteressada” é muito bem explicitada por Gramsci, pois ele a utiliza com freqüência. Para este autor, o saber desinteressado não significa um saber neutro ou interclassista. É uma expressão difícil de traduzir para a língua portuguesa e, mesmo em língua italiana, esse termo, tomado fora do contexto, não traduz o sentido que Gramsci lhe dá. Para ele, o saber desinteressado se contrapõe ao saber voltado para o interesse imediato, ao saber que é útil a muitos, a toda a coletividade, histórica e objetivamente. Talvez possamos ser ajudados a entender melhor esse conceito, recorrendo ao par lingüístico inglês “lowbrow/highbrow”, que originalmente significam um tipo de olhar que passa pelos cílios inferiores e o olhar que passa pelos cílios superiores, designando assim visão próxima (por baixo) e visão superior (por cima). Indicam maneiras existenciais de ser: há pessoas que só enxergam o imediato (lowbrow-interessado) e pessoas capazes de ver o limite do horizonte possível (highbrow-desinteressado). O primeiro se envolve com sua pessoa, seus parentes, seus amigos, seus negócios, seus interesses; o segundo é o que vê longe no espaço e no tempo, vê a humanidade, a história, o coletivo. Essa referência à expressão inglesa “lowbrow/highbrow” sem dúvida ajuda a entender o conceito gramsciano de interessado/desinteressado, sem porém a conotação de menosprezo que, na expressão inglesa, qualifica o homem ‘highbrow’ como sendo o filósofo que anda nas nuvens, que descuida de si mesmo. Também a expressão da língua portuguesa ‘interesseiro’ poderia ajudar, se não possuísse conotação moralista que torna toda atitude interesseira desprezível e condenável (Cf.: NOSELLA, 1992: 116-117). Enfim, neste texto, utilizamo-nos da expressão “escola desinteressada” para designar a concepção pedagógica mais diletante, descolada do mundo da produção, de caráter metafísico; e utilizamo-nos da expressão “escola interessada” ou “escola do trabalho”, para designar a concepção pedagógica mais imediatista, pragmática e utilitarista, absolutamente mobilizada pelas demandas do mundo da produção.
154
destinada à classe trabalhadora, em contraposição à educação desinteressada, tipicamente destinada à burguesia.
Além deste reconhecimento, dentro de uma perspectiva da ótica do
trabalho, seria ainda necessário observar que a educação que a classe burguesa reivindica para si, mesmo que seja desinteressada, meramente ilustrativa, constitui o positivo para ela própria, pois corresponde aos seus interesses e à sua condição de dominação de classe. Já aquela educação que a burguesia reserva para a classe trabalhadora constitui um fator de negação da condição humana daquele que vive da venda de sua própria força de trabalho.
A partir dessa concepção educacional, Manacorda afirma a existência de uma moral dividida na sociedade burguesa, pois, “cada esfera da vida humana pressupõe uma moral particular, um modo particular de comportamento, uma norma diversa e antitética” (MANACORDA, 1991, p. 74). Em síntese, há uma exigência de reintegração de um princípio unitário do comportamento do homem:
Exigência a que não basta responder com a hipótese de uma teoria pedagógica e um sistema de educação que reintegrem de imediato essas várias esferas divididas entre si; mas que, de qualquer maneira, pressupõem uma práxis educativa que, ligando-se ao desenvolvimento real da sociedade, realize a não-separação dos homens em esferas alheias, estranhas umas às outras e contrastantes, ou seja, uma práxis educativa que se funde sobre um modo de ser que seja o mais possível associativo e coletivo no seu interior e, ao mesmo tempo, unido à sociedade real que o circunda (MANACORDA, 1991, p. 74-75).
Entretanto, as contradições da ordem burguesa de produção e reprodução social da vida material trazem à tona um aspecto positivo da dualidade entre educação interessada e desinteressada. Este aspecto positivo reside exatamente na contradição entre um e outro. É justamente o fato de a educação que a burguesia reivindica para si se constituir positiva para ela, em contraposição ao fato de a educação destinada para a classe trabalhadora ser diferente, oposta e determinante da perda da condição humana do trabalhador, o que constitui o elemento positivo em favor da classe trabalhadora. Conforme explicação de Manacorda,
o perfil do capitalista aparece, no seu aspecto parcial e aparentemente positivo, sobretudo nas numerosas passagens em
155
que sua condição está diretamente contraposta à desmoralização bestial e à simplicidade rústica e abstrata das necessidades do trabalhador alienado, enquanto é o refinamento das necessidades e dos meios relativos, sendo “cada necessidade real e eficaz apenas se existem as condições de sua atualização”. A esta contraposição, que está nos Manuscritos de 1844, A Ideologia Alemã, acrescenta que justamente a divisão do trabalho cria a possibilidade, ou antes, a realidade que a atividade espiritual e a atividade material, a fruição e o trabalho, a produção e o consumo caibam a indivíduos diversos (MANACORDA, 1991, p. 75).
O positivo específico da classe dominante apontado por Manacorda consiste, portanto,
na realidade da apropriação do prazer, da cultura etc., graças ao trabalho alheio”. Enquanto o positivo do trabalhador consiste, por sua vez, na “possibilidade ou, mais concretamente, na sua disponibilidade abstrata de prazer, de cultura etc., e na sua direta e consciente oposição ao presente estado de coisas (MANACORDA, 1991, p. 76).
Assim, segundo Manacorda, é justamente a condição de excluído da realidade da apropriação do prazer, da cultura, que constitui as condições favoráveis para que ocorra a rebeldia do trabalho, ou seja, é justamente o positivo da classe dominante que não se concretiza na realidade da classe subalterna o que faz emergir as contradições necessárias à mobilização da classe subalterna com vistas à sua completa e não mais limitada manifestação pessoal.
A concretização dessa possibilidade consiste na apropriação de uma totalidade de forças produtivas e no desenvolvimento de uma totalidade de faculdades, antes condicionado. Mas, como observa Manacorda, se esta rebelião permanece no âmbito do modo de produção existente, se não se funda sobre uma força produtiva revolucionária, conservará apenas o “desumano” (MANACORDA, 1991, p. 78).
As referências acumuladas na luta dos trabalhadores contra a dominação de classe apontam a formação omnilateral como alternativa para a classe trabalhadora. Trata-se de uma formação tal que promova o desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade da
156
sua satisfação. A expressão “omnilateral” aparece nos Manuscritos
Econômicos e Filosóficos de 1844, quando Marx (1993) observa que o homem se apropria de uma maneira omnilateral do seu ser omnilateral. Esta apropriação, portanto, só pode ocorrer na condição do homem total. A esse respeito, Manacorda (1991 p. 79) ressalva que não é possível ao indivíduo desenvolver-se de forma omnilateral se não existe uma totalidade de forças produtivas socialmente apropriadas por uma totalidade de indivíduos. Em outras palavras, não existem condições para o desenvolvimento omnilateral do indivíduo no contexto da apropriação privada da totalidade das forças produtivas. A luta pela formação omnilateral, portanto, faz parte da luta pela superação da ordem burguesa de produção e reprodução social da vida material. Por outro lado, as condições objetivas e subjetivas para a reivindicação da formação omnilateral por parte da classe trabalhadora são conseqüência da construção da consciência de classe, ou seja, da constituição do operariado em classe. Conforme afirmação de Manacorda,
[...] o grau, a universalidade do desenvolvimento das faculdades em que essa individualidade se torna possível, pressupõe exatamente a produção sobre a base de valores de troca que, primariamente, produz com a universalidade a alienação do indivíduo em relação a si mesmo e aos demais, mas também a universalidade e onilateralidade das suas relações e capacidades”. O demiurgo involuntário desse processo é o capital que, na medida em que aspira sem descanso à forma universal da riqueza, impele o trabalho “para além dos limites de sua necessidade e cria, assim, os elementos materiais para o desenvolvimento da individualidade rica, que é onilateral tanto em sua produção quanto em seu consumo”. A onilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em conseqüência da divisão do trabalho (MANACORDA, 1991, p. 80-81).
Assim, as reivindicações de formação omnilateral por parte de organizações da classe trabalhadora exigem a reunificação entre ciência e vida, entre educação e trabalho, tendo como referência o uso produtivo da ciência e da tecnologia. Isto implica a negação da universalização da cultura tradicional no tipo de escola até agora existente para as classes
157
dominantes, assim como a negação da formação subalterna, até agora concedida à classe trabalhadora, seja na forma da antiga aprendizagem artesanal ou na forma atual de ensino unida à indústria moderna (MANACORDA, 1991, p. 85).
Sobre essa questão, existe um acúmulo considerável na organização e luta dos trabalhadores pela superação da sociedade de classes. Em meados do século XIX, as discussões sobre educação acumuladas na organização e luta da classe trabalhadora apontavam a necessidade de unificar o ensino intelectual com o trabalho físico, os exercícios ginásticos e a formação tecnológica. Mas Marx, em 1869, preocupou-se em questionar tal proposição, afirmando que:
a formação tecnológica, que é desejada pelos autores proletários, deve compensar as deficiências que surgem da divisão do trabalho, que impede os aprendizes de adquirirem um conhecimento aprofundado de seus ofícios. Mas, sempre se partiu daquilo que a burguesia entende por ensino técnico e, por conseqüência, interpretado de modo errado (MARX apud MANACORDA, 1991, p. 90). 8
Mas, de acordo com uma perspectiva da ótica do trabalho, a unificação entre educação e trabalho deve dar-se em outros patamares. Marx desenvolveu esta questão quando, em conjunto com Engels, formulava sua posição em relação à exploração do trabalho infantil, já em 1848, apresentada no “Manifesto do Partido Comunista” (MARX & ENGELS, 1972). Marx e Engels tinham claro que, desde o início do século XIX, as crianças oriundas da classe trabalhadora já haviam perdido a possibilidade de participar da única forma de ensino que lhes foi reservada por muitos séculos, isto é, um tipo de educação que se desenvolvia, não em instituições educativas ou escolas, mas que se desenvolvia diretamente no trabalho, junto dos adultos, na produção artesanal ou campesina (MANACORDA, 1991, p. 92). Por esta razão, Marx visualizava a exigência de associar a educação das crianças à vida produtiva, buscando dar ênfase
[...] ao fato novo da inserção das crianças no coração da produção moderna, que as retira de formas primitivas de vida, para, no
8 Este fragmento foi transcrito das citações que Manacorda fez dos discursos de Marx na sessão do Conselho Geral da I Internacional, relatados por um órgão da I Internacional. Tal discurso tinha como título “O Ensino na sociedade moderna” (Cf.: MANACORDA, 1991, p. 88).
158
entanto, extrair desse novo fato – e não em oposição a ele, o que seria utópico e voluntarioso – formas mais avançadas de vida e de relações sociais. Significava restituir às classes artesãs e campesinas – que tinham sido expropriadas de uma forma de ensino que lhes pertencia, mas era limitada – uma forma superior de ensino, ligada a novas e mais avançadas (e, por isso mesmo, mais contraditórias) relações de produção (MANACORDA, 1991, p. 93).
É neste aspecto que Marx defende a unidade entre formação geral e formação/qualificação profissional. Não como uma mera articulação entre uma e outra, no sentido de atender às demandas de produtividade e de competitividade das empresas capitalistas. Mas para contribuir, de forma revolucionária, para a emancipação da classe trabalhadora. Esta unificação entre trabalho e educação proposta por Marx é, portanto, parte de um projeto revolucionário.
Outro aspecto que a luta histórica dos trabalhadores contra o capital já havia acumulado conhecimento suficiente se refere à proposta burguesa de “ensino profissional universal”, que Marx já havia criticado duramente, por volta de 1847. Para ele, esta proposição burguesa nada mais era do que um tipo de educação interessada que tinha como propósito adestrar o operário no maior número possível de ramos de trabalho. Desse modo, a burguesia esperava fazer frente à introdução de novas máquinas ou a mudanças na divisão do trabalho.
Apropriando-se das contradições concernentes a esta proposição burguesa, Marx9 buscara mostrar, em várias ocasiões, o efeito perverso da materialização desta proposta. Na medida em que a divisão do trabalho aprisiona os operários a um determinado ramo da indústria, de modo que muitos indivíduos, em função da falta de mobilidade causada pela divisão do trabalho, valorizam positivamente o reconhecimento da variação dos trabalhos e, portanto, da maior versatilidade possível do operário, ocorre, então, uma identidade com os interesses burgueses (MANACORDA, 1991, p. 94-95). Em lugar do critério burguês de polivalência do trabalhador, Marx propõe a idéia oposta, que seria a formação omnilateral, a formação do homem completo, que trabalha não apenas
9 Estas observações baseiam-se nas citações das anotações inéditas de Marx para as duas conferências feitas por ele, em dezembro de 1847, na união dos Operários Alemães, de Bruxelas, feitas por Manacorda (1991, p. 94-95).
159
com as mãos, mas também com o cérebro e que, consciente do processo que desenvolve, domina-o e não é por ele dominado.
Parece que esta polêmica acerca do conteúdo do ensino técnico é atual ainda hoje. Até mesmo no seio da organização e luta dos trabalhadores há, por vezes, uma tendência a reduzir o conceito de politecnia, ou melhor, o ensino tecnológico teórico e prático, a uma mera questão de disponibilidade múltipla, de polivalência (MANACORDA, 1991, p. 95). É justamente esta polêmica que expressa o conflito de classe na concepção e na política de educação profissional no mundo contemporâneo. Tratemos então esta questão mais detalhadamente, tomando como referência a realidade brasileira.
Marx (1994), no século XIX, ao refletir sobre a relação entre o desenvolvimento da maquinaria e a indústria moderna, já afirmava que a base técnica da indústria era revolucionária, enquanto todos os modos anteriores de produção eram essencialmente conservadores. Com base nisto, prenunciava que a conquista do poder político pela classe trabalhadora traria a adoção do ensino tecnológico, teórico e prático, nas escolas dos trabalhadores. Além de Marx, Gramsci (1989), ao refletir sobre a natureza da escola no mundo contemporâneo, também constatou que a educação técnica, estreitamente ligada ao trabalho industrial, mesmo ao mais primitivo e desqualificado, deve constituir a base do novo tipo de intelectual. De acordo com a ótica do trabalho, as exigências de atualização profissional e requalificação da força de trabalho previamente escolarizada, decorrentes do avanço do patamar científico e tecnológico da organização das forças produtivas e das relações de produção no mundo capitalista, traduzem-se em um tipo de escolarização que engloba desde as habilidades técnicas necessárias ao domínio dos novos conteúdos do trabalho até os conhecimentos teóricos que favoreçam a compreensão do processo de trabalho em seu conjunto (NEVES, 1997, p. 25).
Considerando a educação, essencialmente, como um processo de aquisição de conhecimentos necessários ao homem no seu intercâmbio com a natureza e com os outros indivíduos, veremos que ela se dá no próprio contexto do processo de trabalho e dele é fruto. Se, por um lado, a aquisição de conhecimentos é um instrumento necessário e essencial ao processo de trabalho, por outro, o próprio conhecimento se dá no contexto desse processo.
160
Partindo dessa premissa, Gramsci (1991) analisa, aprofunda, critica os limites e resgata os valores das tendências do debate educacional no contexto da disputa entre capital e trabalho para, finalmente, propor uma nova e original alternativa para a educação da classe trabalhadora, evitando qualquer tipo de conciliação oportunista. Gramsci se posicionara nessa polêmica defendendo uma escola desinteressada do trabalho essencialmente humanista10, com atividades formativo-culturais para o conjunto do proletariado, mas com a ressalva de que essa formação não poderia ser dentro de uma cultura abstrata, enciclopédica, burguesa, que efetivamente confunde as mentes trabalhadoras e dispersa sua ação, conforme Engels, em 1844, já havia denunciado em “A Situação da
Classe Trabalhadora na Inglaterra”. A compreensão de Gramsci era de que uma escola desinteressada baseada em uma concepção de mundo idealista não conseguiria elaborar uma cultura popular ou dar um conteúdo moral e científico aos próprios programas escolásticos que permaneciam como esquemas abstratos e teóricos. Esse tipo de escola continuaria sendo promotor da cultura de uma restrita aristocracia intelectual, enquanto que, por outro lado, uma escola desinteressada do
trabalho, baseada na filosofia da práxis, seria o coroamento de todo um movimento de reforma intelectual e moral, dialetizado no contraste entre cultura popular e alta cultura.
O embate político entre capital e trabalho no campo da formulação e gestão de políticas de educação básica e de educação profissional ganha sentido absolutamente renovado se tomarmos como referência a relação entre trabalho e educação a partir da nitidez e originalidade da proposta da escola desinteressada do trabalho de Gramsci. Esta se distingue da escola desinteressada e da escola do trabalho. Tal sentido abre novas perspectivas para a organização e luta da classe trabalhadora por educação, na medida em que pressupõe a incorporação dos fundamentos científicos e tecnológicos do atual patamar de desenvolvimento das forças
10 A referência ao humanismo renascentista é a marca registrada de Antônio Gramsci. Será uma das idéias chaves até o final de sua vida. O homem renascentista, para ele, sintetiza o momento de elevada cultura com o momento de transformação técnica e artística da matéria e da natureza; sintetiza também a criação das grandes idéias teórico-políticas com a experiência da convivência popular. Gramsci sintetiza, no ideal da escola moderna para o proletariado, as características da liberdade e livre iniciativa individual com as habilidades necessárias à forma produtiva mais eficiente para a humanidade de hoje, concebendo um projeto educacional distinto tanto da concepção humanista do renascimento quanto da concepção pragmática e racionalista da era capitalista. Para ele, esses dois pólos são organicamente interdependentes (Cf.: NOSELLA, 1992, p. 20).
161
produtivas e a sua universalização por meio de uma política de combate ao monopólio do conhecimento, de universalização da escolarização básica e da garantia de oportunidades de educação profissional em instituições públicas, gratuitas e de qualidade.
O conceito de escola desinteressada do trabalho se distingue do de escola desinteressada por não significar uma escola idealista, escolástica, fundada na metafísica. Ao contrário, a proposta de Gramsci propõe uma escola fundada no equilíbrio entre ordem social e natural sobre o fundamento do trabalho, da atividade teórico-prática do homem, de caráter científico e tecnológico, com uma concepção histórico-dialética do mundo. Não obstante, a escola desinteressada do trabalho coincide com a escola desinteressada apenas na sua essência humanista, mas se distingue no conteúdo e no método.
Da mesma forma, o conceito de escola desinteressada do trabalho se distingue do de escola do trabalho por não significar uma escola que está preocupada em satisfazer interesses imediatos, em proporcionar a aquisição de habilidades operacionais para a produção industrial e por não ser uma escola do emprego. A escola desinteressada do trabalho seria uma escola preparatória (elementar e média) que conduziria o jovem até as mais amplas possibilidades de escolha profissional e não apenas a um ofício, preocupando-se em formar homens e mulheres como pessoas capazes de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige a sociedade. A escola desinteressada do trabalho coincide com a escola do
trabalho apenas por fundamentar seu processo de ensino/aprendizagem na aplicação direta e objetiva da ciência e da tecnologia em processos produtivos.
A escola desinteressada do trabalho é, portanto, a síntese entre o que há de positivo na escola desinteressada e na escola do trabalho e, por conseguinte, a negação do idealismo inerente à primeira e do pragmatismo inerente à segunda, constituindo-se em uma concepção pedagógica que se distingue daquelas anteriores, uma concepção nova, revolucionária. Nesse sentido, reafirma-se a preocupação central de Gramsci que é integrar a corrente humanista e a profissional, que se chocam no campo do ensino popular, lembrando que, antes do operário, existe o homem que não deve ser subjugado à máquina, impedido de percorrer os mais amplos horizontes do espírito.
162
A escola desinteressada do trabalho não representa nem um saudosismo humanista tradicional nem um profissionalismo tecnicista. Ela resgata o potencial educativo da escola humanista tradicional, em confronto com a necessidade de um novo tipo de escola mais interessada, para propor uma escola mais técnica – e não tecnicista. Esta proposta de escola é menos tradicional e mais orgânica ao mundo industrial moderno, baseada em princípios científicos e tecnológicos, capaz de se constituir em espaço de síntese entre a prática e a teoria, entre o trabalho manual e o intelectual11. Justamente por isso a escola desinteressada do trabalho é uma “escola unitária” e é com este nome que muitos a defendem como projeto pedagógico alternativo àqueles propostos pelos governos e pelos empresários.
A proposta de escola desinteressada do trabalho de Gramsci está centrada na idéia da liberdade concreta, universal e historicamente obtida, isto é, na liberdade gestada pelo trabalho industrial e universalizada pela luta política. A relação escola/trabalho dá sentido à idéia de liberdade, onde o trabalho é o fundamento pedagógico que forja o homem na prática produtiva, projetando, estendendo e concretizando vários outros tipos de conhecimentos culturais e políticos, para melhor adaptar esse homem ao novo tipo de prática produtiva necessária a um determinado momento histórico. Por isso, para Gramsci, as diversas formas produtivas e suas correlatas formas escolares são expressão da busca da liberdade por parte do homem (NOSELLA, 1992, p. 127).
Partindo de uma investigação da realidade concreta, buscando soluções racionais para a sociedade de sua época, Gramsci (1989, p. 406-407), embora com ressalvas, considera aspectos do fordismo como essenciais para o desenvolvimento da humanidade12. De fato, o
11 A partir da análise do processo de modernização industrial vivido pelo ocidente no início do século XX, Gramsci sustenta a tese de que, no modelo de desenvolvimento fordista, a racionalização determinou a necessidade de elaborar um novo tipo de homem, conforme o novo tipo de trabalho e de produção. Daí, Gramsci se utiliza da categoria “Americanismo e Fordismo” para designar esse processo de organização econômica programática em substituição ao velho individualismo econômico. Assim, levanta uma série de considerações para responder se é possível o avanço da ciência, desenvolvido e aplicado a partir desse processo, ser utilizado na construção de uma sociedade socialista. A questão que Gramsci levanta é se a exigência técnica pode ou não ser pensada de forma vinculada aos interesses históricos da classe trabalhadora (Cf.: GRAMSCI, 1989: pp. 375-413). 12 Note-se que, em Gramsci, a expressão “Americanismo e Fordismo” faz referência ao “bloco histórico” constituído pela sociabilidade e pela organização produtiva fundadas no industrialismo contemporâneo. Ao passo que o termo “americanismo” refere-se à cultura, à ética, à ideologia, à política e aos paradigmas
163
desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção capitalista é por ele considerado capaz de apontar as condições objetivas e subjetivas para uma transformação das relações sociais e políticas, a partir da formação de uma nova sociedade urbano-industrial, de base técnico-científica (GRAMSCI, 1989, p. 393). Portanto, para Gramsci, o “americanismo” tem um significado histórico representativo do desenvolvimento de condições reais para uma nova civilização, justamente por exigir do homem um conhecimento de novo tipo, onde a teoria e prática se conformam em uma unidade, embora dentro dos limites da valorização do capital, mas que faz emergir a possibilidade de um novo humanismo, de um novo tipo de relação entre teoria e prática, entre conhecimento e trabalho, mesmo que essas condições não tenham sido ainda exploradas. Porém, ele não quer dizer com isso que o “americanismo” em si representa o limiar de uma nova sociedade, com novas relações sociais de produção, mas que se trata apenas de uma fase superior de um processo que não é novo e se inicia com a industrialização, abrindo novas possibilidades para a classe trabalhadora (NOSELLA, 1992, p. 127-128).
É evidente que o empresariado tem consciência dessa possibilidade de “liberação” do cérebro do operário e da nova disponibilidade de energia humana, preocupando-se e interessando-se política e economicamente com isso (GRAMSCI, 1989, p. 404). De acordo com a ótica do capital, jamais esse espaço deve ser ocupado na produção integral da liberdade, mas em favor da produção de “mais-valia”.
A proposta de escola desinteressada do trabalho de Gramsci surge exatamente dessa problemática, ou seja, do fato dos industriais se preocuparem em ocupar os cérebros dos trabalhadores livres da produção através de “escolas” fundamentadas na máquina ou na ciência, metafisicamente (e não historicamente) concebidas. As escolas profissionalizantes, politécnicas, tecnológicas, os círculos de cultura e de lazer etc., correspondem a esse interesse, enquanto que a proposta de escola desinteressada do trabalho de Gramsci se contrapõe tanto à educação jesuítica (desinteressada), como também à educação burguesa do trabalhador (interessada), materializada na formação unificada do próprios da sociedade urbano-industrial do século XX, o termo “fordismo” refere-se à organização das forças produtivas e à regulação das relações de produção próprias da acumulação capitalista do século XX.
164
técnico e do cientista da produção, negando o idealismo e afirmando a posição marxista da prática produtiva como ponto de partida e o demiurgo da própria consciência (GRAMSCI, 1991, p. 118).
De acordo com as análises das “Cartas do Cárcere” feitas por Nosella (1992), torna-se evidente que Gramsci tinha grandes preocupações com as questões didático-pedagógicas, sempre orientado pela sua concepção de vida, de cultura, de filosofia, de história, segundo a qual o ser humano deve educar-se científica e culturalmente até os níveis mais complexos, sofisticados e modernos, partindo de uma forte e vital ligação com sua base popular e com seu senso comum. Esta concepção educacional seria o que, no presente trabalho, consideramos aquela da ótica do trabalho. O interesse oposto de uma educação voltada para a formação de um técnico abstrato, um intelectual desenraizado e não orgânico, considerada aqui como aquela da ótica do capital, significaria uma ameaça para a aliança revolucionária (GRAMSCI, 1991, p. 117-118).
Gramsci sempre teve absoluta clareza do sentido histórico da sua proposta e fazia questão de distingui-la das outras propostas que impregnavam o debate político-educacional de sua época, ressaltando o seu caráter revolucionário. Por isso, sua proposta de escola
desinteressada do trabalho não se trata de uma proposta isolada, mas sim uma proposta gestada no sabor da militância socialista e no compromisso com a classe operária. Sua proposta fazia parte de um projeto muito maior: construir uma nova ordem de relações sociais de produção.
Conforme visto até aqui, a proposição de unificação entre a formação básica e a formação técnico-profissional é uma estratégia política muito bem articulada com um projeto de sociedade alternativo ao do capital. Entretanto, diversos governos têm levantado a bandeira da integração entre formação geral e formação para o trabalho em outro patamar, com o intuito de construir o consenso em torno de uma espécie de contra-reforma da escola unitária, propagando outras possibilidades de articulação entre a educação básica e a educação profissional. Nesse sentido, “separar o joio do trigo” foi aqui nossa principal finalidade.
165
REFERÊNCIAS:
1. ALVES, Giovanni. O Novo (e Precário) Mundo do Trabalho: reestruturação produtiva e crise do sindicalismo. São Paulo: Boitempo, 2000. 365 p.
2. ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 3ª Edição. São Paulo: Boitempo, 2000. 258 p.
3. COUTINHO, Carlos Nelson. Contra a Corrente: ensaios sobre democracia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2000.176 p.
4. _______. Democracia e Socialismo. São Paulo: Cortes, 1992.
5. _______. Marxismo e Política: a dualidade de poderes e outros ensaios. São Paulo: Cortez, 1994. 160 p.
6. ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Tradução de Rosa Camargo Artigas & Reginaldo Forti. São Paulo: Globo, 1988. 391 p.
7. GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989. 444 p.
8. _______. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. 244 p.
9. LUKÁCS, György. Ontologia Del Ser Social: o trabajo. Buenos Aires: Herramienta, 2004. 208 p.
10. MACHADO, Lucília R. S. Racionalização produtiva e formação no trabalho. Trabalho & Educação – Revista do NETE, Belo Horizonte, Nº 0, p. 41-61, jul./dez., 1996.
11. MANACORDA, Mário Alighiero. Marx e a Pedagogia Moderna. Tradução de Newton Ramos de Oliveira. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1991. 221 p.
12. MARTINS, André S. Estratégias burguesas de obtenção do consenso nos anos de neoliberalismo da Terceira Via. In: NEVES, Lúcia M. W. (Org.). A Nova Pedagogia da Hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 2005. p. 127-174.
166
13. MARX, Karl & ENGELS, Frederick. Manifesto Del Partido Comunista / Critica Del programa de Gotha. México (D.F.): Roca, 1972. 155 p.
14. MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Tradução de Reginaldo Sant’Ana. 14ª Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. Vol. I [Livro I – o processo de produção do capital].
15. _______. Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844. Lisboa: Avante, 1993. 181 p.
16. MÉZÁROS, Istvan. Para Além do Capital: rumo a uma teoria da transição. Tradução de Paulo César Castanheira & Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo: Campinas: EDUNICAMP, 2002. 1103 p.
17. NEVES, Lúcia M. W. & SANT’ANA, Ronaldo. Introdução: Gramsci, o Estado educador e a nova pedagogia da hegemonia. In: NEVES, Lúcia M. W. (org.). A Nova Pedagogia da Hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 2005. p. 19-39.
18. NEVES, Lúcia M. W. (Coord.). Política Educacional nos Anos 90: determinantes e propostas. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1995. 180 p.
19. _______. Brasil Ano 2000: uma nova divisão do trabalho na educação. Rio de Janeiro: Papéis e Cópias, 1997. 110 p.
20. _______. Educação e Política no Brasil de Hoje. São Paulo: Cortez, 1994. 120 p.
21. NOSELLA, Paolo. A Escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 135 p.
22. SOUZA, José dos Santos. A “Nova” Cultura do Trabalho e seus mecanismos de obtenção do consentimento operário: os fundamentos da nova pedagogia do capital. In: BATISTA, Roberto Leme & ARAÚJO, Renan (Org.). Desafios do Trabalho: capital e luta de classes no século XXI. Londrina(PR):Práxis; Maringá(PR): Massoni, 2003. p. 173-200.
167
23. _______. O Sindicalismo Brasileiro e a Qualificação do Trabalhador. Londrina(PR): Práxis; Bauru(SP): Canal 6, 2009. 197 p.
24. _______. Trabalho, Educação e Sindicalismo no Brasil – anos 90. Campinas (SP): Autores Associados, 2002. 223 p.
169
TRABALHO IMATERIAL, CLASSE SOCIAL E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS*
Henrique Amorim**
A expansão do capital nas últimas três décadas, por um lado, com o operário polivalente, a subcontratação, os cortes salariais, as práticas toyotistas e, por outro, com a flexibilização de direitos trabalhistas e o enfraquecimento dos partidos e sindicatos ligados às classes trabalhadoras em diferentes países, são os elementos centrais da reestruturação produtiva iniciada nos anos 1970. Em conjunto, tais transformações constituem o objetivo duplo de aprofundar as bases da dominação e de valorização capitalista na produção de mercadorias, afetando, com isso, a organização política da classe trabalhadora.
A substituição de trabalhadores por máquinas e robôs, além da implementação de formas mais eficazes no processo de controle e gestão do coletivo de trabalhadores foram largamente utilizadas em vários setores da produção nesse sentido. O número relativo de trabalhadores foi reduzido, o que fez acumular as funções dos trabalhadores que permaneceram empregados. Verificou-se, por exemplo, a transformação dos processos de trabalho, da estrutura de hierarquias dentro das fábricas, da qualificação de novas funções produtivas, de novas responsabilidades e de autocontrole produtivo no setor industrial e de serviços.
[...] a tendência de expansão dos preceitos científicos da gerência para fora dos laços da indústria e as formas de radicalização e aplicação desses preceitos são cada vez mais determinantes para o processo de valorização do capital. Os investimentos no setor de serviços, por exemplo, configuram um novo momento da luta de classes que vem, por fim, confirmar a idéia de que as dimensões da exploração da força de trabalho são muito versáteis e merecem atenção e crítica privilegiada (AMORIM, 2006, p. 34).
* As questões trabalhadas aqui foram desenvolvidas de forma mais extensa em Amorim (2009). ** Doutor em Ciências Sociais pela UNICAMP, com Pós-Doutorado em Sociologia pela UNICAMP e pela EHESS/Paris. Professor de Sociologia da UNIFESP/Campus Guarulhos. E-mail: [email protected]
170
Nesse sentido, o quadro de competências foi alargado e imposto aos trabalhadores. A polivalência e a formação profissional apresentaram-se, com isso, como atributos básicos para o preenchimento de antigas ocupações que são reorganizadas e também para as novas ocupações profissionais.1 A reestruturação produtiva caracterizou-se, assim, como um mecanismo de desorganização das formas de resistência da classe trabalhadora. Com este mecanismo foi possível revigorar as formas de dominação dos grupos dirigentes impondo novos processos de trabalho, de gestão do capital, de redefinição dos parâmetros de qualificação do trabalhador, de reordenamento das políticas públicas, como também de redefinição das leis trabalhistas e das prioridades sociais ditadas pelo Estado.
Foi nesse contexto histórico-político dos anos 1970 que se abriu o debate sobre o fim das classes sociais, sobre as novas formas de representação política dos trabalhadores. Guardando uma continuidade problemática que é apresentada como uma ruptura com o marxismo a qualificação profissional é apresentada como elemento central para determinação e composição da classe trabalhadora.
A constituição de um novo tipo de trabalhador mais adequado aos interesses dos grupos dirigentes e também do aumento de trabalhadores desempregados como fruto do movimento, intrínseco ao processo de valorização do capital, de redução do tempo de trabalho necessário é discutida dentro de um horizonte reduzido. As utopias revolucionárias e a emancipação da classe trabalhadora frente ao capital são caracterizadas pelo debate contemporâneo como ultrapassadas face ao caráter incontrolável da racionalidade econômica capitalista.
A tese central que indicaria essa superação do marxismo é a de que o fracionamento das categorias profissionais não teria mais como efeito uma identidade de classe. No entanto, o desenvolvimento dessa mesma racionalidade econômica capitalista, passados alguns anos de reflexão e a 1 Polivalência tem aqui a função de indicar apenas a incorporação de múltiplas tarefas em um mesmo trabalhador, isto é, o trabalhador especializado passa, com a automação da produção, a exercer funções que antigos operários realizavam. Tem-se, assim, a possibilidade de intensificação da exploração do trabalho por um lado, e, por outro, a redução do número de trabalhadores presentes numa empresa automatizada. Em conjunto, esses elementos da última reestruturação produtiva fundamentam um novo quadro de subordinação dos trabalhadores em relação ao capital: crescente intensificação do ritmo de trabalho, diminuição dos postos de trabalho, acúmulo de funções, qualificação técnica individualizada, porém, com desqualificação progressiva para o coletivo de trabalhadores.
171
permanência do antagonismo de classe inscrito na produção de mercadorias, faz, por exemplo, Gorz rever sua análise.
No processo de constituição de novas ideologias foi necessário descartar completamente as teses que sustentavam as antigas formas de resistência teórica, política e social. Nesse contexto, o triunfo da sociedade capitalista foi explicitado. Tratou-se, então, de compreender quais seriam as melhores formas de administrar a dinâmica capitalista, já que a teoria central que edificava o socialismo estaria morta.
Na prática, uma das formas de descartar as teorias revolucionárias e, em especial, a teoria marxista, foi relacioná-la ao industrialismo. Se o industrialismo havia sido superado por novas e mais eficazes formas de produção, que faziam desenvolver a subjetividade do trabalhador e ainda mantinham a dominação social do capital, a teoria que dava sustento ao “velho” embate entre classes sociais deveria ser considerada no mínimo uma teoria anacrônica ou ultrapassada.
A partir desse universo de rechaço ao marxismo, as teses sobre a não-centralidade do trabalho e depois sobre a imaterialidade do trabalho foram desenvolvidas. Em um primeiro momento, a negação do marxismo e do trabalho industrial, pensado em sentido generalizado, foi o objetivo central das teses sobre a não-centralidade do trabalho. A racionalização da produção advinda do desenvolvimento econômico, leia-se, das forças produtivas, teria transformado o trabalho em uma atividade fadada à alienação. A redução do trabalho industrializado nos principais países da Europa Ocidental foi, nestes termos, apontada como um futuro próximo para todas as sociedades capitalistas (GORZ, 1987, p. 11). Com isso, o processo de racionalização da economia capitalista não daria margem a qualquer possibilidade de desestruturação deste modo de produção; a classe trabalhadora teria como única alternativa a possibilidade de “administrar” este processo “inevitável” de substituição de homens por máquinas, que teria como conseqüência principal o fim do trabalho. Por sua vez, o trabalho teria deixado de ser considerado como expressão de qualquer forma de poder, não guardando nenhum critério de sociabilidade; a classe trabalhadora, assim, não teria mais possibilidades materiais e tampouco vocação para revolucionar o poder institucionalizado (GORZ, 1987, p. 86).
172
[...] Essa estratificação da sociedade é diferente da estratificação em classes. Diferente dessa última, ela não reflete as leis imanentes ao funcionamento de um sistema econômico dentro no qual as exigências impessoais se impõem aos gerentes do capital, aos administradores de empresas da mesma forma que aos trabalhadores assalariados, pelo menos em relação aos prestadores de serviços pessoais, trata-se agora de uma submissão e de uma dependência pessoal em relação a aqueles e aquelas que se fazem servir. Uma classe servil, a qual as industrializações, depois a segunda guerra mundial haviam abolido, renasce (GORZ, 1987, p. 11).
Nas entrelinhas, a perspectiva do autor nos sugere que a teoria das classes sociais não é mais válida para as sociedades que foram reconstruídas com base nas novas formas de produção da última reestruturação produtiva. No entanto, um novo segmento nasceria nos escombros do modelo industrialista de produção: os trabalhadores do imaterial.
Brechas na estrutura de dominação capitalista fundamentariam a possibilidade de construção de um novo modo de vida, da constituição de uma política anticapitalista. As novas formas de exploração do trabalho - ao demandarem um novo tipo de trabalhador, cujos conteúdos comunicacionais, informativos, cognitivos, em geral, suas qualificações profissionais - deslocariam sua subordinação, em relação ao capital, a um novo estágio político e social. O capital, ao “acionar” um tipo de trabalhador adaptado e essencial às suas demandas produtivas, teria acabado por criar seu próprio algoz: um tipo de trabalho imaterial.
A desvinculação com as formas tradicionais de produção criaria nesse novo segmento profissional uma negação em relação à produção tipicamente capitalista, uma vez que seu trabalho extravasaria a lógica da exploração do tempo de trabalho criadora de mais-valia. Os conteúdos do novo tipo de trabalho são interpretados como qualificações anticapitalistas. A pergunta central para o autor seria: como mensurar conteúdos cognitivos? A resposta é simples, diz ele: é impossível! Assim, Gorz pôde indicar a existência e a centralidade dinâmica de um tipo de trabalho que na sua essência é portador de uma outra forma de produção, entendida como comunista.
173
Estabelece-se teoricamente o trabalho imaterial. Um trabalho que é divulgado como social e que depende da qualificação individual; que se fundamenta na capacidade de reconhecimento da informação; que não pode ser restringido pelo capital, mas acaba por, novamente, circunscrever-se à lógica de valorização capitalista.
A INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUJEITO HISTÓRICO OU AQUÉM DA ANÁLISE DAS
CLASSES SOCIAIS
Dentro da discussão sobre o trabalho imaterial e da não-centralidade do trabalho existiria uma subordinação teórica da classe social em relação ao indivíduo (trabalhador isolado no processo de trabalho). Poder-se-ia dizer que a classe social ou o indivíduo — como ponto de partida analítico — são escolhas metodológicas distintas e que cada qual oferece uma leitura específica das transformações no processo de produção. No entanto, a referência às classes sociais, ou ainda à luta de classes, na literatura marxista é obrigatória. Partir do ponto de vista do indivíduo como elo e expressão das relações sociais seria trabalhar com outras metodologias analíticas que pressuporiam um outro universo de conceitos e questões diferentes das marxistas.
Um interessante elemento teórico que fundamenta essa perspectiva são as teses sobre a relação entre o posto de trabalho e o trabalhador, ou melhor, sobre a identificação deste último com o seu posto de trabalho. Trabalho e trabalhador seriam uma única e mesma coisa. Ele é o que é o seu trabalho. Libertar-se de seu posto de trabalho é libertar-se — ou pelo menos controlar — de seu embrutecimento, de sua obscuridade acerca de sua própria relação produtiva, que lhe daria as possibilidades materiais de condensar uma vida que se reconhece na sua própria natureza.
De uma parte, a conjuntura histórica na qual as classes trabalhadoras estavam imersas no final dos anos 1960 na Europa e nos Estados Unidos fazia aflorar uma prática política de tipo reformista; o “pacto” fordista entre patronato e trabalhadores repercutiu nas teses marxistas sobre a organização partidária e sindical, e também em relação à concepção sobre a transição e a ruptura com o modo de produção capitalista. De outra, o período histórico que engloba o Stalinismo foi decisivo para a consolidação das teses sobre o primado das forças produtivas. Os partidos comunistas pelo mundo, a reboque dessas teses, difundiam largamente a
174
necessidade do avanço econômico como momento prévio e preparador para a chegada ao comunismo.
As teses sobre as formas de apropriação/exploração do intelecto do trabalhador, ou seja, do que poderia ser hoje denominado como uma produção imaterial (ou como um trabalho imaterial) vem atualizar as teses do primado das forças produtivas no processo de transformação dos processos de trabalho capitalista e de possíveis rupturas com esse modo de vida. Tais teses podem ser preliminarmente expostas da seguinte forma: existiria dentro do debate sobre a imaterialidade do trabalho a idéia geral de que a retomada do controle da produção, mesmo que não esteja associada diretamente à fábrica, não teria relação somente com o trabalho imediato, mas poderia ser constituída a partir do contato técnico de um núcleo de trabalhadores com forças produtivas as mais avançadas. Isto, por extensão, capacitaria este núcleo a se organizar politicamente.
O componente do saber presente no trabalho industrial e de serviços teria crescido em importância hoje. Este saber não poderia ser reduzido a saberes técnicos, outrora formalizados. Assim, “o saber da experiência, o discernimento, a capacidade de coordenação, de auto-organização e de comunicação. Em poucas palavras, formas de um saber vivo adquirido no trânsito cotidiano, que pertencem à cultura do cotidiano” (GORZ, 1987, p. 09) formariam, o que poderíamos chamar, de uma suposta resistência dentro da lógica de valorização do capital.
As contradições em presença teriam fundamentado um tipo de trabalho cujo componente central seria o conhecimento. Lembremos, rapidamente, da tese de Gorz desenvolvida em Adeus ao Proletariado (1987), segundo a qual a sociedade capitalista estaria fundada em uma dualização: sociedade heterônoma versus sociedade autônoma. Nos “interstícios” da sociedade capitalista ter-se-ia formado uma força produtiva cognitiva ancorada nas experiências cotidianas dos indivíduos. Esta produção imaterial levaria a teoria do valor à excrescência, pois indicaria uma contradição instransponível entre a lógica de universalização dos produtos imateriais e a mercadoria. Haveria, com isso, um redimensionamento da forma histórica de valorização do capital hoje. Neste contexto, o capital tentaria incessantemente conservar, restringir o acesso, patentear o conhecimento presente nos produtos comercializados. Mas, não poderia fazê-lo por completo, pois fugiria do movimento intrínseco ao capital, de acumulação e de extensão ilimitada
175
da exploração do trabalho; para produtos imateriais, lembra Gorz, essa lógica não faria mais sentido.
Nestes termos, o movimento de independência do trabalho imaterial frente ao processo de acumulação de capital que este último — o capital — deveria conter, estaria sendo construído. A imensurabilidade, essa propriedade particular dos trabalhos imateriais, seria utilizada como fonte de um novo processo de valorização na medida em que esta fosse restringida. O monopólio do “capital conhecimento”, por exemplo, sintetizaria a contenção dos produtos imateriais. Isto submeteria uma realidade ilimitada (dos produtos cognitivos) ao movimento limitado de troca de mercadorias. Até aqui nada de novo nas formas de apropriação do trabalho pelo capital.
Com a diminuição do trabalho imediato, as formas de pagamento e o valor de troca presente nas mercadorias seriam também reduzidos; isto produziria uma diminuição dos valores monetários, isto é, da riqueza e dos lucros produzidos. O capitalismo cognitivo apresentar-se-ia como momento de “[...] crise do capitalismo em seu sentido mais estrito” (GORZ, 2005, P. 37). Evidencia-se, com isso, a indicação de uma transição do capitalismo para o comunismo. Esta indicação, antiga ao corolário gorziano — lembremos da tese sobre as “reformas não-reformistas” (GORZ, 1968) — corrobora a idéia de uma passagem, e não de uma ruptura, com o modo de produção capitalista. Subentende-se, portanto, o fim do antagonismo entre as classes sociais baseado na prescrição de uma alternativa consensual dos embates sociais. Ademais, os produtos ditos imateriais parecem estar ligados a uma lógica produtora de valores de uso.
Em seu conjunto, o trabalho imaterial não teria mais a função primeira de valorizar o capital. Percebe-se ainda a coexistência de, pelo menos, dois modos de produção no interior das sociedades capitalistas: um modo de produção baseado no valor-trabalho, e que teria como medida unidades de tempo produtivas, fundado no trabalho simples; e, um segundo, cognitivo, no qual o processo de valorização estaria ancorado no trabalho imaterial, no “capital humano” e no “capital conhecimento”.
Para que o “capital conhecimento” possa entrar na circulação, ele deve converter-se em capital-mercadoria, deve associar-se às formas
176
tradicionais do capital, já que "ele não é capital, no sentido usual, e não tem como destinação primária a de servir a produção de sobrevalor, nem mesmo de valor, no sentido usual” (GORZ, 2005, p. 54). Não se adequando à norma tradicional de valorização do capital e, ao mesmo tempo, desenvolvendo-se como força produtiva central o “capital conhecimento” apresentar-se-ia como momento de negação e de possível superação do capitalismo. No entanto, tal superação estaria na dependência de uma tomada de consciência, de um reconhecimento por parte do indivíduo. “A criação de riqueza deve ser desatrelada da criação de valor” (GORZ, 2005, p. 57). Com isso, o valor mercantil daria lugar a uma riqueza que não poderia ser regulamentada pelo capital.
Portanto, esta separação formaria espontaneamente um processo de solidariedade e coletividade como vetor central de organização social. A presença dessa dualidade social nos confere uma visão contraditória do capitalismo, pois ao mesmo tempo em que essas lógicas trabalham dentro do mesmo “sistema”, isto é: obedecem às mesmas leis, o “capital conhecimento” precisa travestir-se de capital-mercadoria para entrar no processo de circulação. No entanto, por suas particularidades específicas, este “capital conhecimento” garantiria um isolamento em relação ao caráter perverso do capital; isto permitiria ao conjunto de trabalhos imateriais construir uma resistência política e uma possível transição a uma economia “comunista do saber” (GORZ, 2005, p. 10).
Assim, o trabalho imaterial (aquele que desvincula a produção fabril da produção de conhecimentos/informações) questões como a do fortalecimento político de grupos de trabalhadores estariam relacionadas à capacidade de adquirir novas informações, novos conhecimentos técnicos que poderiam lhes facultar o domínio estratégico de sua atividade produtiva e, assim, de organizar-se politicamente.
[...] O trabalho imaterial – aquele que produz os bens imateriais como a informação, os saberes, as idéias, as imagens, as relações e os afetos – tende a tornar-se hegemônico. […] o trabalho imaterial só pode ser realizado coletivamente, trocando informações, conhecimentos. Por sua vez, estas formas de comunicar, de colaborar e de cooperar produzem o ‘comum’, que se trate de linguagens, de métodos, de visões, de novos conhecimentos comuns… Toda pessoa que trabalha com a informação ou com o saber – do agricultor que desenvolve as propriedades específicas das sementes ao programador de
177
softwares – utiliza o saber comum transmitido por outros e contribui para produzi-lo (NEGRI, 2004, p. 44).
Há, nesse sentido, uma tentativa de reapropriação da teoria de Marx como produção de um “ciclo” ampliado não apenas relacionado à produção fabril, mas também à formação de um coletivo de trabalhadores inter-relacionados pela produção-consumo de conhecimentos, isto é, à reconfiguração do intelecto geral (general intellect). Nestes termos, a indústria tradicional, como locus de organização da resistência política, cederia seu lugar à grande empresa, uma sociedade-fábrica, isto é, produção/consumo/distribuição tornar-se-iam uma única e mesma coisa que se sintetiza no trabalho imaterial.
Essa abrangência produtiva e da exploração do trabalho imaterial como força produtiva central seria, dessa forma, radicalizada ao universalizar a exploração da subjetividade do trabalhador, fazendo reproduzir a subsunção real de sua condição social. No entanto, tanto na interpretação de Gorz, quanto na de Negri, vemos que apropriação do conceito de trabalho imaterial é, mais uma vez, mediada pela figura do indivíduo, do trabalhador isolado. Na citação acima, caracterizar-se-ia a figura do produtor-consumidor como sujeito político central no contexto de uma sociedade produtora de mercadorias imateriais.
Na prática, a mudança das formas de exploração do trabalho ocasionou a recomposição do conteúdo das qualificações necessárias às formas de produção. Contudo, hoje, esses conteúdos que geraram uma subjetividade específica capacitariam o segmento de trabalhadores portador desses novos conteúdos a formar uma luta anticapitalista. Ao comprar, ao consumir uma informação, criar-se-ia um processo de resistência. A luta política está, assim, posta no varejo.
No entanto, se pensarmos nos termos de Marx, o tempo liberado não permitiria qualificar qualquer possibilidade material de desenvolvimento do indivíduo social, pois esse tempo seria negativamente liberado pela forma do desemprego, da precarização, do subemprego, do banco de horas, etc. veiculando, assim, a impossibilidade efetiva do usufruto desse tempo liberado. A superfluidade do trabalho estaria calcada na pressuposição de que a produção de mercadorias ampliou-se; ou seja, que ela não está apenas ligada à produção industrial; sua abrangência seria,
178
assim, prerrogativa de uma nova lógica produtiva ainda determinada pela valorização do capital.
Hoje a hipótese de Marx da supressão do trabalho vivo e do aumento do trabalho passado nunca foi tão pertinente. Esse pressuposto se soma a outro: o emprego, em sua concepção tradicional, não poderia mais crescer, pois hoje a incorporação da inovação tecnológica estaria cada vez mais presente. Em última análise,
não seria o caso de situar (também) no mesmo espaço, a apropriação pelo capital das forças intelectuais”? Mas, como considerá-la sob a ótica de que a “missão histórica do capital é de depreciar o valor de troca da força de trabalho, aumentando, assim, a força produtiva e fazendo do desenvolvimento do indivíduo social o novo alvo imanente da produção? (TOSEL, 1994, p. 212).
A mercadoria força de trabalho em sua forma supérflua acaba por redefinir um estágio do desenvolvimento das forças produtivas (trabalho abstrato) que, em seu conjunto, aparenta uma ruptura, mas que, contrariamente, encaminham a permanência da sociedade capitalista.
Haveria, nesse sentido, uma continuidade do processo de valorização do capital e do trabalho como meio de realização dessa valorização. O trabalho na sua forma imediata cede espaço às formas mediatas da atividade produtiva, estruturando-se, e é por isso que eles conservam a caracterização do trabalho como central, uma expressão metamorfoseada do valor-trabalho. A forma do valor tornar-se-ia cada vez mais a forma do valor trabalho intelectual-abstrato, ou seja, as formas de intelectualização da força de trabalho poderiam, assim, ser entendidas como razão primeira da valorização do capital. Flexibilidade, rapidez de deslocamento, autotransformação permanente, caracterizam-se e se autovalorizam através da incorporação constante do conhecimento retido como valor de troca. A cooperação, nesse sentido, tornar-se-ia uma forma produtiva “processual”, ou seja, a produção capitalista manifestar-se-ia sempre como jogo de um imenso autômato social. Mas ela agora estaria dotada de um intelecto geral nos termos de Marx?
A dinâmica capitalista, como regulamentação da produção, passa a responder também pelo controle das capacidades cognitivas no trabalho, no sentido em que necessita de indivíduos que estejam aptos a agir e a
179
tomar decisões – a mesmo que dentro de padrões estabelecidos. “É neste contexto que deve ser recolocado o problema da medida do trabalho como momento da constituição do trabalho abstrato partindo das atividades intelectuais concretas” (VINCENT, 1993, p. 124), especificamente, quando nos referimos à formação profissional de cada trabalhador. A produção de um conhecimento específico deve ser “objetivada”. Nesse sentido, as relações de troca aparecem como formas de automatização do trabalho intelectual, já que ele mesmo deveria ser objetivado como valor, através do dinheiro. Disso decorre que o trabalho imaterial fundamentaria um conjunto de relações sociais que se articulam em um coletivo como um ciclo produtivo ampliado e ativado pelo conjunto desses trabalhadores.
Para além disso, a questão deveria ser discutida a partir da idéia de que tais incorporações geram antagonismos que podem dar fundamento a uma contra-ofensiva da classe trabalhadora, já que eles mesmos são incompatíveis com as promessas de eqüidade contidas na ideologia do progresso técnico do trabalho e da produção. Nesse sentido, uma das questões fundamentais para compreender as novas formas de recomposição do trabalho seria entender os limites dessa incorporação, na medida em que deve estar articulada a uma lógica de conjunto que tende sempre a impedir a autonomização do trabalhador frente às imposições econômicas, políticas e sociais ativadas pelo capital.
Finalizo esse texto indicando dois esclarecimentos que me parecem ausentes das considerações realizadas pelo escopo desse debate. O primeiro deles configura-se na relação entre trabalho intelectual e trabalho manual. Na maioria das vezes, tal relação esteve diretamente relacionada ao posto de trabalho e à especialização técnica do trabalhador. Tal imprecisão acabou por motivar, no seio dos partidos comunistas e da teoria social a eles vinculada, classificações arbitrárias sobre quem pertencia ou não a uma determinada classe, sobre quais seriam os setores da classe mais aptos a realizar a revolução, quais seriam mais adequados a ascenderem a uma suposta consciência de classe ou a uma “missão histórica” de transformação estrutural da sociedade capitalista.
O segundo ponto está relacionado à questão da materialidade. Creio que a literatura marxista ortodoxa valeu-se de parâmetros físicos para compreender o que seria material ou não material na produção e no
180
trabalho. Por conseguinte, a literatura que se ergue nos anos 1970 em torno da idéia de superação do paradigma produtivo, acaba por responder a um falso problema. Ela parece ter sido, portanto, constituída sob a rubrica inversa às teses do marxismo ortodoxo até então. Nesse sentido, reproduz-se uma oposição teoricamente ineficaz e não dialética entre material e imaterial como eixo explicativo de todo um debate nos anos que posteriores. Uma oposição que parece, de um lado, estar presente em dicotomias enrijecidas como as de trabalho produtivo e improdutivo, de trabalho intelectual e manual, de classe operária e classe trabalhadora na literatura marxista e, de outro, que figuram nos termos de trabalho cognitivo e trabalho manual, sociedade do conhecimento e sociedade industrial, capital imaterial e capital material.
De início, é importante dizer que a divisão conceitual entre trabalho intelectual e trabalho manual mais dissimula que ajuda na compreensão das novas formas de trabalho. A relação central na teoria de Marx sobre o processo de valorização do capital se dá entre valor de uso e valor de troca. Os conceitos de trabalho manual e trabalho intelectual ou mesmo de trabalho produtivo e trabalho improdutivo devem ser examinados sempre com referência à relação entre valor de uso e valor de troca. A constituição do valor de troca e, posteriormente, do dinheiro como equivalente geral e mercadoria específica são os elementos que constituem a base do raciocínio de Marx sobre o processo de exploração do trabalho com o objetivo de ampliação da mais-valia relativa com base na redução do tempo de trabalho necessário e aumento da produtividade. O trabalho abstrato é caracterizado, dessa forma, como um trabalho em geral que expressa quantidades diferentes de valores de troca das mercadorias, tornando-as socialmente intercambiáveis, tornando-se um regulador das trocas de mercadorias distintas, isto é, com diferentes quantidades de tempo médio socialmente necessário para a sua produção.2
Dessa forma, não há diferença conceitual entre a produção material ou imaterial. Essa dicotomia, na análise que Marx realiza da produção de mercadorias e do valor-trabalho, seria um falso problema. A produção de mais-valia, ou mais valor, não é caracterizada pela relação de 2 A mensuração do tempo médio de trabalho não está vincula a uma equação matemática. Não se trata de uma média aritmética que possibilite precisar a relação entre o tempo gasto na produção e a energia do trabalhador, mas apenas a quantidade de mercadorias produzidas.
181
transformação física dos objetos trabalhados. A teoria de Marx evidencia um conjunto específico de relações sociais que tem por característica central a produção de mercadorias sob um objetivo particular. O objetivo da produção capitalista, é bom que se frise, não é produzir valor, mas sim produzir um número maior de mercadorias em um tempo cada vez mais reduzido.
Não importa, desse modo, se estamos falando da produção de uma mercadoria conhecimento ou de uma mercadoria máquina, pelo contrário, o importante é analisar como, em que condições, sob que tipo de empreendimento, em que encontro de relações sociais o conhecimento e a máquina foram produzidos. Em termos gerais, ambos podem ter sido produzidos na forma de uma mercadoria capitalista: redução do tempo global de produção com aumento de produtividade, gerando com isso uma diferença para cima entre o capital inicial e o final, informada pelo pagamento de um salário que não expressa o tempo total gasto na produção.
Nestes termos, inferir que a qualificação profissional do trabalhador, a matéria-prima trabalhada, os recursos utilizados representam, informam e constituem as relações sociais que estruturam o processo de trabalho não impõe a designação de uma materialidade que determina o conjunto de relações sociais. Qualificação, matéria-prima, ferramentas, máquinas, informações, softwares, etc. etc. são o resultado de relações sociais específicas. Todos eles são constituídos por relações de exploração e dominação sociais determinadas no terreno da estrutura social, isto é, das relações de classe.
A diferenciação entre material e imaterial não se relaciona, nestes termos, ao valor de troca, ao trabalho abstrato, mas sim ao valor de uso, ao trabalho concreto. Portanto, só faz sentido diferenciar a materialidade e a imaterialidade do trabalho quanto ao conteúdo do trabalho e não quanto à produção do valor de troca, já que ele continua determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário à produção de mercadorias distintas. Em resumo, material ou imaterial a valorização do capital tem fundamento na relação de troca entre mercadorias, isto é, em sua forma e não no conteúdo do trabalho empregado.
182
REFERÊNCIAS:
1. AMORIM, Henrique. Trabalho Imaterial: Marx e o Debate Contemporâneo. São Paulo: Annablume/FAPESP, maio de 2009.
2. _______. “A relação entre novas tecnologias da informação e a teoria do valor-trabalho”. Entrevista Concedida. São Leopoldo: Revista do Instituto Humanitas de Ensino (Notícias do Dia), 2009. Disponível em: [http://www.ihu.unisinos.br/index.php? option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=27473], acesso em 20/01/2010..
3. _______. “Antoine Artous: O mundo do trabalho e o marxismo”. Entrevista realizada com Antoine Artous. São Leopoldo: IHU, 2009, Disponível em: [ttp://www.ihuonline.unisinos.br/index.php? option=com_tema_capa&Itemid=23&task=detalhe&id=1934&id_edicao=344], acesso em 20/01/2010.
4. _______. “Prática Política, qualificações profissionais e trabalho imaterial hoje”. Revista de Sociologia e Política, n. 34, vol. 18, 2010.
5. _______. “Reforma, Crise e Revolução em André Gorz”. Crítica Marxista, nº 26, 2008.
6. _______. “Trabalho imaterial, forças produtivas e transição nos Grundrisse de Karl Marx”. Crítica Marxista, nº 25, 2007, pp. 09-30.
7. GORZ, André. Estratégia Operária e Neocapitalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1968.
8. _______. Adeus ao Proletariado - Para Além do Socialismo. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
9. _______. Métamorphoses du Travail. Quête du Sens: critique de la raison economique. Paris: Galilée, 1988.
10. _______. O Imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005.
11. MARX, Karl. “Introdução [à Crítica da Economia Política]”. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
183
12. _______. “[Prefácio] da introdução a Crítica da Economia Política”. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
13. _______. Manifesto do Partido Comunista. Petrópolis: Vozes, 1996.
14. NEGRI, Toni. “De l’Avenir de la Democracie” (Débat avec Olivier Mongin). Alternatives Internationales, Paris, 2004, nº 18, pp. 44-47.
15. TOSEL, André. Centralité et non-centralité du travail ou la passion des hommes superflus. In: BIDET, Jaques & TEXIER, Jaques. La Crise du Travail. Paris: PUF, 1994, pp. 209-218.
16. VINCENT, Jean-Marie. Les Automatismes Sociaux et le “général intellect”. Futur Antérieur, nº 16, 1993, pp. 121-130.
185
A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E A EMERGÊNCIA DA NOÇÃO DE
COMPETÊNCIA NO MUNDO DO TRABALHO
Roberto Leme Batista*
A MUNDIALIZAÇÃO DO CAPITAL EM PROCESSO
O contexto da mundialização do capital traz no lastro de seu metabolismo social o processo de reestruturação produtiva, com um histórico de extrema complexidade e desdobramentos heterogêneos. A mundialização do capital é o processo de desenvolvimento do sistema do capital nas últimas décadas, contexto de predominância absoluta do capital financeiro. Chesnais (2005, p. 21), nos revela que:
A consolidação da mundialização como um regime institucional internacional do capital concentrado conduziu a um novo salto na polarização da riqueza. Ela acentuou a evolução dos sistemas políticos rumo à dominação das oligarquias obcecadas pelo enriquecimento e voltadas completamente para a reprodução da sua dominação.
Nesse contexto impõe-se uma afirmação ideológica, segundo a qual, haveria uma importância da educação básica para a formação profissional dos indivíduos. Nesse sentido, ganha posição uma visão segundo a qual haveria uma centralidade da educação, sobretudo porque a esta caberia a formação da força de trabalho, construindo as “competências” para atender as necessidades do mercado.
O fato é que estamos diante de um acirrado debate sobre as novas exigências para formação da força de trabalho, no contexto da reestruturação produtiva e das conseqüentes transformações que atingiram o mundo do trabalho. O debate atual no âmbito da sociologia do trabalho e da educação retoma antigas questões sobre o problema da
* Doutorando em Ciências Sociais pela UNESP-Marília; professor do Departamento de História da UNESPAR/Paranavaí; Membro da Rede de Estudos do Trabalho – RET. E-mail: [email protected]
186
qualificação, ao mesmo tempo, em que novas questões se colocam para serem investigadas.
A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A EMERGÊNCIA DA NOÇÃO DE
COMPETÊNCIA
A noção de competência é um dos imbróglios das transformações que o mundo do capital promoveu nas últimas décadas. Essa noção surge no espaço da fábrica, no contexto da reestruturação produtiva, mas dissemina-se para a totalidade social.
Essa noção aparece na esfera do trabalho nos últimos 20 anos, mas obteve uma expansão extraordinária, juntamente com a reestruturação produtiva. Dadoy (2004, p. 106) afirma que no mundo do trabalho essa noção é usada tanto no singular – competência –, e também no plural – competências –, reiterando que no mundo do trabalho atual a noção de competência foi emprestada da “ergonomia e da sociologia, após uma longa evolução, [...] ao longo da qual a noção se aplicou a objetos diferentes, em contextos muito diversificados e com acepções particularizadas”.
Evidente que a história e também a trajetória da noção de competência varia de um país para outro, assim como acontece com o complexo de reestruturação produtiva. Embora Dadoy refira-se à França, é interessante notarmos que “[...] o termo competência conheceu diferentes definições e empregos, matizados por problemas concretos particulares, sem que os usuários se preocupassem muito com a confusão que essas acepções específicas produziam” (DADOY, 2004, p. 106).
O uso da noção de competência na empresa difere com a acepção da noção em outras esferas da sociabilidade. Na empresa essa noção diz respeito a demandas de saberes específicos para o exercício da atividade profissional no posto de trabalho, enquanto que em outras esferas a noção de competência adquire um caráter genérico.
Na esfera do trabalho a primeira dimensão da noção de competência diz respeito ao saber-fazer, porém toda a gestão da força de trabalho é mobilizada, isto é,
[...] a das capacidades profissionais exigidas pela organização do trabalho e pelo processo de produção; a de sua localização e das
187
modalidades de sua construção; e a das modalidades de seu reconhecimento. Ou seja: (a) a questão da organização do trabalho; (b) a questão da formação; (c) a questão da remuneração (DADOY, 2004, p. 107).
Para muitos autores a noção de competência disputa espaço com a de qualificação, sobrepondo-se a essa última. De tal forma que estaríamos diante de um revigoramento da noção de competência, que se afirma como a ideologia do capital tanto no âmbito da produção quanto na educação como instância privilegiada da reprodução social1.
Entretanto, para Zarifian (2001, p. 56), ao contrário da maioria dos autores, a competência não pressupõe a negação da qualificação, mas o reconhecimento do valor desta. Nesse sentido, afirma que:
A competência não é uma negação da qualificação. Pelo contrário, nas condições de uma produção moderna, representa o pleno reconhecimento do valor da qualificação. [...] a competência individual não é nada sem o conjunto de aprendizagens sociais e de comunicações que a nutrem de todos os lados: a montante, na formação do indivíduo e no preparo coletivo das situações de trabalho; no imediato nas redes de comunicação que o indivíduo pode mobilizar para enfrentar uma situação algo complexa; a jusante, nos balanços e nas avaliações conjuntas que podem ser feitas pelas pessoas envolvidas na situação.
Para esse autor, a lógica competência promove uma situação em que “o trabalho reverte ao trabalhador.” Nesse sentido promove uma ruptura com o taylorismo, pois esse prendia o trabalhador no posto de trabalho, ou seja, a qualificação estava no posto e o trabalho constituía-se de uma lista pré-definida de operações que o trabalhador tinha que executar.
Mais ainda, afirma Zarifian (2001, p. 56):
1 Entendemos a categoria de reprodução social na perspectiva do filósofo György Lukács que afirma: “um dos resultados mais importantes a que chegamos é que os atos do trabalho, necessária e continuamente, remetem para além de si mesmos. Enquanto na vida orgânica as tendências para preservar a si e à espécie são reproduções em sentido estrito, específico, ou seja, são reproduções daquele processo vital que perfaz a existência biológica de um ser vivo. Enquanto, portanto, neste caso só mudanças radicais do ambiente provocam, via de regra, uma transformação radical destes processos, no ser social a reprodução implica, por princípio, mudanças internas e externas” (LUKÁCS, 1981, p. 1, grifo nosso).
188
[...] a ruptura com a visão taylorista é virtualmente radical: onde o taylorismo isolava (em cada posto, em cada função) e dividia (a cada um, um fragmento específico de responsabilidade, um território segmentado), a comunicação em torno dos eventos e do serviço aproxima e leva a compartilhar (os saberes, as ações, as responsabilidades, as avaliações).
O autor segue suas análises pondo ênfase à mudança radical que traz a “lógica competência” focada no indivíduo em relação à qualificação, cujo modelo se fundava no posto de trabalho, ou seja, à forma como essa se configurava no taylorismo-fordismo.
Nesse sentido, Zarifian (2001, p. 67) afirma:
[...] a competência é realmente a competência de um indivíduo (e não a qualificação de um emprego) e se manifesta e é avaliada quando de sua utilização em situação profissional (a relação prática do indivíduo com a situação profissional, logo, a maneira como ele enfrenta essa situação está no âmago da competência) [...] [que] só se revela nas ações em que ela tem o comando destas últimas [...] Em outras palavras, a competência só se manifesta na atividade prática, é dessa atividade que poderá decorrer a avaliação das competências nela utilizadas.
Embora as competências sejam aquisições de habilidades que passam a constituírem-se em atributos individuais, as mesmas constituem-se de conhecimentos que se formam socialmente.
Por isso, afirma Zarifian (2001, p.68) que:
Competências apóiam-se em conhecimentos (em corpos de saberes) que nutrem sua dinâmica de renovação. Ora, esses conhecimentos formam-se socialmente e, [...] o êxito das ações deve remeter a uma dialética de interdependência forte entre competências e conhecimentos, mobilizada por fontes e atores diferentes.
Zarifian afirma que a competência não é outra coisa senão a capacidade que tem o indivíduo para tomar iniciativa e assumir responsabilidade diante de situações profissionais concretas, com as quais o mesmo se depara.
O autor parte do suposto que com isso a prescrição cai por terra, e que ocorre, assim, “a abertura de espaço para a autonomia e a automobilização do indivíduo.” Nesse sentido, afirma que “é indiscutível
189
que a exigência de competência significa passar a um novo patamar em matéria de envolvimento do indivíduo em seu trabalho.” Razão pela qual o sociólogo francês salienta que “podemos enunciar esse envolvimento de modo positivo: o indivíduo pode reencontrar plenamente o interesse por um trabalho no qual se envolve” (ZARIFIAN, 2001, p. 68-69, grifo nosso).
Entretanto, Zarifian não esclarece se o indivíduo é livre, se possui alternativa, ou se está preso à imposição do capital, à lógica do exército industrial de reserva, ou seja, do desemprego. Afinal, foge desses problemas esclarecendo-nos que não se trata “de saber em que medida ele [o indivíduo] é ou não livre, [pois] não trataremos de saber se o indivíduo tem alternativa”. Enfatiza, entretanto, a importância do envolvimento afirmando que “mesmo forçado, o envolvimento pessoal do indivíduo (enquanto sujeito de ações) é essencial e inevitável”, afinal, sem o envolvimento do indivíduo a mobilização por competência não pode se efetivar.
Esse autor salienta que “a utilização da lógica competência”, as mudanças no perfil e exigências de novas habilidades do trabalhador “recorre intensamente a dois conceitos, muitas vezes empregados um pelo outro: o da competência social e o do saber-ser”. Quanto ao primeiro conceito, explicita o autor, que se constitui de “uma abordagem que enfatiza os traços de personalidade e as aptidões do indivíduo” aptidões que seriam inatas principalmente aos olhos da empresa, permanecem estáveis ao longo do tempo. Nesse sentido, a competência social “é a personalidade ‘profunda’ e estável do indivíduo que se procurará avaliar, considerando-se o indivíduo em sua totalidade, em seu ‘ser’” (ZARIFIAN, 2001, p. 146).
Quanto ao segundo conceito, segundo explicita Zarifian (2001, p. 147, grifos nossos), constitui-se de “uma abordagem que ‘enfatiza o comportamento e as atitudes, ou seja, a maneira como um indivíduo apreende seu ambiente ‘em situação’, a maneira como ‘se comporta’”. Essa abordagem, na visão do autor em questão, busca entender o indivíduo por meio de uma visão parcial e manifesta, já que “supõe-se que o comportamento é adquirido e pode evoluir [...]. Não é o ‘ser’ que se procura apreender, mas o modelo de conduta diante de dado ambiente”.
190
É curioso, que uma concepção que visa apreender não o ser, mas o modelo de conduta irá dizer “que o indivíduo tem autonomia”, que revela através de seu comportamento, saber conduzir-se de forma autônoma. Nessa concepção o que dá sustentação e estabilidade ao comportamento do indivíduo é sua atitude, a maneira como se comporta diante da realidade em geral e não apenas diante de particularidades. Nesse sentido, a atitude é definida como um comportamento que se manifesta individualmente, “mas admite-se, sem embargo, que ela é social, não apenas porque foi produzida em um meio sócio-cultural específico, mas também porque denota certa maneira de se posicionar nas relações sociais” (ZARIFIAN, 2001, p. 147).
Razão pela qual para esse autor é na perspectiva do comportamento e das atitudes e não na dos traços da personalidade e das aptidões que a lógica competência encontra sua legitimidade. Em síntese o indivíduo precisa mesmo é saber-ser.
O deslocamento real da noção de qualificação para a noção de competência não é meramente um efeito discursivo, pois implica em transformações no âmbito das empresas, “por uma modificação nos processos de definição dos postos de trabalho, nos níveis de classificação e nos modos de recrutamento. As definições de postos são mais vagas e as descrições das atividades, mais amplas (WITTORSKI, 2004, p. 76).
Esse fato é importante, pois revela que há um abandono dos sistemas de descrição de tarefas específicas, típicas da fase fordista-taylorista. Portanto, no modelo das competências ocorre uma ruptura com os pressupostos da certeza e com a previsibilidade dos comportamentos, os empregadores abandonam a antiga estrutura profissional dos operários fabris, assim como as formas de qualificação tradicionais – abandona-se o posto – e põem foco na competência, na ação do indivíduo ou do coletivo em uma dada situação concreta.
Entretanto, podemos afirmar que na história do processo de controle do capital sobre o trabalho, em diferentes formas da organização e gestão do trabalho, o capital sempre demandou uma força de trabalho dócil e adaptável “capazes de se inserir em grupos de trabalho”. Nesse sentido, não há novidade na ideologia do aprender a ser, ou do saber-ser, pois esta perspectiva de pensar a competência simplesmente reafirma o
191
processo de dominação do capital por meio da “captura” da subjetividade do trabalho.
A noção de competência é um dos mecanismos que permitem aos empregadores aprofundarem o processo de “captura” da subjetividade dos indivíduos ou coletivos de trabalhadores, apropriando-se da afetividade.
Dessa forma, no contexto da reestruturação produtiva, instaura-se a lógica da competência comportamental e também relacional, os trabalhadores passam através de seus grupos de trabalho a se comunicarem, trocarem informações entre os grupos e também com a chefia. Nesse sentido, ora o construtivismo de Piaget, ora a teoria linguística são elementos fundamentais de suporte teórico da noção de competência, pois a ênfase principal dessa noção centra-se nos saberes comportamentais e relacionais.
Desde a instauração da crise de produção e acumulação do capital a partir da década de 1970, os empregadores já demandavam trabalhadores adaptáveis e com capacidades para se inserirem nos grupos de trabalho. Nesse sentido os chamados saberes relacionais sempre fizeram parte das qualidades esperadas pelos empregadores, que mantém o discurso focado sobre o saber-ser no contexto da reestruturação produtiva.
Citamos Dadoy (2004, p. 124):
Apesar das mudanças que afetaram os sistemas de produção nos últimos 30 anos, apesar da introdução de novas tecnologias, apesar dos constrangimentos mais fortes nas exigências de qualidades das prestações de serviços e dos produtos, apesar da contenção dos efetivos e da intensificação do trabalho, apesar do aumento dos níveis de formação, finalmente, o saber-ser é sempre um dos primeiros requisitos entre as qualidades da mão-de-obra em todos os postos de trabalho. É uma constante do discurso patronal.
Entretanto, o que é surpreendente no contexto da reestruturação produtiva é o fato dos empregadores falarem mais do saber-ser do que dos saberes técnicos. Apesar dos chamados saberes comportamentais e relacionais serem a base do trabalho coletivo, pois são determinantes nas atitudes dos sujeitos que trabalham – o processo de cooperação depende desses saberes – de tal forma que as ditas qualidades comportamentais e
192
relacionais (saber-ser) constituíram em importantes requisitos no processo de trabalho, ou seja esses saberes sempre foram complementos do saber-fazer. Apenas no contexto recente os saberes comportamentais e relacionais adquiriram autonomia no discurso do capital.
De tal forma que a ênfase extremada do discurso empresarial no saber-ser, ou seja, nas competências comportamentais e relacionais em detrimento do saber-fazer é sintoma de uma crise de sociabilidade que se expressa na esfera do trabalho, sobretudo na dificuldade para as empresas recrutarem os novos trabalhadores a serem contratados.
O próprio capital produziu essa crise de sociabilidade, pois conduziu o mundo dos homens a um sócio-metabolismo que se configura uma barbárie social.
Citamos Alves (2007, p. 177):
A barbárie social tende a ‘dissolver’ as perspectivas transcendentes da práxis cotidiana, sedimentando afetos regressivos na subjetividade das individualidades de classe. Por isso, ela (1) corrói a memória histórica e os laços com as experiências do passado. Além disso, (2) submete os homens a formas agudas de fetichismo, com destaque para os valores-fetiches e os tráficos de afetos regressivos, como o medo, que sedimentam os consentimentos espúrios exigidos pelo espírito do toyotismo sob a ordem neoliberal.
Historicamente a formação da força de trabalho sempre ocorreu de forma mais intensa no processo de trabalho, no local de trabalho, com os operários habilidosos mais antigos ensinando os mais jovens. Ou seja, o capital, no contexto da organização do trabalho fundada no taylorismo-fordismo, aproveitava-se da qualificação decorrente dos saberes e do saber-fazer desenvolvidos nos postos de trabalho. A assim chamada formação profissional ocorria na base da produção, no chão da fábrica, ou seja, era no local de trabalho que o saber-fazer era gerado e transmitido. Portanto, era no local de trabalho que efetivamente se construía o saber-
fazer.
No contexto da rigidez fordista-taylorista de organização do trabalho o processo de recrutamento dos jovens a serem inseridos na profissão era frequentemente feito por um operário qualificado ou então pelo contramestre, que selecionava os jovens do ambiente social de sua
193
convivência. Não havia a necessidade de tornar explícitos os critérios de seleção, pois quase sempre os recrutados pertenciam a reservas de emprego restritas, residindo próximos da empresa. Dessa forma, “o empregador que contratava já conhecia, mais ou menos, os jovens a serem selecionados, antes mesmo que tivessem colocado o pé na empresa” (DADOY, 2004, p. 127).
Naquele contexto histórico o processo de socialização para o trabalho era mais forte e intenso do que no contexto da reestruturação produtiva. O processo de socialização para o trabalho ocorria desde a família.
Citamos Dadoy (2004, p. 128):
não era raro o jovem adotar o ofício do pai. Uma preparação para o trabalho e para o ambiente de trabalho operava-se, assim, informalmente na família. Hoje, só raramente esse é o caso [...] Hoje, a distância entre o trabalho do jovem e o trabalho de seus pais aumentou consideravelmente. O jovem se encontra mais entregue a si mesmo.
Entretanto, a formação profissional efetivada nos postos de trabalho, entra em crise com o processo de evolução constante dos postos, decorrentes das profundas transformações do mundo do trabalho. Ou seja, com a crise de acumulação do capital a partir dos anos 1970, a noção de qualificação vai ser gradativamente questionada o que leva a um esvaziamento do conceito, fundamentalmente em decorrência de uma perda de referências na definição dos postos de trabalho (ROCHE, 2004, p. 39).
No contexto da reestruturação produtiva dá se uma ênfase ao “recurso das dimensões pessoais” que implica nas formas de organização que exigem dos trabalhadores autonomia, iniciativa, responsabilidade e criatividade. Por mais que isso seja uma retórica ideológica é o que faz o toyotismo e seus nexos organizacionais (Just-in-time, kan-ban, kaizen).
A reestruturação produtiva impõe um nível maior de exigência dos saberes relacionais e comportamentais e um padrão mais alto de cooperação. Nesse contexto os saberes técnicos tornaram-se muito mais abundantes e baratos, enquanto que os saberes comportamentais e relacionais mergulham numa crise sem precedentes.
194
A reestruturação produtiva impõe também um nível maior de responsabilização dos sujeitos, uma interiorização dos objetivos da empresa, uma exigência de participação nos círculos de controle da qualidade, de comunicação com a hierarquia e com os colegas. O processo de reestruturação produtiva impõe também gradativamente os usos dos termos “saber” e “competência” em substituição aos termos “conhecimento” e “qualificação” que marcaram o contexto taylorista-fordista.
A noção de competência, portanto se encaixa perfeitamente nos pressupostos e nexos organizacionais do toyotismo, que é o momento predominante da reestruturação produtiva. Enquanto a noção de qualificação diz respeito à visão estática do mundo do trabalho taylorista-fordista, a noção de competência é apresentada sempre associada a termos como “novo”, “inovação”, “mudança”, “mutação”, “evolução”, ideologicamente aparece sempre associada a idéia de “transformação” (ROCHE, 2004, p. 38).
Portanto, a noção de competência diz respeito à forma que o capital adota para responder à crise de produção e de acumulação. Essa noção é extremamente recente, tendo surgido e evoluído na França depois de 1985. Pois, foi nesse contexto que “a educação nacional [francesa], constatando que os empregadores preferiam falar mais de competência que de qualificação, decide renunciar ao termo qualificação e adota o termo competência” (DADOY, 2004, p. 118).
Apesar de todo discurso ideológico em torno das políticas continuadas de formação profissional, da competência e da empregabilidade nas décadas recentes, verifica-se um crescimento do desemprego, seja nos países desenvolvidos ou nos ditos emergentes. Dadoy (2004, p. 122) assevera que a noção de competência, mais ou menos, sempre “esteve na base das modificações das políticas de mão-de-obra por intermédio das novas ferramentas de gestão da mão-de-obra revelou-se muito mais utilizada em favor dos interesses do empregador, em detrimento dos interesses dos assalariados”.
Alves (2007, p. 185) apresenta-nos uma reflexão pertinente ao problematizar a questão da “captura” da subjetividade do trabalho pelo capital, ressalta que “é no interior da subjetividade humana que se deflagram as grandes lutas pela hegemonia social”, afirmando que o
195
capitalismo global é acima de tudo, capitalismo manipulatório. Salienta que o eixo central dos dispositivos organizacionais do toyotismo – “momento predominante” – do complexo de reestruturação produtiva se expressa nessa “captura”, que se torna indispensável para o funcionamento dos dispositivos organizacionais do toyotismo (Just-in-
time/kanban, kaizen, CCQ etc) que sustentam a grande empresa capitalista.
De tal forma que, conforme nos demonstra Alves (2007, p. 185), os ditos saberes comportamentais, fazem-se presentes cotidianamente na empresa, pois “mais do que nunca, o capital precisa do envolvimento do trabalhador nas tarefas da produção em equipe ou nos jogos de palpites para aprimorar os procedimentos de produção”. Destaca ainda que isso acontece porque “a organização toyotista do trabalho capitalista possui maior densidade manipulatória do que a organização fordista-taylorista”.
Realmente, no contexto da reestruturação produtiva o capital lida com a “captura” da subjetividade do trabalhador, exigindo enfaticamente cada vez mais saberes comportamentais e relacionais.
Citamos Alves (2007, p. 186):
Não é apenas o ‘fazer’ e o ‘saber’ operário que são capturados pela lógica do capital, mas sua disposição intelectual-afetiva que é mobilizada para cooperar com a lógica da valorização. O operário é encorajado a pensar ‘pró-ativamente’, a encontrar soluções antes que os problemas aconteçam [...] Cria-se, deste modo, um ambiente de desafio contínuo, de mobilização constante da mente e corpo do operário empregado, onde o capital não dispensa, como fez no fordismo, o ‘espírito’ operário.
Como os saberes comportamentais são os principais elementos que compõem a noção de competência, afirmamos que a afetividade é um dos motores da competência, pois o componente afetivo reagrupa três elementos “a imagem de si, que pode ser valorizada ou desvalorizada; o investimento afetivo na ação, ou seja, o fato de viver com prazer ou sofrimento aquilo que se faz; e o engajamento, ou seja, a motivação” (WITTORSKI, 2004, p. 80).
Sulzer (2004, p. 93) ao refletir sobre a forma fenomênica adquirida pela noção de competência, sobretudo a ênfase nas questões comportamentais e relacionais que se expressam no saber-ser, entende
196
que o uso da competência aplicada a diversos aspectos da atividade humana, em vez de enriquecer o conceito, tende, ao contrário, a empobrecê-lo. Ou seja, “a imprecisão das noções compreendidas na noção de competência, e em particular a noção de saber-ser, parece provocar uma confusão entre a acepção científica e a do senso comum, favorecendo, assim, o uso desse conceito como instrumento de dominação simbólica”.
Ao analisar numerosos referenciais de competências de empresas e de programas de formação, afirma que tais referenciais solicitam, na ausência de uma definição universal da categoria competência, sua concepção segundo a qual a mesma constitui-se como agrupamento de saberes em sentido muito amplo. Essa ocorrência dá-se pelo fato inegável de que toda atividade humana requer aptidões para sua consecução.
Citamos Sulzer (2004, p. 94):
O fato intransponível, de que a atividade humana requer, em todas as ocasiões, aptidões que se situam espontaneamente na ordem dos conhecimentos adquiridos e da habilidade do comportamento de interação torna favorável o uso do termo ‘competências’ na sua declinação plural e na sua fragmentação em categorias que remetem diretamente às aptidões supracitadas: os ‘saberes’, o ‘saber-fazer’ e o ‘saber-ser’.
Para esse autor a noção de saber-ser é um elemento incontornável da descrição das competências. Ressalta-se que o exercício de uma função comporta ou não uma dimensão relacional e que as competências úteis como, por exemplo, as qualificações se tornariam, assim, cada vez mais ‘sociais’.
Os termos em questão, sobretudo o de criatividade, são difíceis de incorporar em referenciais analíticos das competências, “daí, identificar como competência uma qualidade que não pode nem se definir nem se ensinar parece, a priori, de pouco interesse.” Pois, ensinar a alguém ser criativo é realmente algo muito complicado, já que não há receitas ou técnicas que indiquem com certeza um resultado positivo (SULZER, p. 95).
A noção de competência comporta uma diversidade de definições, sendo que os tipos de saberes ocupam um lugar variável e são tripartidos em saber/saber-fazer/saber-ser. Geralmente a competência é entendida
197
como capacidade para realizar uma ação, num dado contexto, em função de parâmetros e objetivos definidos. Nesse caso, a competência é contextualizada, diz respeito à realização de uma ação num dado contexto – saber-fazer, o que torna o saber-ser numa característica genérica descontextualizada – “ser prestativo, por exemplo” –, pois esse saber é atribuído ao indivíduo independentemente da situação, tornando-se difícil aceitá-lo como elemento da competência.
Dessa forma, o problema está nas descrições das competências, ou seja, nas empresas e nos programas de formação, que, ao distinguir, separar e tricotomizar saber/saber-fazer/saber-ser, acaba por gerar um imbróglio que não se resolve facilmente. Essa confusão entre o saber, saber-fazer e o saber-ser encontra-se muitas vezes em quadros de atividades profissionais específicas. Ora, tanto o saber-fazer, como o saber-ser requerem conhecimentos e habilidades que exigem para sua aplicação um domínio prático, pois “saber-fazer e saber-ser remetem, tanto um como outro, ao cumprimento pelo indivíduo de certos comportamentos observáveis e suscetíveis de serem reiterados, pois manifestam ‘disposições’ incorporadas” (BOURDIEU, apud SULZER, 2004, p. 97).
De modos que a distinção e separação entre o saber-fazer e o saber-ser é totalmente descabível e injustificável, sendo próprio da ambiguidade da noção de competência, inerente à evolução histórica desse conceito ao decliná-lo em saberes de tipos diferentes. A diferença entre o saber-fazer e o saber-ser situa-se apenas no nível da descrição dos atributos considerados para o tipo de “saber”.
Citamos Sulzer (2004, p. 98):
os saber-fazer são descritos na forma de sequências de ações finalizadas, o saber-ser descreve um comportamento integrado, cuja produção pode, entretanto, ser considerada resultante de um conjunto de ações mais ‘elementares’, suscetíveis de serem objeto de uma descrição homóloga daquela usualmente aplicada aos saber-fazer.
O uso da noção de saber-ser, de forma genérica, aleatória e difusa, cria um imbróglio de difícil solução, pois não tem utilidade concreta, já que não se materializa em ações efetivas, ou seja, a maneira como se apresenta “saber ser criativo, saber ser prestativo...”. De tal maneira, que
198
a noção de competência é um mecanismo ideológico que serve à dominação, ao controle e “captura” da subjetividade.
Citamos Sulzer (2004, p. 101):
Revestindo de um aspecto objetivo a concepção ‘naturalista’ da competência, a noção de saber-ser pode, assim, ser o instrumento da legitimação racional de uma forma acabada de dominação, essa que leva os dominados a pensar (e se pensar) por intermédio das categorias de pensamento dos dominantes; a justificativa ‘científica’ que essa noção fornece ao arbítrio daqueles que estão em posição de proceder à remuneração das posições só pode repercutir sobre aqueles que concorrem para ocupá-las.
De tal maneira que a noção de saber-ser, apesar da fraqueza dos fundamentos teóricos que o norteiam, encontra a razão de seu sucesso exatamente na vagueza do termo competência. A noção de saber-ser permite dissimular as consequências de julgamentos subjetivos com a aparência. Sobretudo, a noção de saber-ser vem sendo utilizada pelas áreas de recursos humanos no processo de seleção e recrutamento da força de trabalho, uma vez esgotada os critérios objetivos formais da seleção, apelam para a intuição pessoal para decidir entre os candidatos selecionados.
A dimensão do saber-ser aparece no Relatório coordenado por Jacques Dellors para a UNESCO sobre a Educação para o século XXI como um dos “quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser”. Nesse sentido, entende-se que antes de saber-ser é preciso aprender a ser.
O referido relatório dá muita importância aos documentos do Banco Mundial, o que é revelador da articulação entre as duas instituições. No capítulo quatro desse relatório deparamos com os denominados quatro pilares da Educação, que seriam as quatro grandes necessidades que a educação deve responder no século XXI: aprender a conhecer, aprender
a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser (DELORS, 1996, p. 90).
O capítulo quatro do Relatório da UNESCO possui um sub-ítem denominado “Da noção de qualificação à noção de competência”, onde se explicita que: “Na indústria especialmente para os operadores e os técnicos, o domínio do cognitivo e do informativo nos sistemas de produção, torna um pouco obsoleta a noção de qualificação profissional
199
e leva a que se dê muita importância à competência profissional...” (DELORS, 1996, p. 93, grifo nosso).
Esse relatório não deixa dúvidas o quanto essa ideologia vincula-se ao toyotismo, pois, tomando-se por base “as empresas japonesas: uma espécie de taylorismo ao contrário”, verifica-se a exigência de uma qualificação “...que se apresenta como uma espécie de coquetel
individual, combinando a qualificação, em sentido estrito, adquirida pela formação técnica e profissional, o comportamento social, a aptidão para o trabalho em equipe, a capacidade de iniciativa, o gosto pelo risco” (DELORS, 1996, p. 94, grifo nosso).
Com a universalização da reestruturação produtiva, tendo o toyotismo como momento predominante, ocorreu a propagação de conceitos sobre os quais se funda a produção flexível, tais como: reengenharia, controle de qualidade total, círculo de controle de qualidade, just-in-time, kanban, kaisen etc.
De tal forma que, no contexto da reestruturação produtiva, sob a lógica do toyotismo e da mundialização do capital, saber ser é mobilizar-se e colocar-se por inteiro à disposição do objetivo do capital. O trabalhador deve estar sempre apto para realizar múltiplas tarefas, ser polivalente, multifuncional e estar a serviço da rentabilidade e valorização do capital, por meio do engajamento e da participação subalterna em torno das necessidades da empresa. Competente é aquele que se comporta de forma a saber ser de acordo com os interesses da empresa, enquadrando-se de forma subalterna na perspectiva da valorização do capital, adaptando sempre às mudanças organizacionais, gerenciais e tecnológicas.
A noção de competências é portadora de um rol de habilidades – coquetel individual – que a educação do trabalhador deve levá-lo a adquirir e desenvolver. Nesse sentido, a noção de competências articula-se com os pressupostos pós-modernos, tendo nesse um fundamento conceitual que explica e justifica as exigências postas pelo mundo da produção ao trabalho e à educação.
CONCLUSÃO
Uma análise de todo esse imbróglio que atinge o mundo do trabalho, rebatendo sobre o complexo social educação não pode deixar de
200
estabelecer seu vínculo com o complexo de reestruturação produtiva, que tem no toyotismo seu momento predominante. Pois, a ideologia das competências aproxima-se da qualidade total, já que ambas exigem um novo perfil de trabalhador que deve ser polivalente e multifuncional, possuidor de comportamentos e atitudes capazes de levá-lo a agir com “autonomia” diante da realidade em geral.
É no contexto da globalização como mundialização do capital que se desenvolve o regime de acumulação flexível, fundado no complexo de reestruturação produtiva, cujo ‘momento predominante’, de caráter organizacional, é caracterizado por um ‘novo modelo produtivo’, o toyotismo.
Portanto, em nosso entendimento a noção de competência é uma das formas pela qual o capital, no contexto de sua mundialização, efetiva uma “captura” da subjetividade do trabalho. A noção de competência vincula-se à perspectiva da reestruturação produtiva de caráter flexível. Ou seja, essa noção encaixa-se perfeitamente com a desenvoltura do trabalhador polivalente e multifuncional exigido pelo toyotismo.
Pois é na captura da subjetividade que ocorre o envolvimento manipulatório do trabalhador, que têm que ser polivalente e multifuncional, do contrário, de acordo com a ideologia do toyotismo, sua competência estará comprometida. Coriat (1990) nos apresenta uma síntese interessante e esclarecedora. A preocupação fundamental do toyotismo é com o controle do elemento subjetivo no processo de produção capitalista, isto é, com a captura da subjetividade do trabalho pela produção do capital e com a ‘manipulação’ do consentimento do trabalho através de um conjunto amplo de inovações organizacionais, institucionais e relacionais no complexo de produção de mercadorias, caracterizadas pelos princípios de ‘automação’ e de ‘auto-ativação’, ou ainda, pelo junst-in-time/kan-ban, a polivalência do trabalhador, o trabalho em equipe, produção enxuta, os CCQs, programas de Qualidade Total, iniciativas de envolvimento do trabalhador, a inserção engajada dos trabalhadores no processo produtivo
Portanto, somente em uma perspectiva crítica e de enfrentamento teórico com os pressupostos da adaptabilidade, do abstracionismo da autonomia do indivíduo, da ideologia do aprender a aprender, enfim da
201
famigerada sociedade do conhecimento é que efetivamente conseguiremos nos opor à noção de competência e da empregabilidade.
Para o capital, o trabalhador deve estar sempre predisposto a incorporar os novos atributos – coquetel individual – consoantes às necessidades da produção flexível, abrangendo as habilidades básicas e técnicas para enfrentar o imprevisto por meio da participação, da comunicação em grupo, da multifuncionalidade e da polivalência. Enfim, preparado para o exercício de múltiplas tarefas em um mundo em permanente mutação, ao qual deve inevitavelmente adaptar-se.
De modo que somente em uma perspectiva de formação que aponte para além do capital seria possível uma autonomia e identidade autêntica, pois essas pressupõem a emancipação humana, como já apontou Marx na Questão judaica. Pressupor autonomia, criatividade, identidade e cidadania na sociedade do capital, sob os signos dos nexos organizacionais do toyotismo é ideologia rasteira, na qual o indivíduo é apenas um simulacro do indivíduo, pois é um mero agente assujeitado das relações sociais, que, diga-se de passagem, são relações sociais estranhadas.
REFERÊNCIAS
1. ALVES, Giovanni. Dimensões da reestruturação produtiva: ensaios de sociologia do trabalho. Londrina: Praxis, 2007.
2. _______. O novo (e precário) mundo do trabalho: reestruturação produtiva e crise do sindicalismo. São Paulo: Boitempo, 2000.
3. _______. Toyotismo, novas qualificações e empregabilidade: mundialização do capital e a educação dos trabalhadores no Século XXI. Educação, Maceió, v. 10, n. 16, 2003.
4. ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? – ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 1995.
5. ______. Os sentidos do trabalho – ensaio sobre afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.
6. CHESNAIS, F. (coord.) A finança mundializada. São Paulo: Boitempo, 2005.
202
7. _______ (coord.) A mundialização financeira – gênese, custos e riscos. São Paulo: Xamã, 1998.
8. CORIAT, B. Pensar pelo avesso. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994.
9. DADOY, Mireille. As noções de competência à luz das transformações na gestão da mão-de-obra. In: TOMASI, Antonio (Org.). Da qualificação à competência: pensando o século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004.
10. DELORS, J. (org.) Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez/Brasília: MEC: UNESCO, 1998.
11. DUARTE, Newton. As pedagogias do “aprender a aprender” e algumas ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento. Texto suporte para mesa redonda sobre as reformas educacionais no Brasil, na Reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Caxambu, mimeo, 2001.
12. GOUNET, T. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999.
13. HARVEY, D. Condição pós moderna. São Paulo: Loyola, 1994.
14. ROCHE, Janine. A dialética qualificação-competência: estado da questão. In: TOMASI, Antonio (Org.). Da qualificação à competência: pensando o século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004.
15. SULZER, Emmanuel. Objetivar as competências de interação: crítica social do saber-ser. In: TOMASI, Antonio (Org.). Da qualificação à competência: pensando o século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004.
16. TOMASI, Antonio (Org.). Da qualificação à competência: pensando o século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004.
17. TROJAN, R.M. Pedagogia das competências e diretrizes curriculares: a estetização das relações entre trabalho e educação. Texto apresentado na 28ª Reunião Anual da ANPEd, GT Trabalho e Educação, 16 a 19 de out. 2005, CAXAMBU / MG. Disponível em: <http://www.anped.org.br/28/textos/gt09/gt09617int.rtf>. Acesso em: dez. 2005.
203
18. WITTORSKI, Richard. Da fabricação das competências. In: TOMASI, Antonio (Org.). Da qualificação à competência: pensando o século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004.
19. ZARIFIAN, Philippe. Objetivo competência – por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.
207
TRABALHO, EDUCAÇÃO E SOCIABILIDADE NA TRANSIÇÃO DO SÉCULO XX PARA O XXI:
o enfoque das políticas educacionais
Amélia Kimiko Noma*
Eliane Cleide da Silva Czernisz**
Nosso objetivo é abordar a relação entre trabalho, educação e sociabilidade capitalista contemporânea sob o enfoque das políticas educacionais, a área na qual atuamos como docentes e pesquisadoras.
Partimos do pressuposto de que a discussão proposta deve ser historicamente situada, por tratar-se de uma prática social que não se constitui em espaço a-histórico e vazio. A relação entre trabalho, educação e sociabilidade não tem vida própria fora da história que os homens fazem como resultado de suas lutas e é construída num processo de correlação de forças. Tomando como pressuposto o critério da diferenciação histórica, que significa assumir que nenhum dos elementos analisados permanece cristalizado no tempo e no espaço, argumentamos que há, aqui, uma distinção histórica a ser necessariamente estabelecida, exatamente porque a natureza e as características dos atores e autores atuantes no contexto que focalizamos são relativamente distintas das que existiram em épocas anteriores.
Compartilhamos da concepção de que o trabalho é prática social vital para a humanização do ser social. Ao atuarem e transformarem a natureza para a satisfação de suas necessidades, os homens transformam a natureza e também a si próprios, forjando a estrutura constitutiva do ser social. Tudo aquilo que se produz no trabalho e por meio do trabalho é expressamente humano e traz a marca das relações sociais em que são construídas. Sob o domínio das relações capitalistas de produção, o trabalho assume forma degradada e alienada.
* Doutora em História pela PUC-SP e docente do Departamento de Fundamentos da Educação da
Universidade Estadual de Maringá. E-mail: [email protected] ** Doutora em Educação pela UNESP/Marília e docente no Departamento de Educação da
Universidade Estadual de Londrina. E-mail: [email protected]
208
É no sistema de relações que se metabolizam na sociedade que ocorre a sociabilização do ser social, mediada pelas interações sociais que estão na base de processos formativo-sociais, que incluem os educativos, sejam formais e informais. A sociabilidade, em nosso entendimento, refere-se ao processo de formação do homem contemporâneo que envolve as formas de pensar, de viver, de se relacionar com outras pessoas nos marcos do sistema social vigente.
Ao referir-nos à educação, estamos a tratar de processos formativos que se desenvolvem de maneiras diferenciadas em espaços e tempos sociais, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais, na vida em família, na convivência social e no trabalho. A educação, entendida como uma prática humana, não existe de forma independente das relações de trabalho que se configuram dentre o enorme conjunto de relações sociais que os homens travam ao produzirem a sua existência em determinada sociedade. Por conseguinte, por ela também perpassam as contradições sociais contidas no movimento geral da sociedade que a produz como tal. “Este último aspecto tem sido insistentemente negligenciado por aqueles que falam da escola e, particularmente, quando atribuem ao ensino escolar papel fundamental no processo de transformação social” (FIOD, 1997, p. 202).
Analisar trabalho e educação na sociabilidade do capitalismo pressupõe o entendimento de que se referem a processos distintos, mas que fazem parte de um mesmo movimento histórico. Vale lembrar que o final do século XX foi marcado por transformações intensas que decorreram da resposta do capitalismo mundial à crise esrtutural1, que se tornou mais evidente a partir da década de 1970.
Neste caso, na perspectiva de Mészáros (2002), estamos nos reportando a um estágio histórico do desenvolvimento transnacional do capital, a uma nova fase, à do imperialismo2 hegemônico global.
1 A referência à crise estrutural do capital não significa a afirmação da incapacidade de crescimento e de expansão da economia capitalista e do sistema sócio-metabólico do capital.
2 Para Lênin (1979), a fase imperialista significa que o capitalismo chegou a uma etapa de desenvolvimento na qual ocorreu a dominação dos monopólios e do capital financeiro. A exportação de capitais assume particular importância, ao lado da exportação de mercadorias, com a formação de monopólios pela união internacional, na medida em que a constituição de cartéis tornou-se uma das bases de toda a vida econômica.
209
Chesnais (1997, p. 20), por sua vez, designa-o de novo regime de acumulação, “regime de acumulação mundial predominantemente financeiro” ou, também, “regime de acumulação financeirizada”. De acordo com este autor, a mundialização do capital deve ser entendida como mais do que uma fase da internacionalização do capital, é, antes de tudo, um modo de funcionamento específico do capitalismo mundial.
A mundialização concernente ao capital produtivo, comercial e financeiro implicou em uma interdependência de vários países e regiões, acompanhada de uma polarização maior entre países pobres e ricos. Expressa uma nova configuração do capitalismo, em que se mantém “[...] uma economia explicitamente orientada para os objetivos de rentabilidade e de competitividade, e nas quais somente as demandas monetárias solventes são reconhecidas” (CHESNAIS, 2001, p. 7). Trata-se de processo que conferiu grande mobilidade ao capital, possibilitando “[...] soltar a maioria dos freios e anteparos que comprimiram e canalizaram sua atividade nos países industrializados” (CHESNAIS, 2001, p. 10).
Deve ser enfatizado que tal forma de organização em nenhum momento estabelece igualdade nas condições de rendimento ou competitividade entre os países. Ao contrário, a mundialização liberou “[...] todas as tendências à desigualdade que haviam sido contidas com dificuldades, no decorrer da fase precedente” (CHESNAIS, 2001, p. 12). Assim, “[...] deixando-o por sua conta, operando sem nenhuma rédea, o capitalismo produz a polarização da riqueza em um pólo social, (que é também espacial) e no outro pólo, a polarização da pobreza e da miséria mais desumana” (CHESNAIS, 2001, p. 13).
As estratégias de combate à crise estrutural do capital são expressas, no plano econômico, pela especulação do capital financeiro3, que deve ofertar as condições necessárias para a retomada do processo de acumulação. O capital articula suas bases materiais para enfrentar a referida crise, transformações ocorrem “[...] no regime de acumulação e
3 Entende-se por capital financeiro aquele que, dotado de autonomia relativa, valoriza-se, mas conserva a forma dinheiro. “A esfera financeira alimenta-se da riqueza criada pelo investimento e pela mobilização de uma força de trabalho de múltiplos níveis de qualificação. Ela mesma não cria nada. Representa a arena onde se joga um jogo de soma zero: o que alguém ganha dentro do circuito fechado do sistema financeiro, outro perde” (CHESNAIS, 1996, p. 241).
210
no modo de regulamentação social e política a ele associado” (HARVEY, 1999, p.117).
No movimento de reorganização do capital e do correspondente sistema ideológico e político de dominação, um dos elementos mais evidentes foi o advento do neoliberalismo4 e de suas políticas sociais e econômicas. Na América Latina, o Chile foi o primeiro país do mundo a adotar políticas de alinhamento neoliberal quando da vitória de Pinochet em 1973. Em meados da década de 1980, houve processo similar na Bolívia. De acordo com Anderson (2000), a virada continental em direção ao neoliberalismo ocorreu mais próximo a 1990, com a eleição de Salinas em 1988 no México; de Menem na Argentina em 1989; da segunda presidência de Perez na Venezuela em 1989; de Collor de Mello no Brasil no mesmo ano e de Fujimori no Peru em 1990.
Muitos países da região latino-americana, nos anos 1990, realizaram amplas reformas educacionais, abrangendo distintas dimensões do sistema de ensino, ou seja, legislação, planejamento, gestão educacional, financiamento, currículos escolares, avaliação, entre outras. Tais reformas fizeram parte de um movimento internacional “[...] que vem outorgando à educação a condição de estratégia fundamental para a redução das desigualdades econômicas e sociais nacionais e internacionais” (ROSEMBERG, 2001, p. 153).
Também faz parte do ideário de orientação neoliberal, a apologia da educação como estratégia fundamental para o desenvolvimento econômico e social dos países capitalistas periféricos, entre eles os da América Latina. A focalização de recursos estatais direcionados a parcelas mais pobres da população é uma das ações políticas decorrentes da doutrina neoliberal. Argumentamos que é desse ponto de vista que se devem apreender os ajustes neoliberais, incluindo a reforma educacional latino-americana realizada durante a década de 1990: uma estratégia para garantir a governabilidade, trazer a essa região a estabilidade política (LEHER, 1998, p. 92).
4 O neoliberalismo é uma doutrina político-econômica que “[...] representa uma tentativa de adaptar os
princípios do liberalismo econômico às condições do capitalismo moderno. Estruturou-se, no final da década de 30, por meio das obras do norte-americano Walter Lippmann, dos franceses Jacques Rueff, Maurice Allais e L. Baudin e dos alemães Walter Eucken, W. Röpke, A. Rüstow e Müller-Armack” (SANDRONI, 1994, p. 240). As ideias neoliberais ressurgiram com vigor no contexto da crise estrutural do capitalismo a partir de meados de 1970, em muitos países.
211
Nesta forma de sociabilidade, a relação entre trabalho e educação aparece invertida, similarmente a uma imagem no espelho, e se transmuta na relação entre educação e trabalho. Alertamos para o fato de que não se trata da simples e inocente troca da posição dos termos. Reside aí uma questão de perspectiva histórica e política que traduz uma visão operacional e instrumental que atribui à educação a condição de variável determinante. Deriva desta, a noção, bastante difundida, de que a educação – ideia reducionista – pode fomentar a capacidade produtiva dos indivíduos, pode ser a propiciadora do ingresso no mercado de trabalho e, em decorrência, sua função primeira é o atendimento às flexíveis demandas do mercado laboral. A educação escolar contemporânea é conclamada a formar o homem cujos atributos atendam às necessidades do mundo produtivo.
Cumpre ressaltar que é esta mesma lógica que subsidia a atribuição de responsabilidade à educação brasileira pela baixa qualificação da população economicamente ativa (PEA) e, em consonância, pelo pouco crescimento econômico do país. Com fundamento nela, a educação passa a ser considerada sob uma dupla perspectiva: de um lado, é tratada como sendo a responsável pelo atraso e pobreza do país; por outro, é concebida como instrumento para a promoção e a elevação dos padrões de qualidade de vida (MACHADO, 1998).
Que explicação pode haver para o fato de que, num contexto de crise generalizada, em que o desemprego estrutural aumenta continuamente – produzindo efeitos sociais distintos –, tanto nos países “avançados” quanto nos países “periféricos”, ocorra o fomento do discurso que atribui centralidade à educação e à formação ao longo da vida? Como explicar a consolidação de um consenso que elege o acesso à educação básica como condição essencial para a reversão nas desigualdades socioeconômicas?
Na transição do século XX para o XXI há o incremento da defesa e a disseminação do discurso que estabelece a vinculação entre educação, desenvolvimento e estabilidade econômica e política. A análise crítica permite entender que para além do que é propalado, trata-se de uma questão de regulação social, da necessidade de realizar a gestão do trabalho e dos pobres sob a lógica do capital e do mercado.
Compartilhamos do posicionamento de Rummert (2000, p. 66) de que a propalada centralidade da educação “[...] encobre as reais origens
212
dos problemas socioeconômicos, transformados, estritamente, em decorrência de fracassos, seja do sistema educacional como um todo, seja dos indivíduos, ao ingressarem nesse sistema”. Consideramos muito polêmica a ideia de que a formação profissional é uma resposta estratégica aos problemas oriundos da mundialização do capital, das transformações do mundo do trabalho e em decorrência do desemprego estrutural. Afirmamos ser ingênua a crença na possibilidade de corrigir as distorções do mercado pelo aumento da qualificação dos trabalhadores. Argumentamos que o lugar que o homem ou a mulher irão ocupar na produção não é definido pela escola, portanto, torna-se muito difícil solucionar a crise por intermédio da escolarização.
Do nosso ponto de vista, Mészáros (2002, p. 802) traz uma importante contribuição ao debate quando explicita que as soluções propostas às crises pela ordem hegemônica “[...] nem sequer arranham a superfície do problema, sublinhando, novamente, que estamos à frente de uma contradição interna insolúvel do próprio capital”. Tal contradição refere-se ao fato de que os “[...] seres humanos são, ao mesmo tempo, absolutamente necessários e totalmente supérfluos para o capital” (MÉSZÁROS, 2002, p. 802).
O capital é contradição em processo, o que significa que a acumulação de capital não é um processo ilimitado, porque o próprio capital é o verdadeiro limite da produção capitalista. Assim, “[...] ao mesmo tempo em que o capital deve se mover dentro dos limites impostos pela conservação e valorização do valor-capital, ele tende ao desenvolvimento absoluto das forças produtivas e a ultrapassar, portanto, de modo recorrente, seus limites específicos” (MAZZUCCHELLI, 1985, p. 21).
Em decorrência, a natureza contraditória do capital revela-se na tendência à superprodução e na progressiva redundância do trabalho vivo. Sendo assim, o trabalho humano, consubstanciado na força de trabalho, é absolutamente necessário e, ao mesmo tempo, totalmente supérfluo para o capital. Ou seja, a “[...] produção pela produção, a acumulação desenfreada, a concentração e a centralização, ao implicarem a contínua ampliação das escalas, a crescente automação do processo produtivo e a recorrente elevação da composição técnica”, estabelecem a progressiva redundância do trabalho vivo. “O capital, assim, através da realização de seu caráter progressivo, tende a negar suas próprias determinações mais
213
simples através da própria negação do trabalho”, que é o seu próprio fundamento (MAZZUCCHELLI, 1985, p. 32).
A progressiva substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, por mediação da cientificização dos processos de trabalho, tornou supérfluo o trabalho vivo. Com esta condição material em que o tempo de trabalho é negado como fonte de riqueza, conforme explica Marx (1986), é aberta “[...] a possibilidade histórica da produção social não assentada no roubo do tempo de trabalho de uma classe por outra. A forma burguesa não é mais necessária, antes pelo contrário, para o desenvolvimento das forças produtivas” (MORAES NETO, 1989, p. 115). O que significa afirmar que a “[...] base material desenvolvida pelo capitalismo constitui o pressuposto de sua negação histórica” (MORAES NETO, 1989, p. 115).
Do nosso ponto de vista, é fundamental a afirmação de que o capitalismo é apenas uma forma histórica e, portanto, transitória de produção social. Ao contrário do que afirmam os ideólogos e os apologistas do capital, o modo de produção capitalista não se constitui em regime de produção absoluto e eterno, ao contrário, trata-se de modo de produzir a vida “[...] historicamente determinado, que cria, ao mesmo tempo, as condições para a sua própria superação” (MAZZUCCHELLI, 1985, p. 24).
Neste contexto, como expõe Marx (1980, p. 41), o trabalho do homem tornou-se supérfluo, a não ser “[...] que sua ação seja determinada pela necessidade do capital”. Cumpre ressaltar que são necessidades do capital, a manutenção da produção de mercadorias, a manutenção do trabalho na forma assalariada e a reprodução da classe trabalhadora enquanto produtora de valor, condição de sobrevida do capital. Na concepção adotada por Netto e Braz (2006), a produção capitalista não é tão-somente produção e reprodução de mercadorias e de mais-valia, é produção e reprodução de relações sociais. A sua continuidade só pode ocorrer se também for mantida a produção das relações que engendram aqueles sujeitos. Em síntese, a reprodução capitalista só é viável se ela reproduzir as relações sociais que põem frente a frente capitalistas e proletários (NETTO, BRAZ, 2006). Como a acumulação de capital depende da exploração da força de trabalho, quanto maior for sua exploração, maior será a mais-valia e a acumulação. O que significa afirmar que a continuidade deste processo depende da eficiência e da
214
eficácia da produção e da reprodução de relações sociais, incluindo os mecanismos de intervenção extraeconômicos.
Como a necessidade de manutenção do capitalismo está vinculada com a eficiência e a eficácia da produção e da reprodução de relações sociais, para legitimar essa estratégia, no final do século XX, “[...] o grande capital fomentou e patrocinou a divulgação maciça do conjunto ideológico que se difundiu sob a designação de neoliberalismo [...]” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 226). Por ser integrante do movimento de reorganização do capital e do correspondente sistema ideológico e político de dominação, a doutrina neoliberal, de acordo com os autores, abrange “[...] uma concepção de homem (considerado atomisticamente como possessivo, competitivo e calculista)”. Compreende, também, uma “[...] concepção de sociedade (tomada como agregado fortuito, meio de o indivíduo realizar seus propósitos privados) fundada na idéia natural e
necessária desigualdade entre os homens”. E inclui “[...] uma noção rasteira da liberdade (vista como função da liberdade de mercado)” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 226, grifo dos autores).
Explicita Mészáros (2002, p. 175) que “[...] o aspecto mais problemático do sistema do capital, apesar de sua força incomensurável como forma de controle sociometabólico, é a total incapacidade de tratar as causas como causas, não importando a gravidade de suas implicações a longo prazo”. Em decorrência disso, nas necessárias ações remediadoras, são propostas “[...] soluções para todos os problemas e contradições gerados, em sua estrutura por meio de ajustes feitos estritamente nos efeitos e nas conseqüências” (MÉSZÁROS, 2002, p. 175, grifo do autor).
Nesta lógica, enquadra-se o fato de atribuir centralidade à educação, qualificando-a como um dos instrumentos para o desenvolvimento e para o combate à pobreza. Para exemplificar isto, buscamos ancoragem no Relatório intitulado Nossa diversidade criadora – também identificado por Relatório Cuéllar –, elaborado pela Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento para a Unesco. No Relatório, ressaltam-se os benefícios da educação de massa, em especial nos países mais pobres, afirmando que a mesma: a) possibilita o acesso ao acervo do conhecimento como um direito de todo ser humano; b) esse acesso leva a uma elevação da produtividade, uma mão de obra melhor nutrida, instruída, treinada, saudável e motivada é muito mais eficiente e produtiva; c) o ensino contribui para a redução dos índices de natalidade da população,
215
resultando na diminuição da fertilidade, das taxas de mortalidade infantil, da evasão escolar, do trabalho infantil e das desigualdades, na melhoria da educação das crianças e no incremento da mobilidade ocupacional; d) é importante para o meio ambiente, a pouca instrução de um povo pobre contribui para a degradação ambiental e o torna a principal vítima; e) fomenta a estabilidade social, a formação do capital social e a participação cívica; f) promove a estabilidade política por mediação da “[...] oferta de empregos satisfatórios, produtivos e remunerativos para a população instruída, livrando-a da condição de desempregados qualificados, que tendem a ser um foco de descontentamento [...]” (CUÉLLAR, 1997, p. 203).
Permanecendo na esfera dos efeitos e das consequências, como afirma Mészáros (2002), no Relatório Cuéllar, a educação é considerada a panaceia para os males advindos do capitalismo. A educação é chamada a resolver problemas estruturalmente gerados na desigual e contraditória relação de produção capitalista. Tal concepção fundamenta-se em raciocínio circular “[...] que leva a considerar a pobreza quase como uma 'fatalidade', ou, na melhor das hipóteses, uma situação quase impossível de superar" (SOARES, 2003, p. 91). O fato de naturalizar a desigualdade social leva à aceitação do fenômeno da pobreza como algo inevitável. Em decorrência, as consequências de um modelo injusto e desigual acabam por ser confundidas com as causas. Observa-se a circularidade da análise no diagnóstico da pobreza e da fome, porque, no ato de determinar a causalidade e ao estabelecer relações entre pobreza, fome e desenvolvimento, os efeitos são, sistematicamente, confundidos com as causas (SOARES, 2003).
Na sua fase monopolista, o capital busca maximizar suas formas de reprodução, acumulação e expansão em âmbito mundial, nesse processo, quanto mais acelerada é a produção da riqueza concentrada e centralizada nas mãos dos grupos e países detentores do capital, mais se produz o crescimento da pobreza. Por não se remeter às determinações estruturais da pobreza, o pensamento neoliberal a transforma em categoria multiuso e formula um escopo teórico que defende que tal estado humano deriva, essencialmente, das limitações da liberdade individual, vinculadas diretamente à falta de capacidades e habilidades dos indivíduos em se moverem em um mundo regulado pelo mercado.
216
Esta abordagem em relação à pobreza representa o reducionismo que caracteriza a visão neoliberal e que, evidentemente, não explica o caráter antagônico da acumulação capitalista. Reproduz, portanto, o pensamento fetichizado5, sendo incapaz, em decorrência de limites da consciência que traduz a perspectiva de uma determinada classe social, de explicar as determinações sociais e históricas da pobreza, tratando-a como objeto em si ao naturalizar fenômenos que são sociais e ao abstrair as relações societárias em presença.
Ao explicitar que a acumulação capitalista corresponde à acumulação da miséria, Marx (1985, p. 210) foi categórico ao expor que “[...] a acumulação da riqueza num pólo é, portanto, ao mesmo tempo, a acumulação da miséria, tormento de trabalho, escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral no pólo oposto, isto é, do lado da classe que produz seu próprio produto como capital”. Negar isto é revelar a incapacidade em tratar a pobreza e seu crescimento descontrolado como fenômeno precípuo da dinâmica da acumulação capitalista.
No capitalismo, salienta Netto (2001), pela primeira vez na história registrada, a pobreza aumentava na proporção direta em que acrescia a capacidade social de produzir riquezas. Quanto mais a sociedade se capacitava a “[...] produzir mais bens e serviços, tanto mais aumentava o contingente de seus membros que, além de não terem acesso efetivo a tais bens e serviços, viam-se despossuídos das condições materiais de vida de que dispunham anteriormente” (NETTO, 2001, p. 153). Na sociedade capitalista, há uma outra dinâmica no fenômeno da pauperização que se diferencia radicalmente de “[...] outras formas de sociedade precedentes à sociedade burguesa quando a pobreza estava ligada a um quadro geral de escassez (quadro em larguíssima medida determinado pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas materiais e sociais) [...]” (NETTO, 2001, p. 153).
Consta no Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, intitulado “Educação: um tesouro a descobrir” – conhecido como Relatório Delors – que, diante dos múltiplos desafios do futuro, a educação se torna um recurso indispensável à humanidade na construção dos ideais da paz, da liberdade
5 Remeter-se ao fetichismo da mercadoria, conforme teorizado por Marx (1982) no primeiro capítulo de
O Capital.
217
e da justiça social. É atribuída à educação a tarefa primordial de conduzir “[...] a um desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as opressões, as guerras [...]” (DELORS, 1999, p. 11). Cabe a ela habilitar a humanidade para dominar o seu próprio desenvolvimento para que cada indivíduo “[...] tome o seu destino nas mãos e contribua para o progresso da sociedade em que vive, baseando o desenvolvimento na participação responsável [...]” (DELORS, 1999, p. 82).
A clara exposição sobre a função atribuída à educação no Relatório Delors – e que aplica-se também ao Relatório Cuéllar – é apresentada por Campbell (2002), que enfatiza que a educação não tem a função de resolver os problemas de forma direta. De acordo com o autor, nos Relatórios, explicita-se que o papel da educação é “[...] alimentar, dentro de cada indivíduo, as características de pensamento e de sentimento que os tornarão capazes de contribuir de forma significativa, conjuntamente com os demais, para a criação do melhor futuro global possível” (CAMPBELL, 2002, p. 33-34).
Ao analisarmos o conteúdo dos Relatórios Cuéllar e Delors, encontramos a expressão do que Netto (2001) denomina de contraface da referida naturalização do social. Na perspectiva do autor, “[...] ao naturalizar a sociedade, a tradição em tela é compelida a buscar uma especificação do ser social que só pode ser encontrada na esfera moral”. Com a naturalização da sociedade, “[...] o específico do social tende a ser situado nas suas dimensões ético-morais – e eis que se franqueia o espaço para a psicologização das relações sociais” (NETTO, 2001, p. 45).
No Relatório Delors, são articuladas recomendações práticas com um forte viés moralista, analisam Shiroma, Moraes e Evangelista (2000, p. 70). Nele, orientações precisas são indicadas aos vários níveis de ensino e revelam “[...] uma concepção bastante nítida de educação, de seu papel e possibilidades para garantir sobrevivência dos valores consensuais na sociedade, inculcando um novo respeito às crenças culturais do ocidente”.
A Unesco, agência que subsidiou a elaboração dos referidos Relatórios, estabelece que “[...] uma das finalidades da educação é garantir a eqüidade social, devendo centrar-se, portanto, no desenvolvimento de atributos e potencialidades individuais, ficando os currículos e métodos de ensino consoantes a este objetivo e aos objetivos
218
socializadores [...]” (CAMPOS; SHIROMA, 1999, p. 489). As autoras desvendam o significado dos pilares da educação para o século 21 – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos –, incorporados em vários documentos que normatizam as políticas educacionais. No entendimento das mesmas, a definição desses pilares produz um deslocamento de enfoque na educação escolar, “[...] passa-se de uma educação centrada nos saberes disciplinares para uma educação centrada em atributos cognitivos, sociais e comportamentais, considerados fundamentais para a construção das competências requeridas pelos novos contextos de trabalho e emprego” (CAMPOS; SHIROMA, 1999, p. 489).
O Relatório Delors sintetiza o “novo paradigma” de conhecimento, difundido pelas agências multilaterais, cuja centralidade é a discussão em torno da educação e da formação para o trabalho. Há a vinculação do desenvolvimento econômico à educação, ocorrendo uma ressignificação da teoria do capital humano, que implica na noção de que a melhor capacitação do trabalhador é fator de aumento de produtividade (CATTANI, 2002). Na visão da UNESCO, atuar “[...] nesta linha significa avançar para uma sociedade educacional, onde cada pessoa aprenda durante toda a vida e seja fonte de aprendizagem para os demais” (UNESCO, 1998, p. 11). Isto significa conferir à educação um papel chave neste processo, em razão do seu valor econômico e social (UNESCO, 2004).
O discurso recorrente, nos documentos analisados, é que a educação formal é um fator essencial para o desenvolvimento econômico dos países pobres porque viabiliza o aumento do capital humano e a promoção da equidade social. Em decorrência, a referência à educação é feita por metáforas, tais como a “chave” ou um dos “pilares” para o desenvolvimento e redução da pobreza. A desconstrução desta retórica permite evidenciar uma relação simplista entre educação e desenvolvimento econômico. Em oposição a esta afirmação meramente economicista, queremos enfatizar que, no capitalismo, pode haver crescimento econômico sem que, em contrapartida, isto signifique desenvolvimento humano. Salientamos que a apreensão fenomênica das manifestações da questão social, sem a devida análise das mediações que elas incorporam, leva a atribuir à educação o status de estratégia para a melhoria das condições econômicas e sociais da população.
219
A partir dos anos 1990, o termo empregabilidade ganhou espaço e centralidade, tornando-se o eixo fundamental de um conjunto de políticas destinadas a combater o desemprego. Nesse contexto, acrescenta Noronha (2002, p. 80), a noção de equidade social que se materializaria “[...] na medida em que o indivíduo fosse capaz de associar as competências para operar os códigos com o mérito (reconhecimento de sua competência pelo mercado)”. Na perspectiva de Noronha (2002, p. 70-74), há complementaridade entre os conceitos equidade e empregabilidade, eles são expressão da ideia de que o mérito e a recompensa definem-se pelo modo como o indivíduo se coloca no mercado, ou seja, o êxito ou o fracasso são associados com as características individuais. Por esse prisma, a busca pela equidade e pela empregabilidade passa a ser uma responsabilidade de cada indivíduo. A não inserção no mercado de trabalho é atribuída à ausência dos requisitos exigidos do indivíduo singular em atendimento aos novos padrões de gerenciamento e às exigências da chamada sociedade do conhecimento.
A noção de empregabilidade agrega-se à propalada necessidade de acumulação de capital humano por meio da educação continuada e do aprendizado ao longo da vida. O termo expressa a ideia de que a educação agregaria um valor à força de trabalho. A empregabilidade é utilizada com fundamento na premissa de que o contínuo retorno à escola seria a garantia de inserção e permanência no mercado de trabalho.
Ao analisar esta questão, Oliveira (2000, p. 230) afirma que “[...] pensar em ampliar o acesso à Educação Básica como facilitador da empregabilidade é negar a existência de algo muito maior e mais grave: o desemprego estrutural”. O posicionamento da autora é que “[...] o acirramento das desigualdades sociais, paradoxalmente ao crescimento dos níveis de escolaridade, põe em dúvida a efetividade das teorias que apresentavam a educação como melhor instrumento para a distribuição mais eqüitativa de recursos e rendimentos” (OLIVEIRA, 2000, p. 231).
Em consonância com a premissa neoliberal, a equidade é entendida como similar à igualdade de oportunidade e associada ao respeito às liberdades individuais. Nessa perspectiva, a ação pública deve visar à ampliação do conjunto de oportunidades para aqueles que têm menos voz e menores recursos e habilidades. O ponto crucial da equidade não é a igualdade de renda, afirma Iamamoto (2008), mas a expansão do acesso dos pobres à saúde, à educação e ao trabalho.
220
Kuenzer (2002, p. 93) denomina de “certificação vazia” as estratégias de escolarização que se constituem em “[...] modalidades aparentes de inclusão, que fornecerão a justificativa, pela incompetência, para a exclusão do mundo do trabalho, dos direitos e das formas dignas de existência”. À educação é atribuído o papel de qualificação para o mercado de trabalho, num contexto de desemprego estrutural, no qual se intensifica o confronto entre a força de trabalho e o capital. A certificação de escolarização é apresentada como promessa de mudança situacional do indivíduo isolado. Esta retórica da educação como solução para o desemprego implica no não desvendamento da realidade histórico-social do capitalismo. Os sujeitos são responsabilizados individualmente e os que não conseguem se inserir no mercado de trabalho são considerados os próprios culpados pelo seu infortúnio.
O padrão emergente de desemprego é um indicador do aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, explica Mészáros (2002). Os trabalhadores mais qualificados acabam por somar-se ao contingente já existente de desempregados. Os efeitos dessa situação atingem todas as categorias de trabalhadores, sejam qualificados e ou não, abrangendo a totalidade da força de trabalho da sociedade (MÉSZÁROS, 2002).
Para salientar o caráter histórico da vinculação entre educação, desenvolvimento e estabilidade econômica e política no Brasil, apresentamos o contido no Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001. Consoante com as orientações e diretrizes políticas que já apontamos, o Plano define objetivos e metas para a educação do país e contém três eixos norteadores da política: 1) a educação como direito social da pessoa; 2) a educação como fator de desenvolvimento econômico e social e 3) a educação como meio de combate à pobreza (BRASIL, 2001).
A relação entre educação, trabalho e sociabilidade assume características específicas, que estão relacionadas com as relações sociais vigentes, com o processo de acumulação capitalista e com os conflitos de classe que perpassam as instituições da sociedade como um todo. Neves (1999) explicita o dualismo histórico que sempre caracterizou o sistema educacional brasileiro, a saber, a diferenciação de escolarização para as massas trabalhadoras e para os trabalhadores qualificados provenientes das camadas médias e de parcelas da burguesia. O sistema educacional
221
oferta somente o básico – para acrescer o patamar mínimo de escolarização – para os que realizam ou irão assumir o trabalho simples. Para aqueles que assumem ou irão desempenhar funções de maior complexidade, são destinadas atividades curriculares e estrutura organizacional de nível superior, visando capacitar essa força de trabalho a utilizar os conhecimentos de ciência e tecnologia incorporados pelos grandes grupos transnacionais de forma adaptada à nossa realidade (NEVES, 1999).
O posicionamento de Neves é corroborado por Del Pino (2000, p. 203) que identifica o fortalecimento do “[...] mérito acadêmico ao privilegiar, para poucos/as, a qualificação científico-tecnológica e sociocultural para o exercício das funções vinculadas à gestão, à criação, à direção e aos serviços especializados”. Em contrapartida, para a grande maioria, “[...] privilegia-se a escolaridade apenas suficiente para permitir o domínio dos instrumentos necessários à existência em uma sociedade que combina o perfil científico-tecnológico com a economia informal”. Tal escolarização é “[...] complementada por uma formação profissional de curta duração, que capacita para exercer ocupações precarizadas em um mercado cada vez mais restrito, direcionado para permitir a continuidade da acumulação capitalista”.
Ao desconstruirmos as armadilhas do ideário neoliberal, conscientizamo-nos de que, na análise da relação entre trabalho, educação e sociabilidade, não podemos nos restringir a processos individuais, morais e psicológicos. Deve-se ampliar a explicação, articulando-as com processos que estão, necessariamente, subordinados à lógica do capital e do mercado, portanto, sujeitos à diferenciação, segmentação e exclusão social, justamente porque são constituídas em relações sociais que plasmam as assimetrias, a exclusão e as desigualdades que se configuram na estrutura da sociedade capitalista.
Para a consciência reificada, é ocultada a compreensão de que os homens, de uma dada época e lugar, são aquilo que eles se produzem pelo trabalho. Em decorrência, não conseguem entender que o trabalho é a categoria essencial que permite explicar a história, a produção humana, o processo de constituição do homem concreto. Para o pensamento fetichizado, o trabalho fica desprovido de conteúdo e de significado históricos, deixa de ser pensado como prática social vital para a humanização do ser social. O trabalho é apreendido como algo natural,
222
que não tem relação com a transformação histórica das relações de produção e com o desenvolvimento das forças produtivas sociais. Esvaziado desse conteúdo, o trabalho pode ser pensado apenas como a execução de uma função, de uma atividade, como algo relativo a uma ocupação ou profissão.
Similarmente, o mesmo pensamento fetichizado não é capaz de entender que o modo como o homem produz as condições para garantir a sua vida material condiciona a produção da consciência e, também, o seu processo formativo e educativo. Destarte, realiza o esvaziamento do sentido amplo de educação quando propala que se deve educar apenas para a empregabilidade. A educação deixa de ser processo de formação do ser social em sua totalidade no sentido do desenvolvimento humano-genérico e se transmuta em algo apenas instrumental e operacional, destinada a atender a demandas do mercado de trabalho. Este reducionismo implica num estreitamento da função social da educação e da escola. Abandona-se a formação para a emancipação humana6 e passa-se a educar para o mercado. A função da educação é reduzida a “gerar” quantum de valor agregado à força de trabalho com vistas à inserção no flexível mercado laboral. Como salienta Mészáros (2005), isto significa educar apenas para o capital. Aqui a educação deixa de ser concebida como uma mediação para a constituição de uma sociabilidade plenamente emancipada.
REFERÊNCIAS:
1. ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo (Orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 9-23.
2. BRASIL. Plano Nacional de Educação. Brasília, DF: Inep, 2001.
3. CAMPBELL, Jack. Construindo um futuro comum: educando para a integração na diversidade. Brasília, DF: Unesco, 2002.
4. CAMPOS, Roselane Fátima; SHIROMA Eneida Oto. O resgate da escola nova pelas reformas educacionais contemporâneas. Revista
6 A emancipação humana concreta para Marx (2002) significa a emancipação de toda a humanidade das
relações sociais de produção burguesas e tem como condição a superação das relações sociais baseadas em classes.
223
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 80, n. 196, p. 483-493, set./dez. 1999.
5. CATTANI, Antônio (Org.). Dicionário crítico sobre trabalho e tecnologia. 4. ed. rev. ampl. Petrópolis,RJ: Vozes; Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002.
6. CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996.
7. ______. Mundialização: o capital financeiro no comando. Outubro, São Paulo, n. 5, p. 7-28, 2001.
8. ______. O capitalismo de fim de século. In: COGGIOLA, Osvaldo (Org.). Globalização e socialismo. São Paulo: Xamã, 1997. p. 7-33.
9. CUÉLLAR, Javier Pérez (Org.). Nossa diversidade criadora. Campinas,SP: Papirus; Brasília, DF: Unesco, 1997.
10. DEL PINO, Mauro Augusto Burkert. Reestruturação produtiva de educação profissional. 2000. 255 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.
11. DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC: UNESCO, 1999.
12. FIOD, Edna Garcia Maciel. A década de 90 e os rumos do ensino público. In: RAMPINELLI, Waldir José; OURIQUES, Nildo Domingos (Orgs.). No fio da navalha: críticas das reformas neoliberais da FHC. São Paulo: Xamã, 1997. p. 201-223.
13. IAMAMOTO, Marilda Villela. Estado, classes trabalhadoras e política social no Brasil. In: BOSCHETTI, Ivanete et al. (Org.). Política social no capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008. p.13-44.
14. KUENZER, A. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Dermeval; SANFELICE, José Luis (Orgs.). Capitalismo, trabalho e educação. Campinas,SP: Autores Associados; HISTEDBR, 2002. p. 77-96.
224
15. LEHER, Roberto. Da ideologia do desenvolvimento à ideologia da globalização: a educação como estratégia do Banco Mundial para “alívio” da pobreza. 1998. 266 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
16. LÊNIN, Vladimir Ilich. O imperialismo: fase superior do capitalismo. Tradução Olinto Beckerman. São Paulo: Global, 1979.
17. MACHADO, Lucília. Educação básica, empregabilidade e competência. Trabalho e Educação, Belo Horizonte, n. 3, p. 15-31, jan./jul. 1998.
18. MARX, Karl. Conseqüências sociais do avanço tecnológico. São Paulo: Edições Populares, 1980.
19. ______. O Capital. São Paulo: Nova Cultura, 1985. v.2 (Os Economistas).
20. ______. O Capital: crítica da economia política. 8. ed. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. São Paulo: DIFEL, 1982. l.1, v. I.
21. ______. Elementos fundamentales para la crítica de la economia política: borrador 1857-1858. México: Siglo Veintiuno Editores, 1986. v.2.
22. ______. A questão judaica. São Paulo: Centauro, 2002.
23. MAZZUCCHELLI, Frederico. A contradição em processo: o capitalismo e suas crises. São Paulo: Brasiliense, 1985.
24. MÉSZÁROS, István. Para além do capital. São Paulo: Boitempo; Campinas, SP: Editora UNICAMP, 2002.
25. ______. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005.
26. MORAES NETO, Benedito Rodrigues. Marx, Taylor, Ford: as forças produtivas em discussão. São Paulo: Brasiliense, 1989.
27. NETTO, José Paulo. Capitalismo monopolista e serviço social. 3. ed. ampl. São Paulo: Cortez, 2001.
28. NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006.
225
29. NEVES, Lúcia. Educação: um caminhar para o mesmo lugar. In: LESBAUPIN, Ivo (Org.). O desmonte da nação: balanço do governo FHC. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
30. NORONHA, Olinda Maria. Políticas neoliberais, conhecimento e educação. Campinas, SP: Alínea, 2002.
31. OLIVEIRA, Dalila Andrade. Educação básica: gestão do trabalho e da pobreza. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
32. ROSEMBERG, Fúlvia. Educação formal, mulher e gênero no Brasil contemporâneo. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 515-540, 2001.
33. RUMMERT, Sônia Maria. Educação e identidade dos trabalhadores: as concepções do capital e do trabalho. São Paulo: Xamã, 2000.
34. SANDRONI, P. Novo dicionário de economia. 7. ed. São Paulo: Best Seller, 1994.
35. SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia M. de; EVANGELISTA, Olinda. Política educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
36. SOARES, Laura Tavares. O que são as políticas de ajuste de caráter neoliberal? In: ______. O desastre social. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 19-39.
37. UNESCO. A UNESCO e a educação na América Latina e Caribe (1987-1997). Santiago-Chile: UNESCO-SANTIAGO, 1998.
38. ______. A UNESCO no Brasil: consolidando compromissos. Brasília: UNESCO, 2004.
227
REFORMAS EDUCACIONAIS E REDEFINIÇÃO DA FORMAÇÃO DO SUJEITO
Domingos Leite Lima Filho*
A relação educação, formação profissional e inserção no mundo do trabalho tem sido tema destacado, notadamente a partir dos anos de 1990, em justificativas de reformas educacionais e de reformas das relações de trabalho nas quais se inserem políticas públicas e programas governamentais que apresentam, dentre seus argumentos principais, três questões recorrentes: as inovações tecnológicas no processo produtivo e as mudanças técnicas e organizacionais a elas relacionadas; os requerimentos atuais e futuros de utilização da força de trabalho e sua composição qualitativa e quantitativa; a adequação organizacional e curricular das estruturas de formação da força de trabalho, de forma a responder satisfatoriamente às novas demandas do processo de trabalho. A análise de tais argumentos, concepções, políticas e programas e seus impactos constitui um importante e vasto campo de investigação, em âmbito nacional e internacional, sobre o qual grupos de pesquisa e pesquisadores têm se debruçado, sob distintas perspectivas e recortes. É no âmbito desta temática, a qual identificamos como um movimento de redefinição da formação do sujeito, que está situado o presente texto, base para uma das sessões do Minicurso “Trabalho e Educação”, ministrado no VI Seminário do Trabalho, na UNESP-Marília, em maio de 2008.
EDUCAÇÃO, DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E GLOBALIZAÇÃO: CONDICIONANTES DAS REFORMAS SOCIAIS DOS ANOS DE 1990
Seja como manifestação de projetos nacionais em disputa, seja como decorrência de determinado modelo de inserção do país na ordem econômica mundial, seja como expressão da hegemonia das relações sociais capitalistas em determinado momento histórico, é importante assinalar que as reformas educacionais e as relativas à formação
* Doutor em Educação pela UFSC e professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), onde lidera o Grupo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Educação e Tecnologia (GETET). Email: [email protected]
228
profissional e às relações de trabalho, iniciadas nos anos de 1990, ocorrem em um contexto mundial de reformas sociais em que se localizam os movimentos de redefinição do papel do Estado sob o paradigma hegemônico das políticas de caráter neoliberal.1
Esta orientação geral e generalizante tem seu vínculo nos pressupostos de que a consolidação econômica e política do capitalismo mundial é uma ordem irreversível e mesmo “natural” para as sociedades contemporâneas nas quais os Estados nacionais deveriam reger-se pelos paradigmas da flexibilização, desregulamentação e privatização, caminho indesviável para o qual não haveria alternativa (There is No Alternative [TINA], conforme Margareth Thatcher), nem tampouco novas possibilidades a construir (o que poderia ser mesmo considerado como o “Fim da História”, segundo Francis Fukuyama). Em que pese o caráter absolutamente ideológico destas afirmações, o fato é que mundialmente e em particular na América Latina, observamos a ocorrência quase que simultânea de movimentos de reforma, tais como os ocorridos na Argentina, Brasil, México e Colômbia nas reformas de seus sistemas de ensino técnico-profissional.2
No caso brasileiro, embora o presente texto não tenha por objetivo a análise de tais políticas, podemos destacar três documentos legais emitidos em meados dos anos de 1990 que marcaram profundamente a reforma da educação e da formação profissional e seus desdobramentos ainda em curso: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996); o Decreto 2.208, que estabelece as diretrizes da Reforma da Educação Profissional (BRASIL, 1997); o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – PLANFOR (BRASIL, 1995). Um estudo aprofundado destes documentos mostrará com muita clareza as evidências das conexões e vínculos entre suas diretrizes conceituais e os
1 Este tópico e os seguintes constituem uma versão resumida e ligeiramente modificada extraída do Capítulo 2, A educação no cenário da economia política da globalização, de LIMA FILHO, Domingos Leite. A reforma da educação profissional no Brasil nos anos noventa. Tese [Doutorado em Educação]. Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2002. 2 As seguintes reformas educativas foram iniciadas nos anos de 1990: Reforma de la Formación Profesional (Argentina), Reforma del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Colômbia), Proyecto para la Modernización de la Formación Técnica y la Capacitación (México) e Reforma da Educação Profissional (Brasil).
229
pressupostos e orientações contidos nos documentos dos organismos internacionais dos anos de 1990.3
Sem buscar suprimir a dimensão das especificidades e das particularidades estruturais e conjunturais de cada formação social histórica, é razoável supor que as “experiências” ou “determinações” que condicionam estas reformas no campo da formação/educação profissional expressam as necessidades e a materialidade das relações de produção capitalistas em determinada situação de hegemonia, em especial, a hegemonia das políticas públicas do Estado neoliberal no contexto da economia política da globalização.
Nesse sentido, discutiremos as condições que fazem emergir, nos anos de 1990, as reformas educacionais e da formação profissional nos países considerados periféricos, dirigindo especialmente nossa atenção para os documentos setoriais produzidos pelos organismos internacionais. Considere-se, de início, que no contexto mundial vivenciado a partir dos anos de 1990, no qual o discurso da integração e da mobilidade social via escolarização é negado pela realidade prática da exclusão social de crescente parcela da população e pelo alargamento do fosso econômico, tecnológico e social entre economias centrais e economias periféricas, as orientações de reformas dos sistemas de educação, da formação e das relações de trabalho emanadas a partir dos diagnósticos produzidos pelos organismos internacionais cumprem um papel importante como parte da estratégia de manutenção da hegemonia da economia política internacional.
Em situações de crise de hegemonia, novas questões e necessidades se põem para a manutenção da ordem dominante e da acumulação do capital, e com elas a necessidade de re-significação de conceitos visando manter e reconstruir sobre novas bases o consenso e a hegemonia dominantes. Dessa maneira, os documentos setoriais de reformas podem ser analisados – além de seu caráter de políticas específicas – como parte da estratégia mais geral de manutenção da hegemonia, em que as práticas discursivas ganham especial destaque.
Vale destacar, além disso, que a formulação de políticas educacionais e de formação profissional com um pretenso caráter
3 Para aprofundamento dessa discussão ver: LIMA FILHO (2002).
230
universal na década de noventa e sua implementação nos países periféricos do sistema de relações capitalistas mundiais se dá mediante processos políticos diversos e negociações de consórcios de poder que envolvem as elites dominantes nacionais e o capital internacional. Ademais, a consecução das orientações emanadas dos relatórios internacionais se dá por mecanismos de adequação variados, dentre os quais as condicionalidades4 estabelecidas pelos organismos internacionais para a concessão de financiamentos, pelas quais se estabelecem os eixos conceituais e as diretrizes da política a ser seguida.
Nesse aspecto, nos diagnósticos e orientações dos organismos internacionais para as políticas educacionais e de formação profissional, a relação capital–trabalho é reduzida ao conceito de empregabilidade, capacidade que deve ser administrada pelo próprio trabalhador. Por outro lado, a universalidade dos direitos sociais, sobretudo dos direitos à saúde e educação públicas e ao trabalho, é reduzida à igualdade de oportunidades, sugerindo-se que o Estado deve limitar-se a promover políticas públicas que garantam uma base mínima de eqüidade, a partir da qual os indivíduos devem percorrer caminhos eleitos e conquistados conforme suas preferências e competências supostamente definidas no campo da ação e vontade do indivíduo.
Efetivamente, a análise documental nos permitirá observar que empregabilidade e eqüidade são categorias centrais dos diagnósticos internacionais que informam as políticas setoriais educacionais e de formação profissional dirigidas aos países periféricos, definindo o que pode ser pensado e feito em termos de políticas públicas. Tais diretrizes também cumprem importante papel ao contribuir para obliterar as discussões acerca das razões da exclusão das nações periféricas, retirando a discussão do campo da análise da estrutura das relações sociais de produção e da decorrente divisão internacional do trabalho. A análise é circunscrita, então, ao campo conjuntural das interpretações factuais e episódicas dos ciclos de desenvolvimento econômico ou, ainda, ao campo
4 Estas condicionalidades foram se constituindo como verdadeiras imposições de políticas de estabilização econômica e de reformas estruturais às quais as nações candidatas a financiamentos deveriam submeter-se. Dentre as primeiras destacaram-se, com freqüência, as maxidesvalorizações da moeda local, as exigências de desindexação dos salários, cortes de investimentos públicos em programas sociais. Exemplos de reformas estruturais são a privatização dos sistemas previdenciários e empresas estatais, a quebra de estabilidade e demissão de servidores públicos, a revisão da legislação sobre remessa de lucros ao exterior etc.
231
meritocrático da competitividade entre as nações ou das competências dos indivíduos.
Na seguinte seção centraremos nossa análise em dois documentos setoriais produzidos pelos organismos internacionais, com destacada importância para a orientação das reformas da educação, da formação profissional e das relações de trabalho nos anos de 1990.
AS PROPOSTAS DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS: RE-SIGNIFICAÇÃO DOS
CONCEITOS NA FORMAÇÃO DO CONSENSO E NA DEFINIÇÃO DO PAPEL DO
ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Selecionamos para um estudo analítico os documentos Educação e
Conhecimento: Eixo da Transformação Produtiva com Eqüidade, produzido em 1992 pela CEPAL/UNESCO, e Prioridades e Estratégias
para a Educação, elaborado em 1995 pelo Banco Mundial. O estudo ao mesmo tempo em que se deterá sobre as orientações e conceitos contidos nos textos, buscará relacioná-los aos contextos sócio-históricos em que se inserem, uma vez que, concordando com Gentili (1994, p. 117), “os discursos constituem dimensões anunciativas de um tipo específico de ideologia somente compreensível no contexto da realidade material que a determina”.
É importante destacar, de início, que um dos critérios que motivou a seleção dos dois documentos, dentre tantos outros produzidos pelos organismos internacionais nos anos de 1990, foi a importância conferida aos mesmos pelos seus próprios autores, além da presença dos referidos documentos em expressivo número de citações bibliográficas e referências, tanto em textos governamentais e institucionais, quanto em análises sobre políticas e reformas educacionais, da formação profissional e das relações de trabalho, em especial aquelas realizadas na América Latina desde então.
O Banco Mundial, no documento Prioridades e Estratégias para a
Educação, destaca que o referido estudo setorial representa uma síntese das publicações e formulações educacionais realizadas pelo Banco desde 1980 e que o mesmo tem por objetivo principal definir o papel que cabe aos governos no que diz respeito ao sistema de educação formal (BANCO MUNDIAL, 1995, p. xii).
232
Tanto o documento do Banco Mundial quanto o da CEPAL apresentam uma análise setorial ampla, de modo que sua importância extrapola o campo das ações conjunturais e de programas ou níveis educacionais determinados ou países e sub-regiões específicas, para situar-se no campo das ações estratégicas que visam orientar o modelo estatal e as políticas institucionais que serão conduzidas no campo educacional para o conjunto dos países de baixa e média renda, na concepção do Banco Mundial, ou de caráter continental, para todos os países da América Latina e Caribe, no âmbito de intervenção das políticas da CEPAL.
Além disso, conforme poderá ser observado nos Quadros 1 e 2, a seguir, os documentos possuem uma abrangência complexa e extensa e guardam grande semelhança em sua estrutura.
Ambos apresentam uma introdução abrangente, na qual contextualizam as ações do organismo internacional no âmbito educacional, referida pelo menos ao período da década anterior (desde os anos 80 até o ano da publicação). Em seguida, após a manifestação explícita dos objetivos e destinatários, apresenta-se um resumo do documento, destacando os seus pontos principais. A partir daí, o texto é dividido em partes (quatro, no caso do Banco Mundial, e três, no documento da CEPAL), em que são apresentadas, em seqüência, a abordagem histórica e conceitual do papel da educação e a análise da experiência das políticas educacionais dos países e regiões em foco. Por fim, apresentam um conjunto de diretrizes, estratégias, ações e medidas de políticas educacionais que deverão ser implementadas, de modo mais amplo, a partir da adequação do modelo e papel do Estado e, de modo mais específico, a partir das reformas educacionais recomendadas.
O Quadro 1 apresenta uma ficha documental do documento “Prioridades e Estratégias para a Educação” (Banco Mundial, 1995), tendo por objetivo apresentar a estrutura deste primeiro documento e uma visão sintética da abrangência de seus conteúdos. O mesmo objetivo é cumprido pelo Quadro 2, ao apresentar a ficha documental do documento “Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com eqüidade” (CEPAL, 1995).5
5 Embora este documento da CEPAL seja de 1992, a versão utilizada no presente trabalho é a de 1995.
233
QUADRO 1. Ficha documental – Prioridades e Estratégias para a Educação – Banco Mundial (1995)
I – OBJETIVOS DO DOCUMENTO
Objetivo Principal
– “o presente documento se ocupa principalmente do sistema educacional formal, e do papel que cumpre o governo no que se refere a promover o acesso à educação, bem como a sua eqüidade e qualidade” (p. xii).
II – A QUEM SE DESTINA O DOCUMENTO
Alvo
– “países de baixa e média renda, [isto é] ... os tradicionalmente considerados países em desenvolvimento e os ex-países socialistas da Europa e Ásia” (p. xii)
III – ESTRUTURA E CONTEÚDOS PRINCIPAIS DO DOCUMENTO
Tópicos principais Conteúdos principais
Questões fundamentais abordadas
– o documento sintetiza a análise do Banco desde 1980; destaca o papel fundamental da educação para o crescimento econômico e redução da pobreza; acentua a necessidade da reforma educacional e da inversão em capital humano nos países de baixa e média renda.
Prólogo – cita os objetivos e os destinatários do documento. Resumo – apresenta, em 30 páginas, uma síntese do documento. Introdução – destaca o papel do capital humano como, “fonte principal das diferenças de
nível de vida entre as nações ... e das diferenças dos salários” e “motor principal do crescimento” (p. xxi).
Primeira parte: a educação e o desenvolvimento
– avalia a contribuição da educação ao desenvolvimento nacional, ao crescimento da produtividade do trabalho e à mobilidade social, com base na análise econômica neoclássica; ressalta a melhor relação custo-benefício na educação primária; destaca o papel da educação para a redução e alívio da pobreza (p.1-9).
Segunda parte: os resultados da experiência
– avalia o “negativo” desempenho dos sistemas educacionais de países de baixa e média renda; recomenda a concentração dos recursos públicos no nível primário para elevar a eficiência e a eqüidade da educação (p.44); destaca a necessidade de autonomia das instituições e de flexibilidade para a obtenção de recursos e custeio (p.61).
Terceira parte: seis reformas essenciais
– aponta os quatro problemas fundamentais da educação: acesso, eqüidade, qualidade e morosidade das reformas; – estabelece seis reformas essenciais para a educação: maior prioridade, maior atenção aos resultados, centrar o uso dos recursos públicos na educação básica (séries iniciais), maior atenção à eqüidade, maior participação das famílias na gestão e custeio, maior autonomia para as instituições educacionais (p. 65-105).
Quarta parte: implementação das mudanças
– orienta a ação dos governos com vistas a obtenção de recursos e a implantação das reformas; – destaca a necessidade de co-participação dos beneficiários e os critérios de avaliação dos programas, orientados pela obtenção de resultados (p.113-125).
Fonte: elaboração própria
234
QUADRO 2. Ficha Documental – Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com eqüidade – CEPAL/UNESCO (1995)
I – OBJETIVOS DO DOCUMENTO
Objetivo Principal
– “delinear os contornos da ação política e institucional capaz de favorecer o vínculo sistêmico entre educação, conhecimento e desenvolvimento ... num marco de progressiva eqüidade social” (p.4); “tal objetivo não será alcançado sem ampla reforma dos sistemas educacionais ... com ênfase no ensino básico, médio e técnico-profissional” (p.5).
II – A QUEM SE DESTINA O DOCUMENTO
Alvo – países da América Latina e Caribe.
III – ESTRUTURA E CONTEÚDOS PRINCIPAIS DO DOCUMENTO Tópicos principais Conteúdos principais
Prefácio – apresenta as ações que motivaram a publicação do documento. Apresentação – apresenta a idéia central, objetivo e estratégia do documento. Resumo – apresenta, em 20 páginas, uma síntese do documento. Primeira parte: O contexto latinoamericano
– Cap.1. O desenvolvimento latino-americano e a proposta de transformação produtiva com eqüidade: faz uma análise histórica da região e apresenta a estratégia da proposta da CEPAL: objetivos básicos (cidadania e competitividade), diretrizes de políticas (eqüidade e desempenho) e reforma institucional (integração e descentralização).
Segunda parte: o ponto de partida
– Cap. 2. Educação e recursos humanos na América Latina e Caribe: critica a “centralização, ausência de avaliação, obsolescência” dos sistemas de educação básica e superior da região e sua baixa “eficiência, qualidade e eqüidade” (p. 45-113); – Cap. 3. O debate internacional sobre educação e formação de recursos humanos: apresenta “novas exigências educacionais das empresas” nas condições de globalização e competição internacional; a política educacional deve combinar eficiência e eqüidade para proporcionar competitividade e cidadania, para o que são apresentados “oito ensinamentos do debate internacional”: “1. existe uma nova oportunidade; 2. ninguém inova desprezando as tradições; 3. condições necessárias ao consenso; 4. capacidade de previsão; 5. a prioridade das mudanças institucionais; 6. a avaliação de resultados como fator de mudança; 7. o acesso eqüitativo à educação; 8. prioridades para os resultados da aprendizagem” (p.120-140). – Cap. 4. Tecnologia, educação e desenvolvimento: ressalta a importância da “incorporação dos novos modelos de acumulação de capital humano” (p. 155) na determinação da dinâmica do crescimento e da mobilidade social; adota como referência concepções teóricas da gestão empresarial e análises prospectivas da transformação educacional para subsidiar a tese de que os “enfoques conceituais básicos para a elaboração da estratégia e das políticas educacionais na região” devem prever: “1. papel do Estado: aproximação sistêmica, visão estratégica, eqüidade e financiamento; 2. mudança institucional: abertura e descentralização; 3. alinhamentos de políticas, conforme: desempenho, qualidade, profissionalização, capacitação e desenvolvimento de C&T como atividade do mercado” (p.160-198).
235
Terceira parte: A estratégia proposta
– Cap. 5. Objetivos, critérios, diretrizes: a “idéia força” é que as reformas educacionais aliadas à capacitação e desenvolvimento do potencial científico e tecnológico proporcionarão à região “competitividade internacional e cidadania moderna” (objetivos estratégicos); para tanto, as diretrizes de política educacional devem basear-se em eqüidade e desempenho, que combinem integração e descentralização (p. 200-220). – Cap. 6. Ações e medidas: devem estar direcionadas para 1. contexto institucional aberto às demandas sociais; 2. acesso universal aos códigos da modernidade; 3. criatividade no acesso, difusão e inovação científico-tecnológica; 4. responsabilidade da gestão institucional; 5. profissionalização e protagonismo dos educadores; 6. compromisso financeiro da sociedade com a educação; e 7. desenvolvimento e cooperação regional e internacional (225-450).
Fonte: elaboração própria
No entanto, não é apenas na estrutura e no conteúdo de seu ideário que os documentos em análise apresentam similitudes importantes. Conforme já observamos em texto anterior, a estrutura e a identidade conceitual presente em diversos documentos dos organismos internacionais, e sua similaridade, podem ser examinados a partir de uma outra perspectiva: a estética textual.6 Nessa perspectiva, a estrutura dos textos revela a existência de uma espécie de “norma sistemática” em sua construção, pela qual os padrões alternados de diversos tipos de “textos” – quadros, gráficos, exemplos exemplares, narrativas, análises – alternam-se, deslocam-se e combinam-se, permitindo uma dinâmica diferenciada de leituras, constituindo um movimento intra e intertextual, que coloca o leitor/interlocutor em várias posições de sujeito.
A estrutura espacial dos documentos apresenta-se basicamente na forma dual, pela justaposição de dois textos: um texto que se apresenta como principal, na forma discursiva e analítica, e outros textos secundários, em forma de quadros, gráficos ou descrições de experiências – nacionais, regionais ou comunitárias – em geral, de êxito. No entanto, conforme a opção do leitor ou do enfoque específico, as posições secundárias e centrais são intercambiáveis. Assim,
A análise da “arquitetura dos textos” possibilita-nos apreender as estratégias discursivas a partir das quais se organizam. A
6 Em trabalho anterior (CAMPOS, LIMA FILHO & SHIROMA, 1999) analisamos a relação entre a estética textual e o jogo de re-significação e reconstituição conceitual e semântica contido em diversos documentos produzidos pelos organismos internacionais, em particular, no documento Educação: um tesouro a descobrir (UNESCO, 1996).
236
“espacialização” do discurso, [...] a presença de figuras lingüísticas como a metáfora, a obliteração de referências ou fundamentos teóricos, fazendo surgir a recorrência lingüística sob a forma de comentário, são alguns dos aspectos comuns a todos os documentos já referidos (CAMPOS, LIMA FILHO e SHIROMA, 1999).
A utilização exemplar de experiências singulares de cada cultura e formação social ou Estado nacional, na conformação de uma lógica conceitual pré-ordenada, guarda relação com uma pretensa intencionalidade de conferir estatuto universal e científico às recomendações dos textos, as quais deveriam ser seguidas à risca pelas nações que desejassem lograr êxitos semelhantes às experiências citadas (id., ib.). Neste particular, os textos se alinhariam ao estilo da narrativa historiográfica pós-moderna – como lógica cultural do último, isto é, do mais recente capitalismo –,7 em que a narrativa histórico-temporal cede lugar à dimensão estético-espacial obtida pela operação de colagem de fragmentos da realidade ou de vários eventos de natureza distinta que incidem sobre o ‘registro histórico’ para desrealizá-lo e desnaturalizá-lo, dotando-o de uma aura fantástica, mágico-realista (JAMESON, 1997, p. 369). Este processo de fragmentação do contexto histórico-social e recomposição de uma nova historiografia espacial pela recontextualização diferenciada dos fragmentos é também descrito por Canclini (1998, p. 302) como um movimento de descolecionamento e desterritorialização. O descolecionamento se dá pela ruptura da cadeia de relações sócio-culturais (coleções) que se verifica quando uma experiência singular é isolada do conjunto de práticas e referenciais simbólicos que lhe dão significado próprio no contexto de sua cultura específica
Como observamos nos documentos em análise, a intrincada arquitetura dos textos pode revelar-nos que a epistemologia que os fundamenta se encontra assentada na “possibilidade de modificar vastas quantidades de discursos preexistentes [...] num novo código” (JAMESON, 1997, p.312). Nisso consiste a operação de reconversão conceitual que, ao longo dos textos, faz equivaler conceitos e teorias 7 A tradução do original de Jameson, Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism, para o Português como ... capitalismo tardio pode suscitar interpretações dúbias. Por isso, optamos por utilizar a expressão último capitalismo, ou seja, o capitalismo mais recente, que, a nosso ver, preserva com maior proximidade o pensamento do autor.
237
educacionais aos códigos da economia de mercado. Neste sentido, o discurso hegemônico é pródigo. A força do “modelo” neoliberal, em conseqüência das orientações de reforma que subjazem nos documentos analisados, pode ser encontrada em sua capacidade de destituir outros códigos de sua operacionalidade, ou seja, de sua autoridade privilegiada de articular algo como verdade. Não seria este, propriamente o interesse e foco da ação dos intelectuais coletivos do capital? A produção de textos reformadores não faria parte de uma estratégia descolecionadora e desierarquizadora (CANCLINI, 1998) que visaria encobrir a assimetria existente entre países centrais e dependentes, e entre sujeitos de diferentes classes dentro de uma mesma sociedade?
Retornemos, contudo, ao eixo principal de nosso trabalho, após esta breve digressão sobre a arquitetura dos textos produzidos pelos organismos internacionais, uma vez que forma e conteúdo não estão dissociados. Com relação ao conteúdo dos dois documentos em análise, vale ressaltar sua importância justamente a partir do que declaram seus autores quanto à dimensão prioritária de suas próprias atividades e dos mecanismos de implementação de suas orientações. Assim, a CEPAL afirma que o objetivo de seu diagnóstico é o de
contribuir para a criação, durante a próxima década [anos 90], de condições – educacionais, de capacitação e de incorporação do progresso científico-tecnológico – capazes de transformar as estruturas produtivas da região, e fazê-lo num marco de progressiva eqüidade social, [ressaltando que] [...] tal objetivo não será alcançado sem ampla reforma dos sistemas educacionais e de capacitação de mão-de-obra [...] com ênfase [nas reformas] do ensino básico, médio e técnico-profissional (CEPAL, 1995, p. 5).
Na mesma direção, o Banco Mundial declara que
a contribuição principal do Banco Mundial deve consistir em assessoramento que tenha por objetivo auxiliar os governos na formulação de políticas educacionais ... em conseqüência, as futuras operações se concentrarão de forma ainda mais explícita em uma política para a totalidade do setor a fim de respaldar a introdução de mudanças no financiamento e na administração da educação (BANCO MUNDIAL, 1995, p. xxix).
238
Por meio destas declarações, os organismos internacionais atribuem a si a função de “assessores privilegiados” e definidores das reformas institucionais e das políticas públicas.
A CEPAL considera que os sistemas educacionais constituem “um rígido aparato de reações lentas, impenetráveis às demandas e desafios externos [...] produto da centralização, da burocratização e do encapsulamento corporativo, males que não necessariamente precisam acompanhá-los” (CEPAL, 1995, p. 208). De modo similar, o Banco Mundial destaca que a reforma do financiamento e da administração do sistema educacional visando, entre outros objetivos, dar-lhe mais autonomia, pressupõe “redefinir a função do governo” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. v).
Se são concordantes no “diagnóstico” do “paciente”, não é estranho que Banco Mundial e CEPAL coincidam também na prescrição da “receita”. Os países de baixa e média renda8 devem considerar que “a mudança do contexto institucional no qual se dão as ações educacionais, de capacitação e de ciência e tecnologia é parte do processo mais global de reforma do Estado” (CEPAL, 1995, p. 222) e, “nessas circunstâncias, as demoras em reformar o sistema de educação para que avance ao mesmo passo que o sistema econômico podem significar menos crescimento e mais pobreza que em outros casos” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 29). A orientação que a CEPAL fornece para a reforma do Estado é explícita e precisa: “o Estado administrador, provedor benevolente de recursos deve ser substituído pelo Estado avaliador, incentivador e gerador de políticas de longo prazo” (CEPAL, 1995, p.190).
Em resumo, Banco Mundial e CEPAL não somente se colocam na condição de formuladores das políticas públicas, como estabelecem – como condicionalidade para auxiliar o seu financiamento – a necessidade imediata de realização de reformas de Estado, devidamente adequadas ao receituário neoliberal. Por esta avaliação podemos compreender o significado, a amplitude e a exatidão da colocação de Ianni (1996) –
8 No estudo do Banco Mundial são denominados países de baixa e média renda “os tradicionalmente considerados países em desenvolvimento e os ex-países socialistas da Europa e da Ásia cujas economias estão em transição de um sistema controlado a outro de mercado (BANCO MUNDIAL, 1995, p. xii).
239
“santíssima trindade guardiã do capital” – ao referir-se aos organismos internacionais.
Faremos, em seguida, uma exposição sintética dos diagnósticos da CEPAL e do Banco Mundial com o objetivo de extrair daí os elementos para uma análise crítica destas propostas e a posterior verificação da influência destes diagnósticos sobre as reformas da educação e da formação profissional no Brasil.
A PROPOSTA DA CEPAL: EDUCAÇÃO COMO DETERMINANTE DO
PROGRESSO TÉCNICO E DO PROGRESSO SOCIAL
A idéia central do documento Educação e Conhecimento: Eixo da
Transformação Produtiva com Eqüidade é que “a incorporação e difusão – deliberada e sistemática – do progresso técnico é a força impulsionadora da transformação produtiva e de sua compatibilização com a eqüidade e a democracia” (CEPAL, 1995, p. 3).
A CEPAL considera que a formação de recursos humanos é um fator essencial para a obtenção de progresso técnico, de forma que a educação assume o caráter central para o alcance do desenvolvimento e redução da pobreza. Essa formulação idealista9 estabelece uma relação mecânica e linear: a educação desenvolve recursos humanos que irão contribuir para a incorporação de progresso técnico; este ocasionará, por conseqüência, a elevação da produtividade do trabalho e a competitividade internacional da nação que por sua vez retornarão à população em forma de elevação do nível de renda. Este esquematismo macroeconômico busca também ser validado em nível microeconômico: indivíduos que investirem em sua auto-capacitação estarão mais aptos a competir e como retribuição obterão êxito, expresso na forma de elevação da renda individual. De acordo com corragio,
A idéia de êxito, para indivíduos, setores sociais e países, não supõe a cooperação ou a solidariedade, mas o triunfo na competição com os outros. Ser competitivo significa ter a capacidade de passar pelas provas que o mercado impõe,
9 Consideramos que esta é a caracterização apropriada já que não existem dados empíricos que possam dar caráter conclusivo a esta linearidade. Ao contrário, existem inúmeras análises internacionais que mostram a insuficiência de uma correlação positiva entre educação e desenvolvimento, entre educação e distribuição de renda e entre desenvolvimento e distribuição de renda.
240
respondendo rápida e eficientemente às suas mudanças (CORRAGIO, 1996, p. 80).
Segundo o ideário contido nos documentos em análise, dado que a competição é a lógica e o capital humano o ingrediente básico para alcançá-la, então a atitude “racional” é que países, pela adoção de políticas “corretas”, e indivíduos, pelo uso de seus dotes e esforços próprios, esmerem-se ao máximo para enfrentar a realidade do mercado, suposto natural, livre e aberto à concorrência perfeita entre indivíduos e nações.
Os pressupostos teóricos que fundamentam o diagnóstico da CEPAL tomam por base “contribuições teóricas recentes ao estudo dos vínculos entre educação e desenvolvimento econômico” (CEPAL, 1995, p. 5). Esta referência explícita nos leva a depreender que a elaboração constitui uma atualização da teoria do capital humano. Dentre as contribuições referidas, a CEPAL destaca que “algumas análises prospectivas recentes10 mostram o tema da transformação da educação como aspecto fundamental, ligado ao protagonismo atribuído ao conhecimento quando considerado o fator mais importante do novo paradigma produtivo” (CEPAL, 1995, p. 175).
A estratégia adotada pela CEPAL baseia-se no seguinte trinômio: a competitividade, como objetivo que consolida a cidadania; o desempenho, como diretriz política para a efetivação da eqüidade; a reforma institucional, voltada para a descentralização como estratégia para a implementação das políticas propostas.
Nesse sentido, visando a formação do consenso em torno da reforma institucional, a CEPAL propõe um conjunto de ações e medidas, cuja implementação deve estar apoiada em “consensos ou acordos entre os principais atores sociais” e “cujo princípio central é que os esboços de políticas definidos são válidos para todos os países [da América Latina e Caribe], embora as formas e a seqüência de aplicação possam variar consideravelmente” (CEPAL, 1995, p. 215).
As ações e medidas propostas são:
10 A CEPAL(1995) utiliza em seu diagnóstico as análises de NAISBITT & ABUDERNE (1990), TOFFLER (1990), GAUDIN (1990), GORZ (1988) e REICH (1991).
241
a) gerar um contexto institucional do conhecimento aberto às necessidades sociais;
b) assegurar acesso universal aos códigos culturais da modernidade;
c) conferir maior grau de criatividade ao acesso, difusão e inovação científico-tecnológica;
d) instituir a responsabilidade da gestão institucional;
e) apoiar a profissionalização dos professores e a valorização de seu papel;
f) desenvolver a cooperação regional e internacional (id., id., p. 221).
PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS (DO BANCO MUNDIAL): EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E DE ALÍVIO DA POBREZA
O Banco Mundial inicia o seu documento setorial afirmando que:
A educação exerce um papel decisivo no crescimento econômico e na redução da pobreza. A evolução da tecnologia e as reformas econômicas estão provocando mudanças extraordinárias na estrutura das economias, indústrias e mercados de trabalho de todo o mundo. A velocidade com que se adquirem os novos conhecimentos e se produzem as mudanças tecnológicas permite a possibilidade de obter-se um crescimento econômico sustentado e que as mudanças de emprego sejam mais freqüentes durante a vida das pessoas. Essas circunstâncias determinam duas prioridades fundamentais para a educação: atender à crescente demanda por parte das economias de trabalhadores adaptáveis capazes de adquirir novos conhecimentos sem dificuldades, e, contribuir para a constante expansão do saber” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. iii).
Portanto, de modo semelhante ao documento da CEPAL, a educação, no diagnóstico do Banco Mundial, ganha papel de centralidade no progresso tecnológico e a linearidade entre formação de recursos humanos, crescimento econômico e redução da pobreza é também estabelecida.
242
O fundamento teórico-metodológico utilizado pelo Banco Mundial é a análise econômica neoclássica que, no nível educacional, encontra sua formulação na teoria do capital humano. Com base nesta teoria, o Banco transfigura a realidade produzida pelo imperialismo capitalista e afirma que “a fonte principal das diferenças de nível de vida entre as nações são as diferenças de capital humano, que também são, em grande medida, produto da educação” (id., ib., p. xxxi). Em outra afirmação retumbante na qual são relevadas, em absoluto, as determinações produzidas pelas relações sociais capitalistas, o Banco conclui que “o motor principal do crescimento econômico é a acumulação de capital humano, quer dizer, de conhecimentos” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. xxxii).
Uma revolução tecnológica está transformando a economia mundial ao aumentar a função dos conhecimentos como força impulsionadora das inovações e do aumento da produtividade [...]. Para que os países em desenvolvimento tirem proveito da economia baseada nos conhecimentos, necessitam sistemas de educação que proporcionem conhecimentos tecnológicos à população e a faça receptiva às inovações (id., ib., p. xxxii, sem grifos no original).
A crença no conhecimento como estruturador da produção social ou das relações sociais de produção – em substituição aos “recursos materiais” e “trabalho manual” – e como recurso estratégico para o alcance da empregabilidade e do desenvolvimento sustentado está presente nos dois diagnósticos. O Banco Mundial considera que
A rapidez com que se adquirem novos conhecimentos e se produzem as mudanças tecnológicas traz a possibilidade de se conseguir um crescimento econômico sustentado e que as mudanças de emprego sejam mais freqüentes durante a vida das pessoas. As diferentes tarefas ligadas ao trabalho requerem cada vez menos habilidade manual; por conseguinte, os empregos são mais abstratos e separados cada vez mais dos processos físicos de produção (BANCO MUNDIAL, 1995, p. xv).
Dessa maneira, na concepção do Banco Mundial, a centralidade do conhecimento na atualidade reforçaria a formulação clássica da teoria do capital humano, segundo a qual educação, desenvolvimento econômico e distribuição de renda mantêm, entre si, uma relação linear de causa-efeito.
243
A contribuição da educação [para o desenvolvimento econômico] pode ser calculada pelo seu efeito sobre a produtividade, tomando-se a diferença de renda dos indivíduos com e sem um tipo determinado de educação e comparando aquela diferença com o custo aplicado pela economia na produção desta educação (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 3).
Portanto, as prioridades e estratégias serão definidas mediante o cálculo econômico capaz de identificar a melhor relação custo-benefício, aquela que proporciona maior retorno em elevação de renda e menor custo de investimento educacional, isto é, a relação que apresente a maior taxa de rentabilidade social, para usar a linguagem do Banco. Desse modo,
As altas taxas de rentabilidade calculadas para a educação básica11 na maioria dos países em desenvolvimento indicam claramente que as inversões destinadas a incrementar a matrícula e melhorar as taxas de reprovação no ensino básico deveriam ser, em geral, as inversões em educação de mais alta prioridade nos países que ainda não alcançaram a universalização deste nível de ensino (BANCO MUNDIAL, 1995, p .xxiii).
Além disso, é também uma forma de melhor disponibilizar a força de trabalho, pois,
A educação, especialmente a primária e a secundária de primeiro ciclo (educação básica), ajuda a reduzir a pobreza aumentando a produtividade do trabalho dos pobres, reduzindo a fecundidade e melhorando a saúde, e proporcionando a esta população as aptidões necessárias para participar plenamente na economia e na sociedade (BANCO MUNDIAL, 1995, p. xv).
Em síntese, a estratégia defendida pelo Banco Mundial para viabilizar a sua proposta baseia-se na inversão prioritária dos recursos públicos na educação básica como política de eqüidade, no financiamento privado para os outros níveis educacionais e numa reforma institucional que garanta autonomia e flexibilidade para as instituições educacionais, nos moldes empresariais e com foco no mercado.
11No conceito do Banco Mundial a educação básica compreende as oito séries iniciais de escolarização, enquanto que no Brasil, conforme a LDBEN (1996), a educação básica compreende o ensino fundamental e o ensino médio, com duração mínima de oito e três anos, respectivamente.
244
Nessa perspectiva, procedendo à semelhança da CEPAL, as políticas formuladas pelo Banco Mundial compreendem a recomendação de “seis reformas essenciais [que], em conjunto, contribuirão para que os países de baixa e média renda resolvam seus problemas de acesso, eqüidade, qualidade e rapidez da reforma que promovem atualmente”(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 65). As reformas são as seguintes:
a) dar mais prioridade para a educação;
b) prestar mais atenção ao rendimento;
c) concentrar em maior medida e mais eficientemente os investimentos públicos na educação básica, assim como recorrer mais ao financiamento familiar para o ensino superior;
d) prestar mais atenção à eqüidade;
e) intensificar a participação das unidades familiares no sistema de educação;
f) dar mais autonomia às instituições a fim de permitir uma combinação flexível dos insumos educacionais (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 65).
Como observamos, os diagnósticos da CEPAL e do Banco Mundial coincidem em suas idéias centrais, pressupostos teóricos e estratégias. As políticas propostas, como eram de se esperar, também guardam identidade entre si. As sete “ações e medidas” recomendadas pela CEPAL e as seis “reformas essenciais” definidas pelo Banco Mundial podem ser resumidas no seguinte: reforma institucional que encaminhe o sistema educacional para uma configuração empresarial – ao invés de sistema educacional propõe-se um mercado educacional; inversão dos recursos públicos, prioritariamente, na educação fundamental; plena autonomia administrativa e financeira, inclusive responsabilização pelo custeio, mediante progressiva privatização dos demais níveis de ensino; políticas de avaliação, desempenho e financiamento, baseadas em critérios de análise econômica neoclássica – definição de prioridades pela relação custo x benefício.
245
CRÍTICA AOS ELEMENTOS CENTRAIS DAS PROPOSTAS DA CEPAL E DO
BANCO MUNDIAL PARA A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Neste tópico faremos a crítica aos elementos constitutivos das propostas da CEPAL e Banco Mundial. Como vimos nos tópicos anteriores, o valor econômico da educação constitui o núcleo conceitual central dos documentos em análise, a partir do qual se extraem as políticas educacionais e de formação profissional recomendadas aos países de baixa e média renda.
Os diagnósticos em análise estão apoiados nos pressupostos de que a educação produz efeitos determinantes sobre a produtividade do trabalho e sobre o desenvolvimento nacional. Tais pressupostos estão presentes em diversos documentos setoriais produzidos ao longo da década de noventa pelos organismos internacionais e, como vimos, nos dois documentos em análise. Estes atribuem às deficiências dos sistemas educacionais a razão para a permanência do subdesenvolvimento e das crises econômicas nos países do hemisfério sul. Chomsky (1999), recusando essas explicações monocausais ao subdesenvolvimento e à assimetria do sistema centro-periferia que caracteriza o capitalismo mundial, em particular em relação à América Latina, considera que
É certamente demagógico sustentar que a miséria latino-americana é o resultado da educação deficiente no subcontinente, quando há uma série de variáveis determinantes de igual ou maior importância, como a dívida externa, a corrupção das elites, o protecionismo do Primeiro Mundo, a falta de poupança interna, a fuga de capitais, a pobreza absoluta e a distribuição extremamente desigual de renda (CHOMSKY, 1999, p. 120).
Assim, concordando com a elaboração desse autor, compreendemos que a possível razão das políticas educacionais dos organismos internacionais para a América Latina pode ser buscada no papel reservado aos países da região na divisão internacional do trabalho. Uma elevada parcela dos jovens latino-americanos ao sair da escola se vê desempregada ou assumirá emprego precário ou subemprego, permanecendo no exército industrial de reserva ou na economia informal. Apenas uma pequena parcela é incorporada ao mercado de trabalho formal, sendo a maioria em atividades de serviços e trabalhos simples, de tal maneira que o Banco Mundial não tem interesse em apoiar o financiamento de projetos educacionais de mais anos de escolaridade,
246
senão para uma parcela reduzida dos milhões de jovens. Nesse sentido, as políticas educacionais orientadas pelo Banco Mundial e CEPAL se guiariam por decisões pragmáticas e utilitárias do interesse do capital, ou seja, talvez assemelhadas à antiga proposição de Adam Smith (1983) de uma educação para o trabalhador na justa medida da necessidade de reprodução do capital. Ainda de acordo com CHOMSKY,
O problema do Banco Mundial consiste precisamente em pensar instrumentos que permitam institucionalizar este tipo de sistema educativo dicotômico que, por um lado, proporciona ‘capital humano’ indispensável para as necessidades laborais do capital global e, por outro, afeta o menos possível seus lucros, ou seja, conseguindo um alto coeficiente custo-benefício (CHOMSKY, 199, p. 123).
Por esse pressuposto, que expressa o paradigma do pensamento educacional dominante, a educação e o desenvolvimento econômico se associam em uma “feliz aliança”, redentora e salvacionista, dotada de potencial transformador capaz de retirar os países de baixa e média renda da condição de “atraso”, do qual seriam vítimas históricas devido à insuficiência de seus estoques de capital humano e da ineficiência e iniqüidade de seus sistemas educacionais. O argumento opera como uma espécie de metáfora religiosa, cuja finalidade é a ocultação, tanto das fontes do subdesenvolvimento, desemprego e pobreza dos países da periferia, quanto dos verdadeiros interesses dos países centrais da economia capitalista.
Dessa maneira, a teoria do capital humano intentaria oferecer, antes de tudo, uma suposta justificativa “científica” para as desigualdades sociais. Para aqueles que estão em boa situação financeira é reconfortante, e também útil como defesa contra propostas de redistribuição mais igualitária, o argumento que atribui sua renda mais elevada à produtividade marginal de sua pessoa (valores inatos) e de seus bens (a qualificação adquirida). Oferece, ainda, àqueles de menor renda, um caminho “exemplar”. Cada um pode, individualmente, fazer o investimento em si próprio. Tudo é uma questão de escolha.
Os pressupostos da teoria do capital humano logo se revelaram inconsistentes e insuficientes, tanto na análise teórica mais acurada,
247
quanto nas experiências empíricas observadas em âmbito internacional.12 Segundo a teoria, “os aumentos de renda da mão-de-obra dependem basicamente de que se amplie sua produtividade” (SCHULTZ, 1985, p. 101). Entretanto, a profunda assimetria verificada na oferta de trabalho e no valor dos salários, tanto em âmbito nacional quanto internacional, entre outras razões estruturais das relações de produção capitalistas, logo evidenciou a impossibilidade de estabelecer-se a suposta correlação positiva entre estas variáveis e a inversão em capital humano.
Um caso clássico é a análise das diferenças de condições de trabalho e de remuneração dos trabalhadores das grandes empresas multinacionais entre as unidades situadas nos países centrais e as filiais situadas nos países periféricos. Entre plantas industriais semelhantes é possível admitir diferenças de produtividade de trabalhadores de cargos homólogos, no entanto, em hipótese alguma é razoável supor que tais diferenças atinjam grandezas da ordem de 10 vezes superiores, como são os salários de metalúrgicos da Volkswagem na Alemanha, comparados aos seus homólogos nas filiais mexicanas e brasileiras.
Os dois documentos setoriais aqui analisados buscam, portanto, operar uma atualização das teorizações neoclássicas para a educação, mediante a proposição de uma nova roupagem da teoria do capital humano, mantendo, entretanto suas quatro características principais, a saber: estratégia de subjetivação, desvio interpretativo da realidade, reducionismo conceitual e mecanicismo econômico. Presentes nos pressupostos teóricos das propostas da CEPAL e Banco Mundial, estas características, a rigor, não constituem novidade em relação a formulações anteriores destes mesmos organismos internacionais. A teoria do capital humano, formulada sob estes mesmos pressupostos, constituíra-se, ainda no final da década de 50 e início dos anos 60, como expressão das necessidades do capital em sua fase monopolista e do Estado intervencionista. Além de sua atualização, a novidade presente nos diagnósticos em análise é que neles se insere um novo elemento: a diretriz educacional da “política de eqüidade” baseada nos conceitos de “habilidades e competências”.
Pela análise até aqui realizada, verificamos que a atualização mantém a centralidade da educação – em nível macro e micro-econômico –, 12 Para aprofundamento ver SINGH (1994).
248
somente que agora matizada por dois novos argumentos: a mudança do papel do Estado e a incorporação do conhecimento à produção.
No que se refere ao papel do Estado, argumenta-se que a limitação dos fundos públicos e a liberdade de mercado exigem uma redefinição de seu âmbito de atuação. No campo educacional recomenda-se a prioridade da ação estatal às séries iniciais da educação básica, mediante políticas baseadas na eqüidade. Para além dos níveis iniciais, os indivíduos deverão ser os próprios responsáveis pelo financiamento de sua escolarização e desenvolvimento de seu “capital humano”.
Com relação a crescente incorporação do conhecimento à produção, a qual muitos se referem como uma revolução científica e tecnológica que determinaria uma nova organização social da produção, o argumento é que as transformações radicais e ininterruptas demandariam um processo de qualificação e desenvolvimento contínuo de habilidades e competências, pelo qual os trabalhadores seriam os responsáveis por conquistar e garantir cotidianamente a sua condição de empregabilidade. Assim, a inversão na qualificação, na valorização de seu “capital humano” tornar-se-ia um imperativo de sobrevivência para os trabalhadores.
A POLÍTICA EDUCACIONAL REQUERIDA PELA GLOBALIZAÇÃO DO CAPITAL
De nossa crítica às políticas educacionais propostas pelo Banco Mundial e pela CEPAL, analisadas nos tópicos anteriores, podemos sintetizar afirmando que a atualização da teoria do capital humano e a política de eqüidade são os argumentos centrais que dão suporte a proposição de que a elevação da produtividade do trabalho, obtida pelo incremento educacional, seria a chave para a conquista do desenvolvimento econômico e mobilidade social individual nos países subdesenvolvidos. Desse modo, a elevação da produtividade é apresentada como um imperativo dos novos tempos, cujos efeitos se repartiriam igualmente como melhoria para toda a sociedade. O argumento oferece, por um lado, uma explicação macroeconômica para a assimetria da ordem econômica mundial e, por outro lado, no âmbito da análise microeconômica, uma razão para a ocorrência e persistência das desigualdades sociais. Pela primeira, a produtividade geraria a competitividade econômica internacional, que se traduziria em
249
crescimento econômico e progresso da nação. Pela segunda, a falta de disposição para valorizar o seu próprio capital humano, determina que alguém não seja competitivo e, por essa razão, se explicaria e se justificaria que se encontrasse em condição de pobreza e nela permanecesse.
O argumento da incorporação do progresso científico aos processos produtivos e de seus impactos sobre a composição qualitativa e quantitativa da força de trabalho constitui um dos paradigmas mais destacados da economia política da globalização, presente nos diagnósticos de políticas educacionais analisados. No discurso hegemônico da globalização a tecnologia assume condição de protagonista. Não tanto a tecnologia em si mesma, senão a capacidade ativa e adaptativa à inovação tecnológica radical e veloz é apresentada como um maxi-valor a ser seguido e cultivado por todos – indivíduos e Estados nacionais – em um cenário de relações internacionais e interpessoais em que a competição e a competitividade são quase que naturalizadas como condição, estágio e qualidade intrínseca das sociedades humanas. Alegoricamente, a inovação tecnológica seria uma espécie de novo Prometeu mítico, dotado da capacidade de libertar o homem do medo e da necessidade. Ao paradigma tecnológico, promotor de produtividade e competitividade, logo se unem outros fatores considerados como decorrentes: o desenvolvimento nacional e o sucesso individual. A tríade conhecimento – inovação tecnológica – competitividade seria a base sobre a qual se assentariam as mudanças sociais e econômicas nas sociedades contemporâneas: em uma palavra, a mudança estrutural seria determinada a partir das mudanças tecnológicas.
O problema central da tese do determinismo tecnológico é produzir uma identificação natural entre progresso técnico e progresso social. Ao contrário desta cosmovisão, ponderamos que a mudança tecnológica deva ser considerada uma relação social e não um fator técnico ou econômico. Nesse aspecto, é importante perceber que uma sociedade estruturalmente baseada na exploração da força de trabalho – para o que se utiliza de muitos elementos, inclusive da produção e controle de meios técnicos13 – não teria necessariamente uma razão para produzir meios técnicos 13 Marx observa que seria possível escrever, a partir do século XIX, a história dos inventos e máquinas, como parte da história da produção das armas do capital contra as lutas dos trabalhadores (MARX, 1978, p. 361).
250
dotados de uma suposta neutralidade ou capacidade “natural” de produzir a superação das bases estruturadoras dessa mesma sociedade (ZUBERO, 1998, p. 37). Dessa maneira, uma concepção crítica da tecnologia deve considerar que
[...] a potencialidade libertadora da mudança tecnológica não será uma conseqüência natural do processo mas, em todo caso, será fruto da confrontação entre projetos sociais distintos: entre aqueles que necessitam uma sociedade livre e aqueles que vêm tal possibilidade como uma ameaça a seus interesses (MARCUSE, apud ZUBERO, 1998, p. 37).
Ao contrário das perspectivas oferecidas pelos diagnósticos dos organismos internacionais, a análise teórica e empírica revela que a difusão mundial das inovações tecnológicas e de seus impactos sobre os aspectos qualitativos e quantitativos da ocupação da força de trabalho apresenta tendência profundamente assimétrica. Ao contrário de um caminho “neutro” ou “natural”, o “progresso tecnológico” não determina necessariamente um suposto “progresso social” correspondente, mas sim, está condicionado pela divisão social, técnica e internacional do trabalho e pelas relações contraditórias de poder e propriedade que caracterizam as relações capitalistas de produção em sua dinâmica mundial centralizada e hierarquizada centro-periferia.
De acordo com tal lógica, os organismos internacionais concluem que seria “razoável” que as políticas educacionais recomendadas aos países de baixa renda, estivessem em conformidade com as tendências apontadas acima para a ocupação da força de trabalho desses países, em particular, da América Latina e Caribe. Uma vez que tais tendências, mantidas as relações hierárquicas centro – periferia e a distribuição desigual da produção, apontam para a redução do percentual de postos de trabalho qualificados e para o crescimento percentual da população desempregada, seria “razoável”, sempre na lógica do capital, que as políticas educacionais financiadas pelos bancos e organismos internacionais apontem a prioridade para a educação básica restrita às séries iniciais, em que a aquisição dos chamados códigos culturais da modernidade constitui o instrumental educacional suficiente e necessário aos postos de trabalho não-qualificados. Uma vez que se prevê o crescimento de população desempregada, o alívio da pobreza, feito, entre outros, mediante a aplicação de políticas compensatórias de
251
“capacitação” mínima da força de trabalho, parece ser uma política “razoável” para que esses excluídos tratem de conseguir sua sobrevivência de algum modo.
Por conseguinte, as propostas educacionais oferecidas pelos organismos internacionais procuram operar a regulação social da força de trabalho sob os interesses e necessidades do capital. Cabe, portanto, considerar que do ponto de vista individual ou moral, a exclusão social é uma questão de escassa ou nenhuma importância para o capital. No entanto, a determinação da funcionalidade da força de trabalho dos países subdesenvolvidos no sistema econômico mundial assume complexidade quando enfocada no nível sistêmico ou coletivo, pois, a existência do exército industrial de reserva cumpre, por um lado, o papel histórico de exercer uma pressão constante para rebaixar o valor da força de trabalho, ou seja, funciona como um mecanismo de controle da taxa de mais-valia; por outro lado, representa uma reserva para o capital ante as oscilações conjunturais do sistema. Assim, o tamanho e a qualidade do exército industrial de reserva devem ser convenientemente regulados, de modo que sejam suficientemente grandes e de baixa qualificação para não afetar a taxa de lucro do capital, e suficientemente pequenos e de elevada qualificação para não pôr em risco a estabilidade política e a coesão social e necessidades técnicas do sistema.
Em conclusão, a razão instrumental que preside os diagnósticos dos organismos internacionais e que orienta os processos de reforma da educação, da formação profissional e das relações de trabalho em curso na América Latina e Caribe parece não ter sua fonte em uma suposta astúcia malévola dos intelectuais coletivos do capital internacional, ou nas elites dominantes dos Estados nacionais, senão na articulação de tais interesses à própria lógica de reprodução e acumulação do capital e às necessidades que a ela se apresentam na atual fase em que as relações sociais capitalistas buscam estender sua teia de dominação sobre amplas atividades da vida social.
REFERÊNCIAS:
1. BANCO MUNDIAL. Prioridades y estrategias para la educación.
Estudio sectorial del Banco Mundial. Washington., 1995.
252
2. BRASIL. Leis, Decretos. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, v. 134, n. 248, p. 27833-27841, 23.dez.1996. Seção I. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
3. BRASIL. Leis, Decretos. Decreto n. 2.208, de 17 de abril de 1997. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, v. 135, n. 74, p. 7760-7761, 18 abr. 1997a. Seção I. Regulamenta o parágrafo 2 do art. 36 e os art. 30 a 42 da Lei n. 9.394 de 20.12.1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
4. BRASIL. MTb/SEFOR. Educação profissional: um projeto para o desenvolvimento sustentado. Brasília, 1995.
5. CAMPOS, R., LIMA FILHO, D., SHIROMA, E. Reflexões sobre a arquitetura dos documentos dos organismos multilaterais. In: 22a. Reunião Anual da ANPEd, 1999, Caxambu. Diversidade e Desigualdade: Desafios para a Educação na Fronteira do Século – Anais da 22a. Reunião Anual da ANPEd, 1999.
6. CANCLINI, N. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1998.
7. CEPAL/UNESCO. Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com eqüidade. Brasília, IPEA/CEPAL/INEP, 1995.
8. CEPAL/UNESCO. Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad. Santiago de Chile, 1992.
9. CHOMSKY, N., DIETERICH, H. A sociedade global: educação, mercado e democracia. Blumenau, Ed. da FURB, 1999.
10. CORRAGIO, J. Propostas do Banco Mundial para a educação: sentido oculto ou problemas de concepção. In: TOMMASI, L., WARDE, M. e HADDAD, S. (orgs). O Banco Mundial e as Políticas Educacionais. São Paulo, Cortez, 1996, p. 75 - 123.
11. FUKUYAMA, F. El fin de la historia y el último hombre. Barcelona, Planeta, 1992.
253
12. GAUDIN, T. (comp.), 2100: récit du prochain siécle, Paris, Edition Payot, 1990.
13. GENTILI, P. O discurso da qualidade como a nova retórica conservadora no campo educacional. In: SILVA, T.T. (org.) Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. Petrópolis, Vozes, 1994.
14. GORZ, A. Métamorphose du travail, Paris, Editions Galilée, 1988.
15. IANNI, O. Neoliberalismo e neosocialismo. Campinas, IFCH / UNICAMP, 1996.
16. JAMESON, F. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo, Ática, 1997.
17. MARCUSE, H. La angustia de Prometeo: 25 tesis sobre técnica y
sociedad. Revista El viejo topo, n. 37, 1979, p. 43.
18. MARX, K. O Capital. Crítica da economia política. l. 1, v. 1, São Paulo, Difel, 1978.
19. NAISBITT, J. e ABURDENE, P. Megatendencias 2000. Bogotá, Edit. Norma, 1990.
20. REICH, R. B. The Work of Nations. Nova Iorque, Alfred A. Knopf, 1991.
21. SCHULTZ, T. O valor econômico da educação. Rio de Janeiro, Zahar, 1962.
22. SINGH, A. Transformación económica mundial, calificaciones
profesionales y competitividad. Revista Internacional del Trabajo, V. 113, N. 2, 1994, p. 189-208.
23. SMITH, A. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo, Abril Cultural, 1983.
24. TOFFLER, A. El cambio del poder. Barcelona, Plaza y Janés Editores, 1990.
25. UNESCO. Educação: Um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo, Cortez, 1999.
254
26. ZUBERO, I. El trabajo en la sociedad. Manual para una Sociología
del trabajo. Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998.
255
JUVENTUDE, TRABALHO E EDUCAÇÃO: "paradoxos" do ideário da qualificação profissional
Edinéia Fátima Navarro Chilante*
Renan Araújo**
Neste artigo, rediscutimos algumas questões que, candentes, foram objetos de análise das pesquisas realizadas por Chilante (2005) e Araújo (2009). No primeiro caso, Chilante debruçou-se sobre a promessa de reparação, equalização e qualificação para jovens e adultos pouco escolarizados por meio de cursos de educação de jovens e adultos- EJA ou exames supletivos. No segundo caso, Araújo (2009) procurou compreender os novos significados sociais que emergiram do processo de re-estruturação produtiva, a partir dos anos 1990, em uma empresa montadora situada na região do ABC e o surgimento do chamado jovem/adulto flexível1, subsumido no discurso da elevação da escolaridade, da capacitação e da “empregabilidade2”.
Com isso pretendemos, numa perspectiva analítica que reponha alguns aspectos dessa realidade social contemporânea e contraditória,
* Doutoranda em Educação pela UNICAMP e professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual do Paraná – Campus Paranavaí/FAFIPA. ** Doutor em Sociologia pela UNESP/Campus Araraquara e professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Paraná – Campus Paranavaí/FAFIPA.
1 Trata-se de um novo segmento metalúrgico encontrado na região do ABC paulista após 1990. O operário jovem-adulto flexível corresponde à parcela de “colaboradores” que, situados entre 15 e 35 anos de idade, podem ser considerados legítimos filhos da re-estruturação produtiva. Se por um lado tem a escolarização, a qualificação profissional e a condição salarial situada bem acima da média nacional, por outro, são os que têm sofrido a intensidade do processo de emulação advinda da aplicação das estratégias de captura da subjetividade operária por meio de novas formas de gestão/coerção de pessoal, processo revelador da nova forma de ser “pedagógica” do novo metabolismo produtivo-social do capital na época do trabalho flexível. 2 O conceito de empregabilidade, hoje socialmente difundido, representa aspectos essenciais da organização do trabalho flexível. Como estratégia, objetiva não só emular/coagir o contingente operário, mas fazer cumprir alguns dos preceitos que compõem seu corolário, por exemplo: O Total Productive Maintenance - TPM (Manutenção Produtiva Total) que é um sistema desenvolvido no Japão a fim de se eliminar perdas, reduzir paradas, garantir a qualidade e diminuir custos por meio dos contínuos processos de mudanças. Também objetiva evitar perdas de máquinas e equipamentos, perdas (acidentes) com a força de trabalho, absenteísmo e perdas de métodos (a melhor maneira de se produzir)(ARAÚJO, 2009, p.156).
256
demonstrar que, apesar de tratar-se de realidades aparentemente distintas, as causas da iniciativa que “incentiva e motiva” o ato de estudar recolocam, de forma mais intensa, alguns dos elementos que permeiam a imediaticidade da vida cotidiana, acentuando, com isso, as múltiplas formas de estranhamentos que, peculiares a nossa contemporaneidade, recolocam, ao mesmo tempo, novos elementos necessários à compreensão da ontológica relação capital-trabalho (HELLER, 1981).
É por isso que, ao abordarmos essas duas realidades “distintas”, teremos a possibilidade de demonstrar que as questões relacionadas ao ensino e à qualificação profissional, ressurgem e revigoram o discurso em torno da necessidade de elevarmos a qualificação dos trabalhadores, oferecendo-lhes educação de qualidade, condição sine-qua-nom para ingressarem no mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
Dessa forma, temos que, em nossa contemporaneidade, mais especificamente no Brasil a partir de 1990, como parte das inúmeras mudanças impulsionadas pela emergência do processo de re-estruturação produtiva e seu novo corolário flexível, assistimos no campo das Ciências Humanas a difusão de teses que salientam a relevância dos temas trabalho e educação. Contudo, mais que uma espécie de aproximação/fusão vocabular, as questões relacionadas ao binômio trabalho-educação parecem traduzir um novo significado “semântico-social” peculiar à necessidade de realização da acumulação/valorização de capital em face da mundialização.
É nesse contexto, portanto, que devemos situar as novas contradições sociais que envolvem as questões do ensino e da qualificação profissional, das promessas ou expectativas geradas em diferentes segmentos do proletariado, sejam aqueles que procuram se empregar, setores que lutam para permanecer empregados, ou ainda, extratos minoritários com garantias trabalhistas e que sofrem novo e intenso processo de emulação como parte das pressões subsumidas no conceito de empregabilidade.
Ou seja, questões relacionadas ao tema trabalho-educação devem ser analisadas à luz dessa nova realidade social que, calcada na disseminação das estratégias flexíveis de trabalho, reduz a educação propriamente dita à forma útil/instrumental, sem dar respostas – e não poderia ser de outra maneira – aos “paradoxos” que, aparentemente novos, expressam o teor
257
das contradições de uma sociedade fundada em classes sociais antagônicas e cujas Pedagogias Educacionais contemporâneas, a rigor, procuram não só validar, mas resguardar, reproduzindo/expandindo os pilares dessa sua essência fundante3.
Concomitante à propagação da necessidade da escolarização, encontramos segmentos de jovens e adultos com pouca ou nenhuma escolarização. Esse universo é composto por uma população que se caracteriza basicamente por trabalhadores vindos das áreas rurais para as grandes cidades em busca de uma oportunidade de emprego ou, ainda, os filhos dos trabalhadores não-qualificados com uma passagem curta e não-sistemática pela escola. Esses jovens e adultos, em sua maioria, trabalham em ocupações urbanas não-qualificadas e buscam a escola tardiamente para alfabetizar-se ou concluir o ensino fundamental e médio nas turmas de Educação de Jovens e Adultos.
Não obstante os esforços de correção idade/série escolar e os incentivos à permanência das crianças na escola, as estatísticas educacionais no Brasil apontam que o grau de analfabetismo da população brasileira (pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever um simples bilhete) ainda se encontrava em torno de 10% em 2007. Devemos considerar que a manutenção do número de analfabetos no país nesse patamar elevado também está relacionada ao insucesso escolar de crianças e adolescentes no ensino fundamental. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, realizada em 2005, 38,7% das pessoas analfabetas, com 15 anos de idade ou mais, já frequentaram a escola. Em 2007 esta proporção elevou-se para 44,8% (CASTRO; AQUINO; ANDRADE, 2009).
A problemática da repetência, da reprovação e da evasão corrobora para completar o quadro sócio educacional seletivo que continua a reproduzir excluídos do ensino fundamental e médio, mantendo adolescentes, jovens e adultos sem escolaridade obrigatória completa. Diga-se de passagem, escolaridade outrora propalada como exigência mínima pelos defensores da lógica do mercado.
3 Ver Delors (1996) ou ainda Morin (2003).
258
Daí decorre que, no principal documento que orienta as ações do EJA no Brasil, o Parecer CEB 11/2000, ao estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para essa modalidade da educação, explicita-se que cabe à Educação de Jovens e Adultos, o antigo “Ensino Supletivo”, fazer a reparação dessa realidade, recuperando, de forma irrestrita, o princípio da igualdade. A ideia é que a EJA garantiria uma “reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação” (BRASIL, 2000).
A alfabetização, a aquisição da leitura e escrita e a certificação das etapas fundamental e média, portanto, constituir-se-iam em meios de inclusão social e a reparação de uma dívida histórica para com a classe trabalhadora. A escolarização se tornaria, então, a chave de acesso para aqueles que procuram empregar-se.
Argumenta-se, no Parecer 11/2000, que a EJA constitui-se em uma oportunidade de atender à atual exigência das competências requeridas pela vida cidadã e do mercado de trabalho. Enfatiza-se que a existência do desemprego, do subemprego, do desemprego estrutural e do trabalho informal, decorrente de mudanças nos atuais processos de produção, pode gerar instabilidade para os indivíduos, sobretudo, aos assalariados desprovidos da leitura e da escrita.
O discurso da inserção no mercado de trabalho via escolarização tem sido a motivação que leva os jovens e os adultos analfabetos ou pouco escolarizados a buscar a conclusão dos estudos nas etapas fundamental e média. Se a exclusão do mercado de trabalho é fruto do despreparo do indivíduo, a solução apresenta-se via retomada dos estudos para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e médio em idade considerada apropriada.
Neste caso, quando voltamos nosso foco para os segmentos do proletariado menos escolarizado/qualificado, é que ganham pertinência as conclusões da pesquisa empírica realizada por Zago (2000, p. 24). A autora demonstra que a volta à escola se apresenta como requisito básico para se responder às exigências do mercado de trabalho e, sobretudo, como “possibilidade de romper com as condições de pobreza familiar”. Eis aqui a manifestação de uma das facetas que expressa a redução da
259
educação à natureza útil/instrumental: o ato de “educar” restrito à perspectiva de propiciar condições para a satisfação das necessidades mais elementares do indivíduo: comer, vestir-se, morar, etc.
A autora citada logo acima nos demonstra que as famílias das camadas populares valorizam a instrução escolar ancoradas em dois aspectos: o primeiro vê a escola como propiciadora dos domínios dos saberes fundamentais e integração ao mercado de trabalho, e, no segundo, a escola se apresenta como espaço de socialização e proteção dos filhos do contato com a rua e as drogas.
Não obstante, eis que surge um novo “paradoxo”, pois a mesma pesquisa revela que, embora haja o reconhecimento da família e do jovem/adulto da “valorização pró-escola”, há clara percepção dos “limites impostos pelas condições materiais objetivas” que obriga a uma opção pelo trabalho em detrimento da vida escolar (ZAGO, 2000, p. 30). Assim,
[p]ressionados pelas exigências do mercado de trabalho, os jovens que não freqüentaram a escola na idade prevista tentam ou fazem projetos para retomar os estudos, geralmente através do ensino regular noturno ou de fórmulas mais rápidas que podem ser viabilizadas pelos cursos supletivos. Nas camadas populares, é sempre dentro destas modalidades que o futuro escolar é projetado, na perspectiva de uma conciliação entre estudo e trabalho (ZAGO, 2000, p. 27).
Tomados pela ideia de que a retomada dos estudos é capaz de garantir um lugar no disputado mercado de trabalho formal, muitos jovens, ainda de acordo com a pesquisa de Zago (2000), voltam à escola com preocupação maior em relação à obtenção do diploma do que com a absorção do conhecimento socialmente produzido. Trata-se de comportamentos reveladores do cotidiano que, “miseravelmente” cindido (HELLER, 1989), direciona as iniciativas desse segmento do proletariado às contingências reprodutoras da lógica societária do capital.
Por outro lado, como tendência, aqueles que não conseguiram um certificado transferem para si a responsabilidade pelo fracasso escolar. Percebem-se como sendo os principais responsáveis pela sua baixa escolarização e, quanto à insuficiência dos resultados obtidos, os atribuem principalmente às características individuais como “incompetência” e “desinteresse”.
260
Ainda sobre essa população menos escolarizada-qualificada, temos que Saes (2004), analisando a pesquisa de Zago (2000), salienta que para os trabalhadores manuais a instrução rudimentar (ler, escrever e contar) torna-se importante para o acesso ao mercado de trabalho. Contudo, aponta que o cálculo da renda familiar perdida com a manutenção dos filhos na escola faz com que muitos pais trabalhadores relativizem a importância da conclusão do ensino fundamental, assumindo uma posição fatalista ao verem seus filhos de 12, 13 e 14 anos ingressarem no mercado de trabalho informal ou eventual, abandonando a escola.
Para esse autor, as classes populares sabem que somente uma parcela muito pequena dos trabalhadores manuais com formação profissional ampla é absorvida pelo mercado de trabalho, e explicita:
Na prática, o proletariado desconfia do apelo tecnocrático para que “todos” obtenham uma “formação polivalente”; e percebe que o aparelho produtivo do capitalismo pede à maioria dos trabalhadores tão-somente a capacidade adaptativa de passar rapidamente, no “canteiro de obras”, de uma tarefa limitada para outra tarefa limitada (SAES, 2004, p 74-75).
Ainda que Saes (2004) corretamente indique certa “desconfiança” quanto ao apelo para que todos obtenham uma formação polivalente, as exigências do cotidiano contribuem para que os diferentes segmentos do proletariado, refém do discurso hegemônico, incorporem a percepção de que somente por meio da escola é possível a inserção profissional e a melhoria das condições de vida. Talvez essa seja a razão, conforme temos salientado, que contribui para o fato de que, quando esses jovens abandonam a escola, creditam nas suas características pessoais a responsabilidade pelo seu fracasso escolar e profissional.
Percebemos, nessa premissa, um incentivo à competição, corroborando a intensificação da fragmentação social, na medida em que a ideia difundida é a de que cada um deve buscar a superioridade sobre os demais por meio da luta isolada por seus interesses e necessidades (RUMMERT, 2000).
De forma correlata, tais concepções/comportamentos ancoram-se na ideia-força que associa acréscimo marginal de instrução, treinamento e educação como potencial acréscimo de capacidade de produção. Noutras palavras, de capital humano, indicativo de determinado volume de
261
conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos capazes de potencializar a produção (FRIGOTTO, 1996).
Esse é o sentido do termo empregabilidade que revigora a ideia de que investir no capital humano torna-se rentável, tanto para as nações quanto para os indivíduos. Quem seriam então os incluídos? Os incluídos seriam aqueles que têm acesso aos bens materiais e culturais produzidos pela sociedade e disponíveis no mercado.
Assim, os que não têm emprego, os alijados do processo produtivo seriam os excluídos da sociedade. Percebemos aqui um contrassenso: a inclusão seria dada via escola, enquanto a exclusão se completaria via mercado. Revela-se, de forma revigorada, portanto, a percepção de que a inclusão escolar é a única possível no capitalismo, posto que a realização da cidadania requer um tipo de indivíduo cujo perfil social combine participação ativa no processo produtivo, condição elementar para que possa consumir os diferentes produtos disponíveis no mercado.
Trata-se de aspecto que Ramos (2003, p. 22) aponta como paradoxal, pois os processos da educação para a cidadania e para o trabalho se confundem “justamente no momento em que a redução do mercado de trabalho formal revela toda a sua incapacidade em absorver a totalidade da força de trabalho disponível”.
Sendo assim, a ideia da chamada inclusão social via escola se baseia em um reducionismo, não se sustenta empiricamente, pois a escolarização na atual fase do desenvolvimento capitalista tem sido utilizada para se justificar a seletividade no mercado do trabalho (DEL PINO, 2001), já que não há lugar para todos.
Todavia, o drama decorrente das contradições sociais contemporâneas relacionadas às questões do trabalho-educação não se esgotam nesse segmento intensamente precarizado do proletariado. Basta considerarmos a situação daqueles que se situam em condições salariais e de trabalho com maiores garantias (“direitos”). É o caso dos operários metalúrgicos do ABC paulista, vinculados às indústrias montadoras e cuja inserção no trabalho revela algumas das facetas dos novos “paradoxos” sociais.
Para efeito comparativo, na tentativa de tornar compreensível alguns dos “paradoxos” da realidade social contemporânea aqui assinalada,
262
procurando recompor sua totalidade contraditória, é que nos reportaremos a esse segmento do proletariado. De plano, com base nos dados empíricos coletados na pesquisa de campo4 (de 2006 a 2008), notamos como é reveladora do processo e do teor das mudanças a melhora no nível de escolaridade encontrado antes e após 14 anos do início do processo de re-estruturação em uma importante da fábrica montadora localizada no ABC.
No ano de 1989, aproximadamente 72,63% dos trabalhadores5, incluindo os vinculados à área administrativa, teriam até oito anos de estudos relacionados ao ensino formal. No mesmo ano de 1989, um reduzido contingente de 14,98% dos operários havia frequentado alguma instituição de ensino formal por até 11 anos, o equivalente ao ensino médio completo/incompleto de hoje. Tendo como referência o quesito escolaridade, estaríamos, portanto, diante de uma fábrica de clássica composição taylorista/fordista, em que a baixa escolaridade dos funcionários produtivos diretos, em geral, era compensada pelos cursos profissionalizantes geralmente oferecidos por instituições como o Senai ou escolas técnicas particulares, estaduais ou federais (RODRIGUES, 1970).
Em sintonia com o processo de re-estruturação produtiva, diminuiu-se o quantum de operários com até oito anos de estudos no ensino formal, de 72,63% para 24,79% e aumentou-se, por outro lado, de 14,98% para 46,74% o daqueles com até 11 anos de frequência escolar. Os com formação superior saltaram de 12,38% para 28,45%, mais que dobrando em relação aos índices de 1989.
Da mesma forma, a pesquisa demonstra, com base nos dados disponíveis em 2004, que a re-estruturação produtiva forçou tanto aqueles que permaneceram quanto os que ingressaram na fábrica no decorrer do processo de re-estruturação a frequentarem, por um período bem maior, instituições de ensino regular com vista à obtenção de diplomas do ensino médio ou superior, diminuindo drasticamente para 24,79%, portanto para menos de ¼, o número daqueles com até oito anos de estudo.
4 Pesquisa desenvolvida por Araújo (2009).
5 Os dados referentes ao nível de escolaridade foram extraídos da comparação entre o Relatório Social 1989 e 2004, conforme pesquisa desenvolvida por Araújo (2009).
263
Além da irrefutável elevação da escolarização, para melhor definição do perfil social desse novo segmento operário, recorreremos às informações trazidas por Iram Rodrigues (2005) quando da sua pesquisa sobre o perfil socioeconômico dos jovens metalúrgicos com até 29 anos de idade, empregados nas indústrias montadoras localizadas na região do ABC paulista.
De imediato, os números são indicativos do quanto esse segmento metalúrgico, incluindo-se os operários antigos, possui excepcional poder de compra, possibilidade ímpar de aquisição de diferentes bens de consumo, inclusive os bens de consumo duráveis, como o automóvel (93%), ou ainda serviços como telefone fixo (99%), computador (66%) e internet (55%). Os dados referentes ao setor de serviços não só despontam, mas também, são elucidativos do poder de compra do segmento jovem-adulto flexível.
Vemos, então, que o acesso aos bens de consumo e serviços geralmente restritos a determinados segmentos da população revela que esse segmento operário é portador de um modo de vida que é típico de setores que compõem a classe média. Essa posição/possibilidade do jovem-adulto flexível também se explica pela sua condição salarial, deveras bem acima da média verificada no setor metalúrgico, ou mesmo, em outras empresas montadoras de diferentes regiões do país.
O Boletim Eletrônico de 10/07/2008, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT – CNMCUT, por exemplo, informava:
“A jornada de trabalho semanal em algumas localidades chegam a ter 4 h a mais em relação a outras. [...] o salário médio dos metalúrgicos variam até 4,4 vezes e nas montadoras a diferença salarial nas diversas regiões do país chegam a 3,5 vezes [...] Em média, o metalúrgico que trabalha nas montadoras de São Bernardo do Campo - SP recebe R$ 3.674,74 em uma jornada média de 40 h semanais e um salário/hora que atinge R$ 20,97. Já o trabalhador que exerce a mesma função em Catalão-GO, recebe um salário médio de R$ 1.031,92 (que representa 28,3% do salário do ABC; uma diferença salarial acima de 70%) para uma jornada média de 44 h semanais, com um salário/hora de R$ 5,39 [...] Para os trabalhadores das duas regiões retratadas acima, a variação do custo de uma cesta padrão de produtos e serviços são mínimas (11,5%). Enquanto no ABC é necessário desembolsar R$ 2.723,88 para adquirir a cesta de produtos, em Catalão, gasta-
264
se R$ 2.410,41. Estes valores, na prática, refletem que, enquanto o metalúrgico do ABC teria que gastar 44,05% de seu pagamento e trabalhar 129,88 h para conseguir comprar a cesta, o trabalhador goiano precisaria trabalhar 446,89 h, gastando o equivalente a 233,58% de seu salário mensal” (subseção Dieese-CNM/CUT)6. [sic]
Oras, como explicar então as agruras desse segmento do proletariado que, mesmo dotado de escolarização-qualificação, de garantias trabalhistas, salário acima da média nacional, organização sindical com reconhecido poder de mobilização, tal qual o são os metalúrgicos das montadoras situadas no ABC paulista, tenham que persistentemente lutar contra a eterna possibilidade de fracasso?
Neste caso, através de nossa pesquisa, foi possível observarmos que, como estratégia do processo de re-estruturação, a empresa analisada exigiu que todos se qualificassem, pois, de acordo com os diferentes boletins internos, a empresa difundia a tese de que aquele que se qualificasse não só tenderia a manter-se no emprego, mas visualizaria a possibilidade de ascensão profissional.
Com base nas visitas de campo entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008 e nos contatos quase diários dentro e fora da fábrica e ainda nos depoimentos coletados, tivemos a oportunidade de observar as consequências pessoais/sociais desse processo. Na verdade, esse segmento, em sua quase totalidade, elabora um “plano de vida” cujas prioridades são determinadas pela “pressão social” de se construir uma trajetória profissional satisfatória.
Dessa forma, premidos pelas contingências - como a necessidade de se manter no emprego -, suas iniciativas se identificam tão-somente com as necessidades de encontrar respostas aos dilemas apresentados pelo contexto fabril, os quais, espraiando-se, intercruzam (re) definindo as
6 Para efeito comparativo, Gilberto Franca (2007) informa-nos que, tomando como referência o valor 100, em 2001, tanto nas indústrias automobilísticas já estabelecidas no Brasil quanto naquelas que surgiram no bojo da guerra fiscal, na segunda metade da década de 1990 e início de 2000, encontramos, entre os horistas, as correspondentes faixas salariais: SBC/S.C.Sul (100), S.J. Campos (96,8), Curitiba (73,1), Sumaré (55,6), Caxias do Sul (53,8), Indaiatuba (53,0), Betim, (48,6), S.J. dos Pinhais (47,7), Resende/P.Real (43,0), Juiz de Fora (41,8), S. Carlos (41,4), Gravataí (41,1), Camaçari (30,4), Sete lagoas (22,8), (Franca, 2007:109-110).
265
diferentes situações do seu modo de “vida just-in-time”: vida “móvel”, vida em “trânsito”, motivada e repleta de atitudes que, ao fim, revertem-se em prol do capital, seja no interior ou fora da fábrica.
Contudo, evitando incorrer nos equívocos das interpretações moralistas, parece-nos oportuno salientar que esse processo social revela os sentidos e as particularidades das ações dos indivíduos ou grupos que agem premidos pela dimensão objetiva imposta pelo cotidiano alienado, como nos mostra Agnes Heller:
[...] as escolhas entre alternativas, juízos, atos, têm um conteúdo axiológico objetivo. Mas os homens jamais escolhem valores, assim como jamais escolhem o bem ou a felicidade. Escolhem sempre idéias concretas, finalidades concretas, alternativas concretas. Seus atos concretos de escolha estão naturalmente relacionados com sua atitude valorativa geral, assim como seus juízos estão ligados à sua imagem de mundo (HELLER, 1999, p.14).
Do contexto fabril, espraiando-se para a vida social, as novas formas de emulação representam, tal qual salienta Dejours (2000), as exigências da produtividade. Refletem de modo contundente práticas de adesão “voluntária” às inúmeras estratégias da “guerra sã”, que, fundamentada na inquestionável necessidade de se preparar para o acirramento da competitividade, impõe que se aceitem as inconveniências decorrentes das circunstâncias dadas7.
Nesse caso, o modo de vida da força de trabalho é definido pelas exigências dessa “guerra sem trégua”, que induz a certos comportamentos, a um “estilo” de vida que, mesmo fora da fábrica, deve coadunar-se à lógica-necessidade do capital, na medida em que “fazer a guerra não tem por objetivo unicamente defender a própria segurança e 7 Para além do mundo do trabalho, porém de forma correlata, parece-nos que a estratégia da guerra “sã” possui outras facetas. Trata-se de uma nova espécie de dissimulação social que, ao fim, expressa as peculiaridades da disputa ideológica contemporânea. Nesse sentido, Pinassi (2005), salienta que: “Ora, a estratégia dessa guerra ideológica é a de converter a guerra real, militar, sanguinária, num fato corriqueiro, cotidiano, medíocre, “saneador” que satura pela repetição e imobiliza pela velocidade com que se veiculam os “incríveis dados” a respeito. Perante a eles, opiniões “igualmente incríveis” têm a pretensão de constranger e desqualificar explicações alternativas; hipóteses que não se amparem na sempre redentora neutralidade científica, ou na descrição rasa do jornalismo imparcial [...] essa ampla cruzada contra a “ideologização dos discursos”, na verdade, é uma exigência do próprio capital que visa garantir a uniformidade virulenta da perigosa ideologia única através dos meios mais diversos até mesmo dos mais violentos (PINASSI, 2005, p. 59).
266
sobreviver à tormenta [...] consiste em polir as armas de uma competitividade que lhes permite vencer o concorrente” (DEJOURS, 2000, p. 14).
Essa ideologia da “necessidade” exaustivamente difundida, quando incorporada pelo conjunto do proletariado após a disseminação das estratégias do trabalho flexível, porém, de modo mais específico no segmento jovem-adulto flexível, mobiliza-o de tal forma que sua vida fora do trabalho praticamente inexiste enquanto tempo “seu”, uma vez que as determinações cotidianas conformam-se enquanto um continuum e indissociável tempo de trabalho que lhe ocupa a cabeça, atormenta-o, domina-o integralmente.
Se entre o segmento jovem-adulto flexível encontramos operários qualificados com diferentes cursos realizados no SENAI, cursos de idiomas ou curso superior, para esses trabalhadores as exigências da empresa quanto à qualificação e escolarização implicaram que esses trabalhadores dedicassem aproximadamente 14 anos da sua vida adolescente-juvenil quase que exclusivamente às exigências do trabalho. Se considerarmos que o ingresso no Senai acontece entre os 14 e 15 anos de idade, mais a escola técnica cursada quando do término dessa primeira fase de conhecimento profissional e que a formação superior logo em seguida, temos que sua vida é uma espécie de moto-continuun sempre determinado pelo trabalho.
Ou seja, se com a imposição do “modo de vida just-in-time” o capital procura desfazer-se da figura do “gorila domesticado” fordista, como consequência, vemos emergir o operário “autômato flexível” que, desde a adolescência, deve reservar de 10 a 12 h do seu dia para se dedicar, quase que exclusivamente, aos estudos. Nesse caso, a pesquisa de Iram Rodrigues (2005), que indica uma maioria de jovens operários solteiros, ganha maior significado quando associada ao modo de vida desse segmento, às novas relações sociais e de exploração sob a égide do trabalho flexível.
Do que aqui foi exposto, notamos uma clara indefinição da separação entre tempo de vida pessoal e tempo de trabalho. Ao contrário, temos que o cotidiano para além da fábrica praticamente se constitui como tempo voltado à luta pela permanência no mercado de trabalho formal.
267
De forma a contribuir para a elucidação do que temos salientado até aqui, são relevantes as informações contidas no depoimento do médico responsável pelo depto. de Medicina do Trabalho, Segurança e Ergonomia do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, quando nos informa:
Hoje o jovem não é um metalúrgico que só trabalha, quando ele sai do Senai e vai para a fábrica fazer estágio, ele começa ouvir a seguinte coisa; que faculdade você vai fazer ou está fazendo?. É uma prática comum o chefe chegar e dizer: “só tem uma coisa que garante você aqui, se capacitar sempre”!. Então tem cara que pensa: “a China tá despontando como uma potência econômica mundial, é melhor aprender chinês porque daqui a pouco vão me pedir isso”. Outra coisa: num grande centro como SP, você tem uma questão de tempo, então você tem pouco tempo na agenda, você acorda normalmente 4:00, 5:00 horas da manhã para pegar o ônibus e ir para a fábrica começar as 6:00 hs, você sai 15:00... 15:30 h, tem que está em casa às 17:00 hs , tem que está na escola 18:30, tem engarrafamento no trânsito, então você não janta, aí volta pra casa 23:30, 24:00 hs, chega em casa você não consegue dormir porque está a mil, tá com a adrenalina lá em cima, você vai demorar uma hora uma hora e meia para dormir, então você dorme duas, três horas. Esse é um outro fator de sofrimento psíquico brutal [...] a falta de sono, a falta de qualidade de sono, principalmente o sono profundo, que seja reparador. Além disso, chega sábado, a maioria desses trabalhadores tem turno... rodízio... roda sábado, tem domingo que às vezes você é “convidado” compulsivamente a fazer hora extra, e dependendo como tá a produção, banco de horas, uma série de coisas que você tem que fazer, então você não tem realmente tempo, isso acaba aumentando a sobrecarga psíquica. [sic]
Percebe-se, portanto, a presença do conteúdo ideológico subsumido nas práticas que configuram o trabalho flexível que, ao expandir-se para além da fábrica, procura construir o envolvimento/comprometimento do proletariado com a lógica do capital. Trata-se de um processo social capaz de abarcar a totalidade da força de trabalho na medida em que emula/mobiliza sua quase totalidade, dos mais aos menos escolarizados/qualificados.
Neste caso, as práticas e concepções de educação, atrelada à ideia de qualificação profissional, correspondem, inclusive, sob alguns aspectos, à “funcionalidade” necessária à reprodução da ordem social do capital, que,
268
procurando construir um consentimento social e extrapolando o universo fabril, seja capaz de envolver e mobilizar os operários/colaboradores, a comunidade, a região ou a cidade e o poder público, em prol dos seus objetivos.
Ou seja, assimilando o conteúdo pedagógico presente na tese do saber “aprender - a – aprender” (DUARTE, 2003), revela-se, de forma nítida, a incorporação dos princípios do trabalho flexível, expandindo-se para além do universo da fábrica, sendo aceita, inclusive, pelos segmentos precarizados do proletariado. Este parece ser o significado social do gesto, da “motivação” que os lançam na busca permanente de elevação da escolaridade.
Como consequência, é possível inferirmos que o final do século XX e início do século XXI possuem como característica a ruptura crescente da proteção ao trabalho com o aumento dos “trabalhadores sobrantes”, que se tornam dependentes dos “programas emergenciais de alívio à pobreza, da filantropia e da caridade social”. A emergência de teses de que estamos vivendo na “sociedade do conhecimento”, sociedade do entretenimento, do lúdico com o fim do trabalho ou o tempo liberado dissimula a realidade de que o tempo livre não é tempo de prazer, mas “tempo torturado de precariedade – existência provisória sem prazo” (FRIGOTTO, 2004, p. 13).
Frigotto (2004), ao discutir a questão da cidadania e a formação profissional como desafios para o fim do século XX, chama a atenção para o processo que ele denomina “exclusão sem culpa”. Explicita o referido autor que a desigualdade existente na sociedade capitalista não se explica pelas relações sociais de classe, de violência e de exclusão, intrínsecas ao modo de produção capitalista, mas pela vontade e comportamento individual. No discurso burguês, o livre-mercado constitui-se como o lócus onde vontades livres e supostamente iguais por natureza oferecem os seus serviços à sociedade ao mesmo tempo em que satisfazem suas necessidades.
Nesse período de desemprego estrutural, a confrontação entre a força de trabalho e o capital intensifica-se. Ideias surgem para amenizar esse embate, tornando-se conceitos que procuram dar conta das diferenças inconciliáveis entre os interesses do capital e do trabalho.
269
Como parte desse processo, a educação é chamada a cumprir o seu papel histórico de formação do homem para a sociedade, colocando-se como redentora, mediante a promessa de mudança situacional do indivíduo isolado e, ao mesmo tempo, vista como incapaz de resolver essas questões, devido aos altos índices de evasão e repetência, que indicam, de acordo com os padrões de qualidade total, a necessidade de revermos a forma de administração e o conteúdo escolar.
Quanto ao valor simbólico da educação escolar, Saes (2004) explicita sua reduzida importância para boa parte dos grupos sociais característicos da sociedade capitalista. Contudo, a ideia de que a educação escolar é essencial para o desenvolvimento da sociedade é utilizada para se justificar fracassos em outros domínios da política do Estado, por exemplo: crescimento econômico, emprego, distribuição de renda, saúde, entre outros, servindo ao individualismo típico de um liberalismo reinventado.
Para as classes média e popular a ideia recorrente é a de que a posse do certificado poderá garantir-lhes as condições de empregabilidade. Tal ideia tem contribuído para o surgimento de cursos aligeirados de formação profissional em substituição à escolarização básica ou à certificação formal das etapas fundamental e média, por meio de cursos supletivos que não conferem rigor e seriedade à formação de jovens e de adultos.
O proletariado, refém das exigências da sua reprodução enquanto força de trabalho, ao reduzir o conhecimento/educação à condição de instrumento para a valorização do capital, não só acentua sua forma de vida alienante, mas define novos contornos que reafirmam sua eterna irrealização expressa num modo de “vida” carente de significados, negadora do homem enquanto humano-genérico. Tal qual salientamos anteriormente, um contingente expressivo do proletariado tem sua vida reduzida à busca pela satisfação das suas necessidades mais elementares.
Temos, então, que o indivíduo da nossa cotidianidade é aquele cuja existência se apresenta de forma cindida, na qual o sentido da vida em toda sua plenitude se encontra negado, uma vez que se subordina à moderna divisão do trabalho. Seu principal traço, em nossa contemporaneidade, pode ser definido pela nova segmentação do
270
proletariado após a disseminação do trabalho flexível, da recriação intensa das formas de precarização do trabalho (Antunes, 2005).
Nesse caso, o cotidiano se apresenta como o momento em que o sentido da existência humana vê-se negado, posto que se encontra subordinado à lógica da acumulação. Retomando Heller (1989), temos que:
A vida cotidiana é a vida de todo homem [...] é a vida do homem por inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias. O fato de que todas suas habilidades se coloquem em funcionamento determina, naturalmente, que nenhuma delas possa realizar-se, nem de longe, em toda sua intensidade. O homem da cotidianidade é atuante e fluidor, ativo e receptivo, mas não tem nem tempo nem possibilidade de se absolver inteiramente em nenhum desses aspectos; por isso, não pode aguçá-los em toda sua intensidade (HELLER, 1989, p.17-18).
Conforme temos procurado indicar, com base na análise de Agnes Heller (1989), vemos que a imediaticidade exerce em nosso cotidiano papel fundamental e é a expressão de uma força social (do capital) capaz de nos fazer mover, ainda que no sentido de encontrar “solução” para problemas contingentes relacionados à realidade objetiva.
Com isso, à época do trabalho flexível contemporâneo, em que pesem suas particularidades recentes, não se rompe, mas ao contrário se reafirma em outros moldes a essência alienante historicamente calcada na cisão entre produtores/produto, no constante aumento da produtividade, na retenção concentrada da riqueza social sob o auspício das novas técnicas de gestão de pessoal.
Vemos, pois, que, em nossa cotidianidade, dinâmica calcada na imediaticidade desse turbilhão fetichizante/alienante, encontram-se submetidos a esse processo tanto o metalúrgico jovem-adulto flexível, bem como os segmentos precarizados, menos escolarizados/qualificados do proletariado. Ambos, de certa forma, veem-se completamente submersos nesta tendência à fragilização dos laços de solidariedade entre segmentos, grupos, parcelas ou classes como um todo.
271
Suas agruras expressam, assim, e de forma acentuada, os novos significados das manifestações da vida cotidiana alienada, reveladora de um novo conteúdo “axiológico objetivo”, que atua como força capaz de reduzir parte significativa da força de trabalho à condição de “rejeito humano”, uma vez que a consolidação dos paradigmas técnico-organizacionais do trabalho flexível implica também tornar descartáveis contingentes expressivos do proletariado, tal qual o são os bens de consumo.
REFERÊNCIAS:
1. ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2005.
2. ARAÚJO. Renan. O modo de vida just - in - time do novo perfil metalúrgico jovem-adulto flexível do ABC: antigos dilemas, novas contradições e possibilidades. Tese Doutorado – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras: Araraquara, 2009.
3. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Carlos Roberto Jamil Cury (relator). Parecer CEB11/2000 - Diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. In: SOARES, Leôncio. Educação de jovens e adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 25-133.
4. ____.Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 5.692/71). Disponível em: [http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/l5692_71.htm]. Acesso em: 09 mar. 2010.
5. ____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
6. CASTRO, Jorge Abrahão de; AQUINO, Luseni Maria C. de; ANDRADE, Carla Coelho de (Orgs): Juventude e políticas sociais no Brasil. Brasília : Ipea, 2009.
7. CHILANTE, Edinéia Fátima Navarro. A educação de jovens e adultos brasileira pós-1990: reparação, equalização e qualificação. Dissertação de Mestrado – Universidade Estadual de Maringá: Maringá, 2005.
272
8. DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: Getúlio Vargas, 2000.
9. DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. Relatório para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura: UNESCO, Paris, 1996.
10. DEL PINO, Mauro. Política educacional, emprego e exclusão social. In: GENTILI, Pablo; FRIGOTTO, Gaudêncio. A cidadania negada: políticas de exclusão na educação e no trabalho. São Paulo: Cortez, 2001. p. 65-88.
11. DUARTE, Newton. A sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões?: quatro ensaios críticos-dialéticos em filosofia da educação. Campinas: Autores Associados, 2003.
12. FRANCA, Gilberto Cunha. O trabalho no espaço da fábrica. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
13. FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 2. ed., São Paulo: Cortez, 1996.
14. FRIGOTTO, Gaudêncio. Cidadania e formação técnico profissional. Desafios neste fim de século. A Página da Educação. Disponível em: < http//www.apagina.pt/arquivo/artigo>. Acesso em: 16 maio 2004.
15. HELLER, Agnes. O cotidiano e a História. Trad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. 3oed. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1989.
16. MÉSZÁROS, Istvám. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2002.
17. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução: Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 8o ed. São Paulo: Cortez, 2003.
18. PINASSI, Maria Orlanda. Metástase do irracionalismo. Revista Novos Rumos. 2005. no 43, ano 20. p. 53-62.
19. RAMOS, Marise Nogueira. O “novo” ensino médio à luz de antigos princípios: trabalho, ciência e cultura. Boletim Técnico do Senac. Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, p. 19-27, maio/agosto de 2003.
273
20. RODRIGUES, Iram J. Martins, Heloisa Helena T. Perfil socioeconômico de jovens metalúrgicos. Revista Tempo Social. Vol.17. no2, 2005. pp.3-25.
21. RODRIGUES, Leôncio Martins. Industrialização e atitudes operárias. São Paulo, Brasiliense, 1970.
22. RUMMERT, Sônia Maria. Educação e identidade dos trabalhadores: as concepções do capital e do trabalho. São Paulo: Xamã, 2000.
23. SAES, Décio Azevedo Marques de. Educação e Socialismo. Crítica Marxista. Campinas, n. 18, p.73-83, maio de 2004.
24. ZAGO, Nadir. Processos de escolarização nos meios populares: as contradições da obrigatoriedade escolar. In: NOGUEIRA, Maria Alice; ROMANELLI, Geraldo; ZAGO, Nadir. Família e escola: trajetórias de escolarização em camadas médias e populares. 2000. p. 17-44.
275
A FORMAÇÃO DE TRABALHADORES E A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CUT
– uma análise do período 1998-2008
João Guilherme de Souza Corrêa*
Paulo Sergio Tumolo**
Como fenômeno social, a educação e a formação profissional de trabalhadores ganharam mais relevância nos países de capitalismo central no último triênio – e no Brasil nas últimas décadas – se convertendo em discussões e conclusões que passaram a afirmar a importância dessa prática para a adaptação da força de trabalho às novas demandas (técnicas e organizacionais) requeridas pelo processo produtivo.
Diante da atual ênfase dada à questão, que vincula a educação de trabalhadores às novas necessidades concorrenciais da classe empresarial como obrigação frente aos desafios de um flexível mercado de trabalho e do processo produtivo contemporâneo, faz-se necessário esclarecer que, a existência de atividades de formação cultural e de educação profissional realizadas entre os trabalhadores, de maneira geral, e entre o operariado em particular, é uma prática sistematicamente recorrente entre as instituições do movimento operário e em suas organizações ao longo da história moderna.
Na Europa, desde o período histórico renascentista de dissolução do sistema feudal e da conseqüente instauração do modo de produção capitalista, pode-se perceber o valor das guildas, das corporações de ofício, das confrarias e de demais associações de classe na organização de uma perspectiva autônoma de manutenção do saber técnico tradicional e
* Mestre em Educação pela UFSC na linha de pesquisa Trabalho e Educação, Cientista Social pela UFU e professor do curso de Ciências Sociais e de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), campus Uberaba. E-mail: [email protected] ** Doutor em Educação pela (PUC-SP), com Pós-Doutorado pela Universidade Autônoma de Barcelona, e professor do Centro de Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC. E-mail: [email protected]
276
artesanal do processo de trabalho que estava ameaçado pela crescente implantação da manufatura e do maquinário no processo de produção1.
De fato, essas instituições profissionais de trabalhadores chegaram a ser elemento de desagregação no meio fabril, operando uma separação corporativista entre trabalhadores com e sem qualificação. No entanto, a importância histórica e modelar da existência de associações profissionais que zelavam pelo controle do saber produtivo reside no fato de que elas exemplificaram aos trabalhadores assalariados modernos que a sua unificação podia representar um fortalecimento da sua classe frente à classe que os explorava, uma vez que os artesãos associados conseguiram, por esse método, assegurar para si remunerações mais elevadas que as dos trabalhadores assalariados e desqualificados, além de mais elevados níveis educacionais e culturais.
O que se verifica no meio operário do conjunto dos países capitalistas ao longo dos últimos 150 anos é que não somente a educação técnica aplicada diretamente ao trabalho, mas, de longa data, vários tipos de atividades de formação – tenham sido elas de caráter estritamente profissionais, pedagógicos ou de natureza política/crítica mais geral – permearam a conduta dos trabalhadores e das suas organizações, andando de mãos dadas com as estratégias de intervenção política que cada movimento vislumbrava para uma dada conjuntura, como forma de estabelecer minimamente as bases de uma resistência antagonista e contra-hegemônica aos efeitos dos imperativos da produção de capital.
FORMAÇÃO E HEGEMONIA DE CLASSE
As questões referentes às práticas organizadas pela própria classe trabalhadora objetivando a elaboração e o desenvolvimento coletivo de suas atividades educativas das mais diversas ordens é historicamente basilar ao seu movimento mundial. Conforme é sabido, em todos os momentos de sua relativamente recente trajetória e em praticamente todos os lugares do globo onde o capitalismo estabeleceu-se como modo produtivo dominante, a classe dos despossuídos dos meios de produção
1 É incontestável a importância que este tipo de associação de trabalhadores teve na formação do sindicalismo na maneira como os primeiros países industriais o conheceram a partir da fase monopolista do capitalismo, pois foi a partir dos agrupamentos profissionais de artesãos que surgiram as primeiras organizações profissionais de trabalhadores que estariam na base da origem dos sindicatos modernos.
277
ousou se instituir para construir e/ou pelo menos ensaiar atividades com esse sentido a fim de afirmar sua autônoma identidade de classe à frente dos que lhes expropriavam2. De fato, a formação operária tem importância estratégica para o proletariado na elaboração de sua subjetividade de classe, sendo por isso conditio sine qua non para uma intervenção coletiva na totalidade social, que parte de uma elaboração mantenedora do conhecimento técnico produtivo, podendo chegar à construção de uma hegemonia antagônica ao modo de viver e pensar dominante.
Alguns dos mais notáveis intelectuais orgânicos da classe trabalhadora não dissociaram, na sua interpretação da sociedade, a questão da auto-educação proletária da luta geral pelo fim da exploração capitalista e da emancipação do trabalho. Por exemplo, é deveras conhecida a passagem de Marx, que já em 1868, numa época em que era excessivo o uso da força de trabalho não-adulta nas fábricas, em texto escrito para o conselho central provisório da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), fornecendo instruções de como a classe deveria reagir mais imediatamente a respeito da necessidade do emprego pelo capital desse trabalho infantil, dizia que “o setor mais culto da classe operária compreende que o futuro de sua classe e, portanto, da humanidade, depende da formação da classe operária que há de vir” (MARX & ENGELS, 1983, p. 60), e sugeria alternativas de médio e longo prazos visando a transformação geral de tal maneira que, na impossibilidade de não se atingir a completa proibição do emprego da força de trabalho infantil e juvenil, o aconselhável seria lutar para combinar o trabalho produtivo com a educação, desde que o sentido de educação significasse educação intelectual, corporal e tecnológica, cuja junção, segundo o pensador, elevaria “a classe operária acima dos níveis das classes burguesa e aristocrática” (Ibiden, p. 60).
2 Com efeito, é importante destacar que quando nos referimos às atividades educativas das mais diversas ordens efetivadas pelos trabalhadores, a aplicamos com uma noção mais expansiva, referindo-se àquelas desenvolvedoras tanto de certas competências direcionadas ao atendimento das necessidades técnicas da produção requerida pela fábrica capitalista, quanto aquelas de conteúdos ideológico-culturais capazes de instruir o operariado para resistência no enfrentamento cotidiano com a “pedagogia” do capital e simultaneamente também, capaz de o municiar intelectualmente para a luta política.
278
Apontando ainda nessa direção, não custa dizer que se é sabido que, dentre as matrizes da teoria marxista, Gramsci talvez seja o que mais tenha se debruçado especificamente sobre o tema da cultura e da educação, fazendo-o na perspectiva de articular a necessidade da revolução socialista no contexto das mudanças superestruturais engendradas no capitalismo central do início do século XX. As discussões levantadas por ele de forma detida sobre a educação escolar se inserem na forma ampliada da necessidade de construção da hegemonia dos grupos sociais subalternos. Queremos dizer com isso que as práticas formativas geradas no seio da classe trabalhadora visando a construção de uma auto-determinada concepção de mundo “consciente e crítica” (GRAMSCI, 1999, p. 93-94) em relação ao ideário hegemônico, ocorrem segundo momentos ou graus na relação de forças políticas de uma situação (cf. GRAMSCI, 1989, p. 49-51). É importante insistir em explicitar esse juízo para evitar cair no erro teórico de considerar toda manifestação auto-formativa da classe trabalhadora como portadora do elemento revolucionário socialista.
Gramsci afirma que para uma análise correta do embate de forças políticas, devem ser considerados, em primeiro lugar, os elementos da “estrutura objetiva” – que dão o grau de desenvolvimento das forças materiais de produção que servem de sustentáculo para os grupos sociais e suas posições determinadas nessa produção – e, em segundo lugar, a relação de forças políticas, que dá o “grau de homogeneidade, de auto-consciência e de organização, alcançado pelos vários grupos sociais” (Ibiden, p. 50). Para o pensador italiano, esse momento se diferencia historicamente3 em diversas formas, tais como: i) o “econômico-corporativo”, que se dá quando há certa unidade no interior de um grupo social (ou fração de classe), porém, ainda não existindo identidade com um grupo social mais amplo. Esse momento da organização política é o que poderíamos interpretar como sendo o de quando trabalhadores na sua individualidade formam uma consciência imediata, ocasional e desagregada a partir das contradições emergentes das mesmas condições de vida e trabalho em conjunto com seus pares próximos, e se põem a 3 Antes, porém, é bom lembrar, que esses momentos não são imediatamente seqüenciais e progressivos, mas ao contrário, se dão de forma dialética e, segundo o próprio autor assinala, “se confundem reciprocamente, por assim dizer horizontal e verticalmente, segundo as atividades econômicas sociais (horizontais) e segundo os territórios (verticais), combinando-se e dividindo-se alternadamente” (GRAMSCI, 1989, p. 50).
279
organizar-se visando a satisfação de seus interesses materiais mais espontâneos (diretamente econômicos), porém sem ampliar a sua crítica e sua atuação para questões estruturais da totalidade social. Este momento, ainda segundo Gramsci, fornece a base para: ii) “consciência da solidariedade de interesses do grupo social” que, apesar de se propor a resolver questões mais amplas, como em relação ao Estado ou à igualdade político-jurídica com grupos dominantes, ainda se limita a reformas dentro dos quadros fundamentais da ordem (talvez, nesse momento, se localize a maior parte das contemporâneas experiências educacionais dos trabalhadores). O momento iii) é o da “consciência de que os próprios interesses corporativos, no seu desenvolvimento atual e futuro, superam o círculo corporativo, de grupo meramente econômico, e podem e devem tornar-se os interesses de outros grupos subordinados” (GRAMSCI, 1989, p. 50). É o momento mais interessante e fecundo para a organização dos trabalhadores, pois é quando, cientes das limitações da sociabilidade burguesa, passam a tentar tornar seu ponto de vista em ponto de vista dos subalternos, convertendo-se no momento da disputa aberta de hegemonia.
É nesse contexto de graus na relação de força que se pode dizer que, no fundamental, a independência dos trabalhadores enquanto classe social, na efetivação de sua própria formação cultural no intento de criticar o discurso hegemônico, faz mais sentido se, também como prática, buscar destruir as condições objetivas que tornam possível a existência de tais discursos.
Se é verdade, afinal, que “toda relação de 'hegemonia' é necessariamente uma relação pedagógica” (GRAMSCI apud DIAS, 2006, p. 65), é a partir da relação hegemonia dominante versus hegemonia subalterna que passa a existir o terreno fértil para a construção da identidade dos trabalhadores. Do contrário, as classes subalternas, não estando em condição de estruturarem-se autonomamente, isto é, não construindo seu próprio saber e prática em permanente luta contra a racionalidade dominante, estarão sempre sujeitas aos limites do campo econômico-corporativo e, portanto, incapazes de arquitetar a saída da dominância, que apesar de material é também ideológica e, dessa forma, incapazes de criar sua própria hegemonia.
É importante ter a discussão sobre a necessidade de formação/visão
de mundo autônoma de classe/hegemonia em mente, pois a constituição
280
do saber e da subjetividade da classe trabalhadora é importante para que ela compreenda a totalidade como uma concepção epistemológica central, e possa, a partir disso, realizar uma intervenção mais adequada na realidade social. Como não poderia deixar de ser, essa estruturação da classe trabalhadora de forma ideologicamente autônoma só ganha concretude na história a partir das experiências reais que ela mesma logra empreender no terreno da práxis social. É a partir dessa objetividade que é possível comparar as diversas práticas no tempo e no espaço e mensurar as suas potencialidades, seus erros e seus acertos táticos na construção de uma hegemonia ideológica e política proletária.
Assim, se na trajetória de organização de atividades formativas classistas não há nenhuma tendência de crescimento progressivo com rumo inexorável ao socialismo, de outro modo, o que ocorre freqüentemente são manifestações difusas, com momentos variáveis de organicidade, com muitos avanços e recuos do ponto de vista político.
Na história recente do Brasil, é a partir do fim dos anos 1970, e praticamente durante toda a década de 1980, que a reorganização do movimento operário também vai refletir em inovadoras contribuições para as iniciativas de formação de trabalhadores, lançando as bases de estruturas educativas que serão as mais complexas e as que terão a vida mais longa já registrada na história do sindicalismo brasileiro, como a estrutura de formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Em grande medida impulsionada pela luta contra a ditadura, a prática formativa da CUT no período inicial de sua constituição era balizada por um conteúdo teórico crítico de viés marxista, objetivando contribuir no processo de formação da consciência revolucionária da massa dos trabalhadores, mas também das novas direções sindicais. Ainda que existissem na maior parte dos sindicatos e instituições trabalhistas dos anos 1980, práticas de auto-formação operária de natureza profissional – legado deixado pelo assistencialismo sindical da estrutura oficial –, é sem dúvida o fato mais notável dentre todos os que dizem respeito ao experimento na seara educacional de trabalhadores aquele praticado pela central sindical nascente4.
4 A respeito das características da formação político-sindical desenvolvida pela CUT em seus períodos iniciais, bem como das mudanças ocorridas, vide Tumolo (2002).
281
Contudo, em fins da década de 1980 e início da próxima, com a entrada de um novo padrão produtivo no setor industrial, principalmente trazendo novas técnicas gerenciais da força de trabalho, tecnologias de produção em base micro-eletrônica e computacional, com seus conseqüentes efeitos sociais, como por exemplo, retração do emprego formal e desemprego em massa, a formação profissional ganha força e começa a se tornar uma pauta prioritária entre as entidades responsáveis pela educação de trabalhadores no país. Por conta disso, alguns sindicatos de maior porte e centrais sindicais sem tradição de combatividade iniciam ou enfatizam (por conta própria ou em parceria com governos e/ou entidades patronais) práticas de qualificação profissional.
Nas páginas seguintes, discutiremos com mais detalhes o processo de surgimento das experiências de formação efetivadas pela CUT nesse contexto e o seu posterior desenvolvimento. Todavia, é importante que se diga que a presente seção deste trabalho foi escrita considerando as históricas experiências educativas organizadas pela própria classe trabalhadora como manifestações de resistência aos imperativos da produção de mais-valor, fazendo coro com uma noção de historiografia que leva em conta a participação ativa dos subalternos na construção de suas trajetórias, e não apenas como receptores meramente passivos de propostas irradiadas de agentes como o Estado ou as classes dominantes. É por essa perspectiva que merece ser registrado o valor das iniciativas que partiram de trabalhadores, mesmo quando não tiveram conscientemente um caráter determinado de transformação radical social, pois, como atividade coletiva, a organização inicial de natureza autônoma de trabalhadores visando sua própria educação (seja ela propedêutica, profissional ou política) já oferece a possibilidade de se forjar uma “consciência da solidariedade de interesses do grupo social”, que por sua vez é pré-requisito para a emergência de uma consciência de classe revolucionária contra o capitalismo.
De agora em diante, mesmo respeitando o caráter de iniciativa popular de boa parte das atividades de educação de trabalhadores levadas a efeito pela CUT, nos preocuparemos, entretanto, com as opções políticas realizadas por ela no conjunto de alternativas que estavam a sua disposição no contexto em que se realizavam, notadamente a década compreendida entre 1998 e 2008.
282
A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CUT NO PERÍODO DE VIGÊNCIA
DO PLANFOR DO GOVERNO FHC
Na esteira dos ajustes políticos e econômicos institucionais empreendidos pelo governo FHC com o discurso de adequar o país para a entrada na globalização, a proposta de reforma da educação profissional aparece como uma tentativa de conformar os trabalhadores para se adaptarem às necessidades de flexibilização da produção exigida pelas empresas brasileiras a fim de que estas pudessem ter suas produtividade e competitividade aumentadas na concorrência do mercado mundial.
Nesse sentido, para Souza,
no campo educacional a proposta de governo [de FHC] considerava que o país tinha muito a avançar na reforma da educação e nos estímulos ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, para que viesse a ter condições de forjar um novo modelo de desenvolvimento, impulsionasse inadiáveis transformações sociais e alcançasse presença significativa na economia mundial. A educação assumia, assim, um caráter de instrumento de competitividade e produtividade industrial (SOUZA, 2006a, p. 481).
Para se fazer cumprir as propostas relativas à questão, no primeiro ano de mandato, o governo FHC criou a Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional (Sefor), vinculada ao Ministério do Trabalho (MTb), com as tarefas de reformular conceitualmente a noção de educação profissional, fazer a devida articulação institucional e construir um novo tipo de relação entre Estado e sociedade civil (cf. Ibidem, p. 482). Para se cumprir a reforma, continua Souza, as ações atribuídas à Sefor ficaram definidas como sendo as seguintes:
a) consolidar e difundir um novo conceito de educação profissional, como elemento indissociável do desenvolvimento sustentável, que não se confunde com assistencialismo nem substitui educação básica;
b) reestabelecer o papel da educação profissional, como processo commeço, meio e fim, com foco no mercado de trabalho, tendo em vista a empregabilidade da clientela;
c) promover o desenvolvimento didático-metodológico – envolvendo currículos, programas e recursos instrucionais (livros, vídeos, softwares) – adequados a processos de qualificação e
283
requalificação profissional que levem em conta as peculiaridades e condições das diferentes clientelas – trabalhadores inseridos em processos de modernização, desempregados, jovens de baixa escolaridade, excluídos – das diversas regiões do país;
d) fomentar o desenvolvimento de metodologias e sistemas que dêem suporte ao atendimento integrado ao trabalhador, em matéria de orientação e análise ocupacional, informação sobre mercado de trabalho;
e) consolidar e difundir essa base conceitual-metodológica no âmbito tanto do Ministério do Trabalho, como das agências de educação profissional e dos órgãos e entidades envolvidos no projeto (BRASIL, 1995 apud SOUZA 2006a).
Colocando em prática estas ações, em 1996 o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, pela resolução nº 126/96, criou o Planfor5, que, sob o âmbito da Política Pública de Trabalho e Renda (PPTR) do MTb, e a partir das verbas oriundas do FAT, objetivou dar unicidade aos diversos programas de qualificação que estavam em curso pelo Brasil. O entendimento do governo para o assunto era que, em função das mudanças no padrão produtivo pelo qual passava o Brasil e o mundo, as instituições que praticavam esse tipo de educação teriam que ser reformuladas para atender essa demanda de novas competências requeridas pelas empresas. É sem meias palavras que o governo federal oficialmente afirmava que
os modelos tradicionais de EP [Educação Profissional], em particular os mais antigos e consolidados, como Senai, Senac, e escolas técnicas federais [...] estavam preparados para ministrar uma formação única, sólida até, para um bom e estável emprego; mas não para a mudança, a flexibilidade, a polivalência cobradas pelo setor produtivo. Sabiam disciplinar para a assiduidade, pontualidade e obediência; não para a iniciativa, o imprevisto, a decisão e a responsabilidade (BRASIL, 1999, p. 26).
O financiamento do Planfor acontece por meio do FAT e se dá com recursos propiciados pela rubrica “qualificação profissional”, sendo repassados aos Estados e Distrito Federal e aos parceiros nacionais e
5 A sigla Planfor aparece em documentos oficias significando, sem diferenciação, ora Plano Nacional de Formação Profissional, ora Programa Nacional de Qualificação Profissional e ora Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador.
284
regionais através de convênios firmados com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e o MTb. Ele é gerenciado no nível federal pelos mesmos CODEFAT e MTb, e também pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) e o Departamento de Qualificação Profissional (DEQP); já nas instâncias estaduais/municipais quem os gere são os Conselhos Estaduais/Municipais de Trabalho ou Secretarias de Trabalho ou equivalentes.
É bom lembrar que a criação do Planfor se deu em consonância com o princípio neoliberal praticado pelo governo FHC, segundo o qual o Estado não seria mais o ente obrigado a propor soluções “universalistas” para as políticas sociais (estas passaram a ser entendidas sempre como “gastos”), fazendo com que, nesse cenário, ocorresse a descentralização e a privatização de boa parte de suas atribuições. É a partir desse encaminhamento que a divisão em instâncias para gerir e planejar o Planfor estava em perfeita correspondência com a necessidade neoliberal de retirar determinados poderes do Estado, conquanto que a execução de seus cursos e programas por meio de uma rede de instituições, tanto públicas quanto privadas, também dizia respeito a uma modalidade de privatização das políticas públicas voltadas à formação profissional6. Nesse ínterim, para poder executar a educação profissional, as agências se candidatavam segundo critérios definidos em lei e de acordo com a inspiração política da reforma da educação profissional, e, se aprovadas, passavam a realizar a formação recebendo os recursos do FAT, principal financiador do país para atividades nesse campo.
É bem verdade que numa apreciação crítica a respeito do Planfor, encontramos a explicação de que se trata de uma política compensatória de emprego no contexto dos efeitos da subordinação econômica do país ao grande capital internacional (levada a cabo com mais profundidade pelo governo FHC); contudo, inspirado na reedição da teoria do capital humano7, o Planfor operou durante todo o seu funcionamento com o
6 Entre os anos 1996 e 1999 essa Rede era formada por 14 mil agências em todo o país, tais como universidades, faculdades, institutos, escolas, Sistema S, associações, federações, confederações, sindicatos patronais e de trabalhadores além, é claro, de centrais sindicais. 7 De acordo com Frigotto (1996, p. 83), “a idéia-chave [da teoria do capital humano] é de que a um acréscimo marginal de instrução, treinamento e educação, corresponde um acréscimo marginal de capacidade de produção. Ou seja, a idéia de capital humano é uma “quantidade” ou um grau de educação
285
princípio de que cada trabalhador seria responsável individualmente pela sua própria educação, e conseqüentemente, pela garantia (ou não) do seu emprego. A partir de uma interpretação linear e imediata da realidade, ele significou a expressão de um construto ideológico que pode ser resumido na formulação de que o emprego e a grandeza de salário de cada
trabalhador estaria em proporção direta com o nível e a qualidade de
formação de cada um.
É nesse sentido que dizemos que o Planfor representou o avanço da sanha privatista sobre a educação brasileira, e, especialmente sobre a educação profissional, deixando como conseqüência mais um elemento para o desmonte (de grande parte do que havia) de ensino universal público, gratuito no país, além de ter interceptado o processo de construção de uma educação unitária com as características necessárias para o desenvolvimento de, no mínimo, trabalhadores críticos e capazes de dominar o saber do processo de trabalho, que há muito era reivindicação histórica dos trabalhadores e movimentos de esquerda vinculados à educação no Brasil. No entanto, mesmo sabendo das limitações de se atender essas demandas num arranjo societal que se pauta pela lei do valor, queremos ressaltar que o peso do golpe dado pela privatização do ensino profissionalizante no Brasil fez amainar ainda mais a luta mesmo por reformas progressistas por dentro do sistema8. Foi nesse panorama que a CUT deu início às suas investidas na prática de formação profissional associada a sua política de formação mais geral.
Somada à crise percebida nas suas bases por conta das transformações no mundo do trabalho, nos início dos anos 1990, a Política Nacional de Formação (PNF) da Central também sofre um revés por causa da diminuição do financiamento internacional das suas atividades de formação. Como é sabido, inspirada na idéia de solidariedade internacional de classe, boa parte da PNF da CUT obteve uma sustentação pecuniária importante de ONG's, sindicatos e centrais
e de qualificação, tomado como indicativo de um determinado volume de conhecimento, habilidades e atitudes adquiridas, que funcionam como potencializadoras da capacidade de trabalho e de produção”. 8 A luta por reformas parciais por dentro do sistema sempre representou para a esquerda socialista uma tática na busca por melhorias nas condições de vida e trabalho. No entanto, há que se lembrar que essa forma de luta significa muito mais um exercício pedagógico para o proletariado no sentido de demonstrar as restrições do capital em não poder atender às demandas dos trabalhadores e, por isso, esse modo de produção deveria ser substituído por uma organização social socialista.
286
sindicais européias no período compreendido entre o fim dos anos 80 e início dos 90. A esse respeito, Mora (2007) nos noticia, por exemplo, que mais da metade dos recursos para a Escola Sindical Norte da CUT, em Belém, nesse tempo, veio das centrais DGB da Alemanha, da ICCO (ONG holandesa), da CISL italiana, além de campanhas feitas por governos e centrais do velho continente. A Escola Sul por sua vez, também contou com a cooperação internacional da Alemanha e Itália, mas também com receitas sindicais e vendas de serviços. Com o Instituto Cajamar também não foi diferente; apesar de obter recursos com as livrarias que possuía e com prestação de serviços, também recebia importante aporte financeiro de agências européias. Assim como também a Escola 7 de Outubro, que fundamentalmente foi construída e bancada pelo ISCOS-CISL com um projeto de 1,2 milhão de dólares.
É o que a própria CUT evidencia nas resoluções do seu V Concut de 1994, quando, ao fazer o diagnóstico de sua situação financeira, constata sua situação de inadimplência e crise por conta da diminuição do número de sindicalizados e, também, quando verifica o estado das receitas advindas de convênios internacionais, que segundo ela, vinham “caindo ano a ano, obrigando a CUT a assumir paulatinamente as despesas de atividades e de organismos que eram tradicionalmente financiados por recursos externos” (CUT, 1994, p. 88)9.
Assim, a partir desse conjunto de elementos, articulados e mutuamente determinados, como as mudanças na organização produtiva, neoliberalismo, social-democratização das centrais européias, recessão econômica, surgimento e crescimento da Central Sindical Força Sindical, escasseamento das verbas e hegemonia da Articulação Sindical na sua executiva, que a CUT viu nos recursos provenientes do FAT, ao mesmo tempo, uma solução para seus problemas de caixa e uma alternativa para recuperação de seu prestígio político, e partiu para as experiências no campo da educação profissionalizante de trabalhadores.
Por mais que o discurso seja o de disputar as concepções de formação profissional dadas pelo patronato com recursos públicos no âmbito do Planfor, a CUT, por vias oblíquas, acaba por compactuar com a reforma privatizante do ensino profissional brasileiro e reforçar o 9 Disponível em: <http://www.cut.org.br>. Acesso em 21 de agosto de 2007.
287
fetiche da qualificação contra o desemprego ao se apresentar como mais uma agência que seguiu as diretrizes do Planfor e se tornou apta a executá-lo. O início indireto dessas experiências se deu em 1996 quando a Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM), integrante de sua estrutura vertical, começou a desenvolver o Programa Integrar voltado a metalúrgicos desempregados, fornecendo-lhes a formação profissional em conjunto com ensino de primeiro grau (daí a origem do nome do programa). Mas em 1997 a CUT submeteu um projeto, por meio do convênio MTb/Sefor/CODEFAT 0011/97, e em 1998 a própria Central iniciou, sem intermediários, a sua participação no Planfor através do Programa Integral de Capacitação de Conselheiros das Comissões Estaduais e Municipais de Trabalho, Emprego e Renda e de Formação de Formadores em Educação Profissional, para atuarem nas instâncias tripartites, responsáveis pelo gerenciamento do FAT. Conforme se pode ver na citação do texto a seguir (organizado por dirigentes cutistas e publicado pela própria Central), para a entidade, o início de suas atividades no campo da formação profissionalizante não se deu com outro motivo a não ser o da luta contra o desemprego:
[...] o motor principal da participação da CUT no Planfor foi constituir e consolidar avanços conceituais e metodológicos adequados às prerrogativas dos trabalhadores, assim como instituir um movimento amplo de intervenção nas políticas públicas, desde os governos locais, visando alternativas ao desemprego e exclusão sociais (SAUL ET AL, 2003, p. 34).
Para a realização dos cursos entre 1998 e 1999, Delúbio Soares de Castro, representante da Central no CODEFAT, propôs no final do ano de 1997 que se aumentassem as verbas para o programa de 360 milhões de reais para 1 bilhão, para que a CUT pudesse disputar um montante de verbas ainda maior (cf. TUMOLO, 2002, p. 199). Não sabemos informar se de fato para o ano seguinte a verba aumentou e/ou quanto teve de aumento; no entanto, pudemos averiguar que para o ano de 1998 a CUT recebeu 8 milhões de reais do FAT a fim de executar os seus programas de formação previstos (cf. TEIXEIRA, 2008).
De fato, o que há de mais verdadeiro é que a estrutura de formação da CUT engrandeceu-se a partir desse ano e a PNF se reorganiza e amplia-se como nunca havia feito na sua história, visando captar um montante ainda maior de recursos do FAT, para efetivar um número
288
também maior de cursos e programas profissionalizantes e, segundo a própria Central, poder disputar ainda mais com o empresariado as concepções político-pedagógicas em educação profissional. Em resumo, pode-se dizer que a orientação da CUT para a disputa de projetos de formação profissional no âmbito do FAT era que, como as entidades privadas e patronais desenvolviam uma educação parcial, voltada exclusivamente para o atendimento das demandas produtivas, de conformação de um trabalhador apto a operar com as inovações do sistema produtivo, a Central deveria usar as mesmas armas e o mesmo espaço, como um locus da “disputa de hegemonia”10, para conseguir desenvolver uma formação de trabalhadores de natureza política e sindical, básica e profissional, que, ao mesmo tempo, lhes daria a qualificação pretendida, também fornecer-lhes-ia o instrumental crítico para atuarem no mundo do trabalho.
Sendo assim, foi no ímpeto dado pela experimentação na prática de fornecer cursos de educação profissional com verbas do FAT que a temática ganhou mais centralidade no interior da Central. Nessa direção deu-se início a um novo ciclo de reajuste estratégico/institucional da PNF, que começou com a realização da 13ª Edição do Encontro Nacional de Formação (ENAFOR), passou pela organização de consecutivas conferências nacionais da formação e foi coroado com a efetivação, no período relativo a 1999/2002, de um amplo Programa Nacional de Formação desenvolvido em praticamente toda a Rede Nacional de Formação.
É nesse contexto que a Formação assumiria o papel central de qualificar dirigentes e lideranças sindicais para enfrentar esse cenário de mudanças, além de fazer da prática em educação profissional o principal veículo de intervenção da CUT nas propostas a respeito destas políticas de geração de emprego e renda. Como as ambições da Formação cutista ampliaram seus horizontes a partir de então, é nesse período que a Rede Nacional de Formação assumiu uma forma mais bem definida de funcionamento a fim de se gerir um Plano de Formação articulado nacionalmente de verdade, pois, segundo se pode deduzir, para a CUT os
10 Sabendo que Gramsci recebeu diversas “leituras” no Brasil, a CUT, inspirada em alguma delas, passou a usar exatamente a expressão com origem no pensador italiano.
289
planos de formação anteriores não tiveram uma abrangência nesse âmbito. O que nos atrai a atenção nesse ponto em especifico é o fato de que mesmo a CUT tendo criado a sua Secretaria Nacional de Formação ainda em 1984 no seu primeiro congresso e já desenvolvido ações formativas de caráter nacional e planos de formação com alcance em todo o país desde então, é somente depois das mudanças de rumo de um sindicalismo com horizonte na construção radical de socialismo para um sindicalismo propositivo (no qual a adesão à prática da formação profissional com recursos do FAT é só uma derivação mais evidente), que a Central diz efetivar sua Política de Formação com abrangência nacional.
A análise de tal episódio nos permite concluir então que a formação para a entidade só se tornou prioridade, portanto, quando ela pôde disputar verbas públicas para promovê-la, e mesmo assim, com clara inclinação para a educação profissionalizante. Ademais, conjecturamos explicar que esse fato só encontra entendimento se tiver como base a acirrada polarização entre a “esquerda” e a “direita” da Central, que durou com relativo equilíbrio de forças até o seu IV Concut (1991), com a vitória deste último setor, e que pôde, por fim, hegemonizar suas concepções de mundo e de sindicalismo. A partir daí, e tendo como uma de suas prioridades a formação profissional com recursos oriundos do FAT, a CUT passa a disputar e requerer um montante cada vez maior daqueles recursos, conforme ilustra o quadro a seguir:
Repasse dos recursos vindos do FAT para a CUT de acordo com o ano: ANO VALOR 1998 R$ 8 milhões 1999 R$ 21 milhões 2000 R$ 35 milhões11 2001 R$ 30 milhões 2002 R$ 35 milhões
Fonte: Mora (2007); Souza (2006b); Teixeira (2008)
11 Zarpelon através de informações conseguidas pelo Gabinete do Deputado Federal Agnelo Queiroz (PC do B) em 2002 nos dá conta, entretanto, que nesse ano os recursos do FAT para a CUT chegaram a 39 milhões de reais. Optamos por manter a informação que mais teve ocorrência nos documentos consultados. Outras informações vide: ZARPELON, Sandra Regina. A esquerda socialista e o novo socialismo utópico: aproximações entre a atuação das ONG's e o cooperativismo da CUT. 2003. 157 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Políticas) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003, p. 46.
290
O PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO (PNQ) DO GOVERNO LULA E A
FORMAÇÃO CUTISTA NO PERÍODO 2003 – 2008
A partir da posse do Governo Lula em 2003 e das mudanças operadas por sua gestão à frente do Ministério do Trabalho nas políticas públicas de emprego e educação profissional, a PNF da CUT recebe um novo impacto transformador. Se, à primeira vista, poder-se-ia pensar que os vínculos históricos e políticos do partido agora no governo com a Central fossem concorrer na direção de ampliar os recursos públicos do FAT para a prática de formação profissional da entidade, na realidade o que ocorre, a princípio, é algo bem diferente.
Tomando medidas com a finalidade de reordenar a relação de transferência de recursos para as centrais sindicais, o Tribunal de Contas da União (TCU) averigua e detecta irregularidades na prestação de contas do FAT para as centrais CUT, Força Sindical (FS), Central Geral dos Trabalhadores (CGT) e Social Democracia Sindical (SDS) entre 2000 e 2002, e determina por suspender, ainda em agosto de 2003, os financiamentos do Planfor para estas entidades12. De imediato, todos os programas e cursos que estavam em andamento na PNF da CUT terminaram abruptamente de uma hora para outra, criando uma verdadeira desestabilização em toda a RNF. Em decorrência das avaliações pelo novo governo dos danos causados ao erário público pelos gastos descontrolados do FAT no Planfor e constatando que o programa não apresentava os devidos resultados no que dizia respeito à articulação entre Política Pública de trabalho e renda, educação e desenvolvimento, o MTb lança em 2003 o seu próprio Plano Nacional de Qualificação (PNQ).
Aprovado pelo CODEFAT pela Resolução 333/2003, o PNQ se propõe a ser uma política pública de qualificação social e profissional com uma estratégia de integração das políticas de emprego, trabalho,
12 Informações adquiridas através do trabalho de Souza, 2006b, p. 53-55. Diga-se de passagem, que embora o discurso da CUT fosse o de disputar com outras entidades promotoras as concepções a respeito de educação profissional, a central não consegue fazer frente a elas com relação à arrecadação, chegando a ser gritante a diferença. Por exemplo, em 2001 enquanto a CUT recebia 30 milhões do FAT, a FS se beneficiava com 6 milhões a mais; em 2002 a diferença de recursos para as duas centrais diminui, mas mesmo assim, a FS recebeu 3 milhões a mais. Já a distinção de recurso em relação ao Sistema “S” é exorbitante, uma vez que em 2000 esse sistema recebeu 6 bilhões de reais do fundo.
291
renda, educação e desenvolvimento (BRASIL, 2003). Por meio de procedimentos institucionais e diretrizes comuns, seu funcionamento procede de modo nacionalmente articulado; no entanto, suas ações são implementadas de forma descentralizada através de planos diferentes e complementares, quais sejam, os Planos Territoriais de Qualificação (PLANTeQs), os Projetos Especiais de Qualificação (PROEsQS) e os Planos Setoriais de Qualificação (PLANSEQs). Os PLANTeQs acontecem em parceria com estados, municípios e entidades sem fins lucrativos com o objetivo de atender demandas por qualificação identificadas com base na territorialidade, já os PROEsQS efetivam-se em parceria com entidades do movimento social e organizações não-governamentais e destinam-se ao desenvolvimento de metodologias e tecnologias de qualificação social e profissional e, finalmente, os PLANSEQs se dão em parceria com sindicatos, empresas, movimentos sociais, governos municipais e estaduais e procuram o atendimento de demandas emergenciais, estruturantes ou setorializadas de qualificação. A soma dos três é que dá a configuração final do PNQ, conforme a esquematização a seguir representa:
Assim como o Planfor, o PNQ é responsável pelo gerenciamento dos Planos e pela liberação de recursos do FAT (também por intermédio do CODEFAT), cabendo a responsabilidade pela sua efetivação às agências executoras que têm convênios firmados com o MTB. A propósito das formulações conceituais entre os dois planos, pode-se dizer que o PNQ apresenta uma tentativa de integração das políticas de ação social e profissional com uma suposta formação integral do trabalhador, que elevaria, contudo, a sua escolaridade.
292
Observando isso, pode-se dizer que não se trata de coincidência o fato de que muitas das diretrizes que orientaram a criação do PNQ estivessem próximas daquelas que eram defendidas nos fóruns da CUT, uma vez que é real o vínculo orgânico de similitudes políticas e ideológicas do seu campo majoritário com a ala hegemônica do PT. Assim, conjecturamos que muito do que foi feito na realização das concepções do PNQ tiveram influência direta do acúmulo de discussões que a Central tinha na questão, bastando observar o intenso intercâmbio de quadros da CUT na composição do governo Lula.
Iniciado de forma provisória ainda em 2003 a fim de se fazer a transição do Planfor, o PNQ ganha efetividade a partir de 2004 fazendo parte do Plano Plurianual 2004 – 2007 (PPA) do Governo Federal nas ações de promoção das transformações que se propôs a realizar para o Brasil. Embora se possa notar alguns avanços conceituais importantes no PNQ, que incorporou, a seu modo, certas demandas de movimentos sociais da educação com os quais o PT historicamente se vinculou, os seus alcances práticos não se distinguem do antigo plano, uma vez que principalmente nas estruturas macroeconômicas o Governo Lula optou por dar seqüência às políticas neoliberais e, assim, manter a mesma base operacional na qual o Planfor se assentava.
Do ponto de vista de postura política, a posse de Lula em 2003 na presidência da República faz a Central projetar um novo cenário para a sociedade brasileira, acreditando ser viável um projeto político desse governo que fosse “pautado por mudanças capazes de resgatar a dignidade e a auto-estima da população e dos trabalhadores brasileiros, com crescimento econômico e distribuição de renda, mais empregos, proteção social e resgate da cidadania, ampliação da democracia e da participação popular” (CUT, 2003, p. 9)13. Nesse panorama, a CUT elabora as diretrizes para sua PNF se adaptar a essa nova demanda aberta pela vitória do candidato à presidente que historicamente apoiou. Assim, para esse momento, as resoluções do VII Concut (2003)14 é que serviram
13 Disponível em: <http://www.cut.org.br>. Acesso em 21 agos. 2007. 14 Nesse Concut, seguindo a mesma orientação política do seu antecessor, foi eleito para ocupar o cargo de Secretário Nacional de Formação José Celestino Lourenço, originário do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – SindiUte/MG.
293
de influxo para a elaboração das diretrizes de sua PNF para o período 2003-2006.
É diante desse novo momento político de arranjo no poder institucional que a PNF da CUT se apresenta contemporaneamente. Com o contingenciamento dos recursos do FAT, a Central se vê obrigada a diversificar as fontes de financiamento de suas atividades de formação. Embora as atividades de formação no âmbito dos convênios com o PNQ não sejam as únicas realizadas pela CUT nesse cenário, pela sua abrangência elas têm importância significativa para o que representa o conjunto de todas as atividades da PNF.
Averiguamos que a partir da emergência do PNQ, os contratos de prestação de serviços formativos com as Centrais não mais obedecem aos princípios de acordos únicos, de abrangência nacional (tal como ocorria no Planfor), mas pelo contrário, passam a ocorrer com entidades para atender em circunscrição local e regionalizada. Foi nesse rumo que boa parte da Formação cutista se descentralizou e ficou reduzida aos convênios que os seus sindicatos e Escolas sindicais fizeram com o Ministério do Trabalho. Diante disso, é que o convênio mais importante firmado entre uma entidade cutista e o MTb (no campo do PNQ) se refere ao PROEsQ – Quem Luta Também Educa!. Financiado com auxílio do FAT, o projeto foi executado entre 2005 e 2007 pela Escola Sindical São Paulo – CUT, com colaboração direta da SNF e de outras Escolas Sindicais.
De outro modo, não obstante ser o PROEsQ – Quem Luta também
Educa! – o programa de formação mais expressivo desenvolvido por uma instância da CUT no âmbito do PNQ no período pós-2003, ele não é considerado um programa exclusivo da PNF da Central, gerido pela Secretaria Nacional de Formação. Por outro lado, após o fim do Planfor, boa parte do que corresponde à prática de formação sindical e profissional da estrutura da CUT se desconcentrou da SNF, espalhando-se em práticas localizadas levadas a efeito pelos sindicatos e Escolas Sindicais da Central. Embora numa intensidade menor que a adquirida quando os recursos do FAT abundavam, as práticas de formação sobreviveram sob a forma de prestação de serviços educativos e/ou na forma de comercialização de cursos a outras instituições e sindicatos, e/ou ainda através de convênios com ONG's e prefeituras municipais no contorno do PNQ. De maneira geral, o que ocorreu foi a diversificação
294
das fontes de financiamento e parceria dos agentes da Rede incumbidos da formação na prática de programas e cursos.
Contudo, em relação aos projetos de abrangência nacional desenvolvidos pela SNF nos termos da Política Nacional de Formação da CUT, constatamos que até o início de 2008 eles correspondiam aos projetos Todas as Letras e Juventude Cidadã. Dentre eles, de longe, o projeto Todas as Letras é o de maior envergadura do período, dado o grau de dedicação de toda Central na sua realização – o que acabou redundando numa boa quantidade de informações e material produzido a seu respeito – e pode ser considerado o mais importante e representativo do período.
O Projeto Todas as Letras faz parte do Programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação e estava sendo desenvolvido sob uma forma de parceria da CUT com a Petrobrás e com o próprio Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além de contar também com o apoio da Unesco e da Scania do Brasil. Iniciado em 2005, este projeto se propunha a realizar a alfabetização e o letramento de jovens e adultos em 23 estados brasileiros, com participação de 80 mil educandos e mais de 3 mil educadores (cf. CUT, 2005). A proposta da Central era de interferir no processo de educação de trabalhadores analfabetos a fim de disputar as concepções metodológicas e políticas do processo de alfabetização, utilizando a experiência que já tinha na área de educação de trabalhadores e a capilaridade da entidade nas várias regiões do país, fornecendo-lhes o conhecimento dos seus direitos de cidadania.
Tão importante quanto discutir a forma de implementação desses novos cursos praticados pelas Escolas, sindicatos e CUT's estaduais, em perfeita concordância com a PNF e, portanto, com a CUT nacional, é mister discutir e problematizar a partir de nossa perspectiva, o verdadeiro conteúdo, repleto de significados, das justificativas que a Central tem lançado mão para efetivá-los, o que representa, de fato, implicações conseqüentes da estratégia política empregada por ela no cenário da luta de classes dos últimos anos, permitindo-nos qualificar claramente qual o seu posicionamento em um dos lados dos pólos classistas contendores da sociedade brasileira. É o que tentaremos trazer à tona na próxima seção.
295
PNF E CUT: DISPUTA DE HEGEMONIA, CENTRALIDADE DO TRABALHO E
PRINCÍPIO EDUCATIVO
Como se viu na discussão acima apresentada, o início das atividades de formação profissional da CUT com primazia sobre a formação político-sindical foi acompanhada, no plano discursivo, de um princípio justificador assentado na idéia de que o fenômeno social do desemprego se resolveria na esfera individual com a devida qualificação do trabalhador para o mercado de trabalho. Dada a fragilidade do argumento, que não se sustentaria em pé em qualquer debate sério que levasse em consideração o processo de desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista, a CUT acaba por alterar o ideário filosófico apoiador da sua inserção nas práticas de formação profissional. Nesse ínterim, em sintonia com a estratégia política mais ampliada da Central, também a formação cutista passa a se utilizar da categoria disputa de
hegemonia para legitimar sua atuação na área da formação profissional.
Embora tenhamos usado o mesmo conceito de origem gramsciana para justificar a necessidade de práticas de auto-educação do proletariado, há uma distinção de abordagens entre eles, sendo possível só distinguir o significado nos usos de uma e outra à medida que se cotejar com a acepção originária marxista e contextualizar a visão de mundo geral adotada pela CUT a partir da metade da década de 1990, que acabou por conduzi-la ao afastamento das lutas históricas da classe trabalhadora nacional. Apesar de nossa concordância com os estudos que revelaram a perda do horizonte combativo socialista da CUT, isso não significa que expressemos que de uma forma deliberada ela tenha se convertido numa central conscientemente defensora do liberalismo econômico e da ordem social do capital tal como a Força Sindical, que lucidamente foi criada para ser o braço sindical do capitalismo neoliberal no país. De outro modo, o que queremos ressaltar é que, embora a CUT apresente críticas pontuais a aspectos danosos aos trabalhadores no padrão do capitalismo brasileiro, ela, nos planos da elaboração teórica e de sua atuação, não mais se distingue de uma modalidade de esquerda mundial que, desiludida, em grande medida, com as análises críticas a respeito do “socialismo real” no leste europeu, passou a enxergar numa abstrata
296
noção de democracia o caminho para apenas uma “sociedade mais justa”, e não mais socialista15.
É na trilha aberta pela adesão a esse princípio que a Central começa a se utilizar do termo disputa de hegemonia para explicar suas ações. Segundo se pode depreender dos discursos e práticas dela, temos que sua noção de comportamento político se assemelha a de entidades, ONG's e outros movimentos sociais que se julgam atuar num impalpável espaço da sociedade denominado terceiro setor em busca de uma cidadania. Esse contexto é que fez com que a CUT passasse a lançar mão, com cada vez mais freqüência, dos termos disputa de hegemonia e sociedade civil como forma de dar chancela a suas intervenções, especialmente no campo da formação de trabalhadores.
Segundo as teorias do terceiro setor das quais a CUT se apropria, as subdivisões das sociedades modernas se concentram em três âmbitos distintos, a saber, o Estado, que seria a esfera da política e do poder; o Mercado, entendido como a esfera onde teria vigência a lógica econômica e o lucro e, por fim, a esfera da Sociedade Civil, o terceiro setor propriamente dito, onde vigoraria uma espécie de propriedade pública não estatal regida por uma racionalidade pautada na solidariedade social e, portanto, contraposta às outras duas. Seria exemplo de entidades pertencentes a esse terceiro setor uma inumerável quantidade de entidades assistencialistas, ONG's, organizações sociais de diversas montas, instituições filantrópicas etc. É exatamente aqui que é possível situar a auto-proclamação da CUT como entidade com atuação no seio da sociedade civil.
Segundo pode-se interpretar das suas práticas e retóricas, uma vez que o Estado tem se mostrado ineficaz na realização de políticas públicas e o Mercado, por sua natureza lucrativamente ambiciosa, não seja o espaço para tal tipo de ação, caberia às entidades dessa suposta sociedade
civil (onde ficticiamente inexiste a distinção de classes) efetivar os serviços sociais públicos que as outras duas esferas têm se mostrado incompetentes em realizar. Diga-se de passagem que, vinculados ao
15 Noção abstrata de democracia porque, como diria Toledo (1994, p. 28), para essa esquerda, “a defesa da democracia não deve ter mais um valor tático, mas adquirir um valor estratégico, um valor em si mesmo”.
297
período de vigência das políticas macro-econômicas neoliberais, que visualizam as políticas sociais como gastos do Governo, os serviços que mais têm exigido a participação dos movimentos do terceiro setor estão principalmente ligados aos campos da educação, saúde, lazer e educação. É nesse espaço que entra o conceito de disputa de hegemonia acoplado ao de sociedade civil na atuação da CUT. Assim, ela estaria atuando como uma dentre tantas outras entidades pertencentes ao universo da sociedade
civil, e concorrendo com elas para influenciar as concepções e rumos das políticas sociais que sofreram com a descentralização por parte do Estado. Destarte, a Central não mais concebe o movimento organizado de trabalhadores sob a forma sindical como o sujeito político por excelência da história e da transformação social. O sindicalismo seria mais um movimento com atuação na sociedade civil e a disputa de hegemonia, portanto, se resumiria à estratégia propositiva de compactuação com o capital, realizando intervenções que não transbordem o limite da institucionalidade burguesa16. Para Zarpelon essa:
[...] estratégia de participação levou a CUT não só a desenvolver propostas para serem encampadas ou aceitas em fóruns tripartites, mas a elaborar políticas que são ou serão implementadas pela própria Central ou por seus sindicatos. Os programas de requalificação profissional, que incluem o fomento às cooperativas, estão entre estas políticas. Com isso, a atuação da CUT se aproxima da atuação das ONG's; ou seja, a CUT entra na arena da disputa de recursos públicos, que são usados em projetos de desenvolvimento local – quer seja através da constituição de cooperativas, quer de iniciativas familiares de geração de trabalho e renda – e/ou de educação profissional (ZARPELON, 2003, p. 145)
É importante observar que os conceitos em tela também fazem parte do rol das categorias analíticas do marxismo, especialmente em Marx e Gramsci, e nos podem fazer acreditar que por serem assim, eles mantenham o lastro de orientação classista da CUT. De outro modo, no nosso entender, a serventia deles para a CUT se deve mais a uma forma 16 A interpretação social realizada pelas teorias do terceiro setor retomam a distinção do liberalismo clássico que enxerga uma cisão entre a sociedade civil e Estado. A atuação terceiro-setorialista da CUT mantém a validade durante o Governo Lula, não porque se trata de uma oposição política aos Governos, mas sim, de uma dada compreensão que não vê que Estado é fruto (e, portanto, está inserido) da Sociedade Civil.
298
residual de atuação com horizonte no socialismo que fazia parte do passado da Central do que de fato uma estratégia contemporânea de organização dos trabalhadores rumo a sua emancipação. Afirmamos isso porque, tanto em Marx quanto em Gramsci, embora estas categorias apresentem matizes diferentes (mas não fundamentais, na própria teoria de cada um, e na comparação entre elas), em momento algum elas funcionam para legitimar a atuação reformista de entidades do movimento dos trabalhadores. Para ficar mais claro a diferença entre a concepção usada pela CUT e o sentido dado por Marx e Gramsci faz-se importante distinguir qual seria a definição clássica dos conceitos para o marxismo.
Em Marx, o conceito de sociedade civil representa o espaço das relações de produção, significa a parte estrutural da sociedade e sua base material e, em função disso, ela é a determinadora do Estado porque este se encontra inserido nas relações sociais de produção. Nesse sentido Marx chega a dizer que o Estado é a expressão oficial da sociedade civil (cf. MARX e ENGELS, 1982). Assim, para o filósofo alemão, há uma subordinação clara do Estado à sociedade civil, uma vez que “é ela que o define e estabelece a organização e os objetivos do Estado, de acordo com as relações materiais de produção” (CARNOY, 2003, p. 92).
Por sua vez, Gramsci dá um salto interpretativo em relação à definição de Marx, complementando-a, sem, no entanto, negá-la. Para o pensador italiano, sociedade civil também é o Estado (cf. DIAS, 2006, p. 32), mas ao incluir o conceito de hegemonia no seu sistema explicativo, ao mesmo tempo encontra-se a explicação que ela (a sociedade civil) atua no campo da superestrutura, significando o “complexo das relações ideológicas e culturais, a vida espiritual e intelectual” (CARNOY, 2003, p. 93). Nessa linha de raciocínio, a hegemonia representa a direção moral, intelectual, política e cultural das classes dominantes, trabalhada pelo convencimento não-violento como racionalidade universal e visão de mundo única para as classes subalternas e as demais no interior da sociedade civil. Exatamente nesse ponto reside a incongruência na utilização dos termos sociedade civil e disputa de hegemonia pela CUT.
Como se nota, a definição cutista está em desacordo com as elaborações marxistas e gramscianas das quais se reivindica depositária, uma vez que para estes pensadores, a sociedade civil não é de maneira alguma um espaço coeso e homogêneo e muito menos o espaço de
299
participação na cidadania como faz crer a interpretação terceiro-setorialista da Central. Completamente oposto, a sociedade civil é perpassada pela contradição porque é nela que se manifesta o antagonismo de classes. Dessa forma, a disputa de hegemonia colocada em pauta pela CUT não passa de fraseologia, de discurso vazio, porque não se orienta pela construção da hegemonia da classe trabalhadora entendida como força social e política da história (que se dá quando a classe empenha-se em fazer o seu ponto de vista se tornar o ponto de vista dos subalternos). A contra-hegemonia dos trabalhadores passa necessariamente pela formação da sua identidade de classe, calcada no desenvolvimento cultural e ideológico de uma consciência de classe para si, mas também forjada no enfrentamento cotidiano com as classes dominantes, através de mobilizações de massa, greves e protestos, elementos estes que trazem a possibilidade de superar a visão economicista/imediatista a respeito dos interesses mais radicais dos trabalhadores.
Como a prática da CUT tem sido de não-confronto com o capital e de proposição e participação nos espaços institucionais (onde os fóruns tripartites e as sugestões nas contra-reformas neoliberais são a melhor expressão), pode-se dizer que a sua acepção de disputa de hegemonia não passa de eufemismo para explicar a sua adesão à ideologia e à prática do pacto de classe.
Em adição ao complexo teórico-filosófico de conceitos de raiz marxista que a CUT lança mão para justificar a qualidade de sua intervenção no âmbito da educação integral e da formação profissional, é bastante freqüente também encontrar as expressões trabalho como
princípio educativo e centralidade do trabalho, principalmente em uma
articulação recíproca. Em diversos documentos, publicações e coletâneas de artigos produzidos pela própria SNF e pelas Escolas, e publicadas pela Central, recorre-se à ajuda de intelectuais pertencentes ao quadro da formação cutista e a acadêmicos brasileiros reconhecidos pelas suas pesquisas na área, como, mais notadamente, Maria Ciavatta, Gaudêncio Frigotto e Márcio Pochmann, a fim subsidiarem teoricamente a defesa da metodologia usada nas suas atividades de educação.
Entretanto, a existência do debate acerca do trabalho como princípio
educativo, apesar de ser um tema candente na atualidade da formação cutista, tem uma origem um pouco mais antiga do que faz crer a sua
300
utilização pela CUT. Tumolo (2005) já havia detectado a importância desse conceito no pensamento brasileiro sobre Trabalho e Educação. De acordo com o autor, o tema em questão era bastante recorrente no pensamento educacional brasileiro de matriz marxista entre fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, mas, segundo ele:
A partir da segunda metade da década de 90, ao mesmo tempo em que houve um declínio de sua discussão no âmbito acadêmico, o trabalho como princípio educativo sofreu um grande revigoramento na medida em que passa a se constituir como fundamento de propostas de educação que se pretendem inovadoras e progressistas, desenvolvidas por alguns movimentos sociais, que têm ocupado papel central no cenário político brasileiro contemporâneo, como é o caso, pelo menos, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e da Central Única dos Trabalhadores, a CUT (TUMOLO, 2005, p. 240).
Em síntese, a elaboração teórica dessas categorias reside na argumentação de que o trabalho é a categoria ontológica fundante do ser humano genérico, a atividade pela qual o homem humaniza-se (tal como se afirma na tradição marxista, mais notadamente em Gramsci e Lukács), e, por isso, a educação deveria, necessariamente, fundar-se no trabalho, depreendendo-se daí que essa atividade ineliminável da condição humana, mesmo no contexto de assalariamento e alienação capitalista, deva ser o princípio de todo o processo educativo.
Contudo, a discussão a respeito do trabalho como princípio
educativo é longa, complexa, polêmica e ainda em curso. O que desejamos sobressaltar a esse respeito é que, enquanto a CUT insistir no discurso da centralidade do trabalho para o processo de educação sem a respectiva consideração prática – de intervenção na realidade para a transformação socialista – da centralidade política dos trabalhadores, as suas práticas educacionais só não estarão esvaziadas de conteúdo político porque estarão preenchidas com o discurso da formação para o trabalho na forma social do capital, que é, sobremaneira, fetiche e alienação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos anos, através de escolhas políticas e como elemento determinado e determinante das transformações na base material, o
301
referencial de mundo crítico socialista, expresso nas atividades de formação da PNF, foi se tornando rarefeito em seu interior, até se converter em formação profissional galvanizada por conteúdos no limite dos temas típicos da agenda liberal, como é exemplo a noção despolitizada de cidadania, e, quando muito, com condenações apenas morais e conjunturais contra o sistema.
Ademais, segundo a extração que se pode fazer da atividade prática da CUT, vê-se que ela transferiu para os espaços tripartites oficiais a luta de classes, secundarizando o enfrentamento cotidiano com o capital nos locais de trabalho, nos sindicatos e nas lutas políticas gerais para a construção do socialismo. A opção da CUT por esse caminho demonstra um não reconhecimento do Estado como instrumento de dominação de classe e a disputa de hegemonia acabou se resumindo a uma disputa ideológica, onde o ensino de uma visão de mundo crítica (tal qual a proposta da educação integral afirmava) seria a panacéia dos problemas sociais e dos problemas de organização dos trabalhadores.
Como se sabe, as atividades de formação não são neutras, pois, através das escolhas metodológicas, dos objetivos e dos conteúdos que praticam, trazem em si a carga das suas intenções ideológico-políticas. Desse modo, afirmamos que de forma conscientemente orientada, a CUT abriu mão da concepção segundo a qual a pedagogia para o enfrentamento com o capitalismo se daria na práxis, ao articular conhecimento teórico sobre o funcionamento do modo de produção e formas de superá-lo com atividade política prática, como greves, mobilizações de massa, protestos, manifestações etc.
Tal atitude é empiricamente constatável ao analisar o desenvolvimento da PNF. Se, por um lado, nota-se a complexificação da sua estrutura funcional e organizativa, principalmente a partir da entrada da CUT na formação profissional com recursos provenientes do FAT, por outro lado, há um retrocesso da instrução crítica teórica do conteúdo desses cursos. Concomitante a esse processo de desenvolvimento muscular da Central nos espaços oficiais em detrimento da representação nas bases, há também uma equivalente progressão do Partido dos Trabalhadores (com o qual CUT está organicamente vinculada) no sentido de aumento da participação (inclusive dos quadros da CUT) nos espaços políticos formais, o que nos leva a afirmar, que a estratégia de formação cutista, especialmente durante a vigência do Planfor e do
302
desaguamento dos recursos do FAT, estava amplamente vinculada à participação em um projeto de poder capitaneado pelas candidaturas petistas e coroado com a eleição de Lula ao executivo federal.
Se, desde 1998, a prática da PNF se confunde com as propostas oficiais, uma vez que se limita a atuar segundo políticas educacionais do governo federal, a sua vinculação ao institucionalismo estatal por meio da PNF se torna mais evidente no período do Governo Lula, quando se converte praticamente por inteiro em correia de transmissão das concepções de educação aos sindicatos, especialmente. Vide, por exemplo, as principais transformações sentidas na PNF; boa parte das suas mudanças de rota foram por pressão de fatores externos, ligados às determinações do Estado, que influenciaram sobremaneira a posição política dos seus dirigentes. Foi assim quando da constituição da Rede Nacional de Formação, que se formatou para melhor gerir os programas de formação no campo do Planfor, foi assim também quando resolveu-se unificar num único projeto os programa de formação da RNF (visto como algo positivo pela Central), que se deu em função do contingenciamento de recursos do FAT a partir de 1999 e foi do mesmo jeito que a CUT pôs em prática a diversificação das fontes de financiamento da PNF, algo discutido há anos nas suas instâncias mas que só fora efetivado com as exigências de contenção de recursos impostas pelo PNQ.
É nesse contexto de atuação que, de alguns anos para cá, a PNF da Central tem atuado no que diz respeito à formação exclusivamente sindical no âmbito da formação de dirigentes, pois, como se viu, outra boa parte da política de formação recente se destina à parceria com o governo federal para alfabetização de adultos e qualificação profissional. Isso se dá em função do afastamento da CUT das lutas nas bases, concorrendo para a formação de novos quadros afastados da experiência real dos trabalhadores nos locais de trabalho.
Assim, embora abrigue no seu interior cada vez mais minoritárias correntes bem intencionadas politicamente, o que tem efetivamente ocorrido até então é o aprofundamento de um processo de transformação da CUT naquela modalidade de sindicalismo que ela nasceu combatendo.
303
REFERÊNCIAS:
1. BRASIL. PLANFOR – Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – avaliação gerencial 1995/98: balanço de um projeto para o desenvolvimento sustentado. Brasília: MTE/SEFOR, março, 1999.
2. CUT – Central Única dos Trabalhadores. Resoluções do 5º Congresso Nacional da CUT (CONCUT), 1994. Disponível em: <http://www.cut.org.br>. Acesso em 21 de agosto de 2007.
3. ______. Forma & Conteúdo Edição Especial. Todas as Letras, nº 12, outubro de 2005.
4. CORREA, João Guilherme de Souza. Formação de Trabalhadores e Movimento Sindical: desenvolvimento e consolidação da Política Nacional de Formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na última década (1998-2008). 131f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.
5. DIAS, Edmundo Fernandes. Política brasileira: embate de projetos hegemônicos. São Paulo : Sundermann, 2006.
6. FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo: Cortez, 1996.
7. GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Tradução de Luiz Mário Gazzaneo. 7ª ed., Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1989.
8. GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere, volume 1 (Introdução ao estudo da filosofia. A filosofia de Benedito Croce). Edição e tradução, Carlos Nelson Coutinho; co-edição, Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
9. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Textos sobre Educação e Ensino. São Paulo: Moraes, 1983.
10. ______. Cartas: Marx a Pavel V. Annenkov (em Paris). In: Obras
Escolhidas. Tomo 1. Lisboa, Avante, 1982.
304
11. MORA, Eliane Arenas. O caminho da subsunção da Política Nacional de Formação da CUT às diretrizes de sociabilidade neoliberais. 294 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, 2007.
12. SAUL, Ana Maria; MAZZEU, Francisco José Carvalho; SILVA, Janete Bernado; DOMINGUES, Marte Regina; CONCEIÇÃO, Martinho (orgs). A intervenção da CUT nas Políticas Públicas de Geração de Emprego, Renda e Educação de Trabalhadores: avaliação, resultados e ampliação de perspectivas. São Paulo: CUT/Unitrabalho, 2003
13. SOUZA, José dos Santos. Os descaminhos das políticas de formação/qualificação profissional: a ação dos sindicatos no Brasil recente. In: ANTUNES, Ricardo (org.). Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, p. 475-497, 2006a.
14. SOUZA, Nilda Rodrigues. Formação Profissional e ação sindical no Brasil. 2006. 195 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2006b.
15. TEIXEIRA, Rodrigo Dias. A conversão da CUT e a relação com o FAT (1990-2000). In: História e Luta de Classes, ano 4, nº 5, Trabalhadores e suas organizações. Rio de Janeiro, 2008.
16. TOLEDO, Caio Navarro de. A modernidade democrática da esquerda: adeus à revolução? Crítica Marxista, ano I, nº 1, São Paulo: Brasiliense, 1994,
17. TUMOLO, Paulo Sergio. Da contestação à conformação. A formação sindical da CUT e a reestruturação capitalista. Campinas: Unicamp, 2002.
305
TRABALHO, IDEOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL:
análise da visão industrial nas décadas de 1930 e 1940
Eraldo Leme Batista*
INTRODUÇÃO
Neste texto, analisaremos as ideias dos industriais brasileiros ligados ao IDORT1 (Instituto de Organização Racional do Trabalho), privilegiando como análise o debate e a defesa da educação profissional feita pelos industriais no período histórico de 1930-1940. No início do século XX, observamos o processo de constituição de base produtiva industrial no país, contribuindo para o surgimento de ideias relacionadas à organização do processo industrial nacional. É neste contexto que surgem propostas articuladas por um grupo de industriais liderados pelo engenheiro e industrial Roberto Simonsen para a organização de uma entidade que defendesse a organização e a racionalização do trabalho a partir das ideias tayloristas. Segundo Ibanhes (1992, p. 27):
[...] proposições a respeito da organização da produção vão surgindo, e discussões sobre aspectos desta organização mais e mais se desenvolvem no cenário brasileiro na razão direta do estabelecimento da industrialização em nosso país. Expressões como ‘taylorismo’, ‘administração científica’, ‘fordismo’, ‘organização’ ou ‘racionalização’ passam a freqüentar cada vez mais o debate acerca das relações sociais advindas do mundo do trabalho em geral, particularmente àquelas ligadas à indústria.
Lembramos que os industriais já haviam criado em 1928 o CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), com o objetivo de
* Doutorando em Educação pela UNICAMP, Professor de Sociologia do Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR) e membro do Grupo de Trabalho e Pesquisa HISTEDBR/FE/UNICAMP. E-mail: [email protected] 1 É importante destacar que, antes da criação do IDORT, já havia sido fundada uma organização que buscasse implementar as ideias tayloristas no Brasil. Isso ocorreu em 1930, sendo chamado de (ORT) Organização Racional do Trabalho, criado pela empresa Estrada de Ferro Sorocabana e que tinha por objetivo solucionar os diversos problemas técnicos, administrativos e também de formação e aperfeiçoamento de pessoal.
306
organizar e representar politicamente os industriais paulistas. Criam o IDORT em 1931, com o objetivo de sistematizar e divulgar as suas ideias, em período de acirrada disputa das frações de classe burguesa.
A partir da década de 1930, empresários (principalmente paulistas) tornam-se adeptos do taylorismo no Brasil, e é buscando implementá-lo nas empresas que se organizam e fundam o IDORT em 23 de Julho de 1931, em reunião realizada na sede da Associação Comercial de São Paulo. Cunha (2005) nos informa que esta entidade desempenhou um papel importante no ensino profissional paulista e também no país, no entanto, entendemos que o ensino profissional acessível e voltado para formação (oficial) da classe trabalhadora somente se concretizará de fato em 1937 a partir do movimento escola novista, com a elaboração da Constituição de 1937.
A burguesia industrial divulgava e defendia a criação de centros de educação profissional, como estratégia para capacitar os trabalhadores, aumentar a produção e qualificar para o trabalho heterogestionário, mas fundamentalmente como mecanismo para “educar”, “disciplinar” e “controlar” a força de trabalho, ou seja, os valores e a ideologia como agências educativas, além de hierarquizar e fragmentar o interior do espaço fabril, busca com isso conter a mobilização e quebrar a autonomia das organizações dos trabalhadores3.
O PAPEL DO IDORT NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS IDÉIAS DA
BURGUESIA INDUSTRIAL
Ao analisar a organização dos industriais nesse período histórico, Antonacci (1993) nos informa que os mesmos pretendiam transformar o espaço fabril e implantar novos métodos de trabalho que aumentassem a produção com dimensões do “fazer-se da burguesia industrial paulista, enfrentando as potencialidades dos trabalhadores”. As propostas de organização e racionalização do trabalho, difundidas pelo IDORT, segundo Antonacci (1993), foram “ampliando, diversificando e infiltrando por toda a vida social, cultural e política, através de múltiplos
3 Retomaremos essa discussão no decorrer do texto.
307
e variados mecanismos de poder, administrando, economicamente e politicamente a tudo e a todos” (ANTONACCI, 1993, p. 17).
Tenca (2006) também realiza estudos e análises referentes à organização dos industriais nesse período, compreendendo que “a ação idortiana caracteriza-se como uma prática político-pedagógica de longo alcance”. Segundo ainda Tenca (2006, p. 31):
O conceito de trabalho do IDORT deriva da grande indústria mecanizada, da indústria moderna, portanto entendida como fator trabalho. Com a grande indústria, o trabalho, despojado de sua materialidade, transformado definitivamente em mercadoria e apresentando-se como a-histórico, na forma abstrata, penetra no social nomeando, agora, todo fazer humano como trabalho. Se tudo é trabalho, é possível aplicar os seus princípios racionalizadores em cada uma das múltiplas formas de fazer (TENCA, 2006, p. 31).
A burguesia industrial divulgava suas teses via revista IDORT, fazendo discurso para o operariado de conciliação de classe, colaboração, disciplina, todos unidos em prol do progresso do país, propondo “[...] que os patrões e os operários se unam na defesa dos interesses mútuos”, pois se os trabalhadores fossem parceiros no projeto burguês, só teria e “[...] iria ganhar com o desenvolvimento industrial”, “teria sua parcela de riqueza” (PICHELLI, 1997, p. 18).
Entendemos que eram discursos que visavam amenizar os conflitos sociais ou mesmo conter as organizações de trabalhadores ligados às ideias marxistas e que, segundo os industriais, deveriam ser neutralizado, pois estavam questionando, atrapalhando o projeto industrial, protelando o desenvolvimento do país.
Antonacci (1993, p. 103) nos informa, por exemplo, sobre as defesas de Simonsen referente à harmonia social, solidariedade, como forma de se contrapor às teses de luta de classes.
A ciência promoveria uma sociedade solidária e harmônica, estava contida a reiteração da representação de uma sociedade organicamente composta, em clara oposição à sociedade contraditoriamente constituída em torno da luta de classes. Nesta direção, indicando sintomas sociais da nova organização e antevendo alianças e contrapontos à difusão do marxismo e da
308
luta de classes, Simonsen revelou o outro ponto de chegada da racionalização.
Esta pesquisadora nos mostra, ainda que as ideias e as ações dos industriais tivessem claramente o objetivo de enfraquecer ou mesmo eliminar as resistências operárias, a luta de classes e as ideias marxistas do meio operário. Simonsen entendia que “o desenvolvimento contínuo da cultura técnica e profissional, reclamada e recomendada pelos sindicatos operários, à admissão do controle operário na solução dos problemas econômicos, vão arrefecendo, naturalmente a luta de classes anunciada e preconizada por Karl Marx” (ANTONACCI, 1993, p. 103).
Assim como Antonacci (1993), Weinstein (2000) observa que o industrial Roberto Simonsen tinha bem claro seus objetivos com relação à organização do IDORT e suas defesas pela organização e racionalização do trabalho, demonstrando sua aversão aos trabalhadores e sindicatos que tinham orientação marxista. Este industrial defendia:
[...] uma era de harmonia social decorrente da reorganização científica da sociedade. Depois de inspirar uma política de trabalho avançada, a racionalização iria evoluir para um ‘sistema político’ baseado na ‘razão e no conhecimento técnico’. Em seguida Simonsen dissertou sobre ‘um verdadeiro equilíbrio entre os elementos que constituem as forças vivas da produção. A racionalização tem profundos efeitos sociais e contraria de forma patente as idéias fundamentais do marxismo. [...] a aceitação do controle operário na solução de problemas econômicos, tudo isso contribui para neutralizar a luta de classes prevista por Karl Marx (WEINSTEIN, 2000, p. 88).
Ou seja, os principais defensores da organização científica do trabalho deixavam evidentes suas propostas de organização não somente para a indústria, mas sim para a sociedade como um todo e que suas idéias eram fundamentais para neutralizar a luta de classes.
Concordamos com a análise dos pesquisadores citados, pois entendemos que o discurso ideológico e a prática industrial dos principais membros do IDORT4 tinham por objetivo convencer os trabalhadores de
4 Entendo que a criação do IDORT foi resultado da organização dos empresários desde a década de 1920, liderados por Roberto Simonsen, entusiasta e defensor da organização científica do trabalho. Em 1928, por exemplo, este empresário liderou a organização e a criação do Centro das Indústrias do Estado
309
que seria possível construir uma sociedade “harmônica”, sem “conflitos”, de “colaboração”, mas que, na verdade, tinha como objetivo desqualificar o discurso formulado pelas lideranças operárias, que pretendia, “rearticulando o espaço fabril, educar o operariado segundo os princípios da ética do trabalho e desse modo, consolidar o projeto hegemônico da burguesia industrial” (PICHELLI, 1997, p. 77).
Ao analisar essa questão, Antonacci (1993, p. 46) observa que um dos objetivos era “quebrar a autonomia e o poder desses grupos operários, que, nas formas de trabalho e de organização, expressavam uma elaboração cultural de vida através de concepções e disposições de tempos e espaços, de costumes e comportamentos, enfim, todo um modo de viver e se relacionar disseminado pela sociedade”. Essa autora observa ainda que era também objetivo dos industriais ligados ao IDORT:
[...] reestruturar o espaço fabril para conter a organização da classe trabalhadora [...]. Os ideólogos dessa organização empresarial queriam exercer um maior controle sobre os operários, submetendo-os a técnicos especializados, e também eliminar muitas funções pela simplificação do processo de trabalho (ANTONACCI, 1985, p. 96-97).
Os ideólogos do IDORT entendiam que esse Instituto tinha um papel importante a cumprir, pois deveria incluir em seus objetivos “[...] a pesquisa e o intercâmbio de idéias, a aplicação de métodos científicos e a transformação dos inimigos de classe em colaboração para ‘prosperidade geral’” (WEISTEIN, 2000, p. 89).
Em reunião com os empresários em 1918, Simonsen5 proferiu um discurso entusiasmado sobre a racionalização do trabalho:
de São Paulo (CIESP). “Este passou a ser o centro ideológico e organizador dos industriais paulistas” (GIANOTTI, 2007, p. 90).
5 Lembramos que, assim como Simonsen, Roberto Mange foi grande entusiasta, defensor e divulgador da Organização Racional do Trabalho, sendo que um “(...) engenheiro que se tornou industrial e outro engenheiro, que se tornou educador, representam, de formas diversas, mas inter-relacionadas, as aspirações daqueles que defendiam a racionalização como solução para uma série de problemas econômicos e sociais (WEINSTEIN, 2000, p. 34).
310
A prosperidade do Brasil no pós-guerra, com ênfase em novos métodos de produção, mais científicos e eficientes, que acarretariam a elevação tanto dos lucros quanto do padrão de vida, por meio da redução dos custos. [...] a redução dos custos de produção não se faria à custa de seus salários, mas antes por meio de uma ‘máxima eficiência do trabalho’, que seria obtida com uma ‘perfeita organização na qual, por disposições inteligentemente adotadas, as perdas de tempo e os esforços não-produtivos sejam reduzidos ao mínimo’. [...] os verdadeiros princípios de cooperação cordial entre patrões e operários iriam predominar, em função dessa ‘perfeita organização’ (CUNHA, 2005, p. 31).
Percebemos, no discurso desde entusiasta do taylorismo, a concepção de colaboração de classe, de cooperação cordial, como mecanismo para se conseguir viabilizar a sua proposta e possibilitar elevação dos lucros. Verificaremos, no decorrer de nosso trabalho, que estas ideias são mais enfáticas na década de 1930, com a fundação do IDORT, e também a partir de governo com viés industrialista e tendo como seu chefe de Estado um presidente formado nas ideias positivistas.
Neste período histórico, a instituição analisada por nós foi fundamental na disputa dos industriais com o setor agrário-exportador, no aparelho do Estado e também no convencimento e cooptação dos trabalhadores.
Neste sentido, concordo com Tenca (2006):
O IDORT, criado em 1931, embora já praticamente organizado em 1929, surge, com a bandeira da racionalização do trabalho, como a grande agência responsável, direta e indiretamente, pela multiplicação de inúmeras outras voltadas para a busca da realização da acumulação do capital, pela intensificação da exploração do trabalho, numa ampla cruzada pela ocupação e controle do tempo do trabalhador (TENCA, 2006, p. 39).
Simonsen, Roberto Mange e outros industriais entendiam que o Estado tinha um papel fundamental na divulgação da ideologia de “cooperação de classe”, propondo uma sociedade “harmoniosa” entre capital e trabalho. Estes industriais defensores da organização racional do trabalho definiam ainda o Estado como “um mecanismo potencialmente útil para disciplinar os membros da própria classe” (WEINSTEIN, 2000, p. 71).
311
Ou seja, não bastava disciplinar apenas os trabalhadores no espaço fabril, mas era urgente que o Estado colaborasse para a disciplina de setores industriais que ainda tinham certa resistência às ideias de organização racional do trabalho. Era necessário reprimir os movimentos sociais como forma de garantir a implementação do projeto industrial, ao mesmo tempo, destruir as organizações que questionavam as propostas tayloristas, a exploração do trabalho no espaço fabril.
ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E DISPUTA PELA HEGEMONIA NO PERÍODO
VARGUISTA
Em 1930, sobe ao poder Getúlio Vargas, ocorrendo um processo de transição que nada tinha de “revolucionário”, pois foi um rearranjo do bloco de poder, porém sem mudar as estruturas de poder, a velha estrutura latifundiária do país. Conforme entende Antunes (1980), este processo deu-se “pelo alto”, não tendo participação da classe trabalhadora, que foi excluída de qualquer participação, uma vez que ficou nítida a conciliação estabelecida entre as frações dominantes.
Este processo foi importante para o início do capitalismo industrial no país, porém sem ruptura, sem conflitos, mas a partir de “conciliação entre o velho e o novo, entre vários segmentos representantes dos interesses agrários e mesmo dos setores urbanos emergentes” (ANTUNES, 1980, p. 67). Foi um processo em que ocorreu conciliação de classe, mas torna-se importante ressaltar que o mesmo não se deu de forma tranquila, pois ocorreram fissuras no interior da classe dominante, nas disputas “pelo maior controle do aparelho do Estado buscando uma participação mais decisiva na nova configuração do poder” (ANTUNES, 1980, p. 69).
Antunes (1980) observa ainda que, após a “ascensão” de Vargas ao poder, o Estado passa a implementar política sindical com o objetivo principal de “controlar” e “desmobilizar” os operários. Conforme Antunes:
O Estado iniciou a formulação de uma política sindical, cujo aspecto essencial era o seu caráter controlador e desmobilizador, condição esta necessária não só para que o movimento operário não ultrapassasse os limites impostos pela nova ordem política, mas também para que se assegurassem as condições mínimas
312
garantidoras da instauração de uma nova ordem econômica dirigida para a industrialização (ANTUNES, 1980, p. 74).
Os empresários defensores das ideias de organização e racionalização do trabalho verão suas percepções sobre “paz social”, “cooperação de classe”, sociedade “harmoniosa” defendidas por Vargas, como nos informa Vianna (1976): “a ‘paz social’ era procurada através de concessões e benefícios concretos, a que não era insensível a massa dos assalariados. A possibilidade do controle operário incluirá necessariamente uma legislação minimamente protetora do trabalho” (VIANNA, 1976, p. 150).
Estes mesmos industriais ficarão mais entusiasmados, ao ouvirem o pronunciamento feito por Vargas, nos primeiros anos de seu governo, afirmando que:
O individualismo excessivo, que caracterizou o século passado, precisava encontrar limite e corretivo na preocupação predominante do interesse social. Não há nessa atitude nenhum indício de hostilidade ao capital, que, ao contrário, precisa ser atraído, amparado e garantido pelo poder público. Mas o melhor meio de garanti-lo está, justamente, em transformar o proletariado numa força orgânica de cooperação com o Estado e não o deixar, pelo abandono da lei, entregue à ação dissolvente de elementos perturbadores, destituídos dos sentimentos de Pátria e de Família (VARGAS, 1938, p. 97/98).
Além de relacionar a importância da cooperação do proletariado com o Estado, Vargas faz crítica às lideranças estrangeiras como sendo perturbadores da ordem e que não tinham sentimentos de amor à pátria.
Mesmo que a burguesia industrial buscasse cooptar segmentos da classe trabalhadora, fazendo um discurso nacionalista de crescimento do país via industrialização e de condições para todos a partir de unidade nacional, não podemos afirmar que essa burguesia era de fato nacional, neste sentido, eu concordo com Buonicore (2009), que, ao analisar esse período histórico, observa:
O processo de crescimento da burguesia industrial e o surgimento da consciência de seus interesses não nos devem levar à falsa conclusão de que ela teria se transformado naquilo que no interior do marxismo-leninismo se chamou ‘burguesia nacional’. O seu projeto não se contrapunha ao latifúndio e nem ao
313
imperialismo. As próprias condições históricas em que ela se formou, marcadas pelo crescimento da luta pelo socialismo, empurraram-na para uma política de compromisso com o latifúndio e de submissão ao imperialismo. Não houve no Brasil qualquer possibilidade de se forjar uma unidade entre burguesia industrial e o proletariado em torno de um projeto de desenvolvimento econômico capitalista autônomo. As tentativas feitas através do Estado na chamada era Vargas (1930-1964) foram duramente rejeitadas por ela (BUONICORE, 2009, p. 130-131).
Com relação à proposta de um novo sindicalismo, defendido por Vargas, Gianotti (2007, p. 131) nos informa que essa proposta significava que os trabalhadores “deveriam defender a conciliação de classes e zelar pela harmonia de interesses entre capital e trabalho. As idéias-chave passarão a ser ‘colaboração de classe’ e ‘paz social’. Não haveria mais lutas. O Estado seria o pai de todos”.
Ao analisar a relação do Governo Vargas e os industriais, Tenca (2006) observa que os industriais:
[...] vão ganhando espaço no interior do Estado e isso contribui para que ocorra um processo de crescimento do aparato burocrático, orientado segundo os princípios da racionalização do trabalho, reforçando o caráter ‘científico’ da ‘nova’ administração que, segundo os seus mais fiéis defensores, transformava a atividade estatal em ação conduzida por imperativos técnicos e não por interesses públicos (TENCA, 2006, p. 41).
Os diversos pesquisadores citados entendem que o discurso ideológico tinha como objetivo construir uma sociedade harmônica, sem conflitos e com colaboração de classe.
Com relação ao fortalecimento dos industriais, tendo o Estado como aliado em suas ações, concordo com Antunes (1980), que aponta o fortalecimento da burguesia industrial a partir de um forte aliado, que é o Estado varguista, que formula e implementa uma “política sindical coibidora, controladora e que visou a sujeitar politicamente a classe operária à dominação do capital, através da dissolução de suas organizações independentes e, em função da resposta operária, do desenvolvimento da repressão policial, que em determinados momentos, como em 1935, foi incontrolável” (ANTUNES, 1980, p. 73).
314
Observamos que, se a cooptação não funcionasse, não tivesse efeito, utilizava-se da força e da violência5 para reprimir greves e protestos dos trabalhadores.
Segundo Weinstein (2000, p. 75), a questão da “ordem social” não era:
[...] um aspecto de pouca importância para os industriais adeptos da racionalização, uma vez que eles consideravam a paz social tanto um pré-requisito quanto uma conseqüência da implantação de seu projeto. A necessidade de harmonia entre as classes tornava inevitáveis determinadas concessões, mesmo as de natureza ‘não cientifica’.
Nas primeiras décadas do século XX, a burguesia estava alarmada com a capacidade de organização, mobilização e enfrentamento da classe trabalhadora, neste sentido é que buscam diversas alternativas para barrar este movimento, via leis de expulsão do país, repressão, cooptação e também educação profissional, com o objetivo de adestrar, orientar e disciplinar os trabalhadores.
O discurso empresarial de cooperação de classe, além de ser questão ideológica de colaboração, envolvimento, na prática, mostrava-se contraditório, pois, não obstante a exploração imposta à classe trabalhadora, o controle6 no espaço de trabalho era cada vez mais rígido e os empresários passaram a criar métodos de controlar a vida dos operários fora das fábricas. Para viabilizar este controle extra fabril, criaram as “vilas-cidadelas”, que eram um “conjunto de moradias e agrupamentos coletivos edificados pelas próprias fábricas para seus operários” (ROLNIK, 1994, p. 100). Ao analisar a situação dos trabalhadores no início do século XX no Brasil, esta autora nos informa ainda que a cidadela:
5 Com relação ao uso da força pública (polícia), dentre os defensores da organização científica do trabalho, nenhum empresário “(...) descartava o uso da força, na teoria ou na prática, como forma de reprimir a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo em que preconizava a paz social, Simonsen e outros reconheciam que tal ‘paz’ seria conseguida, em alguns casos, pela intervenção da polícia” (WEINSTEIN, 2000, p. 41). 6 Ficava cada dia mais explícito entre intelectuais, industriais e defensores da racionalização do trabalho que a “única maneira de aumentar o controle sobre o processo de trabalho era a simplificação das tarefas e a ‘des-qualificação’ da força de trabalho, que iria permitir a rápida substituição dos trabalhadores não-especializados e combativos, que recebiam altos salários, por trabalhadores não especializados” (WEINSTEIN, 2000, p. 36).
315
[...] é um bairro completo: casas, escola, creche, armazém, praça, campo de futebol, igreja, gerido pelo proprietário da indústria para seus operários. Nela, o tempo fora da fábrica também está sujeito às normas que imperam durante a jornada de trabalho. Quem mora na vila-cidadela deve ter um comportamento
‘em casa’ e ‘na rua’ tão disciplinado e organizado quanto o
comportamento ‘na fábrica’. Isto é garantido por uma série
de controles presentes nas cidadelas: obrigatoriedade de freqüentar a igreja, toque de recolher à noite, bailes
vigiados. Além destes, evidentes, a própria identificação
patrão senhorio já significa maior controle sobre o
trabalhador: a cessão da casa era apresentada como um privilégio para o operário, alcançado por este graças a um comportamento exemplar na produção, ou seja, regularidade, produtividade, dedicação e, sobretudo, submissão. Muitas vezes tinham o direito de morar na vila da fábrica as famílias que possuíssem mais do que três membros trabalhando naquela indústria, o que estimulava a própria família a manter a autovigilância, já que comportamentos irregulares de qualquer um dos seus membros morador-trabalhadores implicavam a perda da casa. Todas estas formas de controle nada mais fazem do que estabelecer uma vida coletiva heterônoma: o bairro popular dominado pela fábrica (ROLNIK, 1994, p. 100-101, grifos meus).
Ou seja, buscavam-se diversas formas para controlar o trabalhador, sendo que, além das vilas-cidadela, muitos industriais criaram também a “vila higiênica”, que, segundo Rolnik (1994), diferenciava-se também do cortiço:
A vila, padrão popular proposto na legislação, se diferencia do cortiço por conter, no interior de cada unidade, as áreas de cozinhar, lavar, banhar e defecar. As unidades, ainda geminadas e dando para pátio ou corredor comum, possui [sic] mais de um cômodo. A vila tem, portanto, mais separações do que o cortiço. Além disto, as atividades que mais são coletivas e misturadas no cortiço passam a ocorrer nos fundos de cada casa, longe da vista dos vizinhos (ROLNIK, 1994, p. 100).
Esta autora observa que as intenções dos industriais em controlar os trabalhadores além fábricas não era questão fácil, pois os becos, pátios dos bairros populares, contribuíam para que as pessoas conversassem dos problemas cotidianos e, neste período, os anarquistas tinham forte
316
atuação nos bairros, o que facilitava as mobilizações que rapidamente ganhavam as ruas.
Nascidos nos becos e pátios dos bairros populares se convertiam em assembléias públicas, nos salões, esquinas, praças. Sair às ruas, paralisando e modificando a ordem reinante na cidade, era a estratégia de disseminação e articulação dos setores oprimidos e explorados proposta pelos anarquistas (ROLNIK, 1994, p. 104).
Campos (1988) é outra autora que analisa muito bem o controle que procurava impor aos trabalhadores para além muros das fábricas. Segundo esta autora,
a questão do controle e disciplinarização ultrapassam o lócus fabril, invadindo a vida cotidiana, o espaço de vida privado das pessoas. Esta invasão total em todas as instâncias da vida humana visava, para além das simples adequações, estabelecer novos métodos de organização da produção, da racionalização do processo de trabalho. Tinha uma proposta que objetivava a construção de uma ética baseada na disciplina, uma estratégia de controle e de mecanismos que permitissem a transformação de idéias de uma classe em idéias dominantes da sociedade, fazendo com que certos valores e normas aparecessem dotados de universalidade. Para que este processo de introjeção se realizasse eficazmente havia que se fazer o enquadramento do indivíduo. Enquadrava-se também o tempo e o espaço do cotidiano familiar, as condutas, afetos e emoções. Mediante estas táticas, a vida privada dos indivíduos foi atrelada aos destinos de uma determinada classe social, a burguesia. O corpo, o sexo, os sentimentos conjugais, parentais e filiais passaram a ser utilizados como instrumentos de diferenciação e dominação (CAMPOS, 1988, p. 18).
Concordamos com esta autora, no entanto, torna-se importante afirmar, assim como bem explicita Rolnik (1994), que havia resistência de movimentos organizados, ora pelos anarquistas, ora pelos socialistas ou comunistas que, a partir de organizações populares, buscavam a rua como forma de protestar ou pelas condições de moradias, ou para condenar as ações truculentas do poder público.
317
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO ESTRATÉGIA DE DOUTRINAR, DISCIPLINAR E PREPARAR PARA O TRABALHO FABRIL
Mesmo que pretendamos focar análise nos anos de 1930 e 1940, entendemos que o debate em torno da educação profissional já estava colocado no país no início do século XX e que, no decorrer dos anos, irá se acentuar, principalmente com a organização dos industriais no CIESP e com a criação do IDORT em 19317. A Lei n°1.184 de 3 de dezembro de 1909 já apontava para a preocupação de educação dos jovens filhos dos operários.
Esta lei determinou a criação de escolas noturnas, na capital e no interior, especificando que elas deveriam localizar-se nas proximidades das fábricas e atenderem, exclusivamente, aos meninos operários ou filhos de operários. A prioridade de instalação dessas escolas seria daquelas que tivessem acomodações oferecidas pelas empresas, e o professor seria sempre provido pelo governo estadual. A articulação com as fábricas deveria se dar, também, na definição do horário escolar (CUNHA, 2005, p. 141).
A partir dos apontamentos deste autor, verificamos também a articulação do setor privado com o Estado, que buscava garantir que estas escolas tivessem como principal objetivo atender aos interesses da elite industrial. Em 1909, o governo de Estado de São Paulo estabelece contratos com o setor privado e instala escolas profissionalizantes com o objetivo de formar força de trabalho qualificada para o trabalho fabril.
Em sua pesquisa, Cunha (2005) nos informa que o texto da lei n° 1,192 de 22 de dezembro de 1909 expressava a persistência da concepção do ensino profissional como algo destinado aos desvalidos, em consonância, aliás, com a exposição de motivos do decreto do presidente de República desse mesmo ano:
Fica o Governo autorizado a contratar com estabelecimentos industriais, agrícolas ou beneficentes de reconhecida idoneidade, a educação profissional de menores pobres, não criminosos de
7 Os industriais paulistas já estavam articulados em torno de projeto industrial para o país, desde o início do século XX, sendo que este processo se acentua com a cisão da Associação Comercial de São Paulo, ocorrida em maio de 1928. Desta cisão, surge o CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), que tinha como objetivo defender os interesses industriais.
318
ambos os sexos, que tenham mais de 11 anos de idade e que, por falta de proteção paterna ou tutelar, estiverem abandonados (CUNHA, 2005, p. 142).
O debate em torno da educação profissional8, com o decorrer do tempo, vai ganhando maior importância em diversos setores da sociedade: acadêmico, empresarial e governamental.
Entendemos que foi na década de 1930 que se aprofundou o debate em torno da educação profissional no Brasil, no entanto, foi na década seguinte que os industriais conseguiram, com apoio do Estado, criar uma importante escola de formação dos trabalhadores. No período do Estado Novo (1937-1945), os industriais conseguiram regulamentar as propostas de ensino profissional o Brasil a partir da reforma Capanema (1942), conhecida também como Leis Orgânicas do Ensino9. Esta reforma estruturou o ensino profissional, reformulou o ensino comercial e criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.
A partir dos estudos realizados, compreendemos que os industriais tinham como estratégia formar os trabalhadores brasileiros, como mecanismo de diminuir ou mesmo retirar do setor fabril os trabalhadores estrangeiros10, pois os mesmos em sua maioria tinham ideologias “estranhas”, eram “contestadores” e podiam criar “problemas” para o projeto nacionalista de industrialização do país.
Diferente de anos anteriores, em que se defendia a vinda de trabalhadores estrangeiros para o Brasil, por serem os mesmo
8 A principal referência do IDORT, com relação à educação profissional, foi Roberto Mange, “ o introdutor dos métodos tayloristas nas instituições de formação profissional e na organização do trabalho no Brasil (...) nasceu em 1885, na cidade suíça de La Tour-de-Peilz. Filho de um Diplomata, fez seus estudos na Alemanha (...) Contratado em 1903, com a idade de 28 anos, para lecionar desenho de máquinas na Escola Politécnica de São Paulo, influenciou profundamente várias gerações de engenheiros que, após passarem por suas mãos, ocuparam altas cargos na burocracia estatal e nas empresas públicas (BRYAN, 2009, p. 25). 9 Estes foram os decretos-lei criados por Capanema em 1942/43: Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942, que organizou o ensino industrial; Decreto-lei n. 4.048, de 22 de janeiro de 1942, que instituiu o SENAI; Decreto-lei n.4.244 de 9 de abril de 1942, que organizou o ensino secundário em dois ciclos: o ginasial, com quatro anos, e o colegial, com três anos; Decreto-lei n.6.141, de 28 de dezembro de 1943, que reformou o ensino comercial. 10 Com a chegada dos trabalhadores imigrantes da Europa, concepções pedagógicas como as de Francisco Ferrer ganharam rápido desenvolvimento nos centros urbanos brasileiros. Trabalhadores organizados sob a bandeira do anarquismo criaram várias “Escolas Livres” que se contrapunham à chamada pedagogia tradicional (PICHELLI, 1997, p. 76).
319
qualificados, neste novo momento histórico do país (década de 1930-1940), ganha força no setor industrial a ideia de que se fazia urgente e necessário a substituição da força de trabalho estrangeira11, por trabalhadores nacionais, pois não tinham “vícios” e “idéias complicadas”, “estranhas”:
O Brasil não necessita de braços, pois não aproveitou nem curou, ainda, de aproveitar os trabalhadores nacionais [...] Para suas necessidades atuais, o Brasil dispõe de braços suficientes, perfeitamente aptos, suscetíveis das mais árduas e dedicadas tarefas, quer na agricultura, quer na indústria, quer como inteligência, quer como resistência [...] Apesar de ser inteligente, dedicado, fiel, resistente, à fadiga, como poucos, adaptando-se facilmente aos mais difíceis misteres e às mais complexas manipulações industriais [...] Desamparado, vergando ao peso do anátema de ‘vadio’ e ‘preguiçoso’ de incapaz e malandro (PICHELLI, 1997, p. 6).
Os efeitos destas ideias são constatados já nos anos 30 em decorrência da diminuição da imigração para o Brasil e do crescente processo de migração para as principais cidades como, por exemplo, São Paulo, como bem nos informa Pichelli (1997): “entre o período de 1931 e 1946, chegaram a São Paulo 651.762 migrantes internos contra 183.445 estrangeiros. Já no período anterior, entre 1881 e 1930, os estrangeiros somavam 2.250.570, contra apenas 289.179 nacionais” (PICHELLI, 1997, p. 6).
Constatando a necessidade de os trabalhadores nacionais compor definitivamente a força de trabalho no país, como estratégia também de substituir a estrangeira pelos trabalhadores brasileiros, tornava-se indispensável educar, instruir e preparar o mesmo para o mercado de trabalho. Lembramos que esta preocupação se torna mais evidente com o crescimento dos projetos de industrialização do país, principalmente após Getúlio Vargas12 assumir o poder no Brasil.
11 Buscando limitar a vinda de trabalhadores para o Brasil, baixou-se decreto n° 4.247 de janeiro de 1921, no qual se estabeleciam normas para os casos de expulsão. Este decreto teve complementação com outro de n° 4.743 de outubro de 1923 (NAGLE, 1974). 12 A política sindical do governo Vargas, ao mesmo tempo em que inibia as mobilizações de classe, restringia também a atuação dos trabalhadores nas entidades sindicais, “que constituíam a parcela politicamente mais avançada dentre os operários, além da proibição explícita ao sindicato de exercer qualquer atividade política e ideológica” (ANTUNES, 1980, p. 77).
320
Neste sentido é que seria fundamental e urgente um projeto educacional que possibilitasse a formação de um novo homem, porém que fossem “operários dóceis, saudáveis e produtivos, além de uma nova elite, capaz de comandar a sociedade dentro dos novos princípios da ordem burguesa” (PICHELLI, 1997, p. 6).
Em seus estudos, Romanelli (2006) observa que outros fatores também contribuíram para a restrição da importação de trabalhadores estrangeiros. Segundo esta mesma autora:
[...] É conveniente lembrar que a época exigia uma redefinição da política de importação de pessoal técnico qualificado, como vinha acontecendo até então. A guerra estava funcionando como mecanismo de contenção da exportação de mão-de-obra dos países europeus para o Brasil. Até essa altura, não existira uma política adequada de formação de recursos humanos para a indústria, porque esta se vinha provendo de mão-de-obra especializada, mediante importação de técnicos. O período de guerra estava dificultando essa importação, do mesmo modo que dificultava a importação de produtos industrializados. Isso suscitava um duplo problema para o Estado: de um lado, ter de satisfazer as necessidades de consumo da população com produtos de fabricação nacional [...] o que significava ter de expandir o setor industrial brasileiro e, com isso, absorver mais mão-de-obra qualificada – e, de outro lado, já não poder contar com a importação desta, pelo menos no mesmo ritmo em que ela se processava (ROMANELLI, 2006, p. 155).
Daí a informação dada pela mesma autora, de que é a partir deste processo que surge a iniciativa dos industriais brasileiros de treinar trabalhadores nacionais, emergindo a partir desta preocupação a necessidade urgente de se criar uma escola de formação de trabalhadores; inicia-se neste período o surgimento do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
O SENAI foi criado a partir do Decreto Lei 4.048, de 22 de Janeiro de 1942. Romanelli (2006) nos informa que o mesmo foi criado com o objetivo de organizar e administrar escolas de aprendizagem industrial em todos o país, podendo também manter, além dos cursos de aprendizagem - que eram mais rápidos, segundo a Lei Orgânica do Ensino Industrial, e tinham por objetivo a preparação dos aprendizes menores dos estabelecimentos industriais -, “cursos de formação e
321
continuação para os trabalhadores não sujeitos à aprendizagem” (ROMANELLI, 2006, p. 166).
Somando o descontentamento com os trabalhadores estrangeiros aos problemas em decorrência da guerra, cresce no interior dos industrialistas a necessidade de se criar esta escola. Neste sentido é que o Governo Federal cria o sistema de ensino paralelo ao oficial, que foi organizado em convênio com as indústrias via CNI (Confederação Nacional das Indústrias). (ROMANELLI, 2006, p. 155).
O trabalho qualificado era compreendido neste período como meio de se manter a ordem13, evitar a desordem, mas também como “instrumento inteligente de produção industrial” e, para garantir e implementar esta ideologia, dispunha-se de instituições educacionais como Liceus de Artes e Ofícios14 e asilos desvalidos (CUNHA, 2005).
Formação/educação profissional para os trabalhadores era um dos principais objetivos do IDORT, tanto que Lourenço Filho e Roberto Mange eram responsáveis, no interior desta organização empresarial, pela questão educacional. Tenca (2006, p. 40), ao analisar a educação no interior do IDORT, entende que:
na educação, o Instituto de Organização Racional do Trabalho exerceu um papel dos mais importantes na vasta empresa voltada para o controle do tempo do trabalhador, em âmbito regional e nacional. Das inúmeras atividades desenvolvidas nessa área, penso ser importante citar, considerando o tema deste trabalho, a Escola Livre de Sociologia e Política e os cursos voltados diretamente para a formação de trabalhadores.
13 As diferenças de classe no início da República era claro, pois somente à classe que tinha posses é que era reservado o direito do não-trabalho, sendo que os pobres que não trabalhavam eram tidos como vadios e passíveis de punições pela justiça (...) a vagabundagem não constituía um crime, mas uma contravenção, isto é, a não observância de preceitos legais ou de regulamentos, mas entendia-se que a vadiagem era propiciadora de crimes (CUNHA, 2005). 14 As estradas de ferro “tiveram grande importância na introdução no Brasil, em São Paulo, particularmente, do ensino de ofícios associando oficina e escola. Desde o início do século, as empresas ferroviárias mantinham escolas para a formação de operários destinados à manutenção de equipamentos, veículos e instalações. A primeira delas, a Escola Prática de Aprendizes das Oficinas, foi fundada em 1906, no Rio de Janeiro, mantida pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Mas foi a grande densidade de estradas de ferro no Estado de São Paulo, ligando as frentes de expansão cafeeira ao porto de Santos, que criou condições para que, na década de 1920, se unificassem as atividades de ensino de ofícios das empresas ferroviárias” (CUNHA, 2005, p. 115-116).
322
Importante lembrar que o principal entusiasta e articulador para que se concretizasse a criação da Escola Livre de Sociologia e Política era Roberto Simonsen, Presidente da FIESP e fundador do IDORT.
Na inauguração desta escola em 1933, Simonsen deixava claros os objetivos definidos para a escola:
[...] Essa escola tem que possuir um tal programa que possa, além de seu curso normal, esboçar um plano de pesquisas sociais e coordenar a documentação já existente, dirigindo a formação de estatísticas adequadas, promovendo publicações periódicas de monografias e inquéritos, pesquisando os casos especiais pela aplicação dos métodos de observação e inquirição diretos, incentivando a formação de operadores capazes de tais cometimentos e enfim coordenando tudo quanto possa interessar ao perfeito conhecimento do meio em que vivemos e dos elementos necessários à solução dos problemas de governo (SIMONSEN, 1932, p.13).
Simonsen (1933, p. 7) apresenta ainda sua visão sobre o papel da escola de sociologia e política, como estratégico para a formação da elite nacional.
A formação das elites deve pois constituir uma das preocupações primaciais das sociedades modernas. Qualquer instituição social, qualquer escola doutrinária que inspire ser adotada, qualquer associação industrial ou comercial, para colimar seus objetivos, todas necessitam e exigem, cada vez mais, elementos da elite em sua direção. Possuindo escolas superiores de incontestável valor. São Paulo precisa agora formar as suas elites, educadas nas ciências sociais e no conhecimento das verdadeiras condições em que evolui a nossa sociedade, como meio de mais fielmente aparelhar a convenientemente escolha de seus homens de governo (SIMONSEN, 1933, p. 7).
Weinstein (2000) também analisa este movimento e o processo de fundação da Escola Livre de Sociologia e Política, em que, em sua fundação, é divulgado um manifesto sobre os objetivos desta escola. Conforme Weinstein (2000, p. 94), o manifesto propunha a formação de uma:
[...] elite numerosa e organizada, instruída sob métodos científicos [...] capaz de compreender o meio social. Inspirados na sociologia positivista, os fundadores da escola consideravam a pesquisa
323
‘apolítica’ e científica feita por especialistas o instrumento adequado para resolver conflitos sociais e também uma forma de eliminar temas controversos como salários, condições de trabalho, e padrão de vida da arena política e da luta de classes. Esses objetivos estavam em plena sintonia com o ponto de vista dos que defendiam a racionalização (WEINSTEIN, 2000, p. 94).
Ao também analisar a educação profissional no Brasil, Tenca (2006, p. 41) nos informa que, na reorganização do ensino profissional no Brasil, o IDORT teve participação ativa das discussões, contribuindo com ideias também:
[...] na estruturação do Departamento de Administração do Serviço Público (DASP); na criação do SESI e do SESC; na Reorganização Administrativa do Governo do Estado (RAGE), em São Paulo; em iniciativas vinculadas direta ou indiretamente à FIESP, como na criação da Escola Livre de Sociologia e Política, em 1933, antecipando-se mesmo à constituição da Universidade de São Paulo, criada em 1934, no governo de Armando Salles de Oliveira, que foi um dos fundadores e o primeiro presidente do IDORT em 1931. Esses fatos indicam a interferência direta dos representantes da indústria paulista na implementação de políticas sociais, de um lado, e, de outro, o investimento na reestruturação da burocracia, tanto no setor privado como em instituições governamentais.
Ao mesmo tempo em que os industriais fundam a Escola Livre de Sociologia e Política para formação profissional dos trabalhadores, a fim de atuarem na indústria que estava sofrendo alterações significativas, os mesmos criam a Universidade de São Paulo, com o objetivo claro de formação da elite industrial e empresarial paulista.
A Constituição de 1937, por exemplo, em seu artigo n° 129, determinou um papel inédito para Estado, empresas e sindicatos no tocante à educação profissional das “classes menos favorecidas”. Conforme este artigo:
O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos estados, dos municípios ou associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos
324
criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público (CUNHA, 2055, p. 28).
Ao analisarmos estes decretos, Romanelli (2006) nos informa que o ensino industrial, a criação das escolas de aprendizagem foi de “[...] um aspecto de indiscutível valor da história do ensino profissional, pois revela uma preocupação do governo de engajar as indústrias da qualificação de seu pessoal, além de obrigá-las a colaborar com a sociedade na educação de seus membros”. Esta autora observa, ainda, que os trabalhadores técnicos eram importados, pois não existia no Brasil força de trabalho qualificada para realizar trabalho no setor industrial (ROMANELLI, 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto, procuramos demonstrar, por um lado, que a principal organização dos industriais no período analisado, com relação à educação profissional, era mesmo “doutrinar” uma classe que se tornasse submissa, “dócil” e não contestasse as mudanças que estavam ocorrendo no espaço fabril; por outro lado, viam, na educação profissional controlada, gerida pelos industriais, com apoio do Estado, uma forma de preparar os trabalhadores, tornando-os modelos, “operários padrões”, isentos de ideologias “complicadas”, “estranhas”, conforme era amplamente divulgado pela revista IDORT. Fizemos apontamentos no texto das diversas estratégias de controle, cooptação e mesmo de repressão por parte do Estado Varguista, buscando garantir a “ordem” e “harmonia social”.
A partir do exposto, entendemos que a luta de classes, o confronto dos operários com a classe dominante, dava-se de diversas formas, organizados por inúmeros movimentos e também pelas lideranças do Partido Comunista. Observamos que o Estado foi decisivo para a cooptação da classe trabalhadora, fragmentação dos mesmos e enfraquecimento dos sindicatos combativos via leis sindicais; principalmente no período do Estado Novo, podemos observar forte repressão, prisão, perseguição e extradição de muitos trabalhadores ligados às organizações de luta social e que não aceitavam as regras
325
Ao analisarmos os documentos do IDORT, fica evidente que a preocupação fundamental com a educação profissional para a formação de trabalhadores “brasileiros” para a indústria estava também ligada com a política de substituição dos estrangeiros por brasileiros, pois esses não tinham idéias “estranhas” (anarquismo, socialismo, comunismo). Neste período, estava em curso a política de “banir” do chão da fábrica e do país (prisão, extradição, deportação) as lideranças políticas e sindicais de origem européia. Entendemos que estava claro o projeto industrial burguês, que buscava a construção hegemônica de seu pensamento e projeto nacional, buscando enfraquecer os trabalhadores, cooptando, fragmentando e perseguindo lideranças sindicais, com apoio do Estado, principalmente no período do Estado Novo; e disputar a Hegemonia com o setor agrário-exportador, ocupando espaço em setores estratégicos do Estado no período varguista. Entendemos que o IDORT foi o principal instrumento de elaboração, divulgação e defesa das concepções da burguesia industrial neste período histórico, buscando, com isso, consolidar suas idéias.
REFERÊNCIAS:
1. ANTUNES, Ricardo. Classe operária, sindicatos e partido no Brasil: da revolução de 30 até a Aliança Nacional Libertadora, Cortez, São Paulo, 1980.
2. ANTONACCI, Maria Antonieta M. A Vitória da Razão? O IDORT e a Sociedade Paulista, Marco Zero, São Paulo, 1993.
3. BUONICORE, Augusto César. Marxismo, História e Revolução Brasileira: Encontros e Desencontros, Anita Garibaldi, São Paulo, 2009.
4. CAMPOS, Cristina Hebling. O Sonhar libertário: movimento operário nos anos de 1917 a 1921, Pontes, Campinas, 1988.
5. CUNHA, Luiz Antônio. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização, UNESP, São Paulo, 2005.
6. CUNHA, Luiz Antônio. O ensino industrial na irradiação do industrialismo, UNESP, São Paulo, 2005.
7. IBANHES, Lauro Cesar. O Discurso Político-Ideológico e o Projeto Racionalizador do Instituto de Organização Racional do
326
Trabalho – IDORT – na Década de 1930, Dissertação de Mestrado, Centro de Ciências Humanas, UFSCar, 1992.
8. GIANOTTI, Vito. História das Lutas dos Trabalhadores no Brasil, Mauad, Rio de Janeiro, 2007.
9. MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. A Socialização da Força de Trabalho: Instrução Popular e Qualificação Profissional no Estado de São Paulo, EDUSF, Bragança Paulista, 2003.
10. NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República, Ed. Univ. de São Paulo, São Paulo, 1974.
11. PICHELI, Valdir. O Idort enquanto proposta educacional no contexto de formação da hegemonia burguesa no Brasil (1930-1944), Tese Doutorado, FE/Unicamp, Campinas, 1997.
12. ROLNIK, Raquel. São Paulo, início da industrialização: o espaço e a política, In: Kowarick, Lúcio: As Lutas Sociais e a cidade, Paz e terra, São Paulo, 1994.
13. ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil, Vozes, Rio de Janeiro, 2006.
14. SIMONSEN, Roberto. Rumo à Verdade, São Paulo, Editora Ltda., 1933.
15. SIMONSEN, Roberto. O Trabalho Moderno, In: A Margem da profissão. São Paulo Editora, São Paulo, 1932.
16. TENCA, Álvaro. Razão e Vontade Política: O Idort e a grande indústria nos anos 30, Dissertação (Mestrado), Unicamp, Campinas, 1987.
17. TENCA, Álvaro. Senhores dos trilhos; racionalização, trabalho e tempo livre nas narrativas de ex-alunos do curso de ferroviários da antiga paulista, São Paulo, UNESP, 2006.
18. WEINSTEIN, Bárbara. (Re)formação da classe trabalhadora no Brasil, 1920-1964, Cortez: CDAPH-IFAN, São Paulo, 2000.
19. VARGAS, Getúlio. A Nova Política do Brasil, Vol. II, José Olympio, Rio de Janeiro, 1938.
329
IDEOLOGIA E DOMINAÇÃO EM DESENHOS DA DISNEY E PIXAR
Ariovaldo Santos*
Os mecanismos de dominação exercitados por uma classe sobre a outra não se restringem à sociedade burguesa. Entretanto, no interior desta forma de sociabilidade eles foram progressivamente se sofisticando e, sem prescindir do uso da força física, quando necessário, ganhou um grande espaço entre as formas de dominação outras mais sutis e sofisticadas, mas que, em seu conjunto, se mantém em íntima ligação com as questões colocadas pela materialidade da vida cotidiana e a necessidade de produção e reprodução de suas estruturas. Embora tendo uma finalidade material, ou seja, garantir que as relações sociais de dominação atuais se perpetuem, eles são identificados, em geral, como pertencendo ao campo da ordem simbólica e, por vezes, equivocadamente, como produto do pensamento puro.
Efetivamente, as formas sutis de conformação dos indivíduos, social e coletivamente, à ordem estabelecida se multiplicaram desde a consolidação do capitalismo industrial e, em particular, no transcurso do século XX. Disto constituem exemplos clássicos o crescimento e expansão da propaganda e marketing. Observa-se, neste terreno, que nenhum indivíduo é obrigado a comprar qualquer mercadoria que seja, embora todos se sintam compelidos a fazê-lo, pouco importando se o consumo do produto em questão seja para satisfazer uma necessidade real ou imaginária. Compelido a dar vazão cada vez maior às mercadorias produzidas (e reproduzidas), o capital, por não reconhecer fronteiras senão aquelas estabelecidas pelo próprio processo de acumulação, percorre o globo terrestre, levando a cada recanto sua imagem de civilização e, com ela, a construção e reconstrução do ser social que assume o consumo de mercadorias como o parâmetro para a identificação com a maior ou menor felicidade individual.
* Doutorado em Sociologia e Ciências Sociais pela Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), professor da Universidade Estadual de Londrina e membro da Rede de Estudos do Trabalho. E-mail: [email protected]
330
Compelido por sua própria natureza interna a expandir continuamente o reino das mercadorias, o movimento do capital elimina, na medida do possível, toda e qualquer barreira que se interponha a este processo, incluindo a eliminação das faixas etárias às quais o apelo ao consumo está direcionado. Assim, incorporam-se as camadas mais jovens das classes básicas da sociedade à esfera do consumo programado de mercadorias, criando-se neste processo o conceito de infância e adolescência. Juntamente a este processo, no qual os jovens são transformados em trabalhadores produtivos, seja geralmente em condições de informalidade, seja em condições de formalidade de emprego, o capital descobriu, também, novos nichos de mercado, os quais busca explorar fazendo um apelo a um campo essencial para a efetividade da produção e circulação de mercadorias, isto é, ao terreno da subjetividade e, mais particularmente, do desejo. Realiza com isto sua essência, a de criar continuamente novas necessidades, ampliando assim sua própria lógica de dominação.
Assim, se em suas origens as mercadorias estavam voltadas, prioritariamente, para o consumo das populações adultas, no transcurso do século XX, com a incorporação das novas gerações à esfera do trabalho produtivo, o capital intensificou a necessidade de expandir a produção de novos objetos de desejo. Operação acompanhada, progressivamente, pela internalização sistemática de uma educação formal e informal nas jovens gerações, capaz de induzir ao consumo de mercadorias, ainda que seja para a satisfação de necessidades reais ou imaginárias, na qual vai implícita, igualmente, a leitura bastante particular do sentimento de felicidade e infelicidade individual.
Quando o estímulo permanente ao consumo de mercadorias como parâmetro de felicidade não esta posto no presente, ele é socialmente interiorizado através de uma projeção para o futuro: “o que você quer ser quando crescer?” Ao que se espera uma resposta que aponte menos para uma profissão e mais para os benefícios que dela se pode extrair monetariamente, tais como consumo de carro do ano, lancha, iate, viagens e vários outros elementos de satisfação individual e coletiva, real ou imaginária, que satisfaçam, sobretudo, às necessidades de realização do próprio capital. Objetivos que, teoricamente, só poderão ser obtidos se a escolha profissional for a “correta”, isto é, objetivamente a mais rentável.
331
O quanto este modelo junto às novas gerações está imbuído, nos tempos presentes, da lógica da mercadoria, é demonstrado pelas listas de aprovação dos vestibulares. Provavelmente não aparecerá na televisão, gritando como um alucinado ou alucinada, um aprovado ou aprovada no vestibular em arquivologia, letras, ciências sociais, filosofia, artes e várias outras profissões que restrinjam as possibilidades de levantar a pergunta “quem quer ser um milionário”. Entretanto, para além do status que secularmente cultivaram, as chamadas “profissões nobres”, das quais destacam-se, por exemplo, engenharia e medicina, ganham destaque, pois a elas vêm atrelados, também, os símbolos de riqueza, consumo e felicidade futura.
Para moldar para o consumo, é insuficiente ao capital que sejam criados compradores de mercadorias que dependam de pais, tios, parentes em geral, ou que se animem apenas nas datas festivas, das quais as mais clássicas são o dia das crianças, o aniversário e o Natal e, ainda, que uma parcela pequena da juventude tenha acesso à Universidade. A este conjunto de elementos, o capital precisa incutir, também, uma determinada ética do trabalho, sem o que novas mercadorias não poderão ser consumidas no futuro, quando as crianças e adolescentes tornarem-se adultos. O que envolve um trabalho mais amplo por parte dos mecanismos de socialização desenvolvidos pela sociedade burguesa.
Dentre estes mecanismos, ocupa um lugar particular, em épocas mais recentes, a socialização para o trabalho através de produções cinematográficas direcionadas, essencialmente, ao público infanto-juvenil, como é o caso de desenhos produzidos pelos estúdios Disney e Pixar, e sobre os quais estarão centrados os argumentos deste artigo. Alimentando a discussão, a hipótese desenvolvida é de que não se trata apenas de simples entretenimento, como o quer fazer supor a propaganda de divulgação destes filmes, mas, sobretudo, de uma mercadoria rentável (o próprio filme), estruturada a partir de uma determinada visão de sociedade (a sociabilidade capitalista) e utilizando determinados mecanismos ideológicos de dominação (uma leitura particular sobre o que é o trabalho e sua finalidade).
Na indústria do entretenimento, os estúdios Disney ocupam, há décadas, um lugar de destaque. Porém, mais do que entreter, a mercadoria que a Disney produz carrega consigo a carga ideológica na qual se procura manipular, seduzir e integrar aos princípios da sociabilidade
332
burguesa. Igualmente, a temática envolvendo uma determinada leitura sobre o que é o trabalho atravessa de longa data, mesmo que na condição de pano de fundo, as produções cenematográficas da Disney. Cite-se, como exemplo, histórias como as de “Branca de Neve e os Sete Anões”, “Cinderela” e “Pinócchio”, que têm encantado gerações de crianças em todo o mundo, e também de adultos, os quais já foram domesticados pela sociabilidade capitalista. Em razão de sua popularidade, é desnecessário aqui fazer uma sinopse de cada uma dessas histórias infanto-juvenis. Cumpre reter, por outro lado, os elementos que, em cada uma delas, integram a problemática do presente artigo, isto é, a abordagem que é dada à atividade trabalho enquanto elemento de mediação do ser social com a realidade objetiva e os valores aos quais estão ligadas as mediações necessárias do ser com a realidade objetiva e com os demais seres que com ele compartilham determinada forma de sociabilidade.
Nesse sentido, um ponto possível de partida é “Cinderela”. Explorada sem piedade e morando em condições insalubres, após uma extensa jornada de trabalho onde precisa ser polivalente (cozinha, encera o chão, costura, entre outras atividades mais que possam ser exigidas) a personagem Cinderela é o prenúncio da informalização do trabalho, tornada estrutural ao capital, no transcurso do século XX. Como grande parte da força de trabalho contemporânea no mundo, não dispõe de direitos sociais básicos e, portanto, juridicamente precarizada, está confinada a viver o seu pequeno universo cotidiano de injustiças, de modo resignado. O ardil do trabalho cotidiano, para Cinderela, é apresentado como uma sorte de provações, teste para a preservação de sua honra, pureza e inocência, animada pelo ideal do “quem espera sempre alcança”.
Realiza-se por esse caminho o preceito bíblico de que “comerás o
pão com o suor do teu rosto”, compensado pela presença de um rito de passagem para um mundo de salvação representado não pelo céu, mas por um castelo, no alto da colina, perto das nuvens, verdadeiro paraíso a ser atingido. Consequentemente, o trabalho emerge em “Cinderela” como a mortificação necessária para a purificação da alma. É o momento que se impõe enquanto caminho obrigatório antes de se atingir a “terra prometida” ou, no caso da personagem central, o feudo desejado.
Ainda que situado em um tempo longínquo “Cinderela” é, na prática, expressão da situação de “precariato”, isto é, proletária colocada
333
em situação de “vulnerabilidade social” que dominaria o capitalismo séculos ou décadas depois no contexto da globalização das economias. Ela é, ao mesmo tempo, o embrião do ideal para a situação que passa a dominar o capitalismo globalizado nos dias de hoje: polivalente, dócil e, mais ainda, servil, vivendo sem projeto para além daquele que é dado pela sua própria cotidianeidade de infortúnios ou torcendo pela sorte grande (o príncipe), substituída, nos dias atuais, pela possibilidade de se ganhar um grande prêmio de loteria. Presa aos “infortúnios” da vida, a exemplo do que ocorrerá com milhões e milhões de filhos de assalariados quando atingirem a idade adulta, “Cinderela” reforça a idéia de que há injustiças no mundo, mas que os puros de alma podem suportá-las, pois a eles pertencem o reino dos bons.
Há, pois, em “Cinderela”, um princípio socializador no qual a saída para o infortúnio é individual, ainda que a personagem central seja ajudada pelo campo da mágica, do mítico e de alguns animaizinhos sempre prontos a servi-la. Ainda aí, a organização coletiva só serve aos fins exclusivos do indivíduo, centro das atenções da sociedade burguesa. Mas, o indivíduo egoísta, descolado de qualquer projeto coletivo e imerso em um mundo dicotômico que separa os bons e os maus, o certo e o errado, mecanicamente, sem mediações outras que revelem o complexo da sociabilidade. Debilidade que não é atenuada mesmo que se chamem a isto, para as crianças, jovens e adultos, de “conto de fadas”.
Os princípios da socialização de crianças e jovens para o mundo do trabalho reproduz-se, igualmente, em “Pinocchio”, “canto de cisne” do trabalhador artesão, na figura de Gepetto, e apologia da nova mentalidade ligada ao trabalho capitalista industrial, o fordismo. Como diz o filme, logo às primeiras cenas, Gepetto “é um entalhador”. Essa condição faz com que, para ele, o trabalho seja fluição, expressão de um ofício, da busca da perfeição, a tal ponto que o resultado de sua criação poderia ganhar vida. No entanto, assim como os alquimistas estavam impossibilitados de transformar pedras em ouro, Geppetto se confronta com o limite ontológico dado pela madeira entalhada. Daí decorre a necessidade da mediação mística agindo como entidade criadora. Homem religioso, a idéia de um Deus criador transmutado em fada madrinha é figura constante nos desenhos de Walt Disney e atuam, na prática, com o objetivo de deixar em segundo plano a categoria trabalho enquanto elemento fundador do ser social. Assim, o verdadeiro ato criador e
334
realizador acaba dependendo não da práxis humana e sim do ato místico, do sopro sobrenatural, do qual o trabalho emerge como mero coadjuvante.
Gepetto é senhor de seu ofício e, enquanto não intervém o ato místico da criação dado pela fada madrinha, reduzindo o trabalho humano a um mero detalhe, ele é o “entalhador”, dotado da arte de lidar com o material que constitui o seu ofício. Nesta condição, é a expressão de um tipo de trabalho e de trabalhador que seria cada vez mais colocado em xeque na transição do século XIX para o século XX, com a generalização do taylorismo-fordismo e que se aprofunda nesse início de século XXI. Enquanto a artesania permanece em Geppetto, outro é o mundo que o cerca e dentro do qual o personagem Pinocchio tem de viver. Fora dali, domina a lógica mercantil e o trabalhador do qual se precisa não é o artesão e sim o homem-boi, coisificado, pronto para as tarefas sem criatividade e, no entanto, necessárias à acumulação, a exemplo do que propunha Taylor. Outro não é o sentido da alegoria na qual crianças entusiasmadas com a Ilha dos Prazeres são progressivamente transformadas em burros.
Aparentemente, reside aí uma crítica à brutalidade da vida moderna. Mas, no fundo, o que há é uma condenação estritamente moral a prazeres da vida, considerados incompatíveis com a dinâmica da acumulação e, portanto, necessários de se renegar. Instrumentalizados em certa direção, prazeres que podem ser desfrutados na vida cotidiana são apresentados como vícios que condenam os indivíduos à desgraça. Daí as crianças serem apresentadas como seres que vão se transformando em burros ao adotarem uma conduta que se afasta daquilo que delas será exigido pelo capital, ou seja, tornarem-se seres produtivos.
Aparentemente se constituindo em zelo moral pelos bons costumes, a crítica a comportamentos desviantes das crianças, na realidade, nada mais é do que a condenação a certo tipo de forma de trabalhador a ser rejeitado, para o que muito contribui a admiração que Walt Disney tinha em relação a Henry Ford, seja no plano da organização do trabalho, seja naquele dos princípios referentes ao que é ou não uma boa força de trabalho. A cena em que o personagem Pinocchio fuma e se degrada ainda mais na escala humana nada mais faz, assim, do que traduzir a leitura de Ford sobre o trabalhador fumante. Diz Ford:
335
Tudo o que interfere na nossa capacidade de pensar com clareza, levar uma vida saudável e normal e fazer bem nosso trabalho será no fim posto de lado, quer por ser uma desvantagem econômica, quer por desejarmos melhor saúde para nós [...]. O tabaco é um narcótico que vem causando grandes estragos em nossa geração. Ninguém fuma nas indústrias Ford. O fumo não é bom nem para a indústria nem para o indivíduo [...]. Se você estudar a história de quase todo criminoso, verá que ele é um fumante inveterado. Os meninos, por intermédio dos cigarros, exercitam-se em más companhias. Vão com outros fumantes apostar em cavalos ou para os bares. O cigarro os arrasta para a decadência (FORD, 1995, p. 50.)
Vê-se, pois, que não é casual, em “Pinocchio”, que a crítica ao consumo de cigarro esteja menos ligada aos perigos que o mesmo representa para a saúde e mais ao que poderia representar em termos de trabalhador ideal a ser forjado.
Situa-se em “Pinocchio”, através da alegoria proposta de transformação de seres humanos em burros, a leitura dysneiniana da moralidade que deve ser apropriada pelo trabalhador no sentido de tornar-se um ser útil para a sociedade.
Enquanto em “Pinocchio” domina a leitura do trabalho em contraposição absoluta aos prazeres da vida, através da potencialização negativa de certos atos básicos da cotidianeidade, em “Branca de Neve e
os Sete Anões” ele é atrelado diretamente à acumulação de riquezas. Para os sete anões, a mina da qual extraem as pedras preciosas constitui sua empresa particular, à qual vão felizes todas as manhãs, como pequenos proprietários empreendedores, realizar um trabalho monótono, repetitivo, unilateral, que dilacera corpo e alma, mas que, no entanto, é vivido como positividade, visto tratar-se aí da acumulação privada. Por tratar-se de acumulação privada, de “empreendedorismo”, conceito administrativo tornado comum no final do século XX, a atividade insalubre dos sete anões nas minas aparece não como momento de brutalização e desrealização do ser social, mas sim como fonte de sua felicidade. Certamente, ficam felizes a cada pedra preciosa que encontram. Mas, efetivamente, abstrai-se na história levada às telas, que o trabalho a ser executado em uma mina, seja para extração de pedras preciosas ou silício, guarda, em ambos os casos, uma dimensão única: o de ser atividade de
336
degradação e mortificação do corpo e espírito pelas próprias condições nas quais, necessariamente, ele precisa ser realizado.
Coroando o quadro apresentado pelo desenho de animação de “Branca de Neve os Sete Anões”, está ainda a veiculação de uma determinada postura a ser assumida pelo trabalhador quando ele se levanta todas as manhãs para ir ao encontro de sua atividade vital, mediatizada pelo salário ou pela acumulação de riquezas: ele deve acordar disposto, alegre, munir-se dos bons fluidos, sem o qual o trabalho se transforma em tripalium, martírio, sofrimento.
Vender uma determinada leitura do sentido do trabalho para o ser social, direcionando assim o olhar das jovens gerações para a única dimensão possível em que ele poderia ser realizado, tem marcado, também, algumas das produções da Pixar. Retém-se aqui, como exemplo, “Monstros S/A”, provavelmente o caso mais clássico de socialização para o trabalho. Efetivamente, o filme poderia mesmo ser chamado de “O
Toyotismo para Crianças e Adolescentes”, que o espírito da produção não seria traído.
Em “Monstros S/A” delineiam-se todos os elementos de cooptação para o exercício futuro da atividade trabalho em uma fábrica moderna ou, de modo mais geral, em uma empresa moderna. Destaque-se, inicialmente, a existência de trabalhadores, no caso, os monstrinhos, profundamente comprometidos com os rumos da empresa, sua produtividade, eficácia e crescimento. Os personagens centrais são Sullivan e Mike, dedicados funcionários e sempre dispostos a colaborar com a acumulação de riquezas da empresa. Portanto, não há conflitos entre eles, trabalhadores, e o dono da empresa, o representante do capital. Em “Monstros S/A”, a luta de classes acabou, uma vez que ambas as partes perseguem, aparentemente, os mesmos interesses, reforçado, no caso dos trabalhadores, pelo prestígio que angariam ao quebrarem suas próprias metas de produção, ou seja, os sustos que devem dar nas crianças.
Ao lado da diluição da luta de classes, da venda da idéia de que os mais esforçados desfrutarão de prestígio e terão seus nomes em placas e cartazes afixados na empresa, “Monstros S/A” assinala também para a necessidade dos trabalhadores não construírem, entre si, laços de comunidade fraternidade além daqueles necessários à acumulação de
337
capital. Sullivan e Mike são amigos, mas, acima de tudo, representam uma dupla, sendo mesmo possível dizer, em linguagem gerencial moderna, uma “equipe”. Para além deles, os demais trabalhadores são concorrentes e, ao mesmo tempo, são vistos como concorrentes pelos demais. Cria-se assim a impossibilidade de soldarem-se solidariedades de classe entre o conjunto dos trabalhadores, uma vez que cada equipe concorre com as demais e os trabalhadores se colocam, no interior dos espaços de produção, como inimigos, uma vez que correm atrás dos bônus auferidos pelos seus bons resultados ao longo da jornada de trabalho cotidiana.
Para reforçar nas jovens gerações a compreensão de que capital e trabalho não se constituem em pólos antagônicos, Sullivan apresenta-se como conselheiro do proprietário da empresa, preocupado com os rumos da acumulação. Ambos se lançam, pois, a um esforço de concertação social, deixando claro para as novas gerações que elas não precisam de organismos de mediação de seus interesses, representados seja pelos sindicatos ou por partidos, de resto, obviamente ausentes no transcurso da história.
Por fim, uma formulação não menos importante em “Monstros S/A”, dentro do espírito de cooptação das novas gerações: o que fazer com os trabalhadores que não atendem aos padrões de qualidade da empresa? Neste aspecto, o filme dá um recado direto às novas gerações: aqueles que não desempenham corretamente suas atividades devem ser banidos do espaço de trabalho, como maçãs podres, a fim e que não contaminem a caixa. É assim que, ao ser detectado um trabalhador que, descuidadamente, não tomou as precauções necessárias para a realização de suas tarefas, é chamada uma equipe de esterilização que o coloca em situação humilhante, diante de todos os demais.
Observa-se, pois, através dos elementos colocados ao longo deste breve artigo, que os mecanismos de dominação do capital sobre o trabalho têm-se aprimorado, colocando-se até mesmo ali onde aparece de modo insuspeito. Tais colocações buscam, por sua vez, alertar para a necessidade de reconstrução de uma nova sociologia do trabalho, a qual, nas últimas décadas, tem se centrado basicamente no espaço fabril e da diversidade de empregos, em geral, tentando compreender as razões da aceitação, por parte da força de trabalho, de instrumentos de dominação que contribuem diretamente para a degradação do trabalho. Trata-se,
338
pois, de invocar a um olhar mais amplo, atentar para a compreensão do porque a pedagogia da fábrica, para usar uma expressão clássica, tem se colocado cada vez mais fora dela, de tal modo que no espaço de trabalho nada mais acaba fazendo além de realizar e colher os frutos de uma socialização prévia. Tarefa que transcende ao esforço de um único investigador, uma vez que está em pauta a compreensão dos modernos mecanismos ideológicos de dominação e cooptação da força de trabalho para a lógica do capital, pois é neste terreno, também, que se trava a luta.
BIBLIOGRAFIA:
1. FORD, Henry, A filosofia de Henry Ford. In: BEYNON, Huw. Trabalhando para Ford. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
2. ABENDROTH, Wolfgang. Conversando com Lukács. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971.
3. AUED, Bernardete Wrublevski. Educação para o (Des)emprego, Petrópolis(RJ): Ed. Vozes, 1999.
4. BERGER, Peter L. & BERGER, Brigitte. O que é uma instituição social ? In: FORACCHI, Marialice Mencarini e MARTINS, José de Souza. Sociologia e Sociedade (Leituras de Introdução à Sociologia). 9° tiragem. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1984.
5. BEYNON, Huw. Trabalhando para Ford (Trabalhadores e Sindicalistas na Indústria Automobilística). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
6. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. vol. 2.
7. MARX, K. e ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.
8. MARX, K., La marchandise et la monnaie. In: _____. Le Capital. Moscou: Éditions Du Progrès, 1982. Vol. I
9. MÉSZÁROS, István, A Educação Para Além do Capital. São
Paulo: Boitempo Editoral, 2005.