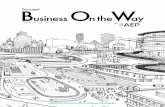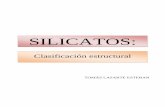PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
S. Tomás de Aquino e a Ética Empresarial
Transcript of S. Tomás de Aquino e a Ética Empresarial
S. Tomás de Aquino
e a Ética Empresarial
João Barbosa | 2100784
Ou o renascimento do paradigma da Virtude
que na Modernidade, ainda que mais liberta de axiomas católicos, devido a determinadas atitudes herdadas sejamos instintivamente desconfiados acerca de certas realidades, como o mundo empresarial: faz parte da nossa cultura. João César das Neves, no seu livro “Introdução à Ética Empresarial” descreve muito bem o pessimismo com que encaramos esta nossa época, como se, apesar do nosso grau de concretização como sociedade – concretização essa ancorada na explosão económica que se fez sentir a partir de dois momentos-chave, a saber, os Descobrimentos Portugueses e o advento da Revolução Industrial - todos partilhássemos de alguma culpa moral conjunta.
Por tudo isto é que o tema proposto pode parecer algo difícil de concretizar, por os termos que compõem a sua invectiva – a Ética de S. Tomás de Aquino e o mundo das Ciências Empresariais – parecerem inconciliáveis entre si. Porém, muito tem sido feito no sentido de dotar de ética as empresas, enquanto organismos colectivos, funcionando como seres vivos que se querem não só adaptativos, mas principalmente proactivos e inteligentes.
A mudança de percepção – que ainda urge realizar - começou a ocorrer principalmente com a edição de “A Riqueza das Nações” de Adam Smith, que colocando em destaque pontos de vista que ainda hoje estão a ser redescobertos, abriu caminho para uma vanguarda empresarial, incluindo no campo ético. Porém, não podemos esquecer o anterior trabalho das próprias guildas medievais, que estabeleciam aquilo que se poderá
Comércio é uma actividade humana da qual há registos desde há milénios - pelo menos desde o tempo dos Sumérios (ou seja, há cerca de seis mil anos). Porém, desde sempre que o chamado “mundo dos negócios” apareceu
conotado pejorativamente, como campo de comportamentos menos éticos, promovendo preferencialmente a prossecução de objectivos pessoais e egoístas. Até Aristóteles – de quem falamos mais à frente – faz a distinção entre a economia doméstica (oikonomikos), que, ainda que tomada de uma forma simplificada, ele considera boa, necessária para a própria vida dos povos e até desejável, e aquela que é realizada com o objectivo da obtenção do lucro (chrematisike), que ele critica e relaciona com outras actividades (como a usura), particularmente mal vistas e realizadas por personas non gratas.
Aristóteles é tão cáustico acerca desta última que chega ao ponto de apelidar aqueles que a exercem de “parasitas”1. Por sua vez, alguns séculos mais tarde, quando Jesus Cristo, cuja marca ideológica moldou indelevelmente a cultura ocidental dos últimos séculos, expulsa os vendilhões do Templo, passa uma clara mensagem que é interpretada com a ideia que Religião e Comércio não se devem misturar (mau grado tudo o que se pode dizer acerca do comércio de fé que a própria Igreja fez). Por isso, não é de estranhar
O
7
considerar a primeira certificação de qualidade: ao deterem o poder de exigir a participação na sua ordem (e a conformidade com os seus parâmetros), para poder ser exercido o seu ofício, estabeleceram não só padrões de qualidade de trabalho, mas também os primeiros rudimentos de ética de actividade ou códigos deontológicos.
A influência da obra de Adam Smith no mundo actual é, porém, bastante profunda. Mais ainda, porque a sua teoria, ao passar para o domínio público, foi, como sempre acontece, superficialmente interpretada, dando origem a uma economia de mercado quase sem regras, em nome do freedom of enterprise – o liberalismo selvagem – e chegando a dar-lhe toques de inevitabilidade, como se tivesse de ser necessariamente assim. A importância da sua teoria terá des er enquadrada no desenvolvimento proporcionado pela Revolução Industrial, que por sua vez descambou em históricas confrontações sociais, lutas de classes, alterações de paradigmas morais e éticos. É a obra certa para o tempo certo, ainda que só hoje se esteja a descobrir a profundidade do poder observativo do seu autor.
Desta feita, não obstante tudo aquilo com que possamos criticá-la, “A Riqueza das Nações” teve o mérito de, enquanto produto de uma ideologia liberal, acarretar não só uma nova valorização da área empresarial – até pela mobilidade social que ela proporcionava – como também um interesse superior em concretizá-la justamente de um modo mais ético, já que o autor - ainda que isso tenha siado obliterado da percepção do público em geral - demonstra preocupações desta ordem no seu texto. Portanto, Ética e Economia estão relacionadas desde o nascimento da segunda.
O primeiro curso de Ética Empresarial aparece em 1915, na Harvard Business School. Porém, só a partir da década de 80 é que se pode falar de um interesse real na temática por parte do mundo da Gestão. Isto ocorre principalmente devido à expansão das empresas para lá das suas fronteiras naturais. A Internacionalização, na sua expressão máxima, a Globalização, leva a choques culturais profundos, nos casos em que se carregam valores que se tomaram até aí
como naturais, para territórios onde eles podem aparecer hierarquizados de forma diferente, sem se fazer as necessárias adaptações A primeira grande consequência da consciencialização do contraste, é o reconhecimento daquilo que nos diferencia e com o qual nos identificamos. No segundo momento, a preocupação passa a ser em como integrar o antigo mundo com o admirável mundo novo que se aborda.
A Ética Empresarial é, antes de mais, uma Ética, que se aplica a um contexto em particular. Isto significa que esta disciplina, que tem pouco mais de vinte anos, não pode ser pensada sem ter em conta o contexto maior e mais geral da Ética. É aqui que o contributo de S. Tomás de Aquino, figura de proa dentro desta área, ganha relevância e actualidade na discussão, se desejamos a mudança de paradigma do Liberalismo Selvagem para o da Gestão pela Virtude – isto é, conciliando objectivos liberais, naturais às empresas, com o humanismo, já que as empresas são feitas por pessoas.
O presente trabalho procura fazer uma análise do legado de S. Tomás de Aquino, olhando igualmente para o passado ao qual ele foi beber – isto é, debruçando-se sobre as suas raízes, principalmente a sua maior influência, Aristóteles – e apontando o que já é feito nos dias de hoje, em termos da nova ética empresarial, de onde se conseguem extrair as principais tendências do futuro mais próximo.
8
babilónica (Hamurabi), aparece-nos como o primeiro do seu género. Dele, podemos inferir alguns padrões culturais do seu tempo, incluindo o que poderia ser considerado eticamente desejável, para essa sociedade. A informação, no entanto, é sempre escassa, dada a raridade de
registos conclusivos.
O próximo grande momento passa pela Grécia Antiga, em Atenas, sede do pensamento Helénico. Aqui, vemos as primeiras concepções éticas a surgir já nos textos do mítico Homero. Neles, aparece a ideia do valor da conformidade à função social: é boa a pessoa que cumpre o seu papel. Não existindo uma ideia de bom abstracto – logo, não há pessoas boas, em abstracto – só podemos falar de um bem em contexto: alguém é bom pai, bom filho, bom guerreiro, bom pastor, etc. Ou seja, dentro dos parâmetros definido pela sociedade para aquela
mesma classe, a pessoa é tão boa - tão melhor - quanto se aproxime do ideal dessa mesma classe. O bom, portanto, é o que é adequado, o que é útil. Já nesta fase, porém, são apontados alguns valores, como a amizade, a coragem, a astúcia, a sabedoria, etc.
alar de S. Tomás de Aquino e não mencionar o espólio intelectual a que ele teve acesso e de que se serviu como o estado-
da-arte da sua época, base para a sua própria proposta, é, no mínimo, faltar com a verdade. Em nada declarar essa origem lhe reduz grandeza: bem pelo contrário, mostra claramente como ele conseguiu conciliar e adaptar o conhecimento da sua época, para o expandir. Daí ser conveniente, antes de adentrar a Ética do autor, referir os principais marcos em termos históricos, da historiografia ética, que o antecederam e que necessariamente o influenciaram.
As primeiras manifestações éticas que conhecemos remontam a civilizações antigas, como a Mesopotâmia, onde foi encontrado o chamado Código de Hamurabi. Este código de leis, atribuído ao sexto rei da primeira dinastia
F
Sócrates, o amigo da Sabedoria
11
Numa cultura fracturada e em que cada cidade-estado tinha a sua própria personalidade, as grandes cidades eram vistas como palco de morais contraditórias. Assim, onde não há um padrão moral unificador, o importante é conquistar a Polis, a opinião colectiva. É por isso que os Sofistas, oriundos da Pérsia, ganham um prestígio tão grande, ao ensinarem a retórica – falaciosa ou não. Mas Sócrates, filósofo que questionava o valor deles, defende a Sabedoria como a sua dama. Ele define que existem Ideias abstractas, do qual o mundo físico é um mero reflexo. Elas são ideias abstractas e imutáveis, de qualquer modo, muito menos pelo discurso. O objectivo melhor do homem é abandonar a matéria, a carne e os impulsos dos sentidos, dedicando-se ao trilho do autoconhecimento, que permite atingir um estado que leva à contemplação das Ideias Puras. Para isso, Sócrates não se apresenta na pele de um doutrinador, mas antes de um inquiridor. Ele questiona sucessivamente, até que o seu interlocutor reconhece, por si mesmo, a sua ignorância sobre o assunto de que se fala. A sua aporia, o estado de tomada de consciência da ignorância de cada um, levam-no a ser antidogmático, portanto, mais próximo da Verdade. Da escola deste filósofo surgirão pelo menos quatro importantes correntes: o Platonismo, o Aristotelismo, o Epicurismo e o Estoicismo.
Platão, o aluno mais célebre de Sócrates, torna-se a nossa principal fonte de informações acerca dele. É por vezes, difícil perceber se o que Platão descreve é o que Sócrates defendia ou a sua própria visão do tema. A influência platónica sobre a nossa cultura é uma força poderosa, patente até no nosso imaginário colectivo. Através da Alegoria da Caverna, que abre o livro VII
da República, Platão descreve a ideia da dualidade da existência a que já aludimos, em que existe a realidade em si e o seu eco, material, ilusão. O mundo material é visto como um entrave à evolução da alma, que deve libertar-se dos apelos dos sentidos, depurando-se na Sabedoria. A Ética pode ser ensinada, pois o mal surge da ignorância. Quem sabe, não faz o mal.
Da escola de Platão surgirá a filosofia de Aristóteles. Dado o facto que ela será a base dmais directa da Ética Aquiniana, convém determo-nos um pouco mais sobre o filósofo.
12
Platão, segundo Rafael, em “A Escola de Atenas”
biologia e pela fisiologia lhe advira dos seus laços sanguíneos, já que a sua família eram conhecida pelos seus médicos há mais de dez gerações. Torna-se, então, mestre daquele que viria a ser
Alexandre, o Grande (na altura, com 13 anos de idade), por exortação de Filipe II, em 343 a. C.
Quando Alexandre assume o trono, em 335 a. C, porém, regressa a Atenas, para fundar a sua própria escola, o Liceu, e instituir a doutrina peripatética – termo que significa “aquele que passeia”, referência às aulas do Liceu que eram ao ar livre. Durante a vida de Alexandre, ele goza de grande prestígio, recebendo espécimenes para estudo, de todas as zonas conquistadas, enviados pelo próprio soberano. No Liceu estudavam-se todo o tipo de matérias pelas quais Aristóteles haveria de ficar conhecido para a posteridade: Física, Fisiologia, Medicina, Zoologia, Metafísica, Filosofia, Lógica, Política e, claro, Ética. Após a morte do Conquistador, temendo pela sua própria vida, abandona Atenas, para se sediar em Cálcis, na Eubeia onde permanecerá, com a sua nova esposa, Hérpiles (de quem teve um filho homónimo
do pai de Aristóteles, seu avô,
ristóteles nasceu em Estagira, na Trácia, em 384 a. C. Aluno de Platão,
entra para a sua Academia, situada em Atenas, aos 17 anos e durante as duas décadas seguintes acompanhará aquele nos seus estudos, tornando-se um dos seus melhores alunos. Entre os anos 343 e 342 a. C., e na sequência de questões relacionadas com a sucessão da liderança da Academia, abandona Atenas, dirigindo-se a Assos, com alguns ex-alunos. Aí, com a ajuda do tirano de Atarneu, Hérmias, forma um círculo de estudiosos. Permanece em Atarneu durante três anos, chegando a casar com a sobrinha do seu protector, Pítias.
Quando o tirano morre (bem como a sua sobrinha, esposa de Aristóteles), o filósofo dirige-se para Mitilene, na ilha de Lesbos, onde realiza muitos dos seus estudos acerca de biologia. Pensa-se que este interesse pela
A
15
Aristóteles, segundo Rafael, em “A Escola de Atenas”
Nicómaco), até à sua morte, em 322 a. C.
Aristóteles está considerado por muitos como o pai da Ciência, devido ao seu interesse pela realidade tangível, divergindo radicalmente da postura idealista de seu mestre, Platão. Ao contrário daquele, Aristóteles acredita que as Ideias abstractas possuem valor nulo para a vida dos humanos e que estes devem preocupar-se com o que vêm e com o que sentem, antes de mais. Nesse sentido, ele é um materialista e um pragmático2. Apesar de ser habitualmente
conotado com o campo da Filosofia, a sua marca transcende este domínio, sendo de valor incalculável o seu contributo para as chamadas ciências naturais, como a Biologia, a Zoologia, a Fisiologia, a Medicina, bem como a Física e as ciências reflexivas, como a Metafísica, a Lógica, a Epistemologia, a Teoria da Literatura, o Direito, a Política e a Ética3.
Em relação a esta última, para o presente trabalho, debruçamo-nos em particular sobre duas obras do autor: “Ética a Nicómaco” e “Ética a Eudemo”.
16
A influência de Aristóteles sobre o mundo em geral e as ciências em particular foi notória durante séculos, principalmente durante
a Idade Média. Mas ainda hoje se faz sentir esse eco.
Princípios da ética de Aristóteles
Quatro Virtudes - da esquerda para a direita,: Temperança, Prudência, Fortitude e Justiça
Gregos antigos, desde o início da sua civilização. A proporção certa é o Belo, na Estética. Na mesma linha de pensamento, é também o Bem, na Ética – o que leva Aristóteles a discorrer amplamente acerca da importância do “meio-termo” em ambas as Éticas. Assim, das três formas de obter a felicidade, a Virtude (areté) é a melhor, por corresponder justamente ao meio-termo: o vício surge no desequilíbrio, no desrespeito pela proporção certa a cada caso.
De sublinhar, no entanto, que Aristóteles reconhece que, ainda que o princípio-padrão seja o meio-termo (constituindo o ideal da conduta, portanto), o bem não é absoluto em si, pelo menos dentro da escala humana. Nesse sentido, ele comporta uma certa dose de relativismo, pois assume com clareza que o que é bem para uns não será necessariamente bem para outros. Mais além, refere que o que é bem agora, poderá não ser bem depois. Isto poderia ter lançado algumas questões
filosóficas no seio da escolástica Cristã, marcadamente dogmática, porém, isso não diminui em nada o seu prestígio durante a Idade Média, pois S. Tomás de Aquino resolverá de modo magistral este aparente conflito. Ainda derivado deste princípio, temos que os
ara Aristóteles, o contraponto concreto da Sabedoria (contemplativa) é a Sensatez (fronesis) e é ela que deve orientar o caminho de uma Ética que se quer prática (ver acima). O fim último (o telos) da actividade humana
é, então, a Felicidade (eudemonia). Esta obtém-se de três modos: através da Prudência, do Prazer e da Virtude.
Para os Gregos, a palavra “pecado” (hamartia) não existia com a mesma conotação que lhe damos hoje. A palavra que representava essa ideia – ou o que mais se aproximava dela – traduz-se por “falhar o alvo” – na senda do que já dissemos acerca da ética Homérica. Para os Helenos, o que havia de realmente condenável era alguém pecar por excesso ou por defeito face à sua natureza ou destino, substituindo-se, por exemplo, à vontade divina4. O castigo adviria da quebra desta lei. Assim, a “medida certa”, o ratio, a razão – a proporção - é uma ideia muito cara aos
P
19
Édipo e a Esfinge
bens podem hierarquizar-se entre si, em graus diferentes, no sentido do bem supremo. Esta questão irá ressurgir na Ética Aquiniana e nós abordámo-la, nas próximas páginas.
Segundo Aristóteles, a Virtude (que significa aqui a concretização máxima de qualquer princípio), divide-se em dois tipos: Virtude Intelectual (acessível apenas aos que se ocupam com a via contemplativa do Filósofo), racional e dependente da instrução de cada um; e Virtude Ética, resultante dos hábitos e disposições naturais e subordinada à Virtude Intelectual. O papel da Ética é vergar essas disposições naturais às da Razão, de modo a aproximá-
las do meio-termo e da perfeição ideal, logo, de Deus. Visto por este prisma, não será, pois, de estranhar, o interesse de S. Tomás de Aquino nas bases lançadas por Aristóteles, para a sua própria proposta ética. É por razões semelhantes que, nos dias de hoje, época do já referido primado da Gestão pela Virtude, voltamos a rever estes
princípios.
Assim, Aristóteles (através de S. Tomás de Aquino) e Platão (através de Santo Agostinho) tornam-se as duas principais influências da sociedade ocidental. Porém, antes que isso aconteça, é necessário que se dê uma crise de valores.
Os Gregos teorizaram amplamente acerca da proporção correcta, como contraponto estético para o carácter essencial do meio-termo na Ética. Eles
acreditavam ter descoberto a medida certa no chamado Número de Ouro (Φ). Esta regra viria a ser redescoberta durante a Renascença, influenciando
profundamente a forma como alguns artistas criavam.
20
indivisível: ou se é virtuoso e se tem virtude ou não. Tal como para Sócrates e Platão, a existência tem dois planos. O plano material é palco dos sentidos e contrário à razão. O mundo material é mau, logo o prazer sensorial, característico da matéria, é visto como sinónimo do mal que esse mundo material alberga. Ele é palco das influências nefastas dos sentidos, que mergulham a alma em confusão, transitoriedade e irracionalidade. Logo, o estado ideal é a apatia ou ataraxia. O sábio não cede às tentações e deixa-se submeter às provações impassivelmente. Desta feita, a Virtude, apesar de ser o caminho do
Bem, deixa de se identificar com a Felicidade, como acontecia com Aristóteles ou até Platão.
Nos aparentes antípodas, os Epicuristas eram vistos como defensores da ideia de que o importante era atingir o Prazer e não a Virtude
–esta aparece de forma mais acessória, daí eles terem
sido associados a uma forma de vida requintada, sensual. Não sendo totalmente verdade, nem totalmente mentira, esta caracterização revela-os numa visão bastante diversa da de Aristóteles, que, como vimos, considera a Virtude como o
pós a invasão do Império Romano, dá-se uma absorção e até, podemos arriscar, um certo abastardamento da cultura Helénica no seio do mundo conquistado. Ainda que os escravos Gregos
não fossem submetidos a trabalhos físicos, - pois eram convertidos em professores - a sua herança cultural começa a deixar-se influenciar por toda a série de culturas que se reuniam neste mundo de colonizados. Mais uma vez, gera--se uma cultura fracturada, onde os valores deixam de ser seguros e unificadores, tal como no tempo dos Sofistas. É no seio deste caos de Babel, em plena Roma, que surgem duas correntes aparentemente contraditórias - curiosamente, ambas edificadas por outros dois discípulos directos de Sócrates: o Estoicismo, de Zenão de Citium e o Epicurismo, de Epicuro. O Estoicismo vê a Virtude como um todo
A
23
A queda do Império Romano - o fim de uma civilização, o começo de outras
meio para atingir a Felicidade. Mas esta é, antes de mais, uma visão demasiado estreita e literal do que eles defendiam. Para os Epicuristas, a Virtude não é, efectivamente, o centro – porém, não está apartada das suas reflexões.
Vista como sinónimo da decadência moral do Império, esta corrente filosófica foi bastante mal interpretada pelos seus críticos subsequentes: os defensores desta doutrina percebiam que os prazeres podem acarretar dores e, como tal, tendo em conta que é melhor não ter dores do que ter prazer e ao contrário dos que achassem o Epicurismo como sinónimo de livre--trânsito para o excesso, os grandes preponentes desta retórica
eram claramente contra tal, defendendo as virtudes convencionais como caminho para um prazer que resultava não do abuso sensorial, mas de uma vida equilibrada e ponderada, de prazeres requintados e subtis. Desta feita, eles aproximam-se mais da visão dos Estóicos do que aparentemente se poderia supor. A sua grande
divergência está mais no método para atingir as suas respectivas beatitudes, do que no fim a atingir em si.É neste palco de dissolução moral que a Cristandade, como força unificadora, vai dar coesão à civilização, ao determinar uma série de valores partilhados, nos quais a Ética se constrói. Passemos, portanto, ao nosso anfitrião.
24
Augusto, o primeiro imperador Romano da Era do Principado, que viriria a incluir Calígula e Nero
ão Tomás de Aquino nasceu no Castelo de Roccasecca, no Condado de Aquino, uma comuna da região de Lácio (província de Frosinone), na Sicília, Itália, em 1225. Sua mãe, a Condessa Teodora de Theate, ligava-o ao Sacro Império Romano-
-Germânico, mais precisamente, à dinastia Hohenstaufen. O irmão do pai de Tomás (Lindulf de Aquino), Sinibald, seu tio, era abade. Sendo o filho mais novo de seus pais, como era natural para a época, ao contrário dos irmãos, que tomaram a via militar, Tomás de Aquino segue as pegadas do tio, isto é, a vida eclesiástica. Assim, inicia a sua instrução aos cinco anos em Monte Cassino. Após o conflito militar que estalou entre o Papa Gregório IX e o
Imperador Frederico II, porém, os pais decidem matriculá-lo na Universidade (designada, na altura, como studium generale) recentemente fundada em Nápoles pelo Imperador – a primeira Universidade, diga-se de passagem.
É comumente aceite que terá sido aqui que ele terá tido conhecimento das obras de Aristóteles (bem como de Averróis e Maimónides, também eles influências de peso na sua filosofia). Não nos podemos esquecer que S. Tomás também se inspira noutra grande influência do pensamento medieval, Santo Agostinho. Uma outra influência catalisadora, surgida nesta época, é o pregador
João de São Julião, um Dominicano residia em Nápoles, na altura.
Aos 19 anos, e contra a vontade dos pais, afilia-se à Ordem dos Pregadores, ordem igualmente Dominicana, fundada por São Domingos de Gusmão. Depois de ter estudado
uma série de disciplinas, que iam da Música à Astronomia, passado pela
S
29
O Castelo de Roccasseca, no Condado de Aquino, berço de S. Tomás de Aquino
Filosofia, a Aritmética e a Geometria, é «captado» por S. Alberto Magno, que se impressiona pela inteligência do jovem. Durante o reinado de Luís IX, chega a ser Mestre da Universidade de Paris. Quando se preparava para participar, a pedido do Papa, no Concílio de Lyon, Tomás, que não deixando de ser um homem simpático,
afável, preferia a vida contemplativa aos grandes acontecimentos mundanos, falece na abadia de Fossanova, um mosteiro cisterciense do Lácio, em 1274, com 49 anos.
30
A Abadia de Fossanova, onde Tomás de Aquino viria a falecer
Princípios básicos da ética de s. tomás de aquino
S. Tomás de Aquino com Aristóteles de um dos ladoe e Platão do outro
de modo infalível, constante, previsível, segundo regras da Física e da Química, o Homem, por justamente ser uma potência racional, pode optar pelo que desejar. O Homem escolhe, dentro do seu livre-arbítrio, mas apenas deve escolher a melhor das hipóteses, porque essa
é a que faz sentido, isto é, a que surge como natural, correcta, sob o uso da Razão. Se a Razão estiver bem constituída, a alma procura o Bem. Aquilo que poderá acontecer, porém, como veremos mais à frente, é que o “bem” não é necessariamente o melhor, o verdadeiro e derradeiro Bem.
Talvez seja bom aqui referir que, ao contrário de certas éticas absolutistas que acreditam que a regra é universal e aplicável a todos os casos ou outras, que sendo relativistas, acabam por defensar uma subjectividade que não gera consenso, a Ética de S. Tomás de Aquino situa-se no meio-termo entre estes dois extremos. Antes de mais, ele defende que existe uma Lei Natural, que todos sentem. O seu preceito básico é “o bem deve ser feito e procurado, e o mal,
evitado”5. É dele que aparecem todos os restantes preceitos.
Os preceitos podem ser negativos ou positivos. Os negativos geram sempre necessariamente obras
primeira característica importante do trabalho de S. Tomás de Aquino é a separação que
ele preconiza entre a Teologia e a Filosofia. Dentro do campo da Filosofia, ele discorre acerca da Ética. O seu primeiro princípio é que não se pode conceber uma Ética sem incluir a crença na existência de Deus, pois a Ética estaria intimamente relacionada com uma Metafísica. É claro que, no seu contexto, quando referimos “Metafísica”, estamos a falar de uma Religião e não de uma Metafísica ateia. Logo, a Ética – para ele, pelo menos - está baseada no pressuposto da existência de alguém superior, Deus. Porém, e isto é que é interessante, Deus não limitou o Homem: ele deu-lhe a liberdade de acção, o livre-arbítrio, a que já Aristóteles aludia.
Somente o Homem é efectivamente livre, pois ao contrário das potências naturais, que agem
A
33
O Diabo, segundo uma das mais populares visões da Idade Média
más, portanto, têm de ser evitados. Já os positivos, como mais abaixo se explica, envolvem muito mais variáveis, podendo incorporar diferentes graus de imperfeição. Desta feita, S. Tomás de Aquino define menos uma Ética prescritiva e abstracta, do que uma Ética pragmática, que leva em consideração o caso particular, o concreto, o que é verdadeiramente sagaz da sua parte.
Para o filósofo, o ser humano é dotado de Consciência. Ela é justamente o resultado da aplicação dos princípios abstractos às várias situações concretas. Desta forma, evita-se a aplicação cega das grandes leis, o que faria de nós seres irracionais, ao contextualiza-las a cada caso. Note--se, porém, que isto ainda é só uma mera acção informativa: é o livre-arbítrio de cada um que vai definir se segue o que a consciência lhe diz ou não. “Assim, uma pessoa erra na escolha e não na consciência…”6. O resultado do desrespeito da Consciência, que é a voz da Lei Natural é, naturalmente, o remorso, pois o desrespeito à Lei Natural – estejamos a entendê-la correctamente ou não – produz sempre acções más. Não obstante, S. Tomás de Aquino responde a este problema do homo perplexus7, afirmando que a consciência deve sempre ser respeitada, mas continuamos a ser responsáveis pelas nossas decisões, porque somos responsáveis pela formação da nossa consciência.
É curiosa a posição de S. Tomás de Aquino em relação ao Bem e ao Mal: o Mal não tem substância em si mesmo; é, em vez disso, a
ausência de Bem, logo, um não-lugar. Assim, subentende-se que o Mal não é intrínseco ao Homem, mas o produto da ausência de algo, nomeadamente, produto da ignorância (ausência de Saber). Neste ponto, aproxima-se um pouco da proposta Socrática, que indica que o Homem só erra, só peca, por desconhecimento – daí o Filósofo não poder errar, porque ele sabe mais, ele sabe melhor.
Deste modo, S. Tomás distingue entre “pena”, a ignorância que leva às más escolhas e a “culpa”, o
mau acto intencional. Não obstante, porém, S. Tomás de Aquino sai em defesa do Homem, dizendo que a tendência mais natural do ser humano é agir no sentido do Bem (isto é, contra a ausência deste, o Mal). Daí ele ter consciência da sua culpa, quando erra.
O Homem está, antes de mais, circunscrito por duas forças: a Lei Eterna, emanada de Deus, que rege o Universo e a Lei Natural, de que já falamos, que emana da primeira, participando e sendo um reflexo da mesma. A Lei Natural tem três princípios: a
inclinação para o bem natural (o que o Homem faz, antes de mais, é no
sentido da sua auto--preservação), a inclinação natural para certos actos (conhecimento intrínseco a se ser um ente vivo, parte da Natureza) e a inclinação para o Bem, (que é natural no Homem enquanto ser racional). Daqui, S. Tomás extrapola para a Estética: o Belo é o equivalente sensorial do Bem. O Bem, no entanto, tal como em Aristóteles, não é abstracto, é sempre concreto, in situ e
As Três VirtudesDivinas: Esperança, Fé e Caridade
34
só é absoluto em Deus. Todos os outros bens hierarquizam-se em escala, até esse bem supremo.
Ecoando a sua origem aristotélica, S. Tomás de Aquino distingue as virtudes intelectuais (sede da razão, que busca a verdade) das morais (sede da vontade, que busca o bem). Nestas, inclui quatro: a justiça (que é o fulcro onde se desenrolam os problemas éticos da área empresarial), a temperança, a prudência e a fortaleza8, às quais, acrescenta três virtudes teológicas, isto é, dependentes directamente da influência divina: a fé (fides), a esperança (spes) e a caridade
(caritas). Curiosamente, e apesar de para todas as restantes S. Tomás de Aquino concordar com Aristóteles quanto ao princípio de que a virtude corresponde ao meio-termo, em relação às três virtudes divinas, dada à sua origem (Deus que é infinitamente superior a nós), ele considera que não resultam dessa forma e que não se pode pecar por ter delas em demasia.
Todas estas questões são de seguida analisadas mais a fundo.
35
As Ars Moridendi, muito em voga na Idade Média, levavam o conhecimento religioso aos que não sabiam ler, através de imagens. Em seis figuras, mostravam a vida virtuosa
e noutras tantas, a vida pecadora. A última imagem, décima terceira, aqui representada, mostra o momento da morte, em que demónios e anjos, santos e Cristo prontos a disputar
a alma do falecido, consoante o galo que está à cabeceira cante pela última vez.
Elas obedecem deliberadamente à razão, por isso é que são as que têm valor moral. Já nas acções do homem ele inclui tudo o que é não-voluntário no ser humano. Estes actos surgem pelas próprias idiossincrasias da natureza. Não obedecendo à razão, estão desprovidas de valor moral, pois são involuntárias. Exemplo destas seriam, por exemplo, o envelhecimento natural, o crescimento do cabelo e quaisquer outros fenómenos idiossincráticos que, não deixando de ser actos, não estão providos de valor moral, logo, não são alvo da Ética.
De resto, todos os actos humanos, propriamente ditos, por mais simples que pareçam, a partir do momento que obedecem à vontade deliberada, passam a ter um valor moral: é na natureza dessa vontade, isto é, o fim ao qual ela se empenha, que o valor do acto deriva, antes de mais. Isto faz com que um mesmo acto possa ter um valor bom ou mau, consoante o contexto em que aparece. Socorrendo-nos do exemplo que João César das
Neves nos dá11, o simples acto de beber um copo de água carrega um valor moral. Por princípio e se mais nada é dito, podemos pressupor que ele tem um valor positivo: satisfaz uma necessidade, logo, é bom. Mas, imaginando que se bebe o mesmo copo de água para impedir
o seu comentário à “Ética a Nicómaco”, S. Tomás delimita o que é, para si, o campo da Ética. Segundo ele, “O assunto da Filosofia Moral [Ética] é a acção humana dirigida para um fim.” 9 (parêntesis
nosso). Esta noção é central na sua exposição, pois para S. Tomás, sempre em linha com a sua inspiração aristotélica, os actos derivam o seu valor não deles próprios, mas de todo um contexto em que eles se inserem. Assim sendo, antes de mais, temos de incorporar o fim para o qual os actos são realizados na equação, se queremos perceber o valor do acto. Isso confere, mais uma vez, um carácter muito pragmático e realista à sua Ética.
Tomás de Aquino distingue entre as acções propriamente humanas e as acções do homem. Para ele, somente são propriamente humanas as acções de que o homem é senhor dos seus actos.”10
N
39
Teseu e o Minotauro, ou a vitória da Razão sobre os Instintos
outrem de o fazer, esse mesmo acto passa a ter o valor oposto, porque o seu fim, em si, não é bom, mas, à partida, mau.
Como dissemos, este princípio da relatividade do valor dos actos, é uma das traves-mestras do pensamento aquiniano, a primeira, para ser preciso. A segunda, que também já referimos, é o pressuposto que o homem é naturalmente impelido para o Bem, que S. Tomás identifica, em última instância, com o próprio Deus, pois “Deus é o princípio das coisas e o seu fim último [Alfa e Ómega], especialmente das criaturas racionais”12. Ou seja, as criaturas que podem ser morais, logo, avaliáveis, pois dotadas de uma razão, são dotadas de uma vontade – estamos, claro, a falar do homem, antes de mais13.
Tudo o que o homem faz, é bom, é no sentido do bem. Aquilo que aparentemente é uma declaração ousada, face ao que vemos da nossa realidade – pessoas a cometer intencionalmente actos perfeitamente identificáveis como sendo condenáveis – é desmontado magistralmente pelo Doutor da Igreja: o cerne da questão passa por aquilo que já dissemos acerca da hierarquia dos bens – os bens não são todos iguais e podem ser hierarquizados até ao Bem, na sua acepção suprema. Em qualquer caso, quando alguém age, mesmo que seja um assassino ou um ladrão, que respectivamente mata ou rouba, obedece a uma vontade e é movido por um motivo - está a agir em prol de um bem. A questão é sempre “Que bem?” ou “Bem para quem?”. O mal é tudo o
que fazemos para destruir um bem, mas nesta acepção, o mal aparece como colateral de um objectivo bom: é a consequência da prossecução dessoutro bem. A diferença é a relatividade desse mesmo bem que o acto do assassino ou do ladrão servem, face ao que é destruído em prol daquele: a partir do momento em que destruo um bem maior para conseguir um menor, estou a agir mal.
Assim, o ladrão e o assassino agem, realmente, por um bem e não há qualquer contradição: é notório que todos agimos sempre em nome
de algo que achamos bom, nem que seja somente para nós e ainda que reconheçamos que o acto não é bom em si. Aquilo que o ladrão rouba, trar-lhe-á benefícios; o assassino também – nem que seja por sadismo - retira algo do seu acto; a questão é que, para satisfazer o desejo pessoal de cada um deles, são destruídos dois bens claramente superiores àqueles cuja
satisfação da sua vontade implica: a legitimidade da propriedade e o valor da vida humana. É por isso que os seus actos são designados como sendo maus. Ou seja, é o fim do acto que determina, em primeira instância, o valor em si do acto.
Nesta questão, S. Tomás acrescenta: os fins também podem articular-se sequencialmente – um deles é o fim último, os restantes são intermédios, trabalham para o primeiro. É no total do conjunto – o fim último e os seus intermediários, que para ele contribuem –
40
Jesus Cristo, o Alfa e o Ómega da vida
juntamente com os meios empregues para se realizar o que a razão ordenou à vontade, que se vai compreender o valor do acto em si. Sendo organizados numa hierarquia, segundo as suas naturezas, os bens que perseguimos devem ascender na hierarquia, conduzindo a Deus. As suas naturezas derivam o seu valor do grau de participação em Deus em cada caso em concreto: quanto mais assim acontece, melhor é o bem observado.
Tudo aquilo a que o homem se entrega, seja construir uma casa, criar uma empresa, comer ou praticar desporto, dormir ou entregar-se a um excesso, são coisas boas, porque, em graus variáveis, consoante a situação, cada uma delas participa da vontade de Deus. Mas se essa
participação nessa bondade divina, que é parcial, nos afasta de Deus, em vez de nos aproximar Dele, pela destruição dos bens superiores, esse, que seria um aparente bem, é, na realidade um mal –um mal terrível, inclusive – justamente porque nos afasta do nosso fim último, Theos. É por isso que S. Tomás de Aquino distingue entre os bens aparentes e os bens verdadeiros. O bem supremo só é conseguido na vida eterna, em Deus. Só ele é a derradeira felicidade, a que é perfeita e que satisfaz completamente o desejo, conferindo o supremo descanso às almas. É da nossa confusão em perseguir bens aparentes que surge o mal da acção humana.
41
O Grande Arquitecto que tudo cria na proporção ideal
S. Tomás avança, descrevendo o processo do acto, até à sua exteriorização, em sete passos: ao depararmo-nos com um suposto bem, ele vai interferir com a nossa vontade, interpelando-a. Este é o chamado momento da voluntate, ou volição. Em seguida, perante a perspectiva de o obter, somos tomados por uma fruititione
(fruição) antecipada. Esta degenera na intentione (intenção) de obter o bem. No entanto, este é apenas um sub-processo, relacionado com a decisão do desejo em si. O acto completo tem uma fase seguinte, que se prende com a escolha dos meios para concretizar o fim e obter o bem: primeiro, temos de elencar esses mesmos meios – é a fase da deliberação ou concílio (consilio), a que se sucede o consentimento (consensu), que dará origem a uma escolha (eletione). O sétimo e último passo, o uso (usu), corresponde à materialização do acto em si, através do uso que é operado sobre o corpo e os objectos externos eleitos como meios
para a prossecução do fim.
São Tomás define que os actos voluntários (morais) têm sempre duas dimensões: uma
ssim sendo, é preciso perceber quais são os actos que são passíveis de ser eticamente testados. Somente, como dissemos, os que obedecem à
razão é que podem ser aqui integrados. Eles obedecem a uma vontade e por isso, são chamados de voluntários. É preciso então agora perceber quais é que podem ser chamados de voluntários e os que devem ser descartados por serem involuntários. Poderoso observador da realidade que o circunda, S. Tomás de Aquino defende que mesmo os actos voluntários nunca são totalmente voluntários. Eles resultam de uma vontade, mas esta vem afectada de uma série de circunstâncias, influências, imponderáveis. Mais uma vez, a sua ética é pragmática, é voltada para a praxis, não para o deleite estéril de intelectuais.
A
45
Os actos têm sempre duas dimensões, dois gémeos inseparáveis
externa e outra interna. A partir do momento que a vontade se define, determina o que há a fazer para concretizar o fim desejado – este é o acto interno ou a dimensão interna do acto. As acções externas (o usu), que vão ser realizadas nesse sentido, correspondem à dimensão externa do acto. É sobre a primeira que recai, antes de mais, o valor moral da acção, visto que a segunda é determinada pela primeira. Porém, para S. Tomás de Aquino, ambas as dimensões são importantes, pois como diz a vox populi, “de boas intenções, está o Inferno cheio”. Não basta intencionar querer fazer o bem. É necessário efectivamente fazê-lo.
Para o nosso autor, existem quatro claras influências externas que podem interferir nos nossos actos e que podem causar dúvida quanto à voluntariedade dos actos: a violência, o medo, a concupiscência e a ignorância. É necessário perceber em que medida é que um acto é voluntário ou não, sob a influência de cada uma delas.
Sendo que a vontade “não é senão uma inclinação que procede de um princípio interior dotado de conhecimento”14 e sendo a violência, de natureza externa, ela não pode afectar a vontade em si. Assim, dependendo do grau da violência, ela pode afectar e transformar o acto, mas será sempre contra a vontade interior, tornando o acto involuntário.15
Já enquanto a violência constitui a coacção física, o medo corresponde à coacção moral. Quando alguém me coage com uma arma a fazer alguma coisa, por exemplo, como o próprio enunciado indica, eu estou a ser forçado a fazê-la. Eu estou sob uma influência, fazendo com que o acto seja considerado misto, isto é, tendo parte voluntária
e parte involuntária. Em última instância, o verdadeiro agente do acto não é quem o executa, mas que coage a que seja executado. Porém, quem o executa, executa-o por sua vontade, tendo em conta o evitar de um mal maior (nomeadamente, o ataque à sua integridade). Assim sendo e contrariando Aristóteles e S. Gregório de Nissa, S. Tomás de Aquino considera estes actos voluntários. Lembremos, porém, que isso não é ainda uma declaração do valor contido neles, apenas que eles podem ser avaliados como sendo bons ou maus – já que, recorde-se, só os actos voluntários é que são passíveis de ser analisados a esse nível.
Quanto à concupiscência e contrariamente ao que os vitimados pelos seus vícios apregoam, ela não constitui uma excepção à vontade: na realidade, ela age alterando a vontade, inclinando-a e até ampliando-a, para que prossiga o desejo do vício. Desta feita, os actos produzidos sob o
efeito da concupiscência são voluntários, logo, moral e eticamente observáveis. Ainda que possamos argumentar que, depois de estarmos viciados e mesmo querendo deixar o vício, não o consigamos – logo, estando a ser forçados a algo – a verdade é que, tal como referimos em relação ao colocarmo-nos em situações em que possamos ser vítimas da acção de forças maiores, a decisão de ficarmos sob essa mesma influência recai sobre nós, logo, é voluntária, pelo menos, inicialmente.
Finalmente, a ignorância, quarta e última influência principal, é de uma natureza mais específica, exigindo uma atenção mais aprofundada: para começar, ela não afecta directamente a vontade – ela afecta o conhecimento sobre o qual construímos essa
46
A violência, como fonte de actos involuntários
mesma vontade. Depois, não é sempre igual. Nesse sentido, S. Tomás distingue três tipos de relações possíveis que se podem estabelecer entre a vontade e a ignorância: concomitante (quando independentemente de sabermos ou ignorarmos, prosseguiríamos determinada via); consequente (quando a ignorância parte de um desejo voluntário de se ser ignorante); antecedente (quando não é voluntária). Das três, apenas a última é fonte de actos involuntários, logo, que desculpabilizam eticamente o agente. No caso em particular da Ética Empresarial, João César das Neves dá um óptimo exemplo:
“Suponhamos uma empresa farmacêutica que lança um xarope que, sem ela saber, cria habituação nos doentes que ficam viciados nessa substância. A empresa afirma a ignorância desse efeito. Será que
ela tem culpa?Em primeiro lugar, é preciso saber se ela fez os testes necessários para avaliar a perigosidade desse medicamento. Se não o fez, a sua situação é de ignorância, mas é uma ignorância consequente, porque foi a empresa que se colocou nessa situação.Suponhamos também que ela fez todos os testes que seria razoável e legal fazer e, apesar disso, não foi possível detectar essa situação. Nesse caso o seu acto foi involuntário? Dois casos podem verificar-se. Se a empresa não sabia que o medicamento tinha esse efeito, mas se soubesse, tê-lo-ia lançado na mesma, porque o vício causado aumentaria as vendas, nesse caso a ignorância (concomitante) é meramente acidental. Se ela não existisse a acção tinha sido igual. Aí o acto, não é voluntário, mas
também não é involuntário. É apenas «não--voluntário».
O único caso em que a ignorância causa «involuntariedade absoluta» é quando a empresa não sabe, não tinha maneira razoável de saber e, quando sabe, rejeita o que fez e não o tornaria a fazer. Só nesse caso é que a responsabilidade não é sua. Isto pode não eliminar a sua responsabilidade
legal (…) mas anula a sua culpa moral.”
Daqui se subentende a natureza pessoal da Ética: só cada um é que pode dizer se o seu acto foi realmente bom ou mau, pois cada um é que sabe de si, das influências a que esteve sujeito, a intenção que tinha inicialmente, etc. A Consciência de cada um indicará a conformidade
do acto com o Bem supremo.
Um aspecto importante para compreender a sua proposta ética é ter em conta que o que faz uma pessoa ser boa ou má não é um acto isolado, mas a atitude mais recorrente dessa pessoa. Uma pessoa má pode ter um acto bom, sem que isso a transforme numa pessoa boa. O inverso, também. Extrapolando para o nosso campo da Ética Empresarial em particular, o bom gestor é aquele que, aplicando da virtude, consistentemente toma decisões correctas. A boa empresa é aquela é que é intrinsecamente bem-intencionada e, sendo congruente com as virtudes (os seus valores), é consistentemente boa no que faz: não só para si e para os seus accionistas, mas todos aqueles a quem a sua existência toca.
Isto porque, como acima dissemos, não basta querer o bem - é preciso querer e saber fazê-lo. Por isso é que associadas às virtudes, tem de vir necessariamente a prudência, que é o correcto saber-fazer. Este é o primado da Virtude, nas Gestões do Século XXI.
“Viver bem consiste de facto em agir bem. Ora para agir bem é preciso não só fazer qualquer coisa, mas fazê-lo como deve ser” 16
S. Tomás de Aquino, Suma Teologia, I-II 57, 5
47
O exemplo que S. Tomás utiliza não podia ser mais a propósito. Discorrendo sobre a justiça da prestação salarial, ele diz: “Por isso uma obra humana é dita ser justa quando está relacionada com algum outro por certa forma de igualdade, por exemplo, o pagamento de um salário devido por um serviço prestado”18. Aparentemente, a mais simples aplicação desta ideia seria aumentar o valor dos salários, mas isso não só não nos chega como estratégia, como pode revelar-se
paradoxalmente injusto. Afinal, a Justiça é a medida certa: ao fazer a correcção, poderia ser necessário aumentar o que está por defeito, mas também reduzir o que está por excesso.
Assim, a verdadeira estratégia passa por
perceber qual é o verdadeiro valor de cada um, dentro da empresa, e pagar o que equitativo por isso. Neste cálculo, passa a incluir-se não só tudo o que é feito efectivamente, mas também todo o potencial de conhecimento e criatividade com que cada pessoa pode enriquecer o património humano da empresa. Em última instância, isto passa por uma transformação do paradigma sob o qual o próprio trabalhador é visto, muito mais
ompreendido o contexto em que surge a Ética Aquiniana e por que moldes se espalha, resta-nos agora perceber de que modo é que a nova Gestão pela Virtude se debruça sobre a questão ética das empresas.
Central na nova Ética Empresarial é, como dissemos, o valor (a virtude) da Justiça. Segundo S Tomás, a Justiça possui, entre as várias virtudes, um carácter especial: para começar, ela procura a igualdade por sua própria natureza – logo, o meio-termo, a virtude – e por outro, é a única virtude cujo valor do acto é medido no acto em si, exteriormente, tendo nela muito menos relevância do que nas restantes, os desejos ou atitudes presentes ao acto17. Ou seja, a Justiça é uma virtude objectiva. Isso explica a importância que ela tem não só para as Ciências Económicas, mas para a nossa sociedade contemporânea, caracteristicamente racionalista.
C
53
A vida das empresas deixou de ser linear ou previsível
holístico e integrador.
Inevitavelmente, isto leva a compreender que o salário, por si só, não é a única forma em que a Justiça pode ser aplicada nas empresas. Ao percebermos toda a complexidade do ser humano – e os trabalhadores, são, antes de mais, pessoas – conseguimos perceber que existem muitas outras coisas que podem contribuir para criar um sentimento mais humanista do que o proporcionado pelas visões Taylorianas do Homo Economicus. A possibilidade de progressão de carreira, de variar actividades, viajar, aprender novas competências, o empowerment, podem ser tão ou mais gratificantes do que o simples incremento salarial. Mas um longo caminho ainda tem de ser percorrido.
Como dissemos na introdução, o campo da Ética Empresarial é recente e, portanto, ainda haverá muito terreno para desbravar e trilhar. Para ultrapassar a simples praxis moralizadora, o primeiro grande papel da Ética Empresarial, deverá ser, antes de mais, a ampliação do seu enfoque para novas problemáticas, mais complexas do que a simples crítica ao suposto liberalismo sem limites. Ainda que o “mito dos negócios amorais”, como lhes chama Richard DeGeorge, persista, as novas gestões mostram que dotar os negócios de humanismo e de civismo não é um simples acto de boa vontade, mas uma mudança de estratégia para uma gestão a longo prazo, logo, com resultados pertinentes para aquilo que é considerado o próprio objectivo último das empresa, até mesmo pelos tayloristas: o lucro. É nesta linha que surgem novos compromissos empresariais, como por exemplo a responsabilidade social.
Como entidades que são, as empresas não são ilhas. A partir do momento que se deu a saturação do mercado e passamos de uma economia de escoamento para uma lógica de mercado, os empresários começaram a perceber que a sua actividade envolve cada vez mais variáveis. De
igual modo, a organização que lideram aparece mais como um ser vivo (ainda que colectivo) que interfere e é influenciado pelo meio em que se insere. Isto implica a alteração de conceito, de sistema fechado e estático, para um sistema aberto e dinâmico. Mais: para a tomada de consciência da empresa como um organismo não só vivo, mas, como antes referimos, inteligente e proactivo.
As novas empresas são entidades que têm uma vida anímica, uma cultura e uma personalidade, logo, podem – devem – ser dotadas de uma ética. Isto porque se tal é válido para o indivíduo, que na sua maioria tem um limite de acção bastante reduzido, mais ainda é para as empresas, cuja dimensão, foco e natureza determinam um impacto ainda mais profundo nos seus respectivos meios. A mudança de paradigma do atomismo individualista (preconizado por Adam
Smith, que interpreta a economia como o resultado de transacções entre indivíduos) para a ideia de cultura – logo, de colectivismo e de cooperação - seja ela interna à empresa ou entre esta e outras entidades (elas próprias colectivas ou individuais) coloca-nos na senda de uma nova perspectiva de pensar a actividade empresarial.
Assim, o seu objectivo deixa de ser simplesmente o obter lucro, para se desdobrar e alargar numa panóplia de novas metas e novas formas de avaliar o sucesso, para além do ROI. Efectivamente, uma empresa não é só uma «máquina de fazer dinheiro», mas é também um dinamizador da economia e um proporcionador de postos de trabalho. De igual modo, pode ser um local de aprendizagem e crescimento pessoal. Basta que lembremos que a maioria da população activa passa pelo menos um terço da sua vida em contexto laboral. Para além disso, o impacto que pode ter – que pode ser negativo ou positivo – não se limita às esferas económicas ou sociais, mas também, por exemplo, ecológicas.
54
As empresas não são só máquinas de fazer dinheiro
e os fornecedores, assim como a comunidade envolvente e a sociedade no seu conjunto.” Sob este conceito, os accionistas aparecem apenas como mais uma sub-classe deste conceito mais lato, isto é, daquilo que ele apelida de stakeholders. Esta nova abordagem tem a virtude de permitir expandir o âmbito da empresa, sem perder de rumo os seus interesses económico-financeiros. Na senda do meio-termo aristotélico, a empresa não é nem uma obra de caridade, nem uma entidade anti-humana, antes pelo contrário.
Pode ser um local que contribui para a felicidade e o desenvolvimento de cada um, ao mesmo tempo que persegue os seus objectivos financeiros.
Desta feita e quando falamos em Ética Empresarial, por uma questão de organização de pensamento, devemos atender sempre a, pelo menos, duas realidades:
por um lado, devemos considerar a forma como a própria
organização trata os seus funcionários e o papel que o individuo tem na empresa - portanto, a componente interna da empresa - e depois, como a própria empresa se posiciona face ao meio ambiente, às leis, à concorrência, à sociedade - isto é, tudo o que acaba por ser-lhe externo, mas que tem impacto sobre a sua realidade e vice-versa. Como poderemos ver mais à frente, esta divisão queda-se cada vez mais artificial
13 de Setembro de 1970 Milton Friedman publica um artigo bombástico sobre a ética empresarial: “A Responsabilidade Social dos negócios é aumentar os seus lucros”.
Nele, Friedman, prémio Nobel da Economia, denuncia os gestores como reféns dos interesses dos accionistas (stockholders) e as empresas enquanto entidades com responsabilidade social, apenas do ponto de vista do impacto que isso pode trazer para elas em termos de relações públicas, isto é, não a partir de uma postura orgânica em relação à responsabilidade social, mas sim, instrumental (com um objectivo).
Friedman alerta, porém, para o facto que a empresa é o cruzar de uma série de planos de existência, logo, ser necessário ter em conta mais do que somente os accionistas, mas “todos os que são afectados e que têm direitos e expectativas legítimas em relação às actividades da empresa, o que inclui os empregados, os consumidores
A
57
As empresas resultam do cruzamento de um cada vez maior número de planos
e inapropriada, sendo, acima de tudo, teórica. Num mundo em que as barreiras entre o “dentro” e “fora da empresa” se diluem cada vez mais, a tendência é esta esquematização ser apenas meramente orientadora. Iremos, contudo, iniciar
a nossa análise partindo desse paradigma, para rapidamente percebermos a sua derradeira ineficácia.
Estamos a assistir ao nascimento de um novo paradigma
58
Assim, a Responsabilidade Social não é só uma, mas pode espraiar-se por diferentes temáticas, desde a protecção dos recursos naturais e o respeito pelo meio ambiente (sustentabilidade), comprometendo-se a reduzir a pegada biológica (impacto ecológico da actividade da empresa) a níveis mínimos, até à definição de regras de concorrência e princípios que devem assistir às relações entre os players de um mesmo contexto empresarial. As suas preocupações podem também prender-se com a protecção às artes, pela curadoria, o mecenato, o patrocínio
(nomeadamente, de eventos desportivos, por exemplo), etc. Ou ainda, por questões sociais, envolvendo-se no combate a flagelos, como manifestações epidémicas e o apoio à investigação, ou dedicando-se a causas de sensibilização, como o combate à exclusão, a promoção do acesso à educação, etc. Podem ainda
promover o desenvolvimento da sua área de actuação, elevando os padrões de exigência de desempenho e até a transparência e a hombridade com que se faz negócios no seu ramo.
As possibilidades são infinitas e nem temos a ilusão de acreditar que esgotamos aqui o tema. Esperamos, porém, ter apresentado um bom leque de escolha. Tal como a Ética de S. Tomás de Aquino, as circunstâncias esclarecem o que é
o mundo empresarial, particularmente, da sua ética, uma das buzzwords mais recorrentes é a chamada “Responsabilidade Social”. Em termos práticos, ela traduz-se pela assunção
da empresa do seu papel na sociedade em que se insere. A empresa compreende, antes de mais, que o meio de que faz parte, é constituído por várias vertentes, sejam elas sociais, ecológicas, económicas, legais ou quais quer outras que se possam pensar, que sejam relevantes, não somente financeiras ou económicas.
Em segundo lugar, assume que o sentido de interacções entre a empresa e estas várias dimensões do seu meio são bidireccionais. Isto implica uma terceira assunção: ambas as realidades – empresa e meio – interferem mútua, constante e reciprocamente. Logo, o meio deixa de ser visto, pela empresa, como uma simples fonte de recursos (energia, informação, capital, colaboradores, matérias-primas, etc…). Além de naturalmente ter este aspecto em consideração, a empresa passa a incluir, nas suas preocupações, o impacto que ela tem no seu meio.
N
61
As empresas são, antes de mais, relações
certo fazer para cada empresa, em dado momento da sua vida. Não existem receitas: a empresa, naturalmente, inclinar-se-á para as causas que lhe pareçam mais lógico apoiar.
Não nos podemos esquecer de um factor muito importante, especificamente do ponto de vista socioeconómico: as empresas dão emprego, logo,
promovem o desenvolvimento da económica. Mais ainda, podem ser locais de crescimento pessoal e aprendizagem. Nesse aspecto, as próximas páginas abordam a questão do impacto que internamente a empresa pode ter e como a Liderança – particularmente a Liderança Transformacional – podem contribuir para isso.
62
As empresas podem ser locais de crescimento pessoal e aprendizagem
é pois de estranhar que surja uma citação como a seguinte, do criador do paradigma da gestão moderna, Peter Drucker:
“Para as organizações, é mais importante hoje do que há 50 anos atrás prestar atenção redobrada à
saúde e bem-estar das pessoas”.
Ora a nova lógica empresarial incorpora esta noção de saúde e bem-estar na sua genética, como à frente poderemos constatar. Para ela, a saúde dos seus funcionários é uma condição sine qua non da saúde organizacional e vice-versa21.
Não podendo deixar de nos reportarmos para a própria definição de saúde, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), esta representa “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças”22. Este bem-estar, acrescentamos nós, não poderá deixar de ser não só físico, mental e social, mas também ético.
entro da problemática da segunda parte deste binómio, parece-nos interessante socorrer-nos de Manuel Pinha e Cunha e Arménio Rego, autores em cujo livro, “L. I. D. E. R. A. R.”19, é amplamente
desenvolvido esse conceito das organizações/empresas éticas, exemplar da nova perspectiva que as ciências empresarias tomam da realidade organizacional. Pegando na noção das organizações autentizóicas20 de Ket de Vries, eles elaboram o quanto vivemos numa época de mudança de padrão: de um sistema burocrático, de organizações complexas para pessoas simples, gradualmente a passar para um sistema democrático, de organizações simples para pessoas complexas. No último capítulo do seu livro, não
D
65
Em cada país cabe-nos perceber as razões que levam a esta atitude, mas, por exemplo, no caso dos EUA, isto deve-se em grande parte ao alargado preconceito ali patente contra a ideologia comunista, resultado de décadas de condicionamento propagandístico – ele próprio uma contrapropaganda – pois estas ideias mais igualitárias eram normalmente veiculadas em meios desta inclinação política. Por osmose, criou-se uma natural desconfiança no meio empresarial perante este tipo de discurso. Para alguns empresários Americanos originários pela Guerra Fria, este tipo de paradigmas soam demasiado a sindicatos, logo, a greves.
A realidade parece, contudo desmentir o preconceito: segundo Cabrera e Bonache, “não é impossível gerir bem as pessoas e ganhar dinheiro acima da média. […] Afortunadamente, existe já um elevado número de estudos empíricos que demonstram com fiabilidade que os investimentos tendentes a melhorar a gestão das pessoas nas organizações
podem gerar retornos financeiros tangíveis.”23
Estas novas organizações, que preconizam a passagem da indústria da força para a indústria do intelecto, acabam por ser uma consequência expectável das alterações da própria natureza
Como bem referem os autores, a ideia de democracia – isto é, da participação das pessoas (Demo) na criação de regras (Kratos) é uma ideia vincada na maioria das sociedades ocidentais. Paradoxalmente, porém, na grande
maioria do mundo empresarial, vive-se uma realidade distinta dessa visão sociocultural. Como se fosse um ecossistema à parte, a empresa funciona ainda como um mundo em que o patrão, o líder, o gestor é rei e senhor e o funcionário é um mero executante.
Este tipo de mentalidade é particularmente marcada em culturas como a Portuguesa, com grande diferença de níveis de autoridade e alto respeito pelas patentes mais elevadas, pelo cargo, pelo título. Mas mesmo em sociedades como a Americana, muito mais avançada em termos da dinâmica empresarial, existe ainda o preconceito de que uma empresa mais democrática seja incompatível com a noção de eficácia – prossecução de objectivos (lucro).
C
69
Demo + Kratos
do trabalho e das exigências que o mercado da procura impõe: constituídas por aquilo que Toffler24 designa por cognitários (empregados do conhecimento), estas novas unidades empresariais requerem uma passagem de paradigma de “comando e controlo” para um de uma realidade mais plural, flexível, inclusiva, democrática e em que os vários aspectos da personalidade de cada trabalhador, mais ainda os seus vários talentos, são tidos em conta, e em que os cuidados e a preocupação com estes acabam por ser valores da própria estratégia empresarial.
Isto porque, com o referido incremento tecnológico, sobram cada vez mais apenas as funções mais intelectuais, com as máquinas a representar o grosso do trabalho braçal – que, para além do seu alto grau de perfeição, eficácia e eficiência, não requerem pausas, graves, ordenados, direitos, etc. Aquilo que as máquinas ainda não podem fazer é aquilo pelo qual os humanos são mais valorizados: pela sua capacidade de relacionar elementos díspares e de contextos diferentes (pensamento oblíquo), pela sua capacidade de tomar decisões e ser criativos e, curiosamente até, pela sua capacidade ética – uma máquina não pensa: só toma decisões baseadas em axiomas que lhe são dados. Não consegue, além disso, ponderar a decisão, ao contrário do humano que a cria. Por isso, o ser humano permanece insubstituível nessas funções. Nesse aspecto, continua a ser mais valorizado quem mais proficiência demonstra dentro dessas capacidades.
A mudança de paradigma não é uma simples mudança ao nível do que passou a ser valorizado em detrimento do que era até então: com a libertação do Homem das tarefas mais físicas e com a consequente valorização de todo o seu potencial intelectual, é o próprio desempenho das empresas que sofreu um incremento: como acima se disse, e por mais surpreendentemente que ainda possa parecer, depois do já exposto, estas empresas estão a demonstrar melhores resultados que as empresas tradicionais, ainda a trabalhar no paradigma anterior.
Uma boa forma de explicar o fenómeno passa logo por este facto: a empresa que oferece melhores condições é aquela que consegue não só captar os melhores funcionários – e mantê-los – como levá-los mais longe, isto é, fazê-los dar aqueles passos extra que fazem toda a diferença
junto do cliente. Também são empresas que acabam
por estar mais atentas às mudanças do meio, pois ao contrário de se refugiarem numa lógica hierárquica descendente, privilegiam o diálogo omnidireccional, que favorece a troca de informações, ideias, etc. Isto permite à empresa, graças ao voluntarismo e aos inputs daqueles que trabalham directamente com o cliente e com o produto, não só melhorar os seus produtos e serviços, como explorar novas oportunidades de negócio, logo, tornando-as exponencialmente mais competitivas.
70
Os trabalhadores podem ser robota, mas não são robots: são pessoas
para consigo mesmos e perante os outros”(sic)25.
Estes autores, no entanto, fazem constante referência, na sua obra, à questão da adaptação: quando se fala, por exemplo, em empoderamento, há que ter em conta a própria cultura empresarial de cada país. É aqui que vemos, claramente a questão do bem ser relativo ao contexto, como já S. Tomás de Aquino nos tentava lembrar: existem países em que o empoderamento não funciona, pois as pessoas lêem essa atitude do líder como incompetência e laxismo da parte dele; mais ainda, não se sentem confortáveis com ter de
tomar decisões por si, pois a isso não estão habituadas. Aliás, são patentes os conflitos daí resultantes entre os pares, por falta de hábito na gestão da diferença de opinião. Uma mudança da ética empresarial tem de vir, pois, necessariamente, acompanhada de uma mudança cultural que consiga acolher estes novos valores.
is o porquê da democratização empresarial ser cada vez menos opcional. Por imposição do próprio meio e desenvolvimento da organização, ela resulta, logo à partida, da modificação da natureza do trabalho: sendo de cariz cada vez mais intelectual,
a empresa não pode nunca garantir que o funcionário está a usar o seu potencial máximo, ficando à discrição deste aplica-lo em maior ou menor grau, segundo a sua motivação pessoal (acrescentemos, a sua ética). Cabe pois, à empresa, estabelecer condições motivacionais para os funcionários, a partir de um diálogo constante entre as partes: baseada numa relação adulto-adulto, em que a liberdade de uns não é conseguida à custa dos direitos de outros, a dinâmica entre os pares e entre estes e a empresa implica que todos tenham “direitos e obrigações
E
73
Esquema de Cunha & Rego
Cunha e Rego sublinham, a cada passo, o papel dos líderes – principalmente os novos líderes transformacionais – em dotar as organizações de uma estrutura ética, por todo o papel que desempenham na empresa, pelas políticas de remuneração e avaliação de desempenhos, pela forma como realizam processos de downsizing, por exemplo e, acima de tudo, pelo seu exemplo de conduta, na forma como se vêm e ao seu papel na organização e a maneira como interagem com os que lhe são directamente dependentes.
A complexidade e variedade de tipos que fazem parte do corpo de trabalhadores da empresa
não deve ser temida, mas, pelo contrário, abraçada, pois ela é a base da diversidade, da criatividade e, como tal, da tão desejada competitividade. A abertura dos mercados, incluindo dos mercados de trabalho, configura então o desafio para essas novas lideranças: manter este novo tipo de classe laboral diverso
e complexo, satisfeito, motivado, empenhado, para o manter ao seu
serviço.
ão obstante o acima referido, até com o avanço das novas tecnologias, que alteram a lógica inerente a tudo o que nos rodeia, incluindo a vida empresarial, a tendência é cada vez menos para a coexistência de
grandes grupos culturais, do que para uma «uniformização na diversidade», isto é, para uma diluição das diferenças macro-culturais, sociogeográficas, para uma cultura global única (com adaptações locais, obviamente), mas uma em que a diversidade passa a assentar na identidade ao nível do núcleo individual. O indivíduo é cada vez mais a únidade de merdia e o cruzamento entre vários grupos dos quais ele faz parte e dos quais carrega em si um palimpsesto de valores, que adquire ao pertencer a esses mesmos colectivos. É esta a complexificação dos indivíduos de que se falava acima. Ela representa o cerne do grande desafio para as novas lideranças.
N
77
A nova Globalização é cibernética: o mundo está à distância de um clique
poder negocial, isto é, de escolha, dentro de um mercado de trabalho eventualmente limitado. Daí o esforço constante na questão da formação intelectual e profissional das populações de países estrategicamente orientados.27
Um outro aspecto que a globalização desencadeia é a instabilidade empresarial actual. Imediatamente ocorre-nos a questão da competitividade entre empresas, com as famosas
guerras de mercados, como, por exemplo, em Portugal, o sector das Telecomunicações. Contudo, a questão da instabilidade empresarial de longe se esgota aí: quer pela facilidade com que empresas se formam e desaparecem, nos dias de hoje, quer pelo facto que contratar e despedir pessoas ser cada vez, globalmente, mais simples, o sentimento de lealdade para com a empresa e o paradigma da “empresa para a vida” e até mesmo de carreira28, desaparecem gradualmente. As pessoas já
não se apegam tão facilmente a uma empresa – que aqui, é o mesmo que dizer, uma ideia ou um ideal – e, como tal, não dão o seu máximo ao desbarato – quando, mais uma vez, são qualificadas e têm esse poder de negociação. .
mão-de-obra, bem como as próprias empresas (em que o exemplo máximo são as empresas ultra-desmaterializadas, de serviços online), deslocam-se cada vez mais
facilmente. Se a minha empresa é meramente um serviço online, eu posso ter os meus escritórios em qualquer lugar e mudar a minha sede fiscal, cada vez mais facilmente, para onde o enquadramento me seja mais favorável.26 Isso implica maior competitividade em termos da procura de trabalho. Os funcionários do século XXI percebem que têm de ser multidisciplinares e adaptativos, pois já não competem apenas localmente, mas com todos os restantes trabalhadores de competências semelhantes, no mundo. Em contrapartida, por causa desse mesmo esforço, tornam-se indivíduos mais valiosos. Sabendo do seu valor, podem escolher. Quanto maior a especialização de alguém, maior o seu
A
81
O admirável mundo novo exige agora uma gestão estocástica (do Caos)
Esta instabilidade de estatuto, no global, exige flexibilidade da parte dos trabalhadores não só para se deslocarem geograficamente, mas também para áreas intelectuais distantes da sua habitual zona de conforto. Como já foi referido por outros, o grau de especialização a que chegamos (adivinhado por Adam Smith, logo de início) faz com que o conhecimento seja distribuído, actualmente: ninguém, neste mundo, nos dias de hoje, tem conhecimento para construir um computador. Aliás, nem para fazer um simples lápis: o trabalho que exige de criar uma árvore, cortá-la, seleccinar madeiras, preparar a grafite, juntar as peças, etc. não é resultado exclusivo do esforço individual de ninguém, mas de uma sociedade em geral, que usufrui comunalmente da resultante.
No entanto, eles existem e resultam da combinação de uma alucinante variedade de conhecimentos especializados. Ao contrário do que possa parecer, este fenómeno da especialização extrema não torna as pessoas substituíveis: na realidade, o conhecimento de cada um é cada vez tão mais específico, que caminhamos para uma sociedade de especialistas. Esta exigência de ter uma capacidade que nos distinga está a criar uma pressão adicional para os trabalhadores, obrigando-os a procurar a sua valorização constante Isso faz com que se possa dizer, com garantia, que
“Os novos analfabetos do próximo século [este, século XXI] não são aqueles que não sabem ler ou
escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender”
Alvin Toffler
82
A mente humana é o mecanismo mais complexo. O Homem ganhou um novo valor no novo paradigma: ele é a derradeira máquina insubstituível: num mundo caótico, só a mente humana, com toda a sua subjectividade e
imperfeição, é que consegue tirar partido da Existência.
as creches integradas nos locais de trabalho, as licenças de maternidade alargadas) assim como o recurso a estratégias de horário flexível ou repartidos ou até ao teletrabalho alavancado, sob o recurso das novas tecnologias, são outros bons exemplos; algumas empresas distribuem uma parte dos lucros pelos funcionários, como bónus-surpresa, outras, levam a ideia de pertença mais longe, a um patamar mais literal, distribuindo acções tituladas pelos funcionários, para que eles sintam que o projecto empresarial efectivamente também é seu.
Esta mudança de atitude resulta da mudança da percepção do que é o trabalhador: ele deixa de ser considerado “activo” ou “recurso (humano) ”, para ser visto como investidor (do seu tempo, dos seus talentos, etc) no projecto, diluindo, tal como já deixavamos a adivinhar, me menções anteriores, a lógica da divisão interior/exterior
até aqui preconizada e de que nos servimos até aqui, nesta exposição.
A ideia da empresa como uma realidade fechada e delimitada do meio exterior desaparece, para dar lugar a estruturas mais fluídas, quer em termos de tempo, quer em termos de espaço. Na sua
omo dissemos, a nova lógica não implica pois, apenas melhores condições tangíveis de trabalho, mas também novos comportamentos, assentes em confiança mútua (como em qualquer outra relação que
se estabeleça), tratamento digno, respeito mútuo e o valor de justiça ou, pelo menos, equidade, nas decisões que são tomadas.
Isto pode passar por escutar a opinião das pessoas que trabalham na empresa, especialmente quando estão envolvidas decisões que podem impactar negativamente a vida delas, mas não só; o reforço da estrutura informal da organização (com actividades fora da empresa) pode criar um forte sentimento de pertença, como as empresas-clã do Japão, por exemplo; o respeito pela dimensão pessoal do funcionário e até o apoio efectivo à sua componente familiar (como, por exemplo,
C
85
Empresas como a Google (na imagem) mostram que o novo paradigma humanista não é minimamente incompatível com uma
gestãod e sucesso - bem pelo contrário
recente conferência no XIV Congresso Nacional de Marketing, a que tivemos o prazer de assistir, Miikka Leinonen, a propósito do seu livro (a lançar) “Melt” chama à atenção para a crescente desmaterialização do nosso mundo empresarial, tendo em conta os recursos ilimitados apresentados pelo mundo imaterial, contra a escassez orgânica do mundo material. Leinonen, na vanguarda, propõem entidades empresariais em que exista um equilíbrio cada vez maior entre estas duas realidades, a material e a imaterial, de modo a que os dois mundos se fundam (melt) num só, exemplar de uma nova forma de pensar o mundo dos negócios.
Em vez do padrão antigo, passamos então para a percepção da realidade empresarial através não dos interesses de alguns (os accionistas, a gestão e liderança, etc), mau grado limitações impostas por entidades reguladoras (sindicatos, organizações ambientais, Governo, etc), mas em função dos interesses de todos os stakeholders.
Nesta nova lógica, as empresas podem ter dois tipos de posicionamento: instrumental (fazem porque serve algum propósito), que acaba por ser castigado pela “mão invisível dos mercados”
de Drucker, ou autêntico – não se trata de um conjunto de opções isoladas que a empresa toma, mas o resultado do próprio DNA da empresa, que se pauta por determinados valores.
Nestes valores (as virtudes Aquinianas), a empresa inclui critérios como a sustentabilidade e a responsabilidade social. As empresas deixam de ser ver como uma entidade à parte do mundo, do qual retiram os recursos para a sua actividade – onde o mundo e os mercados são vistos quase como um aterro dos seus produtos comerciais e dos subprodutos da sua actividade – mas como um elemento integrado na sua paisagem
biológica, histórica, geográfica, cultural e, claro, ética. As empresas continuam a retirar o que necessitam do meio e a escoar nesses mercados o seu produto, mas fazem-no, agora, com outro tipo de postura: procurando contribuir positivamente para o ecossistema sociobiológico
do qual, no fundo, depende a sua própria subsistência. Tudo isto assenta na ideia do propósito partilhado – a harmonização dos objectivos de todos, por um bem comum.
86
Sustentabilidade
que surge o apelo para uma nova ética que a todos una e conjugue, para um bem comum, que a todos sirva.
Este trabalho teve a vantagem de me revelar o valor de alguém que não conhecia, mostrando-me a actualidade do seu raciocínio. S. Tomás de Aquino é efectivamente uma referência incontornável, não só da Ética, mas da própria cultural Ocidental, onde nos inserimos. No
advento da nova Gestão pela Virtude, ele poderá ser o terreno fértil onde se poderá desenvolver uma nova Ética Empresarial, ao serviço de uma economia liberal mais conforme o respeito do Bem Maior.
Convém voltar a lê-lo. Ele continua disponível, ao fim destes séculos todos.
um mundo globalizado, em que várias culturas se entrechocam, interpolando os seus sistemas de valores, não podemos deixar de sentir uma certa instabilidade
característica de tempos nihilistas em que tudo é tomado por uma tendência demasiado natural para o relativismo. Tal como no tempo da queda da cultura Helénica ou no fim do Império Romano, o fim de um ciclo prenuncia o início de outro. É na crise de valores
N
89
Um novo homem está a chegar
Notas
1 Vide Aristóteles, Política, Livro I2 Veja-se, por exemplo, a questão do propósito da Ética: o seu objectivo não é explorar a natureza da Virtude, mas fazer-nos virtuosos, do mesmo modo que o objectivo da Medicina não é compreender a saúde, mas fazer-nos saudáveis.3 Aliás, a sua Lógica acabaria por ser integrada nos primeiros estudos contemporâneos, com a mesma frescura como se tivesse sido escrito nessa altura.4 Confira-se, por exemplo, a passagem da “Ética a Eudemo”, Livro III, sobre a magnanimidade: “Mas quem é digno de pequenos bens e se julga habilitado aos grandes é reprovável (pois é insensato, e não é belo obter o que não cabe ao seu mérito); é igualmente censurável quem, merecendo os bens que lhe pertencem, não se julga digno de neles ter parte. Resta, então, o contrário desses dois casos: o homem que, sendo digno de grandes bens, deste se julga merecedor, e é tal como justamente se julga. Este é louvável e o meio-termo entre eles.”
5 Suma Teologia I-II 94, 2 6 De Veritate 17, 1, 47 Um problema muito presente nas discussões éticas da sua época: o homem que tem de escolher entre seguir uma consciência que lhe diz para fazer o mal ou desrespeitá-la e assim, por tal desrespeito, fazer o mal, igualmente.8 Comparar com as virtudes que Aristóteles aborda, nas suas Éticas: de um modo extenso, coragem, temperança, mansidão e magnanimidade, e depois, uma vez estabelecida uma lógica e já de um modo mais sucinto, temas como a justiça, o pudor, a amizade e a jovialidade. 9 Livro I, 1, p. 210 Suma Teolologia, livro I-II, 1, 111 Introdução à Ética Empresarial, Capítulo 2, “A Ética de S. Tomás de Aquino”12 Suma Teologia I, 2 – prólogo. Os parêntesis e sublinhado são nossos.13 Suma Teologia 1, 2 – Não obstante ser perfeitamente natural que ele incluísse outras criaturas, como por exemplo os Anjos.14 Suma Teologia I-II 6, 4
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
92
15 Não obstante haver situações em que voluntariamente nos colocamos em situações que nos constrangem, que podem alterar esta perspectiva: se eu provocar alguém violento ou não me precaver contra uma força maior, enquanto posso, reduzindo-me, posteriormente à sua inevitabilidade, eu tenho responsabilidade sobre a violência sob a qual o meu acto decorre, pois estas decisões partiram igualmente de inclinações interiores, vontades minhas. Logo, não sendo actos directamente voluntários, resultam de vontades minhas que conduzem a este resultado, logo, indirectamente voluntários e, portanto, passíveis de avaliação ética.16 Sublinhado nosso17 “Ao contrário, a matéria da Justiça é uma actividade exterior que, por ela mesma ou pela realidade que ela emprega, implica uma justa proporção com outro. É portanto na igualdade da proporção dessa realidade exterior com outro que consistirá o justo meio da Justiça. Ora a igualdade tem realmente o meio entre o mais e o menos. O justo meio da Justiça tem portanto um carácter objectivo” in Suma Teologia II-II 58, 10.18 Ibidem II-II 57, 119 Miguel Pinha e Cunha/Arménio Rego (L. I. D. E. R. A. R. – os sete trabalhos do executivo para uma liderança eficaz), D. Quixote, 200920 Organizações transparentes, autênticas e pró-vida – sejam a vida biológica dos ecossistemas com os quais a actividade da empresa interfere, seja a dos seus funcionários, dos seus clientes, etc.21 Cunha/Rego, op. cit. 22 In Preâmbulo da Constituição da OMS23 Cabrera e Bonache (p. 6). Confira também o estudo de 2001 da Comissão Europeia sobre o tema. Pioneira sobre a matéria, a Comissão Europeia lançou, em 1994, uma directiva para a criação de órgãos de informação e consulta aos trabalhadores de empresas ou grupos de empresas comunitárias (http://europa.eu.int/eur-lex/pt/consleg/pdf/1994/pt_1994L0045_do_001.pdf). É de salientar que muitas empresas, das quais destacamos a General Motors e a Heinz, não só acolheram estas medidas, como ultrapassaram, em larga medida, os seus requisitos mínimos. Como denota um artigo de Szabo, “The Germanic Europe Cluster: Where Employees have a voice” (2002), é nos países ditos Germânicos – exemplos de produtividade e eficiência – como a Áustria, a Alemanha e a Holanda – que se verifica uma postura de economia social amplamente demarcada: uma maneira de concretizar a economia tendo em conta as obrigações quer do Governo, quer dos sindicatos e das empresas, tendo em vista a manutenção do referido bem-estar geral e da justiça social nas relações laborais. Sob esta luz, não é de estranhar o baixíssimo número de greves nestes países. 24 In “Os Novos Poderes”, 199125 Cunha/Rego 2009, op. cit.26 Veja-se, a propósito, por exemplo, o polémico caso da transladação fiscal de algumas empresas Portuguesas, da qual o caso da Jerónimo Martins é paradigmático.27 Refiro aqui o exemplo de países como o Brasil e a Índia, dos mais bem considerados entre os BRIC, que realizam esforços consistentes em aumentar a escolaridade e competências da população, com medidas de acesso a todos ao ensino superior, incluindo em universidade estrageiras.28 Com pessoas a fazerem completos turn-overs aos 40 ou 50, idades em que, para o mercado do paradigma antigo a pessoa se não estava já na pré-reforma, estava, pelo menos, já estagnada.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
93
96
fontes
AQUINO, S. T. DE – Suma Teologia http://sumateologica.wordpress.com/download/
ARISTÓTELES – (1252) - Política. http://www.elivrosgratis.com/download/357/politica-aristoteles.html; (2005) - Ética a Eudemo. Lisboa: Editora Tribuna; (2012) - Ética a Nicómaco. Lisboa: Editora Quetzal
CABRERA, Á. & BONACHE, J. - (2002) - Recursos humanos y ventaja competitiva. In J. Bonache & Á. Cabrera (eds.), Dirección estratégica de personas. Madrid: Financial Times/Prentice Hall
NEVES, J. CÉSAR DAS NEVES - (2008) - “Introdução à Ética Empresarial”. Parede: Principal Editora
GARFINKEL, PERRY/KAUFMAN, BRIAN PAUL/OUTROS - (1998) Saiba impor respeito. Mem Martins: Lyon Edições
PINA E CUNHA, M. & REGO, A. – (2005) - L. I. D. E. R. A. R. – Os sete trabalhos do executivo para uma liderança eficaz. Alfragide: Edições Dom Quixote
PLATÃO – ´(1997) A República. São Paulo: Editora Nova Cultura, Lda. http://www.portalfil.ufsc.br/republica.pdf
SPROUT, ROBERT HENRY - (2003) - Ética Empresarial - A Gestão da Reputação. São Paulo: Editora Campus
TOFFLER, A. - (1991) - Os Novos Poderes. Lisboa: Livros do Brasil
http://criticanarede.com/fil_eticaempresarial.html
http://espectivas.wordpress.com/2008/09/12/a-etica-segundo-s-tomas-de-aquino/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
Índice
98
2ª Parte - S. Tomás de Aquino
3ª Parte - Gestão Pela Virtude
1ª Parte - Das Origens 3
25
49
Introdução
A Matriz de S. Tomás de Aquino
Vida de Aristóteles
Princípios da Ética de Aristóteles
A Decadência
6
10
14
18
22
Curta Biografia de S. Tomás de Aquino
Princípios Básicos da Ética de S. Tomás de Aquino
A Teoria do Bem em S. Tomás de Aquino
A Mecânica dos Actos
A Nova Ética Empresarial
De Stockholders a Stakeholders
Responsabilidade Social
A Ética Empresarial «De Dentro Para Fora»
As Empresas Democráticas
Um Novo Paradigma
A Globalização
A Transmigração das Almas
A Nova Lógica
Conclusão
28
32
38
44
52
56
60
64
72
76
80
84
88
68
Notas 92
Fontes 96