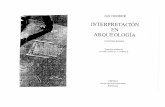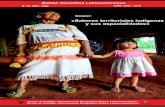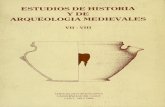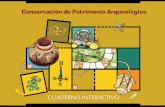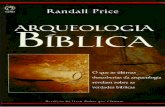Revista Arqueologia Pública 4, 2011 Arqueologia participativa, indígenas
Transcript of Revista Arqueologia Pública 4, 2011 Arqueologia participativa, indígenas
P Ú B L I C AA R Q U E O L O G I A
EDITORESAline Carvalho (LAP/NEPAM/UNICAMP)Pedro Paulo A. Funari (LAP/NEPAM/UNICAMP)
COMISSÃO EDITORIALAna Pinon (Universidad Complutense de Madrid, Espanha)Andrés Zarankin (UFMG)Erika Marion Robrahn-González (Documento - Patrimônio Cultural, Arqueologia e Antropologia Ltda)Gilson Rambelli (LAAA / NAR / UFS)
Lúcio Menezes Ferreira (UFPel) Nanci Vieira Oliveira (UERJ)Pedro Paulo A. Funari (NEPAM/UNICAMP)Charles Orser (Illinois State University, EUA)
CONSELHO EDITORIALBernd Fahmel Bayer (Universidad Nacional Autónoma de México)Gilson Martins (UFMS)José Luiz de Morais (MAE/USP)Laurent Olivier (Université de Paris)
COMISSÃO TÉCNICAGabriela Berthou de Almeida
Marcos Rogério Pereira
PROJETO GRÁFICOLuiza de Carvalho
S U M Á R I OEDITORIAL
ARTIGOS Arqueologia, Educação e Museus: uma proposta para estágios em História Lúcio Menezes Ferreira, Diego Lemos Ribeiro e Jaime Mujica Sallés
Arqueologia Participativa: uma experiência com Indígenas Guaranis
Nanci Vieira de Oliveira, Pedro Paulo A. Funari e Leandro K. Mendes Chamorro
Considerações conceituais e metodológicas sobre projetos de educação patrimonial
Arqueologia e nacionalismo espanhol: A prática arqueológica durante o franquismo
(1939-1955)
Registro arqueológico como instrumento de memória social Rossano Lopes Bastos
RESENHAFUNARI, Pedro Paulo; PIÑON, Ana. A temática indígena na escola: subsídios para os
professores.
ENTREVISTAPerspectivas da Arqueologia Pública no Brasil e em Cuba. Entrevista com a professora
Lourdes Dominguez
Isabela Backx
4
5
13
20
32
44
52
63
68
4 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Após dois anos, retomamos o projeto e a publicação da Revista Arqueologia
Pública! Continuamos com a proposta de abrir espaços para discussões democráticas e plurais neste campo arqueológico. Reconhecemos que não há consensos sobre o que é Arqueologia Pública, mas, independente dos consensos, acreditamos nesta Arqueologia como uma prática social engajada e que tem o compromisso da construção de diálogos e
Revista Arqueologia Pública. Além do novo layout (tanto para capa como para a disposição dos artigos), optamos por publicar a Arqueologia Pública apenas em sua versão digital. A proposta é que ela possa chegar a um grande número de leitores e instituições ultrapassando a barreira da distribuição da versão impressa. Para os leitores há duas opções de acesso à Arqueologia
Pública: o número completo da Revista
Arqueologia Pública Paulo Duarte (LAP/Nepam/Unicamp). Assim, o leitor poderá escolher
Nesta edição, reunimos artigos que versam sobre as relações históricas entre museus, arqueologia e educação (Lúcio Menezes Ferreira, Diego Lemos Ribeiro e Jaime Mujica Sallés); acerca do conceito de Arqueologia participativa e sobre a Arqueologia Participativa com os índios de etnia guarani no estado do Rio de Janeiro (Nanci Vieira de Oliveira, Pedro Paulo A. Funari, Leandro K. Mendes Chamorro); das questões teóricas e metodológicas sobre educação patrimonial (Fábio Vergara Cerqueira, Mariciana
Nacionalismo, centrando-se no caso espanhol durante o regime do General Francisco
cultural e suas relações com o patrimônio arqueológico (Rossano Lopes Bastos). Além dos artigos, o leitor encontrará uma resenha do livro FUNARI, Pedro Paulo; PIÑON, Ana. A
temática indígena na escola: subsídios para os professores. São Paulo: Editora Contexto, 2011
cubana Lourdes S. Domingues sobre Arqueologia Pública (produzida por Isabela Backx).Esperemos que todos aproveitem esta edição e que se sintam convidados a
participar dos próximos números com textos, resenhas, entrevistas, indicações de leituras
de Arqueologia Pública Paulo Duarte, com seus diversos colaboradores, pelo trabalho realizado. E que a valorização dos “espíritos moços” e “combativos” descritos por Paulo
Duarte nos sirvam de inspiração para a construção de nossos diálogos.
Boa leitura!
Aline Carvalho e Pedro Paulo Funari
E D I TO R I A L
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 20115
A R Q U E O LO G I A , E D U C A Ç Ã O E M U S E U S : UMA PROPOSTA PARA ESTÁGIOS EM HISTÓRIA
Lúcio Menezes FerreiraLaboratório Multidisciplinar de Investigação Arqueológica – LÂMINA/UFPEL; pesquisador do CNPq.Contato: [email protected]
O objetivo desse artigo é discutir uma proposta para estágio em história em museus de arqueologia. Após uma discussão sobre as relações históricas entre museus, arqueologia e educação, mostra-se como o estágio em história nos museus de arqueologia pode realizar-se na interação entre professores, alunos e as comunidades locais.
Palavras-chave: museus de arqueologia, estágio em história, comunidades.
R E S U M O
A U T O R
I N T R O D U Ç Ã O
história é aproximar os futuros professores da realidade em que atuarão. O
prática, à medida que é conseqüente à teoria e aos métodos estudados durante
culturais das escolas. O estágio não é a prática docente propriamente dita, mas a teoria sobre a prática docente. E será tão mais formador do professor
escolar. É preciso enfatizar, contudo, que a realidade escolar não é a única viável
professor de história relacionam-se, além da escola, a ambientes diversos: as editoras, a produção de materiais didáticos e paradidáticos, montagem
patrimônio cultural, serviço educativo em museus de arqueologia, de história, artes e ciências, dentre outras possibilidades de desenvolvimento de estágios supervisionados.
Como ninguém pode (e talvez tampouco tenha a pretensão de) conhecer
Visamos a mostrar que os museus de arqueologia, ou aqueles que possuam coleções arqueológicas, podem ser extremamente pertinentes para a práxis de estágio em história. Para tanto, esquadrinharemos as relações entre museus, arqueologia e educação. Ao fazê-lo, nosso objetivo é demonstrar que estágios
a produção de conhecimentos em consonância interativa com os interesses das comunidades.
Diego Lemos RibeiroLaboratório Multidisciplinar de Investigação Arqueológica – LÂMINA/UFPEL;Contato: [email protected]
Jaime Mujica SallésLaboratório Multidisciplinar de Investigação Arqueológica – LÂMINA/UFPEL;Contato: [email protected]
“NO CÉU, APRENDER É VER; NA TERRA, É LEMBRAR-SE” (PÍNDARO)
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 20116
O primeiro passo para um estágio consistente em museus de arqueologia
museus, arqueologia e educação. Tais relações recuam, no mundo ocidental,
pelo desenvolvimento das ciências e, particularmente, da arqueologia. O
originado no Renascimento, mas que ganhou maior vitalidade com as descobertas de Pompéia e Herculano e dos primeiros fósseis humanos),
para o controle do Estado, permitiram uma nova organização dos museus. Inaugurou-se, desde então, uma nova interação com o público, marcada essencialmente pela Educação (Poulout, 1983:13-33.). Os museus tornaram-se, assim, extremamente populares; calcula-se que, no decorrer dos séculos
(Pyeson e Sheets-Pyeson, 1999: 55).Mas qual habitus os museus pretendiam inculcar nas populações que
visitavam os museus? Neste ponto, destaca-se um grande evento da História
da ciência Patrick Petitjean argumenta que a expedição napoleônica ao Egito
expedição, de origem militar, começa a ser empregado nas ciências de campo.
As expedições enlaçaram, assim, uma forte aliança entre Estado e ciência, tanto por sua organização como por sua estratégia colonialista subjacente (Petitjean,
(Description de l’Egypte). Com seus nove volumes de texto e quatorze de pranchas, a Descrição do Egito apresenta não propriamente descrições, mas
pinturas de monumentos decrépitos e empoeirados, são representações que
Napoleão reproduziu essa conjugação entre Estado e ciência em outras campanhas militares. Às campanhas integravam-se cientistas e eruditos, que se apropriavam de livros, pinturas, espécimes botânicas, mineralógicas e zoológicas, além de artefatos arqueológicos. Todo esse espólio era exibido em marchas pela cidade de Paris: os artefatos eram mostrados à população em carros abertos, e do cortejo participavam militares, membros do Estado e funcionários de museus (Alexander e Alexander, 2008: 29). Essa carnavalização
dos artefatos forjavam o sentimento patriótico de um Estado forte, aglutinador das massas. A população, a partir de então, imbuiu-se do habitus da grandeza da missão imperial.
As campanhas expansionistas de Napoleão levaram aos museus da França o despojo e a pilhagem oriundos da lógica colonialista. Para isso se montou, no Museu do Louvre, por exemplo, toda uma seção dedicada à Egiptologia, dentre outras que denotavam o poderio colonialista francês.
M U S E U S , A R Q U E O L O G I A E E D U C A Ç Ã O
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Mas, além da França, outros museus metropolitanos, como os da Alemanha,
Isto é particularmente verdadeiro no que se refere à montagem de coleções
primordial da Arqueologia clássica, nos museus da Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, foi a de acicatar a segregação “racial”, a dominação colonial e a destilação de uma “natural” superioridade ocidental. Os museus mostravam que a História do Ocidente derivava diretamente (quase geneticamente!) de povos essencialmente racionais e democratas – os gregos.
A grandeza da missão imperial, exposta nos museus, inculcava e naturalizava também o sentimento nacionalista. As discussões especializadas enfatizam que a inserção da Arqueologia em museus do mundo, nos séculos
Champion : 1996 ; Kohl e Fawcett: 1995). A arqueologia institucionalizou-se vocalizando identidades nacionais. Por meio da cultura material, a arqueologia
vinculações ancestrais, enraizando, por meio da educação, o sentimento de pertença a uma nação e a um território nacional.
a arqueologia, o nacionalismo e o colonialismo foram linhas de força que atuaram conjuntamente (Lyons e Papadopoulos, 2002). É que o nacionalismo,
agenciadores e modeladores do mundo moderno, o nacionalismo e o colonialismo nunca se desassociaram. A construção da idéia de nação visou
baseadas no sentimento de pertença a uma comunidade nuclear.
expansionistas, as quais concebiam o Estado e a Nação como um centro
um cânone cultural: os museus eram lugares de exibição do que se tinha como estrangeiro, exótico, “bárbaro”, ou mesmo indesejado (Harrison: 2006). Nessa acepção, o museu, como diria Andreas Huyssen, “suportou o olho cego do furacão do progresso ao promover a articulação entre a nação e a tradição, a herança e o cânone, além de ter proporcionado a planta principal para a construção da legitimidade cultural tanto no sentido nacional como universal” (Huyssen, 1996: 35)
Mas o timbre nacionalista e colonialista das relações entre museus, arqueologia e educação não se imprimiu somente nas metrópoles colonialistas.
expedição, apelidada como Conquista do Deserto (quase um homônimo da Conquista do Oeste dos Estados Unidos), juntaram-se antropólogos
antropólogos e arqueólogos coletaram artefatos e crânios. Um museu foi
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 20118
de La Plata (Politis: 1995). O desejo pelos artefatos dos “bárbaros” duplicou-se nos anelos
a noção de argentinidad, ajudando a formular uma identidade nacional.
nacionalização dos fósseis e artefatos na Argentina, com a lei de proteção par
excellencede História. Neles, apresentavam-se, ainda, os Outros indesejados da nação: uma série de imagens estereotipadas de “los indígenas bárbaros”, produzidas graças à Conquista do Deserto (Podgorny, 1999).
A efeciência de uma práxis em estágio supervisionado em museus depende decisivamente do conhecimento das relações históricas acima descritas. Os futuros professores de história precisam saber que os
de preciosidades históricas e artefatos arqueológicos. Os museus, como mostram os autores dos diversos ensaios reunidos por Peter Stone e Robert MacKenzie (1994), resultaram de processos de violência: a tomada
populações, a pilhagem da cultura material de “povos primitivos”, a tentativa de incutir hábitos civis e o habitus da nacionalidade. O conhecimento deste passado é fundamental para que os alunos possam desvelar os projetos de poder a que estão ligados os museus de arqueologia que servirem ao estágio supervisionado. Somente assim eles poderão propor projetos alternativos de pesquisa que congreguem as comunidades locais e a pletora das memórias sociais.
Mas como proceder a este estágio? Essa questão ata-se fortemente às discussões de teoria e metodologia do ensino de história. De modo geral,
Unidos (Seixas, 2000), e as feitas no Brasil, a partir dos anos 1980, por vários historiadores (p. ex: Marcos A. da Silva, Déa Fenelon, Elza Nadai, Circe Bittencourt, Conceição Cabrini, Vavy Pacheco Borges etc), há que superar a dicotomia entre ensino e pesquisa. Acata-se o pressuposto de que o
produção acadêmica. Compreende-se que o ponto de partida das aulas de história deva resultar da interação entre alunos, professores e do meio
próprios alunos. Reconhece-se, portanto, que ensinar a história é também ensinar
o seu método, acatando-se a premissa de que o conteúdo não pode ser tratado de forma isolada. Deve-se, pois, menos ensinar quantidades e fatos, e mais ensinar a pensar historicamente (Segal, 1984). Compreende-se, nesta linha, que os alunos e professores são sujeitos da história; agentes
O S E S T Á G I O S E M M U S E U S E O P Ú B L I C O
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 20119
que interagem na construção do movimento social. Assim, enfatiza-se a
o passado e o presente; como interpretação das diferentes perspectivas, instituições e memórias sociais.
produção de conhecimento. Além de desvelar os projetos de poder a que se ligam os museus locais, os alunos entrariam em contato com os sentidos da narrativa material da instituição. Descobririam, ademais, que um museu de arqueologia é muito mais do que a exposição aberta ao público. Ele contém (ou deveria conter!) documentação escrita e reserva técnica, que podem e devem ser pesquisadas. Mutatis mutandis, professores e alunos poderiam realizar pesquisas e trabalharem em consonância com as comunidades. O intuito seria o de montar exposições alternativas e dar voz a memórias coletivas que foram silenciadas nos museus.
museus de arqueologia no que concerne às representações sobre o passado. Na medida em que há diversas versões e contradições sobre o passado, qual
lado deles, o estagiário de história? Sob esse ângulo, concordamos com a proposição de Sarah Colley: “Em uma sociedade plural e democrática, deveria haver espaço para pessoas expressarem opiniões diferentes e tolerarem as crenças de cada um. Museus e interpretações in situ com abordagem pós-moderna estimulam a multivocalidade, na qual diferentes versões da história e visões sobre o passado são consideradas, mesmo que em oposição” (Colley, 2002: 83).
E mesmo nos lugares onde não há museus de arqueologia, por mais
se a alternativa de congregar diferentes linguagens no ensino de história. Internet sejam
visitados para que se visualize o passado e o presente imperial, por exemplo, do Louvre ou do British Museum. De outro lado, principalmente nas regiões
de algumas das regiões brasileiras), poder-se-ia, usando-se programas de computador, como o Power Point, montarem-se “exposições virtuais”, com
O trabalho didático em museus de arqueologia, ao transformar os futuros professores e alunos em produtores de conhecimento, ao dissolver,
confrontação com o mundo material e subverte o discurso da autoridade
arqueológico. Com o apoio de arqueólogos e curadores de museus, os
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 201110
inglês. Muitos australianos (que se concebiam como descendentes dos
colonial da Austrália. O que gerou a promoção de um amplo debate em várias instituições de ensino da Austrália. O resultado mais imediato foi a inclusão
2001). Os estágios em museus de arqueologia, ao promoverem a pesquisa e
as memórias sociais das comunidades locais; produção de materiais didáticos; montagens de exposições alternativas, nos próprios museus, em painéis ou por meio de programas de computador. Os estágios em museus podem mesmo alavancar o desenvolvimento de uma arqueologia pública, uma vez que ela dedica-se, como diz Nick Merriman, a toda a gama de implicações de poder da disciplina, do cuidado pelo patrimônio aos direitos humanos (Merriman: 2004).
Cabe, também, ao estagiário de história, ter conhecimento sobre os
se refere ao tratamento dispensado aos restos humanos e aos materiais de
basilar do Conselho Internacional de Museus (ICOM), tal tipologia de acervo não deveria se limitar à curiosidade, da mesma forma que a sua pesquisa e
também, para os membros de uma comunidade em particular. Ainda segundo esse documento, é necessário que as práticas museais sobre esses materiais,
dignidade humana comum a todos os povos (ICOM, 2004).
O estágio supervisionado em museus pode instituir uma práxis que aplique os pressupostos da arqueologia pública: fomentando a pesquisa
em museus de arqueologia evidenciam que, ao trabalhar ao lado das comunidades, pode-se contemplar múltiplos paradigmas e exibir para o público os processos de interação, diálogo e tradução cultural. Arqueólogos, ao incorporarem diferentes memórias sociais e seus conhecimentos tradicionais
os artefatos (Simpson, 2001). Na verdade, o trabalho arqueológico ao lado das comunidades, o desenvolvimento de narrativas plurais e em contra-pêlo
lugares do mundo, como nas Américas do Sul e Central (Tamanini, 1998;
Realizar estágios supervisionados que promovam as discussões e o trabalho conjunto entre professores, alunos e as comunidades locais, portanto, deve tornar-se, hoje, componente fundamental na formação do professor de história.
C O N C L U S Ã O
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 201111
B I B L I O G R A F I A
Museums in motion: an introduction to the history and functions of museums. 2nd ed. Lanham: Altamira Press.
BAKER, Frederick. 1991. Archaeology, Habermas and the pathologies of modernity. In: BAKER, Frederick; THOMAS, Julian (eds.). Writing the Past in the Present. Lampeter: Lampeter U. P., 54-62.
Black Athena: The Afroasiatics Roots of Classical Civilization. London: Free Association Press.
BRENNAN, Thymothy. 1990. The National Longing for Form. In: BHABHA, Homi K. (ed.). Nation and Narration. London: Rou-
L’Histoire Enseingnée Au Grand Siécle. Paris: Belin.
COLLEY, Sarah. 2002. Uncovering Australia: Archaeology, Indigenous People and the Public. Sidney: Allen and Unwin.
Entre lonkos y ólogos: la participácion de la comunidad indígena Rankülche de Argentina en la investigación arqueológica
DÍAZ-ANDREU, Margarita; CHAMPION, Timothy. 1996. Nationalism and Archaeology in Europe: an introduction. In: DÍAZ-AN-DREU, Margarita; CHAMPION, Thimoty. Nationalism and Archaeology in Europe. London: UCL Press, p. 1-23.
Guanabacoa como una “Experiencia” India en Nuestra Colonización: los retos de la Arqueología Pública. Arqueologia Pública, (2): 89-98.
. In: Arqueologia e Patrimônio.
HARRISON, Rodney. 2006. An Artefact of Colonial Desire? Kimberley Points and the Technologies of Enchantment. Current An-
HUYSSEN, Andreas. 1994. Escapando da amnésia: o museu como cultura de massa. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, (23): 31-53.
KOHL, Philip; FAWCETT, Clare. 1995. Archaeology in the Service of the State: Theoretical Considerations. In: KOHL, Philip; FA-WCETT, Clare (eds.). Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology. Cambridge: Cambridge U. P., p. 3-20.
LYONS, Claire L; PAPADOPOULOS, John K. (eds.). 2002. The Archaeology of Colonialism. Los Angeles: Getty Research Institute.
MERRIMAN, Nick (ed.). 2004. Public Archaeology. London and New York: Routledge.
PETITJEAN, Patrick. 1992. Sciences et Empires: un thème promèteur, des enjeux cruciaux. In: PETITJEAN, Patrick; JAMI, Catherine;
Dordrecht: Kluver Academics Publishers, p. 3-13.
PIMENTA, Selma Garrido. 1994. . São Paulo: Cortez.
PODGORNY, Irina. 1999. Arqueología de la Educación: Textos, Indicios, Monumentos. Buenos Aires: Sociedad Argentina de
POLITIS, Gustavo. 1995. The socio-politics of the Development of Archaeology in Hispanic South America. In: UCKO, Peter J. (ed.).
POULOT, Dominique. 1983. Perspective Historique: Les Finalités dês Musées du XVIII siécle au XIX siécle. In: Quels Musées, pour
PYESON, L.; SHEETS-PYESON, S. 1999. . Lon-don: Fontana Press.
REYNOLDS, Henry. 1982. The Other Side of the Frontier: Aboriginal Resistance to the European Invasion of Australia. Melbourne: Penguin.
SAID, Edward. 1995. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras.
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 201112
SEGAL, André. 1984. Pour une didactique de la dure -re. Berne: Peter Lang Ed., p. 15-35.
SEGOBYE, Alinah K. 2006. en el Sur de África.
Schwigen! die Kinder! or, Does Postmodern History Have a place in the Schools?.Peter; WINEBURG, Sam (eds.). Knowing, Teaching and Learning History: National and Internacional Perspectives. New York:
SIMPSON, Moira G. 2001. Making Representations: Museums in the Post-Colonial Era. London: Routledge.
STONE, Peter; MACKENZIE, Robert (eds.). 1994. The Excluded Past: Archaeology in Education. London: Routledge.
TAMANINI, Elizabete. 1998. Museu, Arqueologia e o Público: Um Olhar Necessário. In: FUNARI, Pedro Paulo A (org.). Cultura
13 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
A R Q U E O L O G I A P A R T I C I P A T I V A :UMA EXPERIÊNCIA COM INDÍGENAS GUARANIS
Prof. Dra. Nanci Vieira de Oliveira UERJContato: [email protected]
índios de etnia guarani no estado do Rio de Janeiro. Descreve-se, primeiro,
os indígenas envolvidos na atividade conjunta. As atividades incluem
e nativos.
R E S U M O
A U T O R
I N T R O D U Ç Ã OA Arqueologia tem passado por um aggiornamento
seu universo de preocupações, das questões relativas à sociedade, em geral, e em particular no que se refere aos indígenas. Este é um processo de longo prazo, cujo marco pode ser considerado o surgimento do Congresso Mundial
do Congresso. Essa postura da disciplina, em termos mundiais, encontrou eco nas transformações sociais e políticas brasileiras, principalmente a partir do
da democracia no país. Nos últimos vinte e cinco anos, a Arqueologia brasileira
em Angra, Parati-mirim e Patrimônio, em Paraty, todas M’ybiá. A aldeia de
pouco tempo. A de Rio Pequeno, também em Paraty, é constituída por Guarani Nandeva.
desenvolvidas com a Eletronuclear e parceria com o Programa “Jovens Talentos
projeto.
Prof.Dr. Pedro Paulo A. Funari UNICAMPContato: [email protected]
Leandro K. Mendes ChamorroAldeia SapukaiContato: [email protected]
14 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
indígenas e, ao mesmo tempo, problematizar os encontros e desencontros,
marcadores de identidade étnica e cultural, bem como no estabelecimento dos vínculos entre a comunidade e seu patrimônio.
interpretações sobre patrimônio cultural Guarani, aspectos do cotidiano,
A língua Guarani pertence à família linguística Tupi-Guarani. De
de vida autenticamente Guarani. A partir do século XVII os Guaranis sofreram o impacto da catequese
por parte dos jesuítas e dos ataques paulistas para a captura de indígenas. O
fato de serem agricultores, mas devido a facilidade de captura por, inicialmente,
por miséria, fome e epidemias, que acabaram dizimando povoados inteiros. Desta forma, muitos grupos locais desapareceram, como também alguns dos
A partir da profunda ruptura entre o modo de vida pré-colonial e o
Os Guaranis da atualidade, em certos aspectos apresentam-se abertos
As aldeias se organizam a partir de uma grande parentela em torno de
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
um líder religioso. Este alcançará maior prestigio pelo número de parentes que congrega em torno de si. As aldeias, embora autônomas, se inter-relacionam
As informações sobre os Guaranis no Rio de Janeiro, anteriores a sua
passado. Entretanto, as fontes documentais indicam a presença Guarani desde
no Rio de Janeiro, constituída por índios Mbya-Guarani. As famílias lideradas
devido aos constantes deslocamentos das famílias, decorrentes das constantes
A aldeia apresenta suas casas dispersas e distantes umas das outras,
da aldeia o local onde encontra-se a Casa da Reza. Desta maneira, subindo o
escola construída em alvenaria, o posto de saúde e casas esparsas pela mata, mais ao alto alcança-se uma área com algumas casas e a casa da reza, a casa de
A L D E I AS A P U K A I - B R A C U Í / A N G R A D O S R E I S
16 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Verá-mirim, considerada o centro da aldeia.
fato de que junto ao mar encontram-se vários condomínios, que discriminam
da Prefeitura e doações de universidades. Como eles ocupam uma área de encosta da serra do Mar, o solo pobre
A caça ainda é uma das atividades importantes para o grupo, que por
apreciadas para o consumo. Entretanto, os Guaranis estabeleceram regras de
valorizados pelos indígenas. O acesso a esses bens vem se tornando cada vez mais ampliado, através de recursos gerados por projetos, como o de turismo na aldeia, conquista de salários pelos professores e agentes de saúde.
O idioma guarani Mbya é falado por todos da aldeia, mesmo na presença
que divide suas responsabilidades com o vice-cacique e o presidente da
mirim é também o líder religioso do grupo.
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
A A R Q U E O L O G I A E O S G U A R A N I S
das atividades sempre despertaram maior interesse e, em seguida podemos
patrimônio englobando o material e imaterial foi muito mais consistente entre
As pesquisas que vem sendo desenvolvidas pelos jovens da aldeia
o registro das informações coletadas para as futuras gerações.
cambuxi
Cambuxi
kaguijy
um cambuxi
Ka’arandy
índios Guarani enterram o morto estendido, mas reforçam que a cerimônia é
monde
nhuã mondepí
Ojá Nha’ embé Kambuxi
18 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
prima ossos de mamíferos. Queimava-se os ossos e depois eram socados no
“A Ojá
Nha’embé usa-se para guardar alguns alimentos cozidos, e a Kambuxi para armazenar mel e kaguijy a bebida tradicional guarani. Na Nha’embé e na Kambuxi
interesse veio a reforçar o projeto de turismo da aldeia.
Patrimônio Cultural serem na sua maioria de elementos imateriais é uma
eles o verdadeiro valor está contido na palavra e no modo de ser guarani.
a Igreja da Matriz de Paraty, a Igreja de Santa Rita, as fazendas, as danças, a
da aldeia, a aldeia, entre outros.
fundada, muitas vezes, em modelos interpretativos pouco comprovados
aos autores.
C O N C L U S Ã O
A G R A D E C I M E N T O S
eles realizam seus cultos religiosos.
19 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
B I B L I O G R A F I A
Notícia de visita realizadas a população Guarani do litoral do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Museu do
An ecological of the spread of pottery and agriculture into Eastern South America.
Terra sem mal
Clastres, Pierre .A sociedade contra o Estado.
A temática indígena na escola: subsídios para os professores
Aspectos fundamentais da cultura Guarani.
Hábitos alimentares e nível de hemoglobina em crianças indígenas Guarani, menores de 5 anos, dos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
20 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
CONSIDERAÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS SOBRE PROJETOS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Prof. Dr. Fábio Vergara CerqueiraHistoriador, Doutor em Antropologia Social. Departamento de História da Universidade Federal de PelotasContato: [email protected]
O presente artigo tem como proposta apresentar algumas considerações teóricas e metodológicas sobre educação patrimonial. Coloca como objetivos maiores sensibilizar para a preservação e fomentar a autoestima. Toma como premissa a escuta da comunidade e como metas o reconhecimento das comunidades no patrimônio e o estímulo à tolerância. Entre as potencialidades, destacamos a capacitação dos agentes sociais para a preservação, a participação das comunidades e o despertar de vocações
patrimonial na escola e a pesquisa prévia que deve ser feita sobre o patrimônio
com o “empoderamento” das comunidades, no sentido de garantir o direito à cultura e à memória coletiva, e, valor supremo, com a pluralidade social e a diversidade cultural.
Palavras-chave: museus de arqueologia, estágio em história, comunidades.
R E S U M O
A U T O R
E D U C A Ç Ã O P A T R I M O N I A L : S E N S I B I L I Z A R P A R A P R E S E R V A Ç Ã O , F O M E N T A R A U T O E S T I M A
Um dos principais objetivos que motivam a educação patrimonial é, por meio de abordagem inclusiva, o fomento à autoestima das comunidades locais, estimulando o conhecimento e valorização de seu patrimônio, memória e identidades culturais. Paralelamente, busca sensibilizar as comunidades para a preservação de suas variadas formas de patrimônio material e imaterial, que constituem suportes de sua memória e identidade cultural. (GONÇALVES, 2004: 19. FUNARI, PELEGRINI, 2006. CERQUEIRA, MACIEL, ZORZI, SCHWANTZ,
Esta sensibilização é necessária para se efetivar a preservação do patrimônio cultural, em termos amplos. É necessário salientar que o olhar e parecer do técnico – arquiteto, historiador, arqueólogo, antropólogo, historiador da arte, restaurador, etc. – é indispensável para que as políticas de
Mariciana ZorziTurismóloga, Mestranda em Memória e Patrimônio, Universidade Federal de PelotasContato: [email protected]
Luísa Lacerda MacielLicenciada em História e Especialista em Educação. Mestranda em Memória e Patrimônio, Universidade Federal de Pelotas.Tutora da Universidade Aberta do Brasil/Universidade Federal de PelotasContato: [email protected]ína Kohls Schwanz
Pedagoga e Especialista em Memória, Identidade e Cultura Material. Mestre em Memória e Patrimônio, Universidade Federal de Pelotas. Professora Pesquisadora da Universidade Aberta do Brasil/Universidade Federal de PelotasContato: [email protected]
21 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
nos modismos e no senso comum, muitas vezes incapazes, pela falta de formação
aplicação das medidas adequadas à conservação e eventual restauro destes bens.
parte de administradores municipais dos pequenos e médios municípios de nosso
funções públicas e execução das ações de preservação.
De outro lado, é mister ressalvar que a intervenção do técnico por si só não
população diretamente envolvida com os bens culturais patrimonializados precisa
A comunidade é a melhor guardiã do patrimônio. [...] Só se protege o que se ama, só se ama o que se conhece. [...]
Este reconhecimento, da comunidade no patrimônio, deve se dar em dois caminhos complementares, traçados entre o local e o global: pela trajetória
mas também pela capacidade de sentimento de pertença a bens entendidos como da humanidade
A educação patrimonial, ao mesmo tempo em que deve estimular o conhecimento e valorização dos testemunhos culturais e identitários das comunidades locais, deve também encetar nelas o sentimento de tolerância para a diversidade cultural, a sensibilidade para admirar a cultura dos outros povos, de outras regiões e outras épocas, cujos registros culturais expressam a riqueza da cultura humana. (DECLARAÇÃO DA UNESCO SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL,
Assim, a educação patrimonial tem a potencialidade de propiciar aquilo que está além das prerrogativas do técnico: 1. pode capacitar a população para
comunidade para participar do processo de eleição dos bens culturais a serem
De forma idealista, podemos imaginar que a educação patrimonial seja um instrumento importante para a construção de uma democracia cultural em escala planetária, baseada em formas de cidadania que se sustentem na valorização de
E S C U T A R AC O M U N I D A D E , E S T I M U L A R O R E C O N H E C I M E N T OE A T O L E R Â N C I A
P O T E N C I A L I D A D E S : C A P A C I T A Ç Ã O , P A R T I C I P A Ç Ã O , V O C A Ç Õ E S
22 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
sua cultura e, na mesma medida, na admiração da cultura do outro.
Na primeira década do século XXI, a escola, em decorrência da constatação da importância social da educação patrimonial, foi colocada diante de um impasse: ao chamar para si a responsabilidade pela promoção da educação patrimonial entre
patrimonial, que deve ser necessariamente multidisciplinar e indispensavelmente participativa – precisa não somente introduzir entre os educandos conceitos e informações técnicas, mas, sobretudo, semear a sensibilidade para o patrimônio cultural, para que, em futuro próximo, possamos colher os frutos de uma sociedade mais comprometida com a valorização de seu patrimônio, de sua memória e de
Para tanto, é indispensável que os projetos de educação patrimonial sejam precedidos de mecanismos de escuta, em que se possa diagnosticar a percepção
aqui, portanto, um princípio freiriano, pois a educação patrimonial fundamentada exclusivamente em conhecimentos técnicos exógenos à percepção e memória
de exclusão social, o que não deveria ser o objetivo da educação patrimonial. (ZAN,
Figuras 1, 2 e 3Conversar com moradores ou aplicar questionários estruturados, no comércioou na rua, com adultos ou jovens, são algumas das alternativas para realizar aescuta das percepções locais do patrimônio cultural.
Um dos objetivos da educação patrimonial, para a consolidação de uma
outros setores envolvidos com a questão patrimonial (gestores, jornalistas,
universo multidisciplinar constituído pelas várias formas de patrimônio. Estes são
básicas em termos de cultura patrimonial, podem exercer um papel multiplicador.
foi apontado por Débora Coimbra Nuñez, em sua análise da situação da Educação Patrimonial nas escolas municipais da cidade mineira de São João del Rei (NUÑEZ,
E D U C A Ç Ã O P A T R I M O N I A L N A E S C O L A
Fig. 1: Bagé. Fig. 2 e 3: Arroio Grande. Fonte: Banco Cultural – Programa Memoriar – LEPAARQ/UFPEL
23 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
de desenvolvimento do Programa MEMORIAR¹ indicaram, como se constatou na fala dos participantes, o desejo e necessidade de uma capacitação mais profunda do professor, dado o despreparo para lidar com o campo multidisciplinar do patrimônio cultural.
A aplicação, na escola, de práticas pedagógicas multidisciplinares é uma condição para o desenvolvimento da educação patrimonial: a temática do patrimônio cultural, assim como a temática ambiental, demanda um tratamento transversal, que participe das instâncias formais e informais da educação escolar,
faculdade cognitiva do olhar, como sentimento humano de fruição e intelecção do patrimônio.
De forma precedente ou paralela à aplicação de um programa educativo,
levantamento dos Bens Culturais Materiais e Imateriais das comunidades, pois não
Cultural, que dispense o estudo direto destes bens nas comunidades envolvidas, inclusive a própria percepção que estas possuem sobre o seu patrimônio. (LIMA
A pesquisa sobre o Patrimônio Cultural deve se sustentar na interpretação de fontes diversas, de natureza escrita, oral, visual e material. (CERQUEIRA, MACIEL,
comunidades locais, que têm muito a contar sobre suas trajetórias de vida e sobre a história da cidade. No campo da visualidade, é produtivo inventariar algumas fotos
materiais do Patrimônio Cultural, nomeadamente a diversidade do patrimônio
o patrimônio imaterial, ao registrar performances de produção e fruição do saber
Figura 4
Uso de tear tradicional. Retomada do saber
fazer da tecelagem artesanal a partir da lã
de ovelha
U M A C O N D I Ç Ã O : P E S Q U I S A P R É V I A D A S F O R M A S E P E R C E P Ç Õ E S D O P A T R I M Ô N I O L O C A L
Fonte: Banco Cultural – Programa Memoriar – LEPAARQ/UFPEL
¹Programa Regional de Educação Patrimonial da Região Sul do Rio Grande do Sul, executado pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia da UFPEL, desenvolvido entre 2005 e 2008, por meio do convênio “Arqueologia e Educação Patrimonial da Região Sul do
empresa Votorantim Celulose e Papel, aplicado em 12 cidades
grandense (Aceguá, Arroio Grande, Bagé, Candiota, Capão do Leão, Cerrito, Herval do Sul, Hulha Negra, Jaguarão, Pedras Altas, Pedro Osório, Pinheiro
24 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Figuras 5 e 6
Competições eqüestres. Tradições campeiras gauchescas.
O conjunto destes dados forma um Banco Cultural, que constitui uma ferramenta indispensável à organização de encontros e de exposições: através dele se podem montar as apresentações multimídias utilizadas nas ações educativas. Quando o educando olha a sua cidade representada em imagens, diferentes leituras são feitas. A praça é vista de um novo ângulo, cores e formas, e deixa de ser um simples local de encontros e brincadeiras para ganhar um novo sentido. A arquitetura, os detalhes, um banco da praça... Novos olhares atentos de crianças e adultos, que passam a perceber de formas diferentes o Patrimônio Cultural que está presente no seu cotidiano. “Não importa a cidade, cada um olhará a partir de suas relações com o lugar, pois sempre estaremos aprendendo com ela e
Os desenho e maquetes do patrimônio, feitos pelas crianças que participam de projetos de educação patrimonial, revelam esta sensibilização do olhar. Conforme
criança presente seria o desejo impulsionando a ação, o movimento. O desenho, como exercício do desejo, se transforma em manifestos de identidade”.² (Figura
Figura 7 (detalhe)
Aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Pereira
Vargas., Jaguarão/RS, apresenta desenho do Mercado Público Municipal.
Fonte: Banco Cultural – Programa Memoriar – LEPAARQ/UFPEL
²Grifo nosso.
Fonte: Projeto de Salvamento Arqueológico da Enfermaria Militar de Jaguarão, Instituto de Memória e Patrimônio – IMP, Pelotas / RS.
25 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Figura 8
Maquete confeccionada por alunas da E.M.E.F Manuel Pereira Vargas,
Jaguarão/RS.
Nesse sentido, a metodologia a ser seguida em projetos de educação patrimonial deveria levar em conta algumas diretrizes, no que se refere à conceituação de Patrimônio cultural e suas implicações sociais (CERQUEIRA, 2005:
1. A indissociabilidade entre o patrimônio humano e natural na conceituação do Patrimônio Cultural, de modo que as pesquisas, intervenções e políticas públicas sejam pensadas de forma integrada.
entre o patrimônio tangível (material) e intangível (imaterial). 3. Valorização da cultura material e do patrimônio arqueológico como
expressões de notável valor do Patrimônio cultural da humanidade, e que ao mesmo tempo nos dão acesso às pessoas comuns, muitas vezes ofuscadas ou
Atrás de cada artefato há uma pessoa, ou muitas pessoas. Descobrir quem
eram e como viviam é um fator fundamental para a experiência humanizante
que nos é proporcionada pelos objetos do patrimônio cultural. (PARREIRAS
Tanto os documentos escritos quanto a Cultura material são produtos
de uma mesma sociedade, mas não são necessariamente complementares
ou convergentes, pois o documento escrito representa as ideais ou interesses
uma minoria dos que sabem ler e escrever. A escrita, assim, é um instrumento
de poder de classe. A Cultura material, por outro lado, é o resultado, em grande
assim se queira ou planeje, como testemunhos involuntários da história.
Fonte: Projeto de Salvamento Arqueológico da Enfermaria Militar de Jaguarão, Instituto de Memória e Patrimônio – IMP, Pelotas / RS.
U M A C O N D I Ç Ã O : P E S Q U I S A P R É V I A D A S F O R M A S E P E R C E P Ç Õ E S D O P A T R I M Ô N I O L O C A L
26 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
com a visão hegemônica de grupos dominadores do passado, em favor de uma visão plural, que dê conta da diversidade sócio-cultural existente nas sociedades do passado, assim como do presente. Nesta perspectiva, patrimônio não é mais visto como sinônimo da excepcionalidade, da erudição, da genialidade. Hoje – sem que isto implique perder o gosto pelo excepcional, pelo monumental – falar
memória da expressão cultural do homem comum e de sua vida corriqueira. 5. A preservação do patrimônio deve envolver as comunidades, pois
se interessem pela salvaguarda de sua memória. Para tanto, é necessário que o patrimônio não seja abordado como algo distante, exógeno a estas comunidades, sendo para tanto necessário desenvolver mecanismos de escuta da percepção que estas têm de sua memória e patrimônio, de modo a desenvolver um programa de educação patrimonial capaz de fomentar a autoestima das comunidades. É de fundamental importância que os agentes envolvidos no processo conheçam e reconheçam o patrimônio local, para que a partir daí passem a valorizar e a preservar esse bem.
Entendemos que a preservação do Patrimônio Arqueológico, Cultural
cidadãos, em que o desejo ou o impulso pela preservação não seja somente
o ato de celebrar o “monumental” passado acadêmico, mas sim uma tentativa
de promover novos valores baseados em uma concepção completamente
transformada da tradição e patrimônio, ou seja, a reapropriação da cidadania.
6. Um programa de educação patrimonial precisa alcançar um equilíbrio entre a bagagem de conhecimentos técnicos da equipe, balizados nas várias formas de conhecimentos universitários relativos às suas expressões culturais
percepções populares Ciência e
Senso Comum, entre Erudito e Popular, numa perspectiva pluralista, humanista e universalizante. Mas, sem dúvida, há que prevalecer uma atitude intelectual de humildade:
Para estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma classe, não
basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição escrita.
panorama da história e são muitas vezes mais interessantes e mais importantes
7. Um programa de educação patrimonial deve estar atento às declarações da UNESCO referentes ao patrimônio imaterial e à diversidade cultural
salvaguarda do Patrimônio cultural da humanidade (Cf. Cartas de Atenas, Veneza,
legislação vigente no Brasil, no que se refere ao Patrimônio cultural em geral e
27 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Há que se considerar ainda que a educação patrimonial exerce um papel no desenvolvimento regional, tanto do ponto de vista social – pois valoriza as identidades dos diferentes grupos que compõem a sociedade, estimulando
impacto sobre o desenvolvimento de turismo com enfoque no patrimônio. Um programa pode vir a alimentar assim o turismo, que emerge como possibilidade para a sustentabilidade, de forma integrada, da preservação das diferentes manifestações do patrimônio cultural e ambiental.
O patrimônio, assim como a educação patrimonial, exige uma abordagem
áreas variadas. Em vista disso, é salutar compor uma equipe com formação multidisciplinar, seus integrantes possuindo formação em áreas tais como:
Museologia, Literatura, Teatro, Música e Pedagogia. É importante ressaltar que os projetos devem buscar, nas práticas com as
crianças, um foco na ludicidade, sendo o lúdico fundamental no processo de ensino/aprendizagem, tanto no que diz respeito à educação de crianças como
A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não
pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico
facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora
uma boa saúde mental, facilita os processos de socialização do conhecimento.
Figura 9 e 10
Teatro de Fantoches. Alternativa lúdica para se abordar o papel dos
objetos na memória.
se à formação de cidadania com qualidade, preocupada com o fortalecimento da identidade cultural sustentada na memória das expressões culturais dos diferentes
Fonte: Banco Cultural – Programa Memoriar – LEPAARQ/UFPEL
28 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
A educação patrimonial precisa ser desenvolvida de forma criativa e
dinamismo, marcado, por parte dos educandos, pela sua participação em um
suas experiências pessoais e familiares com as experiências coletivas expressas
rotina, que circule, que ande pela cidade, para gerar uma interação de olhares entre a escola e a cidade baseada numa “leitura estática, sensível e crítica do cotidiano”.
patrimonial, é necessário que conheçam os conceitos e a legislação nacional atinente à preservação do patrimônio cultural, assim como as experiências já realizadas em outras escolas.
É comum que os projetos de educação patrimonial estejam focados
se precipuamente às séries iniciais, uma vez que ali costumam ser ensinados aspectos de história local³ . Há que se fazer uma série de ponderações sobre estas tendências, que podem assumir conseqüências negativas, mormente seus objetivos sejam nobres. Em primeiro lugar, é necessário frisar que todos os jovens,
ser colocados em contato com a educação patrimonial, do mesmo modo como é feito no que concerne à educação ambiental, pois todos deveriam ser no futuro cidadãos comprometidos com a preservação dos valores culturais das sociedades. Interessa que tanto trabalhadores quanto empresários sejam comprometidos com a preservação patrimonial.
De outro lado, restringir a educação patrimonial à população estudantil, e sobretudo, infantil, é um erro grave, pois os agentes sociais que estão atuando hoje,
movimentos sociais ou mesmo como consumidores, precisam, de forma urgente, ser sensibilizados, aproximados das questões patrimoniais: pode custar muito caro à preservação do patrimônio esperar que as atuais crianças se tornem adultos, para então reverter a tendência de perda dos valores e registros patrimoniais, dos suportes de identidade cultural coletiva, dos suportes de memória. Em 20 anos,
do que hoje nos circunda como referenciais identitários e de memória social terá se esvanecido por completo, em certa parte pelo próprio processo natural do
social de interesses imobiliários, do lucro exasperado, bem como da falta de informação e das visões preconceituosas e elitistas de patrimônio.
Os projetos de Educação patrimonial possibilitam uma aproximação maior entre a população das comunidades envolvidas e os agentes promotores da sensibilização patrimonial, pertençam eles ao espectro universitário, ao setor público, ao terceiro setor ou mesmo à área de responsabilidade social do setor
que muitas vezes parecem não se enxergar como portadoras de uma memória
³Os temas locais, tradicional
mente tratados na terceira e
quarta série, passam, dentro
do novo sistema, com o ensino
fundamental perfazendo nove
anos, a ser abordados no quarto
e quinto ano.
C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A I S
29 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
extremamente importante para a constituição de sua história, a história de sua
destas comunidades portadoras de memória, para ocuparem seu espaço na seara política de construção e reconstrução do patrimônio cultural. Entendemos, em
Do ponto de vista político, a prática da educação patrimonial implica um compromisso com os valores da pluralidade social e diversidade cultural (DECLARAÇÃO DA UNESCO SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL, 2001, Artigo 2º
invertendo assim a abordagem tradicional: a abordagem que privilegiava elementos patrimoniais relativos às elites pretéritas, o que por anos tem afastado
patrimônio cultural.
30 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
D O C U M E N T A Ç Ã O
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA UNESCO SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL. Resolução aprovada em 02 de novembro de 2001. Fonte: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf
“Identidade cultural e memória – objetos de construção do patri-
mônio histórico”
CERQUEIRA, Fábio Vergara e CUNHA, Welcsoner Silva da. “Proteção legal do patrimônio arqueológico”. In: I CONGRESSO INTERNACIONAL DA SAB. XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUEOLOGIA. ARQUEOLOGIA, ETNICIDADE E TERRITÓRIO. FLORIANÓPOLIS, 2007. Anais (CD
CERQUEIRA, Fábio Vergara. “Educação Patrimonial na Escola: Por que e Como?”
CERQUEIRA, Fábio Vergara. “Patrimônio cultural, escola, cidadania e desenvolvimento sustentável”. Diálogos. Revista do Departamento de
“Entre o passado e o futuro: um encontro
com a memória através dos objetos”.
CERQUEIRA, Fábio Vergara. “Proteção legal do Patrimônio Cultural e Arqueológico. Avanços e percalços no Brasil Contemporâneo”. In: AXT,
. São Paulo, Scipione, 1989.
FUNARI, P.P. Arqueologia. São Paulo, Contexto, 2003.
FUNARI, Pedro Paulo e PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio histórico e cultural. Rio de Janeiro, Zahar, 2006.
GALVANI, Maria Aparecida Magero. “Leitura da Imagem: uma interação de olhares entre a cidade e escola”. Revista Educação e Realidade.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. “Ressonância, Materialidade e Subjetividade: as culturas como Patrimônios”. Horizontes Antropoló
HOLANDA, Sérgio Buarque de. “Introdução às memórias de Thomas Davatz”.
“Por uma antropologia do objeto documental: Entre a ‘Alma das coisas’ e a
LIPMAN, Matthew. São Paulo, Summus, 1990.
MAGALHÃES, Aloísio. E triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, Fundação Roberto Marinho,1997.MENDES, José Manuel Oliveira.
MONTICELLI, Gislene. . Tese de doutorado. Programa de
NUÑEZ, Débora Coimbra. Educação Patrimonial, nos bastidores do processo. A formação dos agentes multiplicadores e as metodologias de
ensino aplicadas na apreensão de bens clturais: o caso de São João del Rei/Minas Gerais
Memória Social e Patrimônio Cultural, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2011.
PARREIRAS HORTA, Maria de Lourdes. Educação patrimonial
vação do Patrimônio Cultural, jun. 1991. [cópia xerox]
-
. Rio de Janeiro, Vozes, 1997.
SOARES, Inês Virgínia Prado. obras e atividades impactantes. Erechim, Habilis, 2007.
B I B L I O G R A F I A
31 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
B I B L I O G R A F I A
SOUZA, Marise Campos de.
TAMANINI, Elisabeth. histórica.
ZAN, Dirce Djanira Pacheco e.
32 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
A R Q U E O L O G I A E N A C I O N A L I S M O E S PA N H O LA PRÁTICA ARQUEOLÓGICA DURANTE O FRANQUISMO (1939-1955)
Mestrando em História Cultural pelo IFCH/UNICAMP, sob orientação do Prof. Dr. Pedro Paulo Funari e Pesquisador do Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte – NEPAM/UNICAMP. Bolsista CNPq
O objetivo do artigo é discutir a relação entre Arqueologia e Nacionalismo, centrando-se no caso espanhol durante o regime do General Francisco Franco. Inicia-se com uma exposição, em linhas gerais, das primeiras atividades de
do século XIX. Posteriormente, analisa-se o que seria a institucionalização de uma “Arqueologia franquista”, a partir da criação da Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas – organismo que centralizou toda a atividade
Arqueologia durante o franquismo como uma Arqueologia a serviço do regime.
Arqueologia; Nacionalismo; Espanha franquista.
R E S U M O
A U T O R
I N T R O D U Ç Ã ONos últimos tempos, o campo da Arqueologia tem recebido o aporte
de uma discussão epistemológica que visa demarcar o aspecto discursivo
pesquisador na produção do conhecimento arqueológico (LUMBRERAS, 1974 e UCKO, 1987). Isso quer dizer que suas interpretações devem ser entendidas a partir das motivações que o levaram a olhar para o objeto a partir de uma
observar as considerações críticas de Margarita Díaz-Andreu a respeito dos que “adotam uma ótica internalista, isto é, que fundamentalmente discutem qual autor disse, o que disse, em que época, e os que suas idéias contribuíram
arqueológicos (PATTERSON, 2001 e FUNARI, 2003a). Isso implica tornar visíveis as “categorias discursivas utilizadas, que raramente constituem o tema de
a priori
Acredito, como muitos outros que estudam a História da
Arqueologia, que o enfoque histórico oferece uma posição especialmente
vantajosa a partir da qual é possível examinar as relações de mudança entre
a interpretação arqueológica e seu meio social e cultural. A perspectiva
diferente para o estudo dos vínculos entre a Arqueologia e a sociedade.
33 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
mediante a observação de como e sob quais circunstâncias tem variado
uma crítica ao modelo positivista na Arqueologia, representado, em grande
defendem que, sempre que os dados disponíveis sejam os adequados e
conclusões resultantes é independente das crenças do investigador” (TRIGGER,
dependendo das condições sociais e culturais do pesquisador. Esse tipo de posicionamento alimentou a constituição de uma Arqueologia denominada Contextual ou Pós-Processual, que leva em conta o contexto na produção do
A Arqueologia Processual não se caracterizava precisamente por
que o mais importante era a contrastação, independente das teorias, a
tempo que os arqueólogos começaram a mostrar um maior interesse pela
subjetividade dos passados que reconstruímos em relação às estratégias
regime franquista na Espanha (1939-1975) e compreender a relação entre a Arqueologia e a ideologia política do nacionalismo espanhol desenvolvida
de Arqueologia, produzidos durante o regime, estavam de alguma forma conectados com as principais bandeiras defendidas pelo poder político, tais como a criação de uma identidade nacional, de uma unidade nacional, de uma origem comum a todos os espanhóis, entre outras, pois, como observa Pedro Paulo Funari, “a criação e a valorização de uma identidade nacional ou cultural relacionam-se, muitas vezes, com a Arqueologia”, visto que “a Arqueologia é sempre política, responde a necessidades político-ideológicas dos grupos
papel da Arqueologia como portadora de uma legitimidade.
O Nacionalismo é uma forma particular de ideologia que pode
ser usada por uma nação para construir e fortalecer a unidade. Uma
vez que a ideologia do nacionalismo é geralmente construída com
base no entendimento das pessoas acerca de seu passado, a história
e a arqueologia podem fornecer uma contribuição essencial para a sua
criação. [...] A ditadura é um tipo político, um entre muitos, que pode optar
por utilizar o nacionalismo. Os ditadores costumam usar o nacionalismo
para reforçar o apoio para os seus anseios e, com isso, podem cultivar um
34 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
É o interesse pela Arqueologia, demonstrado pelos autores franquistas, que o presente trabalho se propõe a questionar. Inicia-se com uma exposição, em linhas gerais, das primeiras atividades de preservação dos vestígios
analisa-se o que seria a institucionalização da “Arqueologia franquista”, a partir da criação de um organismo que centralizou toda a atividade arqueológica, entre 1939 e 1955, a Comisaría General de Excavaciones Arqueológicasdiscute a Arqueologia durante o franquismo como uma Arqueologia a serviço do regime.
A N T E C E D E N T E SA preocupação com a preservação de vestígios arqueológicos teve início
na Espanha em meados do século XIX. Nesse período é possível vislumbrar os primórdios de uma Arqueologia espanhola, bem como a tentativa de construir
arqueológico espanhol. Segundo Margarita Díaz-Andreu, “objetos antigos não eram considerados como parte da herança nacional até a década de 1830”
de 1830; os nacionais, por sua vez, reservados a objetos artísticos, foram abertos na década de 1840. Como esses museus necessitavam de curadores, foi criada, em 1856, a Escuela Superior de Diplomáticapelo ensino de Arqueologia e o lugar onde os curadores eram treinados¹. O último passo na criação de museus de Arqueologia foi a abertura do Museo Nacional de Arqueología, em 1867, localizado em Madri.
No início do século XX, os esforços são voltados para a organização de uma base institucional para a Arqueologia espanhola e a construção de uma legislação que incorporasse em seus artigos e decretos uma base normativa para as escavações arqueológicas. É nesse contexto que surge, em 1900, o Ministério de Instrucción Publica e Bellas Artes. Um pouco mais tarde, em 1907, é criada a Junta de Ampliación de Estudios na Arqueologia espanhola, congregando outras instituições arqueológicas que dela dependiam, como o Centro de Estudios Históricos, que desde a década de 20 possuía uma seção de Arqueologia, e a Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. A importância que a Arqueologia tinha
Ato de Excavaciones, de 1911, que criava a Junta Superior de Excavaciones e Antiguedades.
Junta Superior de Tesoro Artistico, criado, em maio de 1933, pela Lei de Defensa do Patrimônio Histórico Artistico Nacional. No mesmo ano é promulgado o Ato de Excavaciones, em uma tentativa de regulamentar as escavações arqueológicas ocorridas no território espanhol.
Com o início da Guerra Civil (1936-1939), as atividades arqueológicas foram momentaneamente paralisadas. Como desde o dia 1 de outubro de 1936 o General Francisco Franco era considerado o chefe de Governo do Estado Espanhol e Generalissimo dos Exércitos de terra, mar e ar (chefe das
Servicio de Defensa do Patrimonio Artistico Nacional (SDPAN), em 22 de abril
¹Sobre a Escuela Superior de Diplomática
ALLENDE, 2008).
35 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
de 1938, dependente da Jefatura Nacional de Bellas Artes e caracterizado por “uma administração fortemente centralizada e hierarquizada” (DÍAZ-
SDPAN seria rebatizado, em 12 de agosto de 1938, com o nome de Servicio de Defensa e Recuperación do Patrimonio Histórico Nacional (SDRPHN).
(Galícia). Filho de um general amigo de Franco, ele planejou a reorganização da Arqueologia espanhola a partir da criação de um novo organismo que
Instituto Arqueológico Nacional y Imperial. Como observa Francisco Gracia Alonso, Martínez Santa Olalla.
Amparado no Decreto de 22 de abril de 1938, pelo qual se criava
o SDPAN (Servicio de Defensa del Patrimonio Histórico Nacional), que
não mencionava explicitamente a Arqueologia, pretendeu aglutinar
no novo organismo toda a atividade arqueológica de investigação,
conservação e difusão, em qualquer de seus âmbitos presentes e futuros
implantar seu plano, após muita negociação com a comunidade arqueológica espanhola.
Pouco antes do término da Guerra civil, foi criada pelo Ministerio de Educación Nacional, em 9 de março de 1939, a Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, em substituição da antiga Junta Superior de Excavaciones y Antiguedades. Passava nesse momento a ser dependente da Jefatura de Archivos, Bibliotecas y Museos. A criação foi por meio de uma Ordem
La necesidad de atender a la vigilancia de las excavaciones
arqueológicas que desde su iniciación en 1905 han permitido reconstruir
patrimonio arqueológico con maravillosas o heroicas ruinas como las de
Mérida, Italica, Numancia, Azaila, etc., y la conveniencia de lograr el máximo
la guerra actual, hechos que aconsejan la creación de una Comisaría General
de Excavaciones a cuyo cargo quede el cuidado administrativo, la vigilancia
(citado por GRACIA
A COMISARÍA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS (1939-1955) A S P E C TO S P O L Í T I CO S
²No dia 1 de outubro de 1936, dois
meses após iniciada a Guerra Civil que
derrubaria a República espanhola,
foi constituído em Burgos, cidade
de Castilla y León, o governo dos
rebeldes sob a liderança do General
Francisco Franco, que receberia o título
(chefe supremo das forças armadas).
A partir desse momento, a Espanha
estava literalmente dividida em duas,
pois Madri continuava sendo a capital
do governo legítimo da República.
Os únicos países que reconheceram
a legitimidade do governo rebelde
nacional-socialista.
36 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
A principal função do organismo recém criado era “propor os planos gerais de escavações que seriam realizados a cada ano e supervisionar a
que diz respeito à organização, houve uma nova orientação que propiciou a
Comisario GeneralBasch e Isidro Ballester, consultores. Integravam também outros importantes arqueólogos simpatizantes do regime, como Blas Taracena Aguirre e Antonio García y Bellido.
A partir de abril de 1941, foi autorizada a nomeação de Comisarios Provinciales Locais e Provinciais de Excavaciones Arqueológicas. Esses eram subordinados ao Comisario General, o que denota uma organização muito bem centralizada e hierarquizada, que colocava nas mãos de pessoas mais próximas do poder político a responsabilidade em matéria de proteção do
um rigoroso processo seletivo que, por sua vez, não estava preocupado, em primeiro lugar, com os méritos intelectuais do candidato ou sua produção
algum indivíduo no passado, ou simplesmente a suspeita de ter participado
exercer o cargo de Comisario Provincial ou Local de Escavaciones Arqueológicas Comisario eram requisitadas
informações pela Comisaría Generalque diagnosticaria se o indivíduo estava “apto” ou não para desempenhar a função. Dependendo do posicionamento político do candidato era aceito ou
a expressão persona non grata devido a sua atuação política anterior não condizente com o governo franquista.
da função de Comisario Provincial, Local ou Insular? “Todas aquelas pessoas devidamente capacitadas, segundo expressava a Ordem de 30 de abril de 1941, pertencentes à Falange ou que possuam uma irrepreensível e inequívoca
Aqueles que correspondiam aos critérios escolhidos para desempenhar o cargo de Comisario, ao invés de representarem persona non grata, recebiam a
glorioso movimento nacional”; “goza de irrepreensível conduta moral, pública e religiosa, assim como político-social”. Um exemplo desse tipo de seleção é o
um cargo na Comisaría Local de Excavaciones Arqueológicas de Palencia, que foi recusado por ter sido considerado ateu, a despeito de sua boa conduta moral e
importantes que deviam possuir os candidatos a desempenhar as funções de Comisariose limitavam aos antecedentes políticos, sua atividade pública ou seus dotes morais. Raras vezes esses informes contribuíam com informações sobre a
37 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
atividade de trabalho destes candidatos ou seu nível de instrução. Durante a década de 40, as escavações arqueológicas no território
espanhol foram intensas e seguiram sempre o plano anual de escavações, elaborado pela Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que, como foi colocado, centralizava todo o trabalho arqueológico entre as suas atribuições. Para a divulgação das pesquisas foi organizado, em janeiro de 1950, o Congresso
, um momento ímpar para que o Comisario General mostrasse às autoridades do regime os resultados dos trabalhos realizados pela Comisaría desde a sua criação. Uma das propostas apresentadas no Congresso, que demonstra o vínculo entre a Arqueologia e a construção de uma identidade (no caso, cristã), consistiu em solicitar ao Caudillo, Francisco Franco, que estimulasse a realização de um Santo de los Comisarios de Excavaciones Arqueológicas, que teria como objetivo
Em meados dos anos 50, inicia-se um processo de transformações
equilíbrio de poder entre os diferentes grupos que sustentavam o governo de Franco, que resultou na substituição da Falange pela Opus Dei” (DÍAZ-ANDREU;
Comisarios, que eram falangistas, começaram a perceber uma diminuição
em uma posição de fraqueza política dentro do regime. Os tempos haviam mudado e o sistema centralizado que Martínez Santa Olalla havia organizado a partir da Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas estava fadado a desaparecer ou, ao menos, sofrer importantes transformações. Foi assim que, por meio de um Decreto de 2 de dezembro de 1955, foi extinta a Comisaría e, em seu lugar, foi criado o Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (SNEA). Em síntese, esse decreto implicou uma mudança do antigo regime
civil, que havia colocado sob o poder do Comisario General de Excavaciones Arqueológicas o controle absoluto sobre a investigação arqueológica na Espanha.
A partir do exposto, é possível perceber, por parte da nova administração governamental, a tentativa de exercer um controle total das escavações arqueológicas, construindo para isso um aparato administrativo e legislativo para tal empreendimento. Nesse sentido, podemos nos questionar acerca do motivo que levou à Arqueologia a se tornar parte integrante das preocupações do governo franquista. Qual era a utilidade da Arqueologia? Por que um controle governamental tão rígido das escavações? O que se pretendia com seus estudos? Por que sítios arqueológicos como o de Numância, Ampurias,
franquista”? U M A A R Q U E O L O G I A A S E R V I Ç O D O R E G I M E
38 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
que a Arqueologia teria se constituído como um campo de pesquisa a partir do processo de formação dos Estados-nacionais europeus (DÍAZ-ANDREU; CHAMPION, 1996 e KOHL; FAWCETT, 1995). Com isso, entende-se que é no
dois tipos de nacionalismo, o primeiro foi
O nacionalismo cívico ou político, surgido na Revolução francesa,
associando ao conceito de soberania nacional. Uma nação era concebida,
Percebe-se que as características do nacionalismo exposto acima não estavam baseadas em identidades culturais e não consideravam a origem cultural da nação. Por outro lado,
O nacionalismo cultural ou étnico, surgido a partir da metade
naturalmente em culturas e essas culturas deveriam ser idealmente
entidades políticas. Foi essa interpretação essencialista de nação que deu
à história uma importância antes desconhecida, pois agora tornava-se
[...] A base da nação tornou-se cultural, e foi na base dessa suposta unidade
cultural que os nacionalistas exigiam unidade política (idem).
O nacionalismo cultural ou étnico teve um grande impacto no campo
espacial, cronológica e culturalmente, a partir de uma série de características
material (cerâmica, tipologia dos enterramentos, das plantas das casas (DE LA
em 1929, a noção de que os restos arqueológicos podem ser portadores de uma determinada cultura.
Encontramos certos tipos de restos – vasilhas, ornamentos, ritos
de enterramento, plantas de casas – que constantemente se encontram
associadas. A tal complexo de características regularmente associadas
denominaremos um “grupo cultural” ou simplesmente uma “cultura”
Nesse sentido, a Arqueologia forneceria dados que possibilitaria a reconstrução do passado nacional. As nações se constituiriam como tal a partir
como exclusivo. Por meio da Arqueologia seria possível encontrar vestígios dos “nossos antepassados” e, conseqüentemente, encontrar a raiz mais
39 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
profunda e original na busca incessante pelo “espírito de um povo”. Os objetos encontrados em um determinado território legitimariam automaticamente a posse do mesmo pelo povo que se colocasse como descendente dos antigos habitantes.
No que diz respeito ao caso espanhol, se no século XIX o nacionalismo estava enfraquecido, ocasionado, principalmente, pelo insucesso nas
apenas um interesse limitado no passado arqueológico, no século XX, por
conduzido durante o século XIX com o realizado no século seguinte. No
XX, seu nacionalismo tinha se desenvolvido ao ponto de ser mencionado expressivamente em seu trabalho. Em 1906, Mélida foi incluído na equipe de escavação em Numância. Suas publicações tinham um claro objetivo nacionalista. Por exemplo, ele iniciou o relatório da primeira escavação com
similar, ele admitiu que o sítio havia sido escavado não apenas por razões
maneiras de compreender a Espanha como nação. Alguns a viam como uma unidade multicultural (entendida durante a Segunda República Espanhola – 1931 / 1936/9); outros, como o general Francisco Franco, viam o país como uma unidade cultural única. Foi essa última a vencedora e que vigorou na Espanha de 1939 a 1975.
uma comunidade étnica, entendida por Anthony Smith como detentora de
históricas compartilhadas, elementos diferenciadores da cultura comum,
de vista do regime franquista, a Arqueologia viria a se constituir como uma disciplina de grande importância para a construção simbólica de uma “Una, Grande y Libre”³ , uma vez que ela oferecia ao nacionalismo símbolos
durante o regime franquista o enfoque da teoria arqueológica histórico-cultural prevaleceu e obteve grande adesão entre os autores franquistas,
políticas serão, entre outras, a unidade nacional, o centralismo administrativo,
Nesse sentido, muitos trabalhos arqueológicos foram feitos permeados por essa noção de unidade nacional espanhola. Cumpre destacar o trabalho do
³Um dos lemas do franquismo que consiste em um entendimento
se referem à Espanha como indivisível,
estrangeiras, respectivamente.
40 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
arqueólogo espanhol Martín Almagro Basch (1911-1984) que, inclusive, exerceu o cargo de consultor na Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Foi publicada pelo autor a obra Del pueblo hispano (1958), um estudo etnológico da península ibérica desde a pré-história até os nossos dias, desde os homens
da homogeneidade etnológica ou racial primeva, em detrimento de outras
17). O estudo inicia-se pelo período Paleolítico (Cro-Magnon), onde estaria a base da “raça” espanhola. No período Neolítico (cultura megalítica), houve
Neolítico hispano, porém os colonizadores não tiveram contato com a costa africana, pois vinham direto pelo mar. E, posteriormente, ocorre a chegada do
não foi étnico, mas cultural. Fundamentalmente o idioma e a concretização da idéia de Espanha como unidade. Nesse caso, Roma conseguiu dotar a
vestígios humanos, para que sirva, a posteriori, como um argumento a mais à idéia de uma unidade nacional que, pouco a pouco, iria se aperfeiçoando e conformando à estrutura política estatal moderna” (idem: 24).
Outra importante contribuição de Almagro Basch foi a publicação da revista Ampurias – Revista de Arqueología, Prehistoria e Etnología, em 1939, na qual era o diretor. Ampurias foi uma cidade localizada na região nordeste da Espanha, na região da Catalunha, fundada por colonos gregos, em 575 a.C. Durante o regime franquista, o sítio arqueológico de Ampurias foi intensamente escavado, o que demonstrava a grande importância atribuída a um símbolo entendido como parte integrante do passado nacional espanhol. No editorial do primeiro número da revista, foi colocado que
Ampurias es la última ciudad griega de occidente. En ella los romanos
desembarcaron por primera vez para combatir a Cartago. Y en ella asienta
Catón el Grande el primer gran campamento civilizador. Tras la conquista
que en Tarragona y en Córdoba o Itálica, en Ampurias, la Hispania Antiqua
tomó contacto con el mundo clásico. Ella fue la primera ventana hacia el
Mediterráneo que nos trajo ambiciones y sentido histórico. Roma tras los
para siempre (AMPVRIAS, 1939: 3-4)
na Espanha durante o governo de Francisco Franco esteve em consonância com as ideias norteadoras que serviram para legitimar o regime. O autoritarismo
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, propiciou que os trabalhos fossem utilizados para respaldar as aspirações nacionalistas do governo
que não são condizentes com a visão do poder instituído. Dessa forma, é
41 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Arco Aguilar, para o período franquista
desenvolvimento desses enunciados teóricos em um mesmo contexto
É importante ressaltar, no entanto, que não houve uma vontade dos autores franquistas de enganar ou deformar uma suposta realidade arqueológica. Não existiu um pensamento estratégico dos arqueólogos, que produziram um determinado trabalho para legitimar um regime político. Mas é o próprio
interpretação dos vestígios arqueológicos em prol de certa leitura do passado.
trabalhos e que de alguma forma “serviram” ao regime. Como foi exposto anteriormente, a teoria arqueológica histórico-cultural possuiu uma grande
Pelos pressupostos dessa teoria de traçar, por meio da cultura material, as características de um povo desde os tempos mais remotos até o presente, ela foi utilizada para reconstruir a identidade e unidade nacional espanhola,
uma postura “mal intencionada” aos arqueólogos que contribuíram com seus estudos para a construção e consolidação de um regime ditatorial, torna-se
instrumental epistemológico que o pesquisador deve ser responsabilizado pelos resultados de seu trabalho
O presente artigo buscou discutir a questão da discursividade do conhecimento arqueológico, a partir do papel que a Arqueologia teve na Espanha durante o regime franquista. Os estudos arqueológicos foram importantes para a legitimação política do regime ao fornecer subsídios (cultura material) para a construção da unidade nacional espanhola e dotar os espanhóis de uma identidade nacional, avessa a qualquer tipo de separatismo.
Porém, toda essa construção se valeu de um determinado olhar interpretativo dos vestígios arqueológicos. Não era imanente ao objeto o
sentido é dado pelo pesquisador, imbuído de um arcabouço teórico e de
interpretação da cultura material, pois se é adotado uma postura acrítica e
C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A I S
42 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Pedro Paulo Funari, aos professores
seu autor.
não problematizante, o risco é, ainda hoje, a legitimação de políticas ditatoriais. O arqueólogo Laurent Olivier, estudioso da Arqueologia do Terceiro Reich alemão
pesquisar, nos materiais arqueológicos, o testemunho da identidade étnica ou
cujo coração ardente ainda bate, enterrado sob os escombros da velha Europa”
Portanto, se não houver um questionamento acerca das categorias interpretativas utilizadas, corre-se o risco de estar praticando uma Arqueologia aos moldes nazistas. Daí a importância de trabalhos que adotam uma “ótica externalista”, que buscam adotar uma postura problematizante. Para concluir, gostaria de citar as palavras de dois arqueólogos, Michael Galaty e Charles
Mesmo quando uma nação tem sofrido uma transformação política
completa - da ditadura para a democracia, por exemplo - os indivíduos,
especialmente os arqueólogos, continuam a ter uma participação muito
grande na criação da história e da identidade nacionais. Ironicamente,
desacreditadas após a queda de um ditador, mas sim, elas podem ser
Arqueologia, como ele evoluiu sob ditaduras modernas, é hoje, mais do que
nunca, de extrema importância. Em muitos países europeus, por exemplo,
aqueles que praticavam a Arqueologia sob a ditadura estão se aposentando
acriticamente por uma nova geração de arqueólogos. Agora é hora, portanto,
A G R A D E C I M E N T O S
43 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
B I B L I O G R A F I A
Revista de Arqueología, Prehistoria y Etnología. n.° 1, Barcelona – 1939. p. 3-4)
p.17-25.
La Arqueología en Canarias durante el régimen franquis-ta: el tema del primitivo poblamiento de las islãs como paradigma (1939-1969). Trabajos de Prehistoria 61, n.1, 2004. p. 7-22.
Nationalism, politics, and the practice of archaeology
DÍAZ- ANDREU, Margarita. Nacionalismo y Arqueología: el contexto político de nuestra disciplina. Revista do Museu de Arque-ologia e Etnologia. n.11. São Paulo, 2001. p.3-20.
DÍAZ-ANDREU, M.; CHAMPION, T. Nationalism and Archaeology in Europe: An Introduction
DIÁZ-ANDREU, Margarita; RAMÍREZ SÁNCHEZ, Manuel. La Comísaria General de Excavaciones Arqueológicas (1939-1955). La administración del patrimonio arqueológico en Espana durante la primera etapa de la dictadura franquista. Cumplutum, 12,
DIÁZ-ANDREU, Margarita; RAMÍREZ SÁNCHEZ, Manuel. Archaeological Resource Management Under Franco’s Spain. The Co-misaría General de Excavaciones Arqueológicas -
FUNARI, Pedro Paulo A. Arqueologia
___________________. Resenha de Thomas Patterson, A social history of anthropology
GALATY, Michael L.; WATKINSON, Charles. The practice of archaeology under dictatorship
GRACIA ALONSO, Francisco. La Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas (1939-1945). In: La arqueología durante el primer franquismo (1939-1956)
HODDER, Ian. Interpretación en Arqueología. Corrientes actuales.
Categorias históricas e práxis da identidade: a interpretação da etnicidade na Arqueologia Histórica.
KOHL, Philip L., FAWCETT, Clare. Archaeology in the Service of the State: Theoretical Considerations.
LUMBRERAS, Luis. La Arqueología como ciencia social
-ral de Información y Documentación. Universidad Complutense de Madrid. 2008, 18. p.173-189.
A Arqueologia do Terceiro Reich e a França: notas para servir ao estudo da “banalidade do mal” em Arqueo-logia
PATTERSON, Thomas. A social history of anthropology in the United States
PEIRÓ, Ignacio; PASAMAR, Gonzalo. -ránea.
SMITH, Anthony D. National Identity
TRIGGER, Bruce. Historia del pensamiento arqueológico. Trad. Isabel García Trócoli.
UCKO, Peter. Academic Freedom and Apartheid: The Story of the World Archaeological Congress
44 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
BOUDICA E O USO DE SUA FIGURA FEMININA
Tais Pagoto BéloDoutoranda do Departamento de História/ IFCH/ UNICAMPOrientador: Pedro Paulo FunariContato: [email protected]
Este artigo objetiva demonstrar como o passado é utilizado para
para abraçar novos temas de pesquisa, como os estudos de gênero.
Palavras-chave:
R E S U M O
A U T O R
A Q U E S T Ã O D A P Ó S - M O D E R N I D A D E – C O N T R I B U I Ç Õ E S H I S T O R I O G R Á F I C A S
teóricas que a História passou nos últimos tempos. Com isso, busca-se, aqui,
contextualizar, dentro de todas essas mudanças, como se originou projetos de
pronunciadas nesse meio.
Sendo assim, pode-se constatar que aconteceu uma crise na História, a
como, o Estado Absolutista e o Cristianismo.
demonstrada e teorizada por Charles Darwin (1869), em sua obra The origin
of species
humanos. Logo, o pensamento evolucionista e o pensamento teleológico, que
diretamente intelectuais como Hegel, Kant, Comte e Marx, que, assim,
45 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
passa a demonstrar uma perspectiva histórica mais democrática, includente e
revisionista (Silva, 2004).
Sendo assim, percebeu-se um esgotamento da modernidade, a
totalizantes, acabando com os valores, concepções e modelos tradicionais,
suspeita acabou por resultar em uma crise dos paradigmas modernos, a qual,
critério de verdade epistemológica criada no Iluminismo, além dos modelos
Portanto, nos últimos tempos os historiadores começaram a
momento começou a ser denominado como pós-modernismo, com algumas
controvérsias até os dias de hoje.
consecutivas no campo da literatura, artes e ciências (Funari & Silva, 2008).
incredulidade sobre as metanarrativas e a morte dos centros¹.
insere a ideia de uma pós-modernidade, abrindo as portas, nos estudos
o critério da subjetividade através de nomes como Nietzsche (1844 – 1900),
apenas a história das mulheres, mas sim das relações dos dois sexos, homens
surgimento da história das mulheres que essas outras categorias começaram
a ser exploradas.
A abertura para esse tipo de estudo aumentou abruptamente nos últimos
Sociologia e Antropologia. Esse boom
consequência de estudiosos como Michel Foucault e pelo espaço conquistado
pelos estudos da História Cultural, mas, também, em grande parte, por
¹O primeiro está relacionado ao descré-dito nos grandes discursos explicado-res dos atos humanos. E o segundo, a
A A B E R T U R A P A R A O S E S T U D O S D E G Ê N E R O
46 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
no quadro da sociedade e das novas condições assumidas por elas, as quais
Sendo assim, é nesse palco de mudanças dos paradigmas das Ciências
Humanas, crise da modernidade, das metanarrativas, dos essencialismos que
se debates e problematizações sobre esse assunto dentro do pensamento
intelectual acadêmico.
sobre Boudica nas obras Anais, A vida de Agrícola e História de Roma. Diziam
que ela tinha vivido no primeiro século depois de Cristo, durante a presença
Iceni, junto com seu marido Prazutago.
contratempos entre eles se iniciaram depois da troca de governante da
do Império.
A estratégia da guerreira iniciou-se enquanto os romanos estavam
guerreando contra uma tribo de druidas na ilha de Mona. Ela, junto com
sua tribo e os Trinovantes, iniciaram um ataque contra Camulodunum, atual
A investida dos romanos contra a tribo de druidas aconteceu devido ao
romanos investiram um ataque contra eles.
Os escritores da Antiguidade, que escreveram sobre ela, tinham como
mulher como governante e muito menos como comandante de um exército.
sua liderança.
B O U D I C A : N O P A S S A D O E N O P R E S E N T E
47 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
assim, autores e artistas readaptaram essa mesma história, em muitos casos,
Por muito tempo, muitas governantes mulheres que a Inglaterra teve
sendo retratada como uma mulher patriota que lutou bravamente contra
galeses eram considerados descendentes diretos dos Bretões, ela acabou por
e contrastes (MIKALACHKI, 1998).
The History of Great
Britaine; outra obra que segue com o mesmo viés é The exemplary lives and
memorable acts of nine the most worthy women of the word, de 1640, do autor
Posteriormente, depois da morte de Elizabeth, Boudica ainda era
nelas, as mulheres tinham papéis negativos, além de mostrar que Boudica
era totalmente inadequada para lidar com negócios masculinos, como por
gloriosos quando se juntaram aos romanos (WILLIAMS, 1999; CRAWFORD,
1999).O caráter negativo que Fletcher dá a Boudica teve maiores impactos nos
50 e 100 anos posteriores a estréia de sua peça.
Boadicea,
Fletcher.
aspecto chama-se Complete History of England, de 1757, de Tobias Smollett. A
Império Britânico, ou seja, para demonstrar as origens e a grandeza do passado
Nesse contexto, William Cowper, 1782, escreve a obra Boudicea: an
ode
U T I L I Z A Ç Õ E S D A F I G U R A D E B O U D I C A
49 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
dela e suas ações do passado, contada pelos antigos romanos, o uso de sua
como se avançasse sobre o parlamento.
crachá, e com o nome de Boadicea
1914
reivindicações do movimento.
Até os dias de hoje, a estátua de Boudica é utilizada por grupos
denominado Climate Rush, que além de lutarem pelos direitos das mulheres,
--
morating-boadicea-1908, 18/09/2011)
50 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
o movimento também tem a presença de homens como militantes e ainda
Deeds not Words
palavras.
Foto com o nome: Boudicca agrees, “deeds not words”
nacional.
C O N C L U S Ã O
51 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
B I B L I O G R A F I A
COWPER, W. 1980. Boadicea: an ode, In: J. D. Baird and C. Ryskamp (ed.) The poems of William Cowper, Oxford, Clarendon Press. 1:1748 – 82,
Fletcher’s the tragedie of Bonduca and the anxieties of the masculine government of James I, Studies in English literatu-
‘Bonduca’, In: F. Bowers (ed.) The dramtic works in the beaumont and Flecher canon
Boadicea
The legacy of Boadicea: gender and nation in early Modern England, London, Routledge.
Pós-modernismo.
Gênero em questão – apontamentos para uma discussão teórica. Mnme – Revista virtual de Humanidades, Dossiê História Cul-
SMOLLETT, T. 1758. A complete history of England from the descent of Julius Caesar to the treay of aix la capelle.
TACITUS, C. The annals of Imperial Rome
Boudica: the British revolt against Rome
WILLIAMS, C. 1999. This frantic woman: Boadicea and English neo-classical embarrassment
52 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
R E G I S T R O A R Q U E O L Ó G I C OCOMO INSTRUMENTO DE MEMÓRIA SOCIAL
Rossano Lopes BastosArqueólogo do IPHAN, Livre docente em arqueologia brasileira, professor convidado do MAE/USP, catedrático da Universidade de Coimbra/PT, Instituto Politécnico de TOMAR/PT e Universidade Trás-os-Montes/PT.Contato: [email protected]
O presente artigo procura jogar luzes sobre a temática do patrimônio
instrumento de memória social. Procura abordar suas novas formas e entendimentos atualizados para os tempos pós-modernos. Assim, o texto parte dos conceitos originários de patrimônio e segue procurando cotejar com sua base legal contida nas legislações ordinárias e infraconstitucionais por um caminho que possibilite uma interpretação mais arrojada e comprometida com os grupos vulneráveis. Por outro lado, explicita a formação de um conjunto de registros arqueológicos históricos até bem pouco tempo desdenhado pela arqueologia brasileira. A matriz transversal utilizada como abordagem traz elementos essenciais ao debate para a arqueologia pública no Brasil, no
de 1988, que os direitos culturais são direitos humanos fundamentais, uma vez que o patrimônio cultural base essencial destes direitos ungido por todas as formas de expressão, manifestação e saber constitui na sua matriz a força motriz do pertencimento que estabelece nossas identidades e caracteriza os bens culturais com bens de uso público, de todo o povo brasileiro.
Palavras-chave: Patrimônio, arqueologia, memória.
R E S U M O
A U T O R
C O N S I D E R A Ç Õ E S I N I C I A I S : O S C O N C E I T O S
Para iniciar nosso texto, consideramos importante frisar os conceitos que nortearam nosso pensamento na elaboração deste artigo, já que o texto almeja mostrar a importância do registro arqueológico enquanto instrumento para a construção da memória social.
O conceito de Patrimônio Cultural
Constituem Patrimônio Cultural Brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
53 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
coletiva”, a qual designava o conjunto de bens de valor cultural que passaram a ser propriedade da nação, ou seja, do conjunto de todos os cidadãos.
O Patrimônio Histórico no Brasil tem sua origem orgânica no projeto
denominava Patrimônio Histórico. Acompanhando o pensamento de Marly
O patrimônio Histórico é uma vertente particular da ação
desenvolvida pelo poder público para a instituição da memória social.
O patrimônio se destaca dos demais lugares de memória uma vez que o
às disputas econômicas e simbólicas que o tornam um campo de exercício
de poder.
Dito isso, podemos entender que o Patrimônio Histórico, mais do que um testemunho do passado, é um retrato do presente, uma expressão das possibilidades políticas dos diversos segmentos sociais, expressos em grande parte pela herança cultural dos bens que materializam e documentam sua presença, sua marca no fazer histórico da sociedade.
O patrimônio não é, porém uma representação de todos. Este modo de concebê-lo resultou de um momento histórico no qual os bens protegidos
variada, se deslocando da nação para a sociedade, portanto com um novo estatuto interventivo. A política do patrimônio aparece como um elemento do modernismo funcionalista, pois ela participa de um zoneamento funcional dos espaços, atribuindo-se a alguns as funções “Patrimoniais”.
a apresentação de projetos de arqueologia em todo território nacional e consolida-se com as Portarias IPHAN 230/02 e 28/03, respectivamente que compatibiliza as fases do licenciamento ambiental aos processos arqueológicos e dispõe sobre os estudos arqueológicos de diagnóstico para licenças de operação em empreendimentos hidrelétricos antigos que não foram objeto de pesquisas arqueológicas preventivas.
O patrimônio arqueológico compreende a porção do patrimônio material para o qual os métodos de arqueologia fornecem conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios da existência humana e interessam todos os lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais sejam elas, estruturais e vestígios abandonados, na superfície, no subsolo ou sob as
O patrimônio arqueológico, segundo Mendonça de Souza e Souza -
ta_de_Lausanne_1990.pdf Data de
54 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
caracterizado como o conjunto de locais em que habitaram as
populações pré-históricas, bem como toda e qualquer evidência das
atividades culturais destes grupos pretéritos e inclusive seus restos
biológicos. O patrimônio arqueológico é assim integrado não só por
pelas informações deles dedutíveis a partir, por exemplo, da sua própria
disposição locacional, das formas adotadas para ocupação do espaço e
dos contextos ecológicos selecionados para tal.
diferentemente de outros sistemas não comporta restauração, sua capacidade
uma preocupação constante em obras e empreendimentos de potencial dano
O registro arqueológico O registro arqueológico tem sua delimitação legal contida em diversas
normas pelo mundo. Comparece nas preocupações da UNESCO, tem lugar
sua amplitude e proteção. No Brasil, o registro arqueológico tem sua primeira
ser objeto do procedimento de Tombamento. Este procedimento que se constitui do instrumento do tombamento se demonstrou ao longo do tempo
Desde a edição do decreto lei de tombamento poucos foram os sítios arqueológicos tombados e os que foram tem resultados, enquanto proteção, bastante duvidoso. Um exemplo disto é o sítio arqueológico tipo sambaqui denominado Pindaí, localizado próximo a São Luiz, no Maranhão, que hoje ainda tombado tem sobre ele uma rodovia, um loteamento e um bairro.
arqueológicos e pré-históricos” é emblemática, pois vem suprir uma lacuna
do patrimônio arqueológico foi editada primeiramente no Estado de São Paulo em 1955, em função de pesquisadores e intelectuais da Universidade de São |Paulo.
dezembro de 1988 da portaria IPHAN nº 230/02 e ainda da Portaria 28/03.Dentro desse escopo temos uma circunstância histórica para a formulação
circunscreviam o objeto arqueológico. Uma das demandas mais polêmicas a época era a temática ligada à naturalidade ou a culturalidade dos sambaquis. Sítios arqueológicos de populações pré-históricas, que tinham uma dieta
55 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
baseada nos frutos do mar, notadamente com a primazia dos peixes e que construíam enormes montes com carapaças de moluscos. Na perspectiva da época em que vigoravam conceitos ainda não muito sólidos sobre as categorias dos sítios arqueológicos, os sambaquis geraram dúvidas e intenso debate, em especial as com questões relacionadas com a sua importância cultural.
O registro arqueológico hoje é considerado uma assinatura material das ações resultantes da atividade humana que resistiram no tempo e no espaço. Ressalte-se que com o avanço da compreensão sobre a construção do passado e sua natureza identitária perante a humanidade, a sociedade em busca de símbolos de pertencimento e memória, também passaram a considerar como
lugares e espaços que foram utilizados pela humanidade, assim como para
de volume e dinâmica espacial pelos arqueólogos. A utilização de grutas, abrigos sob rochas, cavernas ou cavidades subterrâneas, lugares de combate,
são entre outros, exemplos de locais que foram utilizados pela humanidade,
Entretanto, os estudos arqueológicos de matriz transversal têm ocupado
sociedade e com a inclusão social dos grupos vulneráveis e, desta forma, tem apontado para a multiplicidade de sítios arqueológicos até então desconhecidos pela população e relegados ao plano do esquecimento da maioria dos arqueólogos brasileiros, até bem pouco tempo atrás.
De que maneira nós poderíamos compatibilizar, harmonizar e
conscientemente optar por incorporar à nossa trajetória cultural àqueles
próprios para o progresso tecnológico e material e que venham ao longo
personalidade?
Essa pergunta parece que não quer calar, é atual e remete a uma discussão ampla que demanda tensões, pela natureza teórica e de entendimento do que se constituem as bases efetivas do patrimônio cultural arqueológico em toda sua extensão. Durante muito tempo, e este tempo remete ao atual, estabeleceu-
campo arqueológico, que se denominou o campo da arqueologia histórica. A
e interesse, principalmente dentro da academia que só muito recentemente
IPHAN, a matéria é controversa, em especial com os arquitetos, e encontra
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
conhecimento, o mesmo viés não se dá com a arquitetura, onde a preferência
Entretanto, passo fundamental foi dado, no sentido de oferecer instrumentos para o estabelecimento de uma política para a arqueologia histórica, durante o “Seminário Internacional de Reabilitação Urbana de Sítios Históricos”, realizado em dezembro de 2002, pelo Departamento de Proteção
A organização do referido seminário distribuiu as discussões por grupos de trabalhos e o grupo de trabalho nº 4 foi intitulado “Arqueologia aplicada ao processo de reabilitação”. A temática proposta já sinalizava em certa medida a compreensão dos organizadores de um dos lugares que deve ter a arqueologia. Esta constatação ganha contornos precisos e importantes levando-se em consideração que o seminário em tela foi organizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia federal responsável pelas políticas de preservação dos bens culturais no território nacional. Se por um lado, mostra a preocupação dos organizadores em discutir a participação da arqueologia no processo de reabilitação urbana de sítios históricos, por outro, entende a disciplina como auxiliar ao processo de reabilitação com matrizes arquitetônicas, não reconhecendo nela o papel de agente fundamental
Estas limitações, muitas vezes, estão na raiz dos problemas enfrentados pela arqueologia nos dias de hoje.
Um esforço semelhante mais pouco divulgado no âmbito do IPHAN, e realizado no mesmo ano do Seminário Internacional de Reabilitação Urbana de Sítios Históricos, é o Manual de Arqueologia Histórica para projetos de restauração, elaborada pela arqueóloga Rosana Najjar para o projeto Monumenta/BID. Esta situação de falta de extroversão da produção realizada é característica de um descompasso entre o IPHAN, a academia e a sociedade.
Dentro desta perspectiva, retomando o grupo de trabalho do Seminário Internacional de Reabilitação Urbana, que discutiu a arqueologia aplicada ao processo de reabilitação, estamos falando da proposição mais arrojada formulada até hoje no IPHAN para discutir a questão. Neste sentido, vale ressaltar as suas conclusões, que apontam para recomendações que objetivam a formatação de conduta para o desenvolvimento de projetos em áreas urbanas históricas.
A formulação ali apresentada pretende ser uma contribuição para a
e manejo de áreas protegidas ou não. A primeira constatação foi de que os sítios arqueológicos situados em áreas urbanas podem tanto ser históricos como pré-históricos. Os sítios arqueológicos pré–históricos, tanto na cidade como no campo, encontram-se contemplados para efeitos de proteção na
históricos.
arqueológico, segundo o capítulo II, item um do decreto – lei nº 25 de 30 de
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Sítio arqueológico histórico em áreas urbanas são espaços
processo de ocupação do território pós-contato. Este tema será retomado
mais a frente com sua devida caracterização.” Seminário Internacional de
Reabilitação Urbana,2002 IPHAN.Brasília.
Um novo momento da disciplina arqueológica logrou estabelecimento no Brasil, a partir da edição da Portaria IPHAN 230/02. Quando ocupávamos
disciplinou os estudos arqueológicos no âmbito dos Estudos de Impactos Ambientais e respectivos Relatórios de Estudos Impactos Ambientais, que atendem pela sigla de EIA/RIMA, RAS, RAP, PCA, PBA, entre outras. A implantação formal dos estudos arqueológicos preventivos, cercado pela normalização federal abriu espaços para a elaboração de novas práticas relacionadas à arqueologia preventiva. No campo do registro arqueológico podemos observar o comparecimento cada vez maior de sítios arqueológicos de diferentes épocas e de distintas categorias de representatividade da memória que constitui os elementos formadores da identidade social do Brasil.
Sendo assim, o conceito de registro arqueológico tem sido alargado para contemplar todos os seguimentos que compõem a memória social do Brasil.
haveria sempre apenas o presente, não haveria prolongamento do passado atual, não haveria evolução, não haveria duração concreta. A duração e o progresso continuam do passado que rói o porvir e incha na medida em que avança. Uma vez que o passado cresce incessantemente, também se conserva
numa gaveta e inscreve¬-las num registro pura e simplesmente. Não há registro, não há gaveta, não há aqui propriamente falando, sequer faculdade, pois uma faculdade se exerce de forma intermitente, quando quer ou quando pode, ao passo que a acumulação do passado sobre o passado prossegue sem trégua. Na verdade o passado se conserva por si mesmo, automaticamente, o que nos cabe é exorcizá-lo, depurá-lo, para que ele não retorne enquanto tragédia.
Precisamente, e debruçado sobre o presente que ele irá se juntar, forçando a porta da consciência que gostaria de deixá-la de fora. Trata-se de recuperar uma lembrança, de evocar um período de nossa historia. A verdade é que jamais atingiremos o passado se não nos colocarmos nele de saída. Entre as doenças da memória a que é mais danosa a sociedade é aquela que insiste em ser esquecida.
Não há nada mais simples que a explicação deles, em queimar os documentos da época escravidão brasileira, em sumir com pessoas, não há nada mais simples que subtrair das gerações futuras sua memória ancestral. Se elas desaparecem da memória é porque os elementos antagônicos em que repousavam a ação foram alterados ou destruídos.
Aqui estamos falando do dano intergeracional que, conforme Lemos
diminuição, total ou parcial de elemento, ou de expressão, componente da
58 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
P A T R I M Ô N I O A R Q U E O L Ó G I C O E A S F O R M A S J U R Í D I C A S : D I R E I T O S C U L T U R A I S E N Q U A N T O D I R E I T O S H U M A N O S .
estrutura e bens psíquicos, físicos, morais ou materiais.
não é só um entendimento teórico, ao contrário, é o único meio de trazer efetividade ao exercício dos direitos culturais.
No Brasil podemos dizer sem medo de cometer injustiças que direitos
da sociedade, políticos e também por parte do judiciário, visto no conjunto, bastante conservador. Infelizmente, essa conduta não exceção, é regra.
Queremos aqui estabelecer um campo de entendimento do que seja conservador. Isto é, aquele entendimento da lei que prima pela primorosa observância do conteúdo escrito, sem levarmos em consideração as opções
formulações interpretações socialmente mais justas na medida em que avançam as conquistas dos movimentos sociais.
No Brasil, em particular, nas questões ambientais que envolvem a construção e operação de empreendimentos hidrelétricos de grande porte, que em geral desloca centenas, às vezes milhares de famílias de seus territórios constituídos para lugares sem memória. Na esteira dessas intervenções surgiu
Barragem não”, que poderia muito bem ter a variante terra sim, enchente não. O MAB foi responsável por grandes conquistas para os agricultores rurais, moradores, posseiros e proprietários das áreas inundadas para a construção dos reservatórios das empresas geradoras de energia.Cabe lembrarmos que os grandes reservatórios, pertencem à ideologia do Brasil grande, oriundo do
direitos culturais eram pauta vencida.Desta forma, aqui discorreremos sobre os direitos culturais enquanto
direitos humanos. Antes, porém, gostaríamos de fazer uma advertência teórica de fundo ideológico, para deixar explicitada a nossa posição no campo do exercício dos direitos. Em princípio, todos os direitos são humanos, aqui entendidos enquanto prática social para o favorecimento da organização das sociedades.
Queremos deixar ainda consignado que a sua organização, digo do direito enquanto prática social, está sujeita a uma complexidade de forças políticas, que atuam ora tencionando o arranjo institucional, ora distencionando demandas represadas de determinado seguimento social organizado.
A ideia aqui não é sermos excessivos, mas apenas deixarmos registrados que existemarcos legais que atendem satisfatoriamente as demandas de preservação do patrimônio cultural arqueológico.
A nossa constituição elencou um conjunto muito interessante de leis para a proteção da cidadania cultural. Também devemos marcar que a
O S S U P O R T E S L E G A I S
59 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
que sinalizavam para a preservação do patrimônio cultural arqueológico.
Dentro do espectro que reúne o patrimônio cultural, legítima categoria dos direitos culturais, escolherá aqui o patrimônio arqueológico, pois nos parece dentre as inúmeras distinções aquele que mais reúne elementos e pode ter uma amplitude que contemple vários seguimentos do pensamento patrimonial e suas relações com os direitos humanos.
A arqueologia por si é uma disciplina em constante formação e transformação, toma emprestado tanto na rigidez do pensamento cartesiano
ciências arqueológicas. Para adentrar nesse seara convém delimitar nosso campo de entendimento da transdisciplinaridade, condição sinequa non para operar a religação dos saberes tão essencial para compreensão das práticas arqueológicas.
retomadas para a construção de novos postulados, onde são recuperados sentidos, valores, sentimentos, pensamentos e ações, descartadas ou supostamente superadas em momentos anteriores e as reintegramos no cenário do conhecimento.
Neste sentido, a arqueologia brasileira toma para si, a partir de outros
nova geração de pesquisadores/educadores, mais conectados com a inclusão social e com o conhecimento emancipatório, que devemos esperar para uma arqueologia verdadeiramente pública e de acesso comum a todos.
C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A I S
Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
B I B L I O G R A F I A
Cartas de Trabalho-correspondência com Rodrigo Melo Franco de Andrade (1936-1945) -
BASTOS, Rossano Lopes e TEIXEIRA, Adriana. Normas e Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico -za, M. C. IPHAN. 2ª edição 2008. São Paulo/SP.
BASTOS, R. L. Representações Sociais, Patrimônio Arqueológico e Preservação
Uma viagem nas representações socias. Universidade federal de \Santa Ca-
BERGSON, Henri. Memória e vida textos escolhidosGiles Deleuze
IPHAN, Seminário Internacional de Reabilitação Urbanade Sítios Históricos. Brasília, 2002
Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário
2008.
Construções do passado: Concepções sobre a Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil:
anos 70 –80)
MACHADO, P. A. L.. Direito Ambiental Brasileiro. 14º edição, revista, atualizada e ampliada. Malheiros editores LTDA. São
MAGALHÃES, A. E Triunfo? A Questão dos Bens Culturais no Brasil
MENDONÇA DE SOUZA, A. A. C. & SOUZA,J.C. O patrimônio arqueológico da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.ISCB. Rio de Janeiro, 1981.KENSKY, V. M. A Formação do Professor-Pesquisador. In: Anais do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino -
KISS, A. C. La Notion da PatrimoineCommun de L´humanité
RODRIGUES, Marly. De quem é o patrimônio? Um olhar sobre a prática preservacionista em São Paulo. Revista do Patrimônio
61 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
R E S E N H A
FUNARI, Pedro Paulo; PIÑON, Ana. A temática indígena na escola:
subsídios para os professores. São Paulo: Editora Contexto, 2011.
Aline Vieira de Carvalho
Pesquisadora do NEPAM e coordenadora do Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte – NEPAM/Unicamp.Contato: [email protected]
Victor Henrique da Silva Menezes
Graduando em História pela Universidade Estadual de Campinas – e estagiário do Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte – NEPAM/Unicamp.Contato: [email protected]
Porque seria necessário produzir um livro sobre a temática indígena em
Nacionais1 discutimos exaustivamente em nossas escolas (e em nossos projetos pedagógicos) a questão da cidadania, da pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, da luta contra qualquer forma de discriminação baseada em diferenças culturais (e também diferenças de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais), da pluralidade das memórias, entre outros temas onde, teoricamente, os grupos indígenas que compartilham o território que chamamos de Brasil estariam incluídos nos debates. Ou, mesmo nas Universidades, temas como o multiculturalismo,
ao nos defrontar com o livro A temática indígena na escola: subsídios para os
professores, publicado pela Editora Contexto (2011). A resposta, todavia, salta aos nossos olhos logo nas primeiras páginas.
A obra, arquitetada para ser lida e discutida por um amplo público, e, em especial, professores, destaca o papel ativo do Estado Nacional brasileiro no apagamento das memórias relacionados aos nativos americanos. O foco,
de que a leitura do tempo passado é sempre realizada sobre o viés do presente, os autores destacam como as memórias sobre os indígenas são vivenciadas nos dias de hoje e são projetadas para o passado. Por mais surpreendente que possa ser, expressiva parcela dos jovens estudantes brasileiros continuam a perceber
existem no presente e, quando existem, estão nas ocas da Amazônia (p. 109). O completo desconhecimento dos 235 povos indígenas existentes no
Brasil atual2
1Para consultar o texto dos
Nacionais: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf
2Este número foi publicado pelo
Programa Povos Indígenas no Brasil
e está disponível no site: http://
pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/
populacao-indigena-no-brasil. É
preciso destacar, como o próprio
Programa sinaliza, que este número
internas de cada um dos grupos
indígenas listados.
62 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
ao último ano do século XV, a memória que nos resta é sempre do indígena vencido ou desimportante! No geral, as pessoas não se percebem com
importantíssimas da convivência destes diferentes grupos culturais: do universo da alimentação (da mandioca à batata, do tomate ao chocolate, algumas das
léxicos (Mogi, Caju, Pindamonhangaba, Anhanguera, entre tantos outros!) até a herança cultural do banho diário, os diálogos culturais entre os nativos e europeus são incomensuráveis e, constantemente, silenciados e esquecidos.
O livro, neste contexto, apresenta-se como fundamental ao Brasil dos dias de hoje. E sua inovação está na característica de mostrar, partindo de uma linguagem acessível e de conhecimentos produzidos em diversas ciências, que nenhum desses esquecimentos e memórias são naturais. Ou seja, o livro tem como premissa que os mecanismos de exclusão não são estáticos, atemporais ou simplesmente dados. Por não terem datas e locais de nascimento, essas
alteradas. Para a transformação, entretanto, é preciso ter conhecimento sobre
esses poderes. O livro almeja suprir uma lacuna: oferecer uma visão plural e acessível sobre a constituição da temática indígena no Brasil. Para isso, os autores conceberam uma obra que se divide em quatro eixos temáticos (“As identidades”, “Os índios”, “A escola” e “A república”), e, em sua base, trabalha com a proposta de que não existem raças, mas apenas a raça humana.
Criticando, dessa forma, a contraposição entre “índios” e “brancos” como categoria de tipo racial, os autores iniciam o livro com a polêmica discussão acerca de quando se principia a História do Brasil. A história do continente americano tem sido narrada a partir de uma perspectiva européia, o que pode ser observado, por exemplo, quando é difundida a ideia de que a nossa história teria iniciado em 1500 com a chegada dos portugueses ou até mesmo em 1140 no momento de formação do Estado de Portugal. Tais abordagens na maioria das vezes acabam por excluir o fato de que bem antes de 1500 essas terras já haviam sido povoadas. Partindo desse pressuposto, Funari e Piñón inserem uma crítica quanto à forma que este tema é trabalhado dentro de
país – “esquecem” de levar em consideração a (pré) e/ou história desses povos que aqui habitavam como um dos agentes que contribuem para a formação
a ideia – presente em muitas pessoas, como mostra a pesquisa feita pelos autores e exposta no livro – de que a parte do continente que constituiria nosso país só passara a ser povoada com a chegada dos europeus.
Após essa breve discussão, nos capítulos que se sucedem, os autores
indígenas, como por exemplo, Tupinambás (os descendestes do ancestral), Tupiniquins (o galho do ancestral), Tupi (ancestral), Guarani (guerreiro), Inca
ao mesmo tempo, a ideia de que todos aqueles que habitavam o continente antes de 1492 formavam um único povo. Funari e Piñón salientam que esses povos se autodenominavam “(…) de milhares de maneiras, cada povo a seu
63 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
culturais.Os autores tiveram também a preocupação em explicar alguns termos
técnicos e conceitos que já foram utilizados, ou ainda são, nos estudos que versam sobre os povos indígenas, como “assimilação” (p.22), “aculturação” (p. 24), “modelo normativo” (p. 24), “etnogênese” (p. 26), “transculturação” (p. 26), “olhar antropológico” (p. 30), “desnaturalização” (p. 30), “abordagens culturalistas” (p. 44), “deculturação” (p. 72), “americanismos” (p. 95) e “invisibilidade do indígena” (p. 110). Essa estratégia de explicação de conceitos básicos nos estudos de determinados campos, tão presente nos demais trabalhos de Funari, mostrou-se
parte do leitor de como o tema em questão deve ser estudado, além de auxiliar no entendimento das diferentes maneiras que o índio já foi apresentado a partir de conceitos tão fortes como estes; o que faz com que o leitor acompanhe as críticas relacionadas à abordagem da temática indígena que os autores constroem no decorrer da narrativa.
Há uma valorização das pesquisas arqueológicas, o que não poderia faltar em um livro escrito por arqueólogos que tem uma profunda preocupação em introduzir em seus trabalhos os estudos realizados com comunidades do passado e do presente através de sua cultura material. Pois, como enfatiza Funari
e que, portanto, vale a pena ver o que descobriram e anotaram os arqueólogos” (p. 34), sendo que “(…) os vestígios arqueológicos podem mostrar como eram as aldeias indígenas, as ocas e a estrutura arquitetônica de importantes centros como as cidades maias ou as estradas incas, nos Andes, as melhores do mundo no século XV” (p. 37).
A trajetória do homem e povoação da América é trabalhada a partir das teorias difundidas pelas arqueólogas Maria Conceição Beltrão e Niède Guidon, e
de que nas sociedades caçadoras e coletoras havia necessariamente uma divisão de tarefas por sexo, ou seja, que o homem era o caçador e a mulher a que fazia a coleta e que, por isso, o homem seria hierarquicamente superior à mulher (p. 46) é fortemente criticada pelos autores que trabalham com a ideia de que “(…) nem todas as sociedades indígenas eram (ou são) patriarcais” (p. 48). Partindo
mulheres sejam levadas à sala de aula, pois o tema do protagonismo social das
Funari e Piñón, caberia comentar sobre a diversidade de sexualidades registrada em tribos indígenas, onde pesquisas têm mostrado a existência de sociedades indígenas que reconheciam mais do que dois sexos (p.49).
indígenas que deveriam ser inseridas nas salas de aulas, os autores discutem e criticam a forma que a temática indígena foi tratada quando introduzida nos livros didáticos a partir de 1943, em que “(…) os índios eram quase sempre enfocados no passado e apareciam, muitas vezes, como coadjuvantes e não como sujeitos históricos, à sombra da atividade dos colonos europeus” (p. 97), e a “(…) colonização do continente americano pelos indígenas praticamente não era mencionada e os índios eram descritos por meio da negação de traços
64 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
tecnologia” (p. 98). Situação esta que só mudou a partir da segunda metade dos anos 1990 onde buscou-se a universalização da escola fundamental de oito anos e a valorização da diversidade cultural, o que resulta então na produção de novos materiais didáticos no qual passa a ser tratado com maior atenção temas indígenas, apresentando “(…) a povoação do continente como um tema em discussão pelos pesquisadores, com a apresentação de diversas teorias, o que favorece uma visão crítica sobre o conhecimento histórico por parte de estudantes” (p. 100).
Uma observação por parte dos autores que é importante destacar, é que, apesar da maior atenção dada nos livros didáticos e de novas políticas por parte do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais de Educação em relação à temática indígena, é perceptível que entre os estudantes ainda há
uma pesquisa feita em escolas do Rio de Janeiro, Niterói, Campinas e Natal, dos sextos aos nonos anos do Ensino Fundamental, e que Funari e Piñón apresentam
um terço dos entrevistados não souberam mencionar nenhuma tribo, que 73% consideram que os índios estão no Brasil desde 1500 e que quando questionados sobre a proveniência dos índios, que apenas 16% responderam que vieram da Ásia, única resposta que corresponde aquilo que está nos livros didáticos, que como explicam os autores, “(…) já deveriam ter sido incorporadas pela maioria dos estudantes, mas ainda não foi.” (p. 108), o que demonstra avanços e limites das políticas educacionais dos últimos anos (p. 109).
vitórias que a introdução na escola da temática indígena obteve foi fazer com que os estudantes passassem a se ver como descendentes de índios, algo que no passado não era visto no país, onde tentava-se apagar a nossa memória indígena, e que agora, “(…) o fato de que muitas crianças reconheçam ter parentes indígena mostra como a valorização do indígena, apesar de todos os problemas, avançou no nosso país” (p. 111); concluindo que “(…) a escola, por seu papel de formação da criança, adquire um potencial estratégico capaz de atuar para que os índios passem a ser considerados não apenas um “outro”, a ser
deste nosso maior tesouro: a diversidade.” (p. 116). Uma obra inovadora, A temática indígena na escola: subsídios para os
professores, constitui um riquíssimo trabalho de pesquisa e escrita por parte de Funari e Piñón e que é certo que terá grande aceitação entre os professores das redes públicas e privadas que há muito carecem de um trabalho como este, que é provável que lhes sirva de inspiração e auxílio para que repensem a forma como têm tratado a temática indígena na sala de aula ou até mesmo como eles têm colocado o índio na história quando está dando uma aula de História do Brasil ou da América. Para a próxima edição, sinaliza-se, todavia, a necessidade do maior cuidado editorial em relação às imagens: muitas não possuem legenda, créditos ou autoria.
Independente do cuidado editorial, podemos concluir que está é uma obra
65 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
ligado à sociedade, agindo com e para ela”3 . Assim, o engajamento do livro segue no sentido de contribuir com a construção de meios que permitam a
Índio” foi se transformando em uma categoria essencializada, discriminada e silenciada ao longo de nossa história.
3Schiavetto, Solange Nunes
de Oliveira. “A questão étnica
no discurso arqueológico: a
indígena minoritária ou inserção
na identidade nacional?” (p.85). In:
Funari, PP.; Orser, C. Jr.; Schiavetto, S.
N. de O. (orgs). Identidades, discurso
e poder: estudos da arqueologia
Fapesp. São Paulo, 2005.
66 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
P E R S P E C T I VA S D A A R Q U E O L O G I A P Ú B L I C A N O B R A S I L E E M C U B A
A presente entrevista tem como objetivo analisar como a Arqueologia
Pública é entendida pela intelectual Lourdes Dominguez, reconhecida estudiosa
cubana que desenvolve diversos trabalhos em parceria com universidades
brasileiras. No decorrer do texto, aborda-se também a trajetória acadêmica da
professora, assim como o desenvolvimento da Arqueologia Pública em Cuba e
as aproximações possíveis entre esse país e o Brasil.
Palavras Chave: Arqueologia Pública, Brasil, Cuba.
A Arqueologia Pública vem a cada ano alcançando novas possibilidades
e perspectivas. Desenvolvendo-se como um campo de estudos interdisciplinar,
tem como um de seus principais objetivos possibilitar a interação da sociedade
de recuperação e preservação de sua própria história. Para entender melhor
essas questões, a professora Lourdes Dominguez cedeu-nos gentilmente
perspectiva sobre o desenvolvimento dessa ciência em outro país e de possíveis
interações entre Cuba e Brasil.
anualmente para atuar como professora visitante na Universidade Estadual
de Campinas, além de desenvolver diversos projetos com outras instituições.
Dentre estes, ministra cursos no Laboratório de Arqueologia Pública (Unicamp),
palestras na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e na Universidade Federal
de Alfenas (UNIFAL), entre outras.
Lourdes Dominguez
da Universidade Estadual de Campinas.
Contato: [email protected].
R E S U M O
I N T R O D U Ç Ã O
Isabela BackxAluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação da Unicamp e pesquisadora colaboradora do Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp.
Contato: [email protected].
E N T R E V I S TA
67 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
Isabela Backx: Para empezar, podrías contarnos un poco acerca de tu carrera académica. ¿Cómo empezaron tus estudios en Arqueología?
Lourdes Dominguez:
Te voy a contar que fue algo muy interesante, de pura casualidad. Yo me intere-
saba mucho por todo lo que es el problema indígena en América latina, sobre todo
en las primeras etapas. Desde el triunfo de la revolución eso fue una cosa nueva, que
me impactó. O sea, las comunidades que vivían todavía, sus papeles de desarrollo
histórico en América, etc. Todas esas cosas me gustaron, y eso era muy difícil de
estudiar en mi país en ese momento. Años 60, acabábamos de empezar todo el pro-
ceso revolucionario, y fue difícil encontrar algo que me ayudara, pues la sociología
no la habían abierto la universidad. Traté de estudiar otras carreras pero por razones
de obrería, o sea, un examen que no podría hacer, la matemática que soy muy mala
y todo eso, por eso resolví estudiar historia.
La historia me ha abierto un mundo inmenso, y tuve la segunda suerte de te-
ner un compañero que era arqueólogo. Un colega de un estudio que me introdujo
dentro de un departamento que se creaba nuevo dentro de la academia de ciencia.
Bueno, la academia de ciencia como órgano investigativo, no como reunión de aca-
démicos. Ahora es diferente. En aquel momento, ese organismo que se organizó en
Cuba, que se llamaba Academia de Ciencias de Cuba, era un emporio de investiga-
ciones, y se había abierto una parte para el estudio de Arqueología, que la dirigía el
doctor Ernesto Tabio y que colaboraba con el doctor José Manuel Guarch. Mi amigo,
y él fue quien me introdujo dentro del área arqueológica de estudios. Me gusto mu-
chísimo. La situación más terrible fue que por ejemplo, el señor que dirigía aquella
institución, un hombre mayor, muy culto, muy buen arqueólogo, un hombre que ha-
bía trabajado en Perú y en diferentes lugares, tenía un concepto de las mujeres muy
desagradable, y cuando fui – una muchachita – a decirle “a mi me interesa trabajar
aquí”, lo que me dijo fue: “Arqueología no es para mujeres”.
Yo me sentí tan defraudada, además todo ese proceso revolucionario de los
inicios del proceso cubano fue muy interesante en el sentido de que el papel de
esa serie de cosas que se dan entonces. Y aquella respuesta de aquel hombre, que
yo lo consideraba un sabio, decirme que esa especialidad, esa ciencia, no era para
quedó mas remedio de que decirle: “está bien, si usted dice eso yo no digo nada, se
acabó.” Pero para dentro de mi dije: “bueno este es el momento en que empieza de
verdad el interés por Arqueología”. Y continué yendo a todas las reuniones, a todas
las conferencias, a todas las cosas, y a los dos años y pico de aquella situación ya
yo estaba trabajando en ese sitio. Porque entré como historiadora, y al otro día ya
gran amigo mío y fue prácticamente mi padre, vamos a decirlo así. Conversábamos
mucho acerca de la especialidad, de los conceptos, teníamos muchas discusiones
otro amigo mío también, José Manuel Guarch, que es un arqueólogo de primera –
podríamos decir que el primer arqueólogo cubano con un pensamiento claro sobre
la Arqueología cubana –, fue mi amigo hasta su receso, cuando perdí un amigo y un
hermano.
68 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
-tanos un poco acerca de los trabajos que se desarrollan en esta institución, y cómo las actividades arqueológicas se insieren en ella.
L.D.:
Tenemos que hacer un poquitico de historia. En todo lo que es el trabajo ante-
Academia de Ciencia. Esta Academia de ciencia que te decía yo, que era un organis-
mo – era, porque ya no existe –investigativo, o sea, de grupos de investigadores que
trabajaban diferentes líneas de la geografía, de la Arqueología, de la literatura, de di-
ferentes cosas. Todo eso formaba un gran elefante, podríamos decir, sobre estudios
generales. Y la Arqueología se estudiaba porque había un curso de Arqueología den-
tro de allí, que fueron cursos medios, básicos y superiores, con presentación de tesis
de laboratorio, y tú tenías que pasar por todo. O sea, el arqueólogo que nada más se
sienta en una mesa a escribir, ese no es arqueólogo. Tú tienes que entrar y trabajar
en un laboratorio, desde empezar a lavar una pieza, saber cuáles son las característi-
cas de las piezas, de los materiales, porque los tienes que hacer, cómo los tienes que
guardar, buscar toda esa información. Yo tuve esa suerte de hacer el trabajo en esa
forma. Y además, lo estudié dentro de la propia institución. Después fui a desarrollar
pero ya después de haberme formado como un arqueólogo con todas las etapas
que hay que conformar-se para que puedas después tu dirigir una excavación, tener
criterios de cómo vas a guardar las piezas, de que qué tu quieres con las piezas, qué
tu quieres con la excavación. Porque la excavación no es hacer un hoyo por gusto, tú
tienes que crear las condiciones, buscar una estrategia, buscar la condicionante que
te lleve a ese aspecto para entonces poder entender cómo desarrollar una excavaci-
ón y que esa excavación tenga valores, valores que después se pasen en algún libro,
alguna clase.
Entonces yo tuve esa suerte. Allá trabajé todo lo que es la parte aborigen, o sea,
todo lo que es los aborígenes cubanos, porque mi jefe – aquel señor que te conté –
entendía que los arqueólogos tenían que ser capases de trabajar lo mismo: la parte
indígena y la parte colonial. O sea, tendrían que ser completos, con un desarrollo
completo, con un criterio completo de que es lo mismo hacer una temporada de tra-
bajo industrial, en un ingenio azucarero, o en un promontorio, o sea, que había una
mistura de todas estas cosas, pero también te permitía a ti tener un conocimiento
amplio de todos esos aspectos, a conocer sobre todo la prehistoria cubana, desde
los más antiguos hasta los más modernos, el contacto, todo eso. Yo me formé en
todas esas cosas, entonces es mi manera de trabajar. Ya después tuve que dirigir ese
departamento cuando el falleció. Tuve que dirigir ese departamento por dieciséis
años, y eso para mí fue algo importante porque logré muchas cosas que yo entendía
que debían hacerse en el estudio de Arqueología, en el trabajo arqueológico. Pero
también fueron para mi dieciséis años de menos, porque la tarea burocrática no te
permite tener ni estudio, ni trabajo, etc. Pero bueno, había que hacerlo, y no había
en ese momento otra persona que estuviera con posibilidades o con criterios, los
demás estaban estudiando, etc. Yo había ya terminado mi doctorado, y entonces
continué ese trabajo hasta el año 94, en que decidí aposentarme. Porque ya estaba
69 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
en tiempo, yo tenía ganas de descansar y no quería ser más dirigente de ese proceso,
porque entendía que estaba perdiendo mis años mejores de formación.
-
pequeño lugar – no tan pequeño, hoy ya está grande – que tiene un museo donde
cosas también del resto de la isla de Arqueología aborigen. Y tiene un grupo de tra-
bajadores que auxilian al plan maestro, o sea, lo que es el plan maestro para realizar a
restauración debe llevar consigo una excavación arqueológica. Esa es la tarea especí-
restauración comienza, un grupo de Arqueología comienza a realizar los trabajos es-
encontrado. O sea, no podemos decir que nosotros hemos encontrado el yacimiento
-
bana. No se ha podido encontrar porque también está tremendamente urbanizada,
lo que se está haciendo hasta ahora. Mi trabajo dentro de eso es asesoramiento. O
sea, revisar los planes de trabajo, revisar todo, los lugares de excavación, etc; y cual-
quier duda o cualquier problema que haya para los compañeros.
I.B.: ¿Qué entiendes por Arqueología Pública?
L.D.:
Mira para mí el término es un término no usual en Cuba. De todas maneras,
nosotros hemos estado haciendo un trabajo que indiscutiblemente es Arqueología
-
-
que sin los moradores de la ciudad, sin que la gente comparta sus propios criterios
y ayude a trabajar en los museos y en las áreas de trabajo no hubiera absolutamen-
te nada. Pues nosotros hemos estado haciendo Arqueología Pública hace muchos
años, y no nos hemos enterado que se llamaba Arqueología Pública. Ahora estamos
desarrollando ese término a partir verdaderamente de las concepciones, de la gesti-
esa área, pues es un área que está llena de museos, se considera que es una “Ciudad
Museo”, pero no una ciudad muerta, si no una ciudad que vive. Los moradores que-
dan viviendo adentro de esa ciudad, a veces hay un museo en la primera planta y en
la segunda planta hay gente a vivir, hay familias viviendo. O sea, se cambian mucho
los conceptos y por eso es que tienen mucha relación con la gente que vive en todos
esos lugares.
70 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
I.B.: ¿Cuáles son las perspectivas actuales de la Arqueología Pública en Cuba?
L.D.:
Bueno, fíjate, las perspectivas son tremendas. Es una ciudad antigua, una ciudad
que fue amurallada, que tiene mucho espacio para trabajar. Ya encontramos una gran
cantidad de museos en inmuebles, y ya están establecidos los de mayor valor a partir
del plan maestro, donde se determinaron los que más valor tenían o los que estaban en
más posibilidades de destrucción, y fueron los que tuvieron prioridad, y todavía con-
sideramos que hay otras partes, o sea, estamos en la tercera parte de cuatro. Estamos
en una tercera parte de un trabajo que está prácticamente concluido. Lo que pasa es
que acuérdate que el trabajo patrimonial no se termina nunca, porque tú tienes que
mantenerlo. O sea, tú no puedes reconstruir un inmueble y dejarlo, porque si lo dejas,
a los tres o cuatro años está igual que cuando lo encontraste. Ahí es donde se gasta
más dinero, ahí es donde se desarrolla más esfuerzo, y entonces eso hay que tenerlo en
cuenta, tú no puedes hacer y hacer y hacer, escavar, escavar y escavar. El otro problema
grande que le pasa a todos los arqueólogos es: “donde ponemos el material”, enton-
ces ya se está estudiando en algunos momentos qué materiales se quedan dentro del
lugar que estamos excavando, con sus debidas referencias, con su debido material.
si se estudian, si se llevan para un laboratorio. Estamos en esas decisiones, en esas dis-
quisiciones, que son muy difíciles, pero que son de una importancia tremenda, porque
hay una necesidad inmensa en el mundo completo de tomar decisiones de lo que se
va a hacer con los materiales. O sea, las excavaciones se dan y son toneladas de mate-
para su empaque, para su manutención, para su estancia en algún lugar futuro, porque
la Arqueología como toda ciencia, sigue adecuándose a nuevas perspectivas, a nuevos
trabajos, y a veces es necesario volver atrás en una excavación que en un momento
determinado se hicieron algunas cosas, pero que ahora, con una sistemática de trabajo
nueva, es muy necesario volver otra vez a trabajar con los materiales antiguos. Por eso
estructurados, para tu puedas sacarles frutos no solamente en el momento que lo está
haciendo, si no en un futuro para otras personas o para ti mismo. Esa es la disyuntiva
que tenemos en este momento.
I.B.: ¿A cuánto tiempo realizas trabajos en colaboración con universidades brasileñas? ¿Y cómo surgió esa oportunidad?
L.D.:
Bueno voy a empezar por cómo surgió la cosa: conocí al doctor Pedro Paulo Funa-
Fue el primer congreso fuera de Europa, el World Archaeological Congress. Yo fui de
esas casualidades de la vida, había dinero en Cuba y me mandaron para el congreso.
-
se habló mucho de Arqueología social. Y bueno, estábamos un día en un recreo y cono-
cía a Pedro Paulo, que ya había creo que terminado su doctorado, yo estaba por hacer
71 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
de portugués todavía no sé nada, y conversamos muchísimo. Después terminó el con-
greso, cada uno regresó a su lugar, y no existían todavía los correos electrónicos, y fue
eso. Pasó el tiempo, y como dos años o tres después de eso, yo estaba en Puerto Rico y
ya estaba el correo electrónico funcionando, y en un attachment que me mandaron a
mí de correo, venia el correo de Pedro Paulo, y yo le escribí. Después de eso, reanuda-
mos nuestra amistad, el me pidió mi currículo y me dijo que si yo quería podría venir
a Brasil, que tenían posibilidades de becas, etc, y no le hice mucho caso al principio,
porque pensé como siempre que las becas son muy difíciles, son muy problemáticas a
veces, etc. Pero bueno, yo le mande todos mis papeles y, para resumir la cuenta, todo
funcionó. Yo regresé de Puerto Rico a Cuba, estuve unos meses y se dio el primer viaje
aquí a Brasil con la beca. Estuve aquí en primera vez creo en el año dos mil o en no-
de Morais, que era el director del MAE en ese momento, me invitó a ese congreso, que
fue verdaderamente exitosísimo, en organización, trabajo, conocer a la gente, pudimos
todos colaborar, estábamos todos en un solo lugar donde pudimos conversar muchí-
simo. Ahí pude conocer a miles de compañeros que conocía solamente por carta. Fui
mío. Bueno, fue toda una cosa muy agradable. Resumiendo la cuenta, después de esa
-
do la gentileza de concederme esa beca, e yo de tratar también de hacer todo lo más
posible para no solamente demostrar que la beca está funcionando, pero demonstrar
que yo también ya me siento parte del trabajo que se hace en Brasil con Arqueología.
Ya estoy a diez u once años viniendo sistemáticamente, y me quedo a veces dos
meses, a veces tres, en dependencia de los compromisos que tenga en Cuba o que
haya aquí. Por ejemplo, este año fueron tres meses porque estaba previsto ir a Floria-
libros, conferencias que tengo que dar en otros lugares, trabajos que ya tengo de con-
tinuidad, como por ejemplo en Rio con Nanci de Oliveira, en Pelotas con Lúcio Mene-
zes, en Alfenas que también ya tenemos un trabajo consecutivo y todas las cosas que
tengo aquí en Campinas, como el Laboratório de Arqueología Pública.
I.B.: Es posible hacer una comparación entre el desenvolvimiento de la Arqueología Pública en Brasil y en Cuba?
L.D.:
-
-
date que nosotros somos un pequeño país y ustedes son un gran país. Pero tenemos
una cosa en común, y es que a nadie le interesa, ni en Cuba ni en Brasil, la Arqueología.
piensa que la Arqueología es hacer excavaciones, sacar cositas, ir a las cuevas, sacar
joyas, maravillas y toda esa serie de cosas que no son Arqueología. O sea, no estamos
viendo la Arqueología a partir de Indiana Jones, esa es la contra de la Arqueología
de verdad. Arqueología es una ciencia social, una ciencia que ayuda a reconstruir la
historia a partir de fuentes diferentes, de fuentes que no son escritas, y que son tan
válidas como las escritas, pero que hay que saber para descifrar cada una de esas cosas
72 Arqueologia Pública | Campinas | n° 4 | 2011
muchísimas otras disciplinas que ayudan a trabajar, como la cerámica, la geografía,
etc. Es una carrera que debe ser una carrera universitaria, y ahí es donde está el proble-
ma. Ninguna de nuestras universidades, tanto cubanas cuanto brasileñas, entienden el
concepto de una carrera universitaria de Arqueología. Entienden la Arqueología como
partes, partes de otras carreras, partes que entran dentro de otras carreras. En realidad
no estamos formando arqueólogos, estamos formando personas que les interesa la
claro en esa circunstancia, la ley emitida por la Unesco y por veces las leyes de patri-
monios emitidas por los propios países, exigen que el trabajo arqueológico se realice
en cada uno de los movimientos de tierra que se hagan. Pero si tu no creas personal
para ese trabajo, estas creando una clase de enredo tremendo, porque hay gente que
está haciendo Arqueología privada, Arqueología de contrato, pero los componentes
de esos mecanismos también están mal formados. O sea tú tienes que lograr tener
una visión clara de que hay que hacer, aun que sea en el último pueblo de Brasil, una
-
creas el personal correctamente tú no puedes crear más nada, o sea, ni puedes crear
los primeros profesionales que después te van a servir de maestros, ni puedes hacer
más nada. Tal vez el primer curso te pase mucho trabajo, pero el segundo ya tienes es-
tudiantes que están graduados, gente que se va desarrollando, pero van a seguir una
línea de estudios docentes como las hay en España, hay en otros países europeos, en
Estados Unidos también hay algunas carreras, pero en América Latina y en el Caribe no
hay ninguna universidad que tenga esto, excepto México.