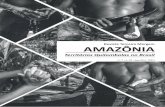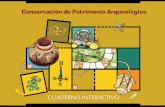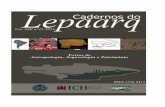Revista Arqueologia Pública 4, 2011 Arqueologia participativa, indígenas
A Arqueologia da Amazônia Central e as Classificações na Arqueologia Amazônica
Transcript of A Arqueologia da Amazônia Central e as Classificações na Arqueologia Amazônica
55
Oestudo da Arqueologia da Amazônia Central é importante para a Arqueologia dasterras baixas da América do Sul por, pelo menos, duas razões. A primeira diz respeitoao próprio conhecimento dessa área chave, zona de confluência dos três maiores rios
da bacia Amazônica, o Amazonas-Solimões, o Negro e o Madeira. A segunda razão,metodológica, será discutida neste trabalho. A premissa que o orienta é que o estudo de casoda Amazônia central revela a força dos princípios teóricos do culturalismo histórico e dealguns de seus procedimentos metodológicos.
Não cabe aqui reenunciar toda a história do culturalismo histórico. Ela já foi contada e compiladaem uma série de manuais e obras editadas (TRIGGER, 1989). Em geral, a leitura dessas obrasmostra o culturalismo histórico como uma etapa superada num já quase clássico, ao menosentre nós, esquema anglocêntrico da história da Arqueologia, que vai do evolucionismo doséculo XIX e desemboca no pós-processualismo atual. No entanto, o culturalismo históricocontinua vivo e forte, como uma espécie de paradigma silencioso, em boa parte da arqueologiapraticada em países periféricos, como ainda é o caso do Brasil. Uma resposta simples, porémcorreta, a essa observação seria que a Arqueologia nesses contextos é ainda exploratória,que parcelas significativas dos territórios desses países são desconhecidas e que, portanto, aspreocupações gerais clássicas do culturalismo histórico com variações formais, cronológicase espaciais em grandes territórios, geralmente explicadas pelo difusionismo, encontrariamali terreno fértil para desabrochar.
O problema, no entanto, é que desde a década de 90, pelo menos, percebe-se que algumasdessas questões clássicas do culturalismo histórico têm sido retomadas com força em algunsdos principais centros de produção de conhecimento sobre a Arqueologia. Dentre essasquestões, percebe-se uma preocupação com temas ligados, por exemplo, à correlação dacultura material e a expansão de línguas e famílias linguísticas (RENFREW, 2000) de complexosagrícolas (BELLWOOD, 2005), da domesticação de animais (ANTHONY, 2007), a expansão genética(CAVALLI-SFORZA, 2003). Essa retomada representa uma reação aos excessos positivistas doprocessualismo, com suas explicações excessivamente adaptativistas e ao beco sem saídaepistemológico do pós-processualismo. O que talvez seja mais interessante, no entanto, éque tal movimento sinaliza uma aproximação com a História e um distanciamento daAntropologia evolucionista que tanto influenciou o processualismo.
A reaproximação com a História, por parte da Arqueologia contemporânea, é particularmenteproveitosa no caso de pesquisas realizadas em contextos de sociedades ágrafas, como ocorrenas terras baixas da América do Sul. Tal reaproximação permite um diálogo direto com aetnologia e a etno-história, particularmente com um tipo de abordagem ora em desuso naAntropologia cultural, que é o de áreas culturais. O embasamento original para a formulaçãooriginal do conceito de áreas culturais provém de uma crítica ao evolucionismo social, nestecaso a formulada por Boas e seus seguidores no final do século XIX e início do século XX. Naraiz dessa crítica está a constatação de que a diversidade cultural deve ser entendida a partirde fatores históricos, cuja variabilidade é grande e imprevisível.
56
Talvez por sua natureza excessivamente esquemática, a abordagem de áreas culturaisfoi abandonada na Antropologia, mas é inegável que na Etnologia indígena das terrasbaixas reconhece algumas propriedades aparentemente inerentes a grupos linguísticosou áreas geográficas específicas. Assim, é comum a referência a “canibalismo Tupi”,“acefalia política das sociedades das Guianas”, “terrirorialismo Arawak” etc. Do mesmomodo, é inegável a forte correlação existente correlação entre elementos materiaisalgumas sociedades indígenas, tais como o shabono Yanomami, as aldeias circulares Gê,a maloca Tukano, a cerâmica Shipibo, dentre inúmeros exemplos. Dessa discussãodepreende-se que, embora grande, a diversidade cultural dos povos indígenas nas terrasbaixas da América do Sul não é infinita e, o que é mais interessante para a Arqueologia,que tal diversidade cultural pode ser positivamente correlacionada a padrões no registroarqueológico e não apenas na cultura material. Por distintas razões, explicadas por Hill eSantos-Granero (HILL; SANTOS-GRANERO, 2002), a Antropologia cultural das terras baixas nãose preocupa mais com essas questões. Cabe então à Arqueologia a tarefa de ressuscitá-las para a construção de um quadro histórico amplo e de longa duração sobre as sociedadesindígenas das terras baixas da América do Sul.
O foco na cultura material e na organização social utilizados na formulação de áreas culturaispela Antropologia permite uma comunicação entre este campo do conhecimento e aArqueologia (GALVÃO, 1960). Arqueólogos têm como atribuição, dentre outras tarefas, mapeara variabilidade cronológica da cultura material no tempo e no espaço. Como resultado,formulou-se alguns conceitos hoje clássicos na disciplina, como o de “cultura arqueológica”.Para a Arqueologia do novo mundo, tal conceito foi adaptado ainda na década de cinquentado século XX, por Phillips e Willey (1953), e posteriormente por Willey e Phillips (1958).Nessa última obra, já clássica, esses autores formalizaram alguns conceitos hoje bastanteconhecidos e utilizados pela Arqueologia americana: os de Horizonte, Fase e Tradição. Aautoria desses conceitos não pertence a Willey e Phillips. Já no começo do século XX MaxUhle se referia a horizontes para expressar a distribuição, por amplas áreas dos Andes, depadrões comuns na cultura material. Do mesmo modo, conceitos como “foco” e “aspecto”já haviam sido propostos na década de quarenta, nos Estados Unidos, com o objetivo demapear a variabilidade cultural.
A introdução do uso do conceito de fase na Arqueologia brasileira foi feita por Meggers eEvans em seu livro sobre a Arqueologia da foz do rio Amazonas (MEGGERS; EVANS, 1957, p. 13)para designar “culturas arqueológicas distintas com uma distribuição geográfica definida epersistência no tempo”, com a ressalva de que, naquele contexto, fase não teria qualquerconotação etnográfica porque não havia meios de determinar se cada fase arqueológica dafoz do Amazonas corresponderia a uma tribo específica. Tal perspectiva foi posteriormentemodificada e fases passaram a ser vistas como correlatos de comunidades no passado (MEGGERS,1990; MEGGERS; EVANS, 1980).
57
Com o advento do PRONAPA, nos anos sessenta, e a posterior influência por ele exercida nosanos 70 e 80, houve uma explosão de fases e tradições na Arqueologia brasileira. Já é sabidoe amplamente discutido como esse processo gerou uma espécie de intoxicação classificatória,afastando a disciplina de uma necessária renovação teórica. As críticas aos excessos doPRONAPA são muitas. Tais críticas criaram e continuam alimentando uma crescente literatura,principalmente nos locais do país onde o PRONAPA foi mais forte (DIAS; SILVA, 2001; SCHAAN
2007). Ocorre, no entanto, que o exacerbamento dessas críticas está levando também a umadoença oposta à intoxicação, que é a inanição classificatória. É, portanto, chegado o momentode reavaliar o uso dos conceitos de fases e tradições na Arqueologia brasileira, para verificarsua validade heurística. Para tal exame, iremos à Arqueologia da Amazônia Central.
Fases e tradições funcionam na Amazônia central?
A Amazônia Central prouve um campo interessante para o teste das ideias aqui apresentadas,já que tem sido uma área da Arqueologia brasileira cuja interpretação do registro arqueológicofoi feita a partir de três perspectivas distintas. A primeira linha de interpretações foi propostapor Hilbert e Simões, pioneiros em trabalhos de campo sistemáticos na área, realizados dosanos 50 aos 70 (HILBERT, 1968; SIMÕES, 1974). A segunda linha de interpretações, de fato revisõesdos dados de campo produzidos por Hilbert e Simões, pode ser encontrada nos trabalhos deLathrap, Brochado e Oliver, publicados nos anos 70 e 80 (BROCHADO, 1984; LATHRAP; 1970a e b;LATHRAP; OLIVER, 1987) . Finalmente, a partir dos anos 90 outra perspectiva sobre a Arqueologiaregional se apresenta, de novo baseada em dados de campo (ARROYO-KALIN, 2008; HECKENBERGER
et al., 1999; LIMA et al., 2006; NEVES, 2008; NEVES; PETERSEN, 2006). Todas essas linhas deinterpretação são tributárias de uma combinação de culturalismo histórico com AntropologiaEcológica, embora a partir de diferentes premissas. Assim, enquanto Hilbert e Simões usaramo registro arqueológico da Amazônia Central para criar uma sequência crono-tipológica queindicaria um processo de sucessivas reocupações da região por populações de origens externas,Lathrap, Brochado e Oliver interpretaram esse mesmo registro para propor a ocorrência deum longo e contínuo processo de transformação social e cultural na própria região, seminfluências externas. É importante notar que todos esses autores fizeram um farto uso dosconceitos de fases e tradições para embasar suas hipóteses. O que se discutiu, às vezesagressivamente, foi a articulação histórica entre eles, jamais sua própria existência.
O esquema crono-tipológico da Amazônia Central inicialmente proposto por Hilbert eracomposto por quatro fases cerâmicas que se sucederam entre si na seguinte ordem, da maisantiga à mais recente: fase Manacapuru, fase Paredão, fase Guarita e fase Itacoatiara. Taisfases foram construídas com base em diferenças na tecnologia e decoração dos vasoscerâmicos presentes nos sítios arqueológicos. Hilbert, Simões e todos os outros que tiveram a
58
oportunidade de trabalhar na Amazônia Central logo perceberam a complexidade do processode formação dos sítios nessa região. É muito comum que sejam multi-componenciais, àsvezes com quatro ocupações distintas sobrepostas. Tal condição, se por um lado favorável aabertura de escavações estratigráficas que permitam a construção de cronologias regionais,por outro dificulta bastante a interpretação das estratigrafias dos sítios, já que é bastantecomum que as ocupações tenham interferido umas sobre as outras. A esse fator se devetambém acrescentar que a presença ubíqua de terras pretas por muitos sítios da área dificultabastante a visualização de feições como manchas de fundo de cabana, buracos de estaca etc.Assim, é também bastante difícil o entendimento dos padrões de organização de espaçonesses sítios.
Hilbert trabalhou em condições difíceis e com poucos recursos em uma época onde o acessoaos sítios era muito mais difícil que no presente. Mesmo assim, sua proposta cronológica,baseada em interpretações estratigráficas e poucas datas de carbono 14 – algumas dasprimeiras feitas no Brasil –, mostrou-se bastante acurada. Três fases propostas por Hilbert– Manacapuru, Paredão e Guarita – resistiram bem à passagem do tempo, a ponto de sepoder afirmar, sem margem de dúvida, que seus fragmentos e vasos decorados funcionamcomo excelentes marcadores cronológicos – verdadeiros fósseis-guias – para a Arqueologiaregional (LIMA et al., 2006). Por outro lado, é também cada vez mais claro que não existeuma correlação universal entre essas fases e o uso exclusivo de um tipo de antiplástico(MORAES, 2006), embora exista uma tendência à associação entre o caraipé e a fase Guarita
Figura 1.Escavação no sítio
Hatahara, exemplode contexto
estratigráfico desítio multi-
componencial naAmazônia Central.
59
e o cauixi e as fases Manacapuru e Paredão. Na Amazônia Central, portanto, as fasesfuncionam de maneira extremamente satisfatória como uma maneira de organizar a grandevariabilidade formal e tecnológica de cerâmicas identificadas em sítios arqueológicos multi-componenciais que passaram por complexos processos de formação. Não há, assim, razõespara abandoná-las. Cabe, no entanto, verificar se à variabilidade formal e tecnológica dasfases correspondem também variações significativas em outros aspectos, como padrões deassentamento, tamanho e forma das ocupações.
As fases da Amazônia Centrale os padrões de organização social e políticados povos que habitaram a região
Desde 1995 os pesquisadores e alunos do Projeto Amazônia Central têm investido tempo erecursos na identificação e mapeamento de sítios arqueológicos localizados em uma área de900 km² localizada na área de confluência dos rios Negro e Solimões (ARROYO-KALIN, 2008;HECKENBERGER et al, 1998; 1999; LIMA, 2003; LIMA; 2008, LIMA et al.; 2006, MACHADO, 2005; MORAES,2006; NEVES, 2008; 2009; NEVES; PETERSEN 2006; NEVES et al., 2003; 2004; PETERSEN et al., 2001;REBELLATO, 2007) (Figura 3). Um dos resultados mais interessantes das pesquisas tem sido aidentificação de mudanças importantes na forma, densidade e contexto das ocupações naregião num período de cerca 2.000 anos, de 500 AC a 1500 DC. A mudança mais importantefoi o advento de terras pretas antrópicas, visíveis a partir do século V DC em sítios associadosà fase Manacapuru. O avanço das pesquisas possibilitou também a observação e estudo deoutras feições e estruturas que permitem diferenciar e compreender as relações entre asdiferentes fases, além das tipologias cerâmicas baseadas no tipo de antiplástico. Tais feiçõese estruturas incluem montículos artificiais, silos enterrados, valas defensivas, sepultamentosdiretos ou em urnas.
Entendidos em seu contexto particular de formação, tais estruturas e feições mostram umasólida correlação com as fases cerâmicas propostas por Hilbert. A abertura de centenas detradagens e de dezenas de sondagens e unidades de escavação em sítios de terras pretasmostrou que boa parte da atividade de formação desses solos ocorreu durante as ocupaçõesdas fases Manacapuru e Paredão (Figura 4). É atualmente consenso entre arqueólogos atuandona Amazônia que terras pretas são solos antrópicos que se formaram no contexto de ocupaçõessedentárias de relativa densidade ou longa duração (NEVES et al., 2003; 2004; PETERSEN et al.,2001). Na área de confluência, o estudo da estratigrafia dos sítios com terras pretas já estudadosmostra alguns padrões interessantes, indicadas na Tabela 1:
61
1 A presença de ocupações antigas, sempre enterradas, às vezes com um só componente,às vezes subjacentes a outras ocupações, sem terra preta, associadas à fase Açutuba.
2 a ocorrência de depósitos espessos com ocupações Manacapuru e/ou Paredão com apresença superficial de ocupações Guarita.
3 a ocorrência de depósitos espessos com ocupações Manacapuru e/ou Paredão sem apresença superficial de ocupações Guarita.
4 o menor tamanho das áreas de distribuição de fragmentos Guarita quando comparadas àsáreas de distribuição das ocupações anteriores, da fase Paredão.
5 a ocorrência de sítios Guarita sem depósitos de terras pretas ou com depósitos poucoespessos de terras pretas.
Tabela 1.Padrões de
estratigráficos deforma nos sítios
arqueológicos daAmazônia Central.
Figura 3. Vista de montículo
artificial em sítiode Terra Preta da
fase Paredão, sítioAntonio Galo. Foto:Eduardo G. Neves.
Baseado nesses padrões, pode-se afirmar que a associação entre depósitos profundos de terraspretas e outras feições visíveis, todas elas indicando ocupações estáveis e sedentárias, mostramque, na Amazônia central pré-colonial, o ápice demográfico ocorreu entre os séculos VII e XIIDC, ou seja, durante as ocupações das fases Manacapuru e Paredão. Tal hipótese é corroboradapor mais de 100 datas radiocarbônicas, apresentadas na Figura 5. Tal padrão pode servisualizado no gráfico com as datas radiocarbônicas obtidas até o momento pelo ProjetoAmazônia Central.
62
O conjunto de datas mostra a tendência a um padrão cumulativo através dos quais a frequência dedatas tende a aumentar a partir do Anno Domini, ficando visivelmente maior entre os anos 900 e1.100 DC. Tal padrão é interpretado como reflexo de um processo de crescimento demográfico,corroborado também por uma tendência ao aumento no tamanho dos sítios arqueológicos e asfeições a eles associados. É interessante, no entanto, notar a ocorrência de uma brusca mudançanesse padrão, ocorrida a partir de 1.100 DC. Dessa época até o início do século XVI são aindavisíveis evidências de ocupações humanas na região, confirmadas por datas radiocarbônicas e pelacoleta de materiais cerâmicos de diversos sítios na área, mas as datas ficam muito menos frequentes.Essa diminuição é interpretada como correlato de dois processos possíveis e não mutuamenteexclusivos: redução demográfica ou pulverização e diminuição dos assentamentos de densos enucleados a esparsos e dispersos. O mais interessante nesse padrão, no entanto, é que as mudançasnas frequências de datas correspondem também a mudanças na cronologia cerâmica, uma vezque a substituição da fase Paredão pela fase Guarita ocorreu nesse período.
A transição das ocupações associadas à fase Paredão para as ocupações associadas à fase Guaritanão é ainda muito clara, mas alguns aspectos já podem ser delineados. Em primeiro lugar, sabe-se que houve um intervalo de pelo menos dois séculos de convivência na mesma área de aldeiasonde se produziram cerâmicas de ambas as fases. Este foi, por exemplo, o caso dos sítios Osvaldoe Lago Grande, situados junto ao complexo de lagos que compõem a várzea do rio Solimões amenos de 20 km de distância um do outro. Osvaldo é um típico sítio de terras pretas com cerâmicasManacapuru ocupado durante o século VII DC, enquanto Lago Grande, cuja ocupação se originouna mesma época e seguiu aparentemente continua até o século XI DC, é um sítio Paredão (CHIRINOS,2006; DONATTI, 2003) (Figura 4 – mapa com plantas das aldeias). A escavação, mapeamento eanálise das cerâmicas desses sítios trouxe outras informações interessantes:
1) os mapas de densidade da distribuição de cerâmicas e de profundidade das terras pretasindicam que ambos os sítios eram aldeias de formato circular ou semicircular com umapraça em seu centro,
2) as análises cerâmicas mostram que, embora unicomponenciais, ambos sítios mostram umapequena frequência de cerâmica exótica em meio às coleções estudadas. Assim, nota-se apresença de cerâmicas Paredão nas coleções predominantemente da fase Manacapuru nosítio Osvaldo, e vice-versa no sitio Lago Grande (CHIRINOS, 2006; DONATTI, 2003).
Embora não se possa afirmar, baseado nesses dados, que as populações dos sítios Osvaldo e LagoGrande tivessem mantido relações diretas de troca entre si, pode-se dizer que havia na região,entre os séculos VII e IX DC um sistema regional estruturado em algumas características básicas,das quais se infere arqueologicamente uma tendência à construção de aldeias circulares ousemicirculares e à circulação de cerâmicas exóticas entre os assentamentos. O mapeamento eescavação de outros sítios da fase Paredão confirmou a tendência de que tais ocupações estivessemassociadas a aldeias circulares ou semicirculares (MORAES, 2006; REBELLATO, 2007) (Figura 5).
63
Figura 4. Gráfico com datas
14C dos sítios daAmazônia Central.
Sistemas regionais multi-étnicos baseado na exogamia, produção especializada e troca de bens,em festas e em formas de interação pacificas são conhecidos na etnologia e etno-história dasterras baixas da América do Sul, por exemplo, no Alto Rio Negro e Alto Xingu. Tais sistemasforam, no entanto, pouco documentados arqueologicamente. O caso da Amazônia Central nofinal do primeiro milênio DC é interessante porque mostra como, no registro arqueológico,duas fases cerâmicas distintas conviveram sincronicamente por dois séculos numa mesmaregião. É impossível, no entanto, definir se as tais fases representavam indicadores materiaisde grupos étnicos ou linguísticos, uma vez que tal correlação não é universal e que outrosaspectos da cultural material desses grupos, como a forma das aldeias, parece ter sido o mesmo,apesar das diferenças sensíveis nas cerâmicas das fases Manacapuru e Paredão.
Na Antropologia das terras baixas da América do Sul, aldeias circulares estão normalmenteassociadas a populações falantes de línguas da família Gê no Brasil Central. Parece clara, noentanto, uma outra possível associação dessa forma de aldeia à expansão de populações
65
falantes de línguas da família Arawak pela Amazônia e ilhas do Caribe (HECKENBERGER, 2002).Até o momento, a data mais antiga para uma aldeia circular escavada e mapeada vem dosítio Trents, localizado na ilha de Montserrat, no Caribe, e datado de 500 AC (PETERSEN, 1996).A comparação entre as datas das aldeias circulares arqueológicas da Amazônia e as do BrasilCentral mostra que amazônicas são mais antigas por um ou dois séculos. Se houver, portanto,alguma influência externa no desenvolvimento dessa forma de aldeia entre os grupos Gê doBrasil Central, tal influência pode ter derivado da região amazônica (HECKENBERGER, 2002).
A cronologia cerâmica da Amazônia Central mostra o desaparecimento de ocupaçõesassociadas à fase Manacapuru a partir do século IX DC. Sítios Paredão, no entanto,continuaram a ser ocupados por pelo menos mais dois séculos, até o estabelecimento de umacompleta hegemonia de sítios Guarita na região, que durou até a época do contato com oseuropeus, já no século XVI.
Cerâmicas da fase Guarita são bastante diferentes das da fase Paredão, o que confirma ahipótese da ausência de relação histórica entre elas, ao menos no que se refere à influênciaestilística ou tecnologia de uma na formação da outra. As datas mais antigas para oestabelecimento de sítios Guarita na região, vêm do final do século IX DC (SIMÕES, 1974),enquanto que a data mais recente disponível para uma ocupação Paredão vem de meadosdo século XIII DC. Tal data parece ser, no entanto, anômala, uma vez que a maior parte dossítios Paredão já datados foram ocupados até o século XI DC. Essa questão merece ser aindamelhor trabalhada, mas independente dessas datas, percebe-se também que houve algunsséculos de convivência na mesma área entre grupos que faziam cerâmicas Paredão e gruposque faziam cerâmicas Guarita. A natureza dessa convivência parece, no entanto, ter sidodiferente da verificada anteriormente no caso das fases Manacapuru e Paredão. Ao contráriodo caso anterior, a forma, densidade e tempo de duração das ocupações Guarita foi diferenteda dos sítios Paredão: enquanto estes têm um formato circular ou semicircular associados adepósitos profundos de terra preta e grande área de dispersão de fragmentos cerâmicos,aqueles têm um formato aparentemente linear, com depósitos pouco profundos e em algunscasos ausência de terra preta (LIMA, 2003). Esses padrões contrastantes indicam que ocupaçõesGuarita foram menos sedentárias e de menor duração que as ocupações anteriores das fasesManacapuru e Paredão, principalmente a partir do século XIII DC.
Pesquisas realizadas no Brasil, Colômbia, Equador e Peru mostram uma rápida expansão, doleste para o oeste, de sítios associados à fase Guarita e outras fases associadas, pertencentes àTradição Policromia da Amazônia (EVANS; MEGGERS, 1968; HERRERA et al., 1980-81; HILBERT, 1968;SIMÕES, 1974). Tal expansão se iniciou na Amazônia Central próximo à foz do rio Madeira, noséculo VIII DC e em poucos séculos já havia atingido o rio Napo, no sopé dos Andes equatorianos.As populações descendentes desses grupos expansivos foram as que tiveram contato com osprimeiros europeus a descer o Amazonas em meados do século XVI DC. Os relatos dos primeirosviajantes europeus, e suas interpretações contemporâneas, indicam que esses grupos viviam
66
em grandes aldeias sob a liderança de caciques que comandavam confederações regionais. Éamplamente conhecida a referência à produção de cerâmicas com decoração policroma,comparada favoravelmente a cerâmicas espanholas de qualidade, na época. Notou-se, também,que havia uma possibilidade de comunicação com os grupos do Alto Amazonas, que falavamuma língua semelhante à das populações da Costa Tropical Atlântica, o que levou autorescontemporâneos a propor que tal língua seria assemelhada às variedades de Tupinambá faladasna costa (ver PORRO, 1993, para uma apresentação dessas fontes).
Os Tupinambá do litoral foram amplamente descritos e, graças a tais descrições, percebemosque, de fato, há uma série de fatores comuns entre tais grupos e o emergente padrão daarqueologia da Tradição Policromia no rio Solimões. Em primeiro lugar, há a própria cerâmicapolicroma: embora as diferenças entre cerâmicas policroma da Amazônia e do litoral Atlânticosejam claras e facilmente reconhecíveis, é inegável que ambas as tradições dividem entre sialguns princípios estruturantes. Tais evidências, somadas à evidência linguística, permitemsupor a existência de um parentesco étnico entre os Omágua do Alto Amazonas e os Tupi dolitoral Atlântico.
Essa hipótese se fortalece ainda mais quando se compara a cronologia e o modo da expansãode sítios Tupinambá no litoral e de sítios Policromos no Solimões: ambos processos ocorreramrapidamente, permitindo a colonização de grandes extensões territoriais em poucos séculos,no litoral Atlântico e Solimões, os sítios Tupinambá e Polícromos são relativamente poucoprofundos, indicando curtas durações de ocupação. No caso do rio Solimões, tal fato é atestadopela pouca espessura das camadas Guarita, sempre superficiais, em sítios multi-componenciais.Nos sítios do litoral e zona da mata mineira este parece ser também o caso, embora quasenunca existam nesses locais evidências de ocupações ceramistas em camadas mais profundas.
Outro fator que pode ser acrescentado a esses paralelos é a guerra. A associação entre aguerra e os Tupinambá do litoral é um tema clássico da Antropologia brasileira (VIVEIROS DE
CASTRO, 1986). Na Amazônia, há também abundantes relatos sobre a guerra, suas motivaçõese consequências entre diferentes grupos linguísticos. No entanto, são ainda pouco frequentesas evidências de guerra pré-colonial, o que levou alguns autores a sugerir a sua própriainexistência, como se os relatos etnográficos de conflito armado entre índios fossem o retratode uma situação provocada pela história colonial (FERGUSSON, 1995). Nos últimos anos, aArqueologia tem contribuído para mudar esse quadro, através da identificação de estruturasdefensivas em sítios arqueológicos do Alto Xingu (HECKENBERGER, 2003), no Alto Rio Negro (NEVES,1998) e na Amazônia Central (NEVES, 2009). Em todos esses casos, a datação das estruturasmostrou que elas foram construídas em períodos que antecederam o início da colonização.
Na Amazônia central foram identificadas claramente duas estruturas defensivas em dois dosdez sítios escavados e mapeados em detalhe: Açutuba e Lago Grande (Figura 6). Em ambos oscasos, as estruturas são valas construídas na periferia das áreas de ocupação mais intensados sítios, na parte dos “fundos”, oposta ao topo dos barrancos sobrepostos às margens dos
68
cursos d’água (NEVES, 2009). Açutuba e Lago Grandes são sítios multi-componenciais, mas nosdois casos as ocupações de maior área estão associadas à fase Paredão. Consequentemente,pode-se propor que as valas foram construídas durante essas ocupações, já que elas protegiamas áreas de maior dispersão dos dois sítios. No caso de Lago Grande, a datação da estruturamostrou que ela foi construída no século XI DC, um pouco antes do abandono do sítio apóstrês séculos de ocupação associados à fase Paredão. Tais dados, ainda preliminares, indicamque a transição entre as ocupações Paredão e Guarita na Amazônia Central, embora longa,foi marcada por conflitos entre essas populações distintas. Se confirmada tal hipótese, poder-se-á associar à guerra a expansão policroma pelo rio Solimões, do mesmo modo que talassociação foi feita entre os Tupinambá do litoral. De fato, os primeiros cronistas europeusque passaram pelo rio Solimões, ainda na primeira metade do século XVI, fazem referênciasa estruturas defensivas como paliçadas e a conflitos armados na área ocupada por aldeiascom cerâmicas policromas (PORRO, 1994).
Concluindo: contexto, forma de aldeia, cerâmicase fronteiras étnicas na Amazônia Central
A Arqueologia brasileira contemporânea costuma responsabilizar o PRONAPA por quase todos osmales que a afligem. O principal alvo dessa crítica, em essência correta, tem sido a fixaçãotipológica com a classificação de fases e tradições arqueológicas como um fim em si mesmo, aoinvés de enxergar tais recursos como hipóteses classificatórias a serviço de uma tarefa maisinteressante que é a explicação da história pré-colonial através do estudo do registro arqueológico.É provável, no entanto, que a grande “herança maldita” do PRONAPA subsista, insidiosa esilenciosamente, sem que se dela nos apercebamos: é ela o ainda hegemônico foco na culturamaterial como o único suporte de interpretação para o passado. É inegável que o estudo dacultural material está no cerne da Arqueologia, mas por si só tal foco corre o risco de se tornarredundante, se não for acompanhado pelo entendimento do contexto no qual se depositam osobjetos. Essa observação não tem nada de original, já que ela encerra um dos princípios básicosda Arqueologia processualista, que um dia já foi nova, mas agora é quase cinquentenária. Porque então o foco apenas em objetos subsiste no Brasil? Talvez porque a crítica à Arqueologiapronapiana tenha sido construída nos mesmos moldes em que tal Arqueologia se edificou, ouseja, com foco em discussões voltadas apenas ao estudo da cultura material e sua variabilidade.Não se consolidou ainda no Brasil uma Arqueologia de fato contextual que confira a mesmaimportância aos ecofatos tanto quanto aos artefatos. A exceção notável vem das pesquisas comsambaquis, mas nesses casos a própria matriz dos sítios demanda uma abordagem que privilegia,por exemplo, as análises de fauna. Por tal razão, estamos ainda longe da possibilidade deconstrução de, por exemplo, uma verdadeira Arqueologia da Paisagem.
69
Os dados da Amazônia Central são importantes porque indicam, ao menos naquele caso, arobustez que fases arqueológicas podem ter quando são usadas como ponto de partida paraorganizar a variabilidade cultural, social, demográfica e política prevalecente na região entreos séculos IV AC e XVI DC.
Tais dados permitem também o estabelecimento de um diálogo entre a Arqueologia e a EtnologiaIndígena. Tal diálogo, nem sempre harmônico e às vezes até conflituoso, parte da premissa deque variabilidade cultural na Amazônia indígena, embora grande, é limitada e, mais importante,manifesta-se de maneira regular no tempo e espaço, no registro arqueológico. Essasregularidades trazem os fundamentos para construção de uma história indígena de longa duraçãoconstruída a partir da Arqueologia. Trata-se de uma tarefa que apenas inicia, apesar de umatradição de pesquisas de mais de cinquenta anos, mas cujos resultados podem ser promissores.
REFERÊNCIAS
ANTHONY, D. The horse, the wheel, and language: How Bronze-Age Riders from Eurasian Steppes Shaped theModern World. Princeton: Princeton University, 2007.
ARROYO-KALIN, M. Steps towards an ecology of landscape: a geoarchaeological approach to the study ofanthropogenic dark earths in the central Amazon region, Brazil, 2008. 326f. Tese (Doutorado) – Department ofArchaeology, University of Cambridge, Cambridge, 2008.
BELLWOOD, P. First farmers: The origins of agricultural society, Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
BROCHADO, J. An ecological model of the spread of pottery and agriculture into eastern south America. 1984.Tese ( Doutorado) – University of Illinois, Illinois,1984.
CAVALLI-SFORZA, L. Demic diffusion as the basic process of human expansions. In: BELLWOOD, P.; RENFEW, C.(Eds.). Examining the farming; language dispersal hypothesis. Cambridge: McDonald Institute for ArchaeologicalResearch, 2003. p. 79-88.
CHIRINOS, R.P. A Variabilidade espacial no sítio Osvaldo. Estudo de um assentamento da tradição Barrancóide naAmazônia Central. 2006. 213f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia,Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
DIAS, A. S.; SILVA, F. A. Sistema tecnológico e estilo: as implicações desta inter-relação no estudo das indústrias líticasdo sul do Brasil. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, v. 11, p. 95-108, 2001.
DONATTI P.B. A ocupação pré-colonial da area do Lago Grande, Iranduba, AM. 2003. 140f. Dissertação (Mestradoem Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
EVANS, C.; MEGGERS, B. Archeological investigations on the rio Napo, eastern Equador. Washington: SmithsonianInstitute, 1968.
FERGUSSON, R. B. Yanomami warfare: a political history. Santa Fé: School of American Research Press, 1995.
GALVÃO, E. Áreas culturais indígenas do Brasil: 1900/1959. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, nova serieAntropologia, Belém, v. 8, 1960.
HECKENBERGER, M.J. The enigma of the great cities: body and state in Amazonia. Tipiti, v. 1, p. 27-56, 2003.
70
HECKENBERGER, M. J. Rethinking the Arawakan diaspora: hierarchy, regionality, and the Amazonian formative, In:HILL, J.; SANTOS-GRANERO, F.(Eds.). Comparative Arawakan histories: Rethinking culture area and language groupin Amazonia. Urbana: University of Illinois, 2002. p. 179-201.
HECKENBERGER, M.J.; NEVES, E.G.; PETERSEN, J.B. De onde surgem os modelos? As origens e expansões Tupi naAmazônia Central. Revista de Antropologia da USP, v. 41, n. 1, p. 69-96, 1998.
HECKENBERGER, M.; PETERSEN, J. B.; NEVES, E. G. Village Size and Permanence in Amazonia: Two ArchaeologicalExamples from Brazil. Latin American Antiquity, v. 10, n. 4, p. 533-576, 1999.
HERRERA, L.; BRAY, W.; MCEWAN, C. Datos Sobre la Arqueología de Araracuara. Revista Colombiana de Antropologia,v. 23, p. 185-251, 1980-1981.
HILBERT, P. Archäologische Untersuchungen am Mittlern Amazonas. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1968.
HILL, J.; SANTOS-GRANERO, F. Introduction. In: HILL, J.; SANTOS-GRANERO, F. (Eds.). Comparative ArawakanHistories: Rethinking Language Family and Culture Area in Amazonia. Urbana: University of Illinois Press, 2002.p. 1-22.
LATHRAP, D. The Upper Amazon. London: Thames & Hudson, 1970ª.
LATHRAP, D. Review of Archäologische Untersuchungen am Mittlern Amazonas, by P. Hilbert. American Antiquity,v. 35, v. 4, p. 499-501, 1970b.
LATHRAP, D.; OLIVER, J. Agüerito: el complejo policromo mas antiguo de America en la confluencia del Apure y elOrinoco (Venezuela). Interciencia, v. 12, p. 274-289, 1987.
LIMA, H. P.; NEVES, E. G.; PETERSEN J. A Fase Açutuba: Um Novo Complexo Cerâmico na Amazônia Central. ArqueologíaSuramericana, v. 2, p. 26-52, 2006.
LIMA, H. P. História das caretas: a tradição Borda Incisa na Amazônia Central. 2008. 538f. Tese (Doutorado) – Museude Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
MACHADO, J. S. A Formação de montículos artificiais na Amazônia Central: um estudo de caso do sítio Hatahara.2005. 367f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo.São Paulo, 2005.
MEGGERS, B. Reconstrução do comportamento locacional pré-histórico na Amazônia. Boletim do Museu ParaenseEmilio Goeldi, nova série Antropologia, v. 6, n. 2, p. 183-203, 1990.
MEGGERS, B.; EVANS, C. Archaeological investigations at the mouth of the Amazon, Bulletin Bureau of AmericanEthnology Smithisonian Institute, Washington DC, v. 167, 1957.
MEGGERS, B.; EVANS. Un método cerámico para el reconocimiento de comunidades pre-históricas. Boletín delMuseu del Hombre Dominicano, v. IX, n. 14, p. 57-73, 1980.
MORAES, C. P. Arqueologia na Amazônia Central vista de uma perspectiva da região do lago do Limão. 2006.243f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, SãoPaulo, 2006.
NEVES, E. G. Paths in dark waters: archaeology as indigenous history in the upper Rio Negro basin, northwestAmazon. 1998. 413f. Tese (Doutorado) – Indiana University, Indiana, 1998.
NEVES, E. G. Ecology, ceramic chronology and distributions, long-term history, and political change in the Amazonianfloodplain. In: SILVERMAN, H.; ISBELL, W. (Eds.). Handbook of South American Archaeology. New York: Springer,2008. p. 359-379.
NEVES, E. G. Warfare in precolonial Amazonia: when carneiro meets clastres. In: NIELSEN, A. E.; WALKER, W. H.(Eds.). Warfare in cultural context: practice, theory, and the archaeology of violence. Tucson: University of Arizona,2009. p. 139-164.
71
NEVES, E. G; PETERSEN, J. B.; BARTONE, R. N.; SILVA, C. A. Historical and socio-cultural origins of Amazonian darkearths In: LEHMANN, J. et al. (Eds). Amazonian Ddark earths: origin, properties, management. Kluwer: AcademicPublisher, 2003. p. 29-50.
NEVES, E. G.; PETERSEN, J. B.; BARTONE, R. N.; HECKENBERGER M. The timing of Terra Preta formation in theCentral Amazon: archaeological data from three sites. In: GLASER, W.; WOODS, W. (Eds.). Amazonian dark earths:explorations in space and time. Berlin: Springer Verlag, 2004. p. 125-134.
NEVES, E. G; PETERSEN J. B. The political economy of pre-columbian amerindians: landscape transformations inCentral Amazonia, In: BALÉE, W.; ERICKSON, C. (Eds.). Time and complexity in historical ecology: studies in theneotropical lowlands. New York: Columbia University, 2006. p. 279-310.
PETERSEN, J. B.; NEVES, E. G.; BARTONE, R. N; ARROYO-KALIN, M. An overview of amerindian cultural chronology inthe Central Amazon. In: SOCIETY FOR AMERICAN ARCHAEOLOGY ANNUAL MEETING, 69., 2004, Montreal, Paperpresented... Montreal: SAA, 2004.
PETERSEN, J. B.; NEVES, E. G.; HECKENBERGER, M. J. Gift from the past: terra preta and prehistoric occupation inAmazonia. In: McEWAN, C.; BARRETO, C.; NEVES, E. G. (Eds.). Unknown Amazon: culture in nature in ancient Brazil.London: British Museum, 2001. p. 86-107.
PHILLIPS, P.; WILLEY G. Method and theory in American Archaeology: an oerational basis for culture-historicalintegration. American Anthropologist, v. 55, p. 615-633, 1953.
PORRO, A. As crônicas do rio Amazonas. Notas etno-históricas sobre as antigas populações indígenas da Amazônia.Petrópolis: Vozes, 1993.
PORRO, A. Social organization and political power in the Amazon floodplain: the ethnohistorical sources. In:ROOSEVELT, A. (Ed.). Amazonian indians from prehistory to the present: anthropological perspectives. Tucson:University of Arizona , 1994. p. 79-94.
REBELLATO, L. Interpretando a variabilidade cerâmica e as assinaturas químicas e físicas do solo no sítio ArqueológicoHatahara, AM. 2007. 197 f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidadede São Paulo, São Paulo, 2007.
RENFREW, C. At the Edge of knowability: towards a prehistory of languages, Cambridge Archaeological Journal,v. 10, n.1, p. 7-34, 2000.
SCHAAN, D. Uma janela para a história pré-colonial da Amazônia: Olhando além - e apesar - das fases e tradições.Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas, v. 2, n.1, p. 77-89, 2007.
SIMÕES, M. Contribuição à arqueologia dos arredores do baixo rio Negro, Amazonas. Publicações Avulsas do MuseuParaense Emilio Goeldi, n. 26, p. 165-200, 1974. Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, 5. ResultadosPreliminares do Quinto Ano 1989-1979.
TRIGGER, B. A History of archaeological thought. Cambridge: Cambridge University, 1989.
VIVEIROS DE CASTRO, E. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.
WILLEY, G.; PHILLIPS P. Method and theory in American Archaeology. Chicago: University of Chicago, 1958.