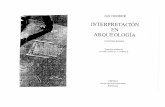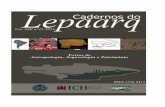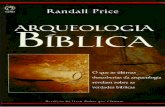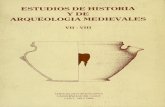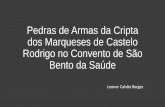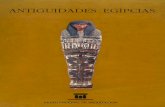O Mosteiro de Fráguas no contexto do pré-românico da Beira Interior (Portugal)
Mosteiro de Tibães. Arqueologia
Transcript of Mosteiro de Tibães. Arqueologia
Congresso PATRIMÓNIO 2010 1
Mosteiro de São Martinho de Tibães: o contributo da Arqueologia
Luís Fernando de Oliveira Fontes Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, Portugal
RESUMO: No âmbito do projecto integrado de intervenção no Mosteiro de São Martinho de Tibães e dando cumprimento às disposições internacionais relativamente aos princípios de intervenção em monumentos e sítios históricos, realizaram-se, entre 1992 e 2006, trabalhos arqueológicos de escavação, de acompanhamento e de inventário.
Imprescindíveis para informar o projecto de intervenção e para minimizar impactes, os trabalhos arqueológicos possibilitaram igualmente a produção de conhecimento novo sobre a ocupação do sítio, sobre a fundação do mosteiro, sobre a evolução arquitectónica do edificado e sobre as paisagens associadas.
Cometidos à Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, os trabalhos arqueológicos asseguraram o registo sistemático e rigoroso de todas as estratigrafias, estruturas e espólios, resultando na constituição de um vasto acervo documental, composto por milhares de desenhos, de fotografias e de fragmentos de cerâmica, os quais constituem já um importante património científico, potenciando o desenvolvimento futuro de inúmeros estudos.
Do ponto de vista metodológico, salienta-se a realização prévia dos trabalhos arqueológicos em relação à execução da obra, o que permitiu informar atempadamente a elaboração do projecto de arquitectura, possibilitando igualmente a programação adequada das acções de minimização de impactes.
Em termos de resultados científicos, destacam-se, entre outros, o achado de restos significativos dos edifícios medievais, que possibilitaram identificar o modelo da igreja românica, bem como vestígios do início da Época Moderna, em que sobressai a “porta dos carros” do século XVI, esta última integrada no circuito de visita, inspirando a instalação de um “espaço de memória” musealizado.
Registe-se ainda a recolha de diverso espólio, ilustrando uma longa ocupação do sítio, que se recua aos finais da Idade do Bronze ( 2.º-1.º milénio a.C.). O espólio cerâmico é predominante, destacando-se no conjunto as produções medievais e modernas, relevando nestas os fabricos de faiança dos séculos XVII e XVIII, de produção encomendada para o mosteiro de Tibães.
2 PATRIMÓNIO 2010
Figura 1. Localização do Mosteiro de São Martinho de Tibães.
1 INTRODUÇÃO
O mosteiro de São Martinho de Tibães é um monumento classificado como Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 33587, de 27-3-1944), possuindo uma Zona Especial de Protecção que abrange toda a sua cerca (Portaria n.º 736/94. DR. I-B Série, n.º 187/94, de 13-8-1994). Adquirido pelo Estado Português em 1986, é hoje um serviço dependente do MC/DRCN - Ministério da Cultura / Direcção Regional de Cultura do Norte.
Após a sua aquisição, começou por ser objecto de uma primeira acção de salvamento, que permitiu suster o processo de ruína em que se encontrava e criar as condições mínimas de circulação e de abertura ao público.
Iniciou-se depois, a par do estabelecimento do quadro institucional do mosteiro, um diversificado processo de definição de programas de ocupação e utilização, bem como de estudos de diversas especialidades, na sequência do qual se implementaram amplas obras de recuperação e adaptação, que se concluíram recentemente.
Figura 2. Diagrama da metodologia de intervenção integrada.
Muito justamente, o mosteiro de São Martinho de Tibães tem sido apresentado pela tutela
como acção piloto na intervenção integrada em conjuntos monásticos, testando positivamente a articulação dos diferentes contributos para a recuperação da que foi, outrora, casa-mãe da ordem beneditina em Portugal, cumprindo as recomendações das Cartas e Convenções internacionais respeitantes à conservação e restauro de monumentos e sítios, também
Congresso PATRIMÓNIO 2010 3
subscritas por Portugal, segundo as quais as intervenções em bens culturais arquitectónicos deverão sempre ser precedidas e acompanhadas dos necessários estudos das diversas especialidades pertinentes.
Assim aconteceu relativamente à especialidade de arqueologia. O projecto de estudo arqueológico do mosteiro de São Martinho de Tibães, que decorreu entre 1992 e 2006 e cuja realização foi cometida à Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, sob a direcção científica e técnica do signatário, desenvolveu-se desde o início do processo, cruzando-se informações entre todas as especialidades intervenientes.
Com esta comunicação pretende-se dar testemunho de um caminho que se vem percorrendo na observância das boas práticas de intervenção em monumentos, relevando os aspectos em que, no meu entendimento, se pode tributar à Arqueologia um aperfeiçoamento metodológico e um efectivo aumento de conhecimento.
2 OBJECTIVOS E METODOLOGIAS
2.1 Objectivos A implementação do projecto de estudo arqueológico e histórico do mosteiro de São Martinho de Tibães teve por base duas ordens de razões, ambas determinadas pela necessidade imperiosa de conhecer o monumento: uma primeira, exigida pela metodologia de intervenção associada ao projecto de restauro e adaptação, na qual a Arqueologia tem lugar obrigatório, desempenhando um papel insubstituível; uma segunda ordem de razões, decorreu da vontade de afirmar o mosteiro de Tibães como pólo de investigação e divulgação, reconhecendo-se na Arqueologia uma disciplina com contributos a dar ao seu conhecimento.
O primeiro conjunto de razões relaciona-se especialmente com questões de salvaguarda e decorreu do facto das obras incidirem em áreas que conservavam sedimentações e restos construídos de ocupações anteriores, o que implicava remoção de terras e consequente destruição de eventuais vestígios arqueológicos.
Assim, definiu-se como objectivo principal da intervenção arqueológica, obter as necessárias informações que permitissem avaliar os impactes das obras preconizadas e habilitassem os projectistas a encontrar as soluções construtivas e de uso mais adequadas, desde o melhor traçado para as redes de drenagem até à reformulação dos projectos de uso de determinados espaços, minimizando eventuais impactes negativos.
Ao segundo conjunto de razões associam-se objectivos de conhecimento histórico, que se pretenderam atingir com trabalhos arqueológicos orientados por temas ou questões pré-definidos, entre os quais se elegeram três principais: 1 - origem e evolução crono-cultural da ocupação humana do sítio, tendo como objecto não apenas o mosteiro mas também a envolvente próxima; 2 – sequência construtiva e modelos arquitectónicos do edificado monástico, abrangendo a igreja, as casas e a cerca; 3 - influência do mosteiro na estruturação e ordenamento da paisagem envolvente, em que interessava a envolvente alargada, desde a cidade de Braga até ao rio Cávado (Fontes 2005).
2.2 Metodologias Qualquer monumento ou bem cultural arquitectónico, enquanto construção histórica, contém em si, em cada uma das suas partes constituintes, um pouco da história da sua formação ou edificação. Na forma como hoje se apresentam, correspondem ao produto final de uma acumulação estratigráfica de elementos construtivos e de relações estabelecidas com o meio, desde as origens da ocupação humana do local até à actualidade.
Desta perspectiva decorre que o mosteiro de São Martinho de Tibães foi entendido, simultaneamente: como uma acumulação estratigráfica de inúmeros elementos construtivos, pois as edificações monásticas sucedem-se pelo menos desde o século XI; e como um universo construído enleado numa vasta teia de relações com a paisagem que o acolheu, pois os primeiros impactes significativos do ser humano sobre o meio envolvente documentam-se aqui desde o 2.º milénio a.C..
4 PATRIMÓNIO 2010
Portanto, o mosteiro de Tibães configurava-se como um contexto arqueológico de longa duração, sujeitando-se, por isso mesmo, aos princípios e processos de análise arqueológica (Fontes 2006).
Figura 3. Diagrama da metodologia de intervenção arqueológica.
Do ponto de vista metodológico, uma análise arqueológica de longa duração implica a
manipulação de diversas fontes de informação, nomeadamente de natureza historiográfica (sobretudo de história das instituições, económica, social e da arte), documentos manuscritos e dados arqueológicos obtidos em amplas escavações, em simples sondagens ou em prospecções mais ou menos alargadas. Implica também a recolha de contributos de outras áreas disciplinares, designadamente da geografia histórica.
Para o mosteiro de Tibães, interessou-nos especialmente a documentação relativa à fundação, a obras ou relacionadas com o processo construtivo e ainda os inventários e descrições físicas do mosteiro, tendo-se beneficiado da investigação do vasto acervo documental existente, inédito ou já publicado, feita pela equipa de investigadores do mosteiro de Tibães (Fontes 2005).
Figura 4. Diversidade de fontes em arqueologia histórica.
Ao nível da metodologia de escavação arqueológica, importa assinalar que se optou por
decapagens de sedimentos procurando seguir a sua deposição natural, com registo sistemático, em desenho, fotografia e vídeo, de todas as estruturas e estratigrafias. Cada camada, em cada corte escavado, foi identificada com um número, a ele se reportando todo o espólio recolhido. Para cada zona específica do mosteiro, designada pelo seu nome comum, como sejam
Congresso PATRIMÓNIO 2010 5
“claustro do cemitério”, “jardim de São Bento”, etc., aplicou-se uma quadriculagem adaptada ao existente, atribuindo-se a cada um dos cortes uma numeração sequencial, passando a identificação a fazer-se pelo respectivo acrónimo alfa-numérico (por exemplo: CC.P.1, “claustro do cemitério. pátio. corte 1”).
Quando se prosseguiram objectivos de investigação, as áreas de escavação foram seleccionadas de acordo com os dados proporcionados pelas análises do preexistente e avaliação prévia das zonas de maior potencial estratigráfico. Nos casos de trabalhos arqueológicos de minimização, estes precederam sempre a realização das obras quando implicavam a remoção do subsolo, garantindo-se ainda para obras de menor impacte um acompanhamento sistemático.
Para o registo e tratamento dos dados desenvolveram-se bases de dados informatizadas. O espólio recolhido ficou depositado nas instalações do mosteiro de Tibães, tendo recebido um tratamento preliminar de limpeza e inventariação classificada (com separação de materiais e, nas cerâmicas, distinção de grandes grupos de fabrico). Alguns metais e peças cerâmicas seleccionadas foram tratadas e desenhadas pelos técnicos do Museu D. Diogo de Sousa, Braga, incorporando já o espólio inventariado dos bens móveis do Mosteiro de São Martinho de Tibães.
Na análise das sequências estratigráficas sedimentares e construtivas aplicou-se a denominada “matriz Harris”, elaborando-se diagramas para cada perfil e/ou alçado (Fontes 2005).
3 O SÍTIO E A PAISAGEM
3.1 O Meio Físico No extremo ocidental da Europa, mais precisamente no coração do Noroeste Peninsular, individualiza-se bem a região do Minho. É um espaço de morfologia contrastante, opondo a cadeia montanhosa que a limita a oriente, com a altitude máxima de 1530 metros na Serra do Gerês, aos vales baixos que se alargam para poente, em direcção ao mar, onde vão desaguar os rios Minho, Lima, Cávado e Ave. Entre a orla costeira e as montanhas mais elevadas sucedem-se uma infinidade de colinas e de alvéolos, recortados por abundantes linhas de água secundárias.
Verdadeiro anfiteatro virado ao mar Atlântico, daí recebe as massas de ar húmido que originam abundantes precipitações, registando-se nas suas montanhas os mais elevados índices pluviométricos da Península Ibérica. É também a exposição atlântica que condiciona a variação das temperaturas, assinalando-se uma diferenciação térmica progressivamente mais acentuada à medida que aumenta a distância ao litoral.
Da conjugação destes factores principais resulta um clima atlântico, caracterizado por temperaturas amenas durante quase todo o ano, com picos de calor no Verão e algum frio no Inverno, por vezes acompanhado de neve.
O mosteiro de São Martinho de Tibães localiza-se precisamente no Minho, implantando-se num pequeno outeiro no sopé do Monte de São Filipe, outrora São Gens, na margem esquerda do rio Cávado, do qual dista pouco menos de 3 kms. A maior parte do terreno é ocupado por rochas graníticas, assinalando-se uma faixa xistenta a Oeste, no interior da qual se localiza o mosteiro. Marginado por pequenas linhas de água, expõe-se a noroeste, sobranceiro à ampla veiga que se estende até ao rio e na qual se acumularam férteis depósitos aluviais.
O solo conhece uma ocupação agrícola intensa, com campos-prado delimitados por muros e vinha de enforcado, que se estendem em socalcos às vertentes baixas dos montes. Nas encostas domina a floresta, distinguindo-se ainda, entre os pinhais e eucaliptais, alguns bosquetes de carvalhos e castanheiros.
6 PATRIMÓNIO 2010
Figura 5. Quadro físico da implantação do mosteiro de Tibães.
3.2 A Ocupação Humana No espaço que se estende de Braga até ao rio Cávado, os mais antigos vestígios de uma ocupação humana permanente e estruturada remontam ao II.º milénio a.C.. Trata-se de pequenos povoados implantados em outeiros e nas chãs de vertente dos relevos da bordadura do vale, que desenvolveriam uma economia de base agro-pastoril (Bettencourt 2000; Fontes 1993).
Durante o I.º milénio a.C. parece verificar-se uma ocupação preferencial dos cumes dos montes, que culmina, entre os séculos V e I a.C., com o desenvolvimento da chamada “cultura castreja”. Os grandes povoados fortificados são a expressão paisagística mais monumental, como exemplifica bem o “castro” das Caldas, que se eleva a Sul deTibães (Fontes 1993; Martins 1995).
Com a romanização introduz-se um novo modelo de povoamento, aqui protagonizado pela fundação da cidade de Bracara Augusta, cerca do início da nossa era. Bracara Augusta afirmou-se como polo de desenvolvimento regional, hierarquizando uma densa malha de povoações dispersas por um vasto território. O espaço entre a cidade e o rio, cruzado pela importante via que ligava Bracara a Asturica por Limia e Tude, foi-se ordenando a partir das villae da periferia da cidade, como Dume, Merelim e Semelhe, estruturando uma paisagem agrícola cuja matriz ainda hoje perdura (Fontes 1993; Carvalho 2008; Martins 2000).
Durante o domínio suévico e visigótico, entre os séculos V a VII, tem lugar o primeiro grande esforço de organização eclesiástica do território, fomentado pelos bispos bracarenses Martinho de Dume e Frutuoso, a quem se devem também a fundação dos dois mais antigos mosteiros documentados no actual território português - os mosteiros de Dume e de São Salvador de Montélios, pouco distantes de Tibães e onde se conservam importantes vestígios arqueológicos (Fontes 1993 e 2009).
Congresso PATRIMÓNIO 2010 7
Figura 6. Povoamento entre 1.º milénio a.C. e século VIII.
A partir de finais do século IX, passados os tempos conturbados que acompanharam a penetração e fixação árabe na metade meridional da Península, o poder asturo-leonês promove o reenquadramento sócio-político do território “restaurando” a cidade de Braga. Em finais do século XI, com a afirmação do condado portucalense, identifica-se um povoamento perfeitamente estruturado em torno das paróquias, como bem testemunha a documentação medieval. Com a intensificação do povoamento nos séculos centrais da Idade Média fixam-se as estruturas territoriais, diversamente hierarquizadas por igrejas, mosteiros e castelos, umas e outros fixando antigas vias ou originando novas redes de caminhos, ao mesmo tempo que se expandiam as terras de cultivo (Costa 1997; Fontes e Pereira 2009).
Na Idade Moderna consolida-se a estrutura de povoamento fixada nos séculos medievais, embora se assinalem importantes variações da densidade populacional, ritmadas primeiro por ligeira recuperação no século XVI, após as crises dos séculos XIV e XV, e nova estagnação durante o domínio filipino, com um simultâneo aumento de incultos e maninhos, e depois pelo contínuo crescimento iniciado nos finais do século XVIII, manifesto na expansão da cidade e dos núcleos rurais (Mattoso 1993; Oliveira 1974).
Em particular na última década do século XX, a cidade de Braga conheceu um processo de forte expansão urbana, que ainda continua. Embora a ruptura do modelo de povoamento pré-existente seja inequívoca, quer pela absorção das freguesias periféricas quer pela abertura de novos eixos viários, não é ainda perceptível o modelo emergente (Fontes 2005).
Figura 7. Povoamento na Idade Média e na actualidade.
8 PATRIMÓNIO 2010
3.3 A Paisagem Monástica De acordo com o preceituado pela Regra de São Bento, um mosteiro deve fundar-se em local isolado e com terras disponíveis, beneficiar de abundância de águas e estar próximo de bosques. O sítio deve, portanto, propiciar a vida recatada e assegurar a auto-suficiência material da comunidade (Dias 1997).
Assim aconteceu com o mosteiro de São Martinho de Tibães: implantado num pequeno outeiro ladeado por dois pequenos ribeiros, que o destacam da vertente inferior do monte de São Gens, permanece um lugar isolado, afastado das povoações, devendo estar, ao tempo da fundação, como ainda hoje acontece, predominantemente rodeado de floresta.
Contudo, o substrato xistento sustenta solos muito pobres e a exposição não é a mais favorável, pois está virado a Norte, donde recebe os ventos que o ensombramento torna mais frios. Por isso, a criação de condições de vida monástica constituíu aqui um desafio mais difícil do que na maioria dos outros mosteiros: para além da necessária adequação dos edifícios ao relevo, do domínio das águas e da acessibilidade aos recursos florestais, implicou um esforço suplementar de criação de solos agrícolas, quer pela armação da encosta em socalcos quer pelo aterro e drenagem de talvegues (Fontes 2005).
O mosteiro marca precisamente a zona de separação entre o ager, os terrenos agrícolas da veiga e o saltus, a zona superior de bosque onde se recolhem matos e lenhas.
Cercado, com muro, o mosteiro define-se assim como espaço de clausura, assegurando o isolamento da comunidade em relação ao mundo exterior. Aí se encontra tudo o que necessita: os edifícios, a horta, os campos de lavradio e pomares, a mata e as nascentes de água. É no interior da clausura, termo de que derivou claustro, e portanto em torno deste, que se organiza toda a vida monástica.
Mas, independentemente da sua materialidade, os espaços organizam-se com base em valores espirituais e simbólicos e visam sempre propiciar a união com Deus, através da qual o religioso encontra a sua unidade interior, tornando-se verdadeiramente monge (Dias 1997). Em Tibães, o ordenamento dos espaços conhece a sua forma mais elaborada no decurso do século XVIII, realizando-se maximamente com a construção do escadório de São Bento.
A grande importância que o mosteiro de São Martinho de Tibães detinha no quadro dos estabelecimentos monásticos do entre Douro e Minho advinha-lhe, especialmente, do seu poder económico. Para além da dotação inicial da propriedade onde se fundou a casa monástica, reforçada com a outorga de um couto alargado, a sua riqueza foi-se acrescentando posteriormente com a doação e aquisição de inúmeras propriedades e direitos, destacando-se, entre todos, os coutos de Donim e da Estela, concedidos pelo rei Afonso Henriques.
Os seus bens e interesses dispersavam-se por todo o Noroeste de Portugal, embora registassem uma maior concentração na região bracarense, como testemunha bem, para o século XIII, a quase centena de casais que chegou a possuir no termo de Braga.
A centralidade geográfica da sua localização terá justificado a sua escolha para casa-mãe da “Congregação Beneditina do Reino de Portugal”, criada na sequência da reforma das ordens monásticas feita na segunda metade do século XVI. Chegou, então, a superintender ao governo de mais de duas dezenas de mosteiros, a maioria deles localizados no entre Douro e Minho (Fontes 2005).
Como terra defesa, isenta, com privilégios e grande autonomia administrativa, sujeita à jurisdição do abade, o couto constituía-se como o verdadeiro território do mosteiro de Tibães.
Congresso PATRIMÓNIO 2010 9
Figura 8. O Couto de Tibães.
Esse território continha tudo o que era necessário para assegurar a formação e
desenvolvimento de um verdadeiro potentado económico, auto-suficiente: uma extensa várzea com solos férteis e bem irrigados, uma significativa área de monte com florestas e matos, um rio com abundantes recursos piscícolas e fonte de energia, uma rede de vias locais e regionais bem estruturada e, condição fundamental, uma população pagadora de rendas.
Outorgado em 1110 por D. Henrique e D. Teresa, poucas décadas depois da fundação do mosteiro, e extinto apenas em finais do século XVIII, o couto de Tibães abrangia uma área superior a 700 hectares, incorporando as actuais freguesias rurais de Padim da Graça, Mire de Tibães, Parada de Tibães, Frossos, Panóias e Merelim São Paio.
O rio Cávado limitava o couto por Noroeste, demarcando-se a Sudoeste pela cumeada de Montemor e de São Gens (agora monte de São Filipe); inflectia depois para Nordeste entre os termos de Parada e Semelhe até Fonte Cova, prosseguia por Gandarela e Castro Mau, terminando novamente no rio Cávado.
Era na área coutada que o mosteiro recolhia os maiores proventos, obtidos quer da administração directa das quintas da Eira, da Amieira, do Anjo, do Pedroso, da Barrosa, de Mire e do Rio, quer indirectamente dos inúmeros casais arrendados ou ainda dos direitos sobre a exploração de moinhos, pesqueiras e azenhas, bem como do arrendamento do barco e da barca, na passagem do rio Cávado em Padim da Graça (Oliveira 1974).
4 O MOSTEIRO E A EVOLUÇÃO ARQUITECTÓNICA
4.1 As edificações medievais (séculos XI-XV) Do primitivo mosteiro medieval, construído sob o patronato da família de Paio Guterres da Silva durante a segunda metade do século XI, não se conhece nada em contexto original. Para além de alguns capitéis pré-românicos, podem reportar-se a esta época alguns blocos de granito com cavidade para utilização de forfex, reaproveitados na construção românica, bem como fragmentos de cerâmica de produções atribuíveis a este período. Na ausência de quaisquer outros testemunhos, admite-se que a igreja e os edifícios anexos se localizassem nas proximidades da actual igreja.
Da reconstrução românica, contemporânea da concessão do couto, feita em 1110, encontraram-se vestígios arqueológicos mais significativos. Para além de silhares com siglas de canteiro e elementos arquitectónicos esculpidos com motivos característicos do românico, identificaram-se restos de alicerces de paredes da igreja e das casas anexas, a par de vestígios da necrópole medieval, tudo correspondente à edificação monástica que serviu a comunidade entre as primeiras décadas do século XII e meados do século XVI (Fontes 2005).
Em Tibães, porém, o projecto arquitectónico medieval, apesar de revelar a organização espacial que permite a sua filiação no quadro dos modelos ocidentais de arquitectura
10 PATRIMÓNIO 2010
monástica, apresenta características particulares que o distinguem das grandes abadias europeias e que o aproximam, sobretudo, da generalidade dos pequenos mas ricos mosteiros da região bracarense, apropriados ou fundados nos séculos XI e XII por patronos poderosos (Mattoso 2001, 138), ao tempo dos governos dos condes portucalenses e do reinado de Afonso Henriques, nos quais o espaço claustral não parece ter sido totalmente enquadrado por alas porticadas.
Figura 9. Edificado medieval de Tibães.
Do ponto de vista do modelo arquitectónico da igreja, interessa registar a sobreposição de
influências distintas, manifestas na opção de uma só nave, elevada, característica que poderá reflectir a perduração de tradições locais, de eventual influência asturiana, e na junção da abside semicircular, de filiação cluniacense e denunciadora de um estilo claramente românico (Almeida 2001; Real 1982; Toman 1997). É também a tradução arquitectónica das hesitações que, naturalmente, acompanharam a introdução da nova liturgia romana veiculada pelos cluniacenses, em substituição da tradicional liturgia bracarense, de matriz moçárabe (Ferreira 1924).
A análise dos dados sustentou uma proposta de reconstituição do modelo arquitectónico, em que se destaca a igreja de uma só nave rectangular e cabeceira em ábside semi-circular, com a quadra claustral desenvolvendo-se a Sul e depois, contígua, a horta. No modelo arquitectónico interpretado releva a semelhança com a planta da igreja do mosteiro de São Fins de Friestas, em Valença, o que permite admitir que a igreja do mosteiro de Tibães teria a mesma configuração, confirmando a difusão de modelos arquitectónicos padronizados (Fontes 2005).
4.2 As reconstruções e ampliações da “Reforma” (século XVI) Os primeiros documentos com descrições físicas pormenorizadas do mosteiro de Tibães datam de meados de Quinhentos, reportando-se também a esta época outros importantes vestígios arqueológicos, que documentam renovações e ampliações do mosteiro, mantendo-se embora a igreja medieval, “muito antiga, de esquadria e com capela-mor abobadada”. Confirmaram-se arqueologicamente a construção de um novo bloco poente, bem como a reconstrução do claustro. No lado Norte da capela-mor encontraram-se vestígios arqueológicos da capela de Nossa Senhora do Rosário, já edificada em 1555, por iniciativa do abade comendatário frei Bernardo da Cruz. A este mesmo abade se deve a construção da capela de São Bento na zona alta da cerca, que então já estava murada (Fontes 2005).
Neste modelo ressalta a manutenção do núcleo medieval original, no qual se impõe a igreja, ao qual se acrescentaram as novas construções, tanto a nascente como a poente. A topografia e a distinta funcionalidade dos novos espaços condicionaram o seu tamanho e a sua disposição, determinando na banda nascente edificações em apêndice (a capela de Nossa Senhora do Rosário no lado Norte da capela-mor e um dormitório a Sul, no prolongamento da
Congresso PATRIMÓNIO 2010 11
ala nascente do claustro), enquanto no lado poente permitiu uma solução de maior continuidade, com a organização de uma nova quadra (o claustro dito da portaria, enquadrado por blocos de maior volumetria, como a hospedaria e o noviciado), e um terreiro (delimitado pelos edifícios térreos das adegas, oficinas e estrebarias). No conjunto, a massa edificada praticamente duplicou, desenvolvendo-se agora ao longo de um eixo E-O definido pela parede meridional do templo.
Figura 10. Edificado do período da Reforma.
Os espaços distribuem-se de acordo com um modelo padronizado de funcionalidades, concordantes com o esquema de vida monástico, que tem o claustro por epicentro. É a materialização, à escala humana, do modelo ideal de mosteiro, tal como havia sido teorizado nos séculos iniciais da Idade Média, mas que em Tibães só se concretiza em meados do século XVI (Fontes 2005).
Na segunda metade do século XVI reformam-se as ordens monásticas. O mosteiro de São Martinho de Tibães é escolhido para casa-mãe da congregação beneditina portuguesa, empreendendo então os seus abades-gerais um projecto de reconstrução do mosteiro, que se viria a concretizar nos séculos seguintes.
4.3 As edificações modernas (séculos XVII-XVIII) Consolidada a posição do mosteiro como casa-mãe da congregação, ultrapassadas que foram as perturbações anteriores e aproveitando as conjunturas socio-económica favoráveis, os beneditinos iniciaram um ambicioso projecto de reconstrução total do mosteiro de Tibães, o qual procurou dar satisfação às necessidades da comunidade, naturalmente acrescidas pelo aumento de monges e pelo seu novo papel de sede da congregação.
Uma primeira fase de construção decorreu durante os dois primeiros terços do século XVII. As obras começaram pela construção de um novo noviciado, uma nova cozinha e um novo dormitório, já concluídos cerca de 1625, avançando simultaneamente a construção do novo claustro do refeitório, adossado pelo lado Sul ao pré-existente claustro do cemitério e que já estaria funcional menos de cinco anos depois. Entretanto, havia-se iniciado a reconstrução do claustro do cemitério, a par da edificação da nova e monumental igreja, riscada por Manuel Álvares, que se dá por concluída em 1661.
Contudo, este programa construtivo não parece ter sido objecto de um projecto global de arquitectura, de risco unitário, tudo indicando que se foi projectando por partes, em concordância com a dependência de factores conjunturais, como sejam a maior ou menor disponibilidade de meios, o maior ou menor empenho dos abades-gerais com o programa construtivo e a sua maior ou menor receptividade às soluções arquitectónicas preconizadas, o que também se terá repercutido na longa duração das obras.
Do ponto do vista do modelo arquitectónico monástico, o resultado do programa construtivo acima descrito traduziu-se num conjunto edificado composto por igreja, dois
12 PATRIMÓNIO 2010
claustros desenvolvendo-se para Sul e, paralelos a estes, pelo lado poente, a cozinha, o noviciado e o hospício. A poente deste conjunto organiza-se um amplo terreiro com edifícios térreos relacionados com a exploração agrícola (adegas, oficinas, estábulos), repetindo a solução da edificação quinhentista (Fontes 2005).
Terá ficado por fazer, neste programa de reconstrução arquitectónica, a sacristia nova, cujo risco e características construtivas se assemelham aos dos edifícios levantados neste período, o que sugere que terá sido projectada no âmbito deste programa mas deixada para execução futura, como veio a acontecer.
Na cerca fazem-se adaptações correlacionadas com a expansão do edificado para Sul, organizando-se a horta desse lado. Aumentam-se as culturas com mais pomares, vinhas, laranjais, fontes, latadas e campos de lavradio e plantam-se soutos e carvalhais com milhares de árvores.
Figura 11. Edificado Moderno de Tibães – 1.ª fase.
Em meados do século XVII temos já, portanto, no mesmo local do anterior e satisfazendo os mesmos requisitos de organização funcional dos espaços, embora ampliado para Sul e poente e com uma expressão volumétrica mais significativa, um mosteiro de São Martinho de Tibães “novo”, materializando o que consideramos ter sido o primeiro programa construtivo pós-reforma de Tibães (Fontes 2005).
Numa segunda fase de construção, que decorreu durante o último quartel do século XVII, colocaram-se os sinos nas torres da igreja, construiu-se uma nova sacristia e terminaram-se a portaria e o portão dos carros, que passaram a ser as novas entradas do mosteiro. Ao findar o século de seiscentos, concluíram-se as obras do bloco poente, onde se localizavam as sala do recibo, estrebaria e cavalariça, oficinas e adegas, dormitórios, hospedarias, botica, livraria e sala capitular da congregação.
Do ponto de vista do modelo arquitectónico monástico e embora quase duplique a massa construída do mosteiro de Tibães, não se verifica qualquer alteração conceptual, mas sim de forma, isto é, procede-se à afectação de novos espaços a velhas funcionalidades. Os novos edifícios, que arrancam da portaria e vão rematar no lado oposto, junto à cozinha, substituem construções anteriores, térreas. Realizam, assim, a integração arquitectónica do terreiro pré-existente no conjunto edificado a nascente.
O piso térreo continua a reservar-se para as instalações de apoio à exploração agrícola da cerca, tal como já existia, mas agora com uma expressão arquitectonicamente ordenada, mais ampla e também de maior qualidade.
No bloco poente, um piso intermédio destina-se à sala do recibo e celeiro. No piso superior, que se desenvolve à mesma cota do primeiro piso da metade nascente, assegurando portanto a continuidade e interligação dos pavimentos ao nível das varandas dos claustros, instalaram-se dormitórios.
O que temos, portanto, é um projecto que promove uma nova organização dos espaços, concentrando aqueles que se destinam à comunidade de Tibães na metade nascente e os
Congresso PATRIMÓNIO 2010 13
vocacionados para o serviço da congregação na metade poente. Sustentada por obra nova, esta reorganização traduz-se na melhoria, substancial, da qualidade das instalações para serviço da congregação e, por consequência, das instalações destinadas à comunidade de Tibães, que passou a dispor de espaços desocupados para afectar a novas funcionalidades ou simplesmente melhorar o exercício das existentes (Fontes 2005).
Figura 12. Edificado Moderno de Tibães – 2.ª fase.
Pode dizer-se que, ao findar o século XVII, a comunidade beneditina de Tibães tinha concretizado o seu ambicioso projecto de reconstrução do mosteiro, investindo especialmente na qualificação funcional das instalações monásticas e menos nos requintes arquitectónico-decorativos dos edifícios. Diferentemente de outros mosteiros, a criação artística foi aqui mais contida, manifestando-se quase exclusivamente através da decoração arquitectónca de interiores, em especial na igreja.
Durante o século XVIII concretizou-se uma terceira fase de obras de remate, ampliação e remodelação, de restauros e embelezamentos, em particular nas décadas de 20 e 30 de Setecentos, naquilo que se pode considerar um programa de transformação do mosteiro em obra de arte (Fontes 2005).
Na igreja remodelou-se a frontaria e ampliou-se a capela-mor. O claustro do cemitério foi remodelado, alargando-se a ala da sacristia para nascente; na ala Sul abriu-se uma escadaria e renovaram-se as capelas laterais. A cozinha e as chaminés foram objecto de obras nos primeiros 4 anos de Setecentos. Em 1731 construiu-se um cénico e poderoso passadiço, separando a Sul o terreiro das adegas do Jardim de São João, a Norte.
A cerca conheceu importantes transformações, iniciadas com a construção do pátio alpendrado "do galo", a que se seguiu a armação da encosta da capela de São Bento em socalcos e a fixação de caminhos. No triénio de 1731-34 termina-se a construção do monumental escadório ou "Rua das Fontes". Datam ainda deste século o lago, dois moinhos, uma azenha e um lagar de azeite, implantados na banda nascente da cerca (Fontes 2005; Mata e Costa 1998).
14 PATRIMÓNIO 2010
Figura 13. Edificado Moderno de Tibães – 3.ª fase.
Com o conjunto de obras levadas a cabo no século XVIII, mantém-se o modelo arquitectónico monástico fundamental, acrescentando-se-lhe algumas funcionalidades novas, como sejam a botica, a “casa para o Mestre Escola” e a “casa de comer dos hóspedes de graduação”. Contudo, estas novas funcionalidades não correspondem a nenhuma ruptura do modelo tradicional nem prefiguram qualquer evolução desencadeada por uma diferente espiritualidade. São apenas expressão da atitude de racionalização da gestão, de valorização artística, de fomento da cultura e de utilização lúdica, que caracterizou a vida dos monges de Tibães durante praticamente toda a centúria (Fontes 2005).
Figura 14. Expressões barrocas do edificado Moderno de Tibães.
Com as últimas obras do século XVIII, pode considerar-se que os monges de Tibães esgotaram a capacidade de explorar a organização funcional dos espaços do mosteiro. De facto, para além da interessante adaptação a “Sala de Pinturas”de parte da ala por cima do refeitório do hospício, registada no triénio de 1813-15, nada mais ou pouco se fez de novo, registando-se apenas obras de manutenção, até à extinção do mosteiro em 1833-34.
Na sequência da extinção das ordens monásticas decretada em 1833-34, o mosteiro de São Martinho de Tibães foi abandonado e posteriormente vendido a particulares. Em 1894, um incêndio de grandes proporções destruiu todo o claustro do refeitório, parte da ala nascente do claustro do cemitério e a zona do noviciado.
Progressivamente arruinado e saqueado, o antigo mosteiro de Tibães viria a ser adquirido pelo Estado português em 1986, O seu projecto de recuperação e adaptação, promovido pelo
Congresso PATRIMÓNIO 2010 15
IGESPAR, I.P., foi recentemente concluído, sob coordenação do Arquitecto João Carlos Santos, da Direcção Regional de Cultura do Norte / Ministério da Cultura.
Figura 15. Extinção e abandono do mosteiro de Tibães.
5 CONCLUSÕES A intervenção arqueológica em Tibães não se esgotou na identificação de ruínas nem na recolha de peças. O objectivo principal foi produzir conhecimento, designadamente sobre a evolução arquitectónica do mosteiro e sobre a construção da paisagem que o acolheu, conhecimento que foi transmitido à direcção do projecto e também já disponibilizado ao público, sob a forma de publicações diversas.
Cada mosteiro, cada monumento, é único na sua história, nas suas características arquitectónicas, na envolvente paisagística, no estado de conservação em que chegou até nós. Não há, portanto, mosteiros iguais. Todos são diferentes, tal como diversas são, também, as intervenções programadas e os seus resultados, tanto do ponto de vista metodológico como da interpretação e valorização dos dados.
A intervenção arquitectónica foi concluída neste ano de 2010, importando assinalar a integração de ruínas da portaria quinhentista no circuito de visita ao monumento – trata-se de vestígios da porta dos carros que serviu o mosteiro reformado no decurso do século XVI. Pela sua relativa monumentalidade, bom estado de conservação e relação estratigráfica com as paredes envolventes, entendeu-se conservar esses vestígios visíveis, aproveitando-os para propor ao visitante uma “leitura musealizada”da evolução do mosteiro.
Finalmente e invocando o exemplo da intervenção realizada no mosteiro de São Martinho de Tibães, importa sublinhar que, hoje, a arqueologia já não tem que justificar porque é que é necessária nas intervenções em património edificado. É por todos reconhecido o seu contributo para o conhecimento da história dos monumentos em particular e para a História em geral, bem como o papel fundamental que desempenha na preservação dos vestígios materiais do passado, prevenindo a sua destruição por obras decorrentes de projectos menos bem informados.
REFERÊNCIAS
Bettencourt, A. (2000) Estações da Idade do Bronze e Inícios da Idade do Ferro da Bacia do Cávado (Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografías, 12, Braga: Universidade do Minho / ICS.
Carvalho, H. (2008) O povoamento romano na fachada ocidental do Conventus Bracarensis, Braga: Universidade do Minho, Tese Doutoramento, Universidade do Minho, Braga (http://www.repositorium.pt).
Costa, A. (1997) O Bispo D. Pedro e a Organização da Arquidiocese de Braga, (2.ª ed. refundida e ampliada), vol. I, Braga: Irmandade de S. Bento da Porta Aberta.
16 PATRIMÓNIO 2010
Dias, G. (1997) Do Mosteiro Beneditino Ideal ao Mosteiro de São Bento da Vitória – História, espaços e quotidiano dos Monges. Parte I. Em O Mosteiro de S. Bento da Vitória. Quatrocentos anos, Porto: Edições Afrontamento, 13-37.
Fontes, L. (1993) Inventário de Sitios e Achados Arqueológicos do Concelho de Braga, MINIA, 1, 3.ª série, Braga: ASPA, 31-88.
Fontes, L. (2005) São Martinho de Tibães: um sítio onde se fez um mosteiro. Ensaio em arqueologia da paisagem e da arquitectura, Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico.
Fontes, L. (2006) Experiências Portuguesas em Arqueologia da Arquitectura, Património. Estudos, 9, Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico, 44-55.
Fontes, L. (2009) O Período Suévico e Visigótico e o Papel da Igreja na Organização do Território. Em Pereira, P. (coord.) Minho. Traços de Identidade, Braga: Conselho Cultural da Universidade do Minho, 272-295.
Mata, A. e Costa, M. (1998) (org. versão portuguesa) Cerca do Mosteiro de Tibães. Prémio Internacional Carlo Scarpa para o Jardim, Lisboa: Fondazione Benetton Studi Richerche / Instituto Português do Património Arquitectónico.
Martins, M. (1995) A Ocupação Romana da Região de Braga: Balanço e Perspectivas de Investigação. Em Actas do Congresso Histórico Comemorativo dos 150 Anos do Nascimento de Alberto Sampaio, Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 73-144.
Martins, M. (2000) Bracara Augusta. Cidade Romana, Braga: Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.
Mattoso, J. (1993) (dir. de) História de Portugal, IV. O Antigo Regime (1620-1807), (coord. de António Manuel Hespanha), Lisboa: Círculo de Leitores.
Oliveira, A. (1974) A Abadia de Tibães e o seu Domínio (1630-1680). Estudo social e económico, Tese Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.