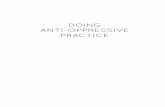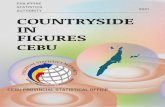OS SISTEMAS DE PSA COMO INSTRUMENTOS DE MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of OS SISTEMAS DE PSA COMO INSTRUMENTOS DE MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL NACIONAL E INTERNACIONAL
Guillermo Tejeiro
OS SISTEMAS DE PSA COMO INSTRUMENTOS DE MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA
Porto Alegre 2013
2
GUILLERMO TEJEIRO
OS SISTEMAS DE PSA COMO INSTRUMENTOS DE MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA
Trabalho de Conclusão apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Orientadora: Prof. Dra. Vanêsca Buzelato Prestes
Porto Alegre 2013
3
Dedico este trabalho àqueles que, no Brasil e no meu país de origem, me deram a força necessária para culminar em mais uma fase do meu aprendizado como profissional: À minha amada esposa Paula: mulher, amiga e parceira, por seu apoio e amor incondicionais, sem os quais, literalmente, não estaria aqui hoje. A mi família, mis padres Guillermo y Angela y a mis hermanos Andrés y Gabriel, por los innumerables sacrifícios y esfuerzos para formarme, por el ejemplo, por la paciencia, la amistad y la siempre increible capacidad de creer en mi y de apoyarme aún cuando no se vislumbraban caminos y sólo había obstáculos. A Ione, por ser quien fuiste y por haber forjado quien hoy dia soy.
4
Agradeço à Dra. Silvia Capelli e ao Dr. Eládio Lecey pela possibilidade de participar do curso. Agradeço à Dra. Vanêsca Prestes por seu apoio como orientadora, assim como a Paula Lavratti, Gustavo Trindade e Carolina Scherer pela parceria e apoio como colegas e amigos de trabalho. Agradeço aos colegas da especialização por seu apoio e grande entusiasmo na matéria. Também agradeço aos amigos e à família aqui no Brasil, por seu carinho, paciência e apoio para finalizar este trabalho.
5
“No que diz respeito à ciência jurídica, creio ser possível distinguir duas imagens típico-ideais da função do jurista (...): o jurista como conservador e transmissor de um grupo de regras já dadas, de que é depositário e guardião; e o jurista como criador, ele mesmo, de regras que transformam – a ele integrando-se e inovando-o – o sistema dado, do qual não é mais apenas receptor, mas também colaborador ativo, e quando necessário, crítico”
- NORBERTO BOBBIO
6
RESUMO
Com base no trabalho desenvolvido pelos organismos internacionais encarregados do estudo, gestão e política sobre a biodiversidade e as mudanças do clima, acredita-se que seja necessário implementar estratégias de gestão sustentável dos ecossistemas e dos serviços que estes fornecem, de forma a contribuir nos labores de mitigação e adaptação ao fenômeno do aquecimento global. Essa nova aproximação teórico-prática indica que os ecossistemas e os seus serviços podem desempenhar um papel fundamental dentro das estratégias de adaptação do meio natural e antrópico, bem como fornecer serviços associados aos labores de mitigação de gases efeito estufa. Por sua vez, desde uma perspectiva jurídica, tal aproximação pode se embasar na teoria do direito promotor como instrumento de materialização do Estado Socioambiental contemporâneo. Este trabalho de conclusão visa a analisar o papel dos Sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais na implementação de estratégias de mitigação e adaptação às mudanças do clima no contexto da sociedade de risco, no Estado de Direito Ambiental e como parte da teoria do direito promotor aplicado ao direito ambiental. Palavras-chave: direito internacional ambiental, direito das mudanças climáticas, direito e biodiversidade, pagamento por serviços ambientais, política ambiental, mudanças climáticas, ecossistemas, serviços ecossistêmicos, desenvolvimento sustentável.
7
ABSTRACT
Based on the work of the international bodies in charge of studying, managing and designing policy instruments on biodiversity and climate change, it is believed that there is the need to implement strategies for sustainable management of the ecosystems and the services they provide, in order to develop mitigation and adaptation strategies related to the phenomenon of climate change. This new theoretical and practical approach suggests that ecosystems and their services can play a key role in the adaptation strategies of the natural and man-made systems, as well as aiding in the labors associated to the mitigation of greenhouse gases. In turn, from a legal perspective, such an approach may be enclosed within the theory of the law as an instrument for promoting the materialization of the so-called contemporary “Socio-Environmental State”. This contribution aims at analyzing the role of the Payment Systems for Environmental Services Schemes - PES as an instrument to mitigate and adapt to climate change, bearing into consideration the context of the Risk Society, the Socio-Environmental State and the Promoting Function of the Law’s Legal Theory. Keywords: international environmental law, climate change law, law and biodiversity, payment for environmental services, environmental policy, climate change, ecosystems, ecosystem services, sustainable development.
8
LISTA DE ABREVIATURAS
AEM – Avaliação Ecossistêmica do Milênio
AHTEG – Grupo Especial de Expertos Técnicos Ad Hoc
CaC – Técnica do Comando e Controle
CF – Constituição Federal do Brasil
COP – Conferência das Partes
CQNUMC – Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima
CDB – Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica
CNUCD – Convenção das Nações Unidas sobre o Combate à Desertificação
EbA – Adaptação baseada nos Ecossistemas
EbM – Mitigação baseada nos Ecossistemas
ECO92 – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável/Rio de Janeiro,
1992
GEE – Gases Efeito Estufa
IE – Técnica dos Instrumentos Econômicos
JLG – Grupo de Enlace Misto das Convenções do Rio
IPCC – Painel Intergovernamental de Expertos sobre Mudanças do Clima
ONU – Organização das Nações Unidas
PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
PSA – Pagamento por Serviços Ambientais
SBSTTA-CDB – Órgão Subsidiário de Assessoramento Técnico e Tecnológico da Convenção
das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica
SBSTA-CQNUMC – Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Técnico da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima
9
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 11 2. PRIMEIRA PARTE: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E OS SEUS EFEITOS SOBRE OS ECOSSISTEMAS E O BEM-ESTAR HUMANO: SUSTENTO CIENTÍFICO ....... 14
2.1 DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE AS MUDANÇAS DO CLIMA: ASPECTOS GERAIS ....................................................................................................................................................... 15 2.2 DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE OS ECOSSISTEMAS E OS SEUS SERVIÇOS ....................................................................................................................................................................... 20 2.3 DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE AS MUDANÇAS DO CLIMA E A BIODIVERSIDADE: DA RELAÇÃO ENTRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E BEM-ESTAR HUMANO ................................................................................. 22
2.3.1 Contexto histórico: da formação do Grupo Especial de Expertos Técnicos (AHTEG) sobre Biodiversidade e Mudanças do Clima e do Grupo de Enlace Misto das Convenções do Rio (JLG) - período compreendido entre 2000 e 2002 .................................................................................................... 23 2.3.2 Dos relatórios dos Grupos AHTEG, do Relatório da AEM - 2005 e do Quarto Relatório do IPCC sobre as mudanças do Clima - 2007 – período compreendido entre 2003 e 2009 ................ 26
2.3.2.1 O Primeiro Relatório do Primeiro Grupo AHTEG – “Interação entre Mudanças Climáticas e Biodiversidade” – 2003 ....................................................................................................................................................... 27 2.3.2.2 O Relatório da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) – 2005 ................................................... 29 2.3.2.3 O Segundo Relatório do Primeiro Grupo AHTEG - “Orientações para Promover a Sinergia entre as Atividades dirigidas à Diversidade Biológica, à Desertificação, à Degradação do Solo e às Mudanças do Clima” – 2006 .................................................................................................................................................................. 33 2.3.2.4 O Quarto Relatório do IPCC sobre Mudanças do Clima – 2007 ........................................................... 34 2.3.2.5 O Relatório do Segundo Grupo AHTEG - “Conectando a Biodiversidade com a Adaptação e a Mitigação das Mudanças Climáticas” – 2009 .............................................................................................................. 36
2.4. CONCLUSÕES DA PRIMEIRA PARTE ............................................................................................. 41 1. SEGUNDA PARTE: DA IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE POLÍTICA AMBIENTAL BASEADOS NOS INCENTIVOS NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS DO CLIMA ...................................................................................................................................... 43
4.1. ALÉM DO COMANDO E CONTROLE: AS TÉCNICAS DE ENCORAJAMENTO DESDE A TEORIA DO DIREITO PROMOTOR DE NORBERTO BOBBIO – EMBASAMENTO TEÓRICO .................................................................................................................................................... 43 4.2. IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO ENFOQUE DO DIREITO PROMOVEDOR PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS NO CONTEXTO DA SOCIEDADE DO RISCO CLIMÁTICO E DO ESTADO SOCIOAMBIENTAL ..................................................... 48
4.2.1 As mudanças climáticas como manifestação dos riscos tecnológicos da Sociedade do Risco: da gestão dos “riscos climáticos” como objetivo do Estado Socioambiental ........................ 48 4.2.2 Do papel do direito promovedor no contexto do Estado Socioambiental e da Sociedade do Risco ............................................................................................................................................................................ 50
4.3 CONCLUSÕES DA SEGUNDA PARTE ........................................................................................ 53 6. TERCEIRA PARTE: A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS E DOS SEUS SERVIÇOS ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS DO ORDENAMENTO JURIDICO COM FUNÇAO PROMOVEDORA: DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS ............................................................................................... 54
6.1 DESAFIOS ASSOCIADOS À FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS DIRECIONADAS À CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS E DOS SEUS SERVIÇOS ............................................................................................................................ 55
6.1.1 Falta de conhecimento suficiente sobre os ecossistemas e os seus serviços ............................ 55 6.1.2 Das externalidades e dos bens públicos: considerações sobre a natureza dos serviços ambientais desde a perspectiva econômica ..................................................................................................... 56 6.1.3 Do valor dos serviços ecossistêmicos .................................................................................................... 59
10
6.2 SUSTENTO JURÍDICO DAS INICIATIVAS DIRECIONADAS À CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO E MELHORIA DOS ECOSSISTEMAS E DOS SEUS SERVIÇOS: ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO E INTERNACIONAL ... 61 6.3 OS SISTEMAS DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO FERRAMENTAS DO DIREITO PROMOVEDOR: ANÁLISE ......................................................... 65 6.4 CONCLUSÕES DA TERCEIRA PARTE .................................................................................... 68
7. QUARTA PARTE: OS LABORES DE MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO BASEADOS NA GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS: DO PAPEL DOS SISTEMAS DE PSA NA MITIGAÇÃO E NA ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA .............................................................................................................................................. 70
7.1 A MITIGAÇÃO BASEADA NOS ECOSSISTEMAS (EbM): DO ENFOQUE DE MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS DO CLIMA ATRAVÉS DA GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS E DOS SEUS SERVIÇOS ........................................................................................ 70 7.2. A ADAPTAÇÃO BASEADA NOS ECOSSISTEMAS – EbA: DO ENFOQUE DE ADAPTAÇÃO BASEADA NA GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS E DOS SEUS SERVIÇOS ..................................................................................................................................... 73 7.3. OS SISTEMAS DE PSA COMO FERRAMENTAS DA EbA E DA EbM ............................... 76
8. CONCLUSÕES ....................................................................................................................... 79 9. REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 80
11
1. INTRODUÇÃO
As mudanças climáticas têm implicações muito importantes na disciplina legal,
especialmente quando se considera que, por causa dos efeitos decorrentes deste fenômeno, o
exercício dos direitos reconhecidos ao conglomerado social pode se ver preocupantemente
reduzido. Nesse sentido, os riscos decorrentes das mudanças do clima ultrapassam as
fronteiras nacionais, desencadeando mudanças globais tipicamente associadas à nossa
sociedade do risco.
Essa situação apresenta um desafio direto e sem precedentes para as instituições
jurídicas nacionais e internacionais encarregadas de impulsionar, tanto política quanto
legalmente, a criação ou releitura de instrumentos (jurídicos e de política pública) destinados
a encarar os efeitos do aquecimento global. Nesse sentido, o direito está chamado a produzir
e/ou introduzir novos elementos dentro da ciência jurídica, ou a reinterpretar elementos
existentes dentro da legislação e dogmática jurídica da atualidade, com o objetivo de fazer
frente a este novo desafio da sociedade.
Embora o efeito estufa seja um fenômeno natural necessário para a existência da vida
em nosso planeta, sua dinâmica natural tem sido afetada pelas atividades humanas, as quais,
por sua dimensão e intensidade, têm aumentado a concentração de gases efeito estufa na
atmosfera, aumentando as temperaturas em todas as latitudes do globo. Portanto, faz-se
necessária uma análise em uma perspectiva antropocêntrica do fenômeno, ou seja, uma
análise concentrada nas causas e consequências das atividades humanas relacionadas ao
aquecimento global, com o objetivo de avaliar juridicamente o fenômeno.
Assim, a primeira vertente de análise do fenômeno das mudanças climáticas relaciona-
se às suas causas antropogênicas, isto é, à análise das atividades humanas que desencadeiam
mudanças no padrões climáticos globais. Essa vertente de análise concentra-se na
identificação das atividades humanas responsáveis pela emissão de gases efeito estufa, na
identificação e regulamentação dos principais gases responsáveis pelo aquecimento
antropogênico global e, por fim, nas formas de mitigar as emissões desses gases (mitigação
das mudanças do clima).
As mudanças climáticas, por sua vez, têm o potencial de afetar negativamente a
qualidade e a quantidade dos elementos que compõem o meio ambiente como um todo,
afetando o bem-estar das populações humanas. Assim, a segunda vertente de análise do
fenômeno das mudanças do clima concentra-se nas atividades de adaptação a essas mudanças,
algumas delas inevitáveis. Ambas as abordagens analíticas mencionadas envolvem a
12
avaliação do papel dos seres humanos em relação ao seu meio ambiente. Consequentemente,
quando falamos em mudanças climáticas desde uma perspectiva antropocêntrica, falamos em
uma relação de causa-efeito de duas vias que pode ser descrita da seguinte forma: os seres
humanos e suas atividades afetam diretamente os padrões climáticos globais, situação que,
por sua vez, afeta os seres humanos como consequência dos efeitos deletérios que essas
mudanças têm na qualidade do meio ambiente e dos serviços ecossistêmicos que o ser
humano precisa para o seu bem-estar. Consequentemente, entende-se por mitigação a
“implementação de alternativas que visam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa ou
aumentar os sumidouros de carbono“, e por adaptação os “ajustamentos, nos sistemas naturais
ou humanos, em resposta a estímulos climáticos presentes ou esperados, ou os seus efeitos,
que moderam os danos ou tiram partido das oportunidades úteis.”1
A partir dessa dupla perspectiva de análise, isto é, desde a perspectiva de mitigação e
de adaptação às mudanças do clima, é fundamental referir a avaliação dos ecossistemas e dos
serviços ecossistêmicos, uma vez que os ecossistemas fornecem as condições necessárias para
o bem-estar das populações humanas. Assim, o estudo das mudanças climáticas como fato
relevante para a ciência jurídica envolve o estudo do direito ambiental em função dos seres
humanos e dos ecossistemas, com o objetivo de estabelecer as condições necessárias para
promover as labores de mitigação e de adaptação ao fenômeno do aquecimento global.
Para isso, é necessário analisar a relação existente entre o direito ambiental e o
conhecimento científico disponível sobre a matéria, pois é essencial compreender as causas e
possíveis consequências do fenômeno a fim de facilitar o processo de criação ou
reinterpretação das normas ambientais já existentes, ou a adoção de novos enfoques de
política pública ambiental destinados aos labores de mitigação e adaptação ao fenômeno.
Além disso, é necessário compreender os impactos das mudanças do clima sobre os
ecossistemas e os seus serviços, a fim de identificar ferramentas destinadas a sua proteção e
conservação. Nesse contexto, considera-se fundamental avaliar o potencial dos novos
enfoques de política pública ambiental que promovem a proteção dos ecossistemas e de seus
serviços através da outorga de incentivos, econômicos e não econômicos, à proteção e
conservação dos ecossistemas e dos serviços que estes proveem.
Esta monografia tem o objetivo de avaliar o potencial dos sistemas de Pagamento por
Serviços Ambientais (PSA) como ferramentas de mitigação e de adaptação às mudanças do
clima, tendo por base o conhecimento científico arrecadado pelos principais órgãos de
1 Glosário do IPCC, em http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg3.pdf
13
pesquisa internacional vinculados aos instrumentos de direito internacional ambiental: a
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (CQNUMC) e a
Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB).
14
2. PRIMEIRA PARTE: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E OS SEUS EFEITOS SOBRE OS ECOSSISTEMAS E O BEM-ESTAR HUMANO: SUSTENTO CIENTÍFICO
O papel do direito como instrumento de regulação, controle e gestão sustentável da
natureza e dos serviços que esta fornece no contexto das mudanças climáticas é a questão
fundamental desta contribuição. Nas palavras de Martin Mateo, o direito ambiental tem como
objetivo principal “disciplinar comportamentos [humanos] que têm relevância para o meio
ambiente, de acordo com os imperativos da ciência da natureza que devem ser assimilados
pelas ciências sociais.”2
Nesse sentido, é possível afirmar que o objeto e finalidade do direito ambiental são a
regulamentação e o controle da relação que existe entre o homem, ou melhor, a sociedade, e o
seu ambiente, entendendo este último como o espaço dentro do qual surgem as interações que
compõem um sistema no qual o homem se relaciona com seus pares e com outros
organismos.3
Esses relacionamentos, que, analisados desde uma perspectiva sistêmica e sistemática,
consideram todos os elementos do meio ambiente, constituem-se no elemento básico que
permite a abordagem jurídica do fenômeno ambiental em sentido amplo. Assim, para se
compreender a complexidade dos elementos e as relações que compõem o meio ambiente, é
necessário aproximar-se do conhecimento científico do meio ambiente e das interações entre
os seus vários elementos. Nas palavras de Santander Mejía:
A natureza dos problemas ambientais, os quais requerem de uma análise desde uma visão da disciplina científica (...) faz com que todas as intervenções a serem feitas desde o ponto de vista normativo obedeçam a standards que resultam de trabalhos científicos e técnicos (...) Estes resultados das pesquisas são plasmados em normas
2 “La misma naturaleza de los problemas ambientales que requieren un análisis desde una visión de una disciplina científica (…) hacen que todas las intervenciones que desde el punto de vista normativo se deben realizar obedezcan a estándares resultantes de estudio científicos y técnicos (...) Estos resultados de investigaciones, se plasman en normas (… ) que no pueden ser estudiadas únicamente por abogados, sino que estos requieren para interpretación de apoyo científico”. MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de derecho ambiental Volumen I, Madrid, Espanha: Editorial Trivium S.A, Primera Edición, 1991, tradução nossa. O autor ainda sinaliza o seguinte: “se debe insistir sobre la “importancia de la adopción efectiva de instrumentos jurídicos apropiados en el plano internacional y nacional, con vistas a una protección eficaz del medio natural y del ambiente. El Derecho ambiental no es un simple apéndice de políticas ambientales, es el medio privilegiado para toda política a favor del medio”. 3 “(…) o meio ambiente integra-se pela flora, a fauna, a paisagem, e pelos equilíbrios biológicos, dentro dos quais estão incluídos os seres humanos e os recursos naturais (água, ar e solo)” em PERALTA MONTERO, Carlos E, O fundamento e a finalidade extrafiscal dos tributos ambientais, In: Fundamentos Teóricos do Direito Ambiental, São Paulo: Elsevier Editora 2008.
15
(...) que não podem ser estudadas unicamente pelos advogados, mas que requerem apoio cientifico para a sua interpretação”.4
Assim, faz-se necessário abordar o conhecimento científico disponível sobre as
mudanças climáticas e os seus efeitos sobre a biodiversidade e os seus serviços, com o
objetivo de avaliar o papel dos instrumentos de incentivo à preservação e conservação dos
ecossistemas e os seus serviços sob uma perspectiva jurídica.
2.1 DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE AS MUDANÇAS DO CLIMA: ASPECTOS GERAIS
A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima define as
mudanças climáticas como a
mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis.5
Por sua vez, o Painel Intergovernamental de Expertos sobre Mudanças do Clima
(IPCC, na sigla em inglês) define as mudanças climáticas como
o aumento gradual das temperaturas globais como resultado do aumento das emissões de gases efeito estufa que impedem os raios do sol sair da terra, alterando a composição da atmosfera mundial, e que aumenta a variabilidade climática natural observada ao longo de períodos de tempo comparáveis.6
O Painel Intergovernamental de Expertos sobre Mudanças do Clima (IPCC) serve,
desde a sua criação, em 1988, como o órgão técnico internacional responsável pela coleta e
análise de informação científica necessária para avaliar a consequências e formular as
4 SANTANDER MEJÍA, Enrique, Instituciones de Derecho Ambiental, Bogotá, D.C: ECOE Ediciones, Primera Edición, 2002 5 MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima – CQNUMC, Brasília: Versão editada e traduzida ao português brasileiro, em http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/convencao_clima.pdf 6 PAINEL INTERGOVERNAMENTAL DE EXPERTOS EM MUDANÇAS DO CLIMA – IPCC, Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Genebra, Suiça, 2007 apud TEJEIRO GUTIERREZ, Guillermo, MACIAS GOMEZ, Luis Fernando, Propuestas para el enfrentamento del Cambio Climático en Colombia, Instituto Colombiano de Derecho Ambiental – ICDA, Bogotá, D.C, Colômbia, 2010.
16
estratégias destinadas à prevenção e gestão das mudanças do clima. O IPCC tem publicado as
suas conclusões de forma contínua desde a sua criação, tendo publicado, até hoje, quatro
relatórios, com previsão de publicação do quinto em 2014. Importante salientar que no
Quarto Relatório, publicado em 2007, os peritos do IPCC concluíram, com alto grau de
certeza, que o fenômeno das mudanças climáticas, e em particular o do aquecimento global, é
um fato provado, e que esse fenômeno está associado a atividades antrópicas. Assim, o IPCC
tem manifestado veementemente que
O aquecimento do sistema climático é inequívoco, tal e como demostram os aumentos observados na média mundial da temperatura do ar e dos oceanos, o desgelo generalizado de calotas e glaciares, e o aumento da média mundial do nível do mar.7
Gráfico I: Mudanças na temperatura, no nível do mar e na cobertura de neve – Fonte: IPCC 2007
Assim, observou-se um aumento médio na temperatura superficial, desde 1850-1899
até 2001-2005, de 0,76°C. O IPCC explica ue, durante os últimos 50 anos, o aumento da
temperatura apresentou um comportamento ascendente, em que as áreas terrestres estão se
esquentando mais rapidamente do que os oceanos, e o aumento mais significativo está
ocorrendo nas latitudes mais altas.8 Esse aumento de temperatura está relacionado ao aumento
significativo e constante das emissões de gases de efeito estufa (GEE), estimadas em 70% a
7 “El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como lo demuestran los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar”, tradução nossa, PAINEL INTERGOVERNAMENTAL DE EXPERTOS EM MUDANÇAS DO CLIMA – IPCC, Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Genebra, Suiça, 2007 apud TEJEIRO GUTIERREZ, Guillermo, MACIAS GOMEZ, Luis Fernando, Propuestas para el enfrentamento del Cambio Climático en Colombia, Instituto Colombiano de Derecho Ambiental – ICDA, Bogotá, D.C, Colômbia, 2010, p.8 8Ibidem, p.9
17
mais na atmosfera quando comparadas aos valores da época pré-industrial (Gráfico II). Em
particular, o IPCC destaca que as
concentrações atmosféricas globais de CO2, metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) [alguns dos mais importantes GEE] têm aumentado significativamente como resultado das atividades humanas desde 1750. Estes valores estão muito por cima dos valores pré-industriais estabelecidos a partir de amostras de gelo, abrangendo muitos milênios.9
Conforme o Quarto Relatório do IPCC, na ausência de medidas de mitigação das
emissões antrópicas de gases efeito estufa, espera-se que a temperatura global superficial se
incremente entre 1,1°C. e 6,4°C. no fim do século 21, tomando como linha de base o período
compreendido entre 1980 e 1999.10 A propósito das medidas de mitigação, é importante frisar
que as mudanças climáticas vão causar efeitos inevitáveis associados aos longos períodos de
tempo das dinâmicas do sistema climático global. Assim, o IPCC conclui que “um aumento
[na temperatura] de mais 0,5°C. é inevitável, inclusive se as concentrações de gases efeito
estufa se estabilizarem imediatamente.”11
Gráfico II – Emissões mundiais de Gases Efeito Estufa antropogênicos. Fonte: IPCC 2007
9 “Las concentraciones atmosféricas mundiales de CO2, metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) [algunos de los GEI más importantes] han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750, y son actualmente muy superiores a los valores preindustriales, determinados a partir de núcleos de hielo que abarcan muchos milenios”, tradução nossa, PAINEL INTERGOVERNAMENTAL DE EXPERTOS EM MUDANÇAS DO CLIMA – IPCC, Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Genebra, Suiça, 2007 apud TEJEIRO GUTIERREZ, Guillermo, MACIAS GOMEZ, Luis Fernando, Propuestas para el enfrentamento del Cambio Climático en Colombia, Instituto Colombiano de Derecho Ambiental – ICDA, Bogotá, D.C, Colômbia, 2010, p. 8 10 Ibidem, p. 10 11 Ibidem, p. 11
18
O IPCC tem identificado aumentos perceptíveis da temperatura em quatro dos cinco
continentes durante os últimos 50 anos, excetuadas da análise as temperaturas do continente
Antártico (Figura III - IPCC). Como explica o IPCC no seu Quarto Relatório, embora o efeito
do aquecimento global é inseparável de eventos naturais próprios do sistema climático da
Terra, é claro que as mudanças observadas na dinâmica do clima global não decorrem
exclusivamente das dinâmicas de origem natural, principalmente pela rapidez com que foram
identificados aumentos notáveis na temperatura global.
Gráfico III – Mudanças na temperatura global e continental. Fonte: IPCC 2007
Falando especificamente dos efeitos decorrentes das mudanças nos padrões climáticos
do planeta Terra, o IPCC desenvolveu cenários de emissões de GEE possíveis (Gráfico IV -
IPCC), cuja materialização dependerá da conjunção de várias circunstâncias; existem cenários
que consideram a tendência à alta das emissões de GEE (cenário sem mudanças estruturais
nas condições atuais de emissão de GEE no mundo), e outros que consideram medidas de
mitigação envolvendo, por exemplo, mudanças da matriz energética mundial, deslocando o
uso de combustíveis fósseis para abrir caminho para alternativas mais limpas.
19
Gráfico IV – Cenários de emissões de GEE entre 2000 e 2100. Fonte: IPCC 2007
CASO
Mudanças na temperatura (ºC no período 2090-2099 em
relação a 1980-1999) (a)
Aumento no nível do mar (metros no período 2090-2099
em relação a 1980-1999)
Melhor estimado
Intervalo provável
Intervalo dos modelos excluindo as futuras mudanças no fluxo das
dinâmicas do gelo
Concentrações constantes no ano
2000 0,6 0,3 – 0,9 NA
Cenário B1 1,8 1,1 – 2,9 0,18 – 0,38
Cenário A1T 2,4 1,4 – 3,8 0,20 – 0,45
Cenário B2 2,4 1,4 – 3,8 0,20 – 0,43
Cenário A1B 2,8 1,7 – 4,4 0,21 – 0,48
Cenário A2 3,4 2,0 – 5,4 0,23 – 0,51
Cenário A1F1 4,0 2,4 – 6,4 0,26 – 0,59
Dependendo dos possíveis cenários de emissões futuras, o IPCC desenvolveu uma
tabela na qual estabeleceu as possíveis consequências nos sistemas naturais e humanos
decorrentes do aumento da temperatura (Gráfico V - IPCC). Assim, por cada grau de aumento
na temperatura, esperam-se efeitos sensíveis na dinâmica da água, na qualidade dos
ecossistemas, na dinâmica de aprovisionamento de alimentos e na saúde, dentre outros.
20
Gráfico V – Mudanças nos sistemas terrestres e humanos por cada grau de aumento na temperatura. Fonte: IPCC 2007
No que tange aos efeitos esperados sobre os ecossistemas, o IPCC indica diversas
variações, dependendo dos ecossistemas e espécies atingidas. Assim, por exemplo, variações
de 1°C já afetam os corais, enquanto uma variação considerável de temperatura (acima de
4°C) poderia desencadear extinções massivas de várias espécies, assim como mudanças
radicais nos ecossistemas terrestres. Esses efeitos serão analisados em maior detalhe quando
for analisada a relação entre mudanças climáticas e os ecossistemas.
2.2 DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE OS ECOSSISTEMAS E OS SEUS
SERVIÇOS
Os ecossistemas proveem diversos e variados serviços considerados fundamentais para
fornecer condições de bem-estar para as populações humanas. Esses bens e serviços
21
ecossistêmicos são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para atingir os
objetivos sociais e econômicos das populações, razão pela qual a sua proteção encontra-se
diretamente relacionada aos objetivos de melhoria das condições de vida das comunidades
humanas em nosso planeta.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os ecossistemas podem ser definidos
como o “complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais, microrganismos, e seu
respectivo meio, que interagem como uma unidade funcional.”12 Andrade e Romeiro ainda
explicam que
os ecossistemas são sistemas adaptativos complexos, nos quais propriedades sistêmicas macroscópicas como estrutura, relação produtividade-diversidade e padrões de fluxos de nutrientes emergem de interações entre os componentes, sendo comum a existência de efeitos de retroalimentação (“feedback”) (Levin, 1998), numa combinação de efeitos negativos e positivos responsáveis por um equilíbrio dinâmico evolutivo. Eles incluem não apenas as interações entre os organismos, mas entre a totalidade complexa dos fatores físicos que formam o que é conhecido como ambiente.13
Esses sistemas complexos, nos quais ocorrem uma série de interações entre os seus
componentes (bióticos e abióticos), fornecem vários serviços considerados essenciais para o
bem-estar humano: os serviços ecossistêmicos. A teoria sobre serviços ecossistêmicos os
categoriza em quatro grupos: (i) serviços de suporte; (ii) serviços de regulação (iii); serviços
de aprovisionamento; e (iii) serviços culturais ou imateriais.14
Tabela I – Serviços Ecossistêmicos. Fonte: Relatório AEM 2005
SERVIÇOS DE
SUPORTE
SERVIÇOS DE
REGULAÇÃO
SERVIÇOS DE
PROVISÃO
SERVIÇOS
CULTURAIS
Produção primária
Criação do solo
do clima
das doenças
dos desastres naturais
purificação da água
purificação do ar
Alimentos
Água
Lenha
Fibras
Combustíveis
Espirituais
Lazer
Educativos
Estéticos
12 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Relatório-síntese da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, versão em português, 2005, http://www.maweb.org/documents/document.446.aspx.pdf 13 ANDRADE, Daniel Caixeta , ROMEIRO Ademar Ribeiro, Serviços ecossistêmicos e sua importância para o sistema econômico e o bem-estar humano, Campinas: UNICAMP, 2009, http://www.aprendizagempsa.org.br/biblioteca/documentos-em-geral/serviços-ecossistêmicos-e-sua-importância-para-o-sistema-econômico-e 14 Sobre as categorias de serviços ecossistêmicos, vide mais adiante nesta mesma contribuição.
22
Assim, segundo a ONU, os serviços ecossistêmicos podem ser definidos como os
benefícios que o homem obtém dos ecossistemas,15 toda vez que se pressupõe que o homem
seja parte integrante dos ecossistemas e que “existe uma interação dinâmica entre ele e as
outras partes dos ecossistemas”16. Nesse sentido, a ONU explica que as mudanças na
condição humana regem, “direta e indiretamente, as mudanças nos ecossistemas, causando
alterações nas condições de bem-estar humano.”17
Importante salientar ainda que esses serviços estão intimamente relacionados ao
conhecimento tradicional e às práticas costumeiras das populações tradicionais, situação que
revela a importância cultural desses serviços para esse tipo de população.
2.3 DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE AS MUDANÇAS DO CLIMA E A
BIODIVERSIDADE: DA RELAÇÃO ENTRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS E BEM-ESTAR HUMANO
Nos últimos tempos, a preocupação sobre a relação existente entre o aquecimento
global, os serviços ecossistêmicos e a sua importância para os seres humanos motivou a
elaboração de vários relatórios técnicos pelos organismos internacionais, dentro da estratégia
global de mitigação e adaptação ao fenômeno das mudanças do clima. Nessa linha, os
organismos técnicos e científicos criados no seio da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças do Clima – CQNUMC e da Convenção sobre a Diversidade Biológica –
CDB vem desenvolvendo vários estudos sobre a matéria. Importante lembrar que ambas
convenções foram adotadas na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (Rio 92).
Nos relatórios técnicos desenvolvidos pelos organismos da CDB e CQNUMC e que
serão analisados a seguir, chega-se a conclusão de que, no contexto das mudanças climáticas,
é necessário adotar novos enfoques de política pública ambiental destinados à proteção e
conservação dos ecossistemas e dos serviços que estes fornecem, salientando o papel dos
instrumentos econômicos e, especificamente, dos sistemas de PSA como sistemas
complementares à gestão dos ecossistemas baseada na estrutura de comando e controle. Mais
à frente, descreve-se o processo histórico de colaboração entre as convenções de direito
15 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Relatório-síntese da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, versão em português, 2005, http://www.maweb.org/documents/document.446.aspx.pdf 16 Ibidem, p. 30 17 Ibidem, p. 32
23
internacional ambiental e os resultados dos seus principais relatórios técnicos sobre a relação
entre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano.
2.3.1 Contexto histórico: da formação do Grupo Especial de Expertos Técnicos (AHTEG) sobre Biodiversidade e Mudanças do Clima e do Grupo de Enlace Misto das Convenções do Rio (JLG) - período compreendido entre 2000 e 2002
O processo de colaboração entre os organismos de ambas as convenções (CQNUMC e
CDB) a fim de aprimorar o entendimento sobre a relação entre mudanças climáticas e
biodiversidade teve um dos primeiros antecedentes na Quinta Conferência das Partes da
Convenção sobre a Diversidade Biológica (COP5-CDB) realizada em Nairóbi, Quênia,
ocasião na qual a COP-CDB reconheceu, em várias das suas decisões, a relação existente
entre as mudanças do clima e a conservação e uso sustentável dos ecossistemas e da
biodiversidade.18 Confrontada com a necessidade de gerar conhecimento técnico específico
sobre a matéria, e ciente da necessidade de estabelecer um marco de cooperação entre as
diversas convenções internacionais relacionadas, a COP-CDB, na sua Decisão V/4,
parágrafos 11 e 16-20, solicitou ao seu Órgão Subsidiário de Assessoramento Técnico e
Tecnológico (SBSTTA-CDB) que definisse o impacto das mudanças climáticas sobre a
diversidade florestal e que gerasse conhecimento científico destinado a colaborar no processo
da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (CQNUMC), com o
objetivo de que as futuras ações a serem tomadas dentro do marco desta convenção
considerassem a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica.19 Esse trabalho
deveria ser desenvolvido conjuntamente com o apoio do IPCC e os demais órgãos
competentes da CQNUMC, incluindo o seu Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico
e Técnico (SBSTA-CQNUMC).
Em decorrência da Decisão V/4 da COP5-CDB, o Órgão Subsidiário de
Assessoramento Técnico e Tecnológico da Convenção sobre Diversidade Biológica
(SBSTTA-CDB), na sua sexta reunião, em março de 2001, celebrada em Montreal, Canadá,
estabeleceu, na sua Recomendação VI/7, o Grupo Especial de Expertos Técnicos (AHTEG)
sobre Biodiversidade e Mudanças do Clima, o qual tem três objetivos específicos:
18 Para mais informações, vide Decisão V/3 sobre diversidade marinha e costeira, Decisão V/4 sobre diversidade biológica florestal, Decisão V/15 sobre incentivos e Decisão V721 sobre terras áridas e subúmidas em http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-05 19 5ª CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA (COP5-CDB), Decisão V/4, Nairobi, Quênia, em http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7146
24
a) Analisar os potenciais efeitos nocivos sobre a biodiversidade das medidas que podem ser adotadas no âmbito da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e seu Protocolo de Quioto; b) Identificar os fatores que influenciam a capacidade da biodiversidade para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e contribuir para a adaptação, além dos possíveis efeitos das mudanças climáticas nessas capacidades; c) Identificar as opções para trabalho futuro a ser realizado em relação às mudanças climáticas, e que também possam contribuir para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica.20
A Recomendação VI/7 do SBSTA-CDB ainda salientou a necessidade de desenvolver
critérios, indicadores e outras ferramentas, incluindo temas de pesquisa e sistemas de
avaliação, a fim de integrar o conhecimento sobre a relação entre biodiversidade e mudanças
do clima nas decisões sobre mitigação e adaptação às mudanças do clima adotadas no seio da
institucionalidade internacional.
Com o objetivo de que o trabalho do Grupo AHTEG fosse desenvolvido de maneira
mais completa, outros órgãos foram convidados para participar deste trabalho
interinstitucional. Assim, foram convidados os aportes da Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças do Clima (CQNUMC), a Convenção sobre Espécies Migratórias, a
Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional especialmente como Habitat de
Aves Aquáticas (Ramsar, Irã, 1971), a Convenção das Nações Unidas sobre o Combate à
Desertificação, o Grupo de Assessoramento Técnico do Fundo Ambiental Global - GEF e do
Fórum das Nações Unidas sobre Florestas, além de outras organizações relevantes.
Resumindo, o AHTEG é um grupo constituído por especialistas nas áreas de biodiversidade e
mudanças climáticas dos diversos órgãos das Nações Unidas antes mencionados, bem como
por peritos de organizações não governamentais, comunidades indígenas e locais, incluindo as
Secretarias do IPCC e da UNFCCC, com o objetivo de analisar a relação existente entre as
mudanças climáticas e a biodiversidade.
Paralelamente, no seio da CQNUMC, o Órgão Científico e Tecnológico da Convenção
Quadro sobre as Mudanças do Clima (SBSTA-CQNUMC), órgão equivalente ao SBSTTA da
CDB, recomendou, no seu Relatório da Décima Quarta Reunião do SBSTA, em 2001,21 a
criação de um grupo de enlace entre as convenções, baseado nos primeiros avanços do
SBSTTA-CDB e do seu Grupo de Expertos (AHTEG)22 que foram disponibilizados à
20 ÓRGÃO SUBSIDIÁRIO DE ASSESSORAMENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (SBSTTA-CDB), Recomendação VI/7 em http://www.cbd.int/recommendation/sbstta/default.shtml?id=7038 21 ORGAO SUBSIDIARIO DE ASSESORIA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA CONVENÇAO QUADRO DAS MUDANÇAS DO CLIMA, Documento FCCC/SBSTA/2001/2, em http://unfccc.int/resource/docs/2001/sbsta/02.pdf 22 O SBSTTA-CDB recomendou acrescentar a cooperação entre as duas Convenções em diversas áreas, e recomendou ainda levar em consideração o conhecimento científico disponível sobre mudanças do clima com o
25
CQNUMC. Assim, o SBSTA-CQNUMC recomendou a formação de um grupo de enlace
entre as convenções, indicando a necessidade de integrar esforços conjuntos aos órgãos da
Convenção sobre o Combate à Desertificação (COP-CNUCD), e salientando a importância de
desenvolver documentos técnicos com a ajuda do IPCC e de outros órgãos técnicos dentro do
Sistema das Nações Unidas, com o propósito de avançar no desenvolvimento e intercâmbio
de conhecimento científico integrado sobre os aspectos mais relevantes relacionados aos
objetivos de cada uma das Convenções do Rio, assim como de avaliar futuras opções de
cooperação entre as três convenções, incluindo a possibilidade de desenvolver um plano de
ação conjunta ou uma oficina sobre o tema.23
O chamado Grupo de Enlace Misto das Convenções do Rio (JLG, na sigla em inglês)
foi formalizado em 2001. Tendo por objetivo o “intercâmbio de informações, a avaliação de
oportunidades para desenvolver atividades sinergéticas e o aumento da cooperação entre as
três Convenções”, o JLG é formado pelos oficiais dos Órgãos Subsidiários Científicos das
Convenções, pelos Secretários Executivos das Convenções e pelos membros de suas
respetivas secretarias.24 O Grupo foi chamado a desenvolver o seu trabalho de cooperação
baseado nas recomendações do SBSTA da CQNUMC em 2001, e em três decisões
posteriores adotadas no seio das Conferências das Partes (COP) de cada uma das Convenções,
especificamente a Decisão VI/20 da Sexta Conferência das Partes da Convenção da
Diversidade Biológica (COP6-CDB), a Decisão 13 da Oitava Conferência das Partes
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP8-CQNUMC) e a
Decisão 12 da Sexta Conferência das Partes da Convenção sobre o Combate à Desertificação
(COP6-CNUCD). Para os fins desta contribuição, na continuação será revisado o conteúdo
das Decisões da CQNUMC e da CDB.
A Decisão VI/20 de 2002 da Sexta Conferência das Partes da Convenção da
Diversidade Biológica (COP6-CDB) reconheceu o trabalho desenvolvido no seio da
CQNUMC, especificamente o trabalho técnico sobre mudanças climáticas desenvolvido pelo
Grupo Técnico Subsidiário de Apoio Científico e Tecnológico (SBSTA), 25 e indicou a
objetivo de avaliar a relação entre mudanças climáticas e biodiversidade, em ÓRGÃO SUBSIDIÁRIO DE ASSESSORAMENTO CIENTÍFICO E TÉCNICO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (SBSTA-CDB), Recomendação VI/7 em http://www.cbd.int/recommendation/sbstta/default.shtml?id=7038 , p. 19 23 Ibidem 24 Página web da Convenção da Diversidade Biológica http://www.cbd.int/cooperation/liaison.shtml 25 O Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Técnico da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (SBSTA) é um dos órgãos subsidiários de natureza permanente da Convenção, encarregado de fornecer o conhecimento científico e técnico necessário para o cumprimento dos fins da CQNUMC. Para mais informações, vide http://unfccc.int/bodies/body/6399.php
26
necessidade de operacionalizar o JLG a fim de facilitar a cooperação entre as convenções nos
âmbitos nacional e internacional.26 Em sentido similar, a Decisão 13 da Oitava Conferência das
Partes Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima – (Decisão 13/CP.8 de
2002) – fez um chamado para intensificar a cooperação entre as Convenções de Rio, com o
propósito de assegurar a integridade ambiental das convenções e promover as sinergias em prol
do objetivo do desenvolvimento sustentável, a fim de evitar a duplicação de esforços, e a
utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.27
A decisão também reconhece a necessidade de aumentar a cooperação entre os órgãos
técnicos das três convenções, procurando a melhor colaboração entre as secretarias da
convenção para o cumprimento do mandato do JLG mencionado no parágrafo 42 do Relatório
SBSTA da sua Décima Quarta Reunião em 2001, antes indicado. Por fim, a Decisão também
indica a necessidade de integrar a Convenção RAMSAR dentro dos esforços conjuntos
desenvolvidos no âmbito do JLG, conforme seja procedente e adequado.28
2.3.2 Dos relatórios dos Grupos AHTEG, do Relatório da AEM - 2005 e do Quarto Relatório do IPCC sobre as mudanças do Clima - 2007 – período compreendido entre 2003 e 2009
Como foi explicado anteriormente, a criação e o posterior trabalho técnico realizado
pelos Grupos AHTEG e pelo JLG resultam fundamentais para se conhecer o sustento
científico desenvolvido pelo sistema internacional sobre a relação que existe entre as
mudanças do clima e a gestão sustentável dos ecossistemas. Nesse sentido, os relatórios
técnicos dos Grupos AHTEG (três relatórios no total) são particularmente relevantes para esta
contribuição, uma vez que suportam o processo de tomada de decisões internacionais sobre a
mitigação e adaptação às mudanças do clima e, em particular, os processos relativos à gestão
dos ecossistemas nesse contexto. Além dos relatórios dos Grupos AHTEG, outros dois
documentos elaborados nesse período são considerados fundamentais para contextualizar o
aporte científico em matéria de mudanças climáticas e biodiversidade: o Relatório da
Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), publicado em 2005, e o Quarto Relatório do
26 “Welcomes further the establishment of the joint liaison group among the United Nations Framework Convention on Climate Change, the United Nations Convention to Combat Desertification and the Convention on Biological Diversity and urges the joint liaison group to become fully operational in order to facilitate cooperation between the conventions both at national and international levels”, em CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Decisão VI/20, em http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7194 27 SECRETARIA DA CONVENÇAO QUADRO DAS NAÇOES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA - CQNUMC, Decisão 13/CP.8 de 2002 em http://unfccc.int/resource/docs/spanish/cop8/cp807a01s.pdf#page=35 28 Ibidem
27
IPCC sobre as mudanças do clima, publicado em 2007. Na continuação, são analisados os
aspectos mais importantes desses relatórios.
2.3.2.1 O Primeiro Relatório do Primeiro Grupo AHTEG – “Interação entre Mudanças
Climáticas e Biodiversidade” – 2003
Tal como expressado anteriormente, o Primeiro AHTEG se reuniu com o fim de
avaliar a relação entre as mudanças climáticas e a biodiversidade. O Grupo reuniu-se três
vezes durante o seu primeiro período: a primeira em Helsinque, em janeiro de 2002, depois
em Montreal, em setembro de 2002, e, finalmente, novamente em Helsinque, em maio de
2003. Consoante relatam os documentos da Convenção sobre a Biodiversidade – CDB29, o
grupo revisou a literatura relevante, incluindo o Terceiro Relatório do IPCC, publicado em
200130, o documento técnico do IPCC sobre mudanças climáticas e biodiversidade, publicado
em 2002, e o relatório especial sobre o uso da terra, mudanças no uso do solo e silvicultura
(LULUCF) do SBSTTA- CQNUMC, publicado em 2003.
O resultado dessa avaliação, cujo relatório foi publicado em 2003 (Relatório Técnico
sobre a Interação entre Mudanças Climáticas e Biodiversidade31), indicava que já nas
mudanças climáticas naturais ocorridas no passado, especificamente aquelas decorrentes das
flutuações nas concentrações de gases efeito estufa na atmosfera, no regime de precipitações e
as temperaturas ocorridas durante o pleistoceno (últimos 1.8 milhões de anos), foram afetadas
as dinâmicas da biota atual, favorecendo o deslocamento das espécies, com uma marcada
reorganização das comunidades biológicas, as paisagens e os biomas, e que essas alterações
ocorreram sem interferência antrópica nenhuma, em ecossistemas que não estavam tão
fragmentados quanto os atuais32. Nesse sentido, o Relatório indicou que havendo um novo
aumento das temperaturas para além do patamar alcançado durante o pleistoceno este terá a
capacidade de impactar os ecossistemas e a sua biodiversidade, afetando, consequentemente,
os serviços ecossistêmicos que fornecem condições de bem-estar para as populações
29 ÓRGÃO SUBSIDIÁRIO DE ASSESSORAMENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (SBSTTA-CDB, Documento UNEP/CBD/SBSTTA/9/11, em www.cbd.org 30http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#.UZQ3RpVEwhQ 31 SECRETARIA DO CONVÊNIO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Interlinkages between biological diversity and climate change. Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto protocol. Montreal, SCBD, 154p. (CBD Technical Series no. 10), 2003. 32 Ibidem, p. 21
28
humanas, e que tais mudanças deveriam ser consideradas em conjunto com as pressões
antrópicas atuais sobre os ecossistemas e seus serviços33.
Para os fins do presente artigo, resulta particularmente relevante destacar algumas das
conclusões deste relatório no que tange aos serviços ecossistêmicos. Nessa linha, o Relatório
Técnico sobre a Interação entre Mudanças Climáticas e Biodiversidade adotou a
categorização dos serviços ecossistêmicos feita pelos documentos prévios a AEM,
descrevendo-os como:
os serviços de suporte [são aqueles] que mantêm as condições para a vida na Terra, incluindo a formação do solo e retenção, ciclagem de nutrientes, produção primária, [os] serviços de regulação, que incluem regulação da qualidade do ar, clima, inundações, a erosão do solo, purificação de água, tratamento de resíduos, polinização e controle biológico de pragas e doenças do homem, dos animais e da agricultura; [os] serviços de provisão [são aqueles] que incluem o fornecimento de comida, lenha, fibra, bioquímicos, farmacêuticos, medicamentos naturais, recursos genéticos e de água doce, e os serviços culturais [são aqueles] que proporcionam benefícios não materiais, incluindo a diversidade cultural e a identidade, os valores espirituais e religiosos, sistemas de conhecimento, valores educativos, inspiração, valores estéticos, as relações sociais, o sentido de lugar, o patrimônio cultural, recreação e esportes, comunidade e valores simbólicos.34
Ainda, o Relatório indica que os bens e serviços providos pelos ecossistemas têm
valor econômico significativo, mesmo que alguns destes não são sejam negociáveis no
mercado e não tenham um preço. Neste sentido, o relatório indica que os bens e serviços
ambientais em grande parte não são devidamente reconhecidos e valorados, desconhecendo o
papel fundamental que desempenham na satisfação das necessidades da população em geral.
Em consequência, o sistema deve fomentar a valoração positiva destes bens e serviços, com a
finalidade de conscientizar a sociedade sobre as consequências decorrentes da sua eventual
perda.
Por fim, o Relatório também salienta a necessidade de se proteger os ecossistemas e os
seus serviços, considerando a sua capacidade de resiliência aos impactos das mudanças do
clima. Neste sentido, o Relatório indica que a “conservação de genótipos, espécies e tipos
funcionais, juntamente com a redução da perda de hábitat, fragmentação e degradação pode
promover a persistência a longo prazo dos ecossistemas e da prestação de bens e serviços 33 SECRETARIA DO CONVÊNIO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Interlinkages between biological diversity and climate change. Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto protocol. Montreal, SCBD, 154p. (CBD Technical Series no. 10), 2003. p. 22 34 “Supporting Services (services that maintain the conditions for life on earth); Regulating Services (benefits obtained from regulation of ecosystem processes); Provisioning Services (products obtained from ecosystems); Cultural Services (non-material benefits obtained from ecosystems)”, traduçao nossa, Ibidem, p. 20
29
ecossistêmicos”, ressaltando o potencial da gestão sustentável dos ecossistemas como
ferramenta para o cumprimento dos objetivos de ambas as convenções.35 Este ponto será
novamente analisado quando avaliarmos o papel das estratégias de incentivo à preservação e
conservação associadas aos sistemas de PSA.
2.3.2.2 O Relatório da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) – 2005
O processo histórico que antecedeu a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM)
pode ser rastreado até a década de 1990, quando um painel de 40 cientistas publicou um
documento chamado “Protegendo o nosso Planeta, Segurando o nosso Futuro: Vínculos entre
os Aspectos Ambientais Globais e as Necessidades Humanas”36, publicado pelo Banco
Mundial, a NASA e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O
documento, primeiro da sua classe, visou a avaliar a relação entre os principais problemas
ambientais globais e a humanidade como um todo. Nas conclusões desse estudo preliminar,
foi recomendado desenvolver “um processo de avaliação mais integrada sobre as questões
científicas selecionadas, para destacar as ligações que existem entre o clima, a biodiversidade,
a desertificação e as florestas.”37 Assim, no ano 2000, o Secretário Geral das Nações Unidas
solicitou a elaboração de um relatório com o objetivo de avaliar as consequências das
mudanças nos ecossistemas, indicando as bases científicas para a tomada das ações
necessárias para melhorar a sua conservação e uso sustentável.
O Relatório da AEM, publicado em 2005, é um dos documentos mais relevantes sobre
biodiversidade e serviços ecossistêmicos publicados no seio das Nações Unidas. Referência
imprescindível em qualquer estudo sobre a matéria, o Relatório da AEM indicou que,
Nos últimos 50 anos, o homem modificou os ecossistemas mais rápida e extensivamente do que em qualquer intervalo de tempo equivalente na história da humanidade, na maioria das vezes, para suprir rapidamente a crescente demanda por alimentos, água potável, madeira, fibras e combustível. Isso acarretou uma perda substancial e, em grau irreversível, para a diversidade da vida no planeta.38
35 O SECRETARIA DO CONVÊNIO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Interlinkages between biological diversity and climate change. Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto protocol. Montreal, SCBD, 154p. (CBD Technical Series no. 10), 2003. 36 Para mais informações, vide http://siteresources.worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/Resources/ProtectingOurPlanet.pdf 37 http://www.unep.org/maweb/en/History.aspx 38 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Relatório-sínteses da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, versão em português, 2005, http://www.maweb.org/documents/document.446.aspx.pdf
30
A ONU explicou que aquelas mudanças
contribuíram com ganhos finais substanciais para o bem-estar humano e o desenvolvimento econômico, [...] foram obtidas a um custo crescente, que incluiu a degradação de muitos serviços dos ecossistemas, maior risco de mudanças não lineares, e exacerbando a pobreza para alguns grupos da população”39.
Para nossa contribuição, é imperativo indicar que o Relatório AEM esclareceu a
relação existente entre o aprovisionamento dos serviços ecossistêmicos e o bem-estar
humano. Nesse contexto, as Nações Unidas entendem que o bem-estar humano está
constituído de múltiplos elementos relacionados ao aprovisionamento de serviços
ecossistêmicos, incluindo:
• “Materiais básicos para uma vida salutar, que incluem meio de sustento seguro e adequado, alimentos suficientes a qualquer tempo, moradia, vestuário, e acesso a bens; • Saúde, o que inclui a ausência de doenças e um ambiente físico salutar, incluindo ar puro e acesso a água limpa; • Boas relações sociais, incluindo coesão social, respeito mútuo, capacidade de ajudar o semelhante e prover as crianças do necessário; • Segurança, que inclui acesso seguro aos recursos naturais e a outros recursos, segurança pessoal e proteção contra desastres naturais e desastres causados pelo homem; • Liberdade de escolha e de ação, que inclui a oportunidade de se alcançar o que se almeja.”40
O Relatório da AEM elaborou um quadro de relações (Gráfico VI) no qual se
estabelece uma categorização dos serviços ecossistêmicos e a sua relação com vários
elementos constitutivos do bem-estar das populações humanas antes sinalizados. Dependendo
do ecossistema e do subsistema social (segurança, saúde, liberdade, etc.), existem diversas
intensidades de relação entre os serviços ecossistêmicos e as populações, relações que
deverão levar em conta ainda as interações dos fatores socioeconômicos particulares de cada
região.
39 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Relatório-sínteses da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, versão em português, 2005, http://www.maweb.org/documents/document.446.aspx.pdf p. 18 40Ibidem, p. 10
31
Gráfico VI – Relação entre serviços ecossistêmicos e bem-estar humano – Fonte AEM
200541
Assim, o Relatório da AEM indicou três grandes problemas associados à gestão dos
nossos ecossistemas:
1. Cerca de 60% (15 entre 24) dos serviços dos ecossistemas examinados durante a Avaliação Ecossistêmica do Milênio têm sido degradados ou utilizados de forma não sustentável. Neste sentido, embora seja difícil mensurar o custo da perda destes bens e serviços, o relatório indica que esses custos são consideráveis e crescentes. 2. As mudanças em curso nos ecossistemas podem acarretar mudanças negativas para o bem-estar humano. 3. Os efeitos negativos da degradação dos serviços dos ecossistemas afetam mais sensivelmente as populações menos favorecidas.42
Quando confrontados com a relação existente entre biodiversidade e mudanças do
clima, os cientistas que elaboraram o Relatório da Avaliação Ecossistêmica do Milênio
indicaram que
Recentes alterações observadas no clima, especialmente temperaturas regionais mais altas, já produziram fortes impactos na biodiversidade e nos ecossistemas, por exemplo, acarretaram mudanças na distribuição das espécies, no volume das populações, na sazonalidade dos eventos reprodutivos e migratórios, e ocasionaram
41 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Relatório-sínteses da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, versão em português, 2005, http://www.maweb.org/documents/document.446.aspx.pdf, p. 14 42 Ibidem p. 22
32
aumento na frequência de surtos epidêmicos e doenças.43
Assim, baseados nos cenários elaborados pelo IPCC, os cientistas da AEM indicaram
que “até o final do século, as mudanças climáticas e seus impactos poderão constituir os
principais vetores diretos de perda da biodiversidade e de mudanças nos serviços dos
ecossistemas em âmbito global.” 44 Num cenário de mudanças climáticas, a questão
fundamental está em conciliar uma crescente demanda por bens e serviços ambientais da
também crescente população mundial com a necessidade de conservar, preservar e proteger
esses bens e serviços, assegurando o seu uso sustentável e igualitário para alcançarmos o
desejado bem-estar das gerações presentes e futuras. Assim, o Relatório da AEM elabora uma
série de recomendações muito relevantes para esta contribuição, uma vez que estabelecem um
marco de possíveis ações a serem tomadas para conciliar os dois objetivos mencionados.
Assim, após avaliar 75 diferentes ações, o Relatório indica a necessidade de adotar mudanças
significativas nas “políticas, instituições e práticas”45, especificamente voltadas a
combater os efeitos negativos ou intensificar os efeitos positivos de, pelo menos, um dos cinco vetores indiretos de mudanças: populacionais, mudanças na atividade econômica, fatores sociopolíticos, fatores culturais e mudanças tecnológicas.46
Especialmente relevantes são as mudanças nas instituições e sistemas de governança,
assim como as ações relativas à economia e aos incentivos. Sobre as mudanças dos sistemas
de governança, o Relatório da AEM salienta a necessidade de adotar mudanças na estrutura
institucional e ambiental, indicando a possibilidade de mudar ou, inclusive, de criar novas
instituições destinadas a proteger, conservar, recuperar e manter os ecossistemas e seus
serviços, fomentando a transparência e a transversalidade de ações entre as diversas
instituições, ora existentes, ora a serem formadas no futuro.
Por outra parte, o Relatório da AEM indica igualmente a necessidade de fazer uso de
“intervenções econômicas e financeiras” voltadas para a regulação do uso dos ecossistemas e
dos seus serviços. Nesse aspecto, o Relatório destaca várias opções, entre as quais se
destacam a eliminação de incentivos ao uso excessivo de recursos naturais e o uso intensivo
43 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Relatório-sínteses da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, versão em português, 2005, http://www.maweb.org/documents/document.446.aspx.pdf, p. 31 44 Ibidem, p. 34 45 “Três dos quatro cenários da AEM mostram que mudanças significativas nas políticas, instituições e práticas podem mitigar muitas das consequências negativas das pressões crescentes sobre os ecossistemas, embora as mudanças sejam grandes e não estejam ocorrendo atualmente”, em Ibidem, p. 31 46 Ibidem, p. 34
33
de mecanismos econômicos, tais como taxas, criação de novos mercados e os Sistemas de
Pagamento por Serviços Ambientais.
2.3.2.3 O Segundo Relatório do Primeiro Grupo AHTEG - “Orientações para Promover a
Sinergia entre as Atividades dirigidas à Diversidade Biológica, à Desertificação, à
Degradação do Solo e às Mudanças do Clima” – 2006
Tomando como base os resultados do 1o Relatório do primeiro AHTEG, o SBSTTA-
CDB aconselhou na sua Recomendação X/13 47 uma segunda pesquisa complementar,
especificamente direcionada à biodiversidade e às labores de adaptação. Assim, o “Relatório
sobre as Orientações para Promover a Sinergia entre as Atividades dirigidas à Diversidade
Biológica, à Desertificação, à Degradação do Solo e às Mudanças do Clima” foi publicado no
ano 2006, pela Secretaria da Convenção da Diversidade Biológica48, levando em consideração
os avanços do Relatório sobre a Avaliação Ecossistêmica do Milênio. O 2o Relatório do
Primeiro AHTEG tinha dois objetivos fundamentais: (i) realizar uma avaliação complementar
sobre a integração de considerações na implementação da biodiversidade nas atividades de
adaptação às mudanças climáticas em nível local, subnacional, nacional, sub-regional,
regional e internacional; (ii) aconselhar ou orientar sobre o planejamento e/ou implementação
de atividades relacionadas à adaptação às mudanças do clima, interconectando as mudanças
climáticas, a conservação da biodiversidade, o uso sustentável da biodiversidade, a
degradação dos solos e o fenômeno da desertificação nos níveis local, nacional, regional e
internacional49
Voltado às atividades de adaptação, e tomando por base os efeitos inevitáveis das
mudanças do clima50, o Relatório se concentrou em dois tipos diferentes de adaptação: (i)
atividades de adaptação específicas da diversidade biológica, destinadas principalmente a
minimizar a perda das características da biodiversidade e dos ecossistemas (ii) atividades de
adaptação setoriais, principalmente visando a reduzir os impactos negativos sobre um setor
individualmente considerado. Tais atividades podem-se concentrar na adaptação autônoma
dos ecossistemas, esta entendida como a capacidade natural dos ecossistemas para se 47 ÓRGÃO SUBSIDIÁRIO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Recomendação X/13, em https://www.cbd.int/recommendation/sbstta/default.shtml?id=10695 48 SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Orientaciones para promover la sinergia entre las actividades dirigidas a la diversidad biológica, la desertificación, la degradación de la tierra y el cambio climático, Montreal: Caderno Técnico CDB No 25, 2006 49 Ibidem, p. 3 50 Ibidem, p 4
34
adaptarem (intimamente ligado ao conceito de resiliência dos sistemas naturais), ou na
adaptação planejada dos ecossistemas, isto é, as atividades de adaptação propiciadas pelos
seres humanos.51
Consoante mencionado anteriormente, a fim de preservar um ecossistema e os seus
serviços, faz-se necessário salvaguardar a sua integridade. Em outras palavras, um
ecossistema funcional tem maior capacidade de se adaptar às mudanças nele introduzidas.
Assim, o relatório explica que, embora alguns ecossistemas tenham uma alta capacidade de
resiliência, e presumivelmente, de adaptação às mudanças do clima, faz-se necessário adotar
enfoques de adaptação planejada de ecossistemas, nas esferas locais, regionais e global, com
vistas a atenuar os efeitos deletérios associados à fragmentação espacial, à perda da
biodiversidade e às funções de ecossistemas submetidos à pressão52. Tais ações de adaptação
planejadas visam a, justamente, melhorar e preservar a capacidade natural de recuperação dos
ecossistemas.
A adaptação planejada dos ecossistemas envolve diversos tipos de atividades, como
por exemplo, a gestão dos recursos hídricos, as técnicas sustentáveis florestais e
agroflorestais, o desenvolvimento de infraestrutura, dentre outras53. Talvez a mensagem mais
importante do relatório neste aspecto resida na descrição das três caraterísticas básicas das
estratégias de adaptação planejada: manter um espaço, estrutura e condições adequadas e
apropriadas para que os ecossistemas, espécies e indivíduos possam responder e se
adaptarem; limitar as tensões que podem amplificar os impactos das mudanças climáticas,
especificamente aquelas produzidas pelas espécies invasoras, a poluição e a sobre-exploração
dos solos e desenvolver sistemas de monitoramento e controle permanentes à medida em que
as atividades sejam desenvolvidas54.
2.3.2.4 O Quarto Relatório do IPCC sobre Mudanças do Clima – 2007
Quando confrontados com os efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade,
os cientistas do IPCC confirmaram e reforçaram os achados dos relatórios antes descritos
indicando que, segundo a evidência científica disponível na época da publicação, as
51 SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Orientaciones para promover la sinergia entre las actividades dirigidas a la diversidad biológica, la desertificación, la degradación de la tierra y el cambio climático, Montreal: Caderno Técnico CDB No 25, 2006., p. 6 52 Ibidem 53 Ibidem, p. 7 54 Ibidem p. 7
35
mudanças do clima já estavam afetando, e poderiam afetar ainda mais, a quantidade e a
qualidade dos ecossistemas e seus serviços. Nesse sentido, o Quarto Relatório do IPCC,
publicado em 2007, afirmou que
a evidência decorrente de observações em todos os continentes e na maioria dos oceanos indica que muitos dos sistemas naturais estão sendo afetados por mudanças climáticas regionais, em particular pelo aumento das temperaturas.55
Segundo o IPCC, na atualidade a degradação ou perda dos ecossistemas constitui-se
numa das principais fontes de emissão de gases efeito estufa (a segunda fonte em magnitude e
importância, após a queima de combustíveis fósseis), o que, por sua vez, afeta a capacidade
dos sistemas naturais de sequestrar e armazenar o carbono. Nesse sentido, no seu Quarto
Relatório o IPCC indicou que aproximadamente 17,3% do total das emissões de carbono
decorrem do desmatamento e da degradação da biomassa associada às mudanças do uso do
solo.56 Além disso, o IPCC espera que os ecossistemas virem fontes de carbono se as
temperaturas aumentarem além de 2,5°C, momento em que pelo menos 15% do total dos
ecossistemas globais estariam sofrendo por sua degradação.57
Por outra parte, a adaptação dos ecossistemas também preocupa os cientistas do IPCC.
Nessa linha de abordagem, o Quarto Relatório do IPCC indicou que as mudanças associadas
ao aquecimento global poderiam afetar a capacidade de resiliência de muitos ecossistemas, a
qual pode ser excedida durante este século ainda como consequência da combinação dos
efeitos associados às mudanças climáticas (enchentes, secas, fogos, acidificação dos oceanos,
etc.) e de outros elementos que propiciam a mudança global (mudanças nos usos do solo,
poluição, fragmentação dos sistemas naturais e sobre-exploração dos recursos naturais).
Explica o IPCC que aproximadamente 20% a 30% das espécies animais e vegetais estudadas
verão aumentar o seu risco de extinção, caso as temperaturas aumentem entre 1,5°C e 2,5°C, e
se as temperaturas aumentarem além deste patamar, espera-se a perda de 40% das espécies,
além de uma mudança sensível na estrutura dos ecossistemas e de suas funções, com efeitos
predominantemente negativos para a biodiversidade, os bens ecossistêmicos e o
aprovisionamento de água e de alimentos.58
55 PAINEL INTERGOVERNAMENTAL DE EXPERTOS EM MUDANÇAS DO CLIMA – IPCC, Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Genebra, Suiça, 2007, em http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf 56 Ibidem, p. 48 57 Ibidem, p. 49 58 Ibidem
36
2.3.2.5 O Relatório do Segundo Grupo AHTEG - “Conectando a Biodiversidade com a
Adaptação e a Mitigação das Mudanças Climáticas” – 2009
O último dos documentos avaliados nesta contribuição é aquele decorrente dos
trabalhos do Segundo Grupo Especial de Expertos Técnicos (AHTEG) sobre Biodiversidade e
Mudanças do Clima, publicado em 2009. Este Grupo foi criado em decorrência da Decisão
IX/16 adotada na 9a Reunião da COP-CDB, ocorrida em Berlim, em 2008 59 , a qual
recomendou a criação de um Segundo Grupo de Expertos em Mudanças Climáticas e
Biodiversidade (Segundo AHTEG), que deveria trabalhar a partir do conhecimento científico
já reunido pelo Primeiro AHTEG, o 3o e 4o Relatórios do IPCC e pelo Relatório da Avaliação
Ecossistêmica do Milênio – AEM).
O Segundo AHTEG se reuniu em várias oportunidades na cidade de Londres, entre
2008 e 2009, com o objetivo de desenvolver ferramentas de avaliação e assessoramento
científico e técnico sobre a integração da conservação e uso sustentável da biodiversidade nas
estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas em diversas áreas60. Assim,
59 9ª CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Decisão IX/16, Berlim, Alemanha, em http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=11659 60 “a) A identificação de ferramentas e metodologias relevantes e exemplos de melhores práticas para avaliar os impactos sobre a biodiversidade e vulnerabilidade, como resultado das alterações climáticas; b) O realce de estudos de caso e identificar metodologias para analisar o valor da biodiversidade no apoio à adaptação nas comunidades e setores mais vulneráveis às alterações climáticas; c) Determinação de estudos de caso e os princípios gerais para orientar as atividades locais e regionais destinadas a reduzir os riscos de valores de biodiversidade associadas às mudanças climáticas; d) A determinação dos benefícios e impactos potenciais sobre as atividades de adaptação da biodiversidade, especialmente em regiões que foram identificados como particularmente vulneráveis no âmbito do programa de trabalho de Nairobi (países em desenvolvimento, particularmente os menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento); e) Identificar formas e meios para integrar a abordagem do ecossistema em termos de impacto e avaliação de vulnerabilidades e estratégias de adaptação às alterações climáticas; f) Identificação de medidas que permitam a restauração do ecossistema decorrentes de impactos adversos das alterações climáticas que podem ser considerados efetivamente em estratégias de adaptação em termos de impacto, vulnerabilidade e mudanças climáticas; g) analisar o uso social, cultural e econômico dos serviços dos ecossistemas para a adaptação à mudança climática, e para a manutenção dos serviços dos ecossistemas, reduzindo os impactos adversos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade; h) As formas propostas e meios para melhorar a integração dos conhecimentos tradicionais e locais relacionados com a biodiversidade dentro de avaliações de impacto e vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas, em determinadas comunidades vulneráveis; i) Identificar as oportunidades que têm o potencial de oferecer vários benefícios para o sequestro de carbono, a conservação da diversidade biológica e o uso sustentável de uma variedade de ecossistemas, incluindo turfeiras, tundras e pastagens; j) Identificar potenciais oportunidades e impactos negativos sobre a biodiversidade, conservação e uso sustentável, bem como a subsistência das comunidades indígenas e locais, o que pode resultar na redução de emissões por desmatamento e degradação florestal; k) Identificar as opções para garantir que possíveis ações para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal não são contrários aos objetivos da CDB, mas sim apoiam o uso da diversidade biológica, conservação e uso sustentável; l) Identificar formas em que os componentes da biodiversidade podem reduzir os riscos e danos associados à mudança climática; m) Identificar formas de incentivar a implementação de medidas de adaptação que promovam a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica”, em SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc
37
pode-se afirmar que o Relatório do Segundo AHTEG, intitulado de “Conectando a
Biodiversidade com a Adaptação e a Mitigação das Mudanças Climáticas”61, é mais do que
uma simples compilação das descobertas científicas ocorridas até então e resumidas no
presente trabalho, na medida em que este relatório vai além, estabelecendo o marco de ações
específicas direcionadas à gestão dos ecossistemas como ferramenta de mitigação e adaptação
às mudanças do clima.
Referindo-se especificamente aos efeitos das mudanças climáticas sobre a
biodiversidade que já haviam sido constatados, o Relatório do Segundo AHTEG afirmou que
as mudanças climáticas antropogênicas já estão tendo impactos observáveis sobre a
biodiversidade e os ecossistemas62, e que as descobertas do Quarto Relatório do IPCC têm
sido reforçadas nos últimos tempos através da arrecadação de um número maior de
evidências, incluindo evidências decorrentes de observações, modelos e experimentos63, o que
faz com que seja possível afirmar que existem novos indícios que embasam e complementam
as conclusões anteriores sobre o tema 64 . Nesse sentido, constataram-se mudanças na
distribuição geográfica das espécies e na ocorrência dos eventos naturais (fenologia); a
ruptura de certas relações bióticas, tais como os ciclos de maior demanda de recursos por
parte das espécies e a disponibilidade desses recursos no seu ecossistema; mudanças na
produtividade associadas à fertilização do CO2 e à deposição do nitrogênio; e mudanças
estruturais e funcionais que, por sua vez, têm consequências na abundância e na composição
das espécies e serviços ecossistêmicos, e que estão afetando as práticas tradicionais de várias
comunidades humanas no mundo.65 Baseada na revisão exaustiva de literatura científica sobre
Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, em http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf 61 Ibidem, p. 8 62 Ibidem, p. 18 63 Sobre as fontes do conhecimento científico disponível sobre os impactos das mudanças do clima na biodiversidade, a Secretaria da Convenção sobre a Diversidade Biológica (COP-CDB) explica que “The evidence for the impacts on biodiversity comes from three principal sources. First, from direct observation of changes in components of biodiversity in nature (either recently or in the distant past) that can be clearly related to changes in climatic variables. Examples include observed phenological changes in bird arrival times and changes in distribution (Parmasan and Yohe 2003). Second, experimental studies using manipulations to elucidate responses to climate change. For example, examining the effect of addition of CO2 on plant communities (Morgan et al. 2006; Bloor et al. 2008), or increases of temperature on plant phenology (Hovenden et al. 2008). Finally, and most widely, from modelling studies where our current under- standing of the requirements and constraints on the distributions of species and ecosystems are combined with modelled changes in climatic variables to project the impacts of climate change and predict future distributions and changes in populations”, em CHENERY, A.et. al, Review of the Literature on the Links between Biodiversity and Climate Change: Impacts, Adaptation and Mitigation, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical Series No. 42, 124 pages. 64 Ibidem 65 Para mais informações, vide SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc
38
o tema, o Primeiro Relatório do Segundo AHTEG conclui que “os ecossistemas estão
começando a responder, em termos de sua distribuição, estrutura, composição e
funcionalidades, às mudanças de temperatura, precipitação e níveis de CO2 crescentes que
estão ocorrendo na atualidade.”66
O Relatório ainda complementa as conclusões do IPCC, indicando que as futuras
mudanças do clima terão impactos diretos significativos na biodiversidade, tais como
mudanças locacionais (especificamente, deslocamentos dos ecossistemas em direção aos
polos e a alturas maiores), fragmentação e contração dos ecossistemas, o que, por sua vez,
pode afetar sensivelmente as espécies com habilidades de dispersão limitadas, aumentando o
seu risco de extinção (por exemplo, aquelas espécies fortemente ligadas ao seu meio
ambiente, tais como as polares ou alpinas, ou aquelas restringidas aos ecossistemas
ribeirinhos ou de água doce).67 Além disso, o Relatório confirma as projeções do IPCC no
sentido de indicar que a rápida degradação dos ecossistemas constitui-se numa fonte muito
relevante de gases efeito estufa, reduzindo a capacidade dos ecossistemas de armazenar
carbono.68 Assim, a proteção dos estoques de carbono na biosfera, junto com a recuperação de
áreas degradadas e ainda o florestamento, são consideradas atividades prioritárias de
mitigação.
Nesse sentido, é muito importante mencionar que o aumento das concentrações de
CO2 pode continuar afetando os sistemas biológicos, já que as concentrações de CO2 na
atmosfera afetam a estrutura química e física básica do meio ambiente, incidindo no regime
Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, em http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf, p. 18, e CHENERY, A.,et al. Review of the Literature on the Links between Biodiversity and Climate Change: Impacts, Adaptation and Mitigation. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical Series No. 42, 124 páginas. 66 Ibidem, p. 10 67 Ibidem p. 64 68 “The widespread and accelerating degradation of ecosystems has been and remains a significant source of greenhouse gas emissions, and is reducing the potential of ecosystems to sequester carbon. Although the largest share of CO2 emissions are as the result of the combustion of fossil fuels, in 2005 about 18% of annual global greenhouse gas emissions were attributable to deforestation and other land use change and an additional 5.1-6.1 Gt CO2 eq., or 10-12% of global emissions, stemmed from agricultural land management practices (mostly through release of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4)), although there is still uncertainty around the range of estimates. Degradation of natural grasslands, for example, can be a large source of carbon loss since cultivated soils generally contain 50-70% less carbon than those in natural ecosystems. The continuing rapid loss and degradation of northern, temperate and tropical peatlands is also a major source of greenhouse gas emissions, with an estimated 3 Gt CO2 eq. (or 10% of global emissions) released each year by the drainage and conversion of peatlands to agriculture or forestry, and peat fires”, em Ibidem, p. 70
39
de temperaturas, precipitações e acidez dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, afetando,
por sua vez, a biota destes locais.69
Segundo o Relatório, espera-se que, além dos efeitos direitos antes sinalizados, a
biodiversidade também seja afetada pelos efeitos indiretos decorrentes da afetação da
interação entre as espécies. A COP-CDB explica que as respostas individuais das espécies
para encarar as mudanças do clima podem desencadear novas interações entre espécies e,
inclusive, a geração de novos ecossistemas que não existem na atualidade.70 Esse fenômeno
tem o potencial de afetar as comunidades através da afetação das espécies e dos ecossistemas,
levando a respostas do sistema natural não lineares que ainda esperam maiores estudos a fim
de entender melhor suas consequências.71
O relatório identifica ainda mais dois efeitos esperados no futuro: impactos de
natureza cumulativa decorrentes da interação das mudanças climáticas com outras pressões
sobre os ecossistemas, e um efeito relacional associado aos ciclos naturais da ocorrência do
fogo. No que diz respeito ao primeiro destes efeitos, a COP-CDB ensina que as mudanças
climáticas vão continuar interagindo com outros vetores de pressão sobre os ecossistemas, em
particular as mudanças no uso do solo. Nesse sentido, é importante salientar que as mudanças
do uso do solo constituem-se na principal pressão sobre os ecossistemas na atualidade, e que a
ação conjunta e cumulativa desses dois tipos de pressão sobre os ecossistemas poderia afetar
ainda mais os ecossistemas e a biodiversidade.72 Além disso, as mudanças do clima têm o
potencial de promover o estabelecimento de espécies invasoras e de afetar o ciclo natural do
fogo, alterando as relações ecossistêmicas, tais como a distribuição dos habitats, os fluxos de
carbono e nutrientes e a retenção d’água em ecossistemas nos quais o fogo desempenha
funções específicas.73
Em que pesem os avanços do conhecimento científico, a COP-CDB reconhece que
faltam ainda mais estudos que determinem os impactos e consequências das mudanças do
clima na biodiversidade em áreas específicas. Nesse sentido, explica a COP-CDB que os
estudos experimentais têm sido extremamente úteis para determinar os impactos das
mudanças climáticas na composição, estrutura e funções dos ecossistemas, mas falta ainda
69 SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, p. 58 70 Ibidem, p. 18 71 Ibidem, p.18 72 Ibidem, p 19 73 Ibidem, p. 20
40
mais tempo para avaliar as respostas destes experimentos, limitados pelos seus altos custos.
Além disso, as mudanças nos níveis de gases efeito estufa estão acontecendo em períodos de
tempo que são difíceis de simular nos estudos experimentais.74 Faltam ainda estudos mais
aprimorados sobre os efeitos das mudanças do clima na diversidade genética e nos
ecossistemas de água doce, onde estudos tem começado a indicar esses impactos. Em igual
sentido, mais estudos são necessários para determinar a migração das espécies e sobre as
interações decorrentes desse fenômeno.75
Por fim, o Relatório também lembra que as populações mais pobres poderão ser
afetadas desproporcionalmente pela perda dos ecossistemas e dos seus serviços, incluindo as
populações tradicionais e as comunidades indígenas.76 Outras comunidades gestoras de
ecossistemas, tais como os agricultores, também poderiam ser sensivelmente afetadas pelos
impactos das mudanças climáticas nos sistemas agroprodutivos, principalmente como
consequência das mudanças no regime de precipitações, condições físico-químicas dos solos,
disponibilidade de recursos hídricos, mudanças dos vetores das doenças e mudanças das
temperaturas.77 Por essas razões o Primeiro Relatório do Segundo AHTEG identificou uma
forte relação entre segurança alimentar e econômica das populações e a manutenção dos
ecossistemas e dos serviços associados a estes, o que faz com que seja possível vincular a
redução da qualidade e da quantidade dos ecossistemas com a redução dos benefícios que a
humanidade obtém dos serviços que os ecossistemas fornecem.78
O Relatório explica que os ecossistemas provêm serviços ecossistêmicos muito
relevantes para as ações de mitigação e de adaptação às mudanças do clima, destacando-se os
74 SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, p. 58 75 Ibidem, p. 20 76 Ibidem, p. 21 77 Segundo a FAO, os agricultores recebem a maior parte dos seus ingressos dos alimentos e fibras que produzem. No entanto, ao produzir esses bens, eles podem gerar outro tipo de consequências, tanto positivas quanto negativas, sobre os serviços ecossistêmicos. Assim, a FAO reconhece que, na medida em que a demanda por alimentos e fibras aumenta (fundamentalmente pelo aumento da população e a integração mundial), também aumenta a magnitude dos impactos ambientais sobre os ecossistemas e os serviços que estes fornecem. Para mais informações sobre a importância dos serviços ecossistêmicos na agricultura, vide o documento da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AGRICULTURA E A ALIMENTAÇÃO (FAO), El Estado Mundial la Agricultura y la Alimentación – Pagos a los Agricultores por Servicios Ambientales, Roma, Italia, 2007, ISBN 978-92-5-305750-4 78 Segundo a COP-CDB, “Climate change is also expected to have a negative impact on traditional coping mechanisms and food security thereby increasing the vulnerability of the world’s poor to famine and perturbations such as drought, flood and disease. Finally, the impacts of climate change on natural resources and labour productivity are likely to reduce economic growth, exacerbat- ing poverty through reduced income opportunities”, SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA , op, Cit, p. 48
41
serviços ecossistêmicos de sequestro e estocagem de carbono, a conservação dos serviços
hídricos e a conservação da biodiversidade. A partir dessa constatação, e com vistas cumprir
com o seu mandato, o Relatório do Segundo Grupo AHTEG desenvolveu duas ferramentas
teórico-práticas muito relevantes para a nossa contribuição: a Mitigação baseada nos
Ecossistemas (EbM) e a Adaptação baseada nos Ecossistemas (EbA). A esse respeito, o
Relatório explica que a biodiversidade desenvolve um papel fundamental na mitigação e
adaptação às mudanças do clima. Nesse sentido, o Relatório explica que os ecossistemas
proveem serviços ecossistêmicos muito relevantes para as labores de mitigação e de
adaptação às mudanças do clima, destacando os serviços ecossistêmicos de sequestro e
estocagem de carbono, a conservação dos serviços hídricos e a conservação da
biodiversidade.
A fim de promover a adaptação e a mitigação das mudanças climáticas baseada na
gestão sustentável dos ecossistemas, o Relatório recomenda implementar medidas de
incentivo econômico e não econômico com o objetivo de valorar os ecossistemas e os seus
serviços relevantes para as atividades de mitigação e de adaptação, incluindo a possibilidade
de se fazer uso dos Sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais.79
2.4. CONCLUSÕES DA PRIMEIRA PARTE
Analisando as informações já mencionadas, é possível afirmar que a relação existente
entre a biodiversidade e as mudanças do clima se manifesta em, pelo menos, três vias: (1) as
mudanças climáticas têm o potencial de afetar negativamente os ecossistemas e os serviços
ecossistêmicos; (2) a conservação, preservação e restauração dos ecossistemas pode
contribuir positivamente para os labores de mitigação e adaptação aos efeitos do aquecimento
global, aumentando a resiliência dos ecossistemas e possibilitando a adaptação paulatina dos
sistemas naturais e humanos aos efeitos inevitáveis da mudança do clima; (3) a perda ou o
aumento da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos pode influenciar as condições de
bem-estar das populações, incluindo a afetação do conhecimento tradicional e do
desenvolvimento cultural dos gestores e comunidades dependentes dos ecossistemas e dos
seus serviços.
79 SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, p. 58
42
Nesse sentido, o conhecimento científico disponível e analisado nesta contribuição
indica a necessidade de adotar enfoques econômicos e não econômicos (novos enfoques de
política pública ambiental) a fim de aprimorar os sistemas de governança ambiental e
reconhecer o valor monetário e não monetário dos ecossistemas e dos serviços que estes
fornecem. Essas estratégias são, por sua vez, relevantes sob a perspectiva da mitigação e da
adaptação às mudanças do clima.
Desde uma perspectiva jurídica, tanto as medidas de aprimoramento da governança
ambiental quanto a implementação de sistemas de incentivos positivos à gestão sustentável
dos ecossistemas podem ser descritas como atividades fundamentais no marco do direito
ambiental e, particularmente, no marco do direito das mudanças climáticas, na teoria jurídica
ambiental e como ferramenta de materialização do Estado Socioambiental.
A seguir, avalia-se o papel dos novos enfoques de política pública ambiental baseados
em incentivos positivos as labores de preservação e gestão sustentável dos ecossistemas,
tomando como base a análise da teoria da função promovedora do direito e o contexto da
Sociedade do Risco e o Estado Socioambiental.
43
1. SEGUNDA PARTE: DA IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE POLÍTICA
AMBIENTAL BASEADOS NOS INCENTIVOS NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS
DO CLIMA
Desde uma perspectiva jurídica, tanto as medidas de aprimoramento da governança
ambiental quanto a implementação de sistemas de incentivos positivos à gestão sustentável
dos ecossistemas, podem ser consideradas como atividades fundamentais no marco do direito
ambiental, (e particularmente, no marco do direito das mudanças climáticas), para a teoria
jurídica ambiental e como ferramenta de materialização do Estado Socioambiental.
Neste sentido, a segunda parte deste trabalho dedica-se a avaliar o papel dos Sistemas
de Pagamento por Serviços Ambientais, enquanto expoente desse novo enfoque de política
pública ambiental, baseada em incentivos positivos às atividades de preservação e gestão
sustentável dos ecossistemas, a partir da teoria do direito promovedor, e considerando o
contexto da Sociedade do Risco e do Estado Socioambiental.
Qualquer estudo sobre a conveniência de se adotar um determinado enfoque de
política pública ambiental, deve, necessariamente, passar pela análise dos instrumentos e
técnicas mais importantes adotadas no âmbito do Estado de Direito na atualidade. Como se
sabe, a intervenção estatal na relação entre os homens e a natureza é amplamente aceita,
especialmente quando se leva em conta o potencial manifestado pela humanidade para mudar
substancialmente a qualidade e quantidade dos recursos naturais, inclusive, em escala
planetária.
4.1. ALÉM DO COMANDO E CONTROLE: AS TÉCNICAS DE ENCORAJAMENTO
DESDE A TEORIA DO DIREITO PROMOTOR DE NORBERTO BOBBIO –
EMBASAMENTO TEÓRICO
A bibliografia autorizada, em particular, a bibliografia econômica sobre aspectos
ambientais e aquela sobre a análise de instrumentos normativos e de política pública
ambiental, reconhecem duas ferramentas clássicas de política ambiental: a técnica do
Comando e Controle e a técnica dos Instrumentos Econômicos. Estas aproximações variam
no seu enfoque sobre a gestão e controle da relação entre os seres humanos e o seu entorno e
partem de uma perspectiva do conhecimento das relações entre os atores socioeconômicos,
44
visando a entender os seus comportamentos e decisões e os impactos destes sobre o meio
ambiente .
Assim, a técnica do Comando e Controle (CAC, pelas suas siglas em inglês)
constitui-se em um dos instrumentos mais utilizados de política ambiental80 e que consiste na
manifestação da técnica de intervenção estatal, na qual se estabelecem limites às ações dos
administrados, por meio da imposição de “comandos” (normalmente standards e metas de
impacto ambiental legalmente aceitáveis, estabelecidas pela autoridade ambiental) aplicáveis
às diferentes atividades com potencial de impactar negativamente o meio ambiente.
Estes “limites” ou “comandos” são, por sua vez, “controlados” pelas autoridades
competentes, majoritariamente através das funções de polícia a elas atribuídas, e respaldadas
pela possibilidade de impor sanções em decorrência do descumprimento dos padrões
ambientais aplicáveis a certo tipo de atividade81. Tal como explica Rudas82, a CaC se expressa
em especificações tecnológicas de caráter obrigatório83, o estabelecimento de padrões físicos
(particularmente padrões de emissão e qualidade), ou através dos instrumentos de
ordenamento ambiental do território. Observa-se que a CaC procura desincentivar os
comportamentos ambientalmente incorretos dos atores econômicos, mediante a ameaça de
imposição de sanções (pecuniárias ou inclusive, privativas da liberdade).
Embora a técnica dos Instrumentos Econômicos (doravante, IE) fundamente-se, tal
como a CaC, na imposição de objetivos ambientais, a IE procura alcançar estes objetivos
através da modificação do comportamento dos atores econômicos, “através de sinais de
mercado, a fim de estimular aqueles que poluem a modificarem o seu comportamento (...) e
aos consumidores para reconhecerem um preço maior aos produtos que menos poluem o meio
ambiente”84. As três ferramentas mais usadas no enfoque da IE são a “imposição de impostos
para as atividades contaminantes, o reconhecimento de incentivos às atividades de proteção
do meio ambiente e a possibilidade de negociação das licenças e autorizações para impactar
negativamente o meio ambiente”85.
80 BALDWIN, R., CAVE M., LODGE, M. Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. 81 Para mais informações sobre a definição de Comando e Controle, vide BALDWIN, loc. cit 82 RUDAS Guillermo, Economia y ambiente, Bogota: Fundación Friedrich Ebert de Colombia – FESCOL, CEREC, Instituto de Estudios Rurales – Universidad Javeriana, primera edición, 1998 83 Por exemplo, a imposição de algum tipo de tecnologia específica aplicável ao desenvolvimento de certa atividade, como filtros nas chaminés, ou os sistemas de tratamento de efluentes líquidos das indústrias, dentre outras, em ibidem. 84ibidem, p. 44 et seq. 85 Ibidem
45
Sem embargo, desde uma perspectiva da teoria jurídica, resulta necessário aproximar a
análise teórico-normativa dos instrumentos supramencionados, com o intuito de compreender
a sua dimensão e eficácia para controlar as atividades do conglomerado social no contexto das
mudanças climáticas. Assim, o enfoque do IE, entendido como complementar ao enfoque
CaC, pode ser analisado teoricamente por meio da teoria da função promovedora do direito.
A teoria da função promovedora do direito de Norberto Bobbio parte de uma
aproximação eminentemente sociológica do direito como instrumento de controle social (isto
é, diferente de uma perspectiva meramente normativa ou formal ou axiológica-valorativa do
direito86), elaborando sobre a categoria teórica da “sanção”. Nessa linha, para o autor, existem
dois tipos de sanções: as positivas e as negativas. Tomando como base a concepção
sociológica e filosófica do vocábulo “sanção”, Bobbio explica que este é empregado em
sentido amplo, isto é, um vocábulo no qual cabem não apenas
...consequências desagradáveis, mas também as consequências agradáveis da observância, distinguindo-se, no genus sanção, duas espécies (...) Ao contrário é fato que na linguagem jurídica, o termo “sanção” (...) denota exclusivamente as sanções negativas.87
Ao discorrer sobre a amplitude do vocábulo “sanção” e a sua aplicação ao direito,
Norberto Bobbio estrutura uma teoria do direito na sua vertente promovedora e funcional,
reconhecendo e valorizando o papel das sanções positivas (incentivos), para se atingir os
objetivos do direito como um todo, reconhecendo a impossibilidade de se atingir esses
objetivos unicamente por intermédio da imposição da ameaça e da sanção negativa como
instrumentos de controle social.
Nesta linha de abordagem, Bobbio analisa as diferenças essenciais que existem entre
um ordenamento protetor-repressivo (este entendido como aquele ordenamento
exclusivamente baseado na imposição de sanções negativas) e um ordenamento com função
promocional (isto é, aquele que encoraja, por meio da utilização de sanções positivas, ou em
outras palavras, incentivos). Para ele, os ordenamentos do primeiro tipo visam a desencorajar
atividades e ações indesejáveis para a sociedade, seja impossibilitando a sua concretização,
seja dificultando a sua execução ou fazendo-a desvantajosa ou inconveniente. Mas, no que
toca às atividades e ações consideradas positivas para a sociedade, os ordenamentos
86 LARA CHAGOYAN, Roberto, Sobre la función promocional del derecho. C de México: Universidad Autónoma de México, em http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr34.pdf 87 BOBBIO, Norberto, Da estrutura à função: novos estudos da teoria do direito. São Paulo: Editora Manole Ltda. Reimpressão, , 2011
46
protetores-repressivos se limitam a proteger a sua concretização, no caso das atividades
permitidas; possibilitar a sua execução, caso se trate de atividades obrigatórias; ou assegurar a
possibilidade de não fazer, caso se trate de atividades proibidas 88 . Por oposição, os
ordenamentos com função promocional atuam contrariamente, isto é, procuram “provocar o
exercício dos atos conformes (...), tornando os atos obrigatórios particularmente atraentes e os
atos proibidos particularmente repugnantes89. Em outras palavras, , procuram tornar a ação
desejada socialmente “necessária, fácil e vantajosa”, o que, nas palavras do autor, “reflete
uma verdadeira transformação na função do sistema normativo em seu todo e no modo de
realizar o controle social”.
Além disso, Bobbio identifica outras três diferenças entre ambos tipos de
ordenamentos jurídicos: (i) em termos de finalidades (perspectiva axiológica do
ordenamento), os ordenamentos protetores-repressivos conformam-se com a finalidade de
impedir comportamentos socialmente negativos90, enquanto os ordenamentos promotores
procuram fomentar as atividades em prol do bem-estar da sociedade; (ii) em termos de
estrutura do ordenamento, a eficácia das normas dos ordenamentos do primeiro tipo baseia-se
fundamentalmente no conceito de ameaça, enquanto nos ordenamentos do segundo tipo, a
eficácia das normas fundamenta-se no encorajamento91; e, (iii) por fim, no que toca à função
dos ordenamentos, Bobbio reconhece nos ordenamentos protetores-repressivos uma função de
“conservação”, isto é, um ordenamento que pretende manter um status quo baseado no uso
limitado da liberdade dos administrados, no desencorajamento, na ameaça e na imposição de
sanções negativas. Em contraposição, os ordenamentos com função promovedora promovem
a mudança, isto é, fomentam mudanças atitudinais, tecnológicas e funcionais da sociedade
como um todo, através do encorajamento e o reconhecimento de incentivos às atividades
positivas para a sociedade92.
88 BOBBIO, Norberto, Da estrutura à função: novos estudos da teoria do direito. São Paulo: Editora Manole Ltda. Reimpressão, , 2011 p. 14 89 Ibidem, p. 15 90 Bobbio elabora duas categorias teóricas quanto aos efeitos: (i) as medidas diretas, fundamentalmente a vigilância passiva e ativa e o recurso ao uso da força, seja impeditiva ou constritiva; (ii) as medidas indiretas, as quais visam a influenciar a psique do administrado, induzindo nele certo tipo de comportamento, em ibidem p. 16 91 O que o autor denomina como a “promessa”, em ibidem, p. 18 92 Sobre este ponto, o autor afirma o seguinte: “Se o ordenamento jurídico julga positivamente o fato de o agente valer-se o mínimo possível da sua liberdade, procurará desencorajá-lo a fazer o que lhe é lícito. Como se vê, a técnica do desencorajamento tem uma função conservadora. Se, ao contrário, o mesmo ordenamento jurídico julga positivamente o fato de o agente servir-se o máximo possível da sua liberdade, procurará encorajá-lo a se valer dele para mudar a situação existente: a técnica do encorajamento tem uma função transformadora ou inovadora”, em ibidem, p. 20.
47
Quando se analisa a estrutura, função e mecanismos de eficácia do ordenamento
jurídico-ambiental, é possível afirmar que o nosso sistema é baseado, fundamentalmente, em
normas coercitivas, fundadas na ameaça e na imposição de sanções negativas aos infratores
da legislação ambiental. Trata-se então, de um ordenamento de natureza majoritariamente
protetora-repressiva, ou, em outras palavras, majoritariamente baseado no sistema CaC93. O
próprio Bobbio caracteriza o nosso sistema jurídico nesta linha, ao afirmar que
a concepção dominante é certamente a que considera o direito como ordenamento coativo, estabelecendo, assim, um vínculo necessário e indissolúvel entre direito e coação. Este se traduz na importância exclusiva dada as sanções negativas: a coação é, ela própria, considerada uma sanção negativa ou, então, o meio extremo para tornar eficazes as sanções (negativas) predispostas pelo ordenamento mesmo para a consecução do próprio patrimônio normativo.94
Referindo-se especificamente ao ordenamento jurídico ambiental, Nusdeo complementa assim:
“Dentre os instrumentos da política ambiental, os de comando e controle são os predominantes. Existe, portanto, um conjunto extenso de normas a exigirem o cumprimento de padrões ou restrições de vários tipos, determinando condutas especificas ou proibindo práticas, a fim de se prevenir a poluição e a degradação do meio ambiente”,
Contudo, acredita-se que, no contexto particular das mudanças climáticas, o direito
ambiental contemporâneo confronta-se com novos e variados desafios decorrentes dos riscos
impostos pelo fenômeno do aquecimento global, o que faz com que novos enfoques
complementares de governança ambiental sejam considerados como desejáveis no contexto
atual. A este propósito, Bobbio afirma que,
no Estado contemporâneo, torna-se cada vez mais frequente o uso das técnicas de encorajamento. Tão logo comecemos a nos dar conta do uso dessas técnicas, seremos obrigados a abandonar a imagem tradicional do direito como ordenamento protetor-repressivo. Ao lado desta, uma nova imagem toma forma: a do ordenamento jurídico como ordenamento com função promocional.95
93 NUSDEO, DE OLIVEIRA, Ana Maria, Pagamentos por Serviços Ambientais, Sustentabilidade e disciplina jurídica, São Paulo: Editora Atlas, , 2012, p. 98. 94 BOBBIO, Norberto, Da estrutura à função: novos estudos da teoria do direito. São Paulo: Editora Manole Ltda. Reimpressão, , 2011 95 Ibidem, p. 13
48
4.2. IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO ENFOQUE DO DIREITO
PROMOVEDOR PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS NO
CONTEXTO DA SOCIEDADE DO RISCO CLIMÁTICO E DO ESTADO
SOCIOAMBIENTAL
Conforme mencionado anteriormente, a teoria da função promocional do direito indica
a necessidade de se fazer uso de instrumentos de encorajamento de ações e atividades
positivas para a sociedade como um todo, por meio de incentivos positivos. Neste contexto,
impõe-se a pergunta: resulta possível aplicar o paradigma da função promocional do direito
ao direito ambiental? Se possível, qual é a importância da adoção desses mecanismos em um
contexto de riscos gerados pelas mudanças climáticas e no âmbito do Estado
Socioambiental?.
4.2.1 As mudanças climáticas como manifestação dos riscos tecnológicos da Sociedade do Risco: da gestão dos “riscos climáticos” como objetivo do Estado Socioambiental
A primeira questão relevante no que toca à aplicação da teoria do direito promotor ao
direito ambiental refere-se ao contexto de risco planetário produzido pelas mudanças
negativas associadas ao fenômeno do aquecimento global.
Partindo de um enfoque sociológico e baseado na teoria da sociedade do risco de
Beck, é possível compreender a conjuntura particular onde está inserida a atual ciência
jurídica: o nosso é um contexto caracterizado pela identificação, existência e controle de
novos riscos gerados pelos processos de modernização, industrialização e globalização, os
quais são descritos por Beck como “riscos tecnológicos”96. Nesta linha, as mudanças
climáticas constituem um excelente exemplo dos riscos tecnológicos descritos por Beck, uma
vez que elas podem ser caracterizadas como riscos associados ao mundo globalizado, cuja
distribuição e magnitude mudaram sensivelmente a percepção social sobre a vida no nosso
planeta. Vejamos.
Enquanto na chamada “sociedade industrial” na qual os riscos tinham um alcance
eminentemente local e um impacto direto sobre determinados setores da população, na
sociedade de risco, e considerados especificamente os riscos decorrentes das mudanças
96 BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidade, C. De México: Editorial Paidós, 2006
49
climáticas, eles se distinguem pela sua distribuição “democratizada” (isto é, pela sua
abrangência, que não conhece limites de classes sociais, nem limites territoriais), pelos seus
padrões de sua distribuição e pela dificuldade na sua detecção, estudo e entendimento, o qual
somente resulta possível através de técnicas avançadas de detecção e medição97. Além disso,
em função da sua complexidade e dimensão, sua compreensão só se faz possível a partir da
geração de conhecimento científico interdisciplinar, na medida em que, via de regra, não é
possível detectar os riscos decorrentes das mudanças do clima através da simples observação.
Como consequência, o cálculo de incidência destes riscos se revela muito difícil de prever, ou
incluso, acabe sendo considerado como imprevisível. De acordo com Chou
Através da lógica da produção, competência e reação da indústria e a tecnologia globalizante, a sociedade do risco industrial restringida aos limites dos países unilaterais considerados, tem gradualmente se expandido até se converter num fenômeno de degradação ambiental que ultrapassa as regiões, desencadeando uma sociedade do risco muito próxima e autorreferencial. Nesse contexto, as mudanças do clima são consideradas como uma parte da cadeia do risco globalizado. Em outras palavras, as mudanças climáticas são elas mesmas uma espécie de risco globalizante que afeta os seres humanos.98
Estes novos riscos globalizantes e de natureza socioambiental (que podem ser
chamados de riscos climáticos) têm reflexos muitos relevantes na ciência jurídica, uma vez
que norteiam os objetivos e metas do direito ambiental contemporâneo no contexto do Estado
Socioambiental, este entendido como o “produto de novas reivindicações fundamentais do ser
humano e particularizado pela ênfase que confere a proteção do meio ambiente”. O Estado
Socioambiental visa à “persecução de uma condição ambiental capaz de favorecer a
harmonia entre os ecossistemas e, consequentemente, garantir a plena satisfação da dignidade
para além do ser humano”99.
Neste sentido, pode-se afirmar que o Estado Socioambiental na atualidade tem como
um dos seus objetivos fundamentais encarar a problemática dos riscos tecnológicos, evitando-
os, mitigando-os e controlando os seus efeitos deletérios sobre o meio ambiente e os seres
humanos. Consequentemente, a materialização das atividades de mitigação e adaptação às
mudanças climáticas, ou seja, a gestão dos riscos climáticos, enquanto subespécie dos riscos
97 LEMKOW Louis, Sociologia Ambiental – Pensamiento socioambiental y ecología social del riesgo, Barcelona,: Editorial Icaria, 2002. 98 CHOU, Kuei Tien Global Climate Change as Globalizational Risk Society – Glocalizational Risk Governance, Taiwan: Universidade Nacional de Taiwan, em http://homepage.ntu.edu.tw/~ktchou/documents/Climate%20Change%20as%20glocalizational%20risk.pdf 99 MORATO LEITE, José Rubens, Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; Leite, José Rubens Morato (orgs.) Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: . 2. Ed, Saraiva, 2008.
50
tecnológicos, pode ser considerada como um dos objetivos fundamentais do Estado
Socioambiental, o qual está destinado a promover o bem-estar da população e salvaguardar a
integridade dos sistema climático, por meio, entre outras formas, da proteção e conservação
dos ecossistemas e dos seus serviços.
No Estado Socioambiental, portanto, a preocupação pela qualidade do meio ambiente
constitui-se em pilar fundamental do sistema jurídico, o que basicamente vem sendo feito por
intermédio de mecanismos de comando e controle. Não obstante, a situação que se impõe na
atualidade, caracterizada pelos desafios decorrentes dos riscos climáticos, demanda a
reformulação do sistema de governança ambiental, para que se logre atingir o patamar de
proteção do meio ambiente característico desta nova visão do Estado. E, talvez mais do que se
atingir um patamar (ideal) de proteção ambiental, tal reformulação constitua uma condição
necessária para se garantir as condições mínimas de bem-estar e segurança para a sociedade.
A avançada complexidade dos riscos climáticos, tanto do ponto de vista das suas
causas como de seus potenciais impactos, faz com que seja necessária uma nova abordagem,
igualmente complexa, para fazer frente aos seus efeitos na nossa sociedade. Neste cenário, o
direito confronta-se com a necessidade de enfrentar-se a estes riscos planetários através da
reformulação ou complementação dos seus instrumentos jurídicos de controle social, a fim de
fazê-los mais eficientes para fazer frente aos novos desafios impostos pelos riscos que
decorrem das atividades efetiva ou potencialmente causadoras de impactos negativos sobre o
sistema climático global.
4.2.2 Do papel do direito promovedor no contexto do Estado Socioambiental e da Sociedade do Risco
A segunda questão fundamental centra-se no papel do direito promovedor dentro do
Estado socioambiental na sociedade do risco, e que poderia ser assim formulada: qual é o
papel do direito promovedor no contexto da sociedade do risco, e mais especificamente, qual
é o papel do direito ambiental promovedor no combate aos riscos climáticos globais?
Entendendo-se o direito ambiental como um sistema de controle social100 focado no
controle das relações entre os seres humanos e o seu entorno, pode-se reconhecer o valor e a
100 Entende-se por controle social “ ... o conjunto de meios de intervenção, quer positivos, quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social a fim de induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a caracterizam, de impedir e desestimular os comportamentos contrários às mencionadas normas, de restabelecer condições de conformação, também em relação a uma mudança do sistema normativo” em Santos Bezerra, Paulo César, Sociologia Jurídica, Livraria Editora Renovar Ltda., Rio de Janeiro 2010.
51
função do direito ambiental como ferramenta de gestão dos riscos tecnológicos. Assim, nas
palavras de Lavratti a importância do direito ambiental radica em que este fornece as ferramentas necessárias para que o direito reflita as eleições de uma sociedade (...) como também materializa tais eleições na forma de normas, convertendo-se em instrumento para a proteção de um entorno físico correspondente com os desejos da sociedade.101
Neste sentido, evidencia-se a dimensão do direito como instrumento de governança e
controle socioambiental, de cunho democrático e participativo, no qual a sociedade como um
todo deve fazer escolhas sobre o seu relacionamento com o meio ambiente. Contudo, a fim
de que o direito atinja o seu verdadeiro potencial como instrumento de controle, resulta
necessário que o ordenamento jurídico ambiental seja capaz de promover mudanças
estruturais e atitudinais, a fim de concretizar os postulados deste tipo específico de arranjo
político-administrativo102. Como explica Morato Leite,
a concretização do Estado de Direito Ambiental converge obrigatoriamente para mudanças radicais nas estruturas existentes da sociedade organizada (...) que compreende uma ação conjunta do Estado e da coletividade na proteção ambiental.103
Assim, quando se trata de mudanças climáticas, é muito relevante entender o universo
de possibilidades de intervenção humana na natureza, e, ademais, que o controle dessa
intervenção por parte dos sistemas jurídicos, pode ser muito mais eficaz, e, inclusive, mais
eficiente em termos de custo-benefício104, caso se promova a participação ativa da sociedade
nas mudanças consideradas necessárias para a mitigação e adaptação às consequências do
aquecimento global.
101 CERSKI LAVRATTI, Paula, El derecho ambiental como instrumento de gestión del riesgo tecnológico, Tarragona, Espanha: Quaderns de dret ambiental, Publicacions URV, 2011 102 (...) chega-se à constatação de que a prevenção do dano é de extrema importância. Daí decorre que o Estado de Direito Ambiental tem por objeto de governança não só recuperar o que deixou de existir (ou impor ao responsável o dever de recuperar), como também garantir a existência e a qualidade do bem ambiental já existente. Nesse conduto de exposição, surge a necessidade da criação de incentivos a fim de normatizar a conduta humana e moldá-la a um agir ambientalmente sustentável.” em HUPFFER, Haide et. Al, Uma análise sistêmica do princípio do protetor-recebedor na institucionalização de programas de compensação por serviços ambientais, Novo Hamburgo, RS: Universidade Feevale (Pró-Reitoria de Inovação e Pesquisa), 93510-250, In: Revista Ambiente e Sociedade. vol.14 no.1 São Paulo, Janeiro, Junho 2011. 103 MORATO LEITE, José Rubens, DE ARAUJO AYALA, Patrick, Dano Ambiental - do individual ao coletivo extrapatrimonial – Teoria e Prática, São Paulo : 3ª edição, Editoria Revista dos Tribunais Ltda., 2010 104 Para mais informações sobre os custos da mitigação e adaptação antecipadas às mudanças do clima, vide o Relatório Stern sobre a Economia das Mudanças Climáticas, em http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf
52
Desta forma, apesar da estrutura tradicional do direito ambiental ser baseada em
comandos e proibições e estar respaldada pela coação, ou seja, pela ameaça de se impor as
sanções negativas decorrentes da ação ou omissão contra legem, acredita-se que desde uma
perspectiva de proteção mais eficaz do meio ambiente, e levando em consideração a natureza
especial dos riscos climáticos, a simples imposição de sanções negativas a posteriori é
limitada no que tange à prevenção do dano ambiental, assim como para desencorajar as
atividades ambientalmente incorretas dos administrados105.
Ainda que a coação também possa ser entendida na sua função de prevenir os danos
ambientais, resulta fundamental entender que para a técnica jurídica ambiental, a simples
coação não consegue compensar, pela via do desestímulo, os danos ambientais significativos
em termos de magnitude e gravidade – o que acontece especificamente com os danos que se
espera sejam causados pelas mudanças climáticas106. No dizer de Martin Mateo,
É correto afirmar que a repressão sempre sugere uma vocação de prevenção, uma vez que visa, precisamente por meio da ameaça (...) evitar as circunstâncias que dão origem à sanção, mas no Direito ambiental a coerção "a posteriori” é particularmente ineficaz (...) toda vez que se as consequências negativas biológicas e sociais já ocorreram, a repressão pode ter um significado moral, mas dificilmente será capaz de compensar os danos graves, talvez irreparáveis.107
105 “após constatar que as normas ambientais de cunho exclusivamente protetivo-repressivo nem sempre garantem o efetivo respeito ao meio ambiente, propomos que o Direito assuma de modo mais ativo sua função promocional, incentivando comportamentos e ações ambientalmente desejáveis por meio das sanções positivas e da utilização do principio do protetor-recebedor, via sistema de pagamento por serviços ambientais”, em BENJAMIN, Antonio Herman, LECEY Eládio, CAPELLI Silvia, Carta de São Paulo de 2007, apud. ALTMANN Alexandre, Pagamentos por Serviços Ambientais como Mecanismo Econômico para a Mitigação das Mudanças Climáticas no Brasil. In: Rech, Adir Ubaldo (ORG), Direito e Economia Verde Natureza jurídica e aplicações práticas dos pagamentos por serviços ambientais como instrumento de ocupações sustentáveis, Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul – Educs, 2011 106 “Quando se fala em riscos ecológicos [aí incluídos os riscos decorrentes das alterações do clima], o que está em jogo é o meio ambiente e, por consequência, a qualidade de vida e a saúde humana, embora as implicações econômicas e sociais também devam ser sempre observadas. O problema desse tipo de risco é que os danos causados são de difícil ou mesmo de impossível reparação, de maneira que a única forma de proteger efetivamente o patrimônio ambiental é evitando que tais danos ocorram.”, em HUPFFER, Haide et. Al, Uma análise sistêmica do princípio do protetor-recebedor na institucionalização de programas de compensação por serviços ambientais, Novo Hamburgo, RS: Universidade Feevale (Pró-Reitoria de Inovação e Pesquisa), 93510-250, In: Revista Ambiente e Sociedade. vol.14 no.1 São Paulo, Janeiro, Junho 2011 107 “Cierto que la represión lleva implícita siempre una vocación de prevención en cuanto lo que pretende es precisamente por vía de amenaza (...) evitar que se produzcan los supuestos que dan origen a la sanción, pero en el Derecho ambiental la coacción “a posteriori” resulta particularmente ineficaz (...) en cuanto que de haberse producido ya las consecuencias, biológica y también socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará graves daños, quizá irreparables” tradução nossa, em MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de derecho ambiental Volumen I, Madrid, Espanha: Editorial Trivium S.A, Primera Edición, 1991
53
Portanto, a perspectiva de imposição de sanções negativas a posteriori como única
ferramenta de governança ambiental no contexto do Estado Socioambiental, evidentemente
não se demonstra suficiente com vistas a prevenir, mitigar ou inclusive compensar os danos
ambientais gerados pelas mudanças climáticas antropogênicas. Na mesma linha
argumentativa, é possível afirmar que este enfoque tampouco resulta suficiente para fins de
promover as atividades de preservação, uso sustentável e recuperação dos ecossistemas e seus
serviços, na medida em que se reconheça a limitação do enfoque protetor-repressivo dos
ordenamentos jurídicos baseados majoritariamente na técnica do Comando e Controle.
Conclui-se, portanto, que se faz necessário explorar novas ferramentas de gestão dos
riscos tecnológicos, e especificamente, daqueles decorrentes das mudanças do clima, para que
se concretizem os postulados do Estado Socioambiental. Neste contexto, as ferramentas do
direito promovedor tem o potencial de complementar as ferramentas do ordenamento
repressivo-protetor clássico, promovendo mudanças estruturais e atitudinais necessárias para
provocar ações relacionadas às labores de mitigação e de adaptação às mudanças do clima.
4.3 CONCLUSÕES DA SEGUNDA PARTE
Pode-se concluir até agora que o potencial dos sistemas de política pública ambiental
baseados nos incentivos positivos está na capacidade de complementar o enfoque repressivo-
protetor clássico. Acredita-se que o reconhecimento de incentivos positivos ao
aprovisionamento de serviços ecossistêmicos seja fundamental para atingir os objetivos
ambientais e de desenvolvimento humano da sociedade atual, reconhecendo a incapacidade da
política ambiental baseada exclusivamente na dissuasão por ameaça coercitiva. Além do mais,
considera-se que, num contexto de mudanças climáticas, dificilmente as atividades de
mitigação e adaptação relativas ao direito ambiental das mudanças do clima poderão ser
materializadas sem contar com os incentivos necessários para tal fim.
Em resumo, acredita-se que o direito ambiental precisa repensar a sua estrutura,
reconhecendo a importância de materializar mudanças estruturais no sistema de governança
ambiental a fim de promover mudanças atitudinais do conglomerado social, de natureza
verificável e sustentável, para materializar os postulados do Estado Socioambiental
contemporâneo.108
108 (...) chega-se à constatação de que a prevenção do dano é de extrema importância. Daí decorre que o Estado de Direito Ambiental tem por objeto de governança não só recuperar o que deixou de existir (ou impor ao responsável o dever de recuperar), como também garantir a existência e a qualidade do bem ambiental já
54
6. TERCEIRA PARTE: A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS E
DOS SEUS SERVIÇOS ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS DO ORDENAMENTO
JURIDICO COM FUNÇAO PROMOVEDORA: DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
Como explicado anteriormente, os ecossistemas fornecem vários serviços
considerados fundamentais para o bem-estar humano e para os labores de mitigação e de
adaptação às mudanças do clima. No entanto, como consequência da degradação e perda
desses sistemas, a sua capacidade de fornecer esses bens e serviços tem diminuído
consideravelmente, afetando, por sua vez, as condições de bem-estar de várias comunidades
no mundo todo.109 Nesse contexto, pressões negativas adicionais sobre os ecossistemas, como,
por exemplo, aquelas decorrentes das mudanças do clima, têm o potencial de afetar ainda
mais esses sistemas, exacerbando as condições de pobreza e exclusão de muitas comunidades
especialmente vulneráveis e contribuindo ao aumento dos efeitos deletérios das mudanças
climáticas sobre os sistemas naturais e humanos.
Consequentemente, no contexto da sociedade do risco climático, considera-se
desejável adotar novos enfoques que promovam e complementem os mecanismos de
comando e controle através da promoção de atividades de gestão sustentável dos ecossistemas
como estratégia de mitigação e adaptação às mudanças do clima.110 No entanto, para atingir
esse objetivo, faz-se necessário abordar o estudo dos desafios, tendências e avanços relativos
à implementação das políticas de gestão sustentável dos ecossistemas e dos seus serviços.
existente. Nesse conduto de exposição, surge a necessidade da criação de incentivos a fim de normatizar a conduta humana e moldá-la a um agir ambientalmente sustentável.” em HUPFFER, Haide et. Al, Uma análise sistêmica do princípio do protetor-recebedor na institucionalização de programas de compensação por serviços ambientais, Novo Hamburgo, RS: Universidade Feevale (Pró-Reitoria de Inovação e Pesquisa), 93510-250, In: Revista Ambiente e Sociedade. vol.14 no.1 São Paulo, Janeiro, Junho 2011, p. 101 109 O Relatório da AEM antes citado identifica fatores diretos e indiretos de mudanças nos ecossistemas e os seus serviços. Como fatores diretos, o Relatório menciona as mudanças nos usos e coberturas dos solos; a introdução ou remoção de espécies e as mudanças climáticas, dentre outros. Os fatores indiretos de mudanças são as questões demográficas, econômicas, sociopolíticas e culturais (incluindo as decisões de consumo) da nossa sociedade atual. 110 Como explicam Young et al, “o falso antagonismo entre abordagens de comando e controle e o uso de instrumentos econômicos deve ser evitado: o caminho ideal é a combinação dos dois tipos de instrumentos, comando e controle e PSA (…)”, em YOUNG, Carlos Eduardo Frickmann, MC-NIGHT Vivian, MEIRELES Ana Luiza, Land opportunity cost: a proposal to avoid deforestation. IN: Dias P.L.S et al. Public Policy, mitigation and adaptation to climatic change in South America, São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo – IEA/USP, 2009, apud. ALTMANN Alexandre, Pagamentos por Serviços Ambientais como Mecanismo Econômico para a Mitigação das Mudanças Climáticas no Brasil. In: Rech, Adir Ubaldo (ORG), Direito e Economia Verde Natureza jurídica e aplicações práticas dos pagamentos por serviços ambientais como instrumento de ocupações sustentáveis, Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul – Educs, 2011
55
Igualmente faz-se necessário identificar o sustento jurídico desse tipo de iniciativas no
contexto internacional e local e, por fim, analisar o papel dos Sistemas de Pagamento por
Serviços Ambientais como ferramenta de gestão sustentável dos ecossistemas.
O estudo dos principais aspectos acima indicados apoia a tese segundo a qual os Sistemas
de Pagamento por Serviços Ambientais podem ser considerados ferramentas do ordenamento
jurídico ambiental com função promovedora e, nesse sentido, encontram sustento legal nos
marcos jurídicos nacionais e internacionais sobre a matéria. Além disso, os sistemas de PSA
têm o potencial de internalizar as externalidades positivas associadas à proteção, conservação
e uso sustentável dos ecossistemas e dos seus serviços através do reconhecimento de
incentivos positivos monetários e não monetários a esse tipo de labores. Consequentemente,
os Sistemas de Pagamentos por Serviços Ambientais constituem-se em ferramentas de gestão
sustentável dos ecossistemas e, por essa via, dos serviços ecossistêmicos relevantes para os
labores de mitigação e de adaptação às mudanças do clima. Na continuação, serão analisados
os principais aspectos relativos a este assunto.
6.1 DESAFIOS ASSOCIADOS À FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
AMBIENTAIS DIRECIONADAS À CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS
ECOSSISTEMAS E DOS SEUS SERVIÇOS
Como menciona Stanton, existem três desafios principais relacionados ao desenho de
políticas públicas direcionadas à proteção e conservação dos ecossistemas e dos seus serviços:
(i) a falta de conhecimento técnico sobre os ecossistemas e seus serviços; (ii) os serviços
ecossistêmicos são bens públicos e externalidades positivas; e (iii) a falta de valoração
econômica dos ecossistemas e dos seus serviços.111
6.1.1 Falta de conhecimento suficiente sobre os ecossistemas e os seus serviços
Sobre o primeiro ponto, Andrade e Romeiro confirmam a complexidade do estudo dos
ecossistemas e dos seus serviços. Segundo esses autores,
A maioria dos ecossistemas apresenta milhares de elementos estruturais, cada um exibindo variados graus de complexidade. Estes elementos, por sua vez, exibem
111 STANTON Marcia, Payments for Freshwater Ecosystem Services: A Framework for Analysys, West Northwest Journal of Environmental Law & Policy, Volume 18, Número 1, 2012
56
comportamentos evolucionários e não mecanicistas (Costanza et al., 1993). Devido a isso, os ecossistemas são caracterizados por comportamentos não lineares, o que faz com que não seja possível fazer previsões de intervenções baseadas apenas em conhecimentos sobre cada componente individualmente.112
Nesse sentido, como foi confirmado nos relatórios sobre biodiversidade e mudanças
climáticas já abordados, o conhecimento científico sobre os ecossistemas, seus serviços e as
interações entre estes e as mudanças do clima ainda é incipiente e precisa de maior
aprofundamento. Em outras palavras, a própria complexidade e falta de aprofundamento
desses estudos faz com que ainda falte conhecimento técnico sobre a matéria, embora já esteja
sendo produzido esse tipo de informação.
Consequentemente, a falta de informação sobre os ecossistemas e as suas interações
limita a tomada de decisão de políticas públicas cujo objetivo seja a sua proteção,
conservação e uso sustentável. Além disso, a falta de socialização desse tipo de informação
no conglomerado social também limita a capacidade dos atores econômicos de tomar decisões
informadas relativas à conservação e proteção desse tipo de serviço.113
6.1.2 Das externalidades e dos bens públicos: considerações sobre a natureza dos
serviços ambientais desde a perspectiva econômica
O segundo ponto refere-se à natureza de bens públicos e de externalidades positivas de
vários dos mais importantes serviços ecossistêmicos, especialmente os serviços de suporte e
os serviços de regulação. Landell-Mills e Porras explicam que muitos dos serviços fornecidos
pelos ecossistemas podem ser categorizados como externalidades 114 positivas, isto é,
112 ANDRADE, Daniel Caixeta, ROMEIRO Ademar Ribeiro, Serviços ecossistêmicos e sua importância para o sistema econômico e o bem-estar humano, Campinas: UNICAMP, 2009, em http://www.aprendizagempsa.org.br/biblioteca/documentos-em-geral/serviços-ecossistêmicos-e-sua-importância-para-o-sistema-econômico-e 113 STANTON Marcia, Payments for Freshwater Ecosystem Services: A Framework for Analysys, West Northwest Journal of Environmental Law & Policy, Volume 18, Número 1, 2012 114 “É necessária a verificação de duas condições cumulativas para podermos identificar um fenómeno como uma “externalidade”: a) Em primeiro lugar, é necessário que a acção de um agente (pessoa ou instituição, consumidor ou produtor) afecte o bem-estar de outra. Dito de outra maneira, existe uma externalidade sempre que o bem-estar de um agente depende não apenas das suas próprias acções mas também das actividades sob o controle de outros agentes. b) Em segundo lugar, é necessário que a alteração de bem-estar não seja acompanhada por um qualquer mecanismo de compensação (...) A alteração do “bem-estar” pode ser positiva (uma propriedade vizinha bem conservada – que faz subir o valor de mercado da nossa –, um perfume agradável usado pela pessoa que vai sentada ao nosso lado, melhores hábitos de condução – que reduzem o risco de acidentes –, o progresso científico, a educação, a vacinação) ou negativa (a poluição atmosférica, a poluição das águas, festas barulhentas na vizinhança, trânsito congestionado, fumo de cigarro, a subida nos prémios de seguro devido ao consumo de álcool ou tabaco por parte dos outros, “vista obstruída”, etc.). Consequentemente, a uma externalidade positiva está associado um benefício (...)” em MADEIRA BELBUTE, José Manuel, Externalidades: O que “não
57
benefícios não remunerados decorrentes dos processos de interação entre os componentes de
um ecossistema,115 e que tem o potencial de afetar positivamente o conglomerado social.
Exemplos desses serviços são o controle dos vetores das doenças, a polinização, a criação dos
solos, a regulagem do clima e da qualidade da água.116
As externalidades têm o potencial de afetar o bem-estar, seja positivamente, seja
negativamente. Normalmente, as externalidades não estão associadas a qualquer mecanismo
de recompensa ou compensação: “Isto é, ao benefício causado a um agente não corresponde
qualquer recompensa ao seu causador, nem ao custo associado a um efeito externo negativo
corresponde qualquer compensação à sua vítima.”117 Nesse sentido, Belbute explica que,
Uma vez que as externalidades afetam o bem-estar, elas tendem a ser valorizadas pelos agentes mas [...] não têm associadas qualquer mecanismo de recompensa/compensação. (...) Consequentemente, a uma externalidade positiva está associado um benefício enquanto que a uma externalidade negativa está associado um dano (custo ou prejuízo são também termos usados neste contexto).118
Intimamente ligada à natureza de externalidade desses bens e serviços, Landell-Mills e
Porras explicam que os serviços ecossistêmicos também podem ser categorizados como bens
públicos, isto é, bens caracterizados por sua não rivalidade e não exclusividade.119 Como
explica Belbute,120 a não rivalidade aplicada aos serviços ecossistêmicos significa que o
“‘uso’ que um agente faz de [um] bem/serviço [ecossistêmico] não reduz a quantidade
disponível desse bem ou serviço para ser usado por outra pessoa ou instituição”. Por sua vez,
a não exclusividade dos serviços ecossistêmicos está relacionada com a incapacidade de
atribuir direitos de propriedade inequívocos sobre esses bens e serviços. Diante da
incapacidade de tornar os bens e serviços “exclusivos” através dos direitos de propriedade,
não é possível excluir as pessoas que não pagam por seu uso ou aproveitamento.121
economistas” devem saber, Évora, Protugal: Departamento de Economia, Universidade de Évora, Portugal, 2008 em http://www.ua.pt/ii/ocupacao_dispersa/ReadObject.aspx?obj=4876 115 LANDELL-MILLS, N and PORRAS, T.I., Silver bullet or fools’ gold? A global review of markets for forest environmental services and their impact on the poor, Londres: Instruments for sustainable private sector forestry series. International Institute for Environment and Development - IISD, 2002, em http://www.cbd.int/doc/external/iied/iied-silver-report-2002-en.pdf 116 Ibidem, p. 8 117 MADEIRA BELBUTE, José Manuel, Externalidades: O que “não economistas” devem saber, Évora, Protugal: Departamento de Economia, Universidade de Évora, Portugal, 2008 em http://www.ua.pt/ii/ocupacao_dispersa/ReadObject.aspx?obj=4876 118 Ibidem, p. 4 119 Ibidem, p. 7 et seq. 120 Ibidem, p. 5 121 “(…) há bens e serviços para os quais é muito difícil estabelecer com clareza direitos de propriedade. Para este tipo de bens ou serviços, o acesso ao seu uso ou o seu consumo está extraordinariamente facilitado, mesmo para aqueles que não se dispõem a pagar por isso. Uma vez disponível o bem ou o serviço com baixo grau de
58
Como consequência da não rivalidade e não exclusividade dos serviços
ecossistêmicos, os fornecedores desses serviços os subvalorizam e sub-produzem, uma vez
que não têm incentivos para tal. Nesse sentido, para os fornecedores desse tipo de bens e
serviços, prevalece o benefício do uso direto dos recursos naturais sobre a possibilidade de
protegê-los ou conservá-los,122 isto é, de gerar externalidades positivas como consequência
das suas atividades de conservação e proteção dos ecossistemas e dos seus serviços; em outras
palavras, os fornecedores tendem a sub-produzir estes bens e serviços diretamente. Por outra
parte, em tanto não existe competência entre os usuários destes bens e serviços, existe a
tendência dos usuários de sobre-explorá-los ou sobrecarregar as suas funcionalidades.
Por fim, como consequência dessas características, o preço dos bens é frequentemente
baixo ou inexistente, situação que se traduz na inexistência de um mercado onde possam ser
transacionados, que é chamada pela bibliografia autorizada como uma “falha de mercado”,123
a qual deve ser corrigida pelo Estado.
Em resumo, o uso não sustentável dos serviços ecossistêmicos de suporte e de
regulação e a sua constante perda e degradação encontra-se intimamente relacionado à falta
de mecanismos de recompensa pelas externalidades positivas associadas aos serviços que os
ecossistemas fornecem e a sua natureza de bens públicos, situação que, por sua vez,
desencadeia uma falha de mercado associada a esse tipo de bens e serviços. Assim, faz-se
necessário internalizar as externalidades positivas decorrentes dos benefícios associados aos
serviços de regulação e de suporte fornecidos pelos ecossistemas, a fim de corrigir essa falha
do mercado.
exclusividade, todos aqueles que não querem (ou não podem) pagar para lhe ter acesso não podem ser excluídos dos seus benefícios ou dos seus efeitos nefastos. Dito de outra forma, é impossível ou mesmo proibitivamente dispendioso excluir do seu uso ou do seu consumo os ‘não pagadores’”, em Ibidem. 122 “Agricultores, por exemplo, se preocupam pouco com os beneficios potenciais da retenção de carbono na floresta para o clima global ou o valor da fauna e flora ainda desconhecidas para os fins das indústrias cosmética e farmacêutica. Para o produtor, individualmente, tende a prevalecer o benefício direto do uso de recursos naturais pelos meios acessíveis a ele. Isso pode ser verificado, no âmbito da Amazônia brasileira, pela comparação entre os preços da terras nos mercados fundiários. Os preços da terras com floresta em pé encontram-se geralmente abaixo do valor das terras desmatadas com características semelhantes. Por exemplo, no ano de 2005, os preços das terras no estado do Amazonas variavam entre R$ 39/ha e R$ 102/ha para terras com cobertura florestal, enquanto que áreas com pastagens valiam entre R$ 204/ha e R$ 918/ ha. No mesmo ano, em Mato Grosso, terras florestadas eram cotadas entre R$ 208/ha e R$ 1441/ha, em contraste com a cotação de R$ 689/ha a R$ 3793/ha para pastagens. Isso implica que grande parte dos compradores da terras atribuem um valor negativo à floresta em pé (dependendo do custo da sua conversão para outros usos)”, em WUNDER Sven, BÖRNER Jan, RU ̈GNITZ Marcos Tito e PEREIRA Lígia, Pagamentos por serviços ambientais: perspectivas para a Amazônia Legal, – Brasília: MMA, 2008. 123 MADEIRA BELBUTE, José Manuel, Externalidades: O que “não economistas” devem saber, Évora, Protugal: Departamento de Economia, Universidade de Évora, Portugal, 2008 em http://www.ua.pt/ii/ocupacao_dispersa/ReadObject.aspx?obj=4876
59
Nesse sentido, a internalização das externalidades tem o potencial de mudar a
racionalidade e o comportamento dos agentes econômicos associados ao fornecimento e uso
desse tipo de bens e serviços. Além do mais, a internalização das externalidades positivas
através do reconhecimento de recompensas ou incentivos pode encorajar os fornecedores dos
serviços a proteger o capital natural, melhorando a sua oferta e controlando a sua procura:
A falta deste mecanismo de recompensa/compensação (que no mercado está presente e se traduz pelo comportamento dinâmico dos preços) é particularmente importante nas externalidades pois impede que os agentes recebam o incentivo necessário para tomarem em consideração no seu comportamento os efeitos externos a eles associados e que, se existisse, deixariam de ser “não intencionais”. Consequentemente, as acções externas positivas tendem a não ser suficientemente encorajadas e a sua “oferta” será sempre escassa. Pelo contrário, as externalidades negativas não são suficientemente desencorajadas e, por isso, a sua “oferta” estará sempre em excesso. A poluição é um exemplo de uma externalidade que tende a estar disponível em claro “excesso-de-oferta”.124
6.1.3 Do valor dos serviços ecossistêmicos
A falha ou ausência de mercado desencadeia o nosso terceiro ponto de análise: a falta
de valoração dos serviços ecossistêmicos. Como manifesta Stanton, “a falta de um mercado
desencadeia a falta de um sistema de preços que esteja em capacidade de sinalizar a escassez
ou degradação dos serviços ecossistêmicos”125. Nesse sentido, desde a segunda metade da
década dos anos noventa vem se formulando trabalhos acadêmicos voltados à necessidade de
atribuir valor aos serviços ecossistêmicos126. Esses trabalhos apontaram a necessidade de
desenvolver estratégias de valorização econômica dos serviços providos pelos ecossistemas
necessários para sustentar a vida no nosso planeta, uma vez que os serviços não são
corretamente valorizados e contabilizados, o que faz com que se gerem distorções negativas
que incentivam a sua paulatina degradação, como explicado anteriormente.127
Um dos mais importantes estudos relativos ao valor econômico dos ecossistemas e dos
seus serviços foi publicado em 1997 por Robert Constanza, em parceria com outros
pesquisadores da Universidade de Maryland nos Estados Unidos. Segundo o artigo de
Constanza, o valor aproximado dos serviços prestados pelos ecossistemas é de USD$ 33 124 Ibidem, p 4 125 STANTON Marcia, Payments for Freshwater Ecosystem Services: A Framework for Analysys, West Northwest Journal of Environmental Law & Policy, Volume 18, Número 1, 2012 126 NUSDEO, DE OLIVEIRA, Ana Maria, Pagamentos por Serviços Ambientais, Sustentabilidade e disciplina jurídica, São Paulo: Editora Atlas, , 2012, p. 98., p. 92. 127 GOULDER Lawrence H, KENNEDY Donald, Interpreting and Estimating the Value of Ecosystem Services, Stanford University, Estados Unidos, 2009. Em http://www.stanford.edu/~goulder/Goulder%20and%20Kennedy%20%20Ecosystem%20Service%20Values.pdf
60
trilhões de dólares anuais, sendo que a grande maioria dos bens e serviços encontram-se fora
do sistema de mercado.128 Esse valor corresponde ao valor médio do total da biosfera
calculado por Constanza e seu time (entre USD$15 e USD$54 trilhões de dólares), após terem
avaliado relatórios sobre o valor de 17 serviços ecossistêmicos em 16 biomas diferentes
publicados no mundo todo. Interessante registrar que, na época em que foi desenvolvido o
estudo, o PIB mundial ascendia a USD$18 trilhões de dólares.
Segundo os pesquisadores, a valoração dos serviços que os ecossistemas fornecem é
essencial para a sustentabilidade dos seres humanos na biosfera, uma vez que a falta de
valoração desses bens e serviços influencia negativamente a tomada de decisões no âmbito
das políticas públicas em matéria de consumo de bens e serviços naturais, assim como de
políticas direcionadas à sua conservação e preservação. Explicam os autores que os serviços
ecossistêmicos encontram-se “fora” dos mercados comerciais, e que estes não são
devidamente quantificados quando comparados a outros serviços econômicos e de capital
manufaturado. Assim, o peso relativo desses serviços na racionalidade política e econômica
dos tomadores de decisão, assim como dos indivíduos, é presumivelmente muito menor do
que seria se fossem efetivamente valorizados pelo sistema econômico.
No entanto, o próprio Contanza já apontava as enormes dificuldades associadas à
valoração dos serviços ecossistêmicos. De fato, levando em consideração essas dificuldades,
o seu trabalho apontou valores estimados dentro de intervalos de valor possíveis dos bens e
serviços ecossistêmicos, chamados por ele de capital natural. Nesse sentido, o próprio
Constanza indicou que o seu esforço era apenas preliminar e tinha como objetivo fazer a
primeira aproximação aos valores da biosfera terrestre. Para efeitos desta contribuição, o
aspecto mais relevante do trabalho desenvolvido por Constanza é que o seu esforço
(independente das múltiplas críticas que recebeu) colocou sobre o assunto a importância da
valoração dos serviços ambientais em primeiro plano internacional. Ele mesmo já havia
identificado como um dos objetivos do seu trabalho “estimular e propiciar o debate” sobre a
128 “We estimated that at the current margin, ecosystems provide at least US$33 trillion dollars worth of services annually. The majority of the value of services we could identify is currently outside the market system, in services such as gas regulation (US$1.3 trillion yr21), disturbance regulation (US$1.8 trillion yr21), waste treatment (US$2.3 trillion yr21) and nutrient cycling (US$17 trillion yr21). About 63% of the estimated value is contributed by marine systems (US$20.9 trillion yr21). Most of this comes from coastal systems (US$10.6 trillion yr21). About 38% of the estimated value comes from terrestrial systems, mainly from forests (US$4.7 trillion yr21) and wetlands (US$4.9 trillion yr21).” CONSTANZA, Robert, D´ARGE Ralph et al. The Value of the world`s ecosystems services and natural capital, Revista Nature, v. 387, no 6630, p. 253-260, 1997, em http://www.esd.ornl.gov/benefits_conference/nature_paper.pdf
61
importância econômica e social dos ecossistemas e dos serviços que estes fornecem e da sua
valoração, objetivo que, sem dúvida, é alcançado através da sua publicação.
Importante registrar até aqui que esses três desafios (falta de conhecimento, natureza
de externalidade e de bem público e dificuldade na estimação do valor econômico dos
ecossistemas e dos seus serviços) exigem a adoção de enfoques de política pública que
considerem a necessidade de promover o conhecimento científico, a internalização destas
externalidades e a valoração econômica dos ecossistemas e dos seus serviços. Pode-se
afirmar, portanto, que as políticas direcionadas à conservação, preservação e uso sustentável
dos ecossistemas e dos seus serviços devem considerar essas características especiais, sob
pena de não atingir os resultados esperados.
Nesse contexto específico, acredita-se ser necessário promover as atividades de
preservação, conservação e uso sustentável dos ecossistemas através da internalização das
externalidades positivas decorrentes dos ecossistemas e dos seus serviços, além de promover
a aplicação das metodologias de valoração econômica desses bens e serviços, sobretudo
daqueles que, por sua natureza e caraterísticas, carecem de um mercado e de preços em nosso
sistema. Na continuação, analisa-se a legislação ambiental nacional e internacional para
verificar se o nosso ordenamento oferece o sustento necessário para desenvolver esse tipo de
iniciativa no marco do direito ambiental atual.
6.2 SUSTENTO JURÍDICO DAS INICIATIVAS DIRECIONADAS À CONSERVAÇÃO,
PROTEÇÃO E MELHORIA DOS ECOSSISTEMAS E DOS SEUS SERVIÇOS: ANÁLISE
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO E
INTERNACIONAL
No âmbito do direito internacional ambiental, a corrente acadêmica que promove a
implementação de instrumentos econômicos e de valorização dos serviços ambientais
encontra fundamento legal nos textos dos Instrumentos da ECO92, especificamente na
Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Declaração de
Rio), assim como na Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB). Vejamos.
A Declaração de Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento estabeleceu vários
princípios do direito internacional ambiental diretamente aplicáveis à matéria desta
contribuição: ressaltam-se os princípios 4, 7 e 16, os quais mencionam a necessidade de
62
proteger o meio ambiente como mecanismo para atingir o desenvolvimento sustentável;129 o
dever de cooperação dos Estados para a conservação, proteção e restauração da saúde e
integridade do ecossistema terrestre, assumindo as suas responsabilidades comuns, porém
diferenciadas, nesse esforço global;130 e, finalmente, a necessidade de internalizar os custos
ambientais (externalidades negativas) e de adotar instrumentos de mercado (como forma de
internalizar as externalidades positivas).131 Este princípio indica ainda a necessidade de o
poluidor assumir os custos ambientais decorrentes das externalidades negativas associadas às
suas atividades, ou seja, que assuma o valor da degradação ambiental decorrente das
atividades que desenvolve (princípio do poluidor-pagador).
Por sua vez, a CDB estabelece, no seu Artigo 1, o seu objetivo principal: a
conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a
repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos.132
Este objetivo deverá ser atingido, dentre outros, através da outorga de incentivos à
conservação e utilização sustentável dos componentes da diversidade biológica que sejam
econômica e socialmente razoáveis, levando em consideração a situação particular de cada
Estado membro.133
No contexto específico do Brasil, o sustento jurídico para implementar estratégias de
incentivo positivo aos labores de conservação, preservação e melhoria dos ecossistemas e dos
seus serviços encontra fundamento em normas de categoria constitucional e
infraconstitucional. Assim, o Artigo 225 da Constituição Federal estabelece o direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à
129 ORGANIZAÇAO DAS NAÇOES UNIDAS, Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Princípio 4: “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.” Em http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf 130 Ibídem, Princípio 7: “Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as diversas contribuições para a degradação do meio ambiente global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e as tecnologias e recursos financeiros que controlam.” 131 Ibídem, Princípio 16: “As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais.” em ibidem. 132 CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, em http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/cdbport_72.pdf 133 Ibídem, Artigo 11: “Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, adotar medidas econômica e socialmente racionais que sirvam de incentivo à conservação e utilização sustentável de componentes da diversidade biológica.”
63
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Especificamente sobre a matéria da nossa contribuição, o § 1º, Inciso I do Artigo 225 da
Constituição Federal estabelece o dever do Estado de preservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
Para efeitos de entendermos o significado do dever de preservar, restaurar e manejar
ecologicamente as espécies e os ecossistemas, a Lei 9.985 de 2000, Artigo 2 (Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC), define esses conceitos assim:
V- preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;
XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original; VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;
Por sua vez, o conceito de manejo pode ser entendido em sentido amplo a partir da
definição de “conservação” da natureza, definida pelo Inciso II do Artigo 2o da Lei 9.985 de
2000 como o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral
A Constituição ainda prevê, no artigo 225, o princípio de internalização das
externalidades negativas, isto é, o princípio do poluidor-pagador (Inciso VII, § 3º) e a
preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético (Inciso II).
Da leitura desses dispositivos constitucionais é possível extrair elementos
fundamentais para a nossa contribuição: pode-se afirmar que, com base no Artigo 225 e em
seu § 1º, I da Constituição Federal, existe um dever da coletividade e do Estado por
preservar, manter, restaurar e utilizar sustentavelmente os ecossistemas e seus processos
ecológicos (entendendo por processos ecológicos os serviços ecossistêmicos), incluindo
aqueles relativos ao patrimônio genético, visando a manter sua integridade, e, por essa via,
sua capacidade de satisfazer às necessidades e aspirações da sociedade como um todo.
Portanto, desde uma interpretação sistemática da Constituição e da Lei, identifica-se o
sustento constitucional relativo aos labores de preservação, conservação e uso sustentável dos
ecossistemas e dos seus serviços, ressaltando a sua importância para o bem-estar do povo
64
brasileiro, e promovendo a internalização das externalidades negativas decorrentes da sua
degradação.
Por fim, falando em dispositivos infraconstitucionais relativos à matéria da nossa
contribuição, ressaltam-se dois: a Lei 12.305 de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)
e a Lei 12.651 de 2012 (Novo Código Florestal). Sobre o primeiro dispositivo, o Artigo 6 da
Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece no seu inciso segundo, além do princípio do
poluidor-pagador consagrado na Constituição Federal, o princípio do “protetor-recebedor”,
isto é, o princípio de internalização das externalidades positivas decorrentes das atividades de
preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente
natural. Considera-se um avanço significativo a positivação desse princípio da legislação
brasileira, uma vez que constitui um avanço dentro da legislação ambiental relativo à
necessidade de reconhecer incentivos positivos a esse tipo de labores.
Por sua vez, o Artigo 41, Inciso I do Novo Código Florestal estabelece a autorização
outorgada ao Poder Executivo para instituir programas de apoio e incentivo à conservação do
meio ambiente, incluindo especificamente os Sistemas de Pagamentos por Serviços
Ambientais. O Artigo ainda estabelece a possibilidade de desenvolver esse tipo de programa e
política para a gestão sustentável dos seguintes serviços ecossistêmicos: a) o sequestro, a
conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono; b) a
conservação da beleza cênica natural; c) a conservação da biodiversidade; d) a conservação
das águas e dos serviços hídricos; e) a regulação do clima; f) a valorização cultural e do
conhecimento tradicional ecossistêmico; g) a conservação e o melhoramento do solo; h) a
manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. O
Artigo 41 do Novo Código Florestal e especificamente o seu Inciso I podem ser considerados
como a materialização da nova tendência do ordenamento jurídico ambiental por positivar
ferramentas próprias do direito promovedor. Nesse sentido, acredita-se que este artigo possa
ser muito relevante para efeitos de materializar iniciativas do Poder Executivo relativas à
proteção e conservação dos serviços ecossistêmicos das florestas e demais áreas abrangidas
pelo Código.
Conclui-se que tanto o ordenamento jurídico internacional quanto o ordenamento
jurídico doméstico estabelecem princípios, diretrizes, deveres e ferramentas relativas aos
labores de gestão sustentável dos ecossistemas e dos seus serviços. Nesse sentido, os sistemas
de incentivo, como os Sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais, encontram sustento
legal e são reconhecidos em nível internacional, constitucional e infraconstitucional, situação
que favorece o desenvolvimento desse tipo de iniciativa.
65
Além disso, a constitucionalização do dever de proteger, preservar e manejar
sustentavelmente os ecossistemas e seus serviços impõe ao direito ambiental brasileiro a
necessidade de considerar novos enfoques de política pública ambiental destinados a
materializar o imperativo constitucional antes referido. Portanto, pode-se afirmar que existe
não somente a possibilidade, mas também o dever e a necessidade de considerar ferramentas
do direito promotor a fim de atingir os postulados da Constituição Federal e, dessa maneira, a
materialização do Estado Socioambiental como modelo.
6.3 OS SISTEMAS DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO
FERRAMENTAS DO ORDENAMENTO JURIDICO COM FUNÇAO PROMOVEDORA:
ANÁLISE
Como indica a bibliografia autorizada, existem várias definições dos sistemas de
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). No entanto, para efeitos desta contribuição,
abordam-se somente duas das mais reconhecidas: a definição de Sven Wunder e a de Roldan
Muradiam. A razão por trás dessa escolha metodológica diz respeito à complementaridade das
duas definições, sendo que, em nosso entender, a primeira trata-se de uma definição
intencional ou coativa, isto é, que define o conceito baseada nos elementos que se consideram
necessários para que esses sistemas possam ser considerados como tais, enquanto a segunda
pode ser considerada como uma definição de precisão, ou seja, que visa a precisar um
conceito considerado como vago ou errado.134
Assim, segundo Sven Wunder.135 os sistemas de PSA podem ser definidos como as
transação voluntária nas qual um serviço ecossistêmico bem definido (ou um uso do solo com potencial de segurar o aprovisionamento deste serviço) é comprado por um comprador (pelo menos um) de um fornecedor (pelo menos um), sempre que o fornecedor assegure o fornecimento do serviço ecossistêmico (condicionalidade).
Nesse sentido, Wunder identifica os elementos principais da essência dos sistemas de
PSA da seguinte forma: (i) transação voluntária; (ii) serviço ecossistêmico bem definido; (iii)
134 Para maies informações sobre a tipologia das definições, vide http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/philosophy/people/faculty/longworth/definitions.pdf 135 “Un sistema de PSA es una transacción voluntaria, donde un SA bien definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio); es ‘comprado’ por al menos un comprador de SA; a por lo menos un proveedor de SA; sólo si el proveedor asegura la provisión del SA transado (condicionamiento)”, tradução nossa, em WUNDER Sven, Payments for Environmental Services: some Nuts and Bolts, CIFOR Occasional Paper No. 42, versão em espanhol, 2005.
66
comprador; (iv) fornecedor; (v) pagamentos condicionados. Na visão de Wunder, poucos
sistemas cumprem na prática as cinco características identificadas. No entanto, considera o
autor que essas características são da essência dos sistemas de PSA, razão pela qual diferencia
“sistemas de PSA propriamente ditos” e “sistemas similares a PSA”.136
Por sua vez, Roldan Muradian,137 no ânimo de precisar a definição de Wunder, define
os sistemas de PSA como
a transferência de recursos entre atores sociais, a qual visa a criar incentivos para conciliar decisões individuais e/coletivas sobre o uso do solo com o interesse social no manejo dos recursos da natureza.
Das definições antes sinalizadas, pode-se afirmar que os Sistemas de Pagamento por
Serviços Ambientais são ferramentas de incentivo positivo direcionadas a promover o
fornecimento de serviços ecossistêmicos (ou seja, direcionadas a internalizar as
externalidades positivas) por parte dos gestores dos ecossistemas, levando em consideração a
utilidade pública e interesse social desses serviços para a sociedade, e a capacidade dos
incentivos de mudar as decisões dos atores econômicos. Nas palavras de Altmann, “a lógica
do PSA, por conseguinte, é o estímulo às condutas ambientalmente desejáveis, mediante
remuneração pelos serviços ambientais prestados pelo provedor à comunidade.”138
Salienta-se que os Sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais visam a
internalizar as externalidades positivas, ou seja, reconhecem o valor social e econômico das
atividades relacionadas à proteção, conservação e uso sustentável dos ecossistemas e dos seus
serviços mediante a outorga de incentivos a esse tipo de atividade. Mais especificamente, os
sistemas de PSA têm como grande diferencial a possibilidade de internalização das
externalidades positivas associadas aos serviços ecossistêmicos com valores de uso indireto,
ou seja, aqueles serviços ecossistêmicos que não podem ser diretamente utilizados pelo
homem e, portanto, não têm um mercado e um preço definidos.139 Exemplos típicos são os
serviços de suporte e os serviços de regulação, entre os quais se destacam a ciclagem de
nutrientes, a produção do solo, o controle da erosão, a purificação da água e do ar, etc. 136 Ibidem, p. 4 137 MURADIAN Roldan et al., Reconciling Theory and Practice: An Alternative Conceptual Framework for Understanding Payments for Environmental Services, Economic Ecology,. 1202, Volume 69, p. 1202-1208, em http://econpapers.repec.org/RePEc:eee:ecolec:v:69:y:2010:i:6:p:1202-1208 138 ALTMANN Alexandre, Pagamentos por Serviços Ambientais como Mecanismo Econômico para a Mitigação das Mudanças Climáticas no Brasil. In: Rech, Adir Ubaldo (ORG), Direito e Economia Verde Natureza jurídica e aplicações práticas dos pagamentos por serviços ambientais como instrumento de ocupações sustentáveis, Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul – Educs, 2011, p. 102. 139 Ídem, Pagamentos por Serviços Ecológicos: Uma estratégia para a restauração e preservação das mata ciliar no Brasil?, Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2008
67
Nesse sentido, é importante frisar que a bibliografia autorizada sobre a valoração dos
ecossistemas indica a existência de metodologias que procuram estabelecer o chamado Valor
Econômico Total (VET) dos bens e serviços ecossistêmicos, dependendo do seu uso ou não
uso.140 O VET corresponde ao cálculo dos valores de uso (diretos e indiretos – VUD/VUI) ou
de não uso (opção e de existência – VO/VE).141 Assim, dependendo da natureza do bem ou
do serviço ecossistêmico, existirá a possibilidade de valorá-los com base em seu potencial de
uso direto (produtos ambientais como madeira, resinas, fibras, frutos, sementes, etc.), ou será
necessário aplicar outras metodologias baseadas em valores que são indicados por outros
meios não dependentes do uso (por exemplo, a beleza cênica, a importância religiosa e
cultural de um ecossistema que não considera o fator “uso” como determinante).142
O Valor de Uso Direto refere-se a bens e serviços do ecossistema que são utilizados
diretamente pelos seres humanos. Esses bens e serviços contam normalmente com preços e
com mercado já definidos. Por sua vez, o Valor de Uso Indireto refere-se aos bens e serviços
do ecossistema associados aos chamados serviços ecossistêmicos de suporte, os quais podem
ser considerados como requisitos ou insumos intermediários naturais para a produção de bens
e serviços finais.143 Como explica Altmann, “os valores de uso direto são considerados por
uma gama de instrumentos econômicos utilizados pelos gestores ambientais hoje, enquanto os
valores de uso indireto foram esquecidos pela economia”.144
Como resultado, vários serviços ecossistêmicos de grande importância para o bem-
estar humano foram negligenciados pela economia no sentido de desconhecer o seu valor para
os seres humanos. Esses serviços, como explicado anteriormente, são aqueles que não podem
ser utilizados diretamente pelo homem, uma vez que se trata de processos químicos e físicos
que ocorrem nos ecossistemas, mas que são fundamentais para fornecer condições de bem-
estar. Como os serviços de Uso Direto (fundamentalmente os serviços de aprovisionamento)
têm um mercado e, portanto, um preço, era necessário identificar ferramentas de mercado
para internalizar os serviços ecossistêmicos de Uso Indireto, seriamente ameaçados por sua
falta de valoração e de incentivos do nosso sistema.
140 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA E DESARROLLO TERRITORIAL, hoje MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Metodologias para la Valoración Economica de Bienes, Servicios Ambientales y Recursos Naturales, Bogotá, D.C, 2003. 141 Ibidem, p. 10 et seq. 142 Ibidem, p. 10 et seq. 143 Ibidem, p. 10 et seq. 144 ALTMANN, Alexandre, Pagamentos por Serviços Ecológicos: Uma estratégia para a restauração e preservação das mata ciliar no Brasil?, Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2008p. 135
68
Os sistemas de PSA como ferramenta baseada na outorga de incentivos positivos veio
preencher o vazio que existia no “kit” de políticas públicas ambientais direcionadas à
conservação e uso sustentável dos ecossistemas, uma vez que a sua principal característica,
como foi dito anteriormente, é a de valorizar e reconhecer incentivos positivos pelo
fornecimento eficaz dos serviços ecossistêmicos que não contam com um mercado e/ou um
preço específicos. Em outras palavras, os sistemas de PSA têm a capacidade de internalizar o
valor dos serviços chamados de Uso Indireto, ou seja, de valorizá-los e reconhecer incentivos
por seu fornecimento e aumento de sua capacidade, o que faz com que os atores econômicos
possam tomar decisões informadas e considerar a opção de proteger e fornecer esses serviços
em vez de aproveitar simplesmente os Valores Diretos do ecossistema, afetando o
aprovisionamento dos serviços de Uso Não Direto (serviços de suporte). Como resultado, os
sistemas de PSA podem ser considerados ferramentas do direito promovedor, no sentido de
que trabalham com sanções positivas, sejam monetárias ou não monetárias, que visam a
promover ações de proteção, conservação e uso sustentável de serviços e bens que não são
devidamente internalizados pelo sistema econômico.
6.4 CONCLUSÕES DA TERCEIRA PARTE
Tal e como foi explicado, as políticas públicas direcionadas à proteção, conservação
ou melhoria dos ecossistemas e dos seus serviços devem considerar vários desafios, entre os
quais se destacam a necessidade de promover o conhecimento científico sobre os
ecossistemas, a internalização das externalidades positivas relativas aos ecossistemas
(especificamente os serviços ecossistêmicos de Uso Indireto) e a valoração econômica dos
ecossistemas e dos seus serviços. Sobre este ultimo ponto, é muito importante entender que o
capital natural, ou seja, o conjunto de bens e serviços fornecidos pela natureza tem um alto
valor econômico e social. Porém, este valor econômico e social nem sempre foi devidamente
reconhecido pelo nosso sistema econômico, situação que fomentou a sub-produção e sobre-
procura destes bens e serviços. Neste contexto, os sistemas de PSA como ferramenta da
teoria dos Instrumentos Econômicos, tem o potencial de corrigir a falha de mercado associada
à falta de preços e de mercado dos bens e serviços ecossistêmicos de Uso Indireto,
fomentando a sua valoração, proteção, e melhoria através de incentivos positivos direcionados
à gestão sustentável dos ecossistemas e dos seus serviços.
Considerando as características dos Sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais
antes sinalizadas, é possível afirmar com um alto grau de certeza que essas iniciativas
69
correspondem inteiramente aos postulados ordenamento jurídico ambiental com função
promovedora. Em outras palavras, os sistemas de PSA podem ser considerados como a
materialização do princípio do protetor-recebedor e como ferramenta do direito ambiental
promovedor. Nesse sentido, os sistemas de PSA revelam o seu potencial como ferramentas de
mitigação e de adaptação às mudanças climáticas. A modo de conclusão, adotamos as
palavras de Altmann sobre o assunto:
É importante salientar que o PSA confere uma função promocional ao direito ambiental. De fato, ao operacionalizar os incentivos positivos, o PSA supera a fase histórica do direito ambiental brasileiro concentrado em instrumentos de repressão (...) Assim, o PSA deve ser visto como um complemento dos atuais instrumentos de comando e controle, com o objetivo de tornar efetiva a tarefa de preservação ambiental, bem como as medidas de mitigação e de adaptação às mudanças do clima. As particularidades desta tarefa, bem como a sua complexidade, ao passo que demandam respostas efetivas do Poder Público e da sociedade, justificam o emprego de mecanismos econômicos de incentivo positivo, tais como o PSA.145
145 ALTMANN Alexandre, Pagamentos por Serviços Ambientais como Mecanismo Econômico para a Mitigação das Mudanças Climáticas no Brasil. In: Rech, Adir Ubaldo (ORG), Direito e Economia Verde Natureza jurídica e aplicações práticas dos pagamentos por serviços ambientais como instrumento de ocupações sustentáveis, Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul – Educs, 2011, p. 102.102.
70
7. QUARTA PARTE: OS LABORES DE MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO
BASEADOS NA GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS: DO PAPEL DOS
SISTEMAS DE PSA NA MITIGAÇÃO E NA ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA
Entendendo os sistemas de Pagamentos por Serviços Ambientais como uma ferramenta
de gestão sustentável dos ecossistemas e dos seus serviços, esse tipo de iniciativa tem o
potencial de proteger, conservar e melhorar os serviços ecossistêmicos relevantes para as
atividades de mitigação e de adaptação às mudanças do clima, entre os quais se destacam o
sequestro e estocagem de carbono, a conservação dos serviços hídricos e a conservação da
biodiversidade.
Como foi explicado na primeira parte desta contribuição, o Relatório do Segundo Grupo
AHTEG, publicado em 2009, elaborou sobre dois enfoques teórico-práticos relativos ao papel
dos ecossistemas como ferramentas de mitigação e de adaptação às mudanças do clima: a
Mitigação baseada nos Ecossistemas (EbM) e a Adaptação baseada nos Ecossistemas (EbA).
Esses dois enfoques reconhecem a necessidade de proteger, preservar, recuperar e, inclusive,
aumentar a capacidade dos ecossistemas de fornecer serviços ecossistêmicos relativos aos
labores de mitigação e de adaptação às mudanças do clima. Além disso, o conhecimento
científico arrecadado nesse sentido indica que a perda dos ecossistemas e dos seus serviços
tem o potencial de aumentar significativamente o aquecimento global como consequência das
interações entre os componentes bióticos e abióticos e a atmosfera terrestre.
Portanto, as atividades de manutenção, preservação, conservação, recuperação ou
melhoria dos serviços ecossistêmicos e, mais especificamente, daqueles diretamente
relacionados aos labores de mitigação e de adaptação às mudanças do clima, são
fundamentais para encararmos as consequências do aquecimento global. Na continuação, são
analisados os principais aspectos da EbA e da EbM.
7.1 A MITIGAÇÃO BASEADA NOS ECOSSISTEMAS (EbM): DO ENFOQUE DE
MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS DO CLIMA ATRAVÉS DA GESTÃO SUSTENTÁVEL
DOS ECOSSISTEMAS E DOS SEUS SERVIÇOS
A Gestão do Carbono nos Ecossistemas, ou Mitigação baseada nos Ecossistemas
(EbM), pode ser definida como “o uso dos ecossistemas para a captura e sequestro de carbono
71
para ajudar a mitigação das mudanças do clima.”146 A EbM baseia-se no conhecimento
científico do ciclo do carbono global, o qual indica que a perda ou degradação dos
ecossistemas tem o potencial de acelerar as mudanças do clima e de piorar os efeitos
negativos decorrentes da interferência antrópica no sistema climático global, uma vez que os
ecossistemas terrestres e marinhos desenvolvem um papel fundamental na captura e sequestro
de carbono associado ao intercâmbio de gases que ocorre entre a biosfera (terrestre e
marinha), o solo e a atmosfera.147
Assim, a afetação negativa dos ecossistemas pode ter efeitos deletérios no serviço
ecossistêmico de sequestro e estocagem de carbono, afetando a capacidade dos ecossistemas
de absorver e armazenar carbono, inclusive tornando-os fontes de carbono se a sua capacidade
de sequestro for excedida ou afetada por sua degradação.148 Em outras palavras, a EbM visa a
proteger e promover os “mecanismos biológicos dos organismos fotossintéticos para
capturarem carbono e armazená-lo na biomassa na forma de matéria orgânica em sedimentos
de variado tipo”.149
Nesse sentido, é importante compreender que os ecossistemas terrestres armazenam
aproximadamente 2.500 Gt C, mais ou menos três vezes a quantidade que existe na atmosfera
na atualidade (aproximadamente 750Gt)150, e que 38.000Gt C adicionais estão armazenadas
nos oceanos (37.000 nas profundezas do oceano e 1000Gt nas capas superiores deste).151
Segundo o conhecimento científico arrecadado até a atualidade, uma grande parte do carbono
terrestre está armazenada nas florestas (aproximadamente 1.150Gt C), sendo que a vegetação
armazena de 30 a 40% do carbono, e o restante, 60 a 70%, encontra-se armazenado no solo.
No entanto, a ciência disponível indica que outros estoques significativos de carbono
encontram-se em outros ecossistemas, tais como os banhados e as turfas. Assim, por exemplo,
146 DOSWALD Natalie, OSTA Matea, UNEP-WCMC, Ecosystem-based approaches to adaptation and mitigation – good practice examples and lessons learned in Europe, Bonn, Alemanha: Bundesamt fu ̈r Naturschutz (BfN), Federal Agency for Nature Conservation, ,2011. 147 "Photosynthesising organisms – mostly plants on land and various kinds of algae and bacteria in the sea – use either atmospheric carbon dioxide or that dissolved in sea water as the basis for the complex organic carbon compounds that are essential for life. The vast majority of organisms, including photosynthesising ones, produce carbon dioxide during respiration (the breaking down of organic carbon compounds to release energy used by living cells). Burning of carbon compounds also releases carbon dioxide”, em TRUMPER, K., BERTZKY, M., et al.. The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation. A UNEP rapid response as- sessment. Cambridge, Reino Unido: United Nations Environment Programme, UNEP- WCMC, 2009. 148 Ibidem. p. 7 et seq. 149 Ibidem p. 8 150RAVINDRANATH, N. H. and OSTWALD, M., Carbon Inventory Methods Handbook for Greenhouse Gas Inventory, Carbon Mitigation and Roundwood Production Projects. Springer Verlag, Advances in Global Change Research, pp 304, ISBN 978-1-4020-6546-0, 151 CHRISTOPHER Sabine et al. . The Oceanic Sink for Anthropogenic CO2. Revista Science 16 July 2004: Vol. 305. no. 5682, pp. 367 – 371,
72
estima-se que as turfas armazenam cerca do 30% do total de carbono terrestre, embora
ocupem só 3% da superfície terrestre.152 Se esses estoques de carbono forem liberados,
espera-se que as concentrações de carbono na atmosfera aumentem significativamente,
acelerando o aquecimento global e promovendo a ocorrência de impactos mais severos nos
sistemas naturais e humanos. Como consequência, a proteção dos estoques de carbono na
biosfera, junto com a recuperação de áreas degradadas e o florestamento, são consideradas
atividades prioritárias de mitigação sob um enfoque ecossistêmico.
Em resumo, a EbM reconhece que o serviço de regulamentação do clima fornecido
pela biodiversidade é fundamental para o ciclo de carbono, e que é possível promover a
mitigação através das seguintes alternativas de gestão dos ecossistemas:
(i) proteção dos estoques de carbono atualmente existentes;
(ii) aumento da capacidade de captura e sequestro de carbono na biomassa através
das atividades de recuperação de ecossistemas e solos degradados; e
(iii) aumento da capacidade do sistema natural de capturar carbono, aumentando os
sumidouros naturais existentes por meio de projetos de florestamento e
reflorestamento.153
Tais atividades são aplicáveis tanto aos ecossistemas naturais quanto aos ecossistemas
gerenciados pela humanidade, e sua aplicação pode trazer benefícios tangíveis para a natureza
e para as populações que dependem, direta ou indiretamente, de seus serviços. Nesse sentido,
a COP-CDB indica que
O potencial para reduzir emissões e aumentar o sequestro de carbono pela gestão dos usos do solo é estimado num intervalo de 0.5-4 GtCO2-eq por ano para as atividades florestais (REDD, florestamento, gestão das florestas e sistemas agroflorestais, incluindo a gestão nas mudanças nos usos do solo (LULUCF)), e 1-6 GtCO2-eq por ano para as atividades na agricultura.154
152 PARISH,F., SINN,A., et al, Assessment on Peatlands, Biodiversity and Climate Change: Main Report. Wageningen: Global Environment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands International,. Asia-Pacific Network for Global Change Research, 2008. In: SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, em http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf 153 Ibidem, p. 87 154 Ibidem, p. 89
73
7.2. A ADAPTAÇÃO BASEADA NOS ECOSSISTEMAS – EbA: DO ENFOQUE DE
ADAPTAÇÃO BASEADA NA GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS E
DOS SEUS SERVIÇOS
A Adaptação baseada nos Ecossistemas (EbA, na sigla em inglês) foi definida pelo
Relatório do Segundo AHTEG sobre Biodiversidade e Mudanças do Clima como
o uso da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos dentro de uma estratégia integral de adaptação às mudanças do clima, a qual inclui a gestão sustentável, a preservação e a restauração dos ecossistemas, a fim de que estes forneçam serviços que ajudem as pessoas e os ecossistemas a se adaptarem aos efeitos deletérios das mudanças do clima.155
Assim, o enfoque de adaptação baseada no ecossistemas indica a necessidade de
aumentar a resiliência dos ecossistemas e das pessoas, reduzindo os impactos esperados sobre
eles, assim como usar a biodiversidade como ferramenta para nos adaptarmos às mudanças do
clima.156 Nesse sentido, é importante compreender que os ecossistemas e os seus serviços têm
uma relação dupla com as mudanças do clima: (i) os ecossistemas podem se ver seriamente
afetados pelas mudanças climáticas, as quais têm o potencial de afetar a sua quantidade e
qualidade, afetando, por sua vez, a disponibilidade dos serviços ecossistêmicos considerados
necessários para fornecer condições de bem-estar humano; (ii) os ecossistemas e os seus
serviços fornecem ferramentas muito eficazes para fazer frente aos efeitos deletérios
associados às mudanças climáticas, tais como os desastres, as enchentes, a proteção da
infraestrutura e a segurança humana, dentre outros.
Para materializar as atividades de proteção e conservação dos ecossistemas e de seus
serviços, o Relatório indica a necessidade de considerar mudanças nas estratégias de
conservação com o objetivo de incluir táticas para minimizar a perda da biodiversidade e
manter a oferta de serviços ecossistêmicos face às mudanças do clima. Nesse sentido, o
Relatório menciona quatro estratégias diferentes, mas complementares entre si:
1. Prover condições adequadas para promover a adaptação adequada das espécies e dos
155 SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, em http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf 156 Ibidem, p. 31-41
74
ecossistemas;157
2. Adaptar as práticas de recuperação e restauração dos ecossistemas;
3. Considerar a realocação assistida de algumas espécies afetadas pelas mudanças do
clima;
4. Conservação ex situ.
Por outra parte, o Relatório indica a necessidade de usar a biodiversidade como
ferramenta de adaptação dos sistemas naturais e humanos. Assim, o documento menciona
várias atividades relacionadas ao manejo sustentável dos ecossistemas, incluindo as
estratégias de manejo sustentável dos recursos hídricos, a agricultura sustentável, o uso da
biodiversidade para prevenir desastres como enchentes e deslizamento de terras, o
estabelecimento de áreas protegidas e corredores ecológicos a fim de manter a conectividade
e mobilidade das espécies, dentre outras muitas estratégias de gestão sustentável dos
territórios e dos ecossistemas. Nesse sentido, a EbA encontra-se intimamente ligada à EbM,
uma vez que as estratégias de adaptação podem promover a proteção e conservação dos
serviços ecossistêmicos associados à captura e estocagem de carbono.
As atividades EbA podem ser implementadas nas esferas regional, nacional ou local,
em projetos ou programas, e seus benefícios podem ser obtidos em escalas de curto e longo
prazo.158 Além disso, a EbA pode ser mais eficiente em termos de custo-benefício do que
implementar estratégias de adaptação baseadas na construção de infraestruturas. Por exemplo,
o Relatório indica que as atividades de adaptação que visam ao uso dos manguezais como
barreira de proteção e controle das enchentes pode, em algumas partes, ser equivalente a 157 “Reducing other stresses on species and ecosystems, including from habitat loss and fragmentation, invasive alien species, pollution, and overharvesting. Reducing these threats is necessary to maximize the resilience of species and ecosystems to climate change.•• Increasing protected area systems and improving the connectivity of protected areas and natural landscapes to provide opportunities for species to adapt to climate change by migration, and to increase the probability of maintaining viable populations of species. •• Identifying locations within landscapes where species have maintained populations in the face of past climate change (past climate refugia) and focus conservation efforts in these locations”, SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, em http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf •• Identifying existing locations that contain diverse environmental conditions (including latitudinal and elevational gradients, levels of moisture, soil types etc) in which to focus conservation efforts, as these areas are likely to provide the widest range of habitats in the future. •• Examining models to determine areas with future climatic suitability for ecosystems, and treat these areas as potential priorities for conservation. •• Prioritizing areas of high endemism, as many of these have been relatively climatically stable for millions of years and have species with a high degree of specialization. As the communities have largely evolved in situ, the options for relocation may be minimal so intensive efforts to maintain these areas in the face of climate change, or preserve their genetic diversity, may be crucial. •• Actively managing climate-related disturbance events, such as floods or droughts that may alter in both frequency and intensity in the future.” Em Ibidem, p. 31-41 158 Ibidem, p. 31-41
75
investimentos valorados em USD$300.000 por km, tomando como referência os custos
associados à instalação de barreiras artificiais para controlar esse tipo de desastre.159
Outra vantagem da EbA é o fato de ser muito mais acessível para as populações mais
pobres do que soluções baseadas em obras de infraestrutura de grande porte, além de integrar
e manter o conhecimento tradicional e os valores culturais das populações alvo.160
Por fim, o Relatório indica que, se a EbA for corretamente desenhada, implementada e
monitorada, essa estratégia pode render frutos positivos em termos sociais, econômicos e
culturais para as populações humanas, além de proteger, conservar e recuperar os
ecossistemas, ajudando-os a se adaptarem às mudanças negativas inevitáveis decorrentes das
mudanças do clima, e mantendo condições de bem-estar para as populações gestoras e
dependentes dos ecossistemas e dos seus serviços.161 Nesse sentido, a adaptação planificada
dos ecossistemas, conforme explicado anteriormente, é fundamental para promover a
adaptação dos ecossistemas num espaço determinado, limitando os vetores de degradação não
climáticos e monitorando as mudanças dos sistemas naturais e humanos, a fim de verificar a
sua adaptação.
Na atualidade, existem várias iniciativas de EbA ao redor do mundo todo. Os projetos
EbA abrangem desde a preservação e conservação de florestas e o estabelecimento de
sistemas agroflorestais, até o manejo sustentável de banhados e defesa das áreas costeiras, em
países tão variados como Colômbia, Equador, Burkina Fasso, Bangladesh, Paquistão, Haiti,
Filipinas, Quênia, Nigéria, Panamá e Brasil, além da União Europeia.162
159 SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, em http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf, 160 Ibidem, p.31-41 161 Ibidem, p.31-41 162 Para mais informações sobre projetos EbA, vide BIRDLIFE INTERNATIONAL, Partners with Nature – How healthy ecosystem´s are helping the world´s most vulnerable to adapt to climate change, 2011, em http://www.birdlife.org/climate_change/pdfs/Ecosystemsandadaption.pdf,; DOSWALD Natalie, OSTA Matea, UNEP-WCMC, Ecosystem-based approaches to adaptation and mitigation – good practice examples and lessons learned in Europe, Bonn, Alemanha: Bundesamt fu ̈r Naturschutz (BfN), Federal Agency for Nature Conservation, ,2011; BANCO MUNDIAL, Convenient Solutions for an Inconvenient Truth: Ecosystem-based Approaches to Climate Change, 2009, em http://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/Resources/ESW_EcosystemBasedApp.pdf
76
7.3. OS SISTEMAS DE PSA COMO FERRAMENTAS DA EbA E DA EbM
Com base nas características definidas por Wunder, vimos que os sistemas de PSA
visam a remunerar vários tipos de serviços ecossistêmicos, e podem envolver diferentes tipos
de atores. Assim, quando falamos em tipos de PSA por serviço ecossistêmico remunerado, a
teoria reconhece fundamentalmente quatro tipos: (i) PSA carbono; (ii) PSA biodiversidade;
(iii) PSA recursos hídricos; e (iv) PSA beleza cênica.163 Por sua vez, quando falamos nos
diversos atores envolvidos, é possível diferenciar esses sistemas em dois subtipos,
dependendo do tipo de pagador do serviço ecossistêmicos: (i) PSA públicos, nos quais o
Estado assume o pagamento dos incentivos (Estado como pagador dos serviços); e (ii) PSA
privados, nos quais os particulares assumem o pagamento e fornecimento dos serviços.164
Nos esquemas PSA carbono, o serviço ecossistêmico de sequestro e estocagem de
carbono é remunerado através de iniciativas de conservação e preservação das florestas em pé
ou de recuperação da mata nativa em áreas degradadas.165 No esquema PSA recursos hídricos,
são remuneradas as atividades de proteção e conservação das bacias hidrográficas, assim
como aqueles serviços associados ao controle da qualidade e ao fornecimento do recurso
hídrico.166 Os sistemas de PSA biodiversidade visam a remunerar os esforços em prol da
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas, e incluem variadas atividades, desde a
proteção de espécies ameaçadas até o estabelecimento de áreas protegidas e corredores
ecológicos, dentre outros.167 Por fim, os sistemas de PSA beleza cênica visam a remunerar o
valor paisagístico de uma área determinada, a qual é considerada como um serviço imaterial
normalmente associado aos valores culturais de uma região e/o população específicas.168
163 “Forests and natural ecosystems provide several kinds of environmental services, such as storm protection by mangrove forests, erosion control, pollination of crops, abatement of noise pollution, maintenance of air quality, and scenic beauty. However, not all of these are directly marketable, either because they are not perceived as valuable enough or due to economic and technical constraints as described above. It is useful to note that PES can help in securing only those environmental services for which environmental service users are willing to pay. To date, the four most common services found in developing country PES schemes are: carbon sequestration; watershed protection; biodiversity conservation; cenic beauty” em USAID, Lessons and best practices for pro-poor payment for ecosystem services, 2007 em http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/pes_sourcebook.1.pdf 164 FOREST TRENDS, THE KATOOMBA GROUP, E PNUMA, Payments for Ecosystem Services Getting Started: A Primer, 2008, ISBN: 978-92-807-2925- 165 Ibidem, p 2-3 166 Ibidem, p 2-3 167 Ibidem, p 2-3 168 Ibidem, p 2-3
77
Tabela II – Tipos de PSA169
PSA pelo tipo de serviço ecossistêmico
remunerado
PSA sobre conservação da biodiversidade
PSA sobre conservação dos recursos hídricos
PSA sobre sequestro e estocagem de carbono
PSA sobre beleza cênica
PSA pelo tipo de atores envolvidos PSA público
PSA privado
Em relação ao tipo de atores, os sistemas de PSA podem ser públicos ou privados; nos
sistemas de PSA públicos, o Estado reconhece o pagamento dos serviços ecossistêmicos
considerando a sua utilidade pública.170 Nesses casos, o Estado reconhece a necessidade de
fornecer incentivos positivos aos labores de proteção, conservação e uso sustentável dos
ecossistemas e dos seus serviços como consequência do seu dever de proteger e conservar os
recursos naturais, assim como também reconhece a necessidade de estabelecer novos
enfoques direcionados à conservação do capital natural de um país. Exemplos de PSA
públicos são encontrados na Costa Rica e na Colômbia, em nível federal, e no Brasil, em nível
estadual.
Os sistemas de PSA privados se caracterizam pelo fato de o pagador dos serviços
ecossistêmicos ser privado, com interesse em um ou vários serviços ecossistêmicos
considerados necessários para desenvolver as suas atividades produtivas ou humanas.171
Como manifesta Nusdeo, o pagador privado procura garantir o fornecimento de um serviço
ambiental, situação que pode ser mais eficiente em termos de custo-benefício do que investir
na sua substituição (se existir), ou pode procurar obter serviços econômicos indiretos relativos
à melhoria da imagem da sua empresa/atividade.172
Sejam públicos ou privados, os sistemas de PSA (nas suas quatro tipologias por
serviços ambientais) visam à remuneração das atividades de conservação, preservação e uso
169 FOREST TRENDS, THE KATOOMBA GROUP, E PNUMA, Payments for Ecosystem Services Getting Started: A Primer, 2008, ISBN: 978-92-807-2925- p. 4 170 NUSDEO, DE OLIVEIRA, Ana Maria, Pagamentos por Serviços Ambientais, Sustentabilidade e disciplina jurídica, São Paulo: Editora Atlas, , 2012. 171 Ibidem p 53-60 172 Ibidem p 53-60
78
sustentável dos ecossistemas. Essas atividades guardam consonância com aquelas necessárias
para proteger e aumentar os estoques de carbono, assim como as direcionadas a minimizar a
perda da biodiversidade e a manter a oferta de serviços ecossistêmicos em face às mudanças
do clima.
Assim, pode-se dizer que os sistemas de PSA têm o potencial de efetivar atividades de
EbA e de EbM na medida em que promovem a proteção e conservação dos serviços
ecossistêmicos relativos às atividades de mitigação e de adaptação às mudanças do clima. Por
esta razão, as atividades relativas aos PSA podem render benefícios adicionais, além de
corrigir falhas estruturais do mercado relativas aos serviços sem Valor de Uso Direto,
promovendo a melhoria do serviço ecossistêmico de captura e estocagem de carbono, assim
como o aumento da resiliência dos sistemas naturais e humanos através da proteção e
conservação dos diversos ecossistemas e de seus serviços.
79
8. CONCLUSÕES
As mudanças climáticas e os ecossistemas e seus serviços encontram-se intimamente
ligados. Nesse sentido, a proteção, conservação, recuperação ou melhoria dos ecossistemas e,
consequentemente, dos serviços que estes proveem são estratégicas e fundamentais para
assegurar o bem-estar das populações, assim como para fazer frente aos efeitos decorrentes do
aquecimento global. É nesse contexto que as iniciativas de PSA demostram o seu potencial
como ferramenta de mitigação e de adaptação às mudanças do clima baseadas na gestão
sustentável dos serviços ecossistêmicos.
Por fim, os sistemas de PSA como manifestação dos ordenamentos jurídicos com
função promovedora ganham importância cardinal para a prática e a teoria jurídica do direito
ambiental contemporâneo, com base em uma sociedade confrontada com novos desafios
decorrentes das alterações antropogênicas dos sistemas climáticos. Esses novos desafios
demandam uma rápida e contundente ação do sistema legal, com o objetivo de complementar
os tradicionais enfoques de política ambiental com novas aproximações que deem conta da
magnitude e da importância dos desafios decorrentes dos riscos climáticos. Acredita-se que a
mudança do sistema legal e, especificamente, do ordenamento jurídico ambiental, pode se
materializar através da implementação de enfoques promovedores destinados a reconhecer os
esforços positivos em prol do meio ambiente.
80
9. REFERÊNCIAS
ALTMANN, Alexandre. Pagamentos por Serviços Ecológicos: Uma estratégia para a restauração e preservação da mata ciliar no Brasil? Universidade de Caxias do Sul, 2008. ______. Pagamentos por Serviços Ambientais como Mecanismo Econômico para a Mitigação das Mudanças Climáticas no Brasil. In: Rech, Adir Ubaldo (ORG), Direito e Economia Verde – Natureza jurídica e aplicações práticas dos pagamentos por serviços ambientais como instrumento de ocupações sustentáveis. Caxias do Sul: Educs, 2011. ANDRADE, Daniel Caixeta; ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Serviços ecossistêmicos e sua importância para o sistema econômico e o bem-estar humano. UNICAMP, 2009, http://www.aprendizagempsa.org.br/biblioteca/documentos-em-geral/serviços-ecossistêmicos-e-sua-importância-para-o-sistema-econômico-e BALDWIN R.; CAVE, M.; LODGE, M. Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011 BANCO MUNDIAL, Convenient Solutions for an Inconvenient Truth: Ecosystem-based Approaches to Climate Change, 2009, em http://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/Resources/ESW_EcosystemBasedApp.pdf BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidade. Editorial Paidós, México, 2006. BEZERRA, Paulo César Santos. Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. BIRDLIFE INTERNATIONAL. Partners with Nature – How healthy ecosystem´s are helping the world´s most vulnerable to adapt to climate change, 2011, em http://www.birdlife.org/climate_change/pdfs/Ecosystemsandadaption.pdf,; BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à Função: Novos Estudos da Teoria do Direito. Reimpressão. São Paulo: Ed. Manole: 2011. BORN, Rubens H; TALOCCHI, Sergio. Proteção do capital social e ecológico por meio da compensação por serviços ambientais. São Paulo: Peirópolis, 2002. BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Diário Oficial da União Brasília, DF, 5 outubro de 1988 em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm BRASIL, Lei No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 agosto de 2000, em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm BRASIL, Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Diário Oficial da União, Brasília DF, 3 de agosto de 2010, em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
81
BRASIL, Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, Novo Código Florestal Brasileiro, Diário Oficial da União, Brasília, D.F, 18 de maio de 2012, em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm CERSKI, Paula Lavratti. El derecho ambiental como instrumento de gestión del riesgo tecnológico. Quaderns de dret ambiental. Tarragona: Publicacions URV, 2011. CHENERY, A.; COAD, L.; DICKSON, B.; DOSWALD, N.; KHAN, M. S. I.; KERSHAW, F. AND RASHID, M. (2009). Review of the Literature on the Links between Biodiversity and Climate Change: Impacts, Adaptation and Mitigation. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical Series No. 42, 124 pages. CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLOGICA Decisão V/4 em http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7146 CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLOGICA, Decisão IX/16, em http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=11659 CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLOGICA, Decisão VI/20, em http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7194 CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Decisão V/6 em https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7148 CONVENÇÃO QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA, Decisão 13/CP.8 em http://unfccc.int/resource/docs/spanish/cop8/cp807a01s.pdf#page=35 CONSTANZA, Robert; D´ARGE, Ralph et al. The Value of the world`s ecosystems services and natural capital. Revista Nature, v. 387, no 6630, p. 253-260, 1997, em http://www.esd.ornl.gov/benefits_conference/nature_paper.pdf DOSWALD, Natalie; OSTA, Matea. UNEP-WCMC. Ecosystem-based approaches to adaptation and mitigation – good practice examples and lessons learned in Europe. Bundesamt fu ̈r Naturschutz (BfN), Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Alemanha, 2011. FOREST TRENDS, THE KATOOMBA GROUP, E PNUMA, Payments for Ecosystem Services Getting Started: A Primer, 2008, ISBN: 978-92-807-2925- GARCIA PACHON, Maria del Pilar; AMAYA NAVAS Oscar Dario. Derecho y Cambio Climático. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010 GOULDER, Lawrence H; KENNEDY, Donald. Interpreting and Estimating the Value of Ecosystem Services, Stanford University, Estados Unidos, 2009. Em http://www.stanford.edu/~goulder/Goulder%20and%20Kennedy%20%20Ecosystem%20Service%20Values.pdf HUPFFER, Haide; WEYERMÜLLER, André R.; WACLAWOVSKY, William G. Uma análise sistêmica do princípio do protetor-recebedor na institucionalização de programas de compensação por serviços ambientais. Universidade Feevale (Pró-Reitoria
82
de Inovação e Pesquisa), 93510-250 Novo Hamburgo - RS, Brasil, Revista Ambiente e Sociedade. vol.14 no.1 São Paulo, Janeiro, Junho 2011 LANDELL-MILLS, N; PORRAS, T.I. Silver bullet or fools’ gold? A global review of markets for forest environmental services and their impact on the poor. Instruments for sustainable private sector forestry series. International Institute for Environment and Development, Londres, 2002 LARA, Roberto Chagoyan. Sobre la función promocional del derecho. Universidad Autónoma de México, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr34.pdf LEMKOW, Louis. Sociologia Ambiental: Pensamiento socioambiental y ecología social del riesgo. Barcelona: Editorial Icaria, 2002, MARTIN MATEO, Ramón. Tratado de derecho ambiental. vol. 1, Madrid: Trivium, 1991. MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima – CQNUMC, Versão editada e traduzida ao português brasileiro, em http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/convencao_clima.pdf MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patrick de Araujo. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial – Teoria e Prática. 3. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. MORATO LEITE, José Rubens. Sociedade de risco e Estado. In: Canotilho, José Joaquim Gomes; Leite, José Rubens Morato (orgs.) Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por Serviços Ambientais, Sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AGRICULTURA E A ALIMENTAÇÃO – FAO, El Estado Mundial la Agricultura y la Alimentación – Pagos a los Agricultores por Servicios Ambientales, Roma, Italia, 2007, ISBN 978-92-5-305750-4 ORGANIZAÇAO DAS NAÇOES UNIDAS, PAINEL INTERGUBERNAMENTAL DE MUDANÇAS DO CLIMA – IPCC, 4º Relatório sobre Mudanças do Clima – Relatório de Síntese – 2007, em http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf ORGANIZAÇAO DAS NAÇOES UNIDAS, Relatório-síntese da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, versão em português, 2005, http://www.maweb.org/documents/document.446.aspx.pdf ÓRGÃO SUBSIDIÁRIO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (SBSTTA-CDB), Recomendação VI/7 em http://www.cbd.int/recommendation/sbstta/default.shtml?id=7038
83
ÓRGÃO SUBSIDIÁRIO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (SBSTTA-CDB), Recomendação X/13, em https://www.cbd.int/recommendation/sbstta/default.shtml?id=10695 ÓRGÃO SUBSIDIÁRIO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (SBSTTA-CDB), Documento UNEP/CBD/SBSTTA/9/11, em www.cbd.org ÓRGÃO SUBSIDIÁRIO DE ASSESSORAMENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO, E TECNOLÓGICO DA CONVENÇAO QUADRO DAS NAÇOES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA (SBSTA-CQNUMC), Documento FCCC/SBSTA/2001/2, em http://unfccc.int/resource/docs/2001/sbsta/02.pdf PARISH, F.; SINN, A.; CHARMAN, D.; JOOSTEN, H.; MINAYEVA,T.; SILVIUS, M. & STRINGER, L. Assessment on Peatlands, Biodiversity and Climate Change: Main Report. Global Environment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands International, Wageningen. 2008. Asia-Pacific Network for Global Change Research MONTERO, Carlos E. Peralta. O fundamento e a finalidade extrafiscal dos tributos ambientais em Fundamentos Teóricos do Direito Ambiental. São Paulo: Elsevier, 2008. RAVINDRANATH, N. H.; OSTWALD, M. Carbon Inventory Methods Handbook for Greenhouse Gas Inventory, Carbon Mitigation and Roundwood Production Projects. Springer Verlag, Advances in Global Change Research, pp 304, ISBN 978-1-4020-6546-0, ROLDAN, Muradian et al., Reconciling Theory and Practice: An Alternative Conceptual Framework for Understanding Payments for Environmental Services, Economic Ecology, 1202, Volume 69, p. 1202-1208, em http://econpapers.repec.org/RePEc:eee:ecolec:v:69:y:2010:i:6:p:1202-1208 RUDAS, Guillermo. Economia y ambiente. Fundación Friedrich Ebert de Colombia – FESCOL, CEREC, Instituto de Estudios Rurales – Universidad Javeriana, primera edición, Bogotá, 1998 SABINE, Christopher . The Oceanic Sink for Anthropogenic CO2. Science 16 2004: Vol. 305. no. 5682, pp. 367-371 SANTANDER MEJÍA, Enrique. Instituciones de Derecho Ambiental. ECOE Ediciones, Primeira Edição, Bogotá, D.C, Colômbia, 2002. SECRETARIA DO CONVÊNIO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, Interlinkages between biological diversity and climate change. Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto protocol. Montreal, SCBD, 154p. (CBD Technical Series no. 10). SECRETARIA DO CONVÊNIO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Orientaciones para promover la sinergia entre las actividades dirigidas a la diversidad biológica, la desertificación, la degradación de la tierra y el cambio climático, Montreal: Caderno Técnico CDB No 25, 2006
84
SECRETARIA DA CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change. Montreal, Technical Series No. 41, 2009, em http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf STANTON, Marcia. Payments for Freshwater Ecosystem Services: A Framework for Analysys, West Northwest Journal of Environmental Law & Policy, Volume 18, Numero 1, 2012. TEJEIRO, Guillermo; MACIAS, Luis Fernando. Propuestas para el enfrentamento del Cambio Climático en Colombia. Instituto Colombiano de Derecho Ambiental – ICDA, Bogotá, D.C, Colômbia, 2010. TRUMPER, K.; BERTZKY, M.; DICKSON, B.; VAN DER HEIJDEN, G.; JENKINS, M.; MANNING, P. The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation. A UNEP rapid response assessment. United Nations Environment Programme, UNEP- WCMC, Cambridge, 2009, Reino Unido. USAID, LESSONS AND BEST PRACTICES FOR PRO-POOR PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES, Estados Unidos, 2007, http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/pes_sourcebook.1.pdf WUNDER, Sven; BÖRNER, Jan; RU ̈GNITZ, Marcos Tito; PEREIRA, Lígia. Pagamentos por serviços ambientais: perspectivas para a Amazônia Legal. Brasília: MMA, 2008. WUNDER, Sven. Payments for Environmental Services: some Nuts and Bolts. CIFOR Occasional Paper No. 42, 2005, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-42.pdf