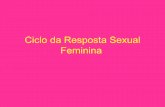O DIREITO NATURAL EM JOHN FINNIS: UMA RESPOSTA JUSNATURALISTA A FALÁCIA NATURALISTA DE DAVID HUME
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of O DIREITO NATURAL EM JOHN FINNIS: UMA RESPOSTA JUSNATURALISTA A FALÁCIA NATURALISTA DE DAVID HUME
INSTITUTO FILOSÓFICO E TEOLÓGICO DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ
CURSO DE FILOSOFIA
O DIREITO NATURAL EM JOHN FINNIS: UMA RESPOSTA JUSNATURALISTA A
FALÁCIA NATURALISTA DE DAVID HUME
JOÃO GABRIEL CAMILLO DE CAMARGO
Niterói
2013
JOÃO GABRIEL CAMILLO DE CAMARGO
O DIREITO NATURAL EM JOHN FINNIS: UMA RESPOSTA JUSNATURALISTA A
FALÁCIA NATURALISTA DE DAVID HUME
Monografia do curso de Filosofia apresentado
ao Instituto Filosófico e Teológico São José,
sob a orientação da Professora Renata Ramos
da Silva para a conclusão do curso de
Filosofia.
Niterói
2013
JOÃO GABRIEL CAMILLO DE CAMARGO
Camargo, João Gabriel Camillo.
O Direito Natural em John Finnis: Uma resposta
Jusnaturalista a falácia naturalista de David Hume / João
Gabriel Camillo de Camargo. - Niterói: IFTSSJ, 2013.
36f.
Monografia(graduação)–Instituto Filosófico e Teológico do
Seminário São José, Niterói, 2013.
Biografia: f.34
1.Lei Natural. 2. Falácia Naturalista. 3. John Finnis. 4.
David Hume. I. Título
O DIREITO NATURAL EM JOHN FINNIS: UMA RESPOSTA JUSNATURALISTA A
FALÁCIA NATURALISTA DE DAVID HUME
Monografia do curso de Filosofia apresentado
ao Instituto Filosófico e Teológico São José,
sob a orientação da Professora Renata Ramos
da Silva para a conclusão do curso de
Filosofia.
Banca examinadora
__________________________________________________________________
Orientadora: Professora Renata R. da Silva – Mestre em Filosofia pela PUC-RJ
______________________________________________________________
Professor: Guilherme Cecílio – Mestre em Filosofia pela UFRJ
Niterói, ___de________________de2013
Agradeço primeiramente a DEUS pelo dom da minha vida,
Aos meus pais pelo exemplo de vida, que levarei comigo eternamente.
Ao Padre Demétrio pela amizade e exemplo de sacerdócio.
A professora Renata por emprestar a sua sabedoria e me orientar pacientemente.
A minha turma de seminário pela paciência e exemplo de determinação.
E por fim todos formadores do Seminário São José de Niterói, atuais, Padres Douglas, José
Otácio e Pedro Paulo, e por todos outros que passaram na minha formação e que ainda
continuem me formando Padres Alan, Anderson e Sérgio.
“Todos os homens da história que
fizeram algo pelo futuro tinham os
olhos fixos no passado”
(G.K. Chesterton, em O que há de
errado com o mundo)
RESUMO
O conceito de Lei Natural na filosofia do direito e na ética contemporânea encontra-se
em situação de descrédito por parte das teorias juspositivistas, as quais predominam
hodiernamente. Esse descrédito inicia-se na modernidade, devido também, a conceitos
empiristas, como o de David Hume, que colocam em cheque o direito natural, ao desenvolver
o que, posteriormente, foi chamado a falácia naturalista, ou problema do é-deve. Entretanto há
autores contemporâneos que se esforçam em reafirmar a Lei Natural, procurando basear-se
em autores clássicos. John Michel Finnis é um desses filósofos que busca na filosofia clássica
e medieval, mais precisamente em Santo Tomás de Aquino, respostas para solucionar o
problema da falácia naturalista. Destarte, analisaremos a resposta de Finnis à falácia
naturalista de David Hume, e como busca o restabelecimento do conceito de Lei Natural.
Veremos que Finnis busca elementos na razão prática para justificar bens básicos, que por
serem antecedentes a qualquer juízo moral, escapariam da falácia naturalista humeiana.
Palavras-chave: Lei Natural. Falácia naturalista. Razão prática. Bens básicos.
RESUMEN
El concepto de Ley Naturalen la Filosofia del Derecho y em le Ética contemporánea se
encuentran em situación de descrédito por parte de las teorias iuspositivistas, las cuales
predominan hoy em dia. Ese descrédito empieza em la modernidad, debido tambien, el
conceptos empiristas como el de David Hume, que ponen em jaque el derecho natural, al
desenvolver, que, posteriormente, fue llamado al falácia naturalista, o problema del ser y
deber. Sin embargo, hay altores contemporáneos que se esfuerzan em reafirmar la Ley
Natural, buscando basarse en altores clássicos. John Michel Finnis es uno de esos filósofos
que se apoya em la Filosofia Clássica y Medieval, sobre todo em Santo Tomás de Aquino,
respuestas para el problema de la falácia naturalista. Sem embargo, analisaremos las
respuestas de Finnis a la falacia naturalista de David Hume, y como busca el restablecimento
los conceptos de Ley Natural. Veremos que Finnis busca elementos em la razon prática que
justificar bienes básicos, que por seren antecedentes a cualquier juicio moral escapan de la
falácia naturalista de Hume.
Palabras clave: Ley Natural. Falacia naturalista. Razón prática. Bienes básicos.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO..........................................................................................................................9
1 LEI EM SANTO TOMÁS ....................................................................................................11
1.1 Lei em John Finnis ...........................................................................................................14
2 FALÁCIA NATURALISTA POR DAVID HUME..............................................................18
3 A RESPÓSTA DE JOHN FINNIS........................................................................................23
3.1 Razoabilidade Prática.......................................................................................................23
3.2 Bens Básicos.......................................................................................................................26
3.2.1 Vida .................................................................................................................................26
3.2.2 O conhecimento ..............................................................................................................27
3.2.3 Jogo..................................................................................................................................28
3.2.5 Sociabilidade (amizade) ..................................................................................................28
3.2.6 Razoabilidade Prática.......................................................................................................29
3.2.7 Religião............................................................................................................................30
CONCLUSÃO..........................................................................................................................32
REFÊRENCIA..........................................................................................................................34
9
INTRODUÇÃO
A lei para Santo Tomás “é uma ordenação da razão visando um bem comum, partindo
daquele que é responsável por legislar” (Tomás de Aquino, STh., I-II, Q.90, a.1). Temos para
a lei uma ordem racional provinda de uma lei eterna que se encontra em DEUS. Mas
conhecemos essa lei através da participação da natureza na lei divina, a qual a razão pode,
através da ordem imposta no cosmo pelo ordenado da lei, conhecer essa lei. Esta lei conhecida
pela razão chama-se Lei Natural.
Esse conceito de Lei Natural foi aprofundado por Santo Tomás na Idade Média. Mas
com o advento da filosofia moderna, na qual o homem se encontra no centro do
conhecimento, a ética e a moral tomam um novo rumo. David Hume (1711-1776) no seu
Tratado da Natureza Humana acusa o pensamento ético clássico de cometer um erro lógico
de extrair um “dever” do “ser”. Esse erro pode ser explicado a partir do seguinte exemplo: se
todos os animais procriam, e os seres humanos são animais, portanto, os seres humanos
devem procriar. Aparentemente temos um erro lógico, já que das premissas apenas
poderíamos extrair a conclusão de que “os seres humanos procriam”. Assim, pois, afirma
Hume, do ser não se pode concluir um dever-ser, de modo que o ser não determina em nada a
moral. Hume, como seus sucessores, exclui toda racionalidade no conhecimento dos bens
morais, afirmando o conhecimento da moralidade através dos sentidos, excluindo assim
qualquer universalidade das leis. Eliminando A Lei Natural da ética, ela fica a mercê das
convenções que podem variar conforme os legisladores e seus interesses, visto que nada
existiria na natureza que possa exigir finalidade. Cria-se posteriormente o juspositivismo, não
diretamente de Hume, mas com as diversas evoluções de filósofos posteriores, teoria que
baseia as leis, não na Lei Natural, mas no que podem ser positivado, conceitos empíricos
convencionados.
Por outro lado, na contemporaneidade, surge uma vertente que começa a resgatar o
conceito de Lei Natural, denominada de,
Nova escola de lei natural que embora inspirada na tradicional teoria da Lei Natural
a qual remonta a célebre autores como Platão, Aristóteles, Cícero e Tomás de
Aquino, diferenciam-se dela, per estar contextualizada às críticas vindas do
positivismo jurídico (ROHLING, 2013).
10
Um desses filósofos contemporâneos que atualmente tentou dar uma explicação à falácia
naturalista de David Hume é John Finnis. Formula suas teorias, tendo por base o conceito de
Lei Natural tomista. Ao analisar a falácia naturalista, concorda com o erro lógico identificado
por Hume, também afirmando que não se pode afirmar um “dever” de um “ser”. A tese
proposta pelo filósofo que a Lei Natural e a Ética devem ser feitas com outras bases, a fim de
não passar ilicitamente do plano do ser para o plano do dever. Através da racionalidade
prática propõe sete formas de desenvolvimento humano, a saber: a vida, o conhecimento, o
jogo, a experiência estética, a sociabilidade, a razoabilidade e a religião. Essas formas básicas,
segundo Finnis, são auto-evidentes, incomensuráveis e universais. Dessa auto-evidência,
Finnis defende sua validade irrestrita sem ter que fazer uso da dedução do ser para passar ao
dever, assim sem recair na falácia naturalista.
Portanto, pode-se perceber que Finnis apresenta uma solução à acusação de D.Hume.
A partir da razão prática John Finnis parte para explicação dos bens básicos, nos quais podem
ser conhecidos e definidos como essenciais para o ser humano. Mas esses bens básicos não
exigem qualquer valor moral para se explicar. São anteriores a todo juízo moral, portanto
passa pela tangente da falácia naturalista, pois não é de um ser que se descreve algum dever,
mas de conceitos da razoabilidade prática que identificam como agir na prática. Como afirma
Alejandro Alvarez: “a razão prática busca critérios para agir, a partir do conhecimento prático,
e o conhecimento prático tem seu ponto de partida nos primeiros princípios práticos, que não
são deduzidos do conhecimento (especulativo) da natureza” (2007, pg. 11). Mas essa
razoabilidade só pode ser explicar se existir uma ordem na natureza humana, por isso a
necessidade de se resgatar o conceito de Lei Natural. .
11
1 LEI EM SANTO TOMÁS
Primeiramente será descrito Lei Natural em Santo Tomás de Aquino, pois, essa é a
base da filosofia moral de John Finnis, no qual formula sua posição, baseado na visão de Lei
Natural tomista, dialogando com as diversas visões positivistas e pragmáticas que
predominam na ética contemporânea. Desse modo, será explicitada a visão do Aquinate
contida nas partes I-II da Suma Teológica, sobre a Lei Natural, mais precisamente entre as
questões noventa e noventa e cinco, partindo da sua visão de lei, até chegar à definição de Lei
Eterna, Lei Natural e Lei Positiva.
Para São Tomas “lei é o ordenamento da razão visando um bem comum, promulgado
por aquele que é responsável pela comunidade" (S.Th., I-II, Q.90ª, a.2). Aparentemente um
conceito simples, mas trás consigo detalhes de extrema importância. A lei se baseia em uma
ordem que pode ser conhecida pela razão humana e pode ser positivada analisando a
regularidade de algum evento natural, no qual se pode universalizar cada evento em
particular. Assim na natureza (Não de forma absoluta, usado aqui apenas como exemplo), a
lei da gravidade, por experiência apreende-se que todos os corpos seguem uma ordem, não
voam ou flutuam, eles caem para o chão, seguem um padrão. Dadas as condições especificas,
de tal forma que essa repetição de dados ao ser analisado chega ao ponto de repeti-lo, por fim,
demostrado por equações matemáticas. De forma análoga pode-se aplicar a outros aspectos
como para relações humanas, pois pela razão se pode chegar ao conhecimento da
razoabilidade de conceitos que determinam a melhor forma do ser humano agir visando um
bem comunitário.
Toda lei segue para um fim, ou seja, tem uma finalidade, e também as leis seguem um
ordenamento no qual a razão prática pode conhecer através da experiência. A partir dessa
apreensão do particular tirar conclusões universais e promulgar uma lei, essa lei
primeiramente busca um bem comum, e só secundariamente o bem do indivíduo. Santo
Tomás, seguindo Aristóteles, indica que a lei pode ser conhecida pela razão devido a seu
ordenamento natural. Buscar o bem comum, visando seu fim último, que para Tomás e
Aristóteles é a felicidade. Determinam-se assim três tipos de Lei: a Lei Eterna, a Lei Natural e
a Lei Positiva.
Por primeiro falar-se-á sobre a Lei Eterna, principio de toda lei, pois, por mais
longínquo que pareça uma Lei de algo divino, a Lei da natureza das coisas tem seu início em
12
Deus. E como dito anteriormente a lei segue uma ordem, e essa não pode acontecer por si só,
tem de haver algo fora dela para ser o seu princípio ordenador, princípio e fim de tudo que
esteja fora desse princípio. Nada pode ser ordenado desde o infinito, tem-se um início
ordenador das coisas, e esse princípio que gera toda ordem é um princípio transcendente, que
provêm da providência divina. Nessa divindade há uma lei eterna ordenadora de todo
universo e dela partem todas outras leis, princípio também de todas as coisas e o primeiro
governador da natureza. Essa lei não a conhecemos diretamente pela inteligência humana, ela
é somente inferida.
Poderia essa lei eterna reger ela mesma, viver intrinsicamente nela mesma e
eternamente, não haveria a necessidade de nada fora dela. Mas o seu Fundamento dessa lei
Criou a natureza e imprimindo nessa mesma natureza uma lei, um ordenamento. Explica
Tomás que a “lei natural é a participação da lei eterna pela criatura racional” (S.Th., I-II,
Q.91ª, a.2). Portanto, a lei natural é a impressão divina no coração do homem, na qual
somente a criatura racional participa e pode conhecer, ou seja, os animais irracionais não a
conhecem. E pela razão humana, o homem chega ao primeiro e principal princípio da Lei
Natural: fazer o bem e evitar o mal; da qual deriva todos os outros conceitos da Lei Natural e
nela contem todos os bens e fins necessários para o homem conseguir alcançar a sua
finalidade última, a felicidade. Este primeiro conceito da lei natural, a razão humana pode
chegar independente da cultura, ou local geográfico, com ou sem tecnologia, por simples
apreensão o homem chega a esse conhecimento básico da natureza humana, a partir desse
descobrir os outros elementos da lei natural.
Para o doutor angélico, a lei natural pode ser conhecida através da razão prática.
Pode-se dizer que os conceitos básicos são evidentes, que por certa “inclinação” apreendemos
esses conceitos, chamado por ele de sindérese: um hábito natural, que procede de princípios
básicos da natureza na alma humana, e a razão humana raciocina sobre ela para tirar alguma
ação, é uma primeira apreensão realizada pela razão. Um processo que se inicia apreendendo
o bem nas coisas, um princípio prático, um hábito operativo e natural do intelecto, e através
dessa disposição natural é que julgamos a ação. Portanto, o homem, com toda a sua
capacidade racional, é capaz de conhecer a lei natural, por consequência conhecer seu
primeiro princípio, buscar o bem e evitar o mal.
13
Outra característica da lei natural é a imutabilidade em si mesma e sua universalidade.
Em seus princípios ela não muda, pois procede da lei divina que é imutável. Então, não pode
ser mudar em sua essência. Os fatos históricos sociais não mudam a Lei Natural, muito menos
a opinião de um grupo, ou mesmo da maioria a muda, ela depende unicamente da autoridade
divina. Mas a lei natural em seus processos secundários admite certo acréscimo ou subtração,
dependendo da vida de certa comunidade, por exemplo, o direito à propriedade privada
(acréscimo), pena de morte (subtração), sempre visando o bem comum.
A Lei Natural descreve os casos universalmente, trabalha com os casos gerais da Lei.
Mas há as aplicações dessa Lei Natural em casos particulares. Um autor que tratou na Idade
Média dessa lei mais particular foi Tomás de Aquino, chamando-a também de lei humana,
que são as positivações da Lei Natural. Por exemplo, a partir dos conceitos encontrados na Lei
Natural (como fazer o bem e evitar o mal), um legislador a aplicará nos casos específicos e
particulares.
O homem munido da razão pode aplicar a casos particulares a universalidade da Lei
Natural, assim como de uma equação matemática geral sobre equações pode-se aplicar a cada
equação em particular sem se perder as características da equação geral, e tem-se cada
equação particular um resultado. A esse processo de positivação da Lei Natural chama-se lei
positiva. Cada comunidade tem a capacidade de julgar segundo a razão, como aplicar
particularmente os casos da Lei Natural. Mas ensina o Aquinate que a lei positiva tem que
partir da Lei Natural, ou teremos não uma lei e sim uma corrupção dela. Deve, a lei positiva,
atentar para seu fim último, a utilidade do homem, ou seja, atender as disposições humanas,
em todos os casos, sem exceção. Ela está ligada a comunidade, ao bem comum de cada lugar,
na qual o legislador local tem autonomia dentro da racionalidade de normatizar leis
específicas para o bem daquela comunidade, baseando e partindo da Lei Natural, constitui-se
assim uma lei humana ou positiva.
Esse pensamento é o ponto de vista da escolástica, baseado também na filosofia
clássica que sobreviveu até a modernidade. Com o abandono das bases metafísicas na ética e
do direito. Esse abandono trouxe consequências seriíssimas que mudaram a ética
definitivamente, como por exemplo, na decisão do certo e errado, que não mais acontece pela
razão prática, por uma especulação metafísica, mas sim por uma decisão da maioria, por
convenções, que são por muitas vezes subjetivas, baseadas nas paixões humanas. Perde-se o
14
valor racional, real e universal da lei e do direito e vive-se em uma sociedade que não mais
busca o bem comum, pois, a cada passo, a cada cultura, a cada momento histórico muda-se a
lei para abarcar interesse não mais comum, mas muitas vezes de grupelhos. É fato que
excluindo a metafisica da ética, automaticamente a visão tomista de Lei Natural perde seu
lugar e sua importância. Por isso deve-se se retomar a visão clássica e escolástica da ética,
mais precisamente da Lei Natural, talvez não puramente como Tomás de Aquino, mas
adaptado e dialogando com o mundo contemporâneo.
1.1 Lei em John Finnis
John Finnis é um dos autores contemporâneos, que mais produz na área da filosofia do
direito e da ética, tentando utilizar da filosofia tomista para recolocar o conceito de Lei
Natural na ética e no direito atual. Descreve os requisitos da razoabilidade prática, que são
evidentes por si mesmo. Essa é uma novidade de Finnis, em descrever alguns princípios
práticos da razoabilidade prática que são anteriores a moral.
Partindo do pensamento de Finnis, a lei:
É sempre um plano para coordenação através da cooperação livre. Em
razão da estrutura das coisas ser o que é, os princípios da razão pratica
e moralidade (lei natural moral e direito natural) podem ser
entendidos, aceitos e vividos por, como uma diretiva plena na
consciência, sem a necessidade de serem considerados como (o que
eles realmente são) um apelo do entendimento ao entendimento, um
plano – livremente feito para ser livremente adotado – para realização
humana integral. Como um criador divino não foi em sentido algum
constrangido a escolher criar este universo distintamente de qualquer
outro bom possível, assim, os legisladores humanos têm a ampla
liberdade moral para escolher entre arranjos legais alternativos e
possíveis, elaborando um conjunto de provisões legalmente e
(presumidamente) moralmente obrigatórias pelo simples fato de adota-
las – isto é, pelo que Tomás de Aquino chama de determinatio dos
legisladores: II, q. 95, a.2; q.99, a.3, ad.2; q.104, a.1 (FINNIS, 2007,
pg.72).
Assim, a lei está subjugada ao bem comum, faz um apelo à razão de seus legisladores que dá
razões para serem aceitas e promulgadas, procurando um elemento em comum, que é esse a
essência da lei, dado pelo Criador divino que providenciou toda lei.
As características da lei se equivalem ao conceito de império do direito, ou seja, a lei
deve subordinar os juízes a legislar conforme elas obedecendo-a mesmo que parecer contrária
15
a evidência. E as leis devem proceder através da determinatio, de uma determinação, e para
ser justa tem que estar de acordo com a razoabilidade prática. Por um lado cuida das coisas
essenciais deixando em aberto coisas acidentais, como explica o próprio Finnis: um arquiteto
que cuida das dimensões para construir um hospital, para projetar uma maternidade e não uma
jaula de leão, e mesmo assim deixa uma porção de coisas em aberto, por exemplo: a cor
seleções de matérias entre outras qualidades (FINNIS, 2007, p.74).
Por outro lado a lei tem que ser coercitiva, tendo como monopólio da força o
responsável pelo governo. Essa força dá direito ao governo e uma imposição da pena capital,
pois, aqueles que decidiram agir contra a normalidade da lei podem sofrem a força coercitiva
da correção estipulado pelo governante. Finnis afirma ainda que Tomás não só admite como
fundamento da guerra a defesa da própria comunidade, mas também a correção e punição de
algum erro de alguma comunidade.
Primeiramente Finnis, na sua obra Lei Natural e direitos naturais, para não falar
diretamente de Deus, usa a letra “D” para denominar a causa que “causa todos os estados
causados” (FINNIS, 2006, p.368), que pode ser descrita como um ato, “e pode ser pensada
como pressupondo algo como nosso conhecimento das possibilidades alternativas disponíveis
para serem levadas a se realizarem por escolha e criação” (FINNIS, 2006, p.368). Assim ao
“generalizar” Deus, Finnis abarca todos os pensamentos sobre alguma divindade, e as
diversas expressões religiosas. A intensão do autor é demostra que os valores da Lei Natural
são universais que podem estar contido nas diversas interpretações de Deus. Então, Finnis
referindo-se a Tomás afirma que a Lei Eterna provinda de D, a conhecemos imperfeitamente,
não somente por desconhecer a totalidade do globo, mas também pelos limites entre a lei que
vem de D e a particular interpretação, entretanto, conhecesse-se parte dela através da razão.
Inicialmente ele explica que o uso da palavra “natural” se dá à “razão”, é como uma lei
racional o mesmo que dizer o predicado de algo, aquilo que esta de acordo com a razão
prática. As coisas naturais são aquelas que podem ser conhecidas racionalmente. Portanto,
aquilo que é naturalmente bom pode ser conhecido pela razão, e fica-se sim obrigado pela
razão a fazer escolhas boas, já que a razão pode conhecê-lo.
Todo ser racional, dotado da saúde de suas faculdades mentais, pode reconhecer que
alguns aspectos básicos da existência humana são um bem, ou seja, coisas a qual o individuo
pode buscar porque é um bem, na qual é bom tê-las. Porém, alguns aspectos da moral só
16
podem ser percebidos e identificados por aqueles aprofundam nas questões em pauta. E o
presente filósofo contemporâneo definiu Lei Natural como: “o conjunto de princípios da
razoabilidade prática no ordenamento da vida humana e da comunidade humana” (FINNIS,
2006, p.273). Portanto, a Lei Natural pode ser identificada pela razão prática, por isso comum
a todos os seres racionais, que busca o ordenamento da vida humana, visando o bem comum.
Finnis, baseando no Aquinate, que Lei Natural é a participação do homem na lei eterna,
explicita que há no homem um poder de insight: “a ativação de nossas próprias inteligências
individuais [...] é a partir de Deus que a mente humana participa da luz intelectual” (FINNIS,
2006, p.?). O homem diferente dos animais irracionais, que penas são sujeitos à providência
divina, além disso, o homem é participante da Lei Eterna. Temos uma inclinação, explica
Finnis que pela razão somos inclinados a agir conforme a razão, essa inclinação, nos leva a
compreender racionalmente elementos básicos contidos na razão humana, a inclinar-se a agir
conforme elas, ou seja, todas as coisas para as quais o homem tem uma inclinação natural, a
razão entende como boa e seu oposto como ruim (serem evitadas), conclui-se assim que pela
inclinatio o homem conhece o primeiro conteúdo básico da Lei Natural: fazer o bem e evitar o
mal.
Finnis ao tratar sobre a positivação da Lei Natural recorre a Tomás para explicar que
leis positivas são as implicações particulares partindo dos “princípios morais mais elevados e
gerais” (FINNIS, 2007, p.95). São princípios aplicados racionalmente, considerando o bem de
uma comunidade, não algo que se aplica sozinho, mas “partindo de”, sempre de algo mais
geral, e sempre visando um bem coletivo. Aqui pode ter leis diferentes em cada comunidade,
pois, cada uma aplica da melhor forma sobre as particularidades de cada grupo. Mas sempre
há algo em comum, por partirem de algo comum, buscar o bem e evitar o mal, por exemplo.
Sendo assim tem força apenas nesse particular sistema positivado. Está relacionado com a
liberdade do legislador de aplicar sempre um princípio geral na particularização racional da
lei positiva (FINNIS, 2007, p. 97), ele deve escolher sempre tendo em vista o bem de todos,
podendo conter elementos de arbitrariedade, devido à dependência do legislador.
Na visão de Finnis é necessária a lei positiva, pois, primeiramente, o conteúdo da Lei
Natural não é suficiente para abranger todas as necessidades particulares da vida comunitária,
e depois, para obrigar as pessoas egoístas a agirem conforme a razão (FINNIS, 2006, p.255).
Como de forma análoga, em um carro que leva nele além das partes mecânicas essenciais,
17
diversos acidentes variando conforme o gosto do cliente, que são indiferentes ao bom ou mau
funcionamento como carro, como por exemplo a cor do carro.
A dificuldade que encontramos nas leis injustas ou corruptas, aquelas que não levam
por pressupostos uma Lei Natural derivada de uma lei eterna, é que muitas vezes buscando o
bem comum encontram e socorrem apenas um grupo e os interesses do próprio legislador.
Pois, se baseiam em convenções, podendo aplicar qualquer coisa, aplicando assim em muitos
casos uma lei irracional, injusta. Isso será mais bem explicado na última parte do trabalho, na
qual tratará das soluções de John Finnis, retomando o pensamento clássico e medieval sobre a
moralidade e sua aplicação nas leis.
18
2 FALÁCIA NATURALISTA POR DAVID HUME
Grande parte da dificuldade, na contemporaneidade, em conceber os conceitos de uma
Lei Natural como fundamento do direito e da moral provém dos filósofos modernos, também
nas ideias do empirista de David Hume. Nesta parte será tratado o como sua filosofia
descartou a Lei Natural, ou de qualquer influência racional na filosofia moral, inclusive as de
princípios clássicos e escolásticos.
David Hume foi um crítico do racionalismo, filosofia que predominava em sua época.
Combateu-a fortemente, principalmente em seu Tratado da Natureza Humana, defendeu que
o empirismo constitui a base de todo conhecimento. Afirmou que nada mais há além das
percepções, na qual a raiz do conhecimento não se dá a priori (racionalistas), mas a posteriori
(empiristas). O conhecimento para Hume se dá pelas paixões, passa pela percepção, que para
ele é: “como faculdades dos sentidos nos leva a ter a compreensão daquilo que se observa
uma forma mais vivencial do que a mera elucubração racional [...] se aplica tanto aos juízos
pelos quais são distinguidos o bem e o mal morais quanto qualquer outra operação da mente”
(NETO,n°136/ ano 35, p.210). Portanto, o conhecimento e a distinção entre o bem e o mal
não se dá racionalmente, mas através dos sentidos. Concluindo nas palavras de Hume: “o que
conduz a vida não é a razão, mas o hábito” (HUME, 2009, p.71).
Para Hume não há uma causalidade, na natureza nada pode ser provado por causa e
efeito e sim através da experiência. Diz ele:
Nenhuma questão de fato pode ser provada senão a partir de sua causa ou de seu
efeito. Nada pode ser conhecido como sendo causa de outra coisa senão pela
experiência. Não podemos apresentar razão alguma para estender ao futuro nossa
experiência do passado; mas somos inteiramente determinados pelo costume quando
concebemos um efeito seguindo-se a sua causa habitual. Mas também cremos que
um efeito se segue, ao mesmo tempo em que o concebemos.- Tal crença não
acrescenta nenhuma ideia nova à concepção. Apenas modifica a maneira de
conceber e produz uma diferença para a sensibilidade ou sentimento. A crença,
portanto, em todas as questões de fato, brota apenas do costume, e é uma ideia
concebida de um modo peculiar.” (HUME, 2009, p.81-82).
Aqui nota-se uma passagem importante na sua filosofia, na medida em que se afasta dos
filósofos anteriores a ele, pois, defende que o costume é a “razão” das leis e não algo prévio a
própria lei que a legisla, não há para ele uma lei eterna que rege todo o cosmos em uma ordem
que se possa, por experiência, verificar um padrão e extrair pela razão uma lei da natureza.
19
Mas, por outro lado, se busca no costume e na experiência empírica basear e formular as leis.
Para ele o conhecimento das propostas morais acontece pelos sentidos, e essas são costumes
produzidos por valores e hábitos que não tem nenhum valor racional.
Hume nega como já dito acima que a razão não pode distinguir entre o bem e o mal,
afirma ele: “é impossível que a distinção entre o bem e o mal morais possa ser feita pela
razão, já que essa distinção influência nossas ações, coisa de que a razão por si só é incapaz.”
(HUME, 2009, p. 501). E o que distingue ente um e outro, são as sensações de dor e prazer e
as impressões que temos mediante as percepções, se são prazerosas são boas, mas se as
sensações são dolorosas, más. A moral então está relacionada às sensações e não a razão
prática.
Uma dúvida pode aparecer como consequência desses pensamentos. Como identificar
algum padrão moral nos atos humanos? Pois, se o bem ou mal morais estão ligados aos
sentidos, mais especificamente as paixões, como universalizar o julgamento dos fatos, o que é
bom para um individuo seria bom para outro? Seria subjetivo esse julgamento? Explica Hume
nesse sentido que as leis surgem pela necessidade de mecanismos de contenção para as
paixões, assim as regras orientam e conduzem para o bem estar da sociedade. E como para ele
não há uma lei provinda da razão (Lei Natural), o artifício usado para estabelecer as leis é a
convenção, que se estabelece entres os integrantes da sociedade.
A partir de suas ideias empiristas sobre a moral decorrem grandes criticas ao direito
natural e a concepção de Lei Natural clássica. Ele trabalha sua crítica, principalmente no
seguinte trecho de seu tratado, que se tornou conhecido como o problema do é-deve:
Em todo sistema de moral que até hoje encontrei, sempre notei que o autor segue
durante algum tempo o modo comum de raciocinar, estabelecendo a existência de
Deus, ou fazendo observações a respeito dos assuntos humanos, quando, de repente,
surpreendo-me ao ver que, em vez das cópulas proporcionais usuais, como é, não
encontra uma só proposição que não esteja conectada a outra por um deve. Essa
mudança é imperceptível, porém da maior importância. Pois, como esse deve
expressa uma nova relação ou afirmação, esta precisaria ser notada e explicada; ao
mesmo tempo, seria preciso que se desse uma razão para algo que parece
inteiramente inconcebível, ou seja, como essa nova relação pode ser deduzida de
outras inteiramente diferentes. Mas já que os autores não costumam usar essa
precaução, tomarei a liberdade de recomendá-la aos leitores; estou persuadido de
que essa pequena atenção seria suficiente para subverter todos os sistemas correntes
de moralidade, e nos faria ver que a distinção entre vício e virtude não está fundada
meramente nas relações dos objetos, nem é percebida pela razão. (HUME,
2009,p.509)
20
Portanto, não é possível segundo Hume, admitir um dever moral do ser, ou seja, de
premissas que decorrem sobre o que é não pode concluir algum dever. Por exemplo: o homem
é racional, todo ser racional busca sua auto coonservação, portanto o homem deve matar para
se manter vivo. Seria então um erro lógico, pois, defende David Hume “de que nenhum
conjunto de premissas não-morais (ou, mais geralmente, não-valorativas) pode acarretar uma
conclusão moral (ou valorativas)” (FINNIS, 2007, p.48). Dessa opinião admite ainda que de
alguma percepção racional da moral não se pode deduzir alguma ação moral (FINNIS, 2007,
p.48). A moral para Hume é puramente normativa, ignorando qualquer ato que a razão possa
conhecer, pois, o que implica a moral são as paixões, anterior a razão. As paixões dirão o
justo e o injusto, não algo natural, ou da especulação prática da razão, que para ele nada pode
conhecer realmente.
A falácia naturalista é um divisor de águas, pois até aquele momento, não havia dúvida
do alcance da razão em conhecer o certo e o errado. Determinar as leis e a aplica-las conforme
conceitos racionais era um caminho natural. Devido também à influência do Cristianismo até
então, mas com a perda desta, não haveria problema algum em por em dúvida esse tipo de
ética, buscando então uma nova visão antropológica completamente imanente, visando apenas
suas sensações. Como entender elas e aplicar na ética e na moral, ignorando o conceito
clássico de finalidade, a qual ele entende apenas como uma descrição, e não de conceitos de
coisas que são inerentes à natureza humana. Partindo disso para Hume a virtude é uma
adequação com a razão e o vicio uma inadequação com ela. Hume coloca uma “obrigação” a
natureza humana, separando moral da razão. David Hume contradiz os filósofos precedentes
que defendiam a visão de Direito Natural e coloca a lei sobre as paixões e não sobre razão.
Outro ponto defendido por Hume para justificar e tentar explicar sua teoria é a defesa
de um interesse pessoal. Segundo ele as convenções existentes, o dever de cumprir uma
promessa feita, derivam do próprio interesse de se cumprir as próprias promessas, não teria
algo transcendente ao sujeito, que o “obrigaria” a cumprir suas promessas que não estão fora
do sujeito, mas dele mesmo provém todos os sentimentos pessoais. Portanto, o sujeito
buscaria adquirir a virtude de cumprir suas promessas no interesse de ser bem visto pelos
outros. E assim aplicáveis em todos os casos particulares, uma obrigação, não deriva de um
raciocínio prático, mas daquilo que é de interesse para o sujeito.
21
Para Finnis, Tomás (juntamente com Aristóteles) admitiria com Hume, que um dever
não pode ser deduzido de é, e ainda na questão de adequação à natureza humana do intelecto
deixa em aberto de como poderia alguém regular suas ações segundo essa natureza. Assim,
afirma Finnis, Tomás e Aristóteles jamais cairiam no erro lógico, mesmo Hume tentando
mostrar a supremacia das paixões sobre a razão, e mesmo a filosofia realista cairia nesse erro.
Tomás, ainda rejeitaria em sintonia com Hume, que uma vontade superior daria conta das
obrigações e ainda que essa fosse uma questão de evitar diversidades do intelecto. Porém,
Tomás discordaria de Hume que o discernimento das virtudes ou vícios seria uma questão de
sentimento (FINNIS, 2007, p.57). Para Hume a razão pode conhecer o que é, mas os atos
morais são de outra natureza, as paixões que podem determinar esse aspecto, ou seja, ele
acredita que a razão pode definir algo, dizer o que é, mas não que ela possa alcançar algum
conhecimento prático e definir quais são os atos morais. Diferentemente de Tomás (Finnis o
acompanha), que defendia o conhecimento dos atos éticos pela razão, não somente o que algo
é, mas como agir, partindo da razoabilidade prática. Seriam atos identificados pela razão, mas
isso não obriga que um esteja relacionado com o outro, como acusa Hume na falácia
naturalista.
Assim podemos concluir do trabalho de David Hume que não acredita em uma ideia
de ordem na natureza a qual se pode verificar, analisar racionalmente e extrair regras
provindas dessa ordem. Para ele a “Natureza é cega impregnada por um grande princípio
verificador, e que verte de seu colo, sem discernimento ou cuidado parental, de seus filhos
aleijados e malogrados” (HUME, in FINNIS, 2007, p.362), então da natureza nada pode ser
retirado, pois demostra certa ordem, mas de forma ambígua e indefinida, incapaz de qualquer
verificação, ou explicação mais especifica.
Esse pensamento humeano influenciou sua época e inclusive influência hoje.
Admitindo-se que não há um principio ordenador, provindo do ser criador dessa ordem na
qual a razão pode conhecer. Então, as Leis já não se baseiam mais em valores universais
alcançados pela razão e interpretada e aplicada buscando um bem comum. Agora tudo
depende do meio em que se vive e da sociedade, e dos legisladores, que aplicarão a lei
buscando convenções do que é um bem através daquilo que é empírico. A lei, portanto é a
busca de interesse, em certo ponto subjetivo e reducionista, pois abandona qualquer outro tipo
de conhecimento da natureza.
22
Portanto, há certa razão na falácia naturalista de David Hume, como detecta Finnis.
Extrair do é um dever aparentemente é contra a razão, pois, suas premissas e suas conclusões
são também um erro lógico. Mas, caberia saber se essa solução de Hume seria a única. Uma
abordagem empirista da natureza, extrair valores comuns apenas de costumes ou de
convenções baseados no sentimento e na paixão, sabendo previamente da diversidade de seres
humanos que são cada um independente e diferente em receber pelos sentidos. Esse
pensamento influenciou todo direito posterior a ele, e será mostrada no próximo capítulo uma
visão contemporânea, buscando dar uma resposta a Hume, e não resolver a falácia naturalista,
pois, Finnis a aceita da forma apresentada por Hume. Mas uma resposta que anteceda ao
problema do é-deve.
23
3 A RESPÓSTA DE JOHN FINNIS
3.1 Razoabilidade Prática
Frente à acusação empirista de David Hume sobre a falácia naturalista, confronta hoje
a visão de John Finnis. Não é um caminho simples tentar justificar que existe um caminho
naturalista no direito, pois é quase consolidado o descarte de qualquer visão naturalista devido
aos argumentos modernos. Entretanto, Finnis tem uma saída plausível, que soluciona os
problemas da falácia naturalista.
Partindo da afirmação de Santo Tomás que as leis são: “proposições universais da
razão prática” (S.Th., q. 90, a.1), Finnis assume que as leis devem ser oriundas da razão
prática. Nesse sentido o que faz John Finnis é: sem nenhum juízo moral, descreve alguns bens
básicos que “dizem respeito aos atos do entendimento prático nos quais apreendemos os
valores básicos da existência humana e assim, também princípios básicos de todo raciocínio
prático” (FINNIS, 2006, p.67).
O ponto importante do pensamento de Finnis é que ele dá, antes de mais nada, uma
explicação a falácia naturalista. Primeiramente admite o erro lógico demostrado por Hume, de
concluir um dever do ser, o erro do é-deve. Mas por outro lado, tenta mostrar esses valores
básicos provindo da razão prática, que são anteriores a qualquer julgamento moral. Portanto,
poderiam ser universalizados esses conceitos, pois são racionais e anteriores a moral. Não
enfrenta problema é-deve, apenas faz uma constatação de valores básicos dos seres-humanos
que devem ser seguidos independentes da intenção valorativa da lei. Ela é anterior a qualquer
julgamento moral. É a conformação da razão com a realidade, é da razão prática, dos insights
que se abstraem valores básicos sem qualquer hierarquia entre eles.
A razão prática busca “critérios para agir, a partir do conhecimento prático, e o
conhecimento prático tem seu ponto de partida nos primeiros princípios práticos, que não são
deduzidos do conhecimento teórico (especulativo) da natureza”. (Alvarez, 2009, p. 11),
portanto elementos partidos da razão que buscam fundamento para o bem agir. Assim, a ação
humana age independe de algo provindo do ser
Dessa forma, o dever não passa pelo erro lógico do é-deve, fica limitado à razão
prática que pode dizer que “tem um caráter diretivo; orienta a conduta na direção de um fim e,
no ato da razão prática” (Alvarez, 2009, p. 13). Portanto, a razão prática determina vontade
24
para um fim independente da razão especulativa e tal determinação é anterior a conclusão
dessa. Assim, o intelecto consegue apreender através da razoabilidade prática conceitos para
uma boa ação, buscando também o fim da ação.
Finnis, assim como Santo Tomás, considera que o primeiro princípio da razão prática
é fazer o bem evitar o mal, e seu significado é: “trata-se de um principio prático básico que
orienta toda ação a um fim ou objeto, sem implicar que é moralmente bom o mal” (Alvarez,
2009, p.13). Assim a razão prática delimita bem os fins da ação humana, partindo de algo que
não é em si bom ou mal.
A razão prática é assim anterior ao juízo moral. Mas o fato de partir de uma
especulação pré-moral, não significa que posteriormente não seja possível realizar distinções
morais. Finnis explica como sair dos conceitos pré-morais para chegar a alguma afirmação
sobre o certo e o errado, partindo dos bens básicos Como mesmo ele diz:
Movemos da compreensão, em si mesma, pré-moral1, dos bens humanos básicos,
das razões práticas básicas, para as distinções e razões morais – a parir, por exemplo,
dos bens da vida com saúde, e integridade emocional-racional, com seus correlativos
males ou danos corporais ou perdas psicossomáticas, desarmonia e sofrimento, para
a distinção moral entre a crueldade e a inflição beneficente de sofrimento como
efeito colateral, por exemplo, de cura ou recuperação (FINNIS, 2010, p. 218)
Finnis apresenta sete valores básicos, a saber: o conhecimento, a vida, o jogo, a
experiência estética, a amizade ou sociabilidade, a razoabilidade prática e a religião. Esses são
valores que qualquer homem fazendo uso de sua razão pode chegar. São assim universais,
evidentes por si mesmo e fundamentais, justamente por serem pré-morais, pré-políticos e pré-
jurídicos.
Contemporaneamente o conceito “evidente por si mesmo” pode causar ceto
estranhamento por estar relacionado com algum sentido de certeza. Mas realmente princípio
de autoevidência, segundo Finnis:
não são validos por impressões, sensações ou sentimentos. Pelo contrário, eles
próprios são critérios por meio dos quais discriminamos entre impressões e
desprezam algumas de nossas impressões (inclusive impressão de certeza), por mais
intensas que sejam, por serem irracionais ou injustificadas, enganadoras ou ilusórias.
(FINNIS, 2006, p.76).
1 Pré-moral não significa não moral
25
Então, a característica “evidente por si mesmo” desses valores básicos não se baseia na
certeza, tampouco em sentimentos, mas na razão prática. Por consequência, podemos dizer
que esses valores fundamentais e evidentes por si mesmos são assim universais. E assim
Finnis afirma:
A universalidade de uns poucos valores básicos em uma vasta diversidade de
realizações enfatiza tanto a conexão entre o ímpeto/impulso/inclinação/tendência
humano básico e a correspondente forma básica de bem humano quanto, ao mesmo
tempo, a grande diferença entre seguir um ímpeto e buscar com inteligência uma
realização em particular de uma forma de bem humano que nunca é completamente
realizada e exaurida por uma única ação, vida instituição ou cultura qualquer (nem
por qualquer número finito delas) (FINNIS, 2006, p. 90).
Portanto, há bens básicos que são acessíveis a qualquer lugar ou cultura, e não
somente hoje, mas sempre, uma vez que são intrínsecos à natureza humana. Assim, todo ser
humano pela razão prática pode conhecer esses bens práticos e admiti-los universas e
evidentes por si mesmo, independe da cultura.
Para reforçar a razoabilidade prática dos bens básicos e agrupa-los, Finnis desenvolve
e descreve oito condições para determinar uma decisão razoável na prática, que são: possuir
um plano coerente de vida (1°), não ter preferência arbitrárias por valores (2°), sem
preferências arbitrárias por pessoas (3°), desprendimento e compromisso (4°), a relevância
limitada das consequências (5°), respeito por cada valor básico em cada ato (6°), os requisitos
do bem comum (7°) e seguir os ditames da própria consciência (8°).
A primeira condição de razoabilidade prática implica diretamente na vida, pois não é
racional viver de momento a momento, mas exige certa retidão expressa pela responsabilidade
com suas ações, responsabilidades com os compromissos, ações que qualquer pessoa pode
almejar.
A segunda condição seria de como as escolhas devem ser bem selecionadas, na
medida em que se fazem escolhas razoáveis, a que trará um maior benefício para cada
situação em particular, na qual coloca como prioridades aqueles valores que representam
realmente um bem, não somente aqueles que estão relacionados com o prazer, mas os que
realmente trarão um bem.
26
A condição seguinte mostra que deve buscar por primeiro o próprio bem-estar, o que é
razoável, não pelo fato do bem-estar alheio ser inferior, mas simplesmente por ser do interesse
do próprio indivíduo.
O desprendimento relaciona-se com a primeira condição, na medida em que ter um
plano coerente de vida necessita de uma vida equilibrada para realizar boas escolhas e garantir
uma vida coerente, pra que o individuo consiga ampliar seus horizontes de vida e realizar
sábias escolhas. Também uma condição razoável para realizar e identificar um bem é o
comprimento dos compromissos, que cada indivíduo possa colocar todas as suas potências
para assumir os compromissos e realiza-los bem.
A quinta condição exige de cada um a eficácia em todas as ações, buscando realiza-las
para extrair o máximo de proveito com o método adequado a cada ação, buscando evitar o
desperdício de tempo por métodos ineficientes.
A sexta condição exige de todos, um respeito por cada bem básico, que compromete
cada individuo a tomar suas atitudes buscando adequar-se a os valores básicos da
razoabilidade prática.
A condição seguinte exige um comprometimento com a coletividade, com a
comunidade, que é sempre a busca pelo bem comum, exigente e extraído o conceito de lei
natural de Santo Tomás.
E por fim, a última condição, coloca cada pessoa frente a sua liberdade, de cada um
agir segundo a sua consciência, agir em última análise conforme a sua razão.
Portanto, essas condições tem que ser entendidas e vividas harmonicamente, sabendo-
se que elas estão em sintonia com a liberdade e razão humana.
3.2 Bens Básicos
3.2.1 Vida
O primeiro valor básico de bem comum, apresentado por John Finnis, é primeiro por
ser o mais elementar. Tratado em sentido mais amplo possível é entendido como o bem mais
básico por corresponder a autopreservação. Carrega consigo também um sentido de
vitalidade, e, assim inclui os aspectos da saúde, de sua manutenção e preservação da vida. O
27
alcance aqui é bem largo, pois discute como pode levar uma vida boa, livre de dores ou
doenças. Pode-se ver nitidamente na história da humanidade aspectos intrínsecos na história
da humanidade, por exemplo, na evolução da medicina, o homem busca como preservar a sua
vida cada vez mais, nesse sentido afirma Finnis:
A busca e a realização desse propósito humano básico (ou grupo de propósitos
intrinsicamente relacionados) são tão variados quanto o esforço e a prece do homem
que caiu no mar e está tentando ficar a tona até que seu navio volte para recolhê-lo;
o trabalho de equipe dos cirurgiões e de toda rede de apoio, serviços auxiliares,
faculdades de medicina etc.; leis e propagandas de segurança nas estradas;
campanhas de erradicação da fome; agricultura, criação e pesca; comercialização de
alimentos; reanimação de suicidas; tomar cuidado ao atravessar a rua... (FINNIS,
2006, p.91)
Esses são alguns dos exemplos que poderia citar para demostrar como a vida foi e é
um valor básico. Finnis não chega a falar de questões polemicas e decorrentes desse, como
por exemplo, os casos de aborto ou de eutanásia. Portanto, como explicado no início à
intenção do filósofo em questão não é partir para algum juízo moral, mas apenas mostrar
como há valores básicos pré-morais. Podemos estender e fazer juízos morais a partir desses
elementos básicos, mas antes de qualquer juízo deve-se aceitar como básico esse valor, ou um
dos outros, e os elementos elementares que o compõe.
3.2.2 O conhecimento
Em seu livro, Lei Natural e direitos naturais, John Finnis dedica um capítulo apenas
para esse bem básico, Para a partir da explicação de autoevidência para esse bem básico,
deixar claro que também são explicações para os outros valores básicos.
Conhecimento aqui, explica Finnis, “é o conhecimento da verdade. Então, poderíamos
dizer que a verdade é o bem básico no qual estamos interessados.” (FINNIS, 2006, p.67).
Portanto, busca-se a verdade, provar ou negar certas proposições. Assim, por um puro desejo
de saber a verdade e obter o verdadeiro conhecimento, tal desejo é: “a atividade de tentar
descobrir, entender e julgar as coisas corretamente” (FINNIS, 2006, p.68) que impulsiona o
ser humano ao conhecimento. Finnis aponta vários exemplos de busca da verdade, como um
simples desejo de saber se um boato é verdadeiro até um rebuscado conhecimento científico.
São exemplos simples, mas que mostram o desejo do homem de uma busca por
conhecimento. Então, o conhecimento é um bem “na medida em que é buscado por si mesmo
28
e não por instrumento para atingir objetivos ou resultados” (ALVARES, 2009, p. 15). Ou
seja, é um bem buscar a verdade pela própria verdade, ao passo que ao conhecer a verdade
foge-se da ignorância, como afirma Finnis; “o conhecimento é um bem a ser buscado e a
ignorância deve ser evitada” (2006, p.71). Também é nítido que um “homem bem informado
etc. simplesmente está em melhor situação (as outras coisas sendo iguais) do que um homem
que é confuso, iludido e ignorante” (FINNIS, 2006, p.78).
Importante ressaltar que ao falar de conhecimento não se deve confundir com nível
acadêmico, pode-se converter um acadêmico que seja conhecedor de muitas coisas, mas pode
haver não-acadêmicos que possuem conhecimentos em diversas áreas. Mas independendo do
conhecimento sempre é melhor conhecer que ficar na absoluta ignorância. Outro aspecto que
deve ser levado em consideração é que Finnis não faz nenhum juízo moral dos tipos de
conhecimentos que podem ser buscados, mas mostra como no primeiro bem básico, que há
elementos pré-morais que demonstram a importância de buscar o conhecimento da verdade
por si mesmo, “goste eu ou não disso” (FINNIS, 2006, p.78).
3.2.3 Jogo
O terceiro elemento básico do bem-estar humano pode passar despercebido, pois
aparentemente é algo irrelevante, mas não se pode deixar de “observar como um grande e
irredutível elemento da cultura humana” (FINNIS, 2006, p.92). Para Finnis, “cada um de nós
pode ver do que se trata engajar-se em atividades que não têm qualquer propósito, além de seu
próprio desempenho, e que são desfrutadas por si mesmas” (FINNIS, 2006, p.92). Dessa
forma, entende-se que o jogo é um bem básico na medida em que se torna um objeto de
distração para o homem, seu fim estaria na própria atividade. Essa “atividade pode ser
solitária ou social, intelectual ou física, tenso ou relaxado, altamente estruturado ou
relativamente informal, convencional ou de padrão ad hoc”. (FINNIS, 2006, p.92). Portanto,
pode-se entender jogo no sentido mais amplo possível. Atividades que tem seu fim em si
mesmo, distrações lúdicas, jogos esportivos, etc. nos mais diversos tipos e formas de
“distração”.
3.2.4 Experiência Estética
Essa quarta forma de bem básico, a experiência estética, está interligada com o jogo,
pois é um elemento indispensável do jogo. Mas aqui não é um bem que necessite da ação
29
humana, “o que é buscado e valorizado por si mesmo pode ser simplesmente a forma bela
“exterior” à pessoa, e a experiência “interior” da apreciação de sua beleza.” (FINNIS, 2006,
p.93). Portanto, podemos ter uma experiência com o belo independe da nossa ação, apenas
por ver a beleza em alguma obra de arte ou mesmo na natureza que de alguma maneira leve a
uma experiência significativa e satisfatória2, tanto exteriormente como interiormente.
3.2.5 Sociabilidade (amizade)
John Finnis, assim como Aristóteles, defende a amizade, a relação entre seres
humanos de se relacionar e criar laços, como algo essencial ao ser humano. Finnis ao
descrever esse bem básico abrange todas as formas de relação entre os seres humanos: assim o
“valor da sociabilidade, que em sua forma mais fraca é realizada por um mínimo de paz e
harmonia entre os homens, passa por todas as formas de comunidade humana e vai até sua
forma mais forte, no desabrochar da amizade plena.” (FINNIS, 2006, p.93).
O autor descreve o sentido pleno da amizade quando entre dois amigos quando um
age, ou pensa em agir, em benefício alheio, isto é, promove um esquecimento de si próprio
visando o bem do amigo. Assim seria uma comunidade harmoniosa. Nesse sentido aponta que
“a amizade é o pensamento mais comunal, embora não a forma mais estendida e elaborada de
comunidade humana” (FINNIS, 2006, p.145). Portanto, uma comunidade perfeita é quando
um indivíduo age visando o bem estar alheio, e não simplesmente o bem próprio. É preciso
para uma amizade harmoniosa o esquecimento do bem de si, de certa forma sacrificar-se pelo
bem do outro. Com isso, Finnis aprofunda o sentido de bem comum como sendo um bem
“para os seres humanos na medida em que a vida o conhecimento, o jogo, a experiência
estética, a amizade, a religião e a liberdade na razoabilidade prática são bons para quaisquer e
todas as pessoas.” (FINNIS, 2006, p.155).
Portanto, a amizade, ou também chamada por Finnis de Sociabilidade, pode ser visto
no sentido mais amplo possível, na medida em que é um bem, traz benefícios individuais e
comunitários (bem comum).
3.2.6 Razoabilidade Prática
2 FINNIS, 2006, p.93
30
Esse é o “bem básico de ser capaz de utilizar com eficiência a inteligência (no
raciocínio prático que resulta em ação) nos problemas de escolher as ações, o estilo de vida e
dar forma ao caráter.” (FINNIS, 2006, p.93). Isso implica na autonomia do indivíduo de usar
a razão e com liberdade fazer suas escolhas acertadamente, impor às ações uma ordem
razoável que convém à própria ação.
Essa ordem realiza-se de duas formas: internamente e externamente. A primeira está
relacionada com os afetos e sentimentos internos, na qual o individuo trabalha para colocar
em “harmonia de uma paz de espírito interna” (FINNIS, 2006, p.94) os seus sentimentos
internos. Por outro lado, a segunda está relacionada às ações exteriores do sujeito que são
resultados de suas reflexões “livremente ordenadas” (FINNIS, 2006, p.94). Esse bem prático
envolve razão e liberdade o que o torna muito complexo.
Finnis explica ainda que essa ordem que a razoabilidade prática busca, relaciona-se
com a busca de uma coerência de vida do indivíduo. Viver sem preferência arbitrária tanto de
valor quanto de pessoa, buscando sempre encontrar a sintonia entre os atos humanos e a razão
prática, pois essa busca sempre discernir e direcionar os atos humanos para o bem (próprio ou
da comunidade). Esse bem prático está diretamente relacionado com os outros bens, por que
para o bom andamento de cada bem prático é necessário o uso da razoabilidade prática no
discernimento para um bem.
3.2.7 Religião
Finnis ao comentar sobre esse bem básico faz algumas indagações sobre os
ordenamentos naturais, que direcionam para um fim todos os bens básicos, afirma Finnis:
A busca da vida, da verdade, do jogo e da experiência estética em uma ordem de
prioridades e padrão de especialização individualmente selecionados, e a ordem que
pode ser imposta às relações humanas por meio da colaboração, comunidade e
amizade, e a ordem que deve ser imposta ao caráter e à atividade por meio da
integridade interna e da autenticidade externa (FINNIS, 2006, p.94)
Esses questionamentos apontam para um ordenador transcendente. Nesse aspecto
Finnis aponta para uma razoabilidade do intelecto de conceber a ideia do transcendente e da
necessidade do homem estar ligado a Deus. Afirma ele que “um dos valores humanos básicos
é o estabelecimento e a manutenção das relações apropriadas entre a própria pessoa (e as
ordens que a pessoa pode criar e manter) e a divindade.” (FINNIS, 2006, p.94).
31
Assim, fica clara a ideia de um ordenador transcendente, que implica a necessidade de
nos relacionarmos com a divindade. Essa relação, por sua vez, exige um comprometimento da
parte do ser humano em se conformar ao princípio ordenador. Nessa linha de pensamento
questiona Finnis:
se existe uma origem transcendente da ordem universal das coisas, da liberdade
humana e da razão, então a vida e as ações da pessoa estão em desordem
fundamental e se não são postas, da melhor maneira possível, em algum tipo de
harmonia com o que pode ser conhecido ou conjecturado a respeito desse outro
transcendente e sua ordem duradoura? (FINNIS, 2006, p.94)
Ou seja, Finnis aponta para uma responsabilidade do individuo em responder a esse
ser transcendente, em todos os outros bem básicos, e colocar neles e entre eles uma ordem
baseada nessa ordem transcendente.
32
CONCLUSÃO
No decorrer dessa explanação buscou-se explicar primeiramente a visão Tomista sobre
Lei Natural, demostrando basicamente sua visão sobre o assunto dentro da Suma Teológica.
Em seguida foi apresentada a falácia naturalista descrita por David Hume bem como suas
falhas. Por fim, demostrou-se a inovação de John Finnis em dialogar o jusnaturalismo com o
juspositivismo, contrapondo-se à falácia de Hume.
No primeiro capítulo ficou claro como a visão naturalista da escolástica de lei depende
de uma explicação metafisica, pois, para o Aquinate “é da Lei Natural na mente humana que
procede a lei civil, na qual deve manifestar a inclinação natural à lei eterna [...] da lei natural
que é representação da lei divina humana é que emerge a lei moral”. (FAITANIN, 2010,
p.32). Portanto, para Santo Tomás, em última análise a lei humana provem da Lei Eterna que
está em Deus, completamente transcendente. Finnis, apesar desse viés metafísico da lei
natural de Santo Tomás, a descreve bem e a usa como base de sua teoria, mostrando que não
foi superada a teoria de Lei Natural clássica, e que ao invés de ignora-la, deve-se partir dela,
pois, tem condições de corresponder às problemáticas atuais no direito, e superar as noções
simplistas do juspositivismo.
No capítulo seguinte foi mostrado como David Hume através do empirismo, coloca a
moral no nível dos sentidos e das paixões. Exclui qualquer racionalidade no conhecimento da
moral, reduz a lei à mera convenção entre os membros da sociedade. Vincula a virtude ao
prazer e o vício a dor. Ignora qualquer fato ou ação transcendente e elimina toda causa e
efeito, toda causalidade e as finalidades existentes na natureza. Era o que afirma todo
empirista. Então, não haveria outro caminho a não ser o de excluir a razão da moralidade e
acusar os clássicos de falaciosos, por descrever erroneamente algum dever de um ser. Mas,
como vimos, Finnis mesmo concordando primeiramente com Hume consegue uma solução
que não passa pela acusação da falácia naturalista ao colocar os bens básicos como anteriores
a qualquer julgamento moral.
A última parte descreve a teoria finisiana, e como restabelece a Lei Natural no direito.
John Finnis a princípio não se distância essencialmente de Santo Tomás, no que diz respeito à
razão prática. Mas coloca em consonância o pensamento do Aquinate com o juspositivismo,
“o objetivo de Finnis é de realizar a contemplação, por assim dizer, do positivismo pelo
jusnaturalismo, resultado daí a noção do direito positivo como caso central do direito”.
33
(ROHLING, 2013). Finnis então, para desviar da falácia naturalista e se contrapor a David
Hume, se coloca no nível do juspositivismo, na medida em que se utiliza de sua metodologia,
e conduz “ao reconhecimento por parte da Lei Natural como critério da descrição do direito”
(ROHLING, 2013). Por isso se torna importante à razoabilidade prática, para a elevação do
direito, mas sempre em concordância com as teses clássicas de Lei Natural. Pode parecer a
princípio um reducionismo, pois coloca a lei no nível da razão. Mas acontece o contrário: ao
elencar os bens da razoabilidade prática Finnis valoriza a razão, porém apenas a coloca no
lugar devido, buscando também uma consonância com a realidade e com o mundo
contemporâneo, não excluindo a Lei Natural, antes a incluindo no direito.
Assim, Finnis ao inserir os bens práticos da razoabilidade prática, consegue
contradizer o empirismo de David Hume que reduz a natureza à pura abstração de fatos, pois
demostra como a razão pode chegar a partir dos insights e tirar conclusões práticas que a
razão consegue identificar universalizar, independente de algum julgamento moral. Pois, a
razão prática identifica os bens práticos como pré-morais, ou seja, anterior a qualquer
julgamento moral. Dessa forma, consegue resolver a acusação da falácia naturalista, pois, sua
teoria não passa pelo erro lógico do é-deve.
Portanto, Finnis consegue reestabelecer a Lei Natural no direito, contrapondo as
teorias dominantes do juspositivismo que gerou um grande ceticismo nas teorias naturalistas,
e conseguiu incluir valores universais ditados pela razão prática e não apenas por costumes ou
interesses que muitas vezes são subjetivos. Com isso abre-se com Finnis a porta do direito
natural como discussão filosófica no direito, com conclusões racionais e bem dispostas,
dialogando com o pensamento positivista contemporâneo. Mesmo que não se admita tal coisa,
pelo menos são concluídos pensamentos plausíveis acerca do direito natural, que, ao mesmo
tempo, tem por base a filosofia clássica.
34
REFERÊNCIAS
ALVARES, Alejandro Bugallo. A Reabilitação Da Teoria Do Direito Natural Em John M.
Finnis: Pressupostos e Implicações. In: I.ALVEZ, Francisco. II SALLES, Sérgio de Souza.
(Organizadores). Justiça, Processo e Direitos Humanos–Coletânea de Estudos
Multidisciplinares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, v.3, p. 1-34.
FAITANIN, Paulo. A Dignidade Do homem: a antropologia filosófica de Santo Tomás de
Aquino. Caderno Aquinate, n.7, Niterói: Instituto Aquinate, 2010.
FINNIS, John. Lei Natural e direitos naturais. Tradução: Leila Mendes. São Leopoldo:
Editora Unisinos, 2006.
____ Lei Natural: Por que chamar de “lei”? Por que dizê-la “natural”?. Tradução:
Magda Lopes. In: CANTO-SPERBER, Monique. Dicionário de Ética e Filosofia Moral vol.
2. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003, (p. 36-42).
____Revisando os Fundamentos da Razão Prática. Tradução Elton Somensi de Oliveira.
In: TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski; OLIVEIRA, Elton Somensi (organizadores).
Correntes Contemporâneas do Pensamento Jurídico. Baurueri: Manole, 2010.
____.Direito Natural em Tomás de Aquino. Tradução: Elton Somesi de Oliveira. São
Paulo: Editora Safe, 2007.
HUME, David. Tratado da Natureza Humana. Tradução: Débora Danowski. 2. ed. São
Paulo: Editora Unesp, 2009.
NETO, José W.K. A Fundamentação Moral No Tratado Da Natureza Humana de Hume.
Cultura e Fé, Rio Grande do Sul, n.136, p.209-227, Abril-Junho ano 35.
Tomas de Aquino, S. Th. I-II, q. 90-100.
ROHLING, Marcos. Lei Natural e Direito: A Critica de Finnis ao Positivismo Jurídico.
Disponível em: http://www.academia.edu/2370144/Lei Natural e Direito A Critica de Finnis
ao positivismo Jurídico. Acesso em: 7 jun.2013, 9:30:00.