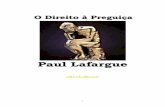\"O Princípio Constitucional do Habeas Corpus no Direito Canónico Português\"
MONOGRAFIA-O DIREITO À EDUCAÇÃO E O DIREITO EDUCACIONAL-Nilson Fernandes Viana
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of MONOGRAFIA-O DIREITO À EDUCAÇÃO E O DIREITO EDUCACIONAL-Nilson Fernandes Viana
NILSON FERNANDES VIANA
O DIREITO À EDUCAÇÃO E O DIREITO EDUCACIONAL
Paracatu – M G
Faculdade de Direito – Atenas
2010
NILSON FERNANDES VIANA
O DIREITO À EDUCAÇÃO E O DIREITO EDUCACIONAL
Monografia apresentada ao Curso de
Graduação da Faculdade Atenas, como
requisito parcial para obtenção do título de
bacharel em Direito.
Área de concentração: Ciências Humanas
Orientador: Prof. Nilo Gonçalves dos Santos
Filho.
Paracatu – MG
Faculdade de Direito Atenas
2010
NILSON FERNANDES VIANA
O DIREITO À EDUCAÇÃO E O DIREITO EDUCACIONAL
Monografia apresentada ao Curso de
Graduação da Faculdade Atenas como
requisito parcial para obtenção do título de
Bacharel em Direito.
Área de concentração: Ciências Sociais
Orientador: Prof. Esp. Nilo Gonçalves dos
Santos Filho
Banca Examinadora:
Paracatu – MG, 15 de Dezembro de 2010.
___________________________________________________________________________
Prof. Esp. Nilo Gonçalves dos Santos Filho
___________________________________________________________________________
Prof. Msc. Renata Gomes Netto
___________________________________________________________________________
Prof. Msc. Wenderson Silva Marques de Oliveira
Tenho a grata satisfação de dedicar o
presente trabalho a Deus, que é amor
infinito, e a pessoas muito especiais, elas
fazem parte de um grande grupo de amigos e
colaboradores marcantes que passo a citar
como forma de homenagem, haja vista a
impossibilidade de paga pelo que fizeram e
fazem por mim; de fato, pessoas decisivas
para a concretização desse ideal:
Vanessa, a mulher que amo, e sendo tão
amiga, companheira e esposa, me ajuda a
compreender minha missão como ser
humano.
Lucas e João Pedro, nossos filhos, eles, com
a naturalidade própria das crianças,
motivam-me a buscar o crescimento todos os
dias.
Sr. Alberto e Da. Eva, meus pais, fonte
extremamente rica de vida, amor, doação,
serenidade, fé, respeito e compromisso.
Meus sete irmãos, nos quais sempre
identifico mais uma virtude a alcançar.
Da. “Dinhinha” e Don Leonardo, sábios
orientadores espirituais e de convivo social.
Rosilene Guimarães, a primeira professora,
Romilda Rodrigues, grande entusiasta, Tácio
Santana, que mostrou ser possível praticar
educação com seriedade e bom humor. A
partir destes saúdo todos os meus amigos,
mestres e orientadores que também sabem o
significado da presente vitória.
“Liberdade é agir, é escolher. Qual a
escolha? A resposta do caminho a tomar, da
opção a fazer, se encontra no conhecimento.
Somente quem conhece os caminhos pode
decidir, escolher o que lhe seja mais
interessante, mais conveniente, mais
proveitoso.”
Maria Garcia (2004)
RESUMO
O presente trabalho aborda o tema proposto, qual seja, o estudo do Direito
Subjetivo à Educação e do Direito educacional, a partir da previsão constitucional do art. 6º e
dos art. 205 a 214 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através de um
relato histórico, que vai desde o período do colonialismo brasileiro, adentrando ao período
imperial, retrata fatos ocorridos no período republicano, no regime ditatorial que se instalou
1964, e teve o seu fim com a eleição presidencial de 1985 e, por conseguinte, a promulgação
do atual texto constitucional em 1988 e da Lei 9.394, de 1996 (a nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação).
O estudo prossegue discutindo especificamente o Direito Subjetivo à Educação,
tendo por alicerce os atuais institutos legais atinentes ao assunto, bem como o ensinamento
doutrinário e jurisprudencial que vem pontuando o tema no país.
Ao final discute-se o Direito Educacional em âmbito nacional, sua possibilidade,
origem, composição, autonomia, abrangência, relacionamento com outros ramos do Direito, e
sua aplicabilidade em relação ao atual sistema educacional brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Direito. Educação. Direito Educacional.
ABSTRACT
This paper discusses the proposed theme, namely the study of subjective right to
education and law education, from the constitutional provision of Art. 6 and of art. 205 to 214
of the Constitution of the Federative Republic of Brazil in 1988, through a historical account,
which goes from the Brazilian colonial period, into the imperial period, depicts events that
occurred in the Republican period, the dictatorial regime that was installed in 1964, and had
its end with the presidential election of 1985 and therefore the enactment of the current
Constitution in 1988 and Law 9394, 1996 (the new Law of Directives and Bases of
Education).
The study goes on to discuss specifically the subjective right to education, with
the foundation existing legal institutions relating to the subject and the teaching of doctrine
and jurisprudence that has punctuated the theme in the country.
At the end we discuss the Educational Law nationwide, its possibility, origin,
composition, independence, scope, relationship with other branches of law and its
applicability in relation to the current Brazilian educational system.
KEYWORDS: Right. Education. Educational Law.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 09
1 FONTES HISTÓRICAS DO DIRIETO À EDUCAÇÃO ............................................... 10
1.1 DA CHEGADA DO PRÍNCIPE REGENTE AO PERÍODO IMPERIAL ................ 11
1.2 O PERÍODO REPUBLICANO E A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO .......................................................................................................................... 14
1.3 A DITADURA MILITAR E O RETROCESSO NA EDUCAÇÃO ............................ 19
1.4 A NOVA REPÚBLICA E A REORGANIZAÇÃO DO ENSINO ............................... 22
1.5 A DÉCADA DA EDUCAÇÃO ....................................................................................... 23
2 DIREITO À EDUCAÇÃO - UM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO .......................... 26
2.1 O DIREITO À EDUCAÇÃO FRENTE ÀS RELAÇÕES EDUCACIONAIS ........... 26
2.2 OS INSTRUMENTOS DE REGULAMENTAÇÃO E A APLICAÇÃO DA NORMA
EDUCACIONAL ................................................................................................................... 27
3 O DIREITO EDUCACIONAL ......................................................................................... 32
3.1 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO DIREITO EDUCACIONAL ................... 32
3.2 A AUTONOMIA DO DIREITO EDUCACIONAL ..................................................... 35
3.3 JUSTIFICATIVA DO USO DA EXPRESSÃO E CONCEITO .................................. 36
3.4 A RELAÇÃO COM OUTROS RAMOS DO DIREITO ............................................. 39
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 43
REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 44
9
INTRODUÇÃO
As discussões a cerca dos institutos Direito à Educação e Direito Educacional no
Brasil, a despeito de raros e esparsos avanços percebidos entre o período colonial até a
vigência da ditadura militar, tem sido nos últimos anos tema de grande número de simpósios,
seminários, cursos de pós-graduação e decisões judiciais por todo o país. O estudo em nível
acadêmico desses dois temas de importância salutar, tem ainda, sido impulsionado por alguns
acontecimentos dos tempos modernos, tais como: a); a busca da população por formação
intelectual e profissional, em instituições públicas ou particulares; b) os investimentos dos
setores privado e público no oferecimento de serviços educacionais; c) a ação do Estado,
grande gestor da educação nacional, em todos os níveis e modalidades de ensino; d) a
escassez de profissionais do direito com amplo conhecimento sobre o assunto; e e) os
compromissos assumidos pelo Brasil frente as organizações internacionais, como o de
garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um ciclo completo de
ensino básico – relato da Sub-procuradora geral da república Ela Wiecko Volkmer de
Castilho (CASTILHO, 2006)1.
O presente estudo tem sua importância acentuada também pelo fato de já se
encontrarem em níveis avançados as discussões a respeito da estruturação e efetivação do
Direito Educacional como Ramo do Direito no Brasil, como será visto no decorrer deste
trabalho.
1 CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Direito à Educação e o Ministério Público. Disponível em:
<http://www.dhnet.org.br/educar/textos/wiecko_direito_ed_mp.pdf >. Acesso em 28/10/1010.
10
1 FONTES HISTÓRICAS DO DIRIETO À EDUCAÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dedicou em seu Título
VIII, capítulo III, toda a Seção I, dez artigos, do 205 ao 214, ao Direito à Educação; direito
este que é também o primeiro entre os direitos sociais efetivamente garantidos no art. 6º da
Carta Magna de 1988. CF/88 Art. 6º “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção á maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Estas previsões constitucionais
responderiam ao questionamento, objeto deste capítulo: Quais são e de onde emanam as
regras que norteiam o Direito Educacional no Brasil? No entanto, para se apropriar do
conhecimento de tal resposta é necessário ir além, é necessário recorrer à história da
legislação educacional brasileira, conforme ensina Nelson Joaquim (2009, p. 57):
Para conhecer, entender e aplicar o Direito Educacional é preciso percorrer a história
da legislação educacional brasileira, até os nossos dias. Aliás, a história do Direito
Educacional brasileiro é, em parte, a história da educação, das constituições, das
políticas educacionais e das legislações educacionais.
Analisando o trabalho deste autor extrai-se que a primeira legislação educacional
nacional data da época do colonialismo, com a chegada dos primeiros jesuítas-educadores ao
Brasil, na frota de Tomé de Souza, 1º Governador Geral do Brasil, no ano 1549, quando se
tem, na então colônia, o primeiro esboço de uma política educacional. Eis que Dom João III
baixa instruções especiais sobre a educação dos meninos indígenas, os menores, mais dóceis e
de rápida aculturação viviam dentro dos núcleos civilizados, em regime de vida escolar,
internados nos colégios dos padres jesuítas, enquanto os adultos catequizados permaneciam
em aldeias nas imediações dos núcleos de povoação.
Destacaram-se inicialmente como mestres: Padre Antônio Vieira, Vicente
Rodrigues e Padre Manoel da Nóbrega, este último foi o edificador das bases da educação no
Brasil e seu plano de educação visava, além de ministrar a catequese e a instrução aos
11
mamelucos e aos curumins indígenas, organizar idêntica série de recolhimentos paralelos,
para neles abrigar as pequenas mamelucas e meninas indígenas. É neste contexto que se dá a
primeira aproximação entre o direito e a educação, já no Brasil Colonial.
Aquele sistema era, sem dúvida, um sistema educacional seletivo e dualista,
garantidor de privilégios a classe sacerdotal e a elite da administração pública, conforme
afirma o filósofo e historiador Luiz Alves de Matos (1958), apud Nelson Joaquim (2009, p.
58)
O analfabetismo dominava não somente as massas populares e a pequena burguesia,
mas estendia-se até a alta nobreza e a família real. Saber ler e escrever era privilégio
de poucos, na maioria confinada à classe sacerdotal e na alta administração pública.
Em meio a essa densa ignorância, brilhavam as cidades de Lisboa e Coimbra como
os dois principais focos de cultura do reino.
Na mesma obra Nelson Joaquim diz que, uma vez expulsos os jesuítas em 1612 e
a com a Reforma Pombaliana em 1759, encerra-se um capítulo da educação colonial do Brasil
de mais de dois séculos, mas abre-se um novo, marcado pela administração do Marquês de
Pombal, com o Alvará de 28 de junho de 1759, e então pela primeira vez se reconhecia de
forma inequívoca a educação como dever do Estado. Embora, do ponto de vista interno da
colônia, a Reforma Pombaliana tenha representado uma verdadeira catástrofe, pois destruíra o
único sistema organizado de ensino, substituído inadequadamente.
A política educacional pombaliana pretendia formar uma elite brasileira apta a
conduzir as transformações sociais, políticas e econômicas, mas neste ponto residia uma
contradição: a inexistência de instituições de ensino superior na colônia, os brasileiros tinham
a sua formação universitária dada pela Universidade de Coimbra, em Portugal, que
continuava a exercer sua influência em relação a tal formação.
1.1 DA CHEGADA DO PRÍNCIPE REGENTE AO PERÍODO IMPERIAL
Segundo Miranda (1987), apud Nelson Joaquim (2009, p. 60): “A partir da
chegada ao Brasil do príncipe regente D. João VI, em 22 de janeiro de 1808, o ambiente
12
modificou-se e outra mentalidade circulava no Brasil”. Neste contexto foram criados, dentre
outros: a Academia Real de Marinha, cursos na área da saúde na Bahia e no Rio de Janeiro,
com vistas em atender a formação de médicos e cirurgiões para as forças armadas (Exército e
Marinha), a Biblioteca Pública, que deu origem a atual Biblioteca Nacional, o Jardim
Botânico, Laboratório de Química, Curso de Agricultura e o Museu Nacional, além de
algumas aulas régias, que procuravam suprir lacunas do ensino tradicional, como por
exemplo: de retórica e filosofia em Paracatu, Minas Gerais, em 1821.
Com a Proclamação da Independência e fundação do Império do Brasil em 1822,
inicia-se, embora sem grandes avanços na área de educação para o povo, uma fase de debates,
projetos e reformas de ensino primário, secundário e superior.
Declarada a independência, os constituintes empenharam-se notadamente em dar
maior desenvolvimento ao ensino do povo, e, segundo Lourenço Filho (1954), apud Nelson
Joaquim (2009, p. 62) “pretendia-se no projeto da Carta de 1823, que cada vila ou cidade
tivesse uma escola pública; cada comarca, um liceu e que estabelecessem universidades.”
A Assembléia Constituinte, porém, foi dissolvida por D. Pedro I, que outorgou a
Carta Constitucional de 11 de dezembro de 1824, com preocupações bem menos ousadas em
relação à educação pública, veja-se a previsão daquele diploma legal, em seu art. 179, alíneas
32. “A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos” e 33. “Colégios, e universidades,
onde serão ensinados os elementos das ciências, belas-letras e artes.”2
Ocorre que em relação ao primeiro caso, a primeira lei a regulamentar o
dispositivo constitucional só veio em 15 de outubro de 1827, praticamente três anos mais
tarde, e mandou criar em todas as cidades, vilas e lugarejos, escolas de primeiras letras e
escolas de meninas, o que nas palavras de Lourenço filho (1954), apud Nelson Joaquim
2
CARTA DE LEI DE 25 DE MARÇO DE 1824. Disponível em: <http://www.georgetown.edu/pdba/
Constitutions/Brazil/1824.html>. Acesso em 01/10/2010 às 21:26 h.
13
(2009, p.63) “a julgar pelos documentos oficiais da época, foram escassos os frutos da
medida, tal a dificuldade em encontrarem-se pessoas habilitadas para o ensino”.
No segundo caso tem-se o que representa a emancipação da influência de
Coimbra, já que na própria nação alicerçam-se os fundamentos jurídicos para uma formação
nacional e cultural: eis que a Carta Lei de 11 de agosto de 1827, contendo o art. 179, 33, que
trata dos colégios e Universidade, fora votada pela Assembléia Geral e recebeu a sanção do
Imperador D. Pedro I, para a criação de dois cursos jurídicos, um na cidade de São Paulo, em
1º de março, no convento de São Francisco, e outro na cidade de Olinda, em 15 de maio de
1828, no Mosteiro de São Bento.
A Constituição Política do Império sofre algumas alterações, promovidas pelo
chamado Ato Adicional, fundamentado na Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834, que em seus
art. 9 e art. 10, § 2º dispõe:
Art. 9o: Compete às Assembléias Legislativas Provinciais propor, discutir e
deliberar, na conformidade dos artigos 81, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 da Constituição.
Art. 10: Compete às mesmas Assembléias legislar:
§ 2o: sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-las, não
compreendendo as faculdades de medicina, os cursos jurídicos, academias
atualmente existentes e outros quaisquer estabelecimentos de instrução que para o
futuro forem criados por lei geral.3
Com a descentralização realizada a partir deste dispositivo tem-se que a
competência de legislar sobre a instrução primária e secundária seria entregue às assembléias
provinciais, isto posto uma vez que a educação do povo não interessava diretamente ao
governo imperial. Mas, tão somente a preparação de uma elite, por isso ficariam dependentes
do governo imperial apenas o ensino superior em sua totalidade e a instrução primária da
capital do império.
Em 1843 ressurge a idéia da criação de uma Universidade na capital do Império,
que reuniria cinco faculdades, mas isso não se realizou. Aliás, a criação de Universidades no
Brasil foi algo que somente veio a acontecer a partir de 1935.
3
Brasil, Ato Adicional, de 12 de agosto de 1834. Disponível em:
<http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/biblioteca /brasil/hb_imperio/hb_imperio.htm>. Acesso em 01/10/2010.
14
No chamado segundo reinado, período que sucedeu à década de 1850 não houve
grandes avanços na educação, embora D. Pedro II fosse considerado um dos imperadores
mais cultos de sua época e demonstrasse interesse pessoal pelas coisas do ensino. Destacam-
se a apresentação do projeto de uma universidade com quatro faculdades: direito, medicina,
ciências matemáticas e naturais e letras, que não se efetivou e a Reforma do Ministro Carlos
Leôncio de Carvalho, com a promulgação do Decreto nº 7.247, de 19/04/1879, cujo parecer
final, sobre o controvertido tema: liberdade do ensino, foi elaborado por, ninguém menos que
Rui Barbosa.
Nelson Joaquim (2009, p. 68) propõe, citando Souza (1986) e Morsbach (1969), o
seguinte paralelo num período semelhante entre o Brasil e os Estados Unidos da América:
nota-se que enquanto no Brasil pouco se fez, pois a educação do povo não interessava
diretamente a uma economia fundada na escravidão e no latifúndio, nos Estados Unidos, o
presidente Abrão Lincoln (1861 – 1865), no período da guerra civil, organizou o
departamento dos libertos, criou escolas, distribuiu terras e incentivou o alistamento eleitoral
do ex-escravos.
E que, cabe, entretanto, ressaltar a importância dos abolicionistas e Joaquim
Nabuco, principal líder abolicionista, que assim se pronunciou na época, Nabuco (1928) apud
Nelson Joaquim (2009, p. 68): “[...] a escravidão bloqueava o desenvolvimento das classes de
um mercado de trabalho. [...] A senzala e a Escola são pólos, que se repelem...”
1.2 O PERÍODO REPUBLICANO E A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO
A obra de Nelson Joaquim (2009) traz a informação de que a primeira república
(1889/1893) pouco avançou na área educacional, ao contrário, regrediu. A Constituição de
1891, inspirado no modelo norte-americano, mas omisso quanto à educação, apenas repetiu o
Ato Adicional de 1834, ocorrendo novamente uma descentralização. Dando competência ao
15
Congresso nacional, privativamente, para legislar sobre o ensino superior na Capital (artigo
34, item 30), mas, cumulativamente com os governos das unidades federadas, para promover
a instrução secundária no Distrito Federal e criar instituições de ensino superior e secundário
nos estados (art. 35, itens 3º e 4º).
A partir de 1920, iniciou-se uma série de reformas e políticas administrativas do
ensino, que acompanhavam as novas idéias de renovação educacional propostas pelos
educadores. Três fatos contribuíram de forma especial para o desenvolvimento dos debates
acerca da educação: a fundação da Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1924; o
inquérito sobre a educação promovido pelo jornal O Estado de São Paulo e levado a efeito
por Fernando de Azevedo, em 1926; e as reformas educacionais realizadas por vários Estados
durante a década de 1920.
Com a Revolução de 1930, Segunda República (1930 a 1985), grandemente
representada por Getúlio Dornelas Vargas, uma nova política de educação começou a tomar
corpo com a criação do Ministério de Educação e Saúde Pública, sob a liderança de Francisco
Campos.
Medidas do governo estimularam a expansão das redes escolares estatuais e
municipais, com crescimento proporcional das escolas em mais de um terço no período de
1932-1936, alguns dos reformadores educacionais da década anterior passaram a ocupar
cargos importantes na administração do ensino e procuraram colocar em prática as idéias que
defendiam.
Segundo Lauro de Oliveira (1974, p. 122), apud Nelson Joaquim (2009, p.73),
“pode-se ter idéia do sentido renovador da Revolução de 1930, fato histórico, cuja
importância, talvez, venha a ter mais relevo que a proclamação da independência ocorrida
cem anos antes (1822)”.
A esse respeito Nelson Joaquim (2009, p. 73) afirma que: “O problema é que na
década de 1920 a 1930, apenas uma pequena elite tinha acesso à educação pública com
16
qualidade e mesmo, com a democratização do ensino permaneceu o dualismo: escola dos
pobres e escola dos ricos[...].
E, com a nova mentalidade instalada no país, a partir da aplicação das idéias
apresentadas no manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado por um grupo de
educadores em 1932 surgem as universidades de São Paulo (1934), Universidade do Distrito
Federal (1935), fruto da iniciativa de Anísio Teixeira e a Universidade de Porto Alegre.
Diz também que a Constituição de 1934 foi a primeira a incluir um capítulo
próprio sobre educação, tendo reconhecido o direito à educação como direito social. Veja
disposição do art. 149: “A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e
pelos poderes públicos”. Dispositivo este que tinha uma natureza meramente declaratória, e
por isto mesmo mereceu o seguinte comentário do jurista Pontes de Miranda (1933) em sua
obra Direito à Educação, apud Joaquim (2009, p.74): “Infelizmente o Estado moderno
constitucional, deixou sem sanção, certos direitos declarados. Há direitos declarados sobre a
educação, apenas verbalmente e de difícil reconhecimento, por faltar direitos subjetivos
acionáveis.”
Vários assuntos de grande importância foram dispostos nessa constituição, dentre
eles: plano nacional de educação, obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário,
organização dos sistemas educacionais, ensino religioso, liberdade de cátedra e vinculação de
recurso. Tratou também do Conselho Nacional de Ensino, substituído pelo Conselho Nacional
de Educação, como órgão consultivo do Ministério da Educação e foram criados os Conselhos
Estaduais de Educação.
Pela Lei nº 174, de 6 de janeiro de 1936, o Conselho Nacional de Educação é
reorganizado, cumprindo os mandamentos da Constituição de 1934. A respeito do citado
diploma constitucional conclui Crunhaes (2000), apud Nelson Joaquim (2009, p. 75):
A constituição de 1934 foi a primeira a vincular uma percentagem de recursos
federais, que deveriam ser aplicados exclusivamente na educação. Já a Constituição
de 1937, sob a égide do Estado Novo, acabou por abolir essa vinculação, que voltou
17
a ser recriado em 1946, não só com impostos federais vinculados, mas também
impostos municipais reservados para a educação, ainda destinando a ela uma
percentagem do Fundo de Participação dos Municípios e outra das receitas
tributárias próprias.
A instituição do chamado Estado Novo, regime de governo autoritário e unitário
que foi implantado com o golpe de Estado de 10 de novembro de 1937 trouxe consigo um
texto constitucional que apresenta artigos longos, discursivos, ressaltando os aspectos
profissionais do ensino (art. 128 a 134). Preparar a juventude para o cumprimento de seus
deveres para com a economia e a defesa da nação era o seu objetivo maior.
A expansão das escolas se deu em quantidade superior ao que ocorreu em um
século de independência, em virtude de benesses proporcionadas pelo governo, tanto das
escolas de ensino primário como também das de ensino secundário.
Durante o Estado Novo, em 1938, foi criada a UNE (União Nacional dos
Estudantes), cujo apoio era disputado pelas duas principais facções políticas do governo: a
pró-Eixo e a pró-Aliados. Ressalta-se, porém, que quando o controle político não era
conseguido, o Estado acionava o aparelho repressivo policial e até mesmo as forças armadas.
No ano de 1942, abrangendo o ensino secundário e técnico-industrial, foi
decretada a reforma Capanema, que dispensou qualquer debate público, sendo elaborada no
segredo dos gabinetes, ao contrário das reformas de Benjamin Constant e Francisco Campos,
que foram precedidas por memoráveis discussões.
Na vigência do Estado Novo (1937-1945), durante a ditadura de Vargas, o
ministro Gustavo Capanema empreende outras reformas no ensino, regulamentadas por
diversos decretos-leis assinados de 1942 a 1946 e denominados Leis Orgânicas de Ensino.
(ARANHA 1977, apud, JOAQUIM 2009, p. 77-78)
Embora se reconheça os avanços da educação na era Vargas (1930 -1945), cabe
salientar que durante o período do Estado Novo a liberdade fora reprimida e extinta. E apesar
dos avanços do ponto de vista real, no que diz respeito ao dualismo histórico do sistema
18
educacional, ensino para os segmentos sociais médios e altos, e escolas que atendiam a
população de baixa renda, permaneceram as desigualdades.
A redemocratização do país, após a queda da ditadura de Vargas, se reflete na
Constituição de 1946, de espírito liberal e que apresenta dez artigos (de 166 a 175) voltados
para o tema da educação, e destes, sete tratando especificamente da educação e do ensino. Os
valores já defendidos em 1934 são novamente retomados pelos pioneiros da educação nova
em oposição à Constituição daquele ano. O texto constitucional de 1946, no entanto, é um
documento político e não traz grandes inovações para a educação, mas no seu art. 5º, XV, “d”
atribui à União competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, o que
no futuro, impulsionaria as discussões envolvendo a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases
da educação nacional.
Em 1948, por iniciativa do ministro Clemente Mariani, o poder executivo remeteu
ao Congresso Nacional o projeto de lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Durante treze anos ocorreram reuniões, discussões, debates, manifestações de
opiniões, trabalhos de comissões, emendas, substitutivos. (MIRANDA 1977, apud
JOAQUI, 2009, p. 79)
As discussões, com raras exceções, eram acalouradas, mas a liberdade de ensino
foi o assunto que mais empolgou o Congresso e agitou a opinião pública e os educadores.
Haviam duas correntes cujas posições eram radicais: os pioneiros da educação
nova, que iniciam a Campanha em defesa da Escola Pública, apoiados por intelectuais,
estudantes e líderes sindicais de um lado. E do outro lado, os defensores da escola privada,
ligados, principalmente aos meios católicos, que saíram em defesa da liberdade de ensino
contra a democratização da educação que, em tese, ampliaria a participação política, o que
não era de interesse das forças políticas conservadoras.
Assim se realizou o I Seminário Nacional de Reforma Universitária em Salvador,
de 20 a 27 de maio de 1961. E também na década de 1960, surge a primeira lei brasileira a
estabelecer as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4024, de 20 de dezembro de
1961), para todos os níveis, do pré-primário ao superior, que instituiu um Conselho Federal de
19
Educação e Conselhos Estaduais de Educação, mas, de certa forma não acontecem alterações
na estrutura do ensino, permanece a mesma da reforma de Capanema, o diferencial foi a
quebra da rigidez do sistema, tornando possível a mobilidade entre os cursos, redução do
número de disciplinas e pluralidade de currículos. E, apesar das pressões para que o Estado
destinasse recursos apenas para a educação pública, a Lei atende também às escolas privadas.
Ressalta-se, porém, que o Conselho Nacional de Pesquisa, em 1951, o Instituto
Superior de Estudos Brasileiros, em 1955, a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do
Ensino Secundário, dentre outras, o Programa Nacional de Alfabetização, em 1963, foram
conquistas ainda mais importantes que a nova Lei de Diretrizes e Bases.
1.3 A DITADURA MILITAR E O RETROCESSO NA EDUCAÇÃO
Infelizmente o regime autoritário instalado no país, em 1964, com o golpe militar,
e deposição do presidente constitucional João Goulart, freou os avanços dos movimentos de
educação e conquista popular, durante vinte anos de ditadura. Numerosas escolas foram
invadidas pela polícia, muitos professores e estudantes foram presos e exilados, agentes dos
órgãos de informações do governo, sob o controle do Serviço Nacional de Informação (SNI)
passaram a observar todas as escolas.
Ressalta-se neste período a prisão Paulo Freire, passando 75 dias na prisão,
segundo José Luiz de Paiva Bello (1993):
Paulo Freire é inspirador de um método revolucionário que alfabetizava em 40
horas, sem cartilha ou material didático.[...] O cunho fundamental desta "campanha"
era menos o alfabetizar, mas, principalmente, reciclar culturalmente uma população
que ficara para trás no processo de desenvolvimento, vivenciando posturas próprias
do período colonial em pleno século XX. Paulo Freire achava que o problema
central do homem não era o simples alfabetizar mas fazer com que o homem
assumisse sua dignidade enquanto homem. E, desta forma, detentor de uma cultura
própria, capaz de fazer história. Ainda segundo Paulo Freire o homem que detém a
crença em si mesmo é capaz de dominar os instrumentos de ação à sua disposição,
incluindo a leitura. Com o golpe militar de 1964, a experiência de Paulo Freire, já
20
espalhada por todo o país, foi abortada sob alegações inconsistentes como
subversiva, propagadora da desordem e do comunismo etc.4
O Congresso Nacional, em 1966, se viu invadido por tropas armadas e posto em
recesso e reaberto somente no ano seguinte, com a maioria de parlamentares do partido do
governo militar. Para enfraquecer a oposição foram cassados mandatos e suspensos direitos
políticos das lideranças do país.
Em 1967, a ditadura militar tem por fora da lei as organizações consideradas
subversivas, a exemplo da UNE (União Nacional dos estudantes), para evitar a representação
em âmbito nacional, permitindo apenas a atuação do DA (Diretório Acadêmico), restrito a
cada curso e do DCE (Diretório Central dos Estudantes), para cada universidade. As escolas
do grau médio são controladas, seus grêmios transformados em centros cívicos, sob
orientação do professor de Educação Moral e Cívica.
O decreto-lei baixado pela Junta Militar em 1969, torna nesse contexto, o ensino
de Educação Moral e Cívica obrigatório nas escolas para a totalidade dos graus e modalidades
de ensino; o mesmo acontecendo com Organização Social e Política Brasileira (OSPB) no
grau médio e Estudos de Problemas Brasileiros (EPB) no curso superior.
“Em 1966 e 1967, decretos presidenciais e pareceres do Conselho Federal de
Educação minaram o poder e a legitimidade que os catedráticos haviam usufruído desde o
início do século XIX.” (CUNHA 2000, apud JOAQUIM 2009, p. 84).
A carta Constitucional promulgada em 24 de janeiro de 1967 implicou num
retrocesso na educação brasileira, já que os Atos Institucionais se posicionavam acima da
Constituição, que continha seis artigos sobre Família, Educação e Cultura (art. 167 a 172). Da
mesma foram reservados seis artigos (arts. 175 a 180), na Emenda Constitucional nº 1 de
1969. Essas Constituições não contribuíram efetivamente para o avanço da educação
brasileira.
4 BELLO, José Luiz de Paiva. Paulo Freire e uma nova filosofia para a educação. Disponível em:
<http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/per01.htm>. Aceso em 05/12/2010.
21
Mas pelo contrário, no dia 13 de dezembro de 1968, o país foi submetido ao Ato
Institucional nº 5, que deu poderes ao Presidente da República para atropelar a organização e
os direitos políticos. Na educação, o Decreto nº 477, de 26 de fevereiro de 1969, a que foram
submetidos os estudantes, professores e funcionários se assemelhou aquele Ato. O governo
militar procedeu, ainda, a Reforma Universitária, através da Lei nº 5.540, de 28 de novembro
de 1968, 15 dias antes do Ato Institucional nº 5, que serviu para neutralizar a luta dos
estudantes por mais vagas nas escolas públicas. O conjunto, assim definido, significou o
retrocesso da educação brasileira.
Ocorreu no período mais violento da ditadura militar, no governo Médici, a
reforma do ensino fundamental e médio, com um mínimo de discussão e sem a participação
dos estudantes, professores e outros segmentos sociais interessados. Trata-se da Lei nº
5.692/71, de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º Graus, que modificou a estrutura
anterior do ensino, uma vez que o curso primário (quatro a seis anos) e o ginásio foram
unificados num único curso, chamado 1º grau, com duração de oito anos. No caso, o ensino
de 2º grau tornou-se profissionalizante.
A respeito da citada, Lei Souza (1986, p. 105) fez o seguinte comentário:
A Lei nº 5.692/71, de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º Graus, nasceu de
uma enganosa concepção sobre os objetivos desses graus de ensino. Notadamente,
no que diz respeito ao 2º grau. Dois equívocos parecem ter inspirado a adoção dessa
obrigatoriedade profissionalizante nesse grau de ensino: o primeiro diz respeito à
tentativa de desviar parte do alunado do interesse pela universidade, para o endereço
do mercado de trabalho; o segundo refere-se a uma suposta demanda explosiva de
técnicos por parte da empresa. A realidade acabou por contrariar ambas as
conjecturas. (NELSON JOAQUIM 2009, p. 86)
Por volta de 1980, já se reconhecia de forma inconteste o fracasso da implantação
da reforma da Lei de Diretrizes e Bases, daí então que, por meio da Lei nº 7.044, de 18 de
outubro de 1982, os estabelecimentos de ensino tiveram liberdade para oferecer a habilitação
profissional ou não.
22
O Governo militar se prolongou de 1964 até a redemocratização do País, em
1985. Período em que apesar da resistência à redemocratização e os impedimentos do debate
político, o regime autoritário perdeu espaços para a abertura política, que se ampliou e
exerceu influência positiva na educação brasileira. Neste curso a Emenda Constitucional
24/83 fixou que a União aplicasse “nunca menos que treze por cento, e os Estados, o distrito
Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos
na manutenção e no desenvolvimento do ensino”. (COSTA, 2002, apud JOAQUIM 2009, P.
87)
1.4 A NOVA REPÚBLICA E A REORGANIZAÇÃO DO ENSINO
A Nova República (1985) trata de uma fase de transição, iniciada em 15 de março
de 1985, coma eliminação do que ainda restou do autoritarismo, bem como transformações de
cunho social, administrativo, econômico e político.
Na gestão de Darcy Ribeiro, Secretário da Educação no governo de Leonel
Brizola, no ano de 1985, são criados os Cieps (Centro Integrados de Educação Pública), que
segundo a historiadora Maria Lúcia de Arruda Aranha (1996, p. 222), “com ampla
propaganda, provocaram reações de aplausos e rejeições, por existirem intenções eleitoreiras,
mas nem sempre as críticas são desapaixonadas”. “Trata-se, na realidade, de um avanço na
educação brasileira, que hoje é reconhecido pela sociedade brasileira”. (JOAQUIM, 2009, p.
88)
Tendo por fundo a eleição para presidente da República, em 1985, e através do
Congresso Constituinte, em 1986, que produziu um texto constitucional moderno, avançado e
inovador, embora detalhista, ocorreram significativas mudanças, inclusive na educação. A
nova carta magna de 1988 veio consolidar a redemocratização brasileira, na medida em que
23
ampliou o rol de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, como também dos
chamados direitos de terceira geração (meio ambiente, direito do consumidor etc.).
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988,
destinou os artigos de 205 á 214 à educação, mas a Emenda Constitucional nº 14, de 13 de
setembro de 1996, trouxe grandes mudanças no que diz respeito à organização do ensino e ao
financiamento. Vez que o governo federal redefiniu o seu papel na educação.
Primeiro destaque tem a obrigação de educar do Estado, no ensino fundamental
gratuito e, ao mesmo tempo, o direito público subjetivo acionável, caso o Estado não cumpra
o seu dever constitucional de educar, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade
própria, neste caso importa responsabilidade da autoridade púbica competente, trata-se de
norma constitucional cogente e de ordem pública, (art. 208, I §§ 1º e 2º).
Já o segundo destaque é que a Constituição de 1988 coloca o município como
entidade estatal integrante da Federação, como entidade político-administrativa, que detém
autonomia política, administrativa e financeira. A Constituição prevê que a União prestará
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, “para o
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade
obrigatória” (art. 211, § 1º). A Magna Carta atribui aos municípios, o ensino fundamental e
educação infantil (art. 211, § 2º). No artigo 12, § 2º, que se refere à aplicação dos recursos,
confirma-se o estatuído no art. 211: “A União, os Estados, o distrito Federal e os Municípios
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”.
O processo de reforma da educação no Brasil, na década de 1990 e no início do
terceiro milênio, deu-se em duas frentes: por meio da apresentação de um projeto global para
a educação – Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em 1996 – e naquela que constituiu na
implementação de legislações educacionais ou outras legislações não educacionais, mas
disciplinando matérias educacionais; política pública educacional, ações afirmativas
educacionais, programas, planos setoriais e influência dos organismos internacionais.
24
1.5 A DÉCADA DA EDUCAÇÃO
São inegáveis os avanços em matéria educacional a partir dos anos 90, mas,
sobretudo na “Década da Educação” (1997-2007), com reflexos no contexto do Direito
Educacional como se vê a seguir:
1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida pela sigla LDB – Lei nº
9394/96 – aprovada após oito anos de debates no Congresso Nacional e ampla
participação dos segmentos, que atuam na área educacional em 17 de dezembro de
1996, promulgada em 20 de dezembro e publicada no Diário Oficial da União de 23
de dezembro de 1996. Segundo Saviani (2000, p.2), é a Lei 9394/96 a maior da
educação no país, por isso mesmo denominada “carta magna da educação: ela situa-se
imediatamente abaixo da Constituição, definindo as linhas mestras do ordenamento
geral da educação brasileira”.
2. Conferência mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, de
5 a 9 de março de 1990, foi patrocinada pelo Programa das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pelo Banco Mundial, o seu objetivo foi
promover a universalização do acesso à educação e à promoção da equidade, dar
prioridade à aprendizagem, ampliar os meios e alcance da educação básica e fortalecer
o ajuste de ações educativas.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – O
direito à educação está positivado no Estatuto da Criança e do Adolescente é uma
legislação importante para a educação da criança e do jovem brasileiro.
4. O Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990. A
prestação de serviço educacional é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor.
(arts. 2º e 3º).
25
5. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério – Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Na década de 1990
expandiu-se o ensino fundamental, com importante contribuição do FUNDEF, apesar
das dificuldades de melhorar a qualidade do ensino.
6. Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999 – anuidades Escolares – disciplina as
relações entre os alunos e os estabelecimentos de ensino e poder público. Lei
específica do Direito educacional.
7. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a Educação Ambiental e a Política
Nacional de Educação Ambiental.
8. Plano Nacional de Educação (PNE). Lei nº 10.172, sancionada em 9 de janeiro de
2001. Diz respeito ao cumprimento das determinações contidas no art. 214 da
Constituição Federal e os arts. 9º inciso I, e 87 § 1º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
Portanto, emana da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação o regramento básico da educação no Brasil, a partir daí esta última segue
regulamentada por vários outros instrumentos que se propõem sejam identificados e
estudados no ambiente acadêmico como forma de fazer acontecer o Direito Constitucional à
Educação.
26
2 DIREITO À EDUCAÇÃO – UM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO
O Direito à educação é o ponto central deste capítulo, que buscará desenvolver um
estudo a cerca da concepção, do reconhecimento e da defesa deste direito no Brasil. A esse
respeito afirma Martins (2004), apud Nelson Joaquim (2009, p. 190):
O direito à educação como proteção da vida não tem fronteira, por ser anterior e
superior a qualquer norma ou lei e precisa ser alcançado por todos os povos e
nações, como direito inalienável e fundamental. As expressões direitos fundamentais
e direitos humanos são bastante utilizadas para definir o direito à educação. Porém,
essas duas expressões não se confundem: direito à educação como direito
fundamental está positivado constitucionalmente (direito interno); direito à educação
como direito humano é reconhecido no plano internacional (direito internacional). É
de acrescer-se, ainda, que não há possibilidade de dissociação entre educação e o
direito natural, já que eles fazem parte da natureza humana, e existem direitos
inerentes à natureza humana que precedem à própria natureza do Estado.
Vicente Martins (2001), por sua vez, afirma que:
O Estado brasileiro, enquanto sociedade política, tem se revelado, no âmbito de suas
Constituições, como o grande interlocutor das políticas educacionais desenvolvidas
no País. Numa sociedade de classes, como bem caracteriza o Brasil, só o Estado é
capaz de garantir, de forma positiva, no seu ordenamento jurídico, a educação como
direito social (de todos).5
2.1 O DIREITO À EDUCAÇÃO FRENTE ÀS RELAÇÕES EDUCACIONAIS
Nelson Joaquim (2009, p. 195) lembra que o direito à educação como direito
público subjetivo, assim discutido, defendido e definido, o foi primeiramente no Brasil pelo
jurista Pontes de Miranda, na conferência da Ordem dos Advogados em 1965 – Teses nº XV
sob o título O acesso à cultura como direito de todos. Ele, que fez também nos seus
Comentários à Constituição de 1967, a seguinte afirmação:
No Brasil, tivemos o ensino primário gratuito, mas sem qualquer generalização
compulsória. Portanto, sem haver o direito público subjetivo. O federalismo
distribuiu as organizações do ensino primário, criando diferenças assas graves de
valorização do mesmo homem brasileiro, revelados nos coeficientes de
analfabetismo. Alguns Estados-Membros fechavam e fecham escolas, enquanto
outros as abriam. (MIRANDA, 1974)
5
MARTINS, Vicente. A educação e a nova ordem constitucional. Disponível em:
<http://www.direitonet.com.br/artigos/perfil/exibir/146/Vicente-Martins>. Acesso em: 12/05/2010.
27
Continua Nelson Joaquim (2009, p. 195):
Hoje, o direito público subjetivo à educação encontra-se na Constituição Federal de
1988, (art. 208, § 1º e § 2º); Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4º §§ 3º, 4º e
5º); Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54 §§1º, 2º e 3º), que incluem a
obrigação de educar como norma cogente e de ordem pública. Eis, portanto o cerne
do Direito Educacional: de um lado temos o dever do Estado com a educação, no
caso o ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208, inc. I da Constituição
federal e art. 4º, inc. I da Lei de Diretrizes e B ases da Educação); por outro lado,
temos o direito público subjetivo (art. 208, § 1º da Constituição Federal e art. 5º da
Lei de retrizes e Bases)
Em vista do que fora antes descrito, é de se notar que vários são os sujeitos que
mantêm relações educacionais. No cenário atual esta modalidade de relação se apresenta cada
vez mais intensa e em maior quantidade, haja vista o grande número de instituições de ensino
públicas e privadas localizadas em todo o território nacional: 187.468 Instituições de
educação básica, 25.923 de ensino médio e 2.252 de ensino superior, conforme as estatísticas
do Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) 6
, nos anos de 2008 e 2009, todas
sujeitas à regulamentação da Constituição Federal de 1988 e de vários outros diplomas legais,
em que se relacionam, entre outros, gestores, especialistas, auxiliares, professores, alunos,
responsáveis pelos alunos e poder público, todos titulares de direitos e obrigações específicos,
gerando grande quantidade de ocorrências jurídicas. Neste sentido Rogério Paiva
Castro(2008), por ocasião do XXI Encontro Regional de Estudantes de Direito e Encontro
Regional de Assessoria Jurídica Universitária fez a seguinte afirmação:
O Direito Educacional constitui, atualmente, um dos mais novos ramos do Direito,
sendo sistematizado por um conjunto de princípios, normas, leis e regulamentos que
versam sobre as relações de alunos, professores, administradores, especialistas e
técnicos, enquanto envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 7
2.2 OS INSTRUMENTOS DE REGULAMENTAÇÃO E A APLICAÇÃO DA NORMA
EDUCACIONAL
6 MEC/INEP/DEED. Estatísticas da Educação Nacional. Disponível em:< http://www.inep.gov.br> acesso em
28/10/2010. 7 CASTRO, Rogério Paiva. Dura Lex Sed Lx: Das Relações Educacionais em Conformidade com o Direito
Educacional e a Legislação de Ensino. Disponível em:
<http://www.urca.br/ered2008/CDAnais/pdf/SD1_files/Rogerio_Paiva_CASTRO_1.pdf>. Acesso em 07/05/2010.
28
A regulamentação das relações educacionais se faz através de instrumentos legais
de cunho estritamente educacional e também daqueles inerentes a vários outros ramos do
direito que se aplicam, todavia, às relações educacionais. São exemplos de instrumentos de
cunho estritamente educacional: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº
10.172/2001, o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 – Decreto Ponte, que trata da
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior, no sistema federal de
ensino, Regimento Interno ou Regimento Escolar de cada instituição. Já com relação aqueles
inerentes aos vários outros ramos do direito que se aplicam às relações educacionais, podem
ser citados: a própria Constituição Federal de 1988, que traz os princípios gerais, a Lei 8.069
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 – o Código de Defesa do Consumidor, o Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio
de 1943 – CLT e a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – Estatuto do Servidor Público,
que tratam das relações profissionais e de emprego no âmbito das instituições privadas e das
públicas, a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, que regulamenta assuntos
como a personalidade civil, as obrigações, os contratos , dentre várias outros.
Diante destas colocações o direito educacional, num primeiro momento, se
apresenta como promotor da conciliação, para compor ou prevenir administrativamente
possíveis conflitos na esfera educacional, uma vez superada esta fase, sem que se tenham
resolvido os conflitos de interesses, há que se recorrer à justiça, para solução judicial.
Antes, porém, dessa discussão cabe salientar que, em se tratando da falta de oferta
ou oferta inadequada da educação básica pelo Estado, dentre outras ocorrências possíveis, o
aluno ou seu responsável tem a prerrogativa de recorrer ao Ministério Público, que é o órgão
responsável pela garantia do direito subjetivo à educação. Alusão feita à publicação do
29
Ministério Público do Rio Grande do Sul (KONZEM 1999) 8
: Além dos pais ou do
responsável, a principal instituição legitimada para a tomada das providências de natureza
judicial em defesa do Direito à Educação da criança e do adolescente, seja a lide individual,
difusa ou coletiva, é, sem dúvida, o Ministério Público.
Considerando, ainda, a ocorrência de conflito tendo por base a oferta e uso dos
serviços educacionais públicos ou privados, no primeiro momento, deve se lançar mão do
Estatuto ou Regimento Interno da instituição de ensino, que é o instrumento hábil para se
embasar com vistas em solucionar a questão controversa, estes, por sua vez, devem estar em
conformidade com os institutos legais já mencionadas, neles estarão previstas as
possibilidades de composição e resolução dos conflitos no âmbito daquela unidade
educacional, bem como as instâncias recursais cabíveis de serem acionadas
administrativamente. Ferreira (2004), apud Nelson Joaquim (2009, p. 118), adverte: “já sob o
ponto de vista administrativo, o regime jurídico da escola é de natureza privada, tal como
aplicável aos demais setores da atividade econômica, razão pela qual se submete ao contido
no art. 170 e no art. 174 da CF/88”.
Em caso de a aplicação do regimento ou estatuto institucional ser
insuficientemente ou inadequada para a solução da questão controvertida, ainda assim é
possível que as partes entrem em acordo, desde que não sejam feridas as previsões legais
atinentes, o contrário ensejará a propositura de ação judicial.
Superadas tais possibilidades, as instâncias judiciais deverão ser acionadas para
que se apliquem as previsões do ordenamento jurídico nacional e as previsões fruto de
acordos internacionais para que restem solucionados os conflitos de ordem educacional. Neste
caso, há que se observar a qual rede de ensino está vinculada a instituição em que se
configurou a ocorrência litigiosa. Isto é relevante na determinação da competência do juízo
8KONZEM, Afonso Armando. O direito à educação. Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/ id1
54.htm>. Acesso em 04/11/2010.
30
que vai julgar o caso concreto, os julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a seguir
confirmam tal afirmação:
TJ-MG. Número do processo:1.0699.07.073175-6/001
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA - ENSINO SUPERIOR -
COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL. Compete à Justiça Federal o
conhecimento e o processamento das ações envolvendo o indeferimento do pedido
de matrícula, eis que se trata de matéria afeta aos interesses da União, decorrente do
exercício de função delegada a diretor de instituição particular de ensino.
Súmula: ACOLHERAM PRELIMINAR E ANULARAM PARCIALMENTE
O PROCESSO, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA
FEDERAL. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, 2009)9
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
PRIVADA - ACESSO À GRADUAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO - REQUISITOS DE APROVAÇÃO NO COLEGIAL PREENCHIDOS -
IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA - ATIVIDADE DELEGADA DO PODER
PÚBLICO FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - DECISÃO
ANULADA. Os atos dos dirigentes das instituições de ensino superior privadas, que
importem em negativa de acesso do estudante à educação, constituem exercício de
função delegada do Poder Público Federal, razão pela qual a competência para
apreciação e julgamento de mandado de segurança impetrado contra tais atos é da
Justiça Federal.
Súmula: ANULARAM, DE OFÍCIO, A DECISÃO E DETERMINARAM A
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, MANTENDO OS EFEITOS
DA CONCESSÃO LIMINAR DEFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, 2006)10
Nota-se nos casos acima que os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, em ambos os casos, declinaram a competência julgadora para a Justiça Federal,
o que se justifica tendo em vista serem tais casos referentes ao ensino superior, portanto, rede
federal de ensino, e nesse caso a competência é da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual
onde se deu a propositura dos referidos mandados de segurança, o que está em conformidade
com o entendimento do Art. 2º do Decreto 5.773, combinado com a Súmula nº 60 do Tribunal
9 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança. Matrícula. Ensino Superior. Competência
Justiça Federal. Número do Processo: 1.0699.07.073175/001. Numeração Única:0731756-45.2007.8.13.0699
. Relator: Osmando Almeida. Data do Julgamento: 23/06/2009. Data da Publicação: 20/07/2009. Disponível
em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=direito+educacional&s=jurisprudencia>. Acesso em
15/10/2010, às 11:22 h. 10
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Mandado se Segurança – Instituição de Ensino Superior Privada -
Acesso à Graduação Antes da Conclusão do Ensino Médio – Requisitos de Aprovação no Colegial
Preenchidos – Impedimento de Matrícula – Atividade Delegada do Poder Público Federal – Competência
da Justiça Federal – Decisão Anulada. Número do Processo: 1.0362.05.067042-5/001. Numeração Única:
0670425-74.2005.8.13.0362 Relator: Elias Camilo. Data do Julgamento: 10/08/2006. Data da Publicação:
18/09/2006. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=direito+educacional
&s=jurisprudencia>. Acesso em 15/10/2010, às 11:22 h
31
Federal de Recursos, de 15 de outubro de 1980, in verbis: Dec. 5773, art. 2º - O sistema
federal de ensino superior compreende as instituições federais de educação superior, as
instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos
federais de educação superior (BRASIL, 2006)11
; TFR Súmula nº 60 - Compete à Justiça
Federal decidir da admissibilidade de mandado de segurança impetrado contra atos de
dirigentes de pessoas jurídicas privadas, ao argumento de estarem agindo por delegação do
Poder Público Federal (BRASIL, 1980)12
.
As citações e previsões descritas anteriormente têm o escopo, além de informativo
a respeito do Direito Público Subjetivo à Educação, o de salientar a real necessidade de
estruturação e efetivação, no cenário jurídico brasileiro, do Direito Educacional como forma
de garantia daquele outro.
11 BRASIL. Presidente da República. Decreto Lei nº 5773, de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das
funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de
graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5773.htm >. acesso em 04/11/2010, às
7:50 h. 12
BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Súmula nº 60. Disponível em:
<http://www.dji.com.br/normas_inferiores/sumula_tfr/tfr__060.htm>. Acesso em 04/11/2010, às 9:00 h.
32
3 O DIREITO EDUCACIONAL
O direito à educação é considerado na atualidade um direito da personalidade,
conforme discutido anteriormente, no sentido de ser uma necessidade básica do ser humano
para viver dignamente no contemporâneo mundo globalizado. Pensamento que afina-se com a
lição de Eduardo Bittar (2004, p. 400):
O direito à educação carrega em si as características dos direitos da personalidade,
ou seja, trata-se de um direito natural, imanente, absoluto, oponível erga omnes,
inalienável, impenhorável, imprescritível, irrenunciável [...] não se sujeitando aos
caprichos do Estado ou à vontade do legislador, pois trata-se de algo ínsito à
personalidade humana desenvolver, conforme a própria estrutura e constituição
humana.
E que, Nelson Joaquim (2009, p. 197), completa firmando que:
Um segmento da doutrina brasileira já reconhece o direito à educação com
características dos direitos da personalidade, fazendo parte dos direitos inatos –
direito à vida – dotado de proteção civil, embora não deixando de ser um direito
social fundamental de interesse público.
Estes pontos levantados, juntamente com os que serão discutidos a seguir,
sinalizam para a possibilidade e a necessidade de sistematização do Direito Educacional.
3.1 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO DIREITO EDUCACIONAL
Originariamente, o Direito Educacional no Brasil foi marcado pela participação de
Renato Alberto Teodoro Di Dio que fez do Curso de Especialização sobre Direito
Comparado, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1970, e ao seu final
apresentou um trabalho intitulado O direito Educacional no Brasil e nos Estados Unidos, a
respeito do qual Nelson Joaquim (2009, p. 105, 106 e 107) anota:
Todavia, em termo efetivo as discussões sobre autonomia e sistematização do
Direito Educacional têm origem no 1º Seminário de Direito Educacional realizado
sob os auspícios da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em outubro
de 1977. [....] E, no final, apresentaram treze conclusões e recomendações:
1. Dar ampla divulgação ao resultado do 1º Seminário de Direito Educacional.
2. Sensibilizar os Poderes Públicos e, em especial, os órgãos e entidades
diretamente responsáveis pela educação para a importância da sistematização da
legislação do ensino.
33
3. Recomendar ao MEC, o patrocínio de recursos especiais sobre Direito
Educacional para o pessoal, que diretamente trabalha no setor de aplicação da
legislação do ensino.
4. Recomendar ao MEC, seja propiciado recurso e condições para a realização de
estudos destinados a explicações para realização científica do Direito
Educacional.
5. Necessidade de consolidação da legislação educacional.
6. Necessidade da catalogação dos pronunciamentos do Conselho Federal de
Educação constantes da revista “Documenta”.
7. Apoiar a criação nas Universidades e nos estabelecimentos isolados de ensino
superior, de órgãos destinados ao estudo do Direito Educacional.
8. Incentivar a promoção de Seminário e Ciclos de Palestras, em Universidades e
estabelecimentos isolados de ensino superior, sobre legislação educacional.
9. Estimular a inclusão da disciplina “Direito Educacional”, em caráter opcional,
nos cursos regulares de graduação, que não a têm em caráter obrigatório.
10. Atribuir, gradativamente aos graduados em Direito a responsabilidade do ensino
de “Direito Educacional”.
11. Recomendar às Universidades, que promovam o estudo do “Direito
Educacional”, em nível de Pós Graduação.
12. Sugerir, como medida de relevante efeito, no sistema nacional de ensino, a
reestruturação dos Conselhos de Educação, de moldes a que atuem em caráter
permanente e com observância do princípio do contraditório, sempre que
couber.
13. Criação da Ordem Nacional do Magistério.
Veja-se que a observação dos resultados deste Primeiro Seminário de Direito
Educacional, em suas conclusões e recomendações, trariam às previsões legislativas
referentes ao atual Sistema Educacional Nacional uma organização que, ao menos, reduziria
comentários como os de Milton Paulo de Carvalho, sobre Competência legislativa e legislação
sobre ensino superior, proferidos no I Simpósio Nacional de Direito Educacional, realizado
pelo IICS-CEU, em São Paulo, no ano de 2003:
A disciplina legislativa do ensino superior no Brasil, entretanto, profusa e difusa,
conforme anotou a professora Nina Ranieri, quase não chega a constituir um
sistema, no sentido de contexto ordenado e coeso. [...] todavia, a legislação
infraconstitucional compõe um cipoal por vezes indestrinçável, não nos parecendo
livre de censura o primeiro diploma abaixo da Constituição, que deveria ostentar a
efetiva compleição de uma lei ordinária e disciplinar o ensino superior com incursão
menos genérica pelos campos da atividade universitária. Referimo-nos à Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional). PEREIRA; SILVA; MACHADO; COVAC; FELCA (coord.) (2008, p. 73 e 74).
Ainda a respeito das dificuldades no avanço do Direito Educacional no Brasil
Nelson Joaquim (2009, p. 108) comenta:
Infelizmente, como já comentamos, o golpe militar iniciado em 1964, que se
estendeu até a redemocratização do país em 1985, prejudicou o avanço da educação
brasileira, inclusive dificultando a implementação das recomendações do 1º
Seminário de Direito Educacional e outras iniciativas de educadores e juristas.
Porém, hoje precisamos resgatar essas propostas, como contribuições para a
construção do Direito Educacional, acesso e qualidade do ensino brasileiro.
34
Superado o período ditatorial, fase conturbada da história da educação e do
Direito Educacional no Brasil, percebe-se atualmente que as questões de legalidade e de
cunho jurídico são realidades presentes na vida de qualquer instituição educacional, e
indiferentemente do nível de educação (básica ou superior) ou sistema (Federal, Estadual ou
do Distrito Federal e Municipal) a que esteja ligada, embora sua concepção se dê geralmente
pelas vias da política, da ação social ou mesmo de investimento de capital; a criação de uma
instituição, seu credenciamento, sua avaliação e mesmo, o encerramento de suas atividades se
procedem em conformidade com os vários diplomas legais atinentes ao assunto,
especialmente a Lei 9.394 de 1996 (LDB) e, até mesmo, com as decisões judiciais.
3.2 AUTONOMIA DO DIREITO EDUCACIONAL
Ante a temática da autonomia do Direito Educacional como autêntico ramo do
direito, acentuam-se as proposições dos doutrinadores e juristas a seguir, que trazem os
requisitos essenciais para a superação desta fase:
Célio Müller (2007, p. 19), no seu Guia Jurídico do Mantenedor Educacional
comenta:
A quantidade de leis existentes no Brasil assusta até o mais experiente dos juristas, e
diferente não seria com os mantenedores educacionais. Há normas e regras para
praticamente tudo: como se comportar, o que fazer, o que não fazer, quando e como
proceder em cada situação e assim por diante. Numa sala de aula, por exemplo,
mantemos uma série de relações jurídicas distintas, que são igualmente previstas em
lei: o contrato educacional na órbita do Código Civil, a prestação de serviços nos
termos do Código de Defesa do Consumidor, o atendimento a alunos menores com
base no Estatuto da Criança e do Adolescente, as atividades escolares em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Nada escapa aos normativos, e mesmo as situações não previstas em lei podem ser
interpretadas pelos princípios de outras normas.
Nelson Joaquim (2009, p. 109), ao seu tempo, afirma: “A complexidade da
sociedade, o aumento da demanda pela educação e os conflitos nas relações educacionais a
necessidade de especialização e sistematização do Direito Educacional.”
35
Ressaltam-se, ainda, a contribuição de diversas personagens na construção da
autonomia deste novo e altamente relevante ramo do Direito Brasileiro, dentre elas:
- Renato Alberto Theodoro Di Dio, que conforme Nelson Joaquim (2009, p. 109),
iniciou a construção e a autonomia do Direito Educacional, com sua Tese de Livre Docência –
Contribuição à Sistematização do Direito Educacional – apresentada na Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo, em 1981, demonstrando que o Direito Educacional
atende a todos os requisitos caracterizadores da autonomia de um ramo do Direito;
- Esther de Figueiredo Ferraz, que sugeriu o cultivo da Educação pelo Direito:
“Na verdade, todos nós que colaboramos na área de Educação e do Direito, sentimos a
necessidade de juntar esses dois elementos, porque percebemos perfeitamente que a Educação
é uma área que deve ser cultivada também pelo Direito”. (FERRAZ, 1982-1983, apud.
PEREIRA; SILVA; MACHADO; COVAC; FELCA (coord.) 2008, p. 302)
- Alfredo Rocco, citado por Renato Alberto Teodoro Di Dio e Nelson Joaquim,
que identifica a existência três requisitos para caracterizar a autonomia de um ramo do
Direito:
1º - extensão suficiente, que justifique um estudo especial;
2º - doutrinas homogêneas, dominadas por conceitos gerais comuns e distintos dos
conceitos informadores de outras disciplinas; e
3º - Método próprio para abordar o objeto de suas pesquisas.
Vale lembrar que o direito é um sistema, que deve ser estudado no seu conjunto, por
isso uma disciplina jurídica pode ser considerada como ciência autônoma, mas não
independente. (JOAQUIM 2009, p. 110)
- Paulo Nader (2007, p. 57) na reconhecida obra Introdução ao Estudo do Direito, diz
que:
A educação é um dos fatores do Direito, que pode dotar o corpo social de um status
intelectual, capaz de promover a superação de seus principais problemas. (...) Tal a
presença da educação no Direito Positivo, que já se fala na existência de um
DIREITO EDUCACIONAL, denominação esta, inclusive, de um obra publicada em
nosso país, por Renato Alberto Theodoro di Rio, em 1982, sob os auspícios da
Universidade de Taubaté. A esta seguiram-se outras obras.
- Pedro Sancho da Silva, apud Nelson Joaquim (2009, p. 111), que diz: “É certo
que o Direito Educacional revela farto acervo para pesquisas e estudos, como exige-se dos
36
demais nobres e tradicionais ramos do saber jurídico, com significativas literaturas
específicas, compatíveis com as exigências da sistematização e da autonomia.”
- Edivaldo Machado Boaventura, que lecionou em sua palestra no II Simpósio
Nacional de Direito Educacional, no ano de 2004:
É o Direito Educacional, qualificado como direito especializado e com considerável
amplitude de leis, decretos, portarias e institutos próprios, como a matrícula. Dessa
maneira concebido, o Direito Educacional implica no seu reconhecimento como
ramo diversificado. Com o fenômeno educativo configura-se uma das tendências do
direito moderno para se espraiar em especializações: Direito Agrário, Direito
Previdenciário, Direito Naval, Direito Aeroespacial, Direito Ambiental, Direito
Econômico, Direito Empresarial. É justamente nesta terceira concepção que o
Direito Educacional é objeto desta comunicação. (PEREIRA; SILVA; MACHADO;
COVAC; FELCA (coord.) (2008, p. 303)
E continuou ainda na defesa do novo ramo do Direito que vem sendo estruturado
no atual cenário jurídico brasileiro:
Dessa maneira concebido, o Direito Educacional implica, se não no seu
reconhecimento como um ramo da Ciência Jurídica, pelo menos em uma
aproximação. A educação é essencialmente um problema do Direito e não tão
somente de legislação. É por isso que a questão não se limita apenas ao âmbito da
Legislação do Ensino, que é uma parte do ordenamento jurídico educacional, mas à
esfera do jurídico como um todo, incluindo a jurisprudência e a doutrina. Entenda-se
assim o Direito Educacional como instrumento capaz de levar a educação a todos.
Isto é, sair do enunciado e da declaração de que “todos têm direito à educação” para
a efetivação, individual e social, administrativa e judiciária, da educação. É o ponto
central afirmativo desta comunicação. (PEREIRA; SILVA; MACHADO; COVAC;
FELCA (coord.) 2008, p. 304);
- Álvaro Melo Filho que, segundo Nelson Joaquim (2009, p. 111) sustenta a tese,
no plano teórico, que, em vez de questionar-se sobre as “autonomias” legislativa e científica
do Direito Educacional, deve-se registrar que, pela simples razão de não poder existir uma
norma jurídica independente da totalidade do sistema jurídico, a autonomia de qualquer ramo
do direito é sempre e unicamente didática.
3.3 JUSTIFICATIVA DO USO DA EXPRESSÃO E CONCEITO
Assunto de grande relevância é, sem dúvida, a escolha da expressão "direito
educacional", que influenciará diretamente no conceito desse novo ramo da ciência jurídica.
37
Faz-se cabível aqui o seguinte comentário:
Renato Alberto Teodoro Di Dio, precursor do direito educacional brasileiro, afirma
que o mais apropriado seriam as expressões direito da educação, direito educacional
ou direito educativo. Os puristas optariam por direito educativo, porque no linguajar
comum, educativo carrega a conotação de algo que educa, ao passo que educacional
seria o direito que trata da educação. Consciente das possíveis objeções que,
segundo ele, podem ser feitas a expressão direito educacional; à espera de que o uso
e os especialistas consagrem a melhor denominação. (NELSON JOAQUIM, 2009,
p. 115)
A discussão a esse respeito nos tribunais de justiça brasileiros parece já estar
sendo superada, veja os julgados:
TJDF - Agravo de Instrumento: AG 17545920108070000 DF 0001754-
59.2010.807.0000
Ementa
DIREITO EDUCACIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE
ENSINO FUNDAMENTAL. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA.
POSSIBILIDADE. (BRASIL, 2010)13
Grifo nosso.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp
895881 RJ 2006/0154049-0
Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO EDUCACIONAL - AGRAVO
INTERNO - RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CURSO
DE PÓS-GRADUAÇÃO - ESPECIALIDADE MÉDICA - REQUISITOS -
RESERVA DE MERCADO - LEGITIMIDADE DO ATO. (BRASIL, 2010)14
Grifo nosso.
TRF2 - APELAÇÃO CIVEL: AC 200650010123116 RJ 2006.50.01.012311-6
Ementa
APELAÇÃO. DIREITO EDUCACIONAL. RECONHECIMENTO E
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. ART. 48, •§ 3º, LEI 9.394/96.
CF/88, ARTS. 206, V E 209, I E II. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPROVIMENTO.
(BRASIL, 2009)15
13 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento. Expedição de Certificado de
Conclusão de Ensino Fundamental. Idade Mínima Não Alcançada. Possibilidade. AG 17545920108070000
DF 0001754-59.2010.807.0000. Relatora: Nídia Corrêa Lima. Data do Julgamento: 14/04/2010. Órgão Julgador:
3ª Turma Cível. Publicação: 19/04/2010, DJ-e Pág. 178. Disponível em:
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8919442/agravo-de-instrumento-ag-17545920108070000-df-
0001754-5920108070000-tjdf>. Acesso em 01/11/2010. 14
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial - Mandado de Segurança
- Curso de Pós-graduação - Especialidade Médica - Requisitos - Reserva de Mercado - Legitimidade do
Ato. AgRg no REsp 895881 RJ 2006/0154049-0. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 12/11/2007.
Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma. Publicação: DJ 26.11.2007 p. 158. Disponível em:
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6837/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-895881-
rj-2006-0154049-0-stj>. Acesso em 01/11/2010. 15
BRASIL. Tribunal regional Federal. Apelação. Direito Educacional. Resoluções do Conselho Nacional de
Educação. Ausência de Direito Adquirido. Improvimento. AC 200650010123116 RJ 2006.50.01.012311-6.
Relator: Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Julgamento: 12/08/2009. Órgão
Julgador: Sexta Turma Especializada. Publicação: DJU - Data:09/09/2009 - Página:92. Disponível em:
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5703584/apelacao-civel-ac-200650010123116-rj-20065001012311-
6-trf2>. Acesso em 01/11/2010.
38
Sobre conceituação, é sabido entre os estudiosos do direito que todo
conhecimento jurídico necessita do conceito de direito, embora, não se tenha conseguido
conceito único de direito, o que também é uma verdade em se tratando do direito educacional,
como se verá a seguir:
- Ensina Renato Alberto Teodoro Di Dio, precursor deste ramo do direito, que:
Direito Educacional é o conjunto de normas, princípios, leis e regulamentos que
versam sobre as relações de alunos, professores, administradores, especialistas e
técnicos, enquanto envolvidos, mediata ou imediatamente, no processo ensino-
aprendizagem. Apud. (NELSON JOAQUIM, 2009, p. 113)
- Segundo Edivaldo Boaventura: “Direito Educacional é um conjunto de normas,
princípios e doutrinas que disciplinam a relação entre alunos, professores, escolas, famílias e
poderes públicos, numa situação formal de aprendizagem.” Apud (NELSON JOAQUIM, 2009,
p. 115)
- José Augusto Peres, coloca o seguinte:
Direito Educacional é um ramo especial do Direito; compreende um já alentado
conjunto de normas de diferentes hierarquias; diz respeito, bem proximamente, ao
Estado, ao educador e ao educando; lida com o fato educacional e com os demais
fatos a ele relacionados; rege as atividades no campo do ensino e/ou aprendizagem
de particulares e do poder público, pessoas físicas e jurídicas, de entidades públicas
e privadas. Apud. (NELSON JOAQUIM, 2009, p. 114)
- Para Álvaro Melo Filho, o Direito Educacional pode ser entendido como:
Um conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos sistematizados que
objetivam disciplinar o comportamento humano relacionado à educação. Impondo-
se como matéria curricular e como disciplina autônoma, o direito educacional
distinguir-se-á inteiramente de outras disciplinas jurídicas, pois envolverá o estudo e
o ensino de relações e doutrinas com as quais nunca se havia preocupado o direito
tradicional em qualquer dos seus ramos. (NELSON JOAQUIM, 2009, p. 114)
- Aurélio Wander Bastos, vai além, apresenta tanto o conceito de direito
educacional como seu alcance:
Os estudos jurídicos sobre legislação do ensino e suas práticas administrativas,
assim como sobre a hermenêutica de seus propósitos, classificam-se no vasto âmbito
do Direito Educacional, uma das mais significativas áreas do conhecimento jurídico
moderno. O Direito Educacional estuda as origens e os fundamentos sociais e
políticos dos currículos, programas e métodos de ensino e avaliação. Apud
(NELSON JOAQUIM, 2009, p. 114 e 115)
- Jean Carlos Lima conceitua o Direito Educacional:
39
Como ramo da ciência jurídica, atua no campo público ou privado, e tem e tem por
finalidade mediar às relações entre todos os agentes envolvidos no processo ensino-
aprendizagem. Essas relações podem envolver várias esferas do Direito, seja na área
Penal, Trabalhista, Civil, Tributária etc. Apud (NELSON JOAQUIM, 2009, p. 114 e 115)
- Por último o conceito de Direito Educacional exarado por Nelson Joaquim
(2009, p. 115):
Conjunto de normas, princípios, institutos juspedagógicos, procedimentos e
regulamentos, que orientam e disciplinam as relações entre alunos e/ou
responsáveis, professores, administradores educacionais, diretores de escolas,
gestores educacionais, estabelecimentos de ensino e o poder público, enquanto
envolvidos diretamente ou indiretamente no processo de ensino-aprendizagem, bem
como investiga as interfaces com outros ramos da ciência jurídica e do
conhecimento.
Como fora comentado anteriormente, não há como falar em um ramo do direito
sem que se abordem as nuances da conceituação do próprio Direito, assim fundamentados é
que os doutrinadores projetam os seus conceitos visando materializar o Direito Educacional,
seus princípios, fundamentos, alcance, atuação, classificação, metodologia, titularidade,
dentre outros elementos identificadores.
3.4 A RELAÇÃO COM OUTROS RAMOS DO DIREITO
Assim como seu conceito é concebido a partir do conceito do próprio Direito, o
Direito Educacional se relaciona com outros ramos do direito e do conhecimento já que não se
completa em si mesmo.
O Direito Educacional tende a penetrar em todos os ramos do Direito e alguns do
saber. Ampliando-se, portanto, os debates sobre as relações do Direito Educacional como os
diferentes temas. (NELSON JOAQUIM, 2009, p. 122)
São ramos com os quais o Direito Educacional se relaciona:
- o Direito Internacional, o estudo do Direito da Educação, em cada país deve começar pelo
estudo do Direito internacional da Educação, na medida em que este deve ser o vértice da
pirâmide normativa da ação jurídica e política dos Estados, que são os autores e destinatários
40
diretos do Direito Internacional a quem se obrigam. (MONTEIRO, 2006, apud NELSON
JOAQUIM, 2009, p. 206);
- o Direito Constitucional, o Direito Educacional Constitucional, já reconhecido como
disciplina nos Cursos de Pós-graduação de Direito Educacional, está presente em todas as
Constituições brasileiras, desde a primeira Constituição em 1824, até a última, promulgada
em 5 de outubro de 1988. (NELSON JOAQUIM, 2009, p. 129);
- o Direito Administrativo, a íntima relação da educação com o Direito Administrativo é
decorrente do fato de que o ensino é, obviamente, um serviço público. E mesmo a educação
propiciada pelas escolas particulares. (BOAVENTURA 1997, apud JOAQUIM, 2009, p. 129)
- o Direito Tributário, a influência do Direito Tributário no Direito Educacional merece
destaque e atenção dos profissionais da educação e do direito, no que diz respeito às
limitações do poder público de tributar as entidades educacionais em geral e, em especial, as
instituições privadas de ensino superior, quer sejam as com fins econômicos, quer sejam as
sem fins econômicos. (NELSON JOAQUIM, 2009, p. 131);
- o Direito Penal, as questões de Direito Educacional acumulam-se com a prática de delitos,
aplicação de sanções e atos fraudulentos, que ocorrem na correlação com o Direito Penal. Em
várias oportunidades, segundo a professora Regina Garcia de Paiva, o judiciário e as
autoridades educacionais têm sido provocados a manifestarem-se acerca da falsidade de
documentos escolares. (TRINDADE, ANDRÉ (Coord.), apud JOAQUIM 2009, p. 135);
- o Direito Processual, esse é um instrumento a serviço do direito material: todos os seus
institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e justificam-se no
quadro das instituições do Estado pela necessidade de garantir a autoridade do ordenamento
jurídico. (CINTRA, 2005, apud JOAQUIM 2009, p. 135);
- o Direito Civil, é fundamental a contribuição do Direito Civil, considerando que toda a
relação jurídica tem a participação de pessoas, quer sejam pessoas naturais ou jurídicas,
denominados sujeitos de direito, que envolvem, no caso do Direito Educacional, os alunos
41
e/ou responsáveis, professores, administradores, estabelecimento de ensino, sem o Poder
Público. Portanto, inegável é a existência de relações entre o Direito Civil e o Direito
Educacional, daí a necessidade das contribuições dos civilistas, não só para estreitar as
relações, mas sobretudo, para um estudo mais profundo no contexto do Direito Educacional.
(JOAQUIM 2009, p. 137, 138 e 139);
- o Direito do Trabalho, o Direito Educacional identifica-se com o Direito do Trabalho: em
primeiro lugar na luta pelo reconhecimento da sua autonomia, como ramo da ciência jurídica,
em razão de superarem a fase legislativa nas respectivas áreas do conhecimento jurídico; em
segundo lugar, não podemos falar em estabelecimentos educacionais, na condição de
prestadores de serviços educacionais, sem a participação dos professores, assistentes,
coordenadores, secretários, demais pessoas da administração e de apoio. E aqui, todos os
estabelecimentos educacionais privados estão sujeitos às normas e princípios do Direto do
Trabalho. ( JOAQUIM 2009, p. 139);
- o Direito do Consumidor, a prestação de serviços educacionais é [...] abrangida pelo Código
de Defesa do Consumidor, embora o fundamento contratual esteja presente no Código Civil
(IPAEduc);
- o Direito Empresarial, como prestadores de serviços privados, os estabelecimentos de ensino
funcionam com base em recursos investidos por seus mantenedores. Não é errado falar em
investimento, pois a finalidade lucrativa é da essência de qualquer empresa, que não seja
pública nem filantrópica. (CÉLIO MÜLLER 2007, P. 73);
- o Direito Ambiental, no Direito Educacional, em vários aspectos, encontram-se as
características do Direito Ambiental. Ambos têm natureza híbrida, por tutelarem tanto
interesses públicos ou coletivos, como interesses privados e difusos; contém normas públicas
e privadas e são direito personalíssimo;16
16
REALE, Miguel. Os Direitos da Personalidade. Disponível em: <http://www.miguelreale.com.br>. Acesso
em 13/10/2010.
42
- o Direito da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente regula
detalhadamente o Direito à Educação, contendo assim dispositivo jurídico de Direito
Educacional (arts. 53 a 59).
Cabe, ainda, mencionar a Hermenêutica jurídica, que é a teoria ou a ciência da
arte de interpretar a lei, enquanto interpretação significa a aplicação da hermenêutica no caso
concreto. (MAXIMILIANO 2003, apud JOAQUIM 2009 p. 155) e vários outros ramos do
conhecimento com que o Direito Educacional se harmoniza, a saber: História da Educação,
Filosofia da Educação, Metodologia e Didática do Ensino, dentre vários outros.
43
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa buscou abordar, da maneira mais clara e elucidativa possível
o tema proposto: O Direito à Educação e o Direito Educacional, trazendo a foco o atual
cenário juspedagógico brasileiro, partindo, como não poderia deixar de ser, das fatos
históricos do país e da educação nacional, mesmo por que, ainda nos dias atuais este cenário
reflete as marcas positivas ou negativas que sejam desta história.
Destacando a figura do jurista Pontes de Miranda, o direito público subjetivo à
educação foi estudado, a partir da previsão da Carta Magna de 1988, que marcou o início de
uma nova hera, de discussão mais abrangente a respeito daquilo que se propõe para a
educação nacional na atualidade e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que contempla
todo o sistema educacional e vai possibilitando que este seja regulamentado e orientado pelas
demais legislações e atos administrativos.
A abordagem do Direito Educacional teve por objeto informar a respeito deste
novo ramo do direito que vem se estruturando e ocupando seu lugar no tempo e no espaço, e
já se configura como uma realidade no contexto acadêmico e jurídico nacional, trazendo
consigo a proposta de permear as relações escolares e o sistema jurídico naquilo que lhe seja
próprio, a exemplo do que ocorre com os demais ramos especiais do direito. Neste particular,
não com objetivo de preterir, mas de salientar em função do material didático disponibilizado
para a confecção deste trabalho, destacam-se as obras de Renato Alberto Teodoro Di Dio, o
precursor do Direito Educacional no Brasil, Edivaldo Machado Boaventura, profundo
conhecedor da temática que envolve a educação e o direito e Nelson Joaquim, que assina uma
das mais recentes e completas obras sobre o assunto.
44
REFERÊNCIAS
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2ª ed. São Paulo: Moderna 1996.
BELLO, José Luiz de Paiva. Paulo Freire e uma nova filosofia para a educação. Disponível
em: <http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/per01.htm>. Aceso em 05/12/2010.
BOAVENTURA, Edivaldo M. Educação e Direito - Texto insculpido na Revista do Direito
Educacional, Publicação do Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação ano 19 - 107 -
novembro/dezembro de 2007. Rio de Janeiro. ISSN nº 0103-717X.
BRASIL. Anuidades Escolares – Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 14/03/2010.
BRASIL. Ato Adicional, de 12 de agosto de 1834. Disponível em:
<http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/biblioteca /brasil/hb_imperio/hb_imperio.htm>.
Acesso em 01/10/2010.
BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990.
Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 14/03/2010.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso
em 30/12/2009.
BRASIL. Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº 10.172, sancionada em 9 de janeiro de
2001. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 14/03/2010.
BRASIL. Política Nacional de Educação Ambiental – Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 14/03/2010.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 14/03/2010.
BRASIL. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério – Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 14/03/2010.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de
1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 14/03/2010.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial - Mandado
de Segurança - Curso de Pós-graduação - Especialidade Médica - Requisitos - Reserva de
Mercado - Legitimidade do Ato. AgRg no REsp 895881 RJ 2006/0154049-0. Relator:
Ministro Humberto Martins. Julgamento: 12/11/2007. Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma.
Publicação: DJ 26.11.2007 p. 158. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/6837/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-895881-rj-2006-015
4049-0-stj>. Acesso em 01/11/2010.
45
BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Súmula nº 60. Disponível em:
<http://www.dji.com.br/normas_inferiores/sumula_tfr/tfr__060.htm>. Acesso em 04/11/2010.
BRASIL. Tribunal Regional Federal. Apelação. Direito Educacional. Reconhecimento e
Revalidação de Diploma Estrangeiro. Art. 48, 3º, Lei nº 9.394/96. CF/88, Arts. 206, V e 209, I
e II. Resoluções do Conselho Nacional de Educação. Ausência de Direito Adquirido.
Improvimento. AC 200650010123116 RJ 2006.50.01.012311-6. Relator: Desembargador
Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Julgamento: 12/08/2009. Órgão Julgador:
Sexta Turma Especializada. Publicação: DJU - Data:09/09/2009 - Página:92. Disponível em:
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5703584/apelacao-civel-ac-200650010123116-rj
-20065001012311-6-trf2>. Acesso em 01/11/2010.
CARTA DE LEI DE 25 DE MARÇO DE 1824. Disponível em: <http://www.georgetown.edu
/pdba/Constitutions /Brazil/1824.html>, acesso em 01/10/2010.
CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Direito à Educação e o Ministério Público. Disponível
em: <http://www.dhnet.org.br/educar/textos/wiecko_direito_ed_mp.pdf>. Acesso em
28/10/1010.
CASTRO, Rogério Paiva. Dura Lex Sed Lx: Das Relações Educacionais em Conformidade
com o Direito Educacional e a Legislação de Ensino. Disponível em:
<http://www.urca.br/ered2008/CDAnais/pdf/SD1_files/Rogerio_Paiva_CASTRO_1.pdf>.
Acesso em 07/05/2010.
DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento. Expedição de
Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental. Idade Mínima Não Alcançada.
Possibilidade. AG 17545920108070000 DF 0001754-59.2010.807.0000. Relatora: Nídia
Corrêa Lima. Data do Julgamento: 14/04/2010. Órgão Julgador: 3ª Turma Cível. Publicação:
19/04/2010, DJ-e Pág. 178. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/
8919442/agravo-de-instrumento-ag-17545920108070000-df-0001754-592010 8070000-tjdf>.
Acesso em 01/11/2010.
JOAQUIM, Nelson. Direito educacional brasileiro: História, Teoria e Prática. Rio de Janeiro:
Livre Expressão, 2009.
KONZEM, Afonso Armando. O direito à educação. Disponível em:
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/ id154.htm>. Acesso em 04/11/2010.
MARTIN, Célio Luiz Müller. Guia Jurídico do Mantenedor Educacional. São Paulo: Érica,
2007.
MARTINS, Vicente. A educação e a nova ordem constitucional. Disponível em:
<http://www.direitonet.com.br/artigos/perfil/exibir/146/Vicente-Martins>. Acesso em:
12/05/2010.
__________. A lei magna da educação. Disponível em: <http://ebooksbrasil.org/nacionais/
acrobatebook.html> . Acesso em 30/12/ 2009.
MATTOS, Luiz Alves de. Primórdios da educação no Brasil – o período heróico (1549 a
1570). Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora Ltda, 1996.
46
MEC/INEP/DEED. Estatísticas da Educação Nacional. Disponível em:<
http://www.inep.gov.br> acesso em 28/10/2010.
MELO. José Ferreira de. Afinal, o que é Direito educacional. Disponível em
<http://www.gestaouniversitaria.com.br/edicoes/86-124/414-afinal--o-que-e-direito-
educacional- .pdf>. Acesso em 23/03/2010.
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Mandado se Segurança – Instituição de Ensino
Superior Privada - Acesso à Graduação Antes da Conclusão do Ensino Médio – Requisitos de
Aprovação no Colegial Preenchidos – Impedimento de Matrícula – Atividade Delegada do
Poder Público Federal – Competência da Justiça Federal – Decisão Anulada. Número do
Processo: 1.0362.05.067042-5/001. Numeração Única: 0670425-74.2005.8.13.0362 Relator:
Elias Camilo. Data do Julgamento: 10/08/2006. Data da Publicação: 18/09/2006. Disponível
em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=direito+educacional&s=jurispru
dencia >. Acesso em 15/10/2010.
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança. Matrícula. Ensino Superior.
Competência Justiça Federal. Número do Processo: 1.0699.07.073175/001. Numeração
Única:0731756-45.2007.8.13.0699. Relator: Osmando Almeida. Data do Julgamento:
23/06/2009. Data da Publicação: 20/07/2009. Disponível em:
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=direito+educacional&s=jurisprudencia
>. Acesso em 15/10/2010.
MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 Com a Emenda nº 1 de 1969.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974.
MOTTA, Elias de Oliveira. Direito educacional e educação no século XXI. Brasília:
UNESCO, 1997.
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
NEIVA, Claudio Cordeiro.Temas atuais de educação superior: proposição para estimular a
investigação e a inovação. Brasília: ABMS, 2006.
PEREIRA, Antonio Jorge da Silva; SILVA, Cinthya Nunes vieira de; MACHADO, Décio
Lencioni; COVAC, José Roberto; FELCA, Narcelo Adelqui (coord.) – Direito Educacional –
Aspectos Práticos e Jurídicos. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
REALE, Miguel. Os Direitos da Personalidade. Disponível em:
<http://www.miguelreale.com.br>. Acesso em 13/10/2010.
SAVIANI, Demerval. Da Nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma outra
política educacional. 3ª ed. Ver. Campinas. São Paulo: Autores Associados, 2000.