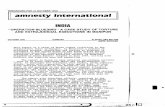FISIOLOGIA II - Fisiologia Gastrintestinal (desatualizado)
Transcript of FISIOLOGIA II - Fisiologia Gastrintestinal (desatualizado)
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
1
FAMENE NETTO, Arlindo Ugulino.FISIOLOGIA II
FISIOLOGIA GASTROINTESTINAL(Professora Mônica)
O trato alimentar fornece ao organismo suprimento cont�nuo de �gua, eletr�litos e nutrientes. Para o desempenho dessa fun��o, � necess�rio o movimento do alimento ao longo do tubo digestivo, a secre��o de sucos digestivos e a digest�o do alimento.
BOCAA boca representa a primeira por��o do trato digestivo. A cavidade oral � revestida, internamente, pela mucosa
oral. � delimitada, anteriormente, pelos l�bios; lateralmente, pelas mucosas jugais (bochechas); superiormente, pelo palato; e inferiormente, pelos m�sculos do assoalho da boca. A avalia��o da boca de um paciente � um procedimento indispens�vel, avaliando o cuidado com a higiene e cuidado com esta estrutura.
A cavidade bucal encontra-se dividida em duas regi�es: vestíbulo (espa�o entre os l�bios e as gengivas e dentes) e cavidade oral propriamente dita.
LÍNGUAA l�ngua � a maior estrutura da cavidade oral. �rg�o
muscular recoberto por mucosa, de participa��o ativa na gusta��o, degluti��o e na fala (articula��o da palavra). Observa-se no dorso da l�ngua uma divis�o – o sulco terminal – que separa a l�ngua em duas por��es: corpo (parte anterior) e raiz (posterior, fixada na parede).
Observam-se tamb�m as papilas linguais, onde se localizam os receptores gustativos. � atrav�s desses receptores que informa��es sobre o sabor dos alimentos s�o repassadas aos nervos facial (via nervo lingual), glossofar�ngeo e vago (nervos cranianos relacionados com a gusta��o).
A an�lise da l�ngua dos pacientes pode revelar o desenvolvimento de certas doen�as, como c�nceres e infec��es.
O paladar � uma fun��o desses bot�es gustativos com contribui��o da olfa��o, uma vez que o centro do olfato e do paladarno SNC s�o pr�ximos e interligados (isto justifica o fato de que nas gripes e resfriados ocorre uma diminui��o da aprecia��o do gosto dos alimentos).
O gosto � percept�vel aos bot�es devido aos seus receptores qu�micos, ou seja, receptores de s�dio, pot�ssio, cloro, adenosina e enosina. A percep��o qu�mica � diferenciada em est�mulos nervosos para as respectivas sensa��es: doce, amargo, salgado e �cido.
As c�lulas gustat�rias propriamente ditas est�o divididas nas seguintes partes: poro gustat�rio e fibras nervosas gustat�rias, que v�o transmitir o impulso nervoso da gusta��o. Na superf�cie de cada uma das c�lulas gustativas, observam-se prolongamentos finos como p�los, projetando-se em dire��o da cavidade bucal; s�o chamados microvilosidades.
Para que haja a propaga��o do impulso nervoso, as c�lulas devem ser previamente despolarizadas e enviem o impulso nervoso para as vias de transmiss�o at� o tronco encef�lico e, da�, ao t�lamo e c�rtex cerebral.
Inicialmente, os est�mulos captados pelas papilas gustativas passam, primeiramente, pelo nervo lingual, depois pela corda do t�mpano, e alcan�am o nervo facial, para por fim, chegar ao n�cleo do trato solit�rio, localizado no bulbo (estrutura do tronco cerebral). Os nervos glossofar�ngeo e vago tamb�m participam da sensa��o do paladar no ter�o posterior da l�ngua. Em seguida, os est�mulos s�o transmitidos ao t�lamo; do t�lamo passam ao c�rtex gustativo prim�rio e, subsequentemente, �s �reas associativas gustativas circundantes e � regi�o integrativa comum que � respons�vel pela integra��o de todas as sensa��es.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
2
OBS1: Qualquer les�o em n�vel das estruturas nervosas relacionadas com a gusta��o (nervos facial, glossofar�ngeo e vago; n�cleo do trato solit�rio; t�lamo; c�rtex gustativo), pode haver uma parada na percep��o dos gostos.
PAPILAS LINGUAISCom base em sua estrutura e fun��o, as papilas linguais s�o divididas em quatro tipos: filiformes, fungiformes,
foliadas e circunvaladas. Todas elas est�o localizadas anteriormente ao sulco terminal. Papilas filiformes: estruturas delgadas que d�o aspecto aveludado � superf�cie dorsal. N�o possuem bot�es
gustativos. Papila fungiforme: assemelha-se a um cogumelo. Possuem corp�sculos gustativos no aspecto dorsal de seu
chap�u. Papilas foliadas: apresentam sulcos verticais que lembram p�ginas de um livro. Possuem corp�sculos
gustativos apenas na inf�ncia. Papilas valadas: dispostas em V imediatamente anteriores ao sulco terminal. Possuem bot�es gustativos.
DENTIÇÃOOs dentes s�o estruturas r�gidas e esbranqui�adas implantadas na maxila e mand�bula respons�veis pela
mastiga��o e por dar forma � por��o inferior da face. Est�o divididos em tr�s partes: coroa, raiz e colo.No adulto, encontram-se 32 dentes, sendo eles
divididos em quatro tipos, de acordo com as suas formas e fun��es:
Incisivos: oito dentes, com margem cortante e raiz �nica.
Caninos: quatro dentes, com coroa c�nica terminando em ponta e raiz �nica.
Pré-molares: oito dentes, com coroa apresentando dois tub�rculos e raiz �nica ou b�fida.
Molares: doze dentes, coroa com tr�s a cinco tub�rculos e duas a tr�s ra�zes.
SALIVAÇÃOO volume di�rio de saliva produzida � cerca de 1000ml, com pH entre 6,0 a 7,0 (isto �: favor�vel a a��o digestiva
da ptialina). A saliva cont�m dois tipos principais de secre��o prot�ica: Secreção serosa: cont�m ptialina (α-amilase), uma enzima respons�vel pela digest�o de amidos. Secreção mucosa: cont�m mucina para lubrifica��o e prote��o de superf�cies.
As glândulas parótidas secretam exclusivamente o tipo seroso, enquanto as glândulas submandibular e sublingual secretam tanto seroso quanto mucoso.
Íons na saliva.A saliva possui quantidade particularmente grande de �ons pot�ssio e de �ons
bicarbonato. Por outro lado, a concentra��o de �ons s�dio e cloreto � consideravelmente mais baixa do que no plasma. Isso acontece pois os íons sódio s�o ativamente reabsorvidos a partir de todos os ductos salivares, que, por sua vez, secretam íons potássio ativamente em troca do s�dio. Com isso, a concentra��o de Na+ na saliva fica reduzida, enquanto a de K+ aumenta. Por�m, a reabsor��o de s�dio � bastante excessiva em rela��o a sa�da de K+ dos ductos, o que cria uma grande negatividade nesses ductos, fazendo com que haja absor��o passiva de íons cloreto. Por isso que a concentra��o de Na+ e Cl- nos ductos � baixa, e na saliva, � alta.
J� os �ons bicarbonato s�o secretados pelo epit�lio ductal para o l�men do ducto por um processo secretor ativo. Esses �ons s�o, em parte, respons�veis por manter o pH est�vel.
Funções da saliva. O fluxo de saliva ajuda a remover as bact�rias patog�nicas, bem como part�culas alimentares. Cont�m diversos fatores capazes de destruir bact�rias: �ons tiocianato, lisozinas e anticorpos (combatem,
inclusive, bact�rias que causam c�ries). Participa no processo conhecimento como clareamento do esôfago, que consiste na lubrifica��o e limpeza da
mucosa esof�gica a partir da saliva deglutida.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
3
Regulação nervosa da secreção salivar.A regula��o da secre��o salivar � feita por sinais nervosos parassimp�ticos dos n�cleos salivat�rios superior e
inferior no tronco cerebral (na ponte e no bulbo, respectivamente). Pode ser estimulada ou inibida por sinais nervososque chegam aos n�cleos salivat�rios provenientes dos centros superiores do SNC. O n�cleo salivat�rio superior enviafibras via nervo facial e nervo lingual para inervar as gl�ndulas submandibular e sublingual; o n�cleo salivat�rio inferior envia fibras para inervar a gl�ndula par�tida via nervo glossofar�ngeo.
Os sinais nervosos parassimp�ticos que induzem a saliva��o copiosa tamb�m dilatam moderadamente os vasos sangu�neos. Por esta raz�o, o suprimento sangu�neo das gl�ndulas afeta a secre��o salivar, j� que a secre��o sempre requer um nutri��o adequada. A escassez de saliva pode estar associada a les�es no sistema nervoso perif�rico ou les�es vasculares.
A estimula��o simp�tica tamb�m pode aumentar a saliva��o em grau moderado. Esses nervos simp�ticos se originam dos g�nglios cervicais superiores.
MASTIGAÇÃOOs dentes s�o admiravelmente constru�dos para a mastiga��o. Nesse processo, o alimento � convertido em
peda�os menores, por�m permite uma maior atua��o de enzimas digestivas, aumentando as �reas de contato. Al�m disso, a mastiga��o estimula o centro da saciedade.
DEGLUTIÇÃO Fase voluntária: quando o alimento est� pronto para ser deglutido, e � voluntariamente empurrado pela l�ngua
para a faringe. Fase faríngea da deglutição: o alimento � empurrado involuntariamente para o es�fago. Nesse processo, uma
s�rie de m�sculos � ativada para o fechamento das vias a�reas e abertura do esf�ncter superior do es�fago(m�sculo cricofar�ngeo). Esta estimula��o � intermediada por receptores na faringe para os nervos glossofar�ngeo, vago e acess�rio, controlado pelo centro da degluti��o no bulbo (n�cleo amb�guo).
ES�FAGOO es�fago � um tubo muscular com aproximadamente 25cm de comprimento, que transporta o bolo alimentar da
faringe oral para o est�mago.
ESFINCTER SUPERIOR DO ESÔFAGOEst� localizado na jun��o faringoesofagiana, tendo como base anat�mica os m�sculos e a musculatura esof�gica
abaixo dele. Tem como fun��o manter fechada a extremidade superior do es�fago, impedindo a passagem de ar para o mesmo e o refluxo do alimento para a faringe. A contra��o t�nica do ESE � feita pela excita��o de fibras som�ticas vagais. O seu relaxamento � feita pela inibi��o transit�ria dos neur�nios centrais. Tal excita��o e inibi��o s�o coordenadas pelo centro da degluti��o, localizado no bulbo.
O M. constrictor inferior da faringe exibe uma atividade el�trica constante com a freq��ncia de descarga proporcional ao t�nus do M. em repouso. Quando ocorre o relaxamento, essas descargas cessam, possibilitando a passagem do alimento. O t�nus � controlado pelas afer�ncias neurais que coordenam o relaxamento do m�sculo, ocorrido com a degluti��o.
CORPO DO ESÔFAGO� limitado proximalmente pelo esf�ncter superior do es�fago e distalmente pelo esf�ncter inferior do es�fago. �
inervado por plexos oriundos do nervo vago.� a por��o respons�vel pelo transporte do bolo alimentar pela a��o da gravidade e de ondas perist�lticas.
Doença do refluxo: normalmente, o esf�ncter c�rdico (esof�gico inferior), enquanto n�o nos alimentamos, ele permanece fechado. Pessoas que sofrem de refluxo (sensa��o de asia, pirose) n�o possuem controle no fechamento dessa v�lvula, podendo causar regurgita��o. � uma doen�a cr�nica e multifatorial (aumento de peso – aumenta a press�o das v�sceras sobre o est�mago; gen�tico; anat�mico) de per�odos de melhora e piora.Esofagite: inflama��o causada devido aos �cidos do est�mago quando h� regurgita��o. Apresenta grande vermelhid�o no es�fago diagnosticado por endoscopia, que pode evoluir para o esôfago de Barret, que � uma condi��o pr�-neopl�sica.Hérnia de hiato: � o deslizamento do est�mago em dire��o ao es�fago, fazendo com que o est�mago se projete sobre o diafragma. Esta altera��o anat�mica ocorre devido � diferen�a entre a alta press�o dentro do abdome em rela��o � baixa press�o dentro do t�rax.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
4
OBS2: Mecanismo Anti Refluxo. Refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo do estômago, como o suco gástrico (ácido) e alimentos, para o esôfago. Quando este refluxo se apresenta de forma intensa e em vários episódios durante o dia, ele é chamado de refluxo gastroesofágico patológico. A doença do refluxo gastroesofágico ocorre devido ao funcionamento precário dos mecanismos anti-refluxo. Esses mecanismos podem ser de natureza anatômica e fisiológica.
Mecanismos funcionais Pressão do esfíncter inferior do esôfago: o tônus normal do esfíncter inferior do esôfago bloqueia o
retorno de qualquer substância gástrica para o esôfago. O aumento acentuado da pressão intra-abdominal comprime o esôfago neste ponto. Esse fechamento tipo valvular da porção inferior do esôfago evita que a elevada pressão no estômago force o conteúdo gástrico na direção do esôfago. A pressão exercida pela musculatura diafragmática contribui no reforço deste esfíncter.
Peristaltismo do esôfago: a peristalse primária é simplesmente a continuação da onda peristáltica que se inicia na faringe e se propaga para o esôfago durante a fase faríngea da deglutição. A peristalse primária, portanto, está diretamente ligada com a digestão. Se a onda peristáltica primária for insuficiente para movimentar todo o alimento que entra no esôfago em direção ao estômago, ondas peristálticas secundárias causam da distensão do esôfago pelo alimento retido. Estas ondas são idênticas às primárias, a não ser pelo fato de se originarem no próprio esôfago, e não na faringe. As ondas peristálticas secundárias mantêm-se até que todo o alimento tenha passado para o estômago. Doenças que afetem o peristaltismo do esôfago (como a esclerodermia ou o megaesôfago chagásico) predispõem ao desenvolvimento de DRGE.
Ação da saliva e clareamento do esôfago: limpeza do tubo pela ação da saliva deglutida, permitindo a este órgão uma maior capacidade de empurrar o ácido através de suas contrações. O alto teor de bicarbonato e proteínas tamponantes neutraliza o ácido no esôfago. Doenças que afetem a produção de saliva podem influenciar de maneira negativa neste mecanismo (como a síndrome de Sjrögren, doença reumatológica que influencia na produção e secreção de saliva).
Volume e tempo de esvaziamento do conteúdo gástrico: deve acontecer rapidamente e com pouco volume.
Resistência da mucosa do esôfago: A resistência tissular não é um fator isolado, mas representa um conjunto de estruturas e funções que se dispõem em camadas e interagem para formar uma barreira dinâmica. Desta forma, temos:
Defesa pré-epitelial (muco esofágico): ação do muco produzido pelo próprio epitélio esofagiano, que reduz a ação do ácido clorídrico. O muco, com suas propriedades e viscoelasticidade, forma uma excelente barreira à penetração de macromoléculas, como pepsina (não bloqueia, contudo, a passagem de íons H+).
Defesa epitelial (epitélio escamoso do esôfago): ação exercida pelo tecido epitelial de revestimento (T.E.R.) Estratificado Pavimentoso Não-queratinizado que reveste o esôfago, um epitélio bastante resistente. Este epitélio escamoso apresenta células firmemente aderidas entre si (por junções intercelulares muito firmes) que não permitem a passagem de íons entre as células. Contudo, ele não é resistente à agressão contínua exercida por enzimas pancreáticas, sais biliares e ácido clorídrico.
Defesa pós-epitelial (vascularização): função exercida pelo suprimento sanguíneo esofágico, responsável por carrear os radicais livres formados neste órgão.
Mecanismos anatômicos: Entrada oblíqua do esôfago no estômago: tal fenômeno ameniza o impacto da deposição do bolo
alimentar no estômago e promove o seu fechamento quando está cheio. Roseta da mucosa gástrica: pregas resistentes presente na porção inicial do estomago (a nível da
cárdia) que dificulta o refluxo funcionando como uma engrenagem. Elementos de fixação do estômago: artéria gástrica esquerda e ligamentos frênico-esofágico
(membrana fibroelástica que se origina de uma condensação da fáscia abdominal; quando lesado, pode haver hérnia de hiato), pilares diafragmáticos ao nível do hiato.
Musculatura diafragmática: as fibras do diafragma auxiliam no mecanismo funcional de defesa exercido pelo esfíncter inferior do esôfago.
OBS3: O esôfago não possui a ultima camada serosa, o que o deixa mais vulnerável a perfurações.OBS4: Ao se ingerir medicamentos via oral, deve tomar líquidos para que o comprimido, no caso, não fique aderido às paredes do esôfago, podendo irritá-las e perfura-las.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
5
PRINC�PIOS GERAIS DA MOTILIDADE GASTRINTESTINALAs paredes do trato GI � composto, basicamente, por 5 camadas, sendo
elas, de fora para dentro (luz): serosa, camada muscular longitudinal, camada muscular circular, submucosa (possui uma parte nervosa: plexo de Meissner) e mucosa. O es�fago n�o possui a camada serosa, e o est�mago possui uma camada circular m�dia a mais.
Essas paredes t�m fun��es motoras (por se tratar de �rg�os respons�veis por motilidade e mistura do bolo alimentar) bem como fun��o de sins�cio, isto �, quando um potencial de a��o � desencadeado em qualquer parte no interior da massa muscular, percorre, geralmente, todas as dire��es pelo m�sculo.
FUNÇÃO DE ATIVIDADE ELÉTRICA DO M. LISOO aparelho digestivo possui uma certa atividade elétrica
intrínseca, ou seja, seu potencial de a��o � gerado por si pr�prio, como ocorre no automatismo do cora��o.
Essa atividade apresenta dois tipos b�sicos de ondas el�tricas: ondas lentas (3/min) e ondas em ponta.
As ondas lentas n�o se tratam de potencial de a��o, mas sim, altera��es lentas ondulantes no potencial de repouso da membrana. As ondas em ponta s�o verdadeiros potenciais de a��o, que se d� pela abertura de canais lentos de c�lcio-s�dio, o que explica a longa dura��o dos potenciais de a��o. Para que haja a contra��o, � necess�rio que aconte�a uma altera��o m�nima na voltagem do potencial de repouso da membrana, como uma distens�o muscular (chegada do alimento) ou est�mulos parassimp�ticos (acetilcolina) e simp�ticos (norepinefrina).
OBS5: Por isso, quando o indiv�duo n�o se alimenta, acontecem as chamadas contrações de fome, pois, toda contra��o de um �rg�o oco, gera dor.OBS6: Quando uma pessoa est� nervosa ou ansiosa, h� uma descarga adren�rgica, fazendo com que o parassimp�tico estimule a produ��o de �cido clor�drico, gerando dores semelhantes a gastrites. Ou seja, o stress emocional pode desencadear altera��es na voltagem do potencial de repouso do M. liso, causando dispepsia (sintomas semelhantes � gastrite).OBS7: N�o comer tamb�m engorda, por isso que � aconselh�vel a uma pessoa em regime se alimentar em per�odos regulares. Isso acontece porque, caso o indiv�duo passe muito tempo sem se alimentar, o organismo assimila a uma escassez, e quando o indiv�duo se alimenta depois de um longo per�odo, o ele ret�m nutrientes desnecess�rios para burlar essa “falta” de alimento.
CONTROLE NEURAL DA FUN��O GASTRINTESTINALO trato gastrintestinal tem um sistema nervoso pr�prio, denominado de sistema nervoso ent�rico. Esse sistema
localiza-se inteiramente na parede do intestino, come�ando no es�fago at� o �nus.O sistema nervoso ent�rico � composto basicamente por dois plexos:
Plexo de Auerbach (mioentérico): situado entre as camadas longitudinal e circular. Plexo de Meissner (submucoso): localizado na submucosa.
Existem doen�as que atacam primordialmente estes plexos. O Trypanossoma cruzi, de indiv�duos portadores da doença de chagas, destr�i os plexos nervosos, causando dist�rbios motores como: a dilata��o do es�fago, que perde a capacidade de se contrair, causando problemas de motilidade em todo tubo digestivo; doença do megacólon chagásico; problemas de constipa��o; etc.
ÍONS CALCIO E CONTRAÇÃO MUSCULARA contra��o do m�sculo liso ocorre em resposta a entrada de c�lcio na fibra muscular. Os �ons c�lcio, ao
atuarem atrav�s do mecanismo de controle da calmodulina, ativam os filamentos de miosina na fibra, gerando for�as de atra��o que se desenvolvem entre os filamentos de miosina e os de actina, causando, assim, a contra��o muscular.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
6
As ondas lentas não são responsáveis pela entrada de cálcio na fibra muscular lisa (apenas a entrada de íons sódio). Em contrapartida, é durante os potenciais de ponta gerados nos picos das ondas lentas, que grande quantidade de íons cálcio penetra nas fibras, causando a maior parte de sua contração.
TIPOS FUNCIONAIS DE MOVIMENTOS NO TRATO GASTRINTESTINALO trato gastrintestinal apresenta dois tipos de movimento: propulsivo
(movimentos peristálticos propriamente ditos) e mistura (ajudam os peristaltismos, mas tem uma função de misturar e homogeneizar o bolo alimentar).
Além disso, a peristalse do esôfago pode acontecer de três formas: a peristalse primária, provocada pelo estímulo da deglutição; a peristalse secundária, que não está relacionada à deglutição; e a peristalse terciária, mais comum no idoso, caracterizada por contrações do esôfago não relacionada à deglutição nem a nenhum outro fenômeno de distensão ou de refluxo, de forma que as contrações são ineficazes, isto é, sem função alguma. As contrações terciárias estão bem relacionadas com algumas patológicas, mas podem acontecer sem que haja qualquer doença associada.
EST�MAGOO estômago, região mais dilatada do canal alimentar, é uma estrutura semelhante a um saco que, no adulto
médio, pode acomodar aproximadamente 1500ml de comida e suco gástrico, em sua distensão máxima. O bolo alimentar passa pela junção gastresofágica e penetra obliquamente no estômago onde é processado, transformando-se em um fluido viscoso denominado quimo.
FUNÇÕES MOTORAS DO ESTÔMAGOO estômago é tido como um órgão de armazenamento a partir do momento que o alimento chega (por via
reflexo vago vagal) ao esfíncter esfoágico inferior, o qual relaxa, permitindo a entrada e o acúmulo de alimento no estomago, o qual se acomoda, progressivamente, ao volume recebido.
OBS8: Quanto mais o indivíduo se alimenta em proporções cada vez maiores, mais o estômago cresce (dilatação receptiva).
A função de mistura realizada pelo estômago, por intervenção das ondas constrictoras peristálticas fracas, fazcom que a porção média da parede deste órgão se mova em direção ao antro no intuito de realizar uma maior homogeneização do quimo com as secreções gástricas. Esse movimento é associado aos movimentos de retropulsão, em que o piloro se fecha, fazendo com que o alimento não ultrapasse para o duodeno, retornando para cima, para continuar sofrendo mistura, até que o quimo esteja bastante homogênio.
OBS9: Contração de fome: sinal que o estômago envia ao sistema nervoso ao perceber uma baixa concentração de açúcar no sangue, gerando tônus gástrico.
A função de esvaziamento se dá por contrações intensas justamente por ser responsável a expulsar o alimento do estômago. A maior parte das contrações estomacais são fracas, intensificando-se, justamente, no momento da evacuação.
O esvaziamento é controlado por fatores: Gástricos: liberação de gastrina, hormônio produzido na mucosa do antro, que aumenta a produção de suco
gástrico pelas glândulas fúndicas e estimula a ação da bomba pilórica. Duodenais: reflexo enterogastrico (quando o alimento sai do estomago para o intestino, começam as ondas
peristálticas no intestino); liberação de hormônios intestinais, como o CCK, inibidor do esvaziamento; presença de gordura retarda o esvaziamento, para que haja tempo de assimilação desses nutrientes; grau de acidez do quimo.
OBS10: A digestão deve ser feita calmamente, pois caso haja uma surpresa moral, todo sangue destinado à receber os nutrientes será desviado para a cabeça e músculos, paralisando o esvaziamento do estômago.OBS11: Quanto maior o volume do estômago, maior será retardado o esvaziamento deste órgão. Por isso não se deve ingerir muito líquido durante as refeições. Há um provérbio chinês que dita: “Saia da mesa ainda com fome”.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
7
REGIÕES DO ESTÕMAGO DO PONTO DE VISTA ANATÔMICOAnatomicamente, a observação macroscópica mostra que o estômago tem quatro regiões:
Cárdia: região estreita, situada na junção gastroesofágica. Possui glândulas responsáveis pro produzir muco contra ação do ácido clorídrico.
Fundo: uma região em forma de cúpula à esquerda do esôfago, frequentemente cheia de gás. Presença de células endócrinas produtoras de gastrina.
Corpo: a maior região, responsável pela formação do quimo. Assim como o fundo, há um maior predomínio de células parietais (produtoras do HCl) e células principais (produção de pepsionogênio) situadas nas glândulas fundicas.
Antro: porção final do estômago, dotada do espesso esfíncter pilórico, que controla a liberação intermitente do quimo para o duodeno. Há predomínio de glândulas produtoras de muco que reveste a mucosa do estômago que o protege da autodigestão.
Células parietaisPresentes, principalmente, no corpo do estômago, são as responsáveis pela produção de
ácido clorídrico. Estas células possuem receptores diferenciados (figura ao lado) que estimulam a produção do ácido: receptores de histamina, gastrina e acetilcolina, que ativam essas células a secretarem ácido clorídrico.
Na região basal dessas células, existe uma enzima chamada bomba hidrogênio-potássio-ATPase. Essa enzima, quando ativada, elimina o H+ na luz do canalículo em troca de K+. Esse H+ se une ao Cl- , previamente bombeado para fora da célula, onde se combinam em HCl. A água captada do líquido extracelular chega ao canalículo devido à osmolaridade gerada nessa região. O HCl é importante por conveter o pepsinogênio (inativo) em pepsina (ativo).
OBS12: É possível realizar o bloqueio dessa bomba de prótons inibindo os receptores de histamina, gastrina ou acetilcolina por meio de medicamentos, porém não é aconselhável, pois, do ponto de vista fisiológico, existem outros receptores de histamina em variados tecidos mais importantes do corpo, que seriam inibidos também. Pode-se então utilizar medicamentos que inibam diretamente e temporariamente a bomba, como o Omeprazol, muito utilizado para doenças relacionadas à hiperacidez (ácido peptídicas, como gastrite, ulceras gástricas ou duodenas, duodenites, doença do refluxo).OBS13: Antiinflamatórios reduzem o número de prostaglandinas, responsáveis pela produção de muco e estimulação da irrigação sanguínea da parede gástrica, tornando o estomago vulnerável a ação do ácido clorídrico. A administração de antiinflamatórios deve ser feita associada a inibidores da acidez.OBS14: Ulceras gástricas podem ser causadas pela bactéria H. pylori (considerado um carcinógeno tipo 1 pela OMS)presente em 70% da população mundial, mas que só se torna patogênica em pessoas com predisposição genética. Essa bactéria provoca um desequilíbrio fisiológico, resultando em uma produção desordenada de HCl, bem como na redução da produção de muco. Por isso, utiliza-se antibióticos e inibidores da bomba de prótons. Essa bactéria sobrevive a ação do ácido clorídrico por se esconder abaixo da camada de muco e por ter uma enzima urease que alcaliniza o meio.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
8
OBS15: As células parietais produzem ainda o fator intrínseco, glicoproteína produzida na mucosa gástrica, que se liga a vitamina B12 (responsável pela maturação de células da linhagem vermelha) para que ela não seja degradada no duodeno para ser absorvida no íleo.
A Helicobacter pylori é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um carcinógeno tipo 1, ou seja, dependendo da cepa dessa bactéria no estômago, relacionado a uma predisposição genética, o indivíduo está propenso a adenocarcinoma gástrico. Essa bactéria, nesses casos, provoca uma reação inflamatória, em que o organismo passa a se defender por meio de citotoxinas, substância tóxicas que tentam combater a bactéria, mas destroem as próprias células da mucosa, desenvolvendo gastrites crônicas e ulceras. Para combater essas patologias, deve-se combater primeiramente a bactéria com antibióticos.
Gastrites crônicas, por levarem a degradação da mucosa estomacal, diminui a formação do fator intrínseco, o que prejudica a absorção da vitamina B12. Isso gera a anemia perniciosa, devido a falta de maturação e eritrócitos pela medula vermelha.
REGIÕES DO ESTÔMAGO DO PONTO DE VISTA FISIOLÓGICOFisiologicamente, o estômago está dividido em duas regiões apenas: porção oral (2/3 iniciais) e porção caudal
(que corresponde ao corpo e antro).
HORMÔNIOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO GASTRICO Gastrina: hormônio produzido pelas células G do estômago e intestino delgado.
Estimula a produção de HCl pelas células parietais do estômago, que possuem um recptor específico para esse hormônio.
Crescimento da mucosa gastrintestinal: a gastrina tem função trófica que estimula a proliferação e diferenciação celular. Isso justifica a razão de não usar medicamentos que poderiam bloquear os receptores das células parietais para esse hormônio, uma vez que bloquearia a renovação da mucosa gastrica.
Estimula a motilidade gástrica, especialmente a contração da região pilórica (bomba pilórica) e o relaxamento do esfíncter pilórico regulando o esvaziamento gástrico.
Secretina: hormônio antagonista da gastrina, produzido pelas células S do intestino delgado. Sua secreção pode ser estimulada pela acidez do quimo.
Estimula a produção de suco pancreático (solução alcalina, rica em bicarbonato) pelo pâncreas, que neutraliza, de certa forma, a acidez com que o quimo chega ao duodeno.
No estômago, estimula a produção e secreção de pepsina (quebra proteínas) e inibe a secreção de ácido clorídrico.
No fígado, estimula a produção da bile. No duodeno, estimula a produção de suco entérico.
Colecistocinina (CCK): hormônio produzido pelas células I do intestino delgado (mucosa do jejuno) Estimula o crescimento celular do pâncreas e a secreção do suco pancreático. Provoca o esvaziamento da vesícula biliar. Ação inibitória no estômago.
OBS16: O stress emocional pode estimular a secreção de HCl devido a sobrecarga do sistema nervoso simpático (reduz a vascularização da parede gástrica) e parasimpático (estimula a produção de acetilcolina), estimulando a secreção de acetilcolina e diminuindo a vascularização do estômago, podendo gerar gastrites nervosas que evoluem para ulceras.
UNIDADE SECRETORA PANCRE�TICAO pâncreas, situado paralelamente abaixo do estômago, é uma grande glândula composta cuja estrutura interna
se assemelha à das glândulas salivares, apresentando um amplo sistema de ductos e ácinos pancreáticos (originam-se nas células acinares, completando-se nos ductos extra-lobulares), responsáveis pela produção e secreção das enzimas digestivas pancreáticas.
SUCO PANCREÁTICOO pâncreas em atividade secreta soluções que vão agir sobre o quimo (bolo alimentar que já sofreu a ação de
enzimas desde a boca ao estômago), que é extremamente ácido, e chega ao duodeno, podendo ter sua mucosa lesada por essa propriedade.
É por esta razão que o suco pancreático é composto de uma grande quantidade de água, enzimas e grandes quantidades de bicarbonatos, com função de neutralizar a natureza ácida do quimo.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
9
Funções.O suco pancre�tico � respons�vel pela hidr�lise da maioria das mol�culas de alimento, bem como, continuar a
digest�o de carboidratos (atrav�s da a��o da amilase pancreática, que fragmenta o amido em maltose) iniciada na boca pela amilase salivar; prote�nas (enzimas proteases: quimiotripsina e tripsina); gorduras (lípases) e �cidos nucl�icos (nucleases).
A secretina � o horm�nio pr�-estimulante do p�ncreas, que ativa sua fun��o eletrol�tica (bicarbonatos). Em contrapartida, � um horm�nio inibidor do est�mago: com o intuito de parar a fun��o do est�mago e iniciar a a��o pancre�tica.
Componentes.A secre��o do suco pancre�tico consiste em dois componentes:
Componente aquoso rico em HCO3- : neutraliza o H+ que chega ao duodeno. Componente enzim�tico: digere carboidratos, prote�nas e lip�dios, que s�o ativadas apenas na luz do intestino.
Essas enzimas s�o recobertas com uma membrana lisossomal para se manterem inativas at� a chegada no intestino.
Inervação do pâncreas exócrino. Est�mulo parassimp�tico: estimula a secre��o. Est�mulo simp�tico: inibe a secre��o.
Indiv�duos alcoolistas podem desenvolver um quadro de pancreatite aguda, pois o �lcool estimula a ativa��o precoce das enzimas pancre�ticas, causando necrose do tecido pancre�tico. Indiv�duos que continuam bebendo, desenvolvem pancreatite cr�nica, com o tecido pancre�tico totalmente destru�do. Desse modo, o indiv�duo ser� incapaz de quebrar nutrientes e nem assimil�-los, gerando quadros de desnutri��o prot�ico-cal�ricas graves. O tratamento � feito atrav�s de reposi��o de enzimas pancre�ticas ou c�lulas tronco.
Amilase Pancreática (pH entre 7,8 e 8,2).Continua a digest�o dos carboidratos que foi iniciada na boca. Sua a��o � semelhante ao da ptialina,
transformando o amido (cana, frutas, leite, batata, arroz, trigo) em maltose e glicose. Essa etapa da digest�o � importante pois esses carboidratos s�o fonte de energia em nosso organismo.
OBS17: A digest�o do amido � completada no intestino porque, como o alimento permanece pouco tempo na boca, a ptialina n�o � capaz de quebra-lo totalmente.
Tripsina e Quimiotripsina (pH 7,8 e 8,2).S�o enzimas proteol�ticas produzidas em forma inativa (tripsinog�nio e quimiotripsinog�nio) para n�o atacar as
prote�nas do pr�prio �rg�o produtor (p�ncreas). A atua��o do tripsinog�nio � ativada pela enteroquinase, enzima produzida pelo pr�prio duodeno, que por sua vez, j� como tripsina, converte quimiotripsinog�nio em quimiotripsina. Essas enzimas transformam as prote�nas decompostas no est�mago em subst�ncias mais simples – os amino�cidos. As fontes de prote�nas s�o: carne, queijo, leite, ervilha, etc.
Lipase Pancreática.Atua na digest�o dos lip�dios, transformando triglicer�dios em glicerol e �cidos graxos. Dissociado dessa
maneira, os enter�citos podem absorver esses nutrientes.
Ribonucleases (RNAse) e Desoxirribonucleases (DNAse).Atuam na digest�o inicial dos �cidos nucl�icos que s�o adquiridos na alimenta��o.
TripsinaEnteroquinaseTripsinog�nio
Quimiotripsinog�nio Tripsina Quimiotripsina
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
10
HORMÔNIOS REGULADORES DA SECREÇÃO PANCREÁTICAAs c�lulas acinares, assim como as parietais g�stricas, s�o estimuladas por tr�s mediadoes: acetilcolina,
secretina e CCK. Quando o quimo ainda est� no est�mago, h� a secre��o de gastrina para a realiza��o das fun��es do est�mago. Quando o quimo chega � luz do duodeno, a secretina � liberada, retardando a secre��o da gastrina e estimulando a secre��o de suco pancre�tico. A CCK, al�m de, juntamente a secretina, inibem a secre��o de gastrina, estimula a secre��o da ves�cula biliar para que a bile seja secretada juntamente ao suco pancre�tico, fazendo com que ambas atuem simultaneamente no quimo.
FASES DA SECREÇÃO PANCREÁTICA
OBS18: � por isso que dizem que “a digest�o come�a na vis�o”, pois ao observar um alimento, por est�mulo vagal, enzimas come�am a ser secretadas, como ocorre com a saliva��o (“�gua na boca”).
Secre��o biliarA ves�cula biliar armazena (no m�ximo 30 a 60ml), secreta e concentra (retira �gua) da bile, secre��o digestiva
produzida pelo f�gado (600 a 1000ml por dia) .A bile possui importantes fun��es: ajuda a emulsificar grandes part�culas de gorduras, bem como ajuda no
processo de absor��o dos produtos terminais dessa gordura digerida; serve como meio de excre��o de v�rios produtos importantes de degrada��o de c�lulas sangu�neas: bilirrubina e excesso de colesterol. A primeira dessas fun��es n�o � realizada por meio de enzimas, uma vez que s�o inexistentes na bile, mas sim, pela a��o dos ácidos biliares.
Icterícia: excesso de bilirrubina no sangue devido a defeitos metab�licos. Os sintomas s�o pele e escler�tica amarelados.Pode ser causada por dist�rbios ainda no metabolismo da bilirrubina (nas fun��es dos hepat�citos) ou por obstru��o nos ductos de excre��o (icter�cia obstrutiva)Icterícia neonatal: rec�m-nascidos, geralmente, n�o conseguem excretar a bile, elevando os n�veis de bilirrubina no sangue. � necess�ria a fototerapia, respons�vel por transformar a bilirrubina de uma forma pouco excret�vel para uma forma mais facilmente excret�vel. Se n�o for tratado, a bilirrubina trar� problemas neurol�gicos, por ser t�xica e capaz de atravessar a barreira hematoencef�lica.Cálculos biliares: o colesterol, que tamb�m � excretado pela bile, em condi��es anormais pode sofrer precipita��o resultando na forma��o de cálculos biliares de colesterol. A concentra��o de colesterol presente na bile � determinada, em parte, pela quantidade de gordura ingerida pelo indiv�duo (uma vez que o colesterol � um dos produtos do metabolismo das gorduras). Indiv�duos que adotam dietas ricas em gorduras durante per�odos de muitos anos, est�o sujeitos � forma��o de c�lculos biliares.
OBS19: c�lculos biliares podem se desenvolver a partir da cristaliza��o do excesso de qualquer um dos componentes da bile concentrada (sais biliares, lecitina, bilirrubina e colesterol).OBS20: A bilirrubina � o produto da destrui��o do grupamento heme de hem�cias velhas, e � excretada pelo f�gado (onde � conjugada, sendo transformada de bilirrubina indireta n�o-excret�vel e insol�vel, em bilirrubina excret�vel e sol�vel) e transportada junto � albumina (por ser t�xica) para ser excretada pela urina ou feses (urobilina).
FASE ESTÍMULO SECREÇÃOCEFÁLICA
(pouco importante)Vagal Pequeno volume
Rico em enzimasGÁSTRICA
(m�dia import�ncia)Contra��es g�stricas
Gastrina (j� sinaliza a secre��ode secretina para estimular
o p�ncreas)
Volume m�dioRica em enzimas
FASE INTESTINAL(muito importante)
�cido no duodenoSecretina
CCK (contra��o da ves�cula biliar)
Grande volumeRica em HCO3-
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
11
SECREÇÃO DA BILE PELO FÍGADOOs hepatócitos captam a bilirrubina e a elimina pelos canalículos biliares até a luz intestinal. Até chegar à
vesícula biliar, a bile sofre modificações. Até na vesícula, haverá alterações estruturais e bioquímicas na bile como a sua concentração (retirada de água, Na+ e Cl- tornando-a mais espessa e osmótica) pela mucosa da vesícula, restando na bile os seguintes componetes:
Sais biliares Lecitina (lisina, que forma micelas) Colesterol Bilirrubina
OBS21: Circulação Entero-hepática dos Sais biliares: Os sais biliares percorrem cerca de 18 vezes o circuito êntero-hepático antes de serem reabsorvidos para o sangue, ou seja, ao serem liberados na luz do intestino, são novamente reabsorvidos pelo sangue, retornando ao fígado, onde são devolvidos às células hepáticas e secretados novamente na bile.
O aumento de qualquer um dos componentes acima pode causar cálculos na vesícula, inclusive o excesso de bilirrubina por meio de cálculos de bilirrunatos. Pacientes com anemia hemolítica, anemia falciforme,talassemia ou eristroblastose, por terem uma grande demanda de bilirrubina, passam a apresentar grandes concentrações de bilirrubina indireta gerando icterícia. Conclui-se, então, que indivíduos ictéricos estão propensos a desenvolver pedras na vesícula.Indivíduos com problemas de tireóide, por terem problemas no metabolismo de cálcio, podem gerar cálculos.A ausência de sais biliares, responsáveis pela digestão de gorduras, também causam distúrbios metabólicos ao organismo: o colesterol é necessário para formação de hormônios; e os ácidos graxos são indispensáveis na formação das membranas celulares.
ESVAZIAMENTO DA VESÍCULA BILIARQuando o alimento começa a ser digerido na porção superior do TGI, a vesicular biliar também começa a se
esvaziar, sobretudo quando alimentos gordurosos chegam ao duodeno, cerca de 30 minutos depois da refeição. O esvaziamento acontece pelas contrações rítmicas da parede da vesícula e pelo relaxamento simultâneo do esfíncter de Oddi. Toda essa série de acontecimentos é estimulada pela CCK. Trata-se da mesma colecistocinina que induz a secreção de enzimas digestivas pelas células acinares do pâncreas, para que ambas secreções ajam juntas no alimento.
Bile Gordura emulsificada(Bile + Agitação)
Gordura emulsificada
Lipase pancreática Ác. Graxos2-monoglicerídios
HORMÔNIOS REGULADORES DA SECREÇÃO BILIARA secretina, assim como é estimulante do pâncreas, também vai atuar estimulando a secreção de bile, para
neutralizar o quimo ácido pela ação do bicarbonato.A colecistocinina estimula o esvaziamento da vesícula biliar, cerca de 30 minutos depois da refeição, ocorre
concentrações da parede da vesícula e o relaxamento do esfíncter de Oddi (do colédoco para o duodeno). O pico de CCK é atingido com a chegada de gordura no estômago.
ESTÍMULO NERVOSOA vesícula é estimulada por fibras nervosas do sistema nervoso autônomo parassimpático, através da liberação
de acetilcolina, dos nervos vagos e do sistema nervoso entérico.
FISIOLOGIA HEP�TICAO fígado, pesando cerca de 1500 g, trata-se da maior glândula do corpo. Está situado no quadrante superior
direito da cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma. Esta glândula apresenta inúmeras funções relacionadas ao metabolismo.
Assim como o pâncreas, o fígado tem funções exócrinas e endócrinas; entretanto, ao contrário do pâncreas, a mesma célula (o hepatócito) do fígado é responsável pela sua secreção exócrina (a bile) e por seus diversos outros produtos endócrinos. Além disso, os hepatócitos convertem substâncias nocivas em materiais não tóxicos, que são secretados na bile, como a bilirrubina.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
12
OBS22: Do ponto de vista histol�gico, esses hepat�citos est�o organizados em trab�culas distribu�das de forma radial, onde no centro do lobo hep�tico est� presente a veia hepática central, e nas regi�es angulares t�m-se as art�ria e veia hep�tica. Em certas patologias que acometam o f�gado, incidem geralmente na regi�o central ou na circula��o portal.
FUNÇÕES RELACIONADAS AO METABOLIMSO INTERNO Metabolismo da bilirrubina: transformando-a em bilirrubina conjungada, que � mais sol�vel e excret�vel. Metabolismo dos carboidratos: armazenamento de energia em forma de glicog�nio; transforma��o desse
glicog�nio em glicose para ser usado pelo corpo. Metabolismo dos lip�dios: produ��o de outros lip�dios, fosfolip�dios de membrana e colesterol para horm�nios. Metabolismo das prote�nas Metabolismo da bile Metabolismo de drogas e subst�ncias ex�genas: toda subst�ncia ex�gena (que n�o � t�pica do corpo) �
metabolizada por um complexo enzim�tico. Altera��es nesse funcionamento hep�tico, o indiv�duo apresentar� quadros de intoxica��o.
Fun��o de reservat�rio sangu�neo Fun��o de manuten��o do equil�brio hidroeletrol�trico: manuten��o da homeostase. Fun��o de defesa imunol�gica: c�lulas de Kupfer. Propriedade de regenera��o.
METABOLSMO DA BILIRRUBINAAs hem�cias velhas v�o passar por um sistema de hem�lise
(que pode ser no f�gado, rins e ossos longos), sofrendo degrada��o de seu grupo heme, tendo como subproduto a bilirrubina, que vai ser transportada pelo sangue juntamente a albumina, por ser uma subst�ncia t�xica.
Ao chegar aos hepat�citos, essa bilirrubina vai sofrer a a��o dos seguintes processos: processo de captura (feito por uma prote�na espec�fica, que houver defeitos, pode desenvolver icter�cia), sistema metab�lico (convertendo-se em um metab�lito conjugado e de f�cil elimina��o) e libera��o nos canal�culos para ser excretado para a ves�cula, para depois ser enviado ao intestino pelo canal col�doco.
METABOLISMO DOS CARBOIDRATOSNa dieta humana normal, � ingerido na forma
de polissacar�deos (amido) e dissacar�deos (sacarose, lactose). Esses a��cares sofrer�o a��o enzim�tica na luz do intestino transformando-se em monossacar�deos (glicose, frutose e ribose) de f�cil absor��o. A partir da�, atingiram os vasos mesent�ricos, para que, por meio da veia porta, chegem at� o f�gado para serem metabolizados em energia. Nos hepat�citos, ocorre a fosforila��o (glicose sendo transformada em glicose-6-fosfato), sendo armazenada em forma de glicog�nio. Com isso, dependendo das necessidades fisiol�gicas, o f�gado comandar� a glicog�nese ou a glicogen�lise.
OBS23: Defeitos na mucosa do intestino causar�o d�ficits de absor��o de glicose. OBS24: Defeitos na enzima glicogênio-6-fosfatase comprometem o metabolismo adequado dessa glicose.
METABOLISMO DAS GORDURASOs triglicer�dios (�steres do glicerol com �cidos graxos) sofrem hidr�lise parcial na luz intestinal pela a��o das
l�pases, com transporte do glicerol, que � hidrossol�vel, ao f�gado.Os �cidos graxos podem formar complexos hidrosol�veis com sais biliares e penetrar na parede intestinal,
podendo haver nova s�ntese de TGs. Podem se ligar a lipoprote�nas para ser transportado pelo sangue.� no f�gado que os lip�dios s�o destinados �s suas fun��es nas diversas vias metab�licas do organismo, como a
β-oxida��o mitocondrial (via na qual a gordura � convertida em energia) ou na produ��o de colesterol (ester�ides, �cidos biliares, corpos cet�nicos).
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
13
COLESTEROL� um esterol sintetizado em diferentes tecidos, inclusive no f�gado, mucosa intestinal, supra-renal e parede
arterial, sendo excretado na bile como esterol neutro. Pode ser convertido em �cidos biliares prim�rios; � armazenado no f�gado na forma estratificada.
OBS25: A aterosclerose pode ser desenvolvida pela ingest�o excessiva de colesterol ou pela produ��o exagerada desse esterol na parede dos vasos.
METABOLISMO DE PROTEÍNASO f�gado � a sede principal do metabolismo dos amino�cidos intermedi�rios e de s�ntese de prote�nas. Os AA
existem na forma livre em diversos tecidos, a maioria dos AA no f�gado n�o � essencial (que s�o produzidos pelo pr�prio corpo: alanina, �cido glut�mico, glutamina, glicina).
Ap�s a alimenta��o ocorrem picos de amino�cidos no sistema porta, que foram ingeridos na forma de prote�nas, desintegradas pelo processo digestivo em amino�cidos. Ao chegar ao f�gado, esses amino�cidos s�o transformados em novas prote�nas para realizarem novas fun��es.
OBS26: A am�nia (subst�ncia t�xica) produzida por bact�rias intestinais � absorvida pela mucosa do intestino, para ser excretado pelo trato digestivo ou pela respira��o.OBS27: A ur�ia � o produto do metabolismo do nitrog�nio, sendo facilmente excret�vel pelo rin. Pode ser hidrolisada para am�nia no TGI, sendo um meio eficaz de detoxifica��o desta. Indiv�duos podem ter intoxica��o pelo aumento de am�nia ou por ur�ia, no caso de insufici�ncia renal ou hep�tica.
Pacientes com cirrose hepática em estado avan�ado apresentam dist�rbios mentais (encefalopatia hepática), por n�o conseguir metabolizar e eliminar am�nia, que atravessa a barreia hematoencef�lica, deixando o indiv�duo confuso mentalmente, podendo melhorar por uso de antibi�ticos, que v�o atacar as bact�rias intestinais que transformam ur�ia em am�nia.
A maioria das prote�nas plasm�ticas � sintetizada no f�gado, como albumina, fibrionog�nio, fatores (V, VII, IV, X; ligados a vitamina K), fator VIII (parcialmente), hepatoglobinas, transferrina (transporta o ferro no sague), ceruloplasmina(prote�na que anula o efeito t�xico do cobre e excreta esse metal pesado), globulinas α-1 e α-2 (sistema imunol�gicos) e as lipoprote�nas (HDL, LDL e VLDL) que transportam a gordura no sangue.
OBS28: Insufici�ncia hep�tica que traga falta de albumina, pode acarretar edemas devido o extravio de l�quidos para o tecido. Al�m disso, a falta de fibrinog�nio e os fatores ligados � vitamina K trar� malef�cios � coagula��o sangu�ena.
METABOLISMO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS EXÓGENASA maior parte do metabolismo das drogas e outros compostos ex�genos ocorrem no f�gado, atrav�s da a��o de
enzimas localizadas nos microssomos do ret�culo endoplasm�tico liso e de co-fatores, como o NADPH, citocromo P450 (liga-se a subst�ncia promovendo o seu metabolismo).
Toda droga ingerida tem seu endere�o certo para ser metabolizada no f�gado pelo sistema P450, para que se torne uma subst�ncia n�o t�xica, apta para a elimina��o. Esta desintoxica��o est� dividida em duas fases:
1� fase: oxida��o, redu��o, hidr�lise. 2� fase: conjunga��o com �cido glicur�nico ou AA (glicina, glutamina), tornando a droga ou metab�lito mais
sol�vel ou mais polar (mais facilmente eliminado), com diminui��o da atividade biol�gica do composto.
OBS29: Existem medicamentos que competem com o f�gado, ou seja, o indiv�duo pode estar fazendo uso de dois medicamento em que um bloqueie a a��o das enzimas, impedindo a desintoxica��o do outro. Com isso, o segundo medicamento, ser� considerado t�xico.
FUNÇÃO DE RESERVATÓRIO DE SANGUEAs grandes dimens�es do f�gado, �rg�o ricamente vascularizado e localizado entre as circula��es porta e
sist�mica, conferem-lhe a propriedade de reservat�rio de sangue e l�quido extra-celular, podendo aumentar ou diminuir a sua capacidade em resposta a situa��es patol�gicas e fisiol�gicas (Ex: insuficiência cardíaca congestiva, em que o cora��o n�o d� conta de bombear o volume de sangue a ser bombeado, gerando uma hepatomegalia).
OBS30: Indiv�duos que sofrem hemorragias intensas, geralmente apresentam hepatomegalia e esplenomegalia, para manter a press�o sangu�nea aproximadamente constante.
FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICOConsiderando que toda �gua e eletr�litos ingeridos e absorvidos passam atrav�s do f�gado, este �rg�o
apresentar� papel importante na manuten��o do equil�brio hidroeletrol�tico. Al�m disso, o f�gado produz subst�ncias hormonais respons�veis pela homeostase.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
14
FUNÇÃO DE DEFESA IMUNOLÓGICAO f�gado exerce fun��o imunol�gica atrav�s de macr�fagos nomeados de células de Kupfer (representantes do
sistema ret�culo endotelial do f�gado) que est�o relacionados com a produ��o de gamaglobulinas, anticorpos e atividade fagoc�tica.
Essa a��o � importante por neutralizar bact�rias e toxinas oriundas do sistema porta, vindas junto aos nutrientes. � por isso que o f�gado � tido como um �rg�o de filtra��o.
OBS31: Indiv�duos com fun��o hep�tica reduzida est�o propensos ao desenvolvimento de infec��es.
PROPRIEDADES DE REGENERAÇÃOOs hepat�citos s�o c�lulas com elevada atividade metab�lica, mesmo ap�s a remo��o de 70% de sua massa
parenquimatosa. Ap�s a hepatectomia parcial, observa-se aumento das mitoc�ndrias, da atividade lisossomal e intensa atividade mit�tica.
Essa propriedade � importante em resseca��es de tumores, transplantes, etc.
OBS32: Nódulo no f�gado � uma eleva��o s�lida, enquanto cisto � de conte�do l�quido. O emangi�ma � um n�dulo benigno de origem vascular hep�tico.
INTESTINO DELGADO� o �rg�o mais longo do trato alimentar. O intestino delgado est� divido em tr�s
regi�es: duodeno (por��o proximal do intestino delgado, que recebe secre��es pancre�ticas e biliares para neutralizar o quimo �cido do est�mago e continuar o processo digestivo do alimento), jejuno (regi�o m�dia, mais longa e onde ocorre maior absor��o de nutrientes) e íleo (por��o final, em contato com o intestino grosso). Esse �rg�o digere material alimentar e absorve finais do processo digestivo.
FUNÇÕESDo ponto de vista digestivo, o intestino delgado � respons�vel por neutralizar a acidez
do quimo proveniente do est�mago, adicionar enzimas digestivas e bile a este quimo, quebrar prote�nas, carboidratos e lip�dios para a maior absor��o desses materiais. 95% da absor��o acontece nesse �rg�o.
OBS33: A mucosa (T.E.R. Simples Cil�ndrico com Vilosidades) intestinal � dotada de vilosidades altamente irrigadas especializadas na absor��o dos alimentos. Indiv�duos com falta de vilosidades, com mucosa lisa, apresentar�o desnutri��o devido � absor��o deficiente.
MOVIMENTOS DO INTESTINO DELGADO
Movimentos segmentares (Contrações de Mistura): o quimo no ID provoca um tipo de contra��o chamada de segmentar, por ser �cido e hiperosmolar, que causa pequenas septa��es no intestino misturando o quimo com as secre��es intestinais liberadas.
Movimentos propulsivos (movimentos peristálticos): a distens�o do ID pelo quimo desencadeia ondas perist�lticas que se deslocam em dire��o ao �nus, numa velocidade de 0,5 a 2 cm/s. S�o contra��es fracas, fazendo com que o quimo se desloque lentamente para ter o tempo necess�rio para absor��o realmente efetiva, durante cerca de 3 a 5h do piloro at� a v�lvula �leo-cecal. Este tipo de movimento � controlado de duas maneiras:
o Mecanismo nervoso: o sistema nervoso aut�nomo parasimp�tico (estimula, por participar de um sistema pr�-digest�o) e simp�tico (retardando, atrav�s de adrenalina, desviando o sangue da digest�o para “�rg�os nobres”: cora��o, musculos e c�rebro) controlam esses movimentos. Os reflexos gastrent�ricos, desencadeados pela distens�o do est�mago, estimulam o plexo mioent�rico aumentando a intensidade dos movimentos perist�lticos.
o Mecanismo hormonal: reflexo da gastrina, CCK, serotonina, insulina; os quais estimular�o, da mesma forma, o plexo mioent�rico.
OBS34: Caso haja uma maior necessidade metab�lica de gorduras, prote�nas e carboidratos, as vilosidades do ID aumentam para acontecer uma maior absor��o de nutrientes.
Amebíase: o protozo�rio ameba atravessa a mucosa do ID recobrindo as vilosidades, impedindo a absor��o eficaz dos nutrientes. Os indiv�duos acometidos apresentar�o diarr�ia e desnutri��o.
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
15
SECREÇÕES DO INTESTINO DELGADOA mucosa do intestino delgado secreta o suco ent�rico,
solu��o rica em enzimas e de pH aproximadamente neutro. Uma dessas enzimas � a enteroquinase. Outras enzimas s�o as dissacaridases, que hidrolisam dissacar�deos em monossacar�deos (sacarase, lactase, maltase). No suco ent�rico h� enzimas que d�o seq��ncia � hidr�lise das prote�nas.
INTESTINO GROSSOEst� subdivido em ceco, c�lon (ascendente, transverso, descendente e
sigm�ide), reto e �nus; tendo aproximadamente 1,5m de comprimento.Ele n�o est� ligado a absor��o de micronutrientes, mas sim, pela maior
absor��o de �gua e �ons do quimo provenientes do intestino delgado, compactando o quimo em fezes que ser�o elminadas. Al�m da produ��o de vitamina K e B por bact�rias simbi�ticas.
As fun��es do cólon s�o: Absor��o de �gua e de eletr�litos do quimo – c�lon direito. Armazenamento da mat�ria fecal at� que possa ser excretada (colon
esquerdo).OBS35: O vibri�o col�rico produz uma toxina que bloqueia a absor��o de �gua e s�dio pelos enter�citos, gerando uma diarr�ia volumosa.
MOVIMENTOS DO INTESTINO GROSSO Movimentos de mistura (haustrações): � semelhante aos movimentos do ID, por�m de forma mais lenta.
Movimentos porpulsivos (de massa): quando o colo fica excessivamente cheio, ocorre contra��o de um segmento do colo for�ando o conte�do fecal a deslocar-se em massa colo abaixo em 30 segundos, com relaxamento de 2 a 4 minutos at� um novo movimento. Esse movimento de massa perdura por apenas 10 a 30 minutos, e se n�o houver defeca��o, um novo movimento vir� em torno de 12 a 24h.
ESTÍMULOS PARA OS MOVIMENTOS DE MASSAExistem alguns est�mulos intr�nsecos do aparelho intestinal que fazem com que a massa fecal seja deslocada.
Reflexo gastrocólico: Desencadeado pela distens�o do est�mago ap�s uma refei��o. Caso o indiv�duo receba um sinal gastroc�lico, percebendo a necessidade de defecar, e tente regula-lo voluntariamente, esse reflexo pode ser perdido ao longo do tempo, causando constipa��o.
Reflexo duodenocólico: Desencadeado pela distens�o do duodeno ap�s uma refei��o, que ocorre em seq��ncia do reflexo gastroc�lico.
Estimulação parassimpática
DEFECAÇÃONormalmente, o reto n�o cont�m fezes, uma vez que o esf�ncter funcional (jun��o do colo sigm�ide e do reto)
est� a 20 cm do �nus. Quando o movimento de massa for�a a passagem de fezes para o reto, ocorre um tipo especial de reflexo – o reflexo da defecação – que provoca:
Contra��o reflexa do reto: encurtam-se as fibras do reto Relaxamento do esf�ncter anal Prensa abdominal: press�o do diafragma e v�sceras abdominais.
OBS37: A defeca��o pode ser inibida at� certo ponto devido a contra��o da musculatura estriada esquel�tica do esf�ncter anal externo. O controle da defeca��o � feita justamente pela constri��o do esf�ncter anal interno (m�sculo liso) e esf�ncter anal externo (m�sculo estriado).
Arlindo Ugulino Netto – FISIOLOGIA – MEDICINA P2 – 2008.1
16
REFLEXO DA DEFECAÇÃOO enchimento das porções finais do intestino grosso estimula terminações nervosas presentes em sua parede,
através da distenção da mesma. Impulsos nervosos parassimpáticos são, então, em intensidade e frequência cada vez maior, dirigidos a um segmento da medula espinhal (sacral) e acabam por desencadear uma importante resposta motora que vai provocar um aumento significativo e intenso nas ondas peristálticas por todo o intestino grosso, ao mesmo tempo em que ocorre um relaxamento no esfincter interno do ânus.
Desta forma ocorre o reflexo da defecação. Se, durante este momento, o esfinter externo do ânus também estiver relaxado, as fezes serão eliminadas para o exterior do corpo, através do ânus. Caso contrário, às fezes permanecem retidas no interior do reto e o reflexo desaparece, retornando alguns minutos ou horas mais tarde.
C�LULAS ENTEROEND�CRINASO tubo gastrointestinal contém um número pequeno de células endócrinas ou endocriniformes, denominadas
células enteroendócrinas ou argentafins, concentradas especialmente no estômago e no intestino delgado. Essas células enteroendócrinas recebem nomes individuais de acordo com a substancia produzida. Em geral, um único tipo de célula secreta somente um agente, apesar de tipos celulares ocasionais poderem secretar dois agentes diferentes. Há pelo menos 13 tipo de células enteroendócrinas, das quais alguns estão localizados na própria mucosa gástrica.
São classificadas quanto a presença de microvilosidades ou não no seu ápice:◦ Tipo aberto: ápice com microvilos (fariam a secreção exócrinas).◦ Tipo fechado: ápice recoberto com células epiteliais (fariam à secreção endócrina) sendo elas a grande
maioria no TGI.
Órgão Célula Hormônio Produzido
Ação do Hormonio
Estômago e Intestino Delgado
AGlucagon
(enteroglucagon)Estimula a glicogenólise pelos hepatócitos, elevando assim, os níveis de glicose do sangue
Estômago, intestinos delgado e
grosso
Enterocromafim Serotonina Aumenta os movimentos peristálticos
Estômago Semelhante à Enterocromafim
Histamina Estimulação e secreção de HCl
Estômago, intestinos delgado e
grosso
D SomatostatinaInibe a liberação de hormônios pelas células DNES em sua vizinhança
Estômago e Intestino delgado
Produtora de gastrinaGastrina
Estimula a secreção de HCl, a motilidade gástrica (especialmente a contração da região pilórica e o relaxamento do esfíncter pilórico regulando o esvaziamento gástrico) e a proliferação das células regeneradoras do corpo do estômago
Estômago, intestinos delgado e
grosso
Produtora de glicentina
GlicentinaEstimula a glicogenólise pelos hepatócitos, elevando os níveis de glicose do sangue.
Estômago e Intestino Grosso
Célula produtora de polipeptídeo pancreático
Polipeptídeo pancreático
Estimula a liberação de enzimas para as células principais. Diminui a liberação do HCl pelas células parietais. Inibe a liberação do pâncreas exócrino.
Estômago, intestinos delgado e
grosso
Produtora de peptídeo intestinal vasoativo
Peptídeo intestinal vasoativo
Aumenta a ação peristáltica dos intestinos delgado e grosso e estimula a eliminação de água e íons pelo trato GI
Intestino delgado
I Colecistoquinina (CCK)
Estimula a liberação do hormônio pancreático e a contração da vesícula biliar.
Intestino delgado
K Peptídio inibidor da gastrina
Inibe a secreção de HCl
Intestino delgado
Célula produtora de motilina
Motilina Aumenta o peristaltismo intestinal
Intestino delgado
Célula produtora de neurotensina
Neurotensina Aumenta o fluxo sanguíneo para o íleo e diminui a ação peristáltica dos intestinos delgado e grosso
Intestino delgado
S Secretina Estimula a liberação de fluido rico em bicarbonato pelo pâncreas