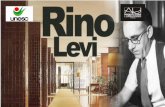Conciliação trabalho e vida familiar: efeitos sobre a aquisição de trabalho decente (ANPOCS...
Transcript of Conciliação trabalho e vida familiar: efeitos sobre a aquisição de trabalho decente (ANPOCS...
38º Encontro Anual da Anpocs
GT15 Família e Trabalho:
configurações, gerações e articulações em contexto de
desigualdades
Conciliação trabalho e vida familiar: efeitos sobre a aquisição de trabalho
decente
Felícia Picanço
INTRODUÇÃO
A crescente inserção ocupacional das mulheres no
contexto de redução das desigualdades econômicas e sociais
e de ampliação do emprego formal da última década é marcada
por mudanças positivas, reprodução de aspectos desiguais e
construção de novas desigualdades.
As mudanças agora parecem ocorrer muito mais dentro do
contingente de mulheres ocupadas, do que através de um
aumento grandioso em relação ao percentual de mulheres
ocupadas. Isso porque entre as mulheres com 18 anos ou
mais, em 1993 50% estava ocupada e, em 2012, o percentual
sobe apenas para 52,8%. Um crescimento que só não foi maior
por conta do crescimento da presença das mulheres que só
estudam. Para os homens, o valor é mais imponente, porém
decrescente, passa de 85% para 77,8%, pelo crescimento dos
1
que estudam e pequena redução dos que nada declararam em
relação a trabalho e estudo.
Com a vida doméstica e familiar atravessando mudanças
importantes em relação aos papéis de gênero no espaço
público e privado, a presença de filhos parece impulsionar
a mulher ao mercado de trabalho, porque entre as mulheres
com filhos mais de 50% estão ocupadas.
Contar com o salário das mulheres, seja porque o
arranjo depende só dela (caso das famílias monoparentais
femininas) ou co-provisão, para a reprodução da família se
torna imprescindível.
Ao longo do tempo, no entanto, são as mulheres vivendo
em arranjos compostos por casais sem filhos que mais
ampliam o percentual na condição de ocupada, seguida pelas
mulheres em arranjos de casais com filhos. As mães com
filhos oscilam um pouco para baixo, não permitindo falar em
tendência de queda, tal como está mais visível entre as
mulheres em arranjos agregados como Outros.
G1
É exatamente sobre as ocupadas que este artigo se
debruça. Dentre um dos paradoxos mais explorados pelos
economistas do trabalho (Sabóia, 2014; Pochman, 2012 e
2014, dentre outros) é a relação entre o baixo crescimento
e a melhora do mercado de trabalho. As respostas não são
tão variáveis, mas também não são consensuais. Em meio às
divergências interpretativas, apontam para o fato de que o
crescimento da oferta de emprego se deu na base da
2
pirâmide, isto é, empregos mal remunerados e de baixa
produtividade em atividades do setor terciário (serviços).
A expansão do emprego não veio sozinha, veio
acompanhada da maior formalização das relações de trabalho.
O número crescente de emprego com carteira de trabalho,
segundo Cardoso Jr (2007), pode ser explicado por alguns
fatores como: o aumento e maior descentralização do gasto
social que influi na contratação de trabalhadores em
setores de educação saúde e para aqueles beneficiários de
dos programas de transferência de renda oferece maior
capacidade de barganha na escolhas de trabalho; aumento do
crédito interno, que mesmo tendo como objetivo estimular o
consumo ou girar o capital, também cria demanda de bens e
serviços, e o emprego criado por meio da demanda tem mais
chances de ser mantido e oferecer melhores condições de
trabalho; no contexto de redução da atividade agrícola, o
emprego retido nesse setor tem mais chances de se dar em
melhores condições de trabalho; a maior presença do governo
em relação à intermediação de mão de obra e fiscalização do
trabalho através do Ministério do Trabalho.
A partir deste cenário, o artigo tem como objetivo
analisar as mudanças e permanências no acesso das mulheres
a trabalhos mais decentes e quais os impactos/efeitos de
características individuais e familiares na aquisição de
trabalhos mais decentes para as mulheres. O conceito de
Trabalho de Decente (TD) foi escolhido pela Organização
3
Internacional do Trabalho (OIT, 2007) para estabelecer
metas e orientações aos países em relação ao trabalho.
O artigo está dividido em três partes. Na primeira
descrevemos algumas características da população ocupada
por gênero. Na segunda, será apresentado o conceito de TD;
a proposta de um indicador sintético para mensurá-lo, o
índice de trabalho decente (ITD); e analisaremos o ITD para
as mulheres e homens segundo características individuais e
familiares tais como cor, idade, escolaridade, condição da
família etc. Na terceira parte, será apresentado os
resultados da análise de regressão para medir os efeitos
destas variáveis na aquisição de trabalhos mais decentes
para as mulheres. Os dados são provenientes da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo
IBGE.
1. A POPULAÇÃO OCUPADA
O contingente feminino vem ampliando espaço de forma
contínua ao longo do tempo: em 1993, 39% dos ocupados eram
mulheres e em 2012 passa para 42,4%. Sendo que o maior
salto foi dado entre 1998 e 2003, exatamente no momento em
que cresce o percentual de mulheres economicamente ativas
na população brasileira1.
Um perfil de trabalhadas que vem se modificando ao
longo tempo. Tal como já tinha identificado Bruschini e
Lombardi (2010), as mulheres ocupadas se tornaram: mais1 Segundo a PNAD, em 1993, 47% das mulheres cima de 10 anos estavam naPEA; em 1998, 47,5%; em 2003 50,7%; em 2008 52,2%; e em 2012 cai para50, 1%.
4
velhas, mas instruídas e mais responsáveis pela família, um
pouco menos responsável pelos afazeres domésticos. E
somando-se a essas mudanças, se tornaram um pouco mais
negras.
As tendências acima, se revelam em números para que
possamos ter dimensão das mudanças. Em 1993, 68% das
mulheres tinham até 39 anos e, em 2012, passa para 57%,
valores que não se distinguem dos homens, respectivamente
67,4% e 58,5%, indicando tendências de envelhecimento
semelhante entre os sexos e uma enorme redução do trabalho
dos adolescentes. O envelhecimento dos ocupados está
relacionado à um conjunto amplo de fatores, mas que pode
ser visto de forma monocausal, tais como o envelhecimento
da população, o esforço de redução do trabalho infantil
através de programas públicos, a necessidade de geração de
renda pelo idoso em função dos arranjos familiares complexo
e de co-habitação, melhora na qualidade que permite ter
saúde para as atividades de trabalho.
G2 E G3
Maior diferença é encontrada na escolaridade. O
percentual de mulheres com nível universitário já era maior
que os dos homens no começo dos nos 90, e cresce
proporcionalmente mais, uma tendência que não é explicada
apenas pela maior presença das mulheres nos cursos de nível
superior como um todo.
G4 E G5
5
Mais escolarizadas, as mulheres ocupadas estão,
também, sendo mais responsáveis por suas famílias. A
ampliação do percentual de mulheres como pessoa de
referência vem sendo não apenas documentado, mas também
vastamente analisado (Sorj e Fontes, 2008; Marteleto,
1998). Em 1993, 18,3% eram pessoas de referência na
família, em 2012, chega a 32,2%. O aumento das mulheres na
condição de pessoa de referência se caracteriza pela
manutenção da aproximação com as cônjuges no caso da
escolaridade, onde ambas iniciam os anos 90 com patamares
muito próximos de escolaridade e reproduzem os ganhos de
escolaridade observados para as mulheres como um todo2; e
cuidar dos afazeres, dado que, em 1993, 94,4% das mulheres
pessoas de referência e 97,5% das cônjuges declararam
cuidar dos afazeres e, em 2012, os percentuais passaram
para 92,4% e 95,2%.
A mudança mais significativa é a presença de filhos no
domicilio. Embora sejam fatores essenciais para a discussão
sobre os cuidados, a idade e quantidade dos filhos não está
sendo levando em consideração, aqui trata-se apenas a
presença ou ausência. No começo dos anos 90 havia uma
distância de 10 pp que separava as mulheres pessoas de
referência (74,8% tinham filhos morando no domicílio) e2 Em 1993, 37% das mulheres pessoas de referência e 36% das cônjugestinham o primário incompleto, 12% das mulheres pessoas de referência se 12,1% das cônjuges tinham Ensino médio completo, 11% das mulherespessoas de referência s e 10,3% das cônjuges tinha nível superiorcompleto ou incompleto. Em 2012, os percentuais passaram para: 13%mulheres pessoas de referência e 12% cônjuges tinham Primárioincompleto, 28,7% e 29,4% Ensino médio completo e 23% e 21,8% superiorcompleto e incompleto.
6
cônjuges (84,2% tinham filhos morando no domicílio), em
2012, a diferença cai para 3 pp e os percentuais com filhos
morando no domicílio cai respectivamente para 70% e 73%,
uma queda proporcionalmente maior para as cônjuges.
Seja em qualquer condição na família (pessoa de
referência, cônjuge ou filho) o percentual de mulheres que
cuidam dos afazeres domésticos é muito maior do que os
homens. Em 1993, 93,3% delas e “apenas” 41,8% dos homens
declararam cuidar; em 2012, as mulheres passaram para 90,4%
e os homens 48,6%.
Visto dessa forma, o indicador da participação dos
homens e das mulheres no cuidado com a esfera doméstica
esconde variações em relação à idade, escolaridade e renda
(Bruschini e Ricoldi, 2008ª e 2008b; Ricoldi, 2013). São as
mulheres e homens mais jovens, com maior nível de
escolaridade e renda que impulsionam as tendências de
redução para as mulheres e de aumento para os homens.
A reconfiguração na inserção feminina e masculina na
família e fora dela resulta e é resultante das mudanças
assistidas no perfil das famílias. Entre as pessoas
ocupadas, as famílias vão se deslocando do modelo
tradicional de casal com filhos – passa de 71,3% em 1993
para 59% em 2012, com a maior queda entre os casais com
filhos abaixo e acima de 14 anos. Os casais sem filhos é o
que mais cresce, entre 1993 e 2012 sai 9,1% para 16,4%;
seguida das mães com filhos 11,9% para 13,7%. Além disso,
temos as outras famílias, que agregam uma grande
7
diversidade de arranjos não especificados, que passa de
7,7% para 11%. Tendências estas que acompanham os dados
para a população brasileira acima de 18 anos.
Soma-se a isso a crescente participação da renda
proveniente do trabalho das mulheres na renda total da
família. Em 1993, 26,4% não participavam da renda familiar,
35,7% participava “até 30%”, 24,3% contribuía “de 30% a
60%” e 13,6% “acima de 60%”. Com a redução das mulheres não
remuneradas no trabalho, aquelas que não participavam
reduzem para 14,5%, cresce para 37,7% o percentual daqueles
que participavam com “30% a 60%” e para 16,0% as que
contribuíam com mais 60% para a renda familiar. Mais do que
autonomia a renda da mulher na família institui um novo
padrão para reprodução da vida familiar: o casal de
provedores.
Nem em condições mais privilegiadas, como alta
escolaridade e renda, garantem que as mulheres tenham os
mesmos percentuais que os homens como empregadas com
carteira. Este lugar de maior vantagem garante maior
acesso, no entanto, ao funcionalismo público. O concurso
público aparece como uma estratégia de obter acesso aos
trabalhos mais remunerados e protegidos.
Historicamente as mulheres estiveram em trabalhos
considerados informais (para citar estudos mais recentes:
Araújo e Lombardi, 2013; Leone, 2010), sabemos, no entanto,
que não apenas esse é um conceito não consensual na
8
literatura econômica e sociológica, bem como incorpora uma
série de questões que envolvem a distribuição desigual do
trabalho doméstico que em geral resulta na incorporação das
mulheres a trabalhos mais flexíveis em relação à jornada de
trabalho.
O cenário se modifica nos anos aqui comparados. Se em
1993, 26,2% eram empregadas com carteira, 24,7% empregadas
sem carteira, 23,4% não eram remuneradas e 15,8% eram conta
própria, chegamos em 2012 a ter 39,7% de empregadas com
carteira, 23% sem carteira e 9,3% não remuneradas e a
estabilidade das mulheres conta própria. Para os homens a
vantagem do emprego com carteira ainda se mantém (ver
tabela abaixo), mas foram as mulheres que mais ampliaram
sua participação nessa posição.
Nota-se ainda que a informalidade feminina está mais
ligada ao emprego sem carteira e as não remuneradas,
enquanto os homens ao emprego sem carteira e ao conta
própria. O “conta proprismo” não se altera com a expansão
do emprego formal, indicando um nicho sólido dessas
atividades.
A drástica mudança ocorrida em relação aos não
remunerados, segundo Araújo e Lombardi (op.cit.) pode estar
ligada a fatores como maior precisão na mensuração da
situação ocupacional e deslocamento para atividade
remunerada em função da melhora econômica.
T1
9
Um dos elementos para dar conta do que seria a
informalidade é a contribuição à previdência. E as
mulheres, provavelmente pelo crescimento do acesso ao
emprego formal, passam 38% para 60% na condição de
contribuintes de 1993 a 2012, diferente dos homens que,
mesmo sendo mais formalizados em suas relações de trabalho,
passam de 45,5% para 59%. Isso acontece porque as mulheres
tendem a contribuir mais estando em posições como
empregadas sem carteira, conta própria e até não
remunerada.
A maior presença das mulheres nos trabalhos informais,
em grande medida, está relacionada não apenas à
discriminação, mas também à divisão sexual do trabalho
doméstico, que como visto acima de forma panorâmica, as
mulheres são as responsáveis prioritárias. A carga de
trabalho doméstico incide sobre a menor disponibilidade
para trabalhos de tempo integral, e quando o tem, há
necessidade da delegação das tarefas para, em geral, outra
mulher. Por isso, ainda que estejamos observando as
mulheres se aproximando do padrão 40 a 44 horas,
encontramos, em 2012, quase 40% das mulheres trabalhando
até 39 horas semanais.
A jornada de até 39 horas está mais presente entre as
cônjuges, as que declararam cuidar dos afazeres domésticos,
as dos quintis mais baixos de renda e com os menores níveis
de escolaridade. No entanto, observamos que as mulheres que
têm e as que não têm filhos morando no domicílio apresentam
10
percentuais muito parecidos em relação à jornada de
trabalho. Dessa forma, ter ou não filhos morando no
domicílio não tem efeito sobre a jornada de trabalho,
certamente os fatores como idade dos filhos, rede de
suporte (privada, de vizinhança ou parentela) aos cuidados,
dentre outros são imperativos na decisão do número de horas
a trabalhar.
Em grande medida, a pouca diferença entre ter ou não
filhos e jornada, está ligada à questão do casal, pois as
mulheres em arranjos formados por um casal (casal sem
filhos – CSF, e casal com filhos – CCF) e tendem a
trabalhar um pouco mais com jornadas de até 39 horas e as
mulheres em arranjos monoparentais (MF) trabalham mais em
jornada de 40 a 44 horas ou mais. Não apenas as mulheres em
arranjo de casal sem filhos estão proporcionalmente menos
ocupada (ver Gráfico 6), como quando estão o fazem com
menor intensidade na jornada de padrão de 40 horas.
Grande parte da resistência à entrada das mulheres n
mercado de trabalho está na relação com o parceiro, seja
pela dimensão da dominação masculina, seja porque a
existência de um parceiro permite que a mulheres não seja a
única provedora da casa e possa trabalhar menos. Ao longo
do tempo, todas vão se aproximando da jornada de 40 a 44
horas, mas ainda persiste uma diferença entre as mulheres
em arrajos de casal e monoparentais.
G6
11
A ampliação da formalização das mulheres tem um efeito
não apenas no número de horas trabalhadas, mas também no
acesso aos auxílios mensurados pela PNAD (em especial,
transporte, alimentação e saúde) e na aquisição de renda.
Entre 1993 e 2012, as mulheres que não tinha rendimento no
trabalho principal passaram de 24,7% para 12%. Mais
mulheres passaram a cruzar a fronteira de um salário mínimo
(SM): em 1993, 19% ganhava mais 1 SM a 2 SM, em 2012,
33,6%, a único faixa de salário que de fato houve uma
mudança significativa.
A alocação das mulheres e homens no mercado de
trabalho é segregada segundo as ocupações e há uma vasta
literatura nacional e internacional que discute o tema
(Bruschini, 1978; Oliveira, 1997 e 1998; Chrales e Grusky,
1995 e 2004; Picanço, 2005). Os estudos de segregação
ocupacional por gênero foi um campo que evoluiu juntamente
com o desenvolvimento da estatística e novos indicadores
foram sendo sofisticados, como também criticados (Duncan e
Duncan, 1955; Bruschini, 1978; Charles e Grusky, 1995;
Oliveira, 1998; DeGraff e Anker, 2004; Alves e Cavenaghi,
2013). No conjunto de possibilidades de mensuração da
segregação disponível, optamos por uma forma mais
simplificada, porém não menos objetiva: a razão de chances,
definida como a razão entre as chances dos homens e as
chances das mulheres estarem em determinada categoria
ocupacional. A vantagem da razão de chances está em ser uma
medida simplificada, de fácil interpretação e que leva em
12
consideração a diferença do número absoluto de homens e
mulheres na população ocupada.
As ocupações foram classificadas 10 categorias sócio-
ocupacionais segundo critérios como representação social da
ocupação renda, renda, escolaridade, clivagem rural e
urbano, manual e não manual (Picanço, op.cit, 2007 e 2009),
seguindo a trilha iniciada por Silva (1988) e seu esquema
de classificação segundo status socioeconômico.
Em 1993 ainda tínhamos cerca de ¼ das mulheres em
ocupações rurais, ¼ nas ocupações não manuais e ¼ nas
ocupações manuais gerais. Em seguida vinham as ocupações no
serviço doméstico com 16,9%. Nas posições da elite, 4,0%
estavam na categoria dos Profissionais. Para homens, a
categoria que mais ocupavam já era das Ocupações manuais
gerais, 1/3 estavam lá. Em seguida vinham as categorias das
Ocupações rurais e Ocupações não manuais. Diferente das
mulheres, as posições de elite absorviam homens de forma
mais equitativa entre Profissionais, Dirigentes e
Proprietários empregadores. Um quadro que descreve que o
acesso feminino às posições de elite se dá através do
passaporte do nível superior.
Quase 20 anos se passaram e para as mulheres isso
significou maior presença nas posições de elite dessa vez
não apenas como Profissionais, mas como dirigentes também –
com uma pequena ampliação das Proprietárias. Ainda menos do
que se vaticina, a presença das mulheres em Ocupações do
serviço doméstico dá sinais de redução de depois da pequena
13
ampliação nos anos 1998 e 2003. Uma tendência que pode ser
compreendida a partir da redução das Ocupações rurais,
acomodação das mulheres no mercado de trabalho através dos
trabalhos típicos das mulheres de baixa renda, em geral
negras: o serviço doméstico. E que já no segundo quinquênio
dos anos 2000 no contexto de ampliação das oportunidades
ocupacionais em outros segmentos do mercado de trabalho
outros trabalhos vão se tornando mais acessíveis para as
mulheres pobres brasileiras.
T2 E T3
Visto a partir das chances de estar em uma determinada
categoria podemos identificar outro tipo de desigualdade
entre homens e mulheres no acesso às categorias. A
categoria com maior desigualdade entre homens e mulheres é
das Ocupações no serviço doméstico, com a vantagem das
mulheres, seguida pelas Ocupações manuais modernas, com a
vantagem dos homens. E são elas que reduzem, mais ainda
assim as mulheres têm 22 vezes mais chances de estarem nas
Ocupações no serviço doméstico que os homens – em 1993, era
27 vezes; já eles têm 10 vezes mais chances de estarem nas
Ocupações manuais modernas que as mulheres – em 1993, era
15 vezes.
As únicas ampliações da desigualdade de chances estão
nas categorias dos Profissionais, pois o maior crescimento
das mulheres resultou no aumento da razão de chances de
1,7, em 1993, para 2,4 em 2012; e nas Ocupações manuais
gerais, que passa de 1,6 para 1,8. Embora não sejam aumento
14
significativos quebra com a tendência em direção à
igualdade, encontrada nas demais categorias, inclusive nas
mais desiguais.
*****
O quadro apresentado indica que as inserções
ocupacionais das mulheres e dos homens veem sofrendo
algumas mudanças, mas com desigualdades muito solidamente
constituídas, os passos dados em algumas dimensões são
lentos.
2. MENSURAÇÃO DO TRABALHO DECENTE
A crise do emprego e do estado de bem-estar que
assolou as economias capitalistas nos anos 90 foi decisiva
para destampar o caldeirão do tema do emprego e trabalho na
sociedade contemporânea. Atores políticos, sociais e
econômicos foram definindo posições, mas o contexto esteve
marcado pela hegemonia do discurso da saída via mercado e
redução da intervenção do estado nas políticas de emprego e
proteção social do trabalho. Em outra direção, em 1999, a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) propôs o
conceito de Trabalho Decente (TD) para definir uma agenda
de discussão e promoção de políticas públicas para o
trabalho, bem como enfatizou a necessidade de olhar os
grupos sociais mais vulneráveis, em especial a juventude, e
a busca por reduzir seu grau de vulnerabilidade através de
políticas públicas.
15
O trabalho decente é definido como um trabalho
produtivo com remuneração justa, segurança no local de
trabalho e proteção social para o trabalhador e sua
família; melhores perspectivas para o desenvolvimento
pessoal e social; liberdade para que manifestem suas
preocupações, organizem-se e participem na tomada de
decisões que afetam suas vidas; e, igualdade de
oportunidades e de tratamento para as mulheres e homens
(OIT, op.cit.).
O Brasil apresentou indicadores bastante desfavoráveis
no mercado de trabalho até nos anos 90, em especial para as
mulheres. A primeira década dos anos 2000 foi marcada pela
recuperação econômica e do mercado de trabalho brasileiros,
ampliando oportunidades ocupacionais para a população
economicamente ativa.
No cenário promissor de crescimento do emprego, bom
desempenho econômico, ganhos reais de salários e redução da
desigualdade, o Brasil se destacou no cenário internacional
pelo envolvimento e conjunto de iniciativas geradas a
partir do tema do TD. Em 2003, o então presidente, Luís
Inácio Lula da Silva, assinou um Memorando de Entendimento
para a promoção de uma agenda de trabalho decente no país.
Em 2006, o Brasil lançou a Agenda Nacional de Trabalho
Decente (ANTD). Em 2007, o Estado da Bahia lançou sua
agenda para promoção do TD e nos anos seguintes outros
Estados aderiram a essa iniciativa. Em 2008, foi
constituído o Grupo Técnico Tripartite (GTT) de consulta e
16
monitoramento das iniciativas de TD. Em 2009 foi
formalizado, por Decreto Presidencial, o Comitê Executivo
Interministerial encarregado da elaboração do Plano
Nacional de Emprego e Trabalho Decente (PNETD), concebido
como um instrumento de implementação da ANTD. Esse mesmo
Decreto criou o Subcomitê da Juventude, com o objetivo de
elaborar uma Agenda Nacional de Trabalho Decente para a
Juventude (ANTDJ), que organizou quatro prioridades: (i)
mais e melhor educação; (ii) conciliação entre estudos,
trabalho e vida familiar;(iii) inserção digna e ativa no
mundo do trabalho; (iv) diálogo social (OIT, 2011; Abramo,
2013). Em 2010, a ANTDJ é publicada e, em 2012, uma nova
versão é lançada (Ministério do Trabalho e Emprego, 2010;
OIT, 2011).
Além das proposições para a promoção de TD, tanto
para os pesquisadores quanto para proponentes e gestores de
políticas públicas, o desafio é mensurá-lo, seja pela
transformação das dimensões do conceito em variáveis que
possam ser levantadas a partir das pesquisas existentes,
seja pela produção de novas pesquisas que produzam dados
mais específicos. E a grande questão que se coloca nessa
tarefa é: como produzir um índice que seja possível uma
comparação ao longo do tempo e de contextos (nacionais,
regionais ou locais)?
Tal como definido, o trabalho decente pode ser
analisado em três níveis: macro, meso e micro. No nível
macro, o objetivo é saber se os mercados de trabalho
17
nacionais, regionais ou locais produzem trabalho decente de
forma agregada. No nível meso, a questão é saber se as
empresas ou empregadores oferecem trabalho decente. E no
nível micro, se os indivíduos são inseridos em trabalhos
decentes. Além da existência de níveis de análise, o
conceito de trabalho decente é amplo o suficiente para
incorporar os aspectos formais das relações de trabalho,
informais das relações pessoais no ambiente de trabalho e
subjetivo, isto é, sobre a experiência individual no
trabalho e uma concepção do que seria um trabalho ideal.
Embora muitos estudos estejam centrados numa discussão
conceitual ou no levantamento e análise de dados do mercado
de trabalho como forma de introduzir a questão do TD
(Sachs, 2003 e 2004; Abramo, 2006; OIT, 2004; Proni et all
2010), alguns esforços já foram feitos na direção de tratar
o TD de forma mais específica através da criação de
indicadores e índices: Standing (2002), Bonnet et all
(2003), Anker et all (2003), Bescond et all (2003); Campero
et all (2006, apud Abramo et all, 2008), Paulino et all
(2007), Peek (2006), CEPAL/PNUD/OIT (2008) e OIT (2009),
Abramo et all (2008) e Guimarães (2012).
A análise dos estudos já existentes deixa claro que
desde a sua concepção o TD não foi tratado para produzir
dados objetivos sobre o desempenho do mercado de trabalho,
sua perspectiva foi propositiva e moral, como sugere
Biermans (2012). Por isso, não existe nenhum consenso sobre
a forma mais eficaz de medir o TD. As orientações da OIT,
18
no entanto, foram claramente se dirigindo para indicadores
gerais sobre o mercado de trabalho, leis trabalhistas,
negociações coletivas e representação através do sindicato,
isto é, sobre o nível macro do TD. O nível micro e meso
foram ficando distantes dos panoramas e análises mais
recorrentes do TD pela difícil compatibilização entre as
dimensões e diretrizes do TD e a mensuração do mesmo.
No entanto, da mesma forma que os panoramas nacionais
sobre TD utilizam indicadores dos censos e survey nacionais
para produzir suas avaliações e diagnósticos sobre o
desenvolvimento e déficits do TD (Ribeiro e Berg, 2010;
Guimarães, op.cit.), dado que não há informações
sistemáticas sobre muitas dimensões propostas pela OIT para
análises de tendências ou séries históricas, podemos
retomar a empreitada de tratar o TD no nível micro através
das mesmas bases de dados, no caso do Brasil a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), base que permite
abrangência nacional para comparações ao longo do tempo.
Este artigo, portanto, tem como objetivo analisar o TD
entre os jovens (de 16 a 29 anos) ocupados brasileiros nos
anos últimos 20 anos (1993, 1998, 2003, 2008 e 2012) a
partir da construção de um índice de trabalho decente (ITD)
como forma de captar o acesso dos jovens ao TD e o impacto
das características inatas, escolaridade, contexto
familiar, trajetória de trabalho e zona de domicílio no
acesso ao trabalho decente entre os jovens.
19
O artigo dá continuidade a uma trajetória de análise
do TD no nível micro através de construção de índices
capazes de dar conta de algumas dimensões do conceito, por
outro, consciente da limitação das bases de dados
escolhidas (Standing, op.cit.; Cacciamali e Cortes, 2010;
Picanço, 2009)3.
2.1 Construção do ITD
O conceito de trabalho decente foi adotado pela OIT
muito mais na condição de uma agenda para políticas
públicas do que para a mensuração de indicadores no mercado
de trabalho. Por isso, é importante definir o que está
sendo aqui considerado como trabalho decente e os
indicadores para a criação de um índice de trabalho
decente. Isto é, a partir do mercado de trabalho existente,
suas condições e características, o que aparece como um
trabalho decente? Como criar um indicador do trabalho
decente a partir da análise da oferta, isto é, dos
ocupados? Esse é o desafio aqui proposto.
A OIT apresenta quatro pilares a partir dos quais a
noção de trabalho decente tem que ser entendida: (i)
respeito aos direitos do trabalho internacional e nacional
(liberdade sindical, negociação coletiva, abolição do
trabalho forçado, do trabalho infantil e da discriminação);
(ii) promoção do emprego de qualidade; (iii) extensão da
proteção social; e (iv) diálogo social. Então, o trabalho3 Os estudos mencionados só têm em comum efetivamente o interesse emproduzir informações no nível micro, tratam de contexto, questões emetodologias bem diferentes.
20
decente é aquele adequadamente remunerado, exercido em
condições de liberdade, eqüidade e capaz de garantir
condições dignas de vida.
Uma vez estabelecido o ideal do trabalho decente pelas
discussões presentes nos documentos da OIT, nosso desafio é
lidar com o que o mercado de trabalho oferece e o que os
ocupados experimentam como trabalho na sociedade
brasileira. Diante do que temos, o que pode ser considerado
decente? Foi essa pergunta que fomentou a construção do
índice de trabalho decente (ITD). Para compor o índice
escolhemos um conjunto de variáveis que davam conta da
proteção social e a renda do trabalho principal.
Embora a proteção social possa ser vista através das
variáveis “ter” ou “não ter” carteira de trabalho e
“contribuir” ou “não contribuir” para a previdência social,
outros fatores tais como o recebimento de auxílios
(moradia, transporte, educação, creche e saúde) e jornada
de trabalho legal, podem ser formas de proteção social do
trabalhador. E como o mercado de trabalho brasileiro é
marcado pela presença maciça de trabalho informal, aliado
ao fato de a carteira de trabalho não assegurar acesso aos
auxílios, existem combinações que vão das mais protegidas -
que é um trabalhador com carteira de trabalho assinada,
contribuindo para a previdência, em jornada legal e
recebendo os auxílios - passando por aqueles que combinam
não ter carteira com recebimentos de auxílios, até aqueles
21
que nada tem (sem carteira, sem contribuição para a
previdência, sem rendimentos e sem auxílios).
Por isso, optou-se por tratar a proteção social a
partir da construção de um índice: o Índice de Proteção
Social (IPS). A escolha por analisar a proteção social
através de um índice permite que a mesma seja captada a
partir de uma escala - da menor proteção à maior - e não
apenas se é ou não protegido. O objetivo aqui é ter um
indicador da proteção social do jovem exercendo uma
ocupação, isto é, na relação de trabalho que os indivíduos
têm: quanto mais próximo de 0, pior a proteção social; e
quanto mais próximo de 1, maior a proteção social do jovem
na ocupação exercida.
Em resumo, o IPS foi construído a partir das seguintes
variáveis: a) posição na ocupação (empregado, funcionário
público, militar, conta própria, empregadores e não-
remunerados, incluindo para o próprio consumo e auto-
construção); b) carteira de trabalho assinada; c)
contribuição para a previdência social; d) trabalho dentro
da jornada máxima de 44 horas semanais; e, e) ter auxílios
moradia, alimentação, transporte, educação e saúde.
A partir do IPS, foi construído o Índice de Trabalho
Decente (ITD). O ITD é uma composição entre a proteção
social medida pelo IPS e a renda do trabalho principal4. O
resultado é um índice que quanto mais próximo de 1, mais
próximo das condições de um trabalho decente e quanto mais
próximo de 0, mais distante está do trabalho decente.4 Ver no anexo a metodologia da criação do índice.
22
A implicação direta do olhar aqui proposto é que não
está em questão a ocupação em si, mas o quanto os
indivíduos inseridos nas ocupações se aproximam ou se
distanciam de um trabalho decente. O grau de “decência” do
trabalho não pertence à ocupação e sim à relação de
trabalho do indivíduo com a empresa e no caso dos autônomos
e empregadores, as decisões tomadas em relação à
contribuição ou não à previdência social.
Partimos da construção de que, ainda que existam
situações específicas e diferenciadas, em média, os
trabalhos mais decentes são aqueles mais protegidos através
da presença da carteira de trabalho assinada, contribuição
para a previdência social, trabalho dentro da jornada
máxima de 44 horas semanais, que fornecem auxílios
(moradia, alimentação, transporte, educação e saúde) e com
rendimentos de pelo menos um salário mínimo. Isso porque a
presença de carteira assinada garante acesso aos direitos
trabalhistas; a contribuição para a previdência prevê
acesso à aposentadoria; a jornada de 8 horas por dia é
legal e considerada não exaustiva; o recebimento de
auxílios é uma forma de melhorar as condições de vida; bem
como é entre o grupo de trabalhadores com carteira, que
contribui com a previdência, trabalha na jornada legal e
recebe auxílios, que estão os trabalhadores, em média, mais
bem remunerados.
Medido a partir dessas dimensões e variáveis, como o
acesso dos homens e mulheres ocupados ao trabalho decente
23
varia? Quais são os impactos das características inatas
(sexo, idade e cor), escolaridade (anos de estudos e estar
estudando ou não), trajetória de trabalho (idade que
começou a trabalhar, tempo que está no trabalho, tempo que
leva para chegar ao trabalho), contexto familiar (renda
familiar, cuidar dos afazeres, número de moradores e número
de filhos) e zona de domicílio (urbana ou rural) na
aquisição de um trabalho mais próximo do decente?
2.2 ITD
O valor máximo do ITD é 1 e os dados sobre os ocupados
no Brasil mostram o quão distantes, em média, estamos desse
parâmetro, pois em 1993 a média era 0,30, mas as melhoras
no mercado de trabalho têm impactos sobre o índice que
passa para 0,35 em 2012. A ampliação do acesso das mulheres
ao trabalho com carteira, contribuição à previdência,
recebimento de benefícios e à remuneração foi fundamental
para a redução da desigualdade entre homens e mulheres,
mesmo em queda não deixam de existir: em 1993, a média do
ITD era 0,26 para as mulheres e 0,32 para os homens e, em
2012, passa para 0,34 e 0,36, respectivamente (o gráfico 7
ilustra a aproximação entre eles).
G7
A idade é um dos elementos mais importantes para a
aquisição de trabalhos mais decentes. As crianças e
adolescentes que se colocam disponíveis no mercado de
24
trabalho estão sujeitas a relações de trabalho muito
distantes do decente. A redução da incidência do trabalho
infantil é crescente (Barros e Mendonça, 2010), por isso o
foco vem se dirigindo não mais na quantidade, mas dos
grupos sociais onde ele se concentra. Segundo Barros e
Mendonça (op.cit.) mesmo sem as políticas de transferência
de renda, ainda assim encontraríamos uma crescente redução
do trabalho.
Entre as crianças e adolescentes de 10 a 17 anos a
média do ITD é muito baixa – em 1993, na faixa de 10 a 14,
as médias foram 0,09 para homens e 0,11 para as mulheres;
na faixa de 15 a 17, 0,17 e 0,20, respectivamente; em 2012,
as médias passam para 0,07 e 0,08, entre 10 a 14, e 0,18 e
0,21 entre, 15 a 17 anos, para os homens e mulheres. Tanto
homens quanto mulheres obtêm melhores ITD entre 25 a 49
anos, antes e depois dessa extensa faixa de idade a média
do ITD cai (ver gráfico 8).
As meninas se saem um pouco menos pior na faixa de 10
a 17 anos, mas a partir daí a diferença se reverte e se
torna mais vantajosa para os homens (ver gráfico 9). Na
medida em que a idade avança a diferença entre homens e
mulheres aumentam, sendo a faixa de 60 anos ou mais aquela
que acumula maior vantagem dos homens. A boa notícia é que
a diferença entre os sexos reduz em todas as faixas entre
1993 e 2012.
G8 e G9
25
Quando conjugamos sexo e cor, retirando na análise os
amarelos e indígenas, são os homens brancos aqueles com
maior média de ITD, seguidos pelas mulheres brancas, homens
negros e, por fim, as mulheres negras. Uma hierarquia que
se mantém ao longo dos 20 anos aqui analisados. Também
aqui, tal como outros estudos sobre gênero e cor, a cor
produz mais diferenças do que o sexo. Dito de outra forma,
mulheres e homens brancos, bem como mulheres e homens
negros, estão mais próximos entre si, do que quando
comparamos homens brancos com os homens negros e mulheres
brancas com as mulheres negras.
G10
Ao longo do tempo, observamos (ver gráfico 11) que as
diferenças de cor dentro dos sexos diminuíram com maior
intensidade do que as diferenças de dos sexos dentro das
cores, indicando barreiras mais resistente por cor do que
por sexo no acesso a trabalhos mais decentes.
G11
Quanto maior a escolaridade, maior as chances de ter
acesso a trabalhos mais decentes e isso vale para homens e
mulheres (ver gráfico 12). Ao longo do tempo, no entanto,
tanto para homens quanto para as mulheres, são ocupados com
baixo nível de escolarização que de fato se beneficiam do
acesso a trabalhos mais decentes. Nos demais níveis de
escolaridade, há uma queda da média do ITD. Esta tendência
é explicada pelos elementos já apontado anteriormente de
que grande parte das melhorias encontradas no mercado de
26
trabalho tem como impulso a saída de muitos trabalhadores,
em especial trabalhadoras do mundo rural e das ocupações
sem remuneração. Ou como já analisado pelos estudos sobre
mercado de trabalho, estamos diante de uma maior oferta de
empregos formais na base da pirâmide sócio-ocupacional
(Sabóia, op.cit.; Pochmann, op.cit.).
G12
É na alta escolaridade que encontramos a menor
diferença entre homens e mulheres. Mas, a segunda menor
diferença está na mais baixa escolaridade. Isto é os polos
aproximam homens e mulheres nas suas chances de acesso ao
trabalho decente. Ao longo do tempo, os ganhos de
escolaridade, a ampliação de oportunidades formais para
aqueles com mais baixas escolaridade e a redução daqueles
com mais elevadas escolaridade, em especial de 2008 a 2012,
no mercado de trabalho teve como efeito a aproximação dos
homens e mulheres com diferentes níveis de escolaridade
(ver gráfico 13).
G13
Quais são as categorias ocupacionais nas quais homens
e mulheres estão em trabalhão mais decentes?
As categorias com maiores ITD para os homens e
mulheres são os Dirigentes (categoria 2) e Profissionais
(categoria 1), o terceiro lugar para os homens são as
Ocupações não manuais (categoria 5) e para as mulheres são
as Ocupações manuais modernas (categoria 7), ver gráficos
14 e 15. As piores categorias para todos são a Ocupações
27
rurais, seguida pela Ocupações no serviço doméstico, e isso
vale para ou pouquíssimos homens e mulheres.
A pior categoria para os homens e mulheres é a das
Ocupações rurais e os ganhos ao longo do tempo foram
ínfimos. E corroborando com as observações sobre o ITD
segundo o nível de escolaridade, para as mulheres as
categorias que mais ampliaram a média do ITD foram as
Ocupações manuais gerais e manuais modernas, ou seja,
ocupações que agregam indivíduos com requisitos de
escolaridade mais baixos.
As Ocupações no serviço doméstico apesar do grande
crescimento da condição de empregada com carteira de
trabalho assinada, não houve ampliação uniforme no outros
itens que compõem do ITD, por exemplo, reduz o percentual
daquelas que recebiam auxílio transporte e contribuíam para
a previdência, bem como ampliam aquelas que trabalhavam em
jornadas abaixo das 39 horas, por isso no geral não há uma
grande mudança na média.
G14 E G15
Como visto na introdução, as duas últimas categorias,
Ocupações no Serviço doméstico (categoria 9) e Ocupações
manuais modernas (categoria 7), são as mais desiguais em
relação às chances das mulheres e homens estarem lá. Ainda
que seja muito pequena a porcentagem do sexo oposto dessas
ocupações, ao longo do tempo a razão de chances diminui, o
que significa que está menos desigual. No entanto, ao tempo
que a desigualdade decresce, aumenta a diferença entre
28
homens e mulheres em ter acesso a trabalhos mais decentes.
No caso das Ocupações manuais modernas a diferença amplia,
mas em favor das mulheres e no caso das Ocupações no
serviço doméstico em favor dos homens. Desse modo, ao
ocupar espaços muitos segregados, tanto os homens quanto as
mulheres, quando penetram o fazem em relações de trabalho
mais protegidas.
G16
O conjunto de variáveis, aqui chamadas de familiares,
são aquelas que situam homens e mulheres em relação à
família e que permitem indicar o peso que a conciliação
trabalho e família tem na aquisição do trabalho decente.
Serão analisadas as variáveis condição na família, cuidar
ou não dos afazeres domésticos (para homens e mulheres) e
número de filhos morando no domicílio (apenas para as
mulheres) e o tipo de família.
Na condição na família a maior variação é encontrada
entre os homens. Como filhos (FH), em 1993, eles tinham a
pior média de ITD, seguidos bem de perto pelas mulheres
cônjuges (CM). Quem estava a frente eram os homens pessoa
de referência (PRH) e cônjuge (CH). No meio estavam as
mulheres pessoa de referência (PRM) e filha (FM) - ver
gráfico 17.
Ao longo do tempo, a hierarquia acima descrita muda
apenas em uma posição: as mulheres filhas ampliam
significativamente a média do ITD e alcançam o primeiro
lugar das mulheres e o terceiro geral, ficando bem próximas
29
dos homens cônjuges e pessoa de referência. Ser filho,
então, implica em coisas distintas segundo o sexo: para os
homens os afastam do trabalho decente e paras as mulheres
as aproximam.
G17
O cuidado com os afazeres tem impactos distintos. Os
homens que cuidam dos afazeres (Cuida H) tem média do ITD
maior do que aqueles que não cuidam (Não cuida H), já para
as mulheres são aquelas que não cuidam que apresentam maior
ITD, inclusive maior do que os homens. As mulheres que
delegam o cuidado para outros são capazes de estarem mais
próximas do trabalho decente mais do que os homens, um
nicho extremamente privilegiado nesse sentido.
G18
Em relação ao número de filhos, é muito interessante
notar que a diferença entre a média dos ITDs se dá com a
presença de 3 filhos morando no domicílio. As médias para
mulheres sem filhos, com 1 ou 2 morando no domicílio é
muito pequena, quase inexistente no caso da comparação sem
filhos com 1 filho morando. O que permite agrupá-los.
A partir de 2003 as mulheres sem filhos começam a se
descolar das mulheres com 1 a 2 filhos no domicilio. Mas,
ainda não temos subsídios para dizer que essa tendência se
manterá, certamente são aquelas que estão na condição de
filhas nas suas família.
G19
30
O tipo de família descortina mais um elemento
fundamental para a compreensão da inserção feminina no
trabalho. As mulheres em arranjos monoparentais e nos
arranjos não especificados são aquelas com maior média de
ITD, isto é, tendem a estar em trabalhos mais decentes. Ser
responsável pela reprodução da família impele as mulheres
em direção à maior estabilidade nas relações de trabalho.
A tendência à autonomia através da aquisição de renda
e maior participação desta renda na renda da família incide
no avanço das mulheres em arranjos composto pelo casal na
direção de trabalhos mais decentes. E as mulheres em
arranjos monoparentais e naqueles não especificados, por
sua vez, experimentam um parco crescimento. O resultado é a
aproximação de todas as mulheres entorno do valor de 0,35,
indicando um limite superior na aquisição de trabalhos mais
decentes por parte das mulheres.
G20
3. ANÁLISE DE REGRESSÃO
A análise de regressão é uma ferramenta utilizada
nesse estudo para dar conta da mensuração do impacto de
determinadas características na aquisição de condições de
trabalho mais próximas de um trabalho decente. Dessa forma,
não se trata da construção de um modelo para explicar a
variação do índice, mas sim mensurar a partir das varáveis
escolhidas, qual a magnitude do impacto em relação às
demais variáveis e qual a direção desse impacto.
31
O resultado da análise é que para cada variável
independente escolhida têm-se o coeficiente e o teste
estatístico que irá definir se a variável foi significante
ou não. O que deve ser observado nos coeficientes
padronizados da regressão, apresentados nos quadros em
anexo, é a magnitude e o sinal. A magnitude é o valor:
quais variáveis mais impactam para a aquisição de melhores
valores no índice de trabalho decente? O sinal indica se
favorece ou desfavorece a aquisição de melhores índices. O
sinal positivo em uma variável numérica (por exemplo,
idade) indica que quando aumenta o valor da variável,
aumenta também o índice. O sinal positivo em uma variável
dicotômica 0 ou 1 (por exemplo, cuidar dos afazeres foi
atribuído o valor 1) indica que ser 1 aumenta o índice de
trabalho decente. O sinal negativo em uma variável numérica
indica que na medida em que cresce o valor da variável,
decresce o valor do índice. O sinal negativo em uma
variável dicotômica 0 ou 1 indica que ser 1 reduz o índice.
No primeiro momento o interesse foi eleger um conjunto
de variáveis que pudessem dar conta das características
individuais, contexto familiar e do trabalho para analisar
o impacto sobre a aquisição de trabalhos mais decentes.
Foram selecionadas a idade, cor (branco=1) e escolaridade
(anos de estudos); em relação ao contexto familiar tratamos
da renda familiar, o tipo de família (monoparentais e
outros arranjos não especificados=1), condição na família
(se era cônjuge = 1), se cuidava dos afazeres domésticos
32
(não cuida = 1), número de membros da família e número de
filhos (para as mulheres); em relação trabalho, foram
escolhidas as variáveis: a idade que começou a trabalhar, o
tempo de deslocamento até o trabalho (deslocamento maior
que 30 minutos = 1) e o tempo que estava no trabalho; e
zona de domicílio (urbano = 1).
Com estas variáveis as regressões foram calculadas
utilizando o Statistical Pacckage for Social Science
(SPSS). Todas as variáveis foram estatisticamente
significantes, mas fizemos uma seleção de modo a
dimensionar melhor os impactos/efeitos das variáveis sobre
a aquisição de trabalhos mais decentes e para isso
retiramos da regressão as variáveis cujos coeficientes não
se mantiveram acima de 0,50 nos anos analisados. O valor de
0,05 foi considerado o mínimo em função da comparação com o
maior coeficiente encontrado: 0,35 para anos de estudos.
Mas antes de descartar a variável que não manteve o
coeficiente acima 0,05, cabe algumas considerações.
Para as mulheres, as variáveis escolhidas foram todas
significativas, mas com coeficientes muito baixos retiramos
a idade, tipo de família, condição na família, cuidar dos
afazeres domésticos e tempo que estava no trabalho como
forma de construir um olhar mais claro sobre os efeitos das
variáveis escolhidas. Em relação à variável tipo de
família, vale dizer que ela começa os anos 90 com 0,68, mas
desde 1998 cai abaixo de 0,50 até chegar a 0,005 em 2012,
indicando que na medida em que as mulheres em diversos
33
arranjos se aproximam em relação à média do ITD – tal como
visto anteriormente - essa variável vai perdendo seu
efeito.
Ao retirar as variáveis acima mencionadas para o
cálculo de nova regressão as variáveis retidas foram: cor,
anos de estudos, idade que começou a trabalhar,
deslocamento casa-trabalho, renda da família, número de
membros da família, número de filhos no domicílio e zona do
domicílio. Os coeficientes das variáveis são muito próximos
aos da análise de regressão com todas as variáveis.
Encontramos, então, que os anos 90, os anos de estudos
era a variável com maior peso, seguida da zona de domicílio
e tempo de deslocamento casa-trabalho. Ao longo do tempo, a
zona dilui seu efeito e o deslocamento casa-trabalho fica
em segundo lugar (ver gráfico 21).
Em relação às variáveis familiares (renda da família,
número de membros da família, número de filhos no
domicílio) duas observações são pertinentes. A primeira de
que não há uma tendência clara ao longo dos anos
analisados, e os três anos selecionados para a
representação gráfica da essa ideia. Segundo, há uma queda
entre 2008 e 2012 bastante significativa, indicando que a
expansão no acesso a trabalhos mais decentes no contexto de
redução das desigualdades socioeconômicas favoreceu a
redução do peso das variáveis familiares.
Entre as variáveis vinculadas à entrada e permanência
no trabalho, vimos que o tempo de trabalho tem pouco efeito
34
e foi retirado da análise, o tempo de deslocamento casa-
trabalho ganha uma enorme relevância com sua grande
magnitude e crescimento ao longo do tempo. E com a
postergação de entrada no mercado de trabalho há queda
contínua do efeito da idade que começou a trabalhar sobre a
aquisição de trabalho decente.
Nesse contexto com aspectos meritocráticos e urbanos
tão ativos na aquisição de melhores trabalhos, existe um
movimento que caminha na contramão: a cor vai ao longo do
tempo ampliando seu baixo efeito. Sem dúvida, isso se deve
ao fato de que a distância entre as mulheres negras e
brancas continuaram iguais ao longo do tempo, tal apontado
anteriormente.
G21
Entre os homens a história a ser contada é um pouco
diferente. As variáveis escolhidas para o cálculo da
primeira análise de regressão foram idade, cor, anos de
estudos, idade que começou a trabalhar, tempo de
deslocamento casa-trabalho, tempo no trabalho, tipo de
família, condição na família, renda familiar, cuidar dos
afazeres, número de moradores no domicílio e zona do
domicílio. Não foi inserida número de filhos porque o IBGE
não colhe a informação do número de filhos para os homens.
O mesmo critério para retirada de variáveis foi
utilizado, por isso na análise de regressão final foram
retiradas as variáveis tempo no trabalho, condição na
família e cuidar dos afazeres.
35
Na análise de regressão final, nos anos 90, os anos de
estudos são, também, de longe o maior efeito; seguida pela
zona do domicílio e tempo de descolamento casa-trabalho. Ao
longo do tempo, tal como nas mulheres, o tempo de
deslocamento casa-trabalho passa a zona de domicílio.
Indicando que uma vez perdendo a importância a clivagem
urbana e rural, pesa a capacidade de, na cidade, se
deslocar em busca de um trabalho mais decente.
Os homens tendem a trabalhar mais cedo que as
mulheres, mas postergar a inserção no mercado de trabalho é
sem dúvida um fator positivo na aquisição de melhores
trabalhos. Para os homens ao longo do tempo esse ainda é um
elemento que pesa, diferente do que acontece entre as
mulheres.
G22
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Homens e mulheres estão experimentando o processo de
ampliação do acesso ao trabalho decente com algumas
tendências gerais bem evidentes.
Em relação às comparações das médias do ITD, vimos que
quando as mulheres disputam em nichos muito masculinos como
são as Ocupações manuais modernas (vide a introdução), ela
se aloca em relações de trabalho mais decentes do que os
homens. E as variáveis que expressam o papel de gênero na
família têm sinais trocados quando se trata de homens e
mulheres. E no caso das mulheres se desfazer dos
36
compromissos com afazeres é uma grande garantia para seguir
a trilha dos melhores salários.
Para nossa surpresa a análise de regressão revelou que
variáveis que pareciam ter muita importância para a
aquisição de trabalhos mais decentes, tais como tempo de
trabalho, condição na família e cuidar dos afazeres,
terminaram sendo retiradas porque, quando combinada com
outros fatores, apresentaram pequeno efeito.
Entre as variáveis que foram retidas, observamos que
ao longo, a escolaridade mantém seu grande efeito, mas a
novidade fica por conta da ampliação do efeito positivo do
deslocamento casa-trabalho, o que permite verificar a
partir de outros dados a dimensão da segregação espacial e
estratificação social no país, nas grandes cidades, furar a
barreira para ter acessos a melhores trabalhos implica em
realizar maiores deslocamentos cotidianos em direção ao
trabalho.
Diferente do entendimento e análise sobre deslocamento
casa-trabalho elaborado pela OIT (GUIMARÃES, 2012), os
dados aqui apresentados mostram uma relação mais complexa:
a aquisição de trabalhos mais decentes depende fortemente
da capacidade de descolamento dos homens e mulheres em
direção a eles. Uma leitura totalmente compatível com a
distribuição da pobreza nas periferias das grandes cidades.
A despeito de inúmeros fatores que operam na
disponibilidade das mulheres em direção ao trabalho decente
e as mudanças ocorridas com a ampliação das oportunidades
37
educacionais ainda são as mesmas variáveis de 20 anos atrás
que operam com força o acesso ao trabalho decente. Sem
dúvida, em um país com enorme desigualdade educacional, a
escolaridade sintetiza uma série de outras desigualdades.
Bibliografia
ABRAMO, Laís. Desigualdades de gênero e raça no mercado de trabalho brasileiro. Ciência e Cultura, vol.58, n.4, 2006.
_____. Trabalho decente e juventude no Brasil: a construção de uma agenda. Mercado de Trabalho – conjunturae análise, no. 55, IPEA, 2013.
ABRAMO, Laís; BOLZÓN, Andrea; RAMOS, Christian. Agenda do trabalho decente. Emprego e trabalho na agricultura brasileira. Brasília: IICA, 2008.
ALVES, José.Eutáquio.; CAVENAGHI, Susana. Indicadores de Desigualdade de Gênero no Brasil. Revista Mediações, vol.18, n.1, 2013.
ANKER, Richard; CHERNYSHEV, Igor; EGGER, Philippe; MEHRAN, Farhad; and RITTER, Joe. Measuring Decent Work with Statistical Indicators International Labour Review, volume 142, no. 2. 2003.
ARAÚJO, Angela; LOMBARDI, MARIA Rosa. Trabalho informal,raça e gênero no Brasil no início do século XXI. Cadernosde Pesquisa, v.43, n. 149, 2013.
BARROS, R.P; MENDONÇA, R. Trabalho infantil no Brasil: Rumoà erradicação. IPEA, 2010.
BESCOND, David.; CHÂTAIGNIER, Anne; and MEHRAN, Farhad. Seven indicators to measure decent work: An international comparison. International Labour Review, volume 142, no. 2.2003.
38
BIERMANS, Maarten. Decency and the market: the ILO's DecentWork Agenda as a moral market boundary. 2012. Dissertação defendida na Amsterdam School of Economics Research Institute da University of Amsterdam. 2012
BONNET, Florende; FIGUEIREDO, Jose; STANDING, Guy. A Familyof Decent Work Indexes. International Labor Review, Vol. 142, nº 2, 2003
BRUSCHINI, C. 1978. Sexualização das Ocupações: o casoBrasileiro. Fundação Carlos Chagas, Cadernos de Pesquisa.
_____.,Gênero e Trabalho no Brasil: novas conquistas oupersistência da discriminação? (Brasil: 1985/1995). In:Rocha, M. I. B. (org) Trabalho e gênero – mudançaspermanências e desafios.
BRUSCHINI, C; LOMBARDI, M.R. Trabalhadoras brasileiras dosanos 90: mais numerosas, mais velhas e mais instruídasRevista Mulher e Trabalho (2010)
BRUSCHINI, Cristina. RICOLDI, Arlene M. ArticulaçãoTrabalho e Família : famílias urbanas de baixa renda e políticas de apoio àstrabalhadoras. São Paulo, Fundação Carlos Chagas, 2008 (Textos FCC, 28).
______. Revendo Estereótipos : o papel dos homens notrabalho doméstico. São Paulo, Fundação Carlos Chagas, 2008 (Textos FCC, 31)
CACCIAMALI, Maria Cristina; CORTÉS, Diego. Cooperativas de trabalho associado, instrumento de precarização ou de resgate das relações de trabalho justas? Um estudo de caso Brasil-Colombia à luz do conceito de trabalho decente. Pesquisa e Debate, vol.21 no. 2, 2010.
CAMPERO; VELASCO. Propuesta para Elaborar Un Índice de Trabajo Decente em América Latina. OIT – Oficina
39
Subregional para el Cono Sur de América Latina. 2006 (mimeo.)
CARDOSO JUNIOR, J. C. De volta para o futuro? As fontes de recuperação do em- prego formal no Brasil e as condições para sua sustentabilidade temporal. Texto para Discussão 1310. IPEA, Brasília, nov. 2007.
CEPAL/PNUD/OIT. Emprego, desenvolvimento humano e trabalho decente: a experiência brasileira recente. Brasília: CEPAL/PNUD/OIT, 2008.
CHARLES, M.; GRUSKY, D. Models for describing theunderlying structure of sex segregation. American Journalof Sociology, 1995.
_____. Occupational ghettos: The worldwide segregation ofwomen and men, 2004.
DEGRAFF, D. S.; ANKER, R. Gênero, mercados de trabalho e otrabalho das mulheres. In: PINNELLI, A. Gênero nos estudosde população. Campinas: Associação Brasileira de EstudosPopulacionais-ABEP, 2004.
DUNCAN, O. D., DUNCAN, B., A Methodological Analysis ofSegregation Indices. American Sociological Review, v. 20,1955
GUIMARÃES, José Ribeiro Soares. Perfil do Trabalho Decenteno Brasil: um olhar sobre as Unidades da Federação. / JoséRibeiro Soares Guimarães. Brasília: OIT, 2012. 376 p.
LEONE, Eugênia T. O perfil dos trabalhadores etrabalhadoras na economia informal. Brasília: OIT-Brasil,2010. (Trabalho decente no Brasil; Documento de trabalho,n. 3)
LOMBARDI, Maria Rosa. A persistência das desigualdades degênero no mercado de trabalho. In: COSTA, Albertina et al.(Org.). Divisão sexual do trabalho: Estado e crise docapitalismo. Recife: SOS Corpo, 2010. p. 35-56.
40
MARTELETO, L. Quando parentes tomam conta das crianças:arranjos de child care em domicílio intactos chefiados pormulheres. Anais da X Reunião da ABEP, 1998.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude. 2010. Disponível: www.portal.mte.gov.br. Acesso: 05.06.2013.
OIT. Trabalho Decente no Brasil: uma avaliação daspolíticas de emprego e proteção social. Rio de Janeiro,Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, 2004.
OIT. Trabalho decente e juventude – América Latina. Brasília, OIT 2007.
_____. Per l do trabalho decente no Brasil. Brasília, fiGenebra, OIT, 2009
_____. Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude. Brasília, MTE,SE, 2011.
OLIVEIRA, Ana Maria Hermeto Camilo. A segregaçãoocupacional por sexo no Brasil. Tese Doutorado, CEDEPLAR-UFMG, 1997.
OLIVEIRA, Ana Maria Hermeto Camilo. Indicadores daSegregação ocupacional por sexo no Brasil. XI EncontroNacional de Estudos Populacionais da ABEP, 1998
OMETTO, A. M. H., HOFFMANN, R., ALVES, M. C., Participaçãoda Mulher no mercado de trabalho: discriminação emPernambuco e São Paulo. Revista Brasileira de Economia, Riode Janeiro, jul/ set, 1999.
PAULINO, Ana Yara; WILMAR, Maria Lúcia; BALTAR, Ronaldo. Índice de Trabalho Decente nas Empresas: proposições para uma metodologia. Observatório Social. 2007. Diponível em: www.os.org.br. Acesso: 10.14.2009.
41
PEEK, Peter. Decent Work Deficits around The Globe:Measuring Trends With An Index. OIT – Policy IntegrationDepartment, 2006.
Picanço, F. Quem sobe e desce no Brasil: uma análise damobilidade sócio-ocupacional e realização de êxito nomercado de trabalho urbano brasileiro. Tese de doutorado,IUPERJ, 2005.
_____. O Brasil que sobe e desce: uma análise da mobilidadesócio-ocupacional e realização de êxito no mercado detrabalho urbano. Dados, v. 50, 2007.
______. Juventude e trabalho decente no Brasil: proposta demensuração e alguns resultados.Congresso da LASA, 2009.
POCHMANN, Márcio. Nova classe média? O trabalho na base dapirâmide social brasileira. São Paulo: Boitempo Editorial,2012.
PRONI, Marcelo W.; ROCHA, Thaíssa T. A OIT e a promoção do trabalho decente no Brasil. Revista da ABET, Associação Brasileira de Estudosdo Trabalho, vol. IX, n. 1, 2010.
RIBEIRO, J.; BERG, J. Evolução recente do trabalho decente no Brasil: avanços e desafios. Bahia Análise e Dados, Salvador, v. 20, n. 2/3, jul./set. 2010.
RICOLDI, A. Afazeres domésticos: concepções de homens emulheres de famílias urbanas de baixa renda sobre adivisão de tarefas. 34º Reunião da ANPOCS, 2013.
SABÓIA, João. Baixo crescimento econômico e melhora domercado de trabalho – Como entender a aparentecontradição? Estudos Avançados 28 (81), 2014.
42
SACHS, Ignacy. Inclusão social pelo trabalho: desenvolvimento humano, trabalho decente e o futuro dos empreendedores de pequeno porte. Garamond, 2003. SIMÃO, A. Sistema de vigilância e fiscalização do trabalho no Brasil: efeitos sobre a expansão do emprego formal no período 1999-2007. boletim Mercado de Trabalho - Conjunturae análise, Rio de Janeiro, IPEA, n.39, maio 2009.
SORJ, Bila.; FONTES, Adriana. Famílias Monoparentaisfemininas, pobreza e bem-estar das crianças: comparaçõesregionais. In: Costa et all (Orgs). Mercado de Trabalho eGênero, comparações internacionais. Rio de Janeiro,Editora FGV, 2008.
STANDING, Guy. From People's Security Surveys to a DecentWork Index. International Labour Review, Volume 141, Issue4, 2002.
43