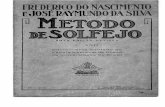àti 00.115.229-7 > MAIO DE 1 941 ANO , 3 RIO DE JANEIRO
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of àti 00.115.229-7 > MAIO DE 1 941 ANO , 3 RIO DE JANEIRO
L FURA POLÍT
Revista mensal de
estudos brasileiros
INVENTARIO
-àti
00.115.229-7 >
MAIO DE 1 941
ANO NUM. 3
RIO DE JANEIRO
Sumário deste número:
SOBERANIA INTERNACIONAL DO ÜRASIL 5
1) — Problemas políticos e soctyls
A DEFESA COLETIVA DA AMÉRICA," por-Jaime
de Barros 11
AÇUDAGEM E IRRIGAÇÃO NO NORDESTE, por
Osias- Guimarães si
NOSSA POLÍTICA DE COMUNICAÇÕES, por Mário Travassos 2»
POLÍTICA DIPLOMÁTICA E ECONOMICA DE RODRIGUES ALVES, por
José Maria Belo 39
ALIMENTAÇÃO, POLÍTICA NACIONAL, por
Dante Costa 5a
O PROCESSO DE DECULTURAÇÃO NAS ÁREAS DA CAATINGA, por
Djacir Menezes 6l
A AUTOiNOMIA MUNICIPAL E O PRESSUPOSTO DA AUTONOMIA
FINANCEIRA, por
Menelick de Carvalho 75
A INFLUENCIA DO PODER PESSOAL NA UNIDADE POLÍTICA DO
BRASIL, por
Monte Arrais 85
O SANEAMENTO NO AMAZONAS, por Azevedo Lima 98
A OBRA SOCIAL DO GOVERNO E O APROVEITAMENTO DA AMAZÔ-
N1A, por
Raimundo Pinheiro 112
O SEGURO SOCIAL E A SUA EVOLUÇÃO NO BRASIL, por Alcides
Marinho Rêgo llí:*
A EVOLUÇÃO DA POLÍTICA IMIGRATÓRIA NO BRASIL — i.° Período
de expansão> até 1555, por
Artur Hehl Neiva 125
EDUCAÇÃO NACIONALISTA NO DISTRITO FEDERAL, por
Neusa Feital 141
RAZOES DE SER DO D. A. S. P., por
Beatriz Marques de Souza 148
EVOLUÇÃO POLÍTICA REPUBLICANA, por Azevedo Amaral 154
Z) <— O pensamento político do Chefe do Governo
TRADIÇÃO POLÍTICA DE PRINCÍPIO DE UNIDADE NACIONAL, por
Sílvio Peixoto 175
3) — A estrutura juridico-politica do Brasil
O PODER JUDICIÁRIO NA CONSTITUIÇÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE
1937, por
Carlos de Oliveira Ramos 191
4) — Textos e documentos históricos
AS ELEIÇÕES NO BRASIL DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA 203
MEMORÀNDUM SôBRE A SITUAÇÃO AGRÍCOLA NACIONAL NO ÜLTI-
MO PERÍODO DO II IMPÉRIO 209
CARTA RÉGIA DO REI DE PORTUGAL AO GOVERNADOR E CAPITÃO
GERAL DAS MINAS, LUIZ DIOGO DA SYLVA E O CONSE-
QUENTE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO VICE REI CONDE
DA CUNHA ...Y 213
5) — Atividade governamental
PANORAMA DA ATIVIDADE GOVERNAMENTAL 219
TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DO DIREITO (III), por
Luiz Antônio da
Costa Carvalho 228
6) — Brasil social, intelectual e.artístico
INFLUÊNCIA POLÍTICA SOBRE A EVOLUÇÃO SOCIAL, INTELECTUAL
E ARTÍSTICA DO BRASIL (III)
v. 241
A) EVOLUÇÃO SOCIAL 244
A ORDEM POLÍTICA E A EVOLUÇÃO SOCIAL (III), p. 244
-
QUADROS E COSTUMES DO CENTRO E DO SUL (III), por
Marques
Rebêlo, p.
246 —
QUADROS E COSTUMES DO NORDESTE (III), por
Graciliano Ramos, p. 250
— O POVO BRASILEIRO ATRAVÉS DO
FOLCLORE (III), por
Basílio de Magalhães, p. 252
— INTÉRPRETES
DA VIDA SOCIAL BRASILEIRA (III), p. 256
- PAGINAS DO PAS-
SADO BRASILEIRO (III), p. 258.
B) EVOLUÇÃO INTELECTUAL 262
A ORDEM POLÍTICA E A EVOLUÇÃO INTELECTUAL (III), p. 262
— LITERATURA DE FICÇÃO (III), por Wilson Lousada,
p. 264
—
LITERATURA DE IDÉIAS (III)j por
Pedro Dantas, p. 267
— LITE-
RATURA HISTÓRICA (III), por Hélio Viana,
p. 269
- LITERATU-
RA LATINO-AMERICANA (I), por Guerreiro Ramos,
p. 274 — HIS-
TÓRIA LITERÁRIA DO BRASIL (III), p. 276
- ESTUDOS E PES-
QUIS AS CIENTÍFICAS (III), por
Vieira Pinto, p. 278
- EDUCAÇÃO
(III), por F. Venâncio Filho,
p. 281
— MOVIMENTO BIBLIOGRAFI-
CO (III), por Antônio Simões dos Rf.is,
p. 285.
C) EVOLUÇÃO ARTÍSTICA 290
A ORDÉM POLÍTICA E A EVOLUÇÃO ARTÍSTICA (III), p. 290
—
MÚSICA (III), por Luiz Heitor,
p. 292
— ARTES PLÁSTICAS (III),
por Carlos Cavalcanti,
p. 295 — TEATRO (III), por
R. Magalhães
Júnior, p. 299
— CINEMA (III), por Lúcio Cardoso, p. 302
— RADIO
(III), por Martins Castelo,
p. 304.
Direção de
ALMIR DE ANDRADE
Secretaria e Redação:
Rua da Misericórdia —
Palácio Tiradentes
4.0 andar
Telefone: 22-7610, ramal-36
BRASIL
RIO DE JANEIRO
\
A soberania internacional
do Brasil
"E
preciso encarar as imposições da realidade com ânimo
sereno e repudiar as opiniões apaixonadas, se quisermos
sal-
vaguardar o futuro
da Pátria; pois
não a servem, não servem
ao seu dever, os que pretendam
lançá-la à fogueira dos con-
flitos internacionais. Não há,
presentemente, motivos de es-
pécie alguma, de ordem moral ou material,
que nos acon-
selhem a tomar partido por qualquer
dos povos
em luta. O
que nos cumpre é manter estrita neutralidade
— neutralidade
ativa e vigilante, na defesa do Brasil. . .
"Habituados
a cultivar a paz
como diretriz de convivência in~
ternacional, continuaremos fieis
ao ideal de fortalecer, cada
vez mais, a união dos povos
americanos. Com êles estamos
solidários para
a defesa comum em face
de ameaças ou intro-
missões estranhas, cumprindo, por
isso mesmo, abster-nos de
intervir em lutas travadas fora
do Continente. E essa união,
essa solidariedade, para
ser firme
e duradoura, deve basear-se
no mútuo respeito das soberanias nacionais e na liberdade
de nos organizarmos, politicamente,
segundo as próprias
ten-
dências, interesses e necessidades".
Getulio Vargas
a SOBERANIA das nações no campo internacional é uma pro-
jeção natural da sua soberania interna.
A ordem política
representa, para
cada povo,
uma necessidade
de vida e de organização. Cada povo procura,
ao estruturar-se poli-
ticamente, viver de acordo consigo mesmo —
com suas tendências, ne-
cessidades e aspirações. O Estado representa, para
a nação que
o cons-
troi, um instrumento de defesa da sua liberdade: liberdade de crear
para si instituições adaptadas à sua maneira de ser, liberdade de tra-
6CULTURA POLÍTICA
balhar para
consolidar as bases da sua subsistência e prosperidade
econômica, liberdade de reclamar para
si o espaço de terra e a forma
de govêrno
de que
necessita para progredir.
Historicamente —
e hoje mais do que
nunca —
o Brasil sem
pre reconheceu a veracidade desses
princípios.
Fomos um Império, quando
nenhum outro império existia no
solo americano, porque
as condições da nossa formação social e poli-
tica exigiam a unidade de um govêrno
monárquico. E isso não im-
pediu jamais que formássemos ao lado de nossos vizinhos,
para a de-
fesa dos interêsses comuns e para
a comunhão dos ideais america-
nos. Diversa era a nossa forma de govêrno;
diversos eram os prin-
cípios poh
icos que
internamente inspiravam a nossa conduta. Mas
nunca deixámos, por
isso, de manter a nossa política
externa de co-
operação e amizade, de solidariedade e pacifismo.
Um dia, condições históricas particulares
exigiram uma mu-
dança brusca na vida interna do Brasil: proclamámos
a República e
adotámos, na prática
constitucional, todos os princípios
da liberal-
democracia. Nossa atitude internacional nao se modificou com isso,
nem se alterou a coerência tradicional da diplomacia brasileira.
Sustentámos sempre, não apenas em tese, mas também na evi-
dência das nossas ações, na evidência da nossa conduta internacional
de todos os instantes, a independência absoluta entre a política
inter-
na e a política
externa. Externamente procuramos
os interêsses co-
muns que
nos unem aos outros povos;
internamente buscamos os
nossos interêsses próprios, que
definem a nossa personalidade
de povo
e a originalidade da nossa cultura.
Externamente, orientámos sempre a nossa diplomacia no sen-
tido de atender às necessidades supremas de defesa da nossa sobe-
rania e de solidariedade com todas as nações a que
nos prendem
inte-
rêsses comuns. Internamente sempre nos esforçámos para
viver de
acordo com as nossas próprias
necessidades, escolhendo o sistema de
organização política
melhor ajustado às condições econômicas, sociais,
administrativas e espirituais da nossa formação nacional.
Não é outra a atitude do Brasil no presente
momento, em que
o mundo se debate em violentos conflitos de soberanias e de sistemas
de govêrno.
Mais uma vez mudámos, em Novembro de 1937, o nosso sis-
tema de govêrno, procurando
adaptá-lo às nossas realidades mais pre-
mentes e também àquilo que julgámos
ser as tendências mais imedia-
CULTURA POLÍTICA 7
tas da evolução política
do mundo, na fase de transição por que pas-
sa. Pelo que
fizemos em nosso país,
nenhuma explicação devemos aos
demais. O sistema político que
adotámos nasceu das condições histó-
ricas e sociais que precipitaram a revolução de 1930 e
que se cristali-
zaram no atual regime.
Quaisquer que sejam os métodos de
govêrno dos
povos ami-
gos ou vizinhos, o Brasil conservará o sistema de
que precisa, sem
pre-
juízo de suas relações internacionais. Estas ultimas teem outros fun-
damentos, outros objetivos e outros métodos. Elas se baseam nas exi-
gências de cooperação
pelo bem comum de
povos irmãos. Ao
passo
que as relações
políticas internas se fundam nas exigências do traba-
lho coletivo, necessário à expansão da nossa cultura, ao fortalecimen-
to da nossa economia^ ao respeito aos nossos direitos e à nossa per-
sonalidade de povo.
O reconhecimento internacional dessa soberania, dêsses direi-
tos sagrados que
exigimos para
sustentáculo do nosso sistema de orga-
nização interna — é condição sine
qua non da cooperação brasileira
para a ordem, a
paz e a solidariedade continental.
Por si mesmo, o regime de 10 de Novembro de 1937 não al-
terou a linha tradicional da diplomacia brasileira da Primeira Repú-
blica, assim como a revolução de 15 de Novembro de 1889 n^° al te-
rou a linha diplomática da política
imperial. A mudança de regime
político interno não influe,
por si mesmo, na orientação da
política
externa: eis um princípio
essencial, que
sempre esteve explícita ou im-
plicitamente contido na conduta do Brasil, há mais de um século.
A independência absoluta dos dois campos de ação produz
duas
conseqüências imediatas: primeiro,
a necessidade de aceitar em sua
objetividade e de respeitar em sua soberania o regime político
interno
de qualquer
nação, quando
se trate de conseguir a sua cooperação in-
ternacional; segundo, a inexistência de qualquer
compromisso defi-
nitivo entre a conduta exterior de um país
e as suas transformações
políticas internas. Esta última
parte é também
preciso frisar.
Assim, se a mudança de regime político
não implica, por
si
mesma, nenhuma mudança de orientação diplomática, por
outro
lado ela também não envolve, nem pode
envolver, qualquer
subor-
dinação da conduta de um país
a interêsses ou compromissos exte-
riores que,
acaso, deixem de satisfazer às suas necessidades de vida in-
terna, às exigências da sua produção,
do seu comércio, do seu desen-
volvimento econômico e social.
8CULTURA POLÍTICA
O realismo sadio e vigilante, oportuno e darividente, que or
povos estão hoje empregando na
gerência dos seus negócios internos
-- está sendo reclamado e
posto em
prática, igualmente, na orientação
dos seus negócios externos. Não são mais as simpatias ou antipatias
de credos políticos que guiam
as nações em suas relações exteiiores c
às incitam à cooperação. Sob êste aspecto, também a política
interna
c a política
externa devem manter-se independentes. Na rapidez com
que se
processam hoje as transformações sociais e
políticas, também
a órbita das relações internacionais pode ser afetada neste ou naquê-
le ponto:
e os povos
chamados a definir-se nas horas graves
em que,
acaso, sua definição se torne inevitável, devem guiar-se,
não por
mo-
tivos sentimentais de idealismo político,
mas por
motivos reais dc
conveniência recíproca e por
uma compreensão justa,
fria e objetiva
dos seus mais prementes
interesses economicos, étnicos e sociais.
Um único pensamento
anima o Brasil de hoje: trabalhar em
paz, produzir, refazer-se das crises internas do
passado, reconsti uir-se
para a conquista de dias mais
prósperos e mais felizes. O respeito à
nossa soberania, na ordem internacional, é um reconhecimento da
sinceridade dos nossos propósitos
de cooperação pacífica.
Lutamos
por um mundo melhor e mais humano, de ordem, de equilíbrio e de
justiça. Êsse ideal nos inspirará sempre: tanto nas horas de
paz que
desfrutamos, como nas horas das grandes
decisões, quando,
em algum dia
próximo ou longiquo, acaso estiver em
jogo o nosso futuro.
Somos brasileiros não apenas por
dentro e de coração; devemos
sê-lo também internacionalmente. A' margem de quaisquer
simpa-
tias doutrinárias, políticas
ou raciais, é brasileiramente que
devemos
sempre pensar
em nosso futuro e como brasileiros que
devemos re
solver os supremos interesses do Brasil.
A. de A.
E' consagrada esta seção ao estudo de todos os proble-
mas políticos e sociais do Brasil: quer os problemas
de ordem
geral, quer os problemas regionais. Uns e outros teem o
mesmo sentido nacional e interessam aos homens de todos os
Estados, que se guiam, hoje, por
um só pensamento: o Brasil
grande e unido, com uma só alma e como um só todo solidário.
Estas colunas estão abertas aos estudiosos de todas as
regiões; nelas colaboram filhos de todos os Estados do Brasil:
do Norte, do Nordeste, do Centro e do Sul.
O objetivo de "Cultura
Política" é promover, estimular
e desenvolver o concurso de todos os estudiosos brasileiros
de Norte a Sul, de litorol ee sertão —•
poro o esclare-
cimento dos problemas e realidades do Brasil.
O Brasil Novo recobra a conciência de si mesmo — da
sua unidade histórica, econômica, social e intelectual.
A defesa coletiva da América
JAIME DE BARROS
Do Ministério das Relações Exteriores do Brasil
O problema
da defesa da América é, talvez, o magno problema
interna-
cional do continente, na hora em que
vivemos. Já havendo tratado no
j.° número desta Revista, da "Política
do Brasil na América", volta-se
hoje o autor para
o estudo das origens e evolução da doutrina de Monroe,
suas causas e objetivos, suas várias interpretações no decurso de cento e
vinte anos e, muito especialmente, sua repercussão na diplomacia brasi-
leira. Nossa política,
vigorosamente panamericanista,
orientou-se para
dar
à doutrina de Monroe uma interpretação muito mais larga do que
a pro-
posta inicialmente; essa doutrina sempre foi para
o Brasil, não um motivo
para o estabelecimento de
privilégios entre as nações da América, mas, ao
contrário, um meio de confraternização, um instrumento de defesa coletiva
e móvel de uma sã política
de boa vizinhança.
A
IDÉIA de uma união
defensiva das nações ame-
ricanas, que
só agora co-
meça a traduzir-se da manei-
ra menos indecisa e vaga, sur-
giu antes mesmo de iniciados
os movimentos emancipadores no
continente. Existem esparsos, re-
colhidos por
diversos pesquisado-
res, documentos do comêço do
século XIX, em que já
se enun-
ciava o pensamento
de, uma vez
proclamada a independência dos
países americanos,
quaisquer que
fossem as formas do govêrno
ado-
tadas, instituir-se o sentimento
pan-americanista, guiado por uma
política americana.
Não eram outras as expressões
que usava Henry Ciai, em 1810.
Também Bolivar proclamou
os
mesmos ideais e esboçou o plano
de uma Liga das Nações America
nas, que
ainda não pôde
ser con
cretisada numa iniciativa feliz, tais
as dificuldades que
sempre en
controu nas assembléias interna-
cionais. O próprio
Brasil chegou
a formular, segundo assegura o
sr. Heitor Lira nos seus Ensaios
Diplomáticos, o espírito da dou-
trina continental antes mesmo da
mensagem de Monroe.
12CULTURA POLÍTICA
A mensagem de Mon
roe, em 1823
A verdade porém
c que
o pri-
nieiro documento político em
que
se proclama
a completa liberdade
da América para
resolver os seus
problemas sem a interferência da
Europa, foi a célebre mensagem de
Monroe, de 2 de Dezembro de
1823. Diante das manobras da
Santa Aliança, visando a recoloni-
zação do Novo fylundo, aquele
presidente dos Estados Unidos
lançou o célebre documento, no
qual afirmava:
"Os continentes
americanos, por sua livre e inde-
pendente condição atual, não
podem, de agora em diante, con-
siderar-se objeto de futura colo-
nização por parte
de nenhuma po-
tência européia". E logo acres-
centava:
"O sistema
político das
potências aliadas é essencialmen-
te diverso do americano. Deve-
mos, pois,
em atenção à tranque-
za e às boas relações de amizade
existentes entre os Estados Uni-
dos e êsses países,
declarar que
consideramos toda tentativa de
sua parte,
visando prolongar
seu
sistema a qualquer porção
dêste
hemisfério, como perigosa
à nos-
sa paz
e segurança".
As primeiras
interpretações
da doutrina de Monroe
Mas êsse importante documen-
to político,
longe de precipitar
ou ao menos favorecer a imediata
união defensiva dos países
ame-
ricanos, ainda em pleno
tumul-
to de sua organifcação política,
suscitou neles a mais profunda
desconfiança. Interpretações
dú
bias da doutrina de Monroe, que,
infelizmente, os próprios
Estados
Unidos autorizaram com alguns
erros clamorosos de sua ação no
continente, acabaram emprestan-
do sentido malicioso à expressão
"a América
para os americanos",
à qual
se acrescentava. ..
"do
Norte".
Pouco importava aos que
ali
mentavam tais prevenções
com os
Estados Unidos a intenção clara
da mensagem de Monroe. E' cer-
to que
o documento, quando se
referia à tentativa de recoloniza-
ção de
"qualquer
porção dêste
hemisfério", considerando-a peri
gosa
"à
nossa paz
e segurança",
tinha em vista a paz
e a seguran-
ça dos Estados Unidos. Não se
devia esquecer, entretanto, que,
antes, aquela mesma mensagem
já proclamara não
poderem ser
"os continentes americanos" ob-
jeto de recolonização. Além dis-
so, naquele momento, como ain-
da hoje, a tentativa da Europa de
"prolongar seu sistema a
qual-
quer
"porção dêste hemisfério",
ameaçava não só os Estados Uni-
dos como todo o continente. Poi
isso mesmo, a União Americana
sentira-se, em 1823, como se sente
em nossos dias, no dever e na ne-
cessidade de acudir em defesa de
"qualquer
porção dêste hemisfé
rio ameaçada pela
cobiça euro-
/ • n
peia .
Se a linguagem então falada pe-
los Estados Unidos indicava o
propósito do
govêrno de Washin-
gton de agir sozinho em caso de
perigo, é
que na época os
países
continentais não dispunham ain-
A DEFESA COLETIVA DA AMÉRICA 13
da de recursos apreciáveis para
promover sua
própria de tesa.
Dentro dessa interpretação foi
que evoluímos
para o
projeto da
defesa comum, no plano
de igual-
dade das soberanias.
As vozes dissonantes que
de-
pois fizeram coro confuso na
América contra os pretensos
in-
tuitos imperialistas dos Estados
Unidos não impediram que
mes-
mo na época do aparecimento da
mensagem de Monroe alguns pai
ses americanos compreendessem e
proclamassem o alto sentido da-
quele documento. Santander, vi
ce-presidente do Senado da Co-
lômbia, a êle se referindo, dizia,
em 1824:
"Essa
política, consola
dora para
a natureza humana, as-
segura à Colômbia um aliado po
deroso, caso a nossa independên-
cia seja ameaçada pelas potências
aliadas da Europa".
Quando recebia o ministro dos
Estados Unidos, Forbes, o Gover-
nador das Províncias Unidas do
Rio da Prata, depois de reconhe-
cer a importância dos princípios
proclamados por Monroe, decla-
ra-se
"convicto da necessidade de
adotá-los" e disposto a aceitar pa-
ra esse fim
"qualquer oportuni-
dade que
se apresente". Não foi
menos satisfatória a repercussão
no Chile, cujo Governador mani-
festou os seus agradecimentos ao
Embaixador Allen dos Estados
Unidos.
O apoio decidido do
Brasil
Mas entre todos os países
con-
tinentais, coube ao Brasil assumir
dêsde logo atitude de franco e de-
cidido apoio à doutrina de Mon-
roe, cujo verdadeiro sentido com-
preendemos imediatamente. A
31 de
Janeiro de 1824, acentúa o
sr. Hélio Lobo no seu excelente
trabalho
"O
pan-americanismo, e
o Brasil", o nosso Encarregado de
Negócios em Washington recebia,
instruções para
"sondar
a dispo-
sição dêsse Govêrno a respeito de
uma liga ofensiva e defensiva com
o Império, como parte
do conti-
nente americano, contando que
semelhante liga não tivesse por
base concessões algumas de parte
a parte,
mas que
decorra tão sò-
mente do princípio geral
da con-
vivência mútua, proveniente
da
mesma liga".
Com a admirável visão política
que caracterizava os
grandes es-
tadistas do Império, o então mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros,
Carvalho e Melo, escrevia ainda
ao nosso representante em Wash-
ington que
a Europa havia de
prever e receiar
"a
União ou
aliança que podemos
fazer com
os Estados Unidos, formando as-
sim uma política
totalmente ame-
ricana, que
lhes dará cuidado pe-
los acontecimentos que
daí po-
dem decorrer".
Já então, como se depreende
das instruções transmitidas ao
nosso Encarregado de Negócios
em Washington, o Brasil coloca-
va a questão
de sua defesa no pia-
no continental e no terreno da
igualdade das soberanias, em face
de uma investida da Europa,
acentuando que
a liga acaso for-
mada com os Estados Unidos se-
ria feita sem concessões algumas
de parte
a parte,
baseando-se a
aliança tão somente no principio
geral da conveniência mútua.
14CULTURA POLÍTICA
Como que
a reforçar o sentido
pan-americanista dessa
primeira
interpretação ampla da doutrina
de Monroe, Carvalho e Melo lem-
brava que,
dêsse modo, se forma-
ria uma política
totalmente ame-
ricana.
Não será por
certo exagêro afir-
mar, diante de tais antecedentes,
que o Brasil lançou, há mais de
um século, os alicerces da nossa
política de defesa solidária do con-
tinente, baseada na aplicação ir-
restrita da doutrina de Monroe e
numa sólida amizade com os Es-
tados Unidos.
Dificuldades do Brasil
na América
Mas, a exemplo do que
sucede-
ra, por
outros motivos, aos Esta-
dos Unidos, também o Brasil não
pôde colaborar eficientemente,
nos primeiros
tempos, para
o
desenvolvimento da idéia de uma
união defensiva das nações ame-
ricanas. Preconceitos e preven-
ções separaram-nos durante lon-
go período da nossa história dos
países ibero-americanos. A dife-
rença de língua, a conservação do
trono, o regime da escravidão, a
guerra Cisplatina, a
guerra com
o Paraguai, a navegação dos rios
comuns, constituíram as razões
perigosas dêsses desentendimentos.
No entanto, a conservação do
trono representou para
nós a ga-
rantia da unidade nacional, o tra-
balho escravo foi uma fatalidade
da fase de colonização do país
e
as lutas que
sustentamos no Pra-
ta, a despeito dos êrros cometidos,
foram-nos impostas pelas
circuns-
tâncias. Não houvesse o Brasil
acudido em defesa da Província
Cisplatina, quando
D. João
An-
tônio Lavalleja e Frutuoso Rive-
ra invadiram Montevidéu em
1825 e 0 Uruguai não teria desde
logo assegurado sua existência
como país
soberano. A derrota
do exército brasileiro sob o co-
mando de Barbacena, pelo
exér-
cito argentino às ordens de Al-
vear, com a perda,
em Ituzaingo,
de oito mil homens e quarenta
e
oito mil contos de réis, não repre-
sentou o fim da jornada.
A luta
só foi encerrada graças
à media-
ção da Inglaterra, mesmo depois
de negociada e celebrada no Rio
de Janeiro,
em 24 de Maio de
1827, uma convenção com D. José
Manoel Garcia.
O general
Tasso Fragoso, no
seu livro
"A batalha do Passo do
Rosário" escreve que
"a causa
principal do nosso revés foram os
fatores morais". A vitória de
Ituzaingo não pode
ser conside-
rada decisiva. À propósito,
Ro-
nald de Carvalho, que
foi um dos
mais lúcidos pesquizadores
da
nossa história diplomática, escre-
veu, na terceira série de
"Estudos
Brasileiros":
"Depois da vitória,
e apesar dela, o exército de Al-
vear entrou em decomposição,
segundo se colige dos próprios
depoimentos do chefe argen-
tino. Sem munição, sem canhões,
nem armamento ligeiro, com os
soldados em atrazo, desprovida
de roupas e fardamento, sofrendo
de vexações e enfermidades cruéis,
a tropa de Alvear perdeu
o cará-
ter de coesão e unidade, para
se
transformar na
"montonera" in-
disciplinada e revel".
Quanto à
guerra do Paraguai,
quarenta anos mais tarde, também
resultou da invasão do nosso ter*
A DEFESA COLETIVA DA AMÉRICA 15
ritório e lutamos cinco anos, alia-
dos a duas outras repúblicas, a
Argentina e o Uruguai, o que
bas-
ta para
desfazer as intrigas a res-
peito dos nossos
pretensos propó-
sitos imperialistas.
• Restavam a separar-nos da
América espanhola, na verdade, o
trono, a escravidão, a navegação
dos rios comuns, as questões
de
limite.
Já sabemos o
que o trono re-
presentava para a unidade bra-
sileira. Assim, não nos restava
outro caminho senão resistir às
intrigas decorrentes da afirmação
de que
a doutrina democrática
dos libertadores americanos, Bo-
livar, Sucre, San Martin, 0'Hig-
gins, Rivadavia, era incompatível
com o regime imperial.
Em relação à navegação dos
rios comuns, só na aparência era
contraditória a nossa doutrina,
pois o
que exigíamos era a regu-
lamentação da matéria de acordo
com o princípio
clássico da supre-
macia do ribeirinho interior.
No que
diz respeito com os li-
mites dos países
vizinhos, nossa
doutrina tradicional sempre foi a
do uti possidetis
na época da In-
dependência, em antagonismo com
o uti possidetis
chamado de di-
reito.
De tudo isso resultaram desin-
teligências, confusões, dificulda-
des sem conta, durante quasi
um
século. Todos os obstáculos, en-
tretanto, acabaram abatidos. O
Brasil não só desfez as prevenções
que o cercavam como contribuiu
para dissipar as
que se erguiam
contra os Estados Unidos.
As Conferências Pan•
A mericanas
Quando Bolivar tomou, em
1826, a iniciativa da primeira
con-
vocação das nações americanas
para uma assembléia no ístimo do
Panamá, declarou: "O
dia da tro-
ca de poderes
entre nossos pleni-
potenciários formará memorável
época na história diplomatica
americana.
Quando, decorridos séculos, a
posteridade indagar das nossas ins-
tituições políticas
e voltar as vis-
tas para
o pacto que
houver con-
solidado nosso destino, consultará
com veneração os protocolos
do
ístimo.
Nêles descobrirá as bases das
primeiras alianças,
que deverão
regular nosso desenvolvimento
com o Universo. Que
será então
o ístimo de Corinto comparado
com o de Panamá?"
As idéias do Libertador maio-
graram, porém, logo de início.
Por diferentes motivos, o Chile, a
Argentina e os Estados Unidos
não tomaram parte
na Conferên-
cia. O Brasil, embora houvesse
nomeado um representante, não
o fez embarcar, devido aos rumo-
res de uma coligação contra o Im-
pério, motivada
pela guerra na
Província Cisplatina.
Resultou, ainda assim, da Con-
ferência, além de uma tratado de
união, uma convenção em que
se
fixava um contingente militar pa-
ra a defesa comum da América.
A solução das divergências inter-
nacionais pelo
arbitramento, a
abolição do tráfico de escravos, a
garantia da integridade territorial,
foram também assuntos debatidos,
ao mesmo tempo que
vários ou-
16CULTURA POLÍTICA
tros eram transferidos a uma
conferência de plenipotenciários
que se deveria reunir mais tarde.
Entre estes, figuravam as bases
para o desenvolvimento
das rela-
ções entre os
países continentais,
a preservação
da paz,
o emprêgo
dos bons ofícios e da mediação,
problemas comerciais.
Fracassaram igualmente várias
tentativas do México em 1833»
1838, 1840, no sentido da assina-
tura de tratados de amizade e
comércio, bem como para
assentar
meios de evitar a guerra,
resolver
questões de limites e crear um di-
reito público
uniforme. Em 1847,
realizou-se em Lima uma reunião,
à qual
não compareceu o Brasil,
apesar de haver manifestado sua
concordância como os interêsses do
continente. Um fato importante
assinalou a atividade dessa assem-
bléia. Assinou-se um tratado de
confederação, visando a defesa da
América, na base da igualdade
das soberanias, para
a proteção
comum. Além disso, tomou-se
por base,
para resolver os
proble-
mas de limites, o uti possidetis
de
1810, tratou-se do arbitramento,
dos bons ofícios, da extradição,
sugerindo-se a criação da União
Pan-americana e a reunião perió-
dica de um congresso das Nações
continentais, no gênero
do que
fôra lembrado no Panamá, em
1826.
Em 1856, o Chile, o Equador
e o Perú assinaram em Santiago
um tratado de aliança e em 1864
realizou-se uma conferência em
Lima, à qual
não compareceram
vários países,
inclusive o Brasil,
que mais uma vez manifestou sua
solidariedade quando perigassem
a integridade e a independência
das nações americanas. Motivou
a nossa ausência o receio de que
fosse ali tratada a questão
da
guerra, com o Paraguai.
As conferências de caráter ju-
rídico, reunidas, respectivamente,
em Lima e Montevidéu, em 1878
e em 1888, produziram
alguns re-
sultados práticos.
Na primeira,
o Perú, o Chile, a Bolívia, o Equa-
dor, a Venezuela, Costa Rica e a
Argentina assinaram um tratado
de
"codificação
quasi integral do
direito internacional privado".
Infelizmente, a guerra que
então
explodiu no Pacífico impediu
sua execução.
Ainda na conferência de 1878,
verificou-se a ausência do Brasil,
assim justificada
no relatório do
Ministro de Negócios Estrangei-
ros de 1867:
"O
govêrno imperial
reconhece a conveniência e mes-
mo a necessidade de se tornarem
uniformes as legislações nos pon-
tos indicados; crê que
isso é pos-
sível em certa extensão; mas pen-
sa que
só se obterá num futuro
remoto, menos pela
ação diplomá-
tica do que pela
científica, indi-
vidual e coletiva; e que
é prefe-
rível aguardar os resultados dos
trabalhos do Instituto de Direito
Internacional.
Também entende que,
como a
matéria não é de interêsse exclu-
sivamente americano, antes con-
viria um congresso geral
do que
o que
exclusivamente se propõe".
Depois de uma primeira
tenta-
tiva de James
Blaine, Secretário
de Estado dos Estados Unidos da
América, em 1881, para
reunir
uma Conferência Inter-America-
na, ao desencadear-se a guerra
en-
tre a Bolívia e o Chile, na qual
interveiu o Perú em favor daque-
A DEFESA COLETIVA DA AMÉRICA 17
le país,
cm 1888 foi proposta
no-
va conferência, com um progra-
ma mais amplo. Dizia Blaine no
, seu convite:
"Os
delegados pode-
rão mostrar ao mundo uma hon-
rosa, pacífica
conferência de de-
zoito países
americanos indepen-
dentes, unidos em têrrtios de ab-
soluta igualdade; uma conferên-
cia na qual
não haverá nenhum
esforço para
obrigar qualquer
delegado contra o que julgar
in-
terêsse do seu país;
uma confe-
rência que
não permitirá
maqui-
nações secretas em matéria algu-
ma, ao contrário dará com fran-
queza ao mundo o teor de suas
conclusões; uma conferência que
não tolerará o espírito de conquis-
ta, cultivará, sim, a simpatia ame-
ricana tão ampla quanto
o con-
tinente, uma conferência que
não
fará alianças egoístas contra as ve-
lhas nações das quais
nos orgulha-
mos de dizer descendentes; uma
conferência, afinal, que
nada pro-
curará, nada tolerará que
não se-
ja de acordo com o sentido
geral
dos delegados —
oportuna, pru-
dente, pacífica".
Nesse mesmo ano, já
o Brasil
comparecia à conferência de Mon-
tevideu, onde assinou, com o
Chile, Uruguai, Argentina, Peru'
e Bolívia, quatro
convenções sô-
bre as profissões
liberais.
Afinal, reunida em Washin-
gton de 20 de Outubro de 1889
a 19 de Abril de 1890, a Primeira
Conferência Internacional Ame-
ricana iniciou a marcha para
o
congraçamento e a união de todos
os países
do continente. Um
projeto de tratado sôbre o arbi-
tramento, processo que
deveria
ser também usado para
resolver
as pendências
entre a América e
a Europa, foi aprovado. Firmou-
se uma declaração em que
se ba-
nia a conquista territorial do di-
reito público
americano, sendo
consideradas nulas as concessões
de território sôbre a pressão
de
forças armadas ou ameaças de
guerra. Instituiu-se o arbitramen-
to obrigatório em todas as ques-
tões relativas aos privilégios
di-
plomáticos e consulares, aos li-
mites, às questões
territoriais, às
reclamações pecuniárias,
à nave-
gação, à validez, interpretação e
execução dos tratados.
Creou-se ainda o Bureau Inter-
nacional das Repúblicas America-
nas, destinado a reunir e publi-
car informações relativas ao cò-
mércio, aos produtos,
às leis e às
tarifas dos países que
o com-
põem".
Evolução da política pan-
americanista do Brasil
No correr dos trabalhos dessa
Primeira Conferência Internacio-
nal Americana, proclamou-se
a
República no Brasil, tendo sido
pouco antes abolida a escravidão,
Embora o Conselheiro Lafaiete
Rodrigues Pereira solicitasse de-
missão, os demais delegados bra-
sileiros permaneceram
nos seus
postos e a nossa colaboração foi
ali das mais eficientes. Habitua-
dos à prática
do arbitramento em
tratados e convenções para
resol-
ver questões
internacionais, a:n-
da que
com a ressalva da liberda-
de para
a escolha do árbitro,
apoiámos dêsde logo sua institui-
ção, sugerindo fosse organizada
uma lista permanente
de juizes,
de onde se escolheria o árbitro, o
que foi mais tarde adotado em
Haia.
18 CULTURA
Onze anos depois, reuniu-se no
México, de 2 de Outubro de
1901, a 31
de Janeiro
de 1902, a
Segunda Conferência Internado
nal Americana, à qual
compare-
ceram 19 países, pois
acabava de
ser proclamada
a Independência
de Cuba. Nela, ressalvou-se que
a política
americana não visava se-
parar-se do Velho Mundo, fonte
da nossa civilização. Problemas
econômicos e financeiros, meios
de comunicações, questões alfan-
degárias e outros assuntos corre-
latos foram objeto de exame, re-
comendações e debates. Re for-
mado e ampliado o Bureau Inter-
nacional de Washington, cuidou-
se de intensificar o intercâmbio
cultural e artístico, sob diversas
formas, entre os países
continen-
tais. Medidas sanitárias, a extra-
dição de criminosos, a repressão
ao anarquismo também merece-
ram a atenção da conferência.
Sòmente quanto
ao arbitramen-
to, o progresso
foi pequeno,
ape-
sar de já
assinada em Haia, a 29
de Julho
de 1899, a convenção
para solução
pacífica dos confli-
tos internacionais, com a creação
da Corte Permanente de Justiça,
onde seriam escolhidos os juizes
para cada
pendência. Em com-
pensação, a idéia da codificação
do direito internacional america-
no, proposta pelo
delegado brasi-
leiro José
Higino, entrou então
em marcha.
Apesar dos sucessos relativos
dessas duas primeiras
conferên-
cias, a reunião decisiva para
o
desenvolvimento da idéia da
união dos países
americanos foi
a realizada no Rio de Janeiro.
À Terceira Conferência Interna-
cional Americana, reunida de 21
POLÍTICA
de Julho
a 26 de Agosto de 1906,
só não compareceram a Venezue-
la e o Perú. A presença
de Elihu
Root, Secretário de Estado da
União Americana, de Rio Bran-
co, então Ministro das Relações
Exteriores, de Joaquim
Nabuco,
nosso Embaixador em Washing-
ton, e outras circunstâncias, mar-
caram de maneira excepcional a
memorável assembléia.
A política
de Rio Branco
Data desse acontecimento a in-
corporação definitiva do Brasil
entre as nações que
caminhavam
à frente do movimento pan-ame-
ricanista. Sua posição
em face
dos demais países
continentais já
se havia modificado de modo sen-
sível. Em i9°5» P°r
ocasião do
Terceiro Congresso Científico La-
tino Americano, Rio Branco,
traçava, com sua habitual cia-
rividência, o caminho segura
que a América deveria tri
-
lhar. Afirmava então o grande
chanceler:
"E' indispensável que,
antes de meio século, pelo
menos,
quatro ou cinco das maiores na-
ções da América Latina,
por no
bre emulação, cheguem, em recur-
sos defensivos, como a nossa gran-
de irmã do Norte, a competir
com os mais poderosos
Estados
do mundo".
Pouco depois, na inauguração
da Terceira Conferência Inter-
nacional Americana, para
mos-
trar que
nessa atitude da Amé-
rica não havia nenhuma hostili-
dade à Europa, Rio Branco decla-
rava:
"Aos
países da Europa, a
que sempre nos ligaram e hão de
ligar laços morais e tantos inte-
reses econômicos, só desejamos
A DEFESA COLETIVA DA AMÉRICA 19
continuar a oferecer as mesmas
garantias que lhes tem dado até
hoje o nosso constante amor à
ordem e ao \ progresso".
A essa política permaneceu
sem-
pre fiel o Brasil e Rio Branco foi,
durante largo período,
o seu obs-
tinado executor. Êle lançou, co-
mo acentuou Calógeras nos seus
"Estudos
Históricos e Políticos",
as bases da verdadeira cooperação
dos povos
americanos, procuran-
do
"fazer
do conjunto dos seus
respectivos territórios o continen-
tc da paz".
A ação de Joaquim Nabucc
Os conceitos de Joaquim
Na-
buco iam, por
vêzes, além dos de
Rio Branco, nesse particular
.n
Êle não hesitava em afirmar, em-
bora reconhecendo os resultados
fecundos da transplantação da
cultura européia para
a Améri-
ca, que
estávamos, pelo
menos
politicamente, desligados
por
completo da
"órbita
européia".
São palavras
suas:
"a
conciência
americana é o sentimento da nos-
sa órbita especial, inteiramente
separada da européia, com a qual
se movem a Ásia e a África, sem
falar na Austrália. Com tôda a
nossa simpatia e interêsse pela
Europa, côncios do que
devemos
ao influxo europeu, produto que
somos do transbordamento das ra-
ças européias, duvidando mesmo
que em nosso solo as hastes da
cultura européia possam produ-
zir os mesmos frutos ou as m65-
mas flores que
no próprio
solo,
somos todavia um sistema políti-
co inteiramente desligados da ór-
bita européia".
Esclarecida assim a posição
da
América em face da Europa, cou-
be ainda a Joaquim
Nabuco ini-
ciar o trabalho do Brasil para
dis-
sipar velhas prevenções
da Amé-
rica espanhola com os Estados
Unidos e sua aversão à doutrina
de Monroe. Afim de assegurar o
êxito da Conferência do Rio de Ja-
neiro, que
constituiu um sólido
marco fincado na estrada larga
do pan-americanismo, êle ainda
escrevia: "...
é necessário que
as
Repúblicas Americanas não jul-
guem o
papel que os Estados Uni-
dos tiveram e teem que
represen-
tar para
defender a doutrina de
Monroe, como ofensivo de modo
algum ao orgulho e dignidade de
quaisquer delas, mas, ao contrá-
rio, como uiíi privilégio que
tô-
das devem apoiar, ainda que
seja
só com a simpatia e gratidão.
Is-
so será, sem dúvida, o resultado
da Conferência Pan-Americana".
Mais adiante acrescentava: "Es-
sas conferências são os meios de
comunicação, enquanto não se
tornam a comunhão das Repúbli-
cas americanas".
O Brasil e a doutrina
de Monroe
Desde essa época, a diplomacia
brasileira não cessou de trabalhar
no sentido de; ampliar a interpre-
tação da doutrina de Monroe, vi-
sando incorporá-la ao pan-ameri-
canismo e ao mesmo tempo pro-
mover a organização efetiva da
defesa do continente. Na Con-
ferência do Rio de Janeiro,
Elihu
Root favoreceu êsse trabalho,
acentuando no seu discurso:
"Não
desejamos vitórias senão as da
paz; território senão o nosso; so-
berania alguma, a não ser a so-
berania sobre nós mesmos.
20 CULTURA
Consideramos a independência
e a igualdade do direito do me-
nor e do mais fraco membro da
família, com o mesmo título a se-
rem respeitadas que as do mais
vasto império; e consideramos a
observância desse direito a prin-
cipal garantia
dos fracos contra a
opressão dos fortes.
Não reclamamos nem
quere-
mos direitos, nem privilégios,
nem
poderes, senão os
que francamen-
te reconhecemos a cada Republi-
ca americana.
Desejamos aumentar a nossa
prosperidade, expandir o nosso
comércio, crescer em riqueza, em
saber e em espírito; porém a nos-
sa concepção do verdadeiro cami-
nho, para
isso conseguir, não é
derrubar os outros e aproveitar-
mos da sua ruína, mas sim, auxi-
liar todos os amigos a alcançar a
prosperidade geral
e a riqueza co-
mum, afim de que juntos possa-
mos tornar-nos maiores e mais
fortes".
A Conferência do Rio de Ja-
neiro reformou mais uma vez o
Bureau de Washington, incum-
bindo-o de preparar
o programa
poiiinoA
das Conferências e
promover
a
ratificação de suas deliberações.
Os problemas
economicos, finan-
ceiros, de comunicações, sanitá-
rios, de policia,
as marcas de f«.i-
bricas, as relações comerciais fo-
ram assuntos que avançaram
bastante. Uma Junta
de Júris-
consultos, da qual participariam
pelo menos doze
países america
nos, foi incumbida de promover
a codificação do Direito Interna
cional americano, de organizar
um Código de Direito Internado-
nal Público e outro de Direito In-
ternacional Privado, baseados nos
tratados e convenções da Améri-
ca, nos tratados de Montevidéu
e nos projetos
da segunda Confe-
rência Internacional Americana.
A extraordinária projeção dos
grandes homens que participaram
da Conferência, um ambiente em
que se desenvolveram
os traba-
lhos, as conclusões a que
chega-
ram os delegados, fizeram com
que essa assembléia fosse consi-
derada uma etapa decisiva na pe-
nosa evolução da idéia da união
dos países
americanos para a de-
fesa coletiva do continente.
Açudagem e irrigação no Nordeste
O fator
"tempo"
na solução do problema
econômico-
social da região seca
OSIAS GUIMARÃES
Da Comissão de Serviços Complementares
da Inspetoria de Sêcas
Servindo como engenheiro e técnico do serviço de obras contra as sêcas
do Nordeste brasileiro, autor de uma obra recentemente publicada,
"Amor
à Terra" (Rio, 1941), sobre as realizações do Governo no Nordeste
—
expõe-nos o autor nêste artigo, o estado atual dos serviços de açudagem e
irrigação. tles exigem o fator
"tempo"
para serem resolvidos; mas
já
estão hoje em vias de franco e cabal solucionamento.
"Não temos a
preterição de apresentar resultados conclusivos,
mesmo após três anos, porque as
questões sociais evoluem, carecem
de uma compreensão poli-angular e não se deixam interpretai
somente pela rigidez matemática dos números estatísticos".
(GUIMARAES DUQUE
— Fomento da Produção Agrícola)
O
SISTEMA governamental
do País, melhorado pelas
idéias esboçadas na revolu-
ção de
30 e completamente
esta-
belecido com a organização do
Estado-Novo, trouxe como conse-
quência fundamental a modifica-
ção de hábitos, até então arraiza-
dos e que
só um trabalho eficien-
te com demonstrações práticas e
honestas conseguiu transformar.
O curto período presidencial,
sujeito a variações bruscas, ao sa-
bor de correntes políticas
domi-
nantes, criou uma mentalidade
prejudicial ao brasileiro, sempre
apto a receber as inovações pra-
ticadas com a preocupação pri-
mordial de verificar imediatamen-
te o fruto dessas iniciativas que
quasi sempre caíram no descrédi-
to pela
impossibilidade de reali-
zação no curto prazo
estabelecido.
O regime das
"clássicas
O
plataformas"
Vivia-se então no regime das
"clássicas
plataformas" que conti-
nham uma série de promessas
de
cuja conclusão dependia a conti-
nuação do mesmo sistema de go-
vêrno, com a prévia
aceitação do
••
CULTURA POLÍTICA
candidato, escolhido anteriormen-
te pelos poderes políticos.
Estas soluções de continuidade,
entravando o desenvolvimento do
País, trouxeram como consequên-
cia a apresentação de inúmeros
trabalhos até certo ponto
úteis à
Pátria, mas de cujo valor depen-
dia o período
em que
deveriam
ser executados.
O sucesso de uma administra-
ção estava
portanto na razão di-
reta das realizações efetuadas den-
tro de um prazo
relativamente
curto.
O nosso espírito, criado num
regime cuja base principal
se
apoiava na assertiva que
fizemos
linhas acima, até hoje sofre êstes
efeitos perniciosos que
só um
trabalho inteligente, mercê de
propagandas honestas conseguirá
modificar.
O êxito da forma
de governo
O segrêdo portanto
do êxito de
uma forma de govêrno
residirá
na confiança que
a Nação deposi-
tar em seus dirigentes.
O Estado-Novo, criado em 37,
parece ter compreendido a impor-
tância dêste problema
essencial à
vida e progresso
do País.
Uma forma de govêrno,
cujo
fator de sucesso depende do ele-
mento tempo para
solução de seus
problemas, está invariavelmente
sujeita a fracassos, porque
ela in-
sensivelmente provoca
no espíri-
to dos observadores a atenção pa-
ra determinados pontos
cuja cri-
tica fortalecerá ou diminuirá os
seus propósitos por
mais louvâ-
veis que
sejam .
Podia-se pensar
na organização
do ensino público
se esta organi-
zação estivesse sujeita a transfor-
mações num período
relativamen-
te curto de 4
anos?
Ter-se-ia a solução do proble-
ma da siderurgia se fatores políti-
cos, sugeitos a transformações tem-
porárias, modificassem o ritmo
indispensável à sua conclusão?
A lógica apoia positivamente
o
nosso ponto
de vista.
Se questões,
cujo fim está niti-
damente estabelecido, sofrem es-
sas modificações prejudiciais
o
que poderemos dizer de
proble-
mas de relevada importância so-
cial-econômica, cujo fator êxito
dependerá exclusivamente de ob-
servações cuidadosas e demoradas?
Não seria o antigo regime, per-
tubado pelas
transformações pe-
riódicas, a causa da insolubilida-
de de inúmeras questões que
hoje
vêm sofrendo soluções adequadas
dentro dos princípios
normais de
trabalho?
Só se procura
construir alguma
coisa com a certeza absoluta de
conclusão que
será assim o justo
prêmio dos esforços dispendidos.
Mas, quando
não existe essa
certeza absoluta, não nos encora-
ja a iniciativa de determinados
estudos, ora com o receio natural
e humano de um fracasso por
fal-
ta de tempo indispensável, ora
pelo desgosto
que muitas vêzes nos
causa a incompreensão que
trás
como conseqüência a paralização
de serviços.
Não nos parece
necessário des-
cer a minúcias ou citar exemplos
para melhor explicar o nosso
pon-
to de vista.
Uma das maiores obras
do Brasil
O Govêrno Ge túlio Vargas exe-
cuta no Nordeste uma das maio-
AÇUDAGEM E IRRIGAÇAO DO NORDESTE 23
res obras que
o Brasil conseguiu
realizar até a presente
data. E
no entanto êste serviço, que
é um
verdadeiro atestado do valor e
operosidade dos técnicos nacio-
nais, teve o seu ritmo de trabalho
por diversas vêzes interrompido,
dependendo a sua melhor ou
peior situação dos
governos que
se sucediam vertiginosamente e
que demonstravam interêsse ou
não pelas questões
nordestinas.
Não se desconhecia em absolu-
to a extrema necessidade de se re-
solver um problema
social de
magna importância. E não falta-
ram também exemplos que
enco-
rajassem os nossos dirigentes no
combate às causas que
impossibi-
litavam o desenvolvimento eco-
nômico social da região.
No entanto, por
diversas vêzes,
o serviço foi interrompido.
Em determinadas ocasiões uma
larga distribuição de verba era
endereçada à repartição compe-
tente. Noutras, a importância a
distribuir era tão ridícula que
praticamente desaparecia o servi-
ço de assistência à região sêca. E
nessas alternativas escoava-se um
tempo precioso
sem que
se conse-
guisse chegar a uma solução
pra-
tica, capaz de compensar as des-
pesas efetuadas.
Havia portanto,
como existe
hoje em dia, um paralelo
entre o
desenvolvimento dos trabalhos
da Inspetoria e o período presi-
dencial em vigor.
Estabelecido um progra-
ma de ação
A partir
de 30, porém,
foi esta-
belecido um programa
de ação
para a Inspetoria de Sêcas e dos
resultados colhidos por
êste im-
portante órgão dos serviços
pú-
blicos pode-se
avaliar a atuação
de um governo, que
além de ter
a seu lado o número necessário
de técnicos competentes, soube
contar com um fator primordial,
que é o tempo, base onde se apoia
sua ação construtora.
Dos trabalhos executados pela
Inspetoria Federal de Obras Con-
tra as Sêcas não se pode
esperar
um resultado prático
subordina-
do a um espaço de tempo prévia-
mente estabelecido. Êsse é justa-
mente o êrro em que
labutam os
eternos descontentes ou aquêles,
que ainda não afeitos ao novo re-
gime, criticam o valor de uma ad-
ministração pelo programa
apre-
sentado e pelo
tempo que
dispõe
para a execução dos serviços.
O problema
econômico-
social da região
O problema
econômico-social
da região sêca há de ser soluciona-
do com a lentidão que
o caso re-
quer, explorando-se
previamente
o terreno, verificando-se as ques-
tões minuciosamente, empregan-
do-se enfim meios que podem
va-
ri ar, de acordo com os fatores
existentes.
Não há termo de comparação
entre os serviços outrora realiza-
dos no Nordeste e a finalidade
que resulta de um estudo cuida-
cioso, destinado a colhêr, sem pra-
zo previamente
determinado, os
frutos provenientes
da melhoria
de uma região, que
apresenta co-
mo garantia
indispensável, possi-
bilidades econômicas de grande
alcance.
Não desconhecemos em abso-
luto os esforços dispendidos no
24CULTURA POLÍTICA
auxílio aos flagelados do Nordcs-
te. Foram, porém,
ações isoladas,
passageiras, que muito serviram
aos necessitados mas pouco
influi-
ram, no ponto
de vista econômico-
social, à região sôbre a qual
se
abateram os flagelos do inverno
rigoroso e da seca impiedosa.
O estudo das secas do
Nordeste
Não é recente entre nós o estu-
do das sêcas do Nordeste. Acom-
panhando a História, vamos en-
contrar referências sôbre o assun-
to no século XVII (1625,
1777
e 1791), onde tres períodos,
rela-
tivamente longos, assolaram o
Ceará, Rio Grande do Norte e
Paraíba.
Partindo desta data, verifica-
mos a sucessão alarmante das va-
riações climáticas que
impossibi-
litou as condições normais de
vida de uma região, outrora fértil
e produtiva.
Ainda no tempo do
Império as conseqüências desas-
trosas da terrível sêca de 1877 ser-
viram para que
o Govêrno passas-
se a olhar de modo diferente o
problema, tal o desiquilíbrio eco-
nômico verificado após 31
anos dc
bons invernos, que
haviam colo-
cado a região numa posição
inve-
jável na balança comercial do
País.
A despesa de 8o.ooo:ooo$ooo na
sêca de 77
serve como atestado fri-
sante do interesse do Govêrno em
auxiliar a região flagelada.
Infelizmente o impulso inicial,
até certo ponto
explicável pela
situação de miséria existente, li-
mitava-se mais a uma obra de as-
sistência momentânea do que pro-
priamente ao estudo de uma
ques-
tão que
custou ao País uma de>-
pesa considerável e largos anos de
estudo.
Como bem diz o articulista
Naílor Vilas Boas...
"... o sentimento religioso
afinado ante o espetáculo dz
miséria extrema generalisada,
todo o impulso dos dirigentes
se conduzia muito naturalmen-
te, no sentido de caridade ape-
nas. . .
O impulso humanitário do Go-
verno teve influência capital no
auxílio que
se fazia mister.
Amparava-se, portanto,
o lio-
mem, o que
de fato era indispen-
sável, mas se esqueciam da causa,
da região, que
se devia melhorar
como único meio de combate efi-
caz às situações que
desta maneira
se criavam.
E o problema por
largo espaço
de tempo continuou o mesmo, so~
frendo modificações, de acordo
com as variações existentes no am-
biente. E pelo
resumo que
iremos
fazer das atividades no tempo do
Império, pode-se
muito bem ava-
liar de que
modo o Govêrno en-
carou a questão
e quais
os meios
que dispunha
para resolvê-la.
A primeira provi-
delicia oficial
Em 1831 surgiu a primeira pro-
vidência oficial com um decret >
que autorisava a abertura de
"fontes
magnesianas", podendo
o
Govêrno empregar engenheiros
naturais ou mandar vir da Euro-
pa engenheiros hábeis em as fa-
zer.
Em 1844 cogitou-se da constru-
ção de açudes e em 1847-48 a Pro-
víncia da Paraíba manteve uma
AÇUDAGEM E IRRIGAÇAO DO NORDESTE 25
comissão para
estudo do interior,
com a finalidade de indicar e pro-
jetar as obras
que se tornassem
necessárias .
Apesar de algumas outras me-
didas tomadas sobre o assunto, a
seca de 77 quasi
nada encontrou
que lhe
podesse servir de obstá-
culo e só então o problema
se re-
vestiu de gravidade,
chegando ao
ponto de
provocar imediata rea-
ção por parte do Governo,
que,
como já
dissemos, refletiu-se sô-
bre elevado número de retiran-
tes, vítimas do terrível flagelo.
Mas a situação continuou a
mesma, com pequenas
alternati-
vas, até o advento da República
onde começaram a ter lugar as
obras de assistência à região sêca.
Assim vamos encontrar no ano
de 1900 um crédito de dez mil
contos de réis (io.ooo:ooo$ooo)
para ser empregado com o apro-
veitamento de indigentes. Foi
efetuada a construção de açude >
(Acaraú-Mirim, Jordão, Panta e
Paparí, sendo muito curto o pe-
ríodo de execução, pois
em 1901
os trabalhos foram suspensos.
Teve lugar então o despovoa-
mento da região nordestina com
a remessa de braços para
a Ama-
zônia, solução que
no momento
pareceu a mais indicada.
O inicio do serviço no
governo Rodrigues
A Ives
N o Govêrno Rodrigues Alves
começou o serviço a adquirir uma
certa feição, registrando-se a cria-
ção de diversas Comissões, tais co-
mo: a Comissão de Açudes e Irri-
gação, com séde no Ceará, a Co-
missão de Estudos e Obras Con-
tra os Efeitos das Sécas e a Co-
missão de Perfurações de Poços.
Em 1906, ministro Lauro Mui-
ler, houve a fusão das tres Comis-
sões, sendo criada a Superinten-
dência de Estudos e Obras Contra
as Sêcas.
Somente no Govêrno Afonso
Pena, sendo ministro Miguel Cal-
mon, iniciou-se o desenvolvimen-
to das atividades governamentais.
Na presidência
Nilo Peçanha,
ministro Francisco Sá, foi criado
o verdadeiro órgão dos serviços
públicos e com o Decreto n.°
7619,
de 21 de Outubro, teve lugar a
instalação da Inspetoria que pas-
sou a funcionar sob a direção de
Arrojado Lisboa, abrangendo um
campo de ação no total de nove
Estados, isto é, do norte de Minas
até o Piauí.
Constantes alterações
Desta data em diante o ritmo
de vida da Inspetoria foi constan-
temente alterado. Inúmeras re-
formas se realizaram e em 1920,
com a formação da Caixa Espe-
ciai das Obras de Irrigação, pou-
de o Governo realizar diversos tra-
balhos de grande
significação téc-
nica.
O Decreto 16.403 de 12 de
Março de 1924 extinguiu a Caixa
Especial e houve uma verdadeira
paralização dos serviços
que tão
destacadamente se vinham im-
pondo.
De 1924 a 1930 muito pouco
te-
mos a registrar, sendo a partir
desta data traçado o programa
da
Inspetoria que
hoje vem se desen-
volvendo em toda expressão do
seu valor, constituindo, com a fi-
nalidade de seus serviço se pelos
técnicos de que
dispõe, um ele-
mento de primeira grandeza
na
'
26CULTURA POLÍTICA
obra de reerguimento econômico
que o Govêrno Vargas vem exe-
cutando no País.
Como poderemos
explicar as
alterações que pertubaram
a fina-
lidade do importante serviço cria-
do para
atender as necessidades
do Nordeste? Os dados econônu-
cos a partir
de 1909 esclarece-nos,
por um lado, êste detalhe:
1909/10
1911/14 ;
1915/18 (inclusive crédi-
ditos especiais por fôr-
ça de sêcas)
1919/22 (vigência da
Caixa Especial) . . •
1923/26
1926/30
Os resultados no pe-
riodo 1930-40
Os resultados obtidos no perío-
do 30-40
mostra-nos realmente o
motivo porque
sòmente agora se
consegue alguma coisa de aprovei-
tável na resolução dos problemas
de irrigação e da melhoria do am*
biente econômico-social da região
sêca.
Não existe mais a preocupação
de executar um serviço dentro de
um espaço de tempo limitado. Se-
gue-se à risca um
programa tra-
çado e os seus orientadores, inte-
grados num mesmo sentimento
patriótico, dispendem as suas
energias na certeza absoluta de
que atingirão um fim colimado,
que será o
justo prêmio dos es-
forços empregados numa luta
constante contra a natureza in-
grata do sertão. E os
que caem
no caminho do dever incentivam
os demais no prosseguimento
da
grande obra.
A direção dos trabalhos
A Inspetor ia Federal de Obras
Contra as Sêcas possue
uma pléia-
1.545*.6o5$6i9
I7-972:i33$i83
19.ii2:o27$3oo
o
316.507:7858899
87.O56:275$526
35.644:1195731
de notável de técnicos, dirigidos
por um orientador esclarecido,
espírito afeito aos problemas
do
Nordeste, engenheiro Luiz Augus-
to da Silva Vieira. O número de
publicações atesta o trabalho exe-
cutado e hoje quem percorre
os
sertões da Paraíba pode
verifi-
car os resultados colhidos pela
Comissão de Serviços Complemen-
tares, que
teve como seu organi-
zador e orientador a figura ines-
quecível de
José Augusto Trin-
dade, cujo desaparecimento re-
cente representa uma perda
ines-
timável para
a Pátria.
Um dos seus últimos trabalhos,
"Os Postos Agrícolas da Inspeto-
ria de Sêcas" é um resumo magní-
fico das atividades governamen-
tais no amparo à lavoura, na as-
sistência à pecuária
e no auxílio
indispensável ao homem do ser-
tão. Por êle podemos
verificar
"a
ação direta dos Postos Agrícolas
sobre o ambiente sertanejo, como
amostra, exemplo e encaminha-
mento da própria
lavoura irriga-
da da região em suas estreitas re-
lações com o mesmo ambiente".
Não teve êsse serviço, de real
AÇUDAGEM E IRRIGAÇAO DO NORDESTE 27
Importância, a preocupação
dos
ciados estatísticos.
A função dos Postos
Agrícolas
"O
que os Postos Agrícolas da
I. F. O. C. S. realizam, com re-
sultados concretos, é um estudo
experimental imediato da irriga-
^ão no sertão, nos seus vários as-
pectos, econômico, agronômico e
sociológico. E' a entrosagem da
irrigação no ambiente físico, eco-
nômico e social do sertão". (José
Augusto Trindade).
Os Postos Agrícolas atuam,
pois, diretamente, no sentido de
melhorar as condicões: de vidaj
na região seca.
Nêles reside o aproveitamento
das grandes
obras hidráulicas, que
a engenharia tiacional, numa ma-
gnífica demonstração de valor e
técnica, executa no Nordeste. E
pelo número de trabalhos
que
vem realizando, pode-se
ter uma
idéia de sua importância e do
quanto tem contribuído
para a re-
solução do problema
social-eco-
nômico da região:
"métodos
de preparo
do solo
para a irrigação, regras
para
aplicação dágua; ensaios de ada-
ptação de unia numerosa cole-
cão de novas espécies e varie-
dades de plantas
de valor eco-
nômico, estudo comparativo 5Ô-
bre as culturas de exploração
mais conveniente sob irrigação,
do ponto
de vista de adaptabi-
lidade ao meio, de colocação
nos mercados e de rendimento;
a associação da criação à irri-
gação, aproveitando os nossos
recursos forrageiros desta deri-
vados, em suplemento às fon-
tes naturais de gramíneas
e ra-
ma; formação de reservas for-
rageiras pela
fenação e ensila-
gem; observações sobre o com-
portamento no sertão dentro
das novas condições trazidas pe-
la irrigação, de raças finas de
bovinos, porcinos
e aves e o seu
cruzamento com o gado
criou-
lo
".
(José Augusto Trindade —
Boletim da IFOCS — 1940).
Os Postos Agrícolas, dotados de
técnicos competentes, realizam
suas experiências em todos os se-
tores da atividade biológica, sob
o ponto
de vista fundamental da
irrigação.
A recente instalação dos labo-
raiórios no Posto Agrícola de São
Gonçalo veiu tornar possível
a
solução de inúmeros problemas
da agricultura irrigada e de ques-
toes agrológicas, peculiares
ao
Nordeste.
A assistência à lavoura e à pe-
cuária, o aproveitamento econômi-
co da flora indígena, serviços de
cooperação, questões
de sociolo-
gia rural, tudo enfim faz
parte do
programa traçado
pela comissão
de Serviços Complementares, cujos
resultados podem
ser, em parte,
apreciados.
No seu importante trabalho,
"Fomento
da Produção Agrícola",
o agronômo Guimarães Duque
traça em planos gerais
a conduta
a se seguir 110 Nordeste com rela-
cão ao desenvolvimento da agri-
cultura.
E* um verdadeiro programa,
on-
de estão bem esclarecidos os pon-
tos em que
se deve apoiar o Go-
vêrno na obra de assistência ao
sertanejo e na fixação do elemen-
to indispensável à terra.
28CULTURA POLÍTICA
"O flagelado é
pobre, o seu
capital inicial é a sua moral e
a de seus filhos. O colono ir-
rigante precisa
ser moldado,
trabalhado, formàdo nas minu-
cias de qualidades
morais e nos
conhecimentos técnicos para
a
nova vida".
A melhoria das con-
dições de x'ida
A melhoria das condições de
vida do sertão não pode
ser obti-
da, senão após longos anos de ex-
perinientação e trabalhos bem
orientados.
As experiências feitas pelo
agrô-
norao Guimarães Duque, atual
Secretário da Agricultura do Es-
tado da Paraíba, revelaram a pos-
sibilidade de se atingir a um fim
previamente determinado, ressal-
tando o fator tempo, como pon-
to principal
da questão.
O preparo
da terra e o rendi-
mento obtido nas culturas de di-
versos operários do Posto foram
largamente compensadores nas
experiências feitas
por aquêle
ilustre profissional.
O resultado obtido pela
divi-
são de determinada área de ter-
ra (16
hectares) por
um número
proporcional de
pessoas (16 famí-
lias) constituiu a base do estudo
do importante problema
da colo-
nização da bacia de irrigação.
O desenvolvimento das escolas
rurais, os ensinamentos técnicos
indispensáveis, tudo isto enfim, fa-
zendo parte
dos trabalhos da Co-
missão de Serviços Complementa-
res, contribuiu poderosamente pa-
ra a grande
obra que
o Govêrno,
por intermédio da Inspetoria Fe-
deral de Obras Contra as Sêcas,
vem realizando em pról
do desen-
volvimento econômico da impor-
tante região.
"Compreende-se
que as sêcas,
como fenômenos naturais não
possam ser evitadas, mas é cri-
me não lhes neutralizar os efei-
tos devastadores pela
execução
de uma série de medidas previ-
dentes". (Getulio
Vargas).
Nossa política
de comunicações
O plano
Bicalho e o plano
Bulhões
MARIO TRAVASSOS
Tenente-Coronel, Instrutor-Chefe do Curso de Pre-
paração da Escola de Estado Maior do Exército
Nêsse estudo o autor pretende
reconstituir os fundamentos e a evolução
da política
de comunicações brasileira, apreciando os fatos à luz das regiões
naturais de circulação que
admitiu, para
o nosso território, no ensaio
saido a lume no primeiro
número desta Revista. Deve-se ainda acres-
centar que
o presente
trabalho, assim considerado, servirá de base ao
estudo do Plano Geral de Viação Nacional que
corporifica a atual política
de comunicações brasileira.
COMETERIA
grave injustiça
quem deixasse de reconhecer
os sérios esforços, já
dispen-
didos pelos
homens públicos
bra-
sileiros, para garantir
a unidade
e a segurança de nosso país por
meio de judiciosa política
de co-
municações.
Como veremos, as linhas de
menor resistência ao tráfego em
nosso vasto espaço geográfico,
ou
melhor, as suas linhas naturais de
circulação, não passaram
desper-
cebidas aos responsáveis pela
coi-
sa pública
em nosso país, pelo
me-
nos a partir
do momento em que
se tornou possível, para
êles, en-
saiar visões de conjunto sôbre os
problemas nacionais.
Infelizmente, pode-se
hoje cons-
tatar, por
estudos retrospectivos,
que todos os seus esforços não
conseguiram dominar senão a pri-
meira parte
da tarefa de crear-se
uma política
de comunicações, de
vez que
uma tal poltica
só se ma-
nifesta no terreno da prática pe-
la escolha judiciosa, pelo
emprê-
go adequado de meios de trans-
porte mais aptos à neutralização
de certas anomalias viatórias, no
caso brasileiro causadas por
uma
evolução histórica a mercê do pre-
domínio, mais ou menos genera-
lisado, das influências marítimas.
Sempre que
abordámos a segun-
da parte
da formulação de nos-
sa política
de comunicações —
a
parte essencial
porquanto só os
meios de transporte podem
dar vi-
da às linhas naturais de circula-
ção
— temos nos deixado vencer,
quer pela visão imediatista ori-
unda de pressões
regionais, quer
30 CULTURA POLÍTICA
por preconceitos gerados pela téc-
nica dos meios de transporte ou,
ainda, por
ambas essas forças ne-
gativas conjugadas, isto é, atuan-
do concurrentemente.
Desse estado de coisas resultou
que, em
princípio, quasi sempre
pudemos ver bem a
questão dos
traçados, mas quasi
nunca temos
podido realizá-los.
O primeiro plano
de
viação nacional
Sòmente em 1881, as linhas ge-
rais de uma política
de comuni-
cação poude
ser formulada num
plano de viação
que, por sua en-
vergadura, poder-se-ia
chamar de
nacional.
Devemos esse plano
ao Enge-
nheiro Honório Bicalho, então
chefe da Diretoria de Obras Pú-
> blicas que,
segundo instruções
recebidas, organizou o projeto
da
rede geral
das comunicações bra-
sileiras, para
efeito de uma lei
que o Govêrno Imperial apresen-
taria ao Poder Legislativo.
Da exposição com que
apresen-
ta a seu plano,
cumpre-nos fazer
os precisos
comentários sôhre tres
de seus tópicos, destacados pelos
autores do plano
de viação na-
cional vigente.
No primeiro
désses tópicos con-
ceitúa o Engenheiro Bicalho:
"Se
até aqui, quando
havia
maior massa de interesses co-
merciais a satisfazer em primei-
ro lugar, podia
bastar para
a
distribuição do favor da lei a
procura promovida pelo espí-
rito de iniciativa industrial e
de associação, é hoje indispen-
sável que
o Govêrno adote um
sistema para
uso de nova lei,
de modo'a fazer convergir seus
favores de preferência para
as
emprezas que
dêles mais carece-
rem e segundo a urgência de
sua realização".
Nesse primeiro
tópico transpa-
rece, pela primeira
vez, a necessi-
dade de orientar-se as atividades
no sentido dos interesses nacio-
nais e a preciosa
noção da ordem
de urgência, como dos mais es-
senciais às condições de execução-
dos trabalhos viatórios.
No segundo tópico diz o Enge-
nheiro Bicalho:
"Para
base desse sistema e
necessário estabelecer o plano
das grandes
linhas principais
de
viação, que
devem facilitar co-
municações internas entre todas
as províncias
do Império e pro-
porcionar entroncamentos mais
próximos às vias de comunica-
ções de mais ou menos limita-
do interêsse local, que
levem a
todos os pontos
o benefício de
um meio de transporte aperfei-
çoado".
Nêsses conceitos lança o Enge-
nheiro Bicalho a idéia dos gran-
des troncos, com os quais
deve-
riam articular-se vias ou redes tri-
butárias, noção essa fundamental
em qualquer
sistema de comuni-
cacões.
Finalmente, no terceiro tópico,
dos citados no atual Plano de Via-
ção e
que estamos comentando,
conceitúa, ainda, o Engenheiro
Bicalho:
"O
primeiro meio
que mais
naturalmente se apresenta para
vencer as grandes
distâncias que
quasi isolam as diversas
provín-
NOSSA POLÍTICA DE COMUNICAÇÕES 31
cias do Império é utilizar a na-
vegabilidade natural e aperfei-
çoada dos rios mencionados e
dos seus afluentes e ligá-los por
meio de estradas de ferro con-
venientemente traçadas em po-
sição das grandes
linhas futu-
ras, e formar assim primeiras
linhas gerais
mixtas de viação a
vapor, que
atuem como gran-
des artérias para
levar o movi-
mento da vida intelectual e o
impulso do progresso
das capi-
tais a todos os pontos
do gigan-
te corpo do Brasil".
Nesse terceiro e último tópico,
dos escolhidos para
a caracteriza-
ção do Plano Bicalho, ressaltam
dois aspectos decisivos para
a de-
terminação de uma política
de
comunicações, num território
complexo como o do Brasil, a
saber:
i.° —
a idéia de assegurar a
continuidade das comu-
nicações, naturalmente
pelo emprego de trans-
portes mistos;
2.0 —
fazê-lo de modo a facili-
tar, de futuro, a homo-
genização dos transpor-
tes,
como que
o seu plano
assume ca-
ráter de objetividade realmente
espantosa para
sua época. E essa
objetividade reside precisamente
no emprego de meios de transpor-
tes adequados, lançando-se mão da
máquina a vapor, sem dúvida o
índice daqueles tempos, que
a
rapidez atual dos meios de trans-
porte moto-aéreos começa a tor-
nar longínquos.
Os troncos Bicalho e
as regiões naturais
de circulação
Mas não é êle modelar sòmente
pelo acêrto dessa objetivação
quanto ao emprêgo dos meios de
transporte, senão, também, pelo
traçado de seus troncos como se
pode verificar de breve discussão
do esboço anexo.
Pelo seu Grande Leste Oeste,
(i.° Tronco)
poria São Salvador
em contato com Belém do Pará
e, consequentemente com a na-
vegação do Rio Amazonas, por
meio de três segmentos terrestres
e tres segmentos fluviais.
Pelo seu Grande Central Norte
(2.0 tronco),
poria o Rio de
Ja-
neiro em contacto com S. Luiz do
Maranhão por
meio de tres seg-
mentos terrestres e dois segmen-
tos fluviais. Por cruzamento com
o i.° Tronco (Grande
Leste-Oes-
te) ligaria também o Rio de Ja-
neiro e São Salvador a Belém do
Pará.
O São Francisco, continuando
o seu papel
histórico, constitui-
ria, assim, o verdadeiro nexo do
sistema de comunicações ao Nor-
te e com o Norte.
Com êsses dois troncos fica-
riam estabelecidas a corda do pe^
queno arco de círculo do Nordes-
tc (São
Salvador -
São Luiz) e a
corda do grande
arco de círculo
do segmento litorâneo em que
predominam as convexidades da
costa (de
Vitória para
o Norte).
O pequeno
trecho do S. Fran-
cisco entre a barra do Rio Gran-
de e Joazeiro
faria a ligação entre
essas cordas, promovendo
assim
dois entroncamentos de suma im-
portância político-militar:
33 CULTURA
o de Joazeiro
em relação ao
Nordeste;
o da barra do Rio Grande
em relação à Amazônia, ateit-
dendo, assim, às regiões na-
turais de circulação do Nor-
te e do extremo Norte.
Continuando o exame do Pia-
no Bicalho verifica-se que pelo
seu
Grande Central Sul (3.0
tronco)
estabeleceria a ligação do Rio de
Janeiro com o Rio Grande do Sul
por meio de um segmento terres-
tre de São Paulo ao alto Paraná,
continuando por
um segmento
fluvial integrado por
êsse rio e
um seu afluente, admitamos o
Piquirí, e prolongado por
um se-
gundo segmento terrestre,
que
cortaria os Estados do Paraná e
Sta. Catarina rumo Sul.
O alto Paraná seria comum a
êsse $.°
tronco e ao 4.0
tronco —
ao Grande Noroeste —
o qual por
Mirandas —
São Luiz de Cáceres
— Matto Grosso —
Porto Velho
poria em comunicação São Paulo
com Belém do Pará por
meio de
quatro segmentos terrestres e
qua-
tro segmentos fluviais —
o alto
Paraná, o alto Paraguai, o Gua-
poré, o Madeira e o Amazonas
constituiriam êstes segmentos.
Como se vê, as zonas essenciais
das regiões naturais de circula-
ção do Sul e do extremo Sul fi-
cariam atendidas, e. por
uma ou-
tra via mais interna, seria alcan-
çada de novo a região natural de
circulação do extremo Norte.
E' merecedora de todo apreço,
por sua alta significação
político-
militar, a preocupação
do Enge-
nheiro Bicalho —
com o seu
Grande Leste-Oeste e o seu Gran-
de Noroeste —
em procurar
a neu-
POLÍTICA
tralização da excentridade da
Amazônia. Ainda é interessante
notar que
a continuidade de co-
muni cações da bacia do Prata às
bocas do Amazonas constituiria
pelo menos o esboço de uma
pri-
meira trapscontinental em terri-
tório Sul-americano.
O plano
Bicalho e a ex-
periênciá alheia
Dentro da idéia básica de esta-
belecer a continuidade das com 11-
nicações por
meio de transportes
mistos, nos quais
deveriam pre-
dominar os fluviais, idéia básica
por nós deduzida através os con-
ceitos da exposição de Bicalho e
do traçados dos troncos de seu
Plano, não restam dúvidas sobre
que o Plano Bicalho
poderia ser
considerado perfeito
se compreen-
desse também a ligação dos seus
dois grandes
sistemas — O Cen-
trai Norte e o Central Sul —
No-
roeste —
perfeito no
quadro de
sua idéia fundamental, respeita-
mos, de:
"utilizar
a navegabilidade 11a-
tural e aperfeiçoada das vias
mencionadas e dos seus afluen-
tes e ligá-los por
estradas em
posição das
grandes linhas fu-
turas", conforme seu linguajar.
A Noroeste e a Central baiana
e mais o prolongamento
desta em
território Piauiense e a estrada
de ferro S. Luiz-Teresina, não são
outra coisa que
os traçados de Bi-
calho
"em
posição das
grandes li-
nhas futuras" segundo o seu mo-
do de dizer as coisas.
E' sensível a influência do
exemplo alheio na elaboração do
Plano Bicalho.
*
IRRIGAÇÃO NO NORDESTE — Um campo de experimentação florestal
¦
' * ¦
wmmíwÊÊÊÊlÊkm
mámmmÊmmm.
*>"¦ '-'-toi • *"
IRRIGAÇÃO NO NORDESTE — Horticultura no sertão
WM&& ¦¦¦¦ '•&•'
•'' -• -•-¦ ::.-:-:-.->x:.".-. >vte&M*&&&£;$-^'&W:?:. •• ¦';:'.&£•''&.fi ^^li^^iiliiM^^^B^MBHpwMP^. .^KwffiWS^oJBRji^^BBfc^HB^H^M^WK^aB^WHEB 9%?&*£»:
•••¦* .
|*&»>
IRRIGAÇÃO NO NORDESTE Trecho
do canal sul, talhado emrocha, vendo-ta ao fundo parte das instalações do Posto Agrícola
a]®!
¦mm* flUk|4|^^^^HBdH
^'"•"^i iffi1ffi
WZM-a
%8^&U£:
i
NOSSA POLÍTICA Dfe COMUNICAÇÕES
Em todas as partes
do mundo,
exceção feita do Brasil, a viação
fluvial se fez pioneira
dos trans-
portes e mesmo, após a interven-
<:ão de novos meios de transporte,
as aquavias não foram despresa-
das senão, bem ao contrário disso,
cada dia mais aperfeiçoados, para
que pudessem suportar a fase de
competição, que precede
sempre
a de cooperação, quando
se trata
da ocurrência de meios de trans-
porte novos.
E o mais notável no Plano Bi-
calho é a capacidade de resistên-
cia de seu autor ao ambiente fer-
ro-viarista do momento em que
lançou as suas idéias, tanto mais
«que os países
industrialisados co-
meçavam a lançar estradas de fer-
ro como vias pioneiras,
desbrava-
<loras de sertões e semeadoras de
civilização. Poucos seriam capa-
zes de ver que
assim procediam
esses países pelas
facilidades de
construção que
lhes outorgava seu
parque industrial e sem
que es-
-quecessem a estrutura de suas vias
navegáveis, cuja viabilidade ca-
<da dia mais aperfeiçoavam.
Simplistas como por
vêzes nos
permitimos ser na apreciação dos
fatos, mesmo de fatos de assom-
brosa complexidade, em regra só
consideramos navegáveis os rios
que assim o sejam em estado de
natureza. Nenhum esfôrço hu-
mano levamos em seu socorro,
nem mesmo dos mais elementares
como a dragagem, o balisamento
de canais ou o alargamento de
certos trechos, de modo a se cor-
rigirem certas irregularidades dos
"Thalwegs",
a variação do nível
das águas e da intensidade das
correntes —
nós que, por
todas as
razões, deveríamos possuir
o mais
rico parque
de transportes flu-
viais do mundo.
Ao passo que
na Europa e nos
Estados Unidos —
para não refe-
rir a exemplos de outros países
sul-americanos — o aparecimento
e a exploração comercial das vias
férreas incrementaram ainda mais
o zêlo proverbial pelo
rendimen-
to das aquavias, até pela
canaliza-
ção das
principais delas como
aconteceu ao Sena, ao Rodano, ao
Volga, ao Reno, ao Mississi-
pe, etc., e à construção de canais
navegáveis que
articulassem vias
fluviais, entre nós a viação férrea
acabaria por
atrofiar, definitiva-
mente, as vias fluviais, não pro-
priamente pela hipertrofia da-
. quelas
mas pela
inadequada re-
partição dos recursos finailceiros.
Visto como não poderíamos
ir
do Rio a Belém do Pará em via
férrea, em excelentes carros Pul-
man, acabamos por
não ir de ne-
nhum outro modo, a não ser pela
velha linha marítima.
Assim foi que
o sonho da con~
tinuidade das comunicações de
Bicalho por
meio do emprêgo de
transportes mistos, nos quais pre-
dominassem inicialmente os flu-
viais, nasceu votado ao fracasso.
Somente a excelência de seus
traçados restariam de seu Plano,
como uma luz a iluminar o cami-
nho da evolução de nossa política
viatória, que
longe de extinguir-
se reacende-se reconfortada pela
multiplicidade dos transportes de
que dispomos nesse incerto meia-
do de século.
O segundo plano
de
viação nacional
Infelizmente para
nós —
em
que pese êsse
julgamento assim a
39uKi^L':<:,iBSfiK -:-t^^*:;i-%*: r-x:*^:"-:i;%i::5><:; i"-*-%->r5;i-ftfo-x-' tY^*:^x*::&::?:vXiA.'&j&&v:v:vX'*X*:*'-;^
HB^3BHfcf^|^H^HBi^jBFijj|^^B^B^iPP^^ifl|R^E^|BaEBR^:. •• •* J^<>> :^Je9HB^KoP a
Jy|K^KM^Bp|^BH^^BBBBM^^^B^^^^^B^Bp)^jWp^R|BjBBMHBppBfey>g'j^B^W^MBi^^B^BSSj^g^l.:j^WHBI^P^>«i^k-lS^^B^^Ww«S;«6yiiyi^^^^^^BB!^^^^y>?;'v
Ai\\ ¦• ..>•¦ jc*.i** .>-.••j^P/v^•IwM^^^^M^^^^B^^BBI^^RiMMi^flflP^i^SjfcwIllBKyTA;M^BB^^^^M^B^Mg»iii&*<"%itJ@^B^B^^^^BLw^^BO^BjLiwB^J^.|»BiiWtiW^^M>^^BB^wS3?-Avy ^j\oT . jr %•>:•¦* j**.-?^^-"-' • /v|VK .^b* .vi JM^^^Wl^H!B!^^^^^^^BBB^^KIpi^m^^Hi^Kky^Pifi!3SBEkl^\'
fre^SwP^^P^^jlf &' JS^^^^K%:::x^>&'fr*:j&:::::!^lf^
¦ 9*
IRRIGAÇÃO NO NORDESTE
— Trecho do canol sul, talhado em rocha, vendo-se ao fundo parte das instalações do Posto Á9rícola
wwrnm
NOSSA política dè comunicações
Em todas as partes
do mundo,
exceção feita do Brasil, a viação
fluvial se fez pioneira
dos trans-
portes e mesmo, após a interven-
•ção de novos meios de transporte,
as aquavias não foram despresa-
<las senão, bem ao contrário disso,
cada dia mais aperfeiçoados, para
que pudessem suportar a fase de
competição, que precede
sempre
a de cooperação, quando
se trata
•da ocurrência de meios de trans-
porte novos.
E o mais notável no Plano Bi-
calho é a capacidade de resistên-
cia de seu autor ao ambiente fer-
ro-viarista do momento em que
lançou as suas idéias, tanto mais
«que os países
industrialisados co-
meçavam a lançar estradas de fer-
ro como vias pioneiras,
desbrava-
cloras de sertões e semeadoras de
civilização. Poucos seriam capa-
zes de ver que
assim procediam
esses países pelas
facilidades de
construção que
lhes outorgava seu
parque industrial e sem
que es-
•quecessem a estrutura de suas vias
navegáveis, cuja viabilidade ca-
•da dia mais aperfeiçoavam.
Simplistas como por
vêzes nos
permitimos ser na apreciação dos
fatos, mesmo de fatos de assom-
brosa complexidade, em regra só
consideramos navegáveis os rios
que assim o sejam em estado de
natureza. Nenhum esfôrço hu-
mano levamos em seu socorro,
nem mesmo dos mais elementares
como a dragagem, o balisamento
de canais ou o alargamento de
certos trechos, de modo a se cor-
rigirem certas irregularidades dos
"Thalwegs",
a variação do nível
das águas e da intensidade das
correntes — nós
que, por todas as
razões, deveríamos possuir
o mais
rico parque
de transportes flu-
viais do mundo.
Ao passo que
na Europa e nos
Estados Unidos —
para não refe-
rir a exemplos de outros países
sul-americanos — o aparecimento
e a exploração comercial das vias
férreas incrementaram ainda mais
o zêlo proverbial pelo
rendimen-
to das aquavias, até pela
canaliza-
ção das
principais delas como
aconteceu ao Sena, ao Rodano, ao
Volga, ao Reno, ao Mississi-
pe, etc., e à construção de canais
navegáveis que
articulassem vias
fluviais, entre nós a viação férrea
acabaria por
atrofiar, definitiva-
mente, as vias fluviais, não pro-
priamente pela hipertrofia da-
. quelas
mas pela
inadequada re-
partição dos recursos finailceiros.
Visto como não poderíamos
ir
do Rio a Belém do Pará em via
férrea, em excelentes carros Pul-
man, acabamos por
não ir de ne-
nhum outro modo, a não ser pela
velha linha marítima.
Assim foi que
o sonho da con-
tinuidade das comunicações de
Bicalho por
meio do emprêgo de
transportes mistos, nos quais pre-
dominassem inicialmente os flu-
viais, nasceu votado ao fracasso.
Sòmente a excelência de seus
traçados restariam de seu Plano,
como uma luz a iluminar o cami-
nho da evolução de nossa política
viatória, que
longe de extinguir-
se reacende-se reconfortada pela
multiplicidade dos transportes de
que dispomos nesse incerto meia-
do de século.
O segundo plano
de
viação nacional
Infelizmente para
nós —
em
que pese êsse
julgamento assim a
34 CULTURA POLÍTICA
"prosteriori" —
logo em 82, quan-
do aqui se reunia o Primeiro Con-
gresso Ferroviário, uma comissão
foi designada para
a elaboração
de um plano
de vi ação nacional,
de cuja orientação se pode
con-
cluir pelo
seguinte trecho do rela-
tório com o qual
aquela comis-
são apresentou os seus estudos:
"A necessidade de organizar
um plano geral
de viação fér-
rea não se pode
chamar de
idéia nova; há anos foi larga-
mente discutido no parlamen-
to e tem figurado muitas vezes
nas aspirações dos relatórios,
mas para
cair sempre no esque-
cimento. Não acreditamos que
este adiamento provenha
da fal-.
ta de vontade de ligarem os Go-
vêrnos o seu nome a tão indis-
cutível melhoramento".
Por essa simples citação pode-
se desde logo concluir que
o pro-
blema das comunicações e dos
transportes ficaram de algum mo-
do baralhados pela preocupação
exclusivista da aplicação, em lar-
ga escala, de um único meio de
transporte —
no caso a estrada de
ferro. Já,
então, podia-se
dispor,
além da estrada de ferro, ainda
da estrada de rodagem e das vias
fluviais.
De um exame, mesmo sumário,
dos traçados do plano
da referi-
da comissão, hoje conhecido pe-
la designação de
"Plano
Bulhões",
verifica-se que
só incidentemente
lança mão das vias navegáveis,
embora, faça-se justiça,
os autores
do Plano Bulhões se tivessem es-
forçado em seguir quanto possí-
vel, os traçados da rede de comu-
nicações do Plano Bicalho.
Os troncos Bulhões e as
regiões naturais de
circulação
1
Quatro seriam os seus troncos,
conforme se verifica do esboça
junto.
O Grande Leste-Oeste ligando o
Rio de Janeiro
a localidade de
Mato Grosso às margens do Gua-
poré, tronco terrestre
que, com o
prolongamento da Central, atin-
giria o divisor dáguas entre as ba-
cias do Amazonas e do Prata. Pas-
sando por
Goiás, Cuiabá e São
Luiz de Cáceres, esse tronco já
in-
sinuava a aspiração de atingir-se
o planalto
Boliviano.
O Grande Central Sul, tronco
também terrestre, ligando, por
S.
Paulo, o Rio de Janeiro
à rede fer-
roviária do Rio Grande através a
faixa do território entre o Rio
Paraná e o Oceano.
Dêsses dois troncos soo segun-
do atenderia às necessidades do
fácies circulatório da região na-
tural de circulação do Sul, de
vez que
o primeiro
escapa fran-
camente à órbita dessa região na-
tural de circulação do espaço geo-
gráfico brasileiro.
Se levarmos em conta o que
es-
tá realizado, verificaremos a supe-
rioridade do Plano Bicalho sobre
o Plano Bulhões nesta região na-
tural — a Noroeste nada mais fez
do que
retificar o traçado do Pia-
no Bicalho, fato aliás previsto
quando ele
preconisava
"ligar
as
vias navegáveis por
estradas de
ferro em posição
das grandes
li-
nhas futuras", o mesmo aconte-
cendo com o traçado de seu Gran-
de Central Sul, retificado pela
S.
Paulo-Rio Grande que, por
sua
vez, ratifica o traçado do Gran-
NOSSA POLÍTICA DE COMUNICAÇÕES
35
\
—'' |
S A MAZONAS I
j PA r!a
)
¦\^coiLr---. / # \ / .N\
\w**ifc-4 J
I \ *V
**>. **••,' i|/ ^ • . KV / jwfcfojfcr-
-----fypttfil |
I \% fcuAMQA *w» • V "'y^^xj^npc ^
jKtCirt I
.. >-*»«.-«. MCRQ)J0 ./ fv'i
jPr*>*+Cr*rkk >yfA*ACAJU' I
r|
/
,l^.iBAIA P'*">***
-
M«A(I«| I I
/ Lx j^'^^i6ERAes/ j
I
II ^-^s==a^ *».. J5/T* \ 1 • WW** I
4NW0\ I .-*/
J
PLANO BULHOCJ
|
——^_—— 1——^—I——9 9* Cr«Mr/v#>_ I
36 CULTURA POLÍTICA
7^
•• %
[I V.-';*'
\ A MA ZONA! ^^5
"*r
|
pBaRA' i
I i
"'•
^ JT'otefrnt Nw
f- ... >!? • -'•'
"• /Vv
\^e~- - J? "7
.
I
* "• c^j? M
GROSS0 / ^
i
j fESA/A \/:AL,Atm
\~cz~un CU[iBl ./ .-v.- (
cowitA ; >C I
\»u*J oe-:Muvet //^"*** _
|
;| /GEBAES)
^
'^y^'
i( 4rA& if, 9Ri4fto*>OtlS
PL A no 8/CALHO 1
^*ss*=**s^ ... ""Hi
A
NOSSA POLÍTICA DE COMUNICAÇÕES 37
de Central-Sul do Plano de Bu-
lhões.
As influências históricas, o cli-
ma e a imigração, constituíram as
causas capitais dessas realizações.
O terceiro tronco do Plano Bu-
lhões é o Grande Norte Sul que,
partindo de Guaíra até onde fosse
navegável o alto Paraná e em se-
guida prolongado por uma via
férrea ao encontro do primeiro
trecho navegável do Tocantins ou
do Araguaia, deveria atingir Be-
lém do Pará, vencidas, se preciso,
as cachoeiras do alto e baixo To-
cantins por
vias terrestres. Êsse
tronco, cruzando como Leste-Oes-
te, articularia o Rio de Janeiro
com o Norte e o Sul.
O quarto
tronco —
o Grande
Noroeste — ligaria S. Salvador a
S. Luiz, por Joazeiro-Teresina
(Parnaíba)
— Caxias e em segui-
da o Itapicurú.
Ao S. Francisco caberia a gran-
de sôbre-carga de ligar os quatro
troncos o que
não passa
de uma
fôrça de expressão por que,
real-
mente, êle só ligaria, como uma
espécie de roçada, o Grande Les-
te-Oeste e o Grande Noroeste.
Não é preciso grande
esforço
para se concluir
que êstes troncos
mistos não vão muito além de
uma homenagem ao Plano Bica-
lho, uma espécie de ficha de con-
solação, não só pela
dificuldade
de ligar-se por
via férrea os tre-
chos navegáveis extremos do alto
Paraná e do Alto Tocantins, ain-
da hoje por
fazer-se, como pela
maneira displicente por que
se
sobrecarregaria o tráfego do São
Francisco.
Assim é que,
a não ser a corda
S. Salvador-S. Luiz, comum aos
dois Planos, o Plano Bulhões
atenderia mal às regiões naturais
de circulação do Norte e por
uma
única via, com a precariedade
as-
sinalada, atingiria o Amazonas
(extremo Norte).
Quer parecer-nos que apesar da
falta de ligação já
assinalada en-
tre os troncos meridionais e se-
tentrionais do Plano de Bicalho,
particularmente se comparado
com o Plano Bulhões, êste se apre-
senta mais rígido senão mesmo
mais esquemático.
Embora o Plano Bulhões, em
82, melhorasse em alguns aspectos
o Plano Bicalho, de 81, pecou pe-
la preponderância
emprestada às
vias férreas, em conseqüência da
sedução, realmente tentadora, das
fortes características de potência
e velocidade dêsse meio de trans-
porte excepcionalmente apto aos
transportes pesados
a longas dis-
tâncias.
Conclusão
Seja como for, tanto ao pri-
meiro como o segundo Plano fal-
tou um órgão especialmente desi-
gnado para regular suas condições
de execução.
Um plano
de viação —
se bem
definidas as linhas de menor re-
sistência ao tráfego contidas nas
regiões naturais de circulação e
se judiciosamente
determinado o
emprêgo dos meios de transpor-
te —
constitue apenas a base para
a política
de comunicações de um
país qualquer. A ordem de ur-
gência e a mais rigorosa vigilân-
cia técnica das realizações é que
constituem, em última análise, a
política de comunicações.
A ausência dêsse aparelho é
que principalmente impediu, a
38 CULTURA POLÍTICA
qualquer dos
planos, realização
consentânea com as suas finalida-
des.
Com o advento da República
as coisas não melhoraram, apesar
de que já
em 1890 o Govêrno Pro-
visório baixasse decretos mandan-
do organizar o plano
de viação
nacional e regulando a competên-
cia da União e dos Estados para
legislarem sobre comunicações e
meios de transporte.
Tudo porém,
foi em vão, redu-
zindo-se a política
de comunica-
ções a simples atos de
política ad-
ministrativa. Enquanto isso o
parque ferroviário foi se desen-
volvendo ao sabor imediatista das
correntes partidárias
e dos inte-
rêsses regionais e, com a elevação
progressiva do custo do material
ferroviário, em se tratando de
um país
sem indústrias siderúrgi-
cas como o nosso, acabamos, com
um parque
ferroviário deficitá-
rio técnica e financeiramente,
até quasi
ao desmantêlo, pela
de-
sastrosas condições técnicas a
que chegaram as linhas, cujo so-
corro inadiável exige, pelo
me-
nos dois milhões de contos, se-
gundo estimativas feitas.
Do mesmo passo
ficou o país
sem a necessária continuidade de
comunicações terrestres, ligando
regiões vitais para
a unidade po-
lítica e a segurança militar da
Nação.
Devemos convir, porém, que,
apesar dos pezares,
tanto o Plano
Bicalho como o Plano Bulhões
calaram na conciência dos res-
ponsáveis pela coisa
pública no
Brasil. Em tudo que
temos em
matéria de comunicações e meios
de transporte se encontram vesti-
gios flagrantes da
profunda im-
pressão deixada
por aquêles
pia-
nos —
o que
faz dêles os funda-
mentos indiscutíveis de política
de comunicação brasileira, que
o
Plano de Viação Nacional de
1934 pretende
consolidar, como
veremos.
Potitica diplomática e econômica
de Rodrigues Alves
JOSÉ MARIA BELO
Ex-Senador Federal pelo
Estado de Pernambuco.
Procurador da Fazenda no Distrito Federal.
O govêrno
Rodrigues Alves já foi apreciado
pelo autor, no
primeiro número
desta Revista, em vários dos seus erandes aspectos. Hoje, conclue êle êsse
estudo, analisando a diplomacia do Barão do Rio Branco, suas vitórias
internacionais, o Tratado de Petrópolis, a incorporação do Território do
Acre, a questão
com as Repúblicas Platinas; passa,
em seguida, a conside-
rar a reorganização das forças armadas, a atividade governamental
no campo
da viação e obras públicas,
das finanças, da
política caféeira, do câmbio
e comércio exterior; e termina encarando rapidamente o problema
da suces-
são e a candidatura de Afonso Pena. E' mais um depoimento objetivo
para acrescentar-se à história da República no Brasil.
A
REPÚBLICA recebera do
Império a tradição de uma
política externa um tanto
burocrática e formalística, mas ar-
guta, cautelosa, sinceramente
pa-
cifista e, sobretudo, animada de
espírito de continuidade, o que
nem sempre, nas constantes mu-
tações dos governos parlamenta-
res, poderia
inspirar os outros se-
tores administrativos. Todavia,
a singularidade do seu regime
monárquico criara para
o Brasil
uma espécie de insulamento mo-
ral na comunhão republicana da
América Latina, agravado pelos
ressentimentos, ainda não com-
pletamente extintos, da
guerra do
Paraguai, e pela
manutenção da
•escravatura negra. Com os Esta-
dos Unidos, ricos, poderosos
e
geográficamente longínquos, es-
quecidos alguns incidentes em
tôrno da guerra
da Secessão e a
leviandade da política
do Impé-
rio, quando
reconhecera a triste
e afrontosa aventura de Maximi-
liano no México, atenuavam-se,
naturalmente, os preconceitos
nas-
cidos da diferença das formas de
Estado; daí, a tendência para
mais
viva aproximação diplomática en-
tre a grande
República do Norte
e o vasto reino do Sul do Conti-
nente. Tendo evitado sempre
comparecer aos Congressos e
Conferências intercontinentais, o
Brasil imperial fazia-se represen-
tar, emfim, em 1889, na primeira
Conferência Pan - americana de
40 CULTURA POLÍTICA
Washington. A preocupação
dos
equilíbrios diplomáticos, tão em
voga na Europa do século XIV,
levara também a Monarquia bra-
sileira a cultivar especialmente as
relações amistosas com a Repú-
blica conservadora e aristocrática
do Chile. Um navio de guerra
chileno em festiva visita ao Rio
de Janeiro,
assistia, em 16 de No-
vembro de 1889, ao colápso do
Império...
A política
externa de Quin-
tino Bocaiúva
Os primeiros governos
da Re-
pública não alteraram os
gran-
des rumos da política que
se fa-
zia no antigo Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros, mantendo em
seu serviço os antigos agentes di-
plomáticos e os velhos chefes bu-
rocraticos, como o visconde de
Cabo Frio, zeladores intransigen-
tes e, algumas vêzes, estreitos, das
tradições, e habituados a impor
a sua orientação aos ministros ti-
midos e temporários, que
a ro-
tação dos governos parlamentares
lhes impunha. Assumindo, no
Governo Provisório, a pasta
do
Exterior, Quintino
Bocaiúva, jor-
nalista doutrinário, idealista, mui-
to propenso
à República Argen-
tina e à solidariedade continental,
apressou-se em aceitar a proposta
da chancelaria de Buenos Aires,
sobre a divisão do Território das
Missões, de domínio disputado
entre os dois países.
A Repúbli-
ca brasileira, desprezando a solu-
ção de arbitramento,
proposta no
último ano do Império, retribuía
com o gesto
romântico, as caloro-
sas manifestações de regozijo com
que o seu advento fôra recebido
na Argentina. Mais tarde, Quin-
tino Bocaiúva, mesmo, peniten-
ciando-se do erro político
come-
tido, aconselhava o Congresso
brasileiro a não ratificar o TL rata-
do que
assinara. Reabria-se, pois,
a porta para
o arbitramento, em
que o Brasil, defendido
pelos co-
nhecimentos especializados e pe-
la habilidade do barão do Rio-
Branco, conseguia, em 1895, o
laudo favorável do Presidente
Cleveland, dos Estados Unidos.
Pouco tempo depois, o mesmo ba-
rão do Rio Branco marcava outro
grande triunfo diplomático com
a decisão do presidente
da Suiça
na questão
do Amapá. Por laudo
arbitrai do rei da Itália, apesar
de contrário aos nossos justos
tí-
tulos, resolvíamos também o dis-
sídio de fronteiras com a Guia-
na Inglesa. Mas continuavam
em aberto outras questões
lindei-
ras com as Repúblicas do Conti-
nente. Resolvê-las era um dos
compromissos do governo
Rodri-
gues Alves. Integrado, emfim,
no sistema republicano da Amé-
rica, tendo feito do arbitramen-
to nos litígios internacionais um
dos preceitos
da sua Constituição,
o Brasil desejava terminar pacifi-
camente a definição do seu ter-
ritório.
Traços da vida do Barão
do Rio Branco
Convidando o barão do Rio
Branco para
seu ministro do Ex-
terior, Rodrigues Alves escolhia
o homem melhor indicado a exe-
cutar o novo programa
da poli-
tica externa. Filho de eminente
estadista do Império, o visconde
do Rio Branco, o barão do mes-
mo nome tivera mocidade estou-
vada e boêmia, estuante de seiva.
POLÍTICA DIPLOMÁTICA E ECONÔMICA DE RODRIGUES ALVES 41
Acompanha o pai
numa missão
diplomática, no decurso da guer-
ra do Paraguai, ao rio da Prata;
passa rapidamente
pelo Parla-
mento, pelo
magistério oficial e
pelo jornalismo político; ingressa
na carreira consular, donde se
transfere, depois da vitória do
Amapá, para ministro
plenipo-
tenciário em Berlim. Confor-
ma-se com a República, apesar de
confessadas simpatias monárqui-
cas, para
serví-la com eficiência
desde os seus primeiros
dias, co-
mo comissário geral
na Europa
da emigração para
o Brasil. Dis-
tinguira-se desde moço pelos
seus
trabalhos sôbre geografia
e his-
tória brasileiras. Floriano Peixo-
to, que
fôra seu condiscípulo e o
tinha em aprêço, indica-o advoga-
do do Brasil na questão
das Mis-
sões, facilitando-lhe, assim, a pri-
meira oportunidade para
a pro-
jeção nacional do seu nome. Vi-
vendo 30
anos do ambiente euro-
peu, nêle apurara as suas virtudes
inatas de habilidade diplomática,
forma de transposição psicológica
das qualidades políticas paternas.
Mas apesar de longa residência
na Inglaterra vitoriana, como
cônsul em Liverpool, parece que
fora a Alemanha bismarkiana e
de Guilherme II, em plena
ascen-
ção de fôrça e orgulho, o maior
influxo sofrido pelo
seu espírito.
Acompanhando de perto
a tra-
ma diplomática da Europa de-
pois da
guerra de 1870 e a for-
mação do imperialismo colonial,
o jovem
cônsul adquirira uma vi-
são realista da vida, que
caracte-
rizaria sempre a sua personalida-
de. Patriota ardente e naciona-
lista sincero, Rio Branco era, co-
mo os homens da família de Bis-
mark, robusto de alma e de cor-
po, um oportunista sagaz, desde-
nhoso dos idealismos declamató-
rios, tão expontâneos sempre no
sool tropical da América Latina,
atento aos fatos, absorvente e au-
toritário, sob aparências polidas,
sabendo servir-se dos homens, das
suas virtudes como dos seus de-
feitos, e certo de que
na diploma-
cia, mais do que
alhures, as for-
mas jurídicas
apenas importam,
quando servidas
pelo dinheiro ou
pela espada. Para o seu
pátrio-
tismo, pois,
só se completaria a
imagem do Brasil no fastígio do
plano internacional. Ninguém
saberia melhor conciliar o amor
do passado
do Brasil com a ima-
gem de sua futura
grandeza. Con-
servando o que
havia de substan-
ciai na tradição diplomática do
polácio do Itamaratí,
para onde
se transferira o Ministério do Ex-
terior, êle não se conformaria
jamais com o seu ranço burocrá-
tico, a sua atmosfera de extrema-
do formalismo.
O clima de confiança e otimis-
mo, que
a política
de realizações
materiais de Rodrigues Alves de-
terminava para
o Brasil, era uma
condição propícia
ao êxito da di-
plomacia audaz do barão...
Inicio da diplomacia de Rio
Branco: a questão
do Acre
Dentre as nossas pendências
de
fronteiras era a mais grave
a que
mantinhamos com a Bolívia, in-
cindindo sôbre a vasta região do
Acre, no Alto Amazonas. Até o
desenvolvimento da indústria ex-
trativa da borracha, as divergên-
cias sôbre fronteiras nos rios, pân-
tanos e floresta inacessíveis do
42 CULTURA POLÍTICA
Amazonas não tinha grande
al-
cance. Para o Brasil como para
a Bolívia, enormes, despovoados,
ainda desaparelhados para
a pie-
na mise en valeur das suas re-
giões mais em contacto com a ci-
vilização, o Acre era um deser-
to misterioso e hostil, mal aflora-
do das águas diluvianas, incerta
zona geográfica, que
servia de
pretexto a
periódicas e bisantinas
discussões diplomáticas. Nos úl-
timos anos do século passado,
am-
pliado cada vez mais,
pela técni-
ca da vulcanização, o emprego in-
dustrial da borracha, êste produ-
to quasi
exclusivo das selvas ama-
zônicas, começava a adquirir re-
levo em nossa vida econômica. No
início do govêrno
Rodrigues Al-
ves, a sua exportação regulava
perto de 20
% das nossas vendas
totais para
o exterior. E entre as
regiões do Amazonas nenhuma
mais rica em seringueira do que
a
do Acre; a reivindicação do seu
domínio tornara-se, pois,
essen-
ciai, ao Brasil, principalmente
porque eram brasileiros,
que o
povoaram e heroicamente lhe ex-
pioravam as riquezas.
Um Tratado diplomático de
1867 estabelecera os limites entre
o Brasil e a Bolívia; ficando, no
entanto, sem execução, não fora
possível determinarem-se as linhas
divisórias, de forma a precisar
a
situação jurídica
do Acre. Dois
protocolos datados de 1895 e
1899, aliás provocando
um dêles
protesto de terceira nação, o Pa-
rú, aceitava a título provisório
certos limites. Desde que
se in-
tensificara a exploração da bor-
racha silvestre, afluiam para
o
Território, nominalmente boli-
viano, constantes correntes de
brasileiros, especialmente de ser-
tanejos do Nordeste, acossados pe-
Ias sêcas. Os freqüentes motins,
agravados desde os primeiros
anos
da República, tinham-se converti-
do em verdadeira insubordinação,
com intermitentes explosões. Em
1895, um aventureiro espanhol
chefiava um movimento separa-
tista para
erigir o Território do
Acre em Estado independente.
Os govêrnos
brasileiro e bolivia-
no tentaram contornar as dificul-
dades de momento pelo
Protoco-
lo de 1899. Defendendo o princí-
pio do uti
possedetis das velhas
tradições diplomáticas vindas da
antiga Metrópole portuguesa,
o
Brasil procurava,
no entanto, con-
ciliá-lo com o respeito do Trata-
do de 1867. Incapaz de fazer
prevalecer a sua soberania sôbre
uma zona geograficamente
sec-
cionada da sua órbita imediata
de ação, o govêrno
da Bolívia as-
sinava em 1901 contrato com um
sindicato de capitalistas norte-
americanos, o Bolivian Syndicate,
entregando-lhe a exploração de
todo território contestado. O
contrato eqüivalia, realmente, a
uma transferência da soberania;
o Bolivian Syndicate assumia a
plenitude do
govêrno civil do
Acre, com direitos soberanos, que
a própria
administração de La
Paz não poderia
controlar.
O Tratado de Petrópolis
Instituía-se, assim, na América
do Sul uma espécie de regime de
capitulações. Homens de negó-
cios de poderosa
nação, suspeita,
na época, a todo o Continente pe-
Ias tendências imperialistas de
sua política,
instalavam-se como
irrestritos senhores numa vastís-
POLÍTICA DIPLOMATICA E ECONÔMICA DE RODRIGUES ALVES 48
sima área, dominando grande par-
te do Alto Amazonas, artéria vi-
tal para
o Brasil. Foi enorme a
repercussão sòbre o patriotismo
brasileiro; as outras Repúblicas
sul-americanas, sempre pouco
in-
clinadas ao Brasil, não ocultavam,
entretanto, as suas apreensões. O
govêrno de Campos Sales não con-
seguira impedir nem a assinatura
do contrato e nem a sua ratifica-
ção pelo Congresso legislativo da
Bolívia. Ao barão do Rio Bran-
co ficava reservada a tarefa de re-
solver o perigoso
dissídio. Em
Agosto de 1902, nova revolução
chefiada por
um brasileiro, Pláci-
do de Castro, dominava toda re-
gião do Acre, forçando a rendição
das forças bolivianas concentra-
das no posto
aduaneiro de Puerto
Alonso. Tropas da Bolívia, sob
o comando superior do presiden-
te da República, general
Pando,
preparavam-se para marchar, atra-
vés das altiplanuras andinas e
dos pântanos
amazônicos, contra
os revolucinários brasileiros. Não
se perdia
em inúteis palavras
a
diplomacia realista de Rio Bran-
co; por
sua vez, tropas brasileiras
seguiam par
o Alto Amazonas.
Apoiando-se nas forças milita-
res, o chanceler brasileiro tinha
os elementos essenciais para dis-
cutir e para
evitar uma guerra,
mais perigosa pelas
suas futuras
conseqüências políticas
do que
pelo seu imediato alcance; dirige,
assim, hábeis negociações no sen-
tido de rescindir amigavelmente a
concessão do Bolivian Syndicate.
Em 17 de Novembro de 1903, era
assinado o Tratado de Petropolis,
que encerrava definitivamente
a
questão do Acre. Antes disto o
sindicato norte-americano fora
eliminado da contenda, recebendo
do govêrno
Rodrigues Alves a
indenização de 126.000 libras. O
Brasil pagava
à Bolívia 2 milhões
esterlinos e obrigava-se a construir
a estrada de ferro Madeira Ma-
moré, julgada
há muito tempo de
grande significação
política e
econômica para
os dois países
vi-
zinhos.
A incorporação do Terri-
tòrio do Acre
O Brasil, além de derimir ve-
lha e irritante pendência,
incor-
porava pacificamente ao seu ter-
ritório uma área de cerca de
180.000 quilômetros quadrados,
a
mais rica da Amazônia em borra-
cha nativa. Fracassara a tentati-
va de se implantar na América La-
tina o sistema das Shartered Com-
panies, precursoras, tantas vêzes,
na história contemporânea da
África e da Ásia, de conquistas co-
loniais. Em tres anos, as rendas
fiscais da União no Território do
Acre, mesmo imperfeitamente ar-
recadadas, bastariam para
resar-
cir as indenizações pagas
e co-
brir os serviços do empréstimo
para a linha férrea Madeira-Ma-
moré. Rio Branco conseguira a
sua maior vitória diplomática;
par tal tivera de reduzir a apai-
xonada oposição de parte
do Con-
gresso e da Imprensa. Tornou-
se-lhe enorme a popularidade;
talvez nenhum homem público
no Brasil tivesse conquistado ja-
mais tão alto prestígio.
Outras vitórias diplomáticas
Resolvida a pendência
com a
Bolívia foi mais fácil à chancela-
ria brasileira liquidar por
enten-
dimentos diretos as outras ques-
44 CULTURA POLÍTICA
toes de limites com o Perú, Equa-
dor, Colômbia, Venezuela e Guia-
na Holandesa. Rui Barbosa pou-
de chamar o barão do Rio Bran-
co com ênfase oratória
"Deus
terminus das fronteiras nacio-
nais". Outra vitória diplomática,
que muito tocava ao sentimento
nacional, era a escolha do primei-
ro cardeal brasileiro, que
seria
também o primeiro
da América
Latina. Os governos
norte-ame-
ricano e brasileiro elevavam à ca-
tegoria de embaixadas as respecti-
vas legações no Rio de Janeiro
e
em Washington. Joaquim
Na-
buco, nomeado embaixador do
Brasil naquela última cidade, rea-
liza notável trabalho no sentido
de mais íntima aproximação en-
tre as duas nações. O Brasil, co-
mo os outros países
latino-ameri-
canos, começavam a libertar-se
da absorvente influência eco-
nômica e política
da Inglaterra.
Apesar de sua educação européia
e da impressão que
nêle exercera
o primeiro
Reich, Rio Branco
torna-se um dos precursores
do
novo espírito de solidariedade
continental, que
implicaria o iní-
cio da transformação da doutri-
na pan-americana.
O Rio de Ja-
neiro seria em breve a séde da 3-a
Conferência Pan-Americana, rece-
bendo igualmente a visita do se-
cretário de Estado dos Estados
Unidos, Root.
Os equívocos platinos
Entretanto, as vitórias diplo-
máticas de Rio Branco ou, pelo
menos, a sua deturpação que
ele
mesmo nem sempre soubera ou
tentara evitar, haviam criado nu-
merosos equívocos entre as chan-
celarias do Rio de Janeiro
e de
Buenos Aires, sob a direção esta
de Estanislau Zeballos, que
fôra
signatário com Quintino
Bocaiu-
va do Tratado dos Missões e, pos-
teriormente, advogado vencido
do seu país, perante
o juízo
arbi-
trai do presidente
da Suiça. Não
se estimavam ou não se compre-
endiam os dois ministros, apesar
de possíveis
traços análogos de
mentalidade ou de educação poli-
tica. Zeballos encarnava certas ve-
lhas tendências brasilófobas, que
somente o tempo viria diluir. A
rivalidade, pois,
entre os dois ho-
mens parecia
traduzir um estado
latente de animosidade entre as
duas nações. Brasil e Argentina
repetiriam, no cenário sul-ameri-
cano, a concorrência a hegemonias
continentais, que
caracterizava a
diplomacia européa e prepararia
a guerra
de 1914. Tudo servia
de pretexto
à animadversão do
estadista argentino; a reorganiza-
ção militar e naval do Brasil, co-
mo muitos outros casos e inciden-
tes, que
as paixões
do momento
facilmente envenenavam. Nem
mesmo faltou um telegrama fal-
so, capaz de precipitar
a luta en-
tre os dois países,
como o que,
em
1870, ateara a guerra
franco-
prussiana... O bom senso dos di-
rigentes brasileiros e argentinos
conseguiu sobrepôr-se à insidiosa
campanha; as duas maiores nações
da América do Sul voltaram a ter-
mos pacíficos.
Não se ofuscaram
as vitórias da diplomacia brasilei-
ra com a sombra da inimisade ar-
gentina. . .
A reorganização das
forças armadas
A reorganização das fôrças ar-
madas foi um dos maiores cuida-
N
POLÍTICA DIPLOMÁTICA E ECONÔMICA DE RODRIGUES ALVES 43
dos do quatriênio
Rodrigues Al-
ves. O Brasil, sob a diplomacia
clarividente de Rio Branco, deve-
ria cuidar da própria
defesa mate-
rial, aparelhando-se para
as conti-
gências que pudessem ameaçá-lo.
O apaziguamento das antigas lutas
internas e a situação de prosperi-
dade do Tesouro Federal permi-
tiam ao Govêrno iniciar um
programa de construções mate-
riais, do qual
ressaltavam a re-
forma do ensino militar, a insta-
lação de uma fábrica moderna de
pólvora, a construção de linhas
estratégicas militares, etc. Reali-
zavam-se pela primeira
vez em
campo próximo
da capital as
grandes manobras de divisão. Ao
restauração da Marinha de Guer-
ra, que
fôra durante o Império a
primeira da América Latina e
que
a revolta de 1893 praticamente
aniquilara, era premente
neces-
sidade. Uma lei de dezembro de
1904 autorizava o govêrno
a cons-
tituir uma esquadra de tres cou-
raçados de 12 a 15.000 toneladas,
ou seja, dos mais poderosos
da
época, tres cruzadores de 9.200
a
9.700 toneladas, seis contra-torpe-
deiros, tres submarinos, além de
outros navios auxiliares. Ao mes-
mo tempo, como complemento
do programa
naval, o govêrno
construiria moderno arsenal, nas
proximidades da capital. Os na-
vios escolas com a bandeira repu-
blicana, ainda tão pouco
conhe-
cida voltavam, como outrora, os
da Monarquia, a cruzar os mares
estrangeiros.
A atividade do Ministério
da Viação e Obras
Públicas
Intensa também era a ativida-
de do Ministério da Viação e
Obras Públicas. O novo porto
do
Rio de Janeiro, que
implicara o
saneamento e a modernização da
cidade, dera-lhe, enfim, o aspecto
de uma capital moderna estimu-
lava as outras cidades marítimas
do país.
Diretamente ou por
in-
termédio de emprezas concessio-
nárias iniciava-se a construção dos
portos da Baía, Recife, Belém do
Pará e barra do Rio Grande do
Sul. Prolongavam-se algumas das
linhas férreas essenciais e inaugu-
ravam-se os primeiros
trechos de
outras, como a que
deveria ligar
S. Paulo a Mato Grosso e frontei-
ras da Bolívia, e S. Paulo ao Rio
Grande do Sul. Pela primeira
vez concretizava-se o pensamento
de que
a rêde ferroviária deveria
ter um sentido nacional, e não
servir apenas a regiões ou Estados
isolados, pela
comunicação entre
os seus liinterlands e orlas marí-
timas, como se cada um deles for-
masse um centro econômico es-
tanque.
A gestão
das finanças
públicas
A gestão
das finanças públicas
era certamente o setor adminis-
trativo que
mais deveria interes-
sar a um antigo ministro da Fa-
zenda como Rodrigues Alves.
Alargando a concepção essencial-
mente fiscal da política
financei-
ra de Campos Sales, êle a condi-
ciona mais de perto
à vitalidade
econômica do país.
A transfor-
mação do Rio de Janeiro,
o de-
senvolvimento das vias férreas e
do comércio de cabotagem cria-
vam entre os brasileiros uma for-
ma de confiança mais realista na
sua pátria.
Perdiam eles um pou-
co do ingênuo narcisismo de ou-
40 CULTURA POLÍTICA
trora, que
se contentava com de-
clamações retóricas sôbre rique-
zas, tantas vezes imaginárias, da
"terra incomparável", do
"porque
me ufano do meu país", para
co-
meçar a vêr e analizar as realida-
des nacionais com olhos menos lí-
ricos. O recenseamento, mesmo
falho, pudera
mostrar os grandes
aspectos da geografia política
e
econômica do país;
estatísticas e
cálculos, mesmo precários,
davam
também aproximada imagem dos
fatos.
Poltica demográfiui
e imigração
A população
ascendera de 10
milhões de almas, em que
era es-
timada em 1872, a 17 milhões.
Entre 1890 e 1900 o Distrito Fe-
deral passara
de 500
a 700
mil ha-
bitantes, e a cidade de S. Paulo,
de 64.000 a 240 mil. Os grandes
centros urbanos do norte, como
Baía, Recife e Belém, conserva-
vam-se estacionários, se não re-
grediam. Deslocara-se completa-
mente o centro econômico e po-
lítico, do Norte para
o Sul. Em
1872, equilibravam-se as popula-
ções das duas
grandes zonas
geo-
gráficas; em 1900, a diferença a
valor da última era de cerca de 3
milhões de almas. Tinham tri-
plicado as suas
populações S.
Paulo e Rio Grande do Sul. A
marcha para
o oeste dos cafezais
paulistas, através de matas vir-
gens e índios bravios, lembrava o
movimento de fronteiras internas
do War West norte-americano. A
imigração estrangeira, intensifi-
cada nos últimos anos do Impé-
rio —
em 1887 entravam em S.
Paulo 35.000
colonos europeus —
atingia o máximo em 1891, com
216.000 colonos ingressados nos
Estados do Sul. Diminuindo nos
anos imediatos, tendia novamen-
te a nível superior a 100.000 en-
tradas anuais. O Rio de Janeiro,
que fôra outrora o
principal cen-
tro de imigração européia —
por-
tuguesa em sua enorme maioria
— seguido
pelo Rio Grande do
Sul (alemães
e italianos) cedera
lugar a São Paulo, para
cuja la-
voura cafeeira afluiam em massas
compactas os italianos. Em 1900,
sôbre uma população
total de
2.200.000 habitantes, contava S.
Paulo com 530
mil estrangeiros.
Tal invasão de estrangeiros in-
fluía naturalmente não só nas ca-
racteristicas éticas das populações
do sul como na técnica do tra-
balho rural. Limitado ao cres-
cimento vegetativo de sua gente,
mais sujeito às endemias locais e
a alto coeficiente de mortalidade,
principalmente infantil,
pelo mau
regime de alimentação e de higie-
ne geral,
cada vez mais o Norte se
distanciava-a do Sul. A produção
de S. Paulo representava cerca
de metade da produção
nàcional.
A exportação de café, regulando
de 60 a 70 %
das exportações to-
tais, definia economicamente o
Brasil. A borracha da Amazônia
fizera de Manáus o centro urbano
mais isolado das grandes
corren-
tes de civilização mundial, uma
cidade de luxo, de esbanjamentos
e de aventuras. Importava o
Brasil a maior parte
dos gêneros
alimentícios e a quasi
totalidade
dos objetos manufaturados. Pou-
co se elevara, salvo nas grandes
cidades e nas regiões de imigran-
tes do Sul, o triste nível de vida
das classes proletárias,
de cuja
existência os governos
individua-
POLÍTICA DIPLOMÁTICA E ECONÔMICA DE RODRIGUES ALVES 47
listas e tão inclinados ao capita-
lismo da concepção da época, mal
se apercebiam.
Câmbio e comércio
exterior
Entretanto, a remodelação do
Rio de Janeiro,
como supuzera e
prometera Rodrigues Alves, basta-
ra para
fazer renascer a confiança
dos capitais europeus no futuro do
Brasil. Com eles pudera
o seu
govêrno realizar uma
política
construtora, sem abalo nas finan-
ças e no crédito
públicos Fiel
às suas velhas idéias liberais, aliás
quasi inatingíveis à crítica no seu
tempo, o antigo ministro da Fa-
zenda de Floriano Peixoto e de
Prudente de Morais mantinha a
política iniciada
por Campos Sa-
les, de resgate do papel
moeda,
fundo de garantia,
deflação pau-
latina, impostos ouro, etc. A
taxa cambial elevara-se, entre
1902 e 1906, de 12 a 16 ds; di-
minuíra a circulação inconversí-
vel; reduzira-se a dívida pública;
encerravam-se com saldos os or-
çamentos anuais; do empréstimo
para o
pôr to do Rio. de
Janeiro
passavam para o
govêrno seguin-
te 3
milhões de libras; o Tesouro
tinha largas disponibilidades em
Londres e em dia os seus paga-
mentos. Regulavam 200 mil con-
tos os saldos médios das exporta-
ções sôbre as importações.
Em
resumo, na modéstia dos nossos
recursos econômicos — no
plano
econômico da Europa do Norte
ou dos Estados Unidos, o Brasil
devia ser visto como um país, não
de 20 milhões mas de 4 ou 5
mi-
lhões de habitantes - tínhamos
começado uma fase de incontes-
tada prosperidade.
A crise de super-pro-
dução do café
No campo aparentemente tran-
quilo da
gestão econômica, nem
sempre entretanto, fora fácil o
govêrno de Rodrigues Alves. A
primeira grande crise de super-
produção do café leva-o a colo-
car-se em atitude adversa aos in-
terêsses imediatos dos lavrado-
res e homens de negócios de São
Paulo e agrava as dificuldades po-
líticas. Mantendo, como já
vi-
mos, as linhas gerais
do programa
financeiro de Campos Sales, de
valorização do meio circulante,
facilitada ademais pelo
afluxo dos
capitais estrangeiros, invertidos
nas obras públicas,
Rodrigues Al-
ves conseguira, não sòmente ele-
var as taxas cambiais, como tor-
ná-las mais estáveis. Esta poli-
tica, que
servia aos interesses ge-
rais do país,
contrariava os dos
exportadores de café e dos grupos
mais ou menos ligados às nascen-
tes industriais fabris, não satis-
feitas com a proteção
alfandegá-
ria. Quanto
mais baixo estives-
se o câmbio, maior soma de di-
nheiro produziria
o café vendido
nos mercados exteriores; da mes-
ma forma, encarecendo as uti-
lidades importadas, facilitaria
maior margem de lucro às fabri-
cas nacionais. Se os industriais
ainda não podiam
impôr os seus
imediatos interêsses ao govêrno,
os produtores
e exportadores de
café já se
julgavam suficientemen-
te fortes para
determinar a ori-
entação da política
econômica.
Vinham caindo progressivamente
os preços
do café; na safra de 1905
tinham descido ao mínimo em
dinheiro nacional. Semelhante
quéda de valor coincidia com
48 CULTURA POLÍTICA
extraordinário aumento de pro-
dução. Alargando-se das terras
cançadas do norte e do centro do
Estado de S. Paulo, a lavoura
cafeeira alastrava-se por todo lon-
gínquo oeste, a caminho dos ser-
tões do Paraná e Mato-Grosso,
derrubando matas virgens, cons-
truindo estradas de ferro, impro-
vizando cidades e riquezas ator-
doantes, e criando entre os pau-
listas, com uma espécie de orgu-
lho nativista, hábitos de extrema
audácia nos negócios, de luxo e
de prodigalidade.
Tendo batido
rapidamente os países
concorren-
tes, o Brasil, ou mais especialmen-
te S. Paulo, conseguira o monó-
polio virtual do café. A safra de
1906 atingia a limite até então
desconhecido: 22 milhões de sa-
cas. Somada aos estoques ante-
riores de cêrca de 4
milhões, ela
viria representar um excedente de
16 milhões de sacas sobre o con-
sumo mundial.
Pânico na indústria
cafeeira
Esta formidável superprodu-
ção, determinando maior avilta-
rriento de preços,
criava entre os
homens do café, aliados a certos
interêsses políticos,
uma situação
de pânico.
Somente poderia
sal-
vá-los a direta intervenção do
governo federal nos mercados do
produto. Mas não se resumiam a
solicitar imediato auxílio para
a
regularização dos estoques e con-
sequente defesa dos preços
exis-
tentes. Pleiteiavam medidas mui-
to mais amplas, que,
além de for-
çar a valorização artificial do ca-
fé, afetavam a estrutura da poli-
tica monetária do govêrno
Rodri-
gues Alves. Êste teria de fixar o
câmbio de 12 ds. para
os negó-
cios decorrentes da valorização, à
semelhança do que
se praticara
na
República Argentina. Os gover-
nadores dos tres principais
Esta-
dos cafeeiros, S. Paulo, Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais, reunidos
na cidade de Taubaté, no pri-
meiro daquêles Estados, e sem
acôrdo prévio
com o Govêrno Fe-
derai, assinavam um convênio de
defesa e valorização do café, que
seria a primeira
etapa de uma po-
lítica intervencionista, cujo crack
final em 1929 determinaria a vi-
tória da Revolução ou a queda
da
República de 1889... Os tres
Estados obrigavam-se a manter
certo preço por
saca de café nos
portos de embarque, retendo
par-
te da produção,
equivalente ao
excesso sôbre o consumo mundial.
Para o financiamento de tal pia-
no, criava-se uma taxa especial
de 3
francos ouro, incidindo sô-
bre o café exportado, e que
de-
veria cobrir os serviços de juros
e amortizações de empréstimos
especiais a serem feitos.
Apesar de grande
fazendeiro de
café e de suas ligações partidárias
em S. Paulo, o .presidente Rodri-
gues Alves resistiu tenazmente a
endossar a aventura, como numa
clara previsão
do seu futuro de-
sastre. Se o govêrno
da União
não podia
impedir o acôrdo en-
tre os tres Estados sôbre a valori-
zação do café —
eram ainda mui-
to vivos na época os sentimentos
federalistas —
cabia-lhe, no entan-
to, opinar sôbre as modificações
propostas à
política monetária.
Nêste ponto,
êle mantém a sua
intransigência. Em mensagem ao
Congresso, critica com serenidade
e firmeza a tentativa da política
POLÍTICA DIPLOMÁTICA E ECONÔMICA DE RODRIGUES ALVES 49
de câmbio baixo, e de possível
quebra do
padrão monetário. Sae
vitorioso da luta; mas é, de al-
gum modo, efêmero, o seu triun-
fo. Os políticos que
êle contra-
riara provocam a crise da sua su-
cessão na presidência
da Repú-
blica e preparam
o êxito próximo
da orientação intervencionista.
problema da sucessão;
a candidatura de
Afonso Pena
Ainda em 1904, antes de decor-
ridos os dois primeiros
anos do
seu período presidencial,
Rodri-
£ues Alves fôra em excursão ao
Estado de Minas Gerais. Atri-
buiu-se à semelhante visita claro
sentido político;
o presidente pre-
pararia a candidatura dio vice-
presidente Afonso Pena à sua su-
cessão. Os políticos
em oposição
declarada ou latente encontraram
o pretexto para
uma campanha
de opinião pública:
as candidatu-
ras oficiais. A interferência do
chefe do govêrno
na escolha do
seu sucessor, explicável na falta
de partidos
nacionais, era tido o
maior dos atentados à pureza
do
regime republicano. Pinheiro
Machado, senador pelo Rio Gran-
de do Sul e cuja força e prestígio
na direção da política federal se
tinham afirmado durante o go-
vêrno de Campos Sales, torna-se
o chefe da corrente hostil aos pre-
tensos intuitos de Rodrigues Al-
ves. Entrementes, o partido que
empolgara o poder
em S. Pau-
lo e fizera elevar à chefia do Exe-
cutivo federal tres presidentes su-
cessivos, levanta a candidatuia de
Bernardino de Campos, republi-
cano histórico, antigo presidente
do Estado, antigo ministro da Fa-
zenda e oito anos antes indigitado
sucessor de Prudente de Morais.
Rodrigues Alves nada tinha a
apor ao nome do seu coestaduano,
prestigiados pelos seus correiigio-
nários comuns. Os políticos, que
haviam esgrimido contra a pers-
pectiva da candidatura oficial de
Afonso Pena reavivam a campa-
nha oposicionista, de forma mui-
to mais virulenta, pois
não com-
batiam apenas em nome de um
princípio de duvidosa sincerida-
de, mas igualmente o candidato e
as idéias que
o mesmo defendia.
Bernardino de Campos era ti-
do como um homem franco, de
atitutdes e pensamentos
definidos.
Durante o período
da guerra
ci-
vil do Rio Grande do Sul e da
revolta da Armada, exercendo o
govêrno de S. Paulo, colocara-se
resolutamente ao lado da legali-
dade de Floriano Peixoto, evitan-
do que
o seu Estado fosse envol-
vido na luta fraticida e facilitan-
do a indicação de Prudente de
Morais. Ministro da Fazenda, re-
velara em seus relatórios pontos
de vista pessoais
sobre as questões
econômicas e financeiras. Não o
seduzia a política
unilateral de
Campos Sales; não o tentava o
fomento as indústrias pela
exclu-
siva proteção alfandegarias, era
adverso à quebra
do padrão
mo-
netário. Alcindo Guanabara, jor-
nalista estreitamente ligado ao
grupo de Pinheiro Machado, con-
segue de Bernardino de Campos
uma entrevista, que valia como
um programa
de govêrno.
O po-
lítico paulista
não oculta a sua re-
pulsa às tentativas protecionistas
e intervencionistas, de
que o
Çon-
vênio de Taubaté representaria
pouco depois o mais audacioso
50 CULTURA POLÍTICA
passo. A congregação dos inte-
rêsses partidários
e econômicos
ameaçados abre implacável cam-
panha de imprensa. Ao nome de
Bernardino de Campos, Pinheiro
Machado opõe o de outro paulis-
ta, Campos Sales, cuja obra de
saneamento financeiro no govêr-
no da República começava a ser
julgada com maior serenidade.
Aceitando a indicação que
lhe pa-
recia uma reparação nacional às
injustiças sofridas, Campos Sales
acaba por
dela desistir, convenci-
do de que
fora apenas o instru-
mento de hábil manobra políti-
ca para
enfraquecer o prestígio
do seu próprio
Estado. Sacrifica-
das as duas candidaturas de S.
Paulo, harmonizavam-se os ami-
ços de Pinheiro Machado e Ro-
drigues Alves em tôrno de Afon-
so Pena, que justamente
servira
de primeiro pretexto para
a cisão
política. A
política de S. Paulo
perdia a oportunidade de fazer o
quarto presidente da República;
mas triunfavam com a ascenção
do político
mineiro os apologis-
tas do protecionismo
industrial,
da intervenção do govêrno
nos
negócios de café e da reforma mo-
netária. Em Março de 1906, assi-
nava-se o Convênio de Taubaté,
e um dos governadores que
o fir-
mavam, Nilo Peçanha, era o can-
didato oficial à vice-presidência
da República...
Pinheiro Machado e o novo
Partido Republicano
Federal
Organizando as maiorias poli-
ticaj num bloco, cuja principal
finalidade teórica era a de reivin-
dicar para
elas próprias
a indica-
ção dos candidatos à
presidência
da República, Pinheiro Machado
parecia consolidar definitivamen-
te o seu prestígio político.
A
candidatura Afonso Pena, surgi-
da sobre o fracasso da candidatu-
ra Bernardino de Campos, assi-
nalaria retumbante vitória. Re-
aparecia, assim, no cenário poli-
tico da República novo
"Partido
Republicano Federal". Em vez,
no entanto, da chefia maneirosa
de Francisco Glicério, o forte co-
mando de um homem de ação, de
um antigo caudilho, bravo, rude,
tenaz, voluntarioso, o que
não o
impedia, aliás, de transigir e la-
dear nos momentos difíceis, más-
cara morena e impressionante,
de fortes linhas talhadas em bron-
ze, porte
marcial, amando a vida
faustosa, os desportos, o jogo,
os
golpes de audácia e de aventura,
recebendo sem muitos cuidados
de seleção na sua larga casa de
mau gosto,
fiel aos amigos, saben-
do inspirar dedicações ardentes e
ódios irredutíveis. Chefe arbi-
trário do Senado Federal, cuja
presidência efetiva exercia, tendo
conseguido disciplinar sob sua di-
reção os homens mais ilustres, os
bacharéis mais parladores,
os mais
broncos coronéis da politicagem
eleitoral, ligado a homens de ne-
gócios, Pinheiro Machado encar-
nava poder paralelo
ao do presi-
dente da República. A sua re-
sidência, o famoso palacete
do
"morro
da Graça" num dos arra-
baldes burguezes do Rio de Ja-
neiro, era o centro de atração diá-
ria dos políticos.
Êle distribuía
soberanamente, nos escandalosos
reconhecimentos do Congresso,
os mandatos de representação na-
cional. Acolhedor e afável, des-
POLÍTICA DIPLOMÁTICA E ECONÔMICA DE RODRIGUES ALVES 5J
pertava, mesmo entre
jovens in-
telectuais, hostis ao seu tipo de
vida, esta simpatia, que
distingue
os homens fáceis no arriscar o di-
nheiro e a vida, forma primitiva
de generosidade
dalma, que
com-
pensa tantos outros defeitos.
Tendo impedido o êxito de nova
candidatura paulista,
Pinheiro
Machado julgava-se
o natural tu-
tor da futura presidência
de Afon-
so Pena.
Rodrigues Alves, no término do
seu prazo
de govêrno,
teve a cau-
tela de não externar os dissídios,
deixando de aceitar os desafios
do Congresso, inspirado por
Pi-
nheiro Machado. Pela primeira
vez na história da República,
perdia o
govêrno o apoio das
maiorias parlamentares,
sem que
por isto se
perturbasse o ritmo da
administração e se ameaçasse a
paz interna. Em 15 de Novem-
bro de 1906, o antigo conselheiro
do Império transmitia a outro
conselheiro o govêrno
do Brasil,
que soubera exercer com argúcia,
eficiência e serena coragem, para
a êle voltar ainda uma vez, doze
anos depois, mas já
alquebrado e
vencido pela
morte próxima.
. .
Alimentação,política
nacional
DANTE COSTA
Chefe da Seção de Alimentação da Policlínica
Geral do Rio de Janeiro.
Médico do Departa-
mento Nacional da Criança e Professor de
Dietética no Ministério do Trabalho.
Clinico e especialista em nutrição; membro da "Societé
Scientifique d'Hy-
giène Alimentaire" da
"Societé de Chimie Biologique" de Paris, da
"Socie-
dade de Medicina e Cirurgia" do Rio de Janeiro, da "Sociedade
Brasileira
de Gastroenterologia e Nutrição"; tendo representado o Brasil em vários
congressos científicos estrangeiros e publicado
diversos livros e mono gr
a-
fias cientificas sôbre a matéria de sua especialidade, como "Bases
da Ali-
mentação Racional" (2.a
ed., Rio de Janeiro, 1940), "O
Problema da Ali-
mentação na Amazônia" (Rio, 1941),
"Necessidade da assistência alimentar
à criança" (Rio, 1935),
"Metabolismo da água"
(Rio, 1936),
"Padrão die-
tético do Brasileiro" (Rio,
1937), "Merendas
escolares" (Rio,
1939, edição
do ministério cia Educação e Saúde) — o autor analisa, neste artigo, a im-
portância social e
política do
problema da alimentação
popular. Apôs um
esboço histórico da evolução das idéias alimentar es, até a era cientifica
moderna, encara êle a questão
alimentar no Brasil, a necessidade de uma
educação dietética do brasileiro e as soluções práticas já
tentadas pelo
atual Govêrno.
A
RESOLUÇÃO do proble-
ma da alimentação popu-
lar é considerada, hoje,
uma verdadeira obrigação gover-
namental. A ciência nascida das
observações empíricas de todo o
tempo e dos laboratórios fecun-
dos que
a integraram em suas ba-
ses fisiológicas —
última fase his-
tórica da ciência da nutrição, co-
mo veremos a seguir —
vinha cha-
mar a atenção para problemas
de
uma transcendência mágna, re-
lacionados com a alimentação:
pois esta, base da vida, logo se al-
çou às mais altas zonas de inte-
rêsse prático.
Foi um simples raciocínio: a
alimentação está na raiz dos fe-
nômenos biológicos, ela interessa
o homem na realização de fenô-
menos basilares, quais
os de cres-
cer, desenvolver-se, reproduzir-se,
dirigindo-lhe a normalidade das
condições de vida. Cumpre, por-
tanto, assegurar às populações
uma alimentação racional, para
valorizá-las como expressões de
trabalho e de força social.
ALIMENTAÇÃO, POLÍTICA NACIONAL 33
Valor social da alimentação
Já ninguém mais discute o va-
lor social da alimentação.
Experiências de laboratório já
mostraram, em animais, que
é
possível modificar de tal maneira
os caracteres somáticos de uma
determinada espécie —
ratas al-
binas —
que se creará uma nova
espécie animal, com o triplo do
desenvolvimento tísico, pesando
duas vezes mais que
os animais
primitivos, e
possuindo modifica-
ções ósseas e viscerais de
gran-
de extensão (Osborne
e Men-
dei).
No homem uma grande quan-
tidade de fatos semelhantes já
tem sido observada. Os filhos
de imigrantes pobres
são em ge-
ral mais altos que
os pais quando
adquirem, noutros países,
condi-
ções mais favoráveis de vida, fa-
vorecendo melhor alimentação.
As crianças pobres
são, em ge-
ral, mais baixas que
as crianças
ricas, no mesmo termo médio de
idade, e é a desnutrição, causada
pelas condições econômicas de
baixo nível, que
determina tal fa-
to (Boas,
Pagliani, Geissler, Jack-
son). Por outro lado, crianças
creadas ao seio —
alimentação
ideal para
o latente — morrem
menos que
as crianças alimenta-
das artificialmente durante o pri-
meiro ano de vida. O uso do
leite produz,
nas crianças que
o
incluem na alimentação diária,
um aumento nítido de pêso
e de
estatura em face de grupos
de
crianças da mesma idade às quais
falta, em porções
úteis, esse gran-
de alimento cálcico. São muito
numerosas as experiências reali-
zadas no estrangeiro nêsse senti-
do, convindo destacar as deM. S.
Rose, na Universidade de Colúm-
bia. Estamos interessados em
verificar até que ponto
a ausên-
cia de leite influe no desenvolvi-
mento das crianças brasileiras e
realizamos, neste momento, no
Rio, uma experiência em tres
grupos de crianças escolares, ain-
da não concluída. Oportuna-
mente publicaremos
os nossos re-
sultados.
Exemplo dos benefícios presta-
dos ao homem pela
alimentação
podem ser obtidos em toda a
parte. Um estudante inglês, co-
mo termo médio da sua classe, é
de 10 centímetros mais alto que
o
operário inglês: 1111,75 P21121
um>
101,65 para
outro, e isto porque
o
estudante se nutre melhor e es-
tá em condições econômicas que
lhe tornam possível,
além de me-
lhor alimentação: melhor repou-
so, melhor esporte, etc. E é pre-
ciso fazer notar que
isso aconte-
ce num país
onde o problema
quantitativo da alimentação
já
foi satisfatoriamente resolvido: a
Inglaterra, para
satisfazer às ne-
cessidades quantitativas
da ali-
mentação da sua população,
or-
çadas em
44.300 biliões de calo-
rias, apresenta um consumo de
50.100 biliões de calorias.
A questão
alimentar
no Brasil
No Brasil a questão
alimentar
possue uma importância de
pri-
meira ordem: infelizmente ainda
somos um dos grandes
territórios
mundiais de sub-alimentação.
Possuímos mais de 27 milhões de
desnutridos, entre homens, mu-
lheres e crianças.
As tabelas de pêso
e altura das
crianças brasileiras oferecem índi-
54 CULTURA POLÍTICA
ces inferiores às americanas e às
européias, e devemos apontar a
desnutrição como fator prepon-
derante no quadro
dos elementos
causais de tal fenômeno.
A mesma coisa em relação ao
pêso e altura dos adultos, convin-
do notar que
no Norte, onde a
sub-alimentação é mais intensa, os
homens são mais baixos que
no
Sul, onde as necessidades alimen-
tares são melhor atendidas. Sa-
bemos que
há outros fatores,
principalmente de ordem etno-
gráfica, a considerar no estudo
dessa questão,
mas a falta de ali-
mentação adequada e útil é, sem
dúvida, o principal
fator deter-
minente.
Ora, uma condição de vida as-
sim significativa deixa de interes-
sar apenas ao indivíduo. O emi-
nente mestre sul-americano Prof.
Pedro Escudero creou a expres-
são:
"Política
nacional de alimen-
tação", para
significar a obriga-
ção governamental de atender ao
problema da alimentação, e as
bases de realização dêsse progra-
ma, por
êle fixados para
a Ar-
gentina. (1).
A obrigação de atender às ne-
cessidades do problema
da ali-
mentação popular
— em seu trí-
plice aspecto: fisiológico, econô-
mico e educacional —
constitue,
pois, obrigação social capaz de
tornar-se verdadeira preocupação
permanente.
Resolver essa questão
é ga-
rantir, para
o país,
uma popula-
ção de homens fortes, aptos
para
o trabalho, saudáveis, livres das
doenças carenciais ou dos esta-
dos debilitadores que
a alimen-
tação defeituosa sempre determi-
na, população
de homens úteis,
capazes de transformarem em
realidade positiva
todas as fôrças
potenciais da civilização brasi-
leira.
Já disse Mc-Lester:
"o
futuro
do homem dependerá bastante
do alimento que
coma". Deve-
mos atentar nas palavras
do ilus-
tre dietólogo americano, agora
que iniciamos, no Brasil, os
pri-
meiros passos para
a solução ra-
cional do nosso grave problema
alimentar, pois
é bem verdade
que
"a
alimentação influe na du-
ração da vida, no desenvolvimen-
to dos caracteres somáticos, na
conservação da saúde, na aptidão
para o trabalho e na
produção
do trabalho, no aproveitamento
mental, no comportamento social,
e portanto
transcende o interês-
se de cada um, para
interessar ao
país, ao
povo, e à raça".
(Dante
Costa).
Evolução das idéias
alimentar es
A história da alimentação con-
funde-se, em sua origem, com a
própria história do homem, do
qual a alimentação representa
apenas um dos instintos mais pri-
mitivos. A necessidade de comer
está na base da vida animal.
O homem primitivo
comeu
apenas por
instinto, para
satisfa-
zer às necessidades mais essenciais
da sua organização: para
locomo-
ver-se, para garantir
o processo
mental primário, para
viver a pre-
cariedade das suas abstrações e da
sua cultura material.
(1) La
política nacional de la alimentacion en la Republica Argentina —
Pedro Escudero — Buenos Aires — 1939.
ALIMENTAÇAO, POLÍTICA NACIONAL 35
A seguir, o aperfeiçoamento so-
ciai transformou o instinto de co-
mer na conciência de comer. A
alimentação passava
a ser uma
preocupação, um ato
que mere
cia reflexão, um gesto
a ser diri-
gido. Mas essa
preocupação evo-
luiu lentamente, arrastou-se va-
garosa durante milênios até
po-
der encontrar as suas justificati-
vas científicas e as suas bases di-
retoras. A ciência da nutrição
tem apenas os seus cincoenta anos,
mas a alimentação tem a idade do
homem.
Já dividimos a evolução histó-
rica da dietologia em tres gran-
des períodos:
— período
arcaico —
que vai
dos tempos antigos até o desen-
volvimento da química,
no sé-
culo XVIII;
— período pré-científico
—
que vai dessa época aos últimos
anos do século XIX;
— periodo científico ou fisio-
lógico —
que começa nos fins do
sécuo XIX e vem até nossos dias.
A alimentação na Antigui-
dade e Idade Média
Mesmo nas mais remotas civi-
lizações prehistóricas
encontram-
se documentos relativos à impor-
tância dos hábitos alimentares na
vida individual e até na organi-
zação coletiva. No Egito foi en-
contrado o exemplar de um pa-
piro milenar
— 3.400
anos A. C.
— onde se revelava a existência
<le
"medidas
governamentais"
no
sentido de fornecer
"nutrição" e
"alimentos"
a uma determinada
coletividade. Havia mercados pú-
blicos em Tello, cidade da Meso-
potamia, 2.000 anos antes da nos-
sa éra. Contenau descobriu mui-
to recentemente, na Caldéa, no
templo de Obeid, perto
de Ur,
um baixo-relevo representando a
ordenha de vacas e o preparo
da
manteiga por processos
ainda ho-
je usuais em algumas
populações
sírias.
Na velha Grécia fazia-se o estu-
do das idéias. Hipócrates esbo-
çou, se bem
que empiricamente,
o estudo da dietologia. Êle já
se referia à maior necessidade de
alimentos que
tem a criança, em
relação ao adulto, e êste em rela-
ção ao velho.
(2).
A medicina romana também
muito se interessou pelos proble-
mas alimentares. E a facilidade
com que
ainda hoje o povo
fala
em alimentos
"fracos"
e
"fortes",
"pesados"
e
"leves" —
denomina-
ções desprovidas de rigor cientí-
fico —
deriva de uma classsifica-
ção de Celsus, médico romano.
Galeno publicou
o livro: Fa~
culdades ou poderes
dos alimen-
tos, descrevendo abundantemen-
te, e de preferência,
os alimentos
vegetais. O grego
Pitágoras era
"vegetariano" —
mal e defeituoso
regime: hoje sabemos que
a boa
alimentação exige a utilização de
alimentos de todas as espécies,
animais e vegetais, utilizados em
porções satisfatórias e em
propor-
ções adequadas, de acôrdo com as
qualidades nutritivas
que o cara-
cterizem. A alimentação racio-
nal compõe-se harmonicamente
não pode
ser baseada na exclusi-
(2) Les aphorismes d'Hyppocratte - L'enseigne du
post cassé
- Paris -
1934. Aforismas XIII c XIV —
págs. 46 e 47*
56CULTURA POLÍTICA
vidade de nenhum grupo
de ali-
mentos. (3.
Santórius foi outro médico da
antigüidade que teve as vistas
voltadas para
o problema
alimen-
tar, chegando a estabelecer rela-
ções entre
pêso e a nutrição. Dêle
diz M .S. Rose (4) que,
teria re-
solvido muitos dos mistérios en-
tão existentes em nutrição se, por
esse tempo, já
existisse a ciência
química.
A medicina medieval também
se preocupou
muito com as ques-
tões alimentares. Ela é farta de
publicações, livros, regras, aforis-
mas, relativos aos cuidados a ter
com a alimentação. Joanítius
es-
creveu o Isagoge, rico livro de
conceitos dessa espécie. A chama
da
"Escola de Salerno" tem os seus
famosos Aforismas, obra em ver-
so muito citada, cuja origem e
autoria verídica são desconheci-
das, presumindo
alguns que
te-
nham sido escritos em 1.066. Des-
taco do aforisma XVII":
tética de qualquer
livro de edu-
cação alimentar.
Passou o tempo, muitos outros
documentos poderiam
ser cita-
dos, mas não é êste o lugar para
detalhar a evolução minuciosa da
ciência da nutrição.
O período pré-cientifico
da ciência da
nutrição
Lavoisier, dando à química
o
impulso que
deu, lançou as ba-
ses do que
iria ser, futuramente,
a ciência da nutrição.
"The fa-
ther of a science of nutrition"
chama-lhe M. S. Rose (5).
Com êle começa o que
chamo
período pré-científico da ciência
da nutrição. Pleno desenvolvi-
mento da química.
Os laborató-
rios descobriam velhos mistérios
e os livros de alimentação dêsse
tempo são bem expressivos.
Por êssa época aparece, em lin-
gua portuguesa, o livro do dr.
Mirandela, médico de D. João
V,
publicado em Lisboa, em i749>
Âncora medicinal para
conservar
a vida com saúde, divulgado e
comentado entre nós por
Peregri-
no Júnior.
Em 1834, o médico inglês For-
syth publicou
o seu Dictionnary
of Diet. Dicionário de alimentos!
Aproximavamo-nos do período
de
formação científica da nutriciolo-
gia. Em meiados do século XIX
os termos
"amiláceos", "sacarí-
neos", e outros se vulgarizam, re-
lacionados com os alimentos. E
"Choisissez une nourriture
Simple et conforme a la nature.
Mangez de bons oeufs frais, n'en
perdez point le lait".
E o simples título de alguns ou-
tros aforismas darão bem a idéia
das preocupações
do autor ou dos
autores dos famosos aforismas.
N.° XXV:
"II
faut regles ses re-
pas suivanta la saison de Tan-
née"; n.° XVI:
"Boire
en man-
geant, et ne
pas boire entre les
repas", o que
é, de resto, regra die-
«Vft
|
(3) Vide: Bases da Alimentação racional
— Dante Costa — Cia. Editora
Nacional — 1040
— 2.a edição; capítulo "Harmonia
Alimentar" —
pág. 95.
(4) M. S. Rose: Foundations of Nutrition
— New-York — *939 3'
(5) M. S. Rose
— Opus cit. — Frontespldo.
ALIMENTAÇAO, POLÍTICA NACIONAL 57
um médico anglo-português, o
dr. Jonatan
Pereira, em 1843,
utiliza pela primeira
vez uma pa-
lavra que
se firmaria para
sem-
pre no estudo da nutrição huma-
na:
"proteína".
A éra cientifica; contri-
buição brasileira
Chega-se ao último período:
a
fisiologia da nutrição encontra,
nos fins do século passado
e no
início de 1900, os caminhos defi-
nitivos para
a resolução do velho
problema humano. Forma-se a
ciência da nutrição, no sentido
em que
hoje a amamos e servimos,
ciência cujos principais pontos
de
reparo são:
1. as necessidades calóricas
do organismo humano —
em repouso, em trabalho,
em crescimento, etc.
2. as necessidades plásticas
do
organismo humano.
3. a adequação dos alimentos
e sua variação freqüente.
4. a harmonia alimentar; con-
ceito qualitativo
e quanti-
tativo das diétas; leis da
alimentação.
5. as relações entre os múl-
tiplos fatores da nutrição.
6. as vitaminas e seu papel
na intimidade biológica.
E para
terminar êste resumo his-
tórico vale a pena
dizer que
um
dos primeiros
a se referir a
"doen-
ças de carência", como a chama-
mos hoje, isto é, doenças causadas
por falta de determinadas substan-
cias alimentares, foi um médico
brasileiro, o dr. Hilário de Gou-
vêa, que
em 1882 publicou,
entre
nós, uma comunicação, reprodu-
zida em 1883 na Alemanha, afir-
mando que
a hemeralopia, ou ce-
gueira noturna, era devido a um
"vício
de nutrição", era
"determi-
nada por
insuficiência alimentar".
Hoje sabe-se que,
de fato, essa
doença é devida à ausência de ali-
mentos ricos em vitamina A.
Alimentação e geografia;
a alimentação popular
no Brasil
E' vasto e complexo o proble-
ma da alimentação popular,
Se o quizermos
resolver há que
estar atento a diversos fatores: o
fator regional, ou geográfico,
o
fator econômico, o fator educa-
cional, são os de mais significati-
va expressão.
Tôda a política
nacional de
alimentação deve ser realizada de
acordo com o levantamento das
necessidades alimentares do país
e de acordo com as possibilidades
de solução específica do proble-
ma alimentar brasileiro. Bem diz
Escudero:
"no
hay un problema
nacional de alimentacion, sino la
suma de problemas
regionales".
Assim, o nosso problema
ali-
mentar deverá ser estudado e re-
solvido em função da geografia
do país. Já
dizíamos em 1937,
tratando de um
"padrão
dietéti-
co do brasileiro":
"No
Brasil,
país enorme,
que contém em seus
vastos limites todos os climas su-
portáveis, seria difícil e errado a
organização de um padrão
rígido,
a ser seguido por
todos. Primei-
ro, porque
há alimentos que
exis-
tem em uma região c não são en-
contrados em outra. E' preciso
contar, no estudo da alimentação
brasileira, com estas modificações
58 CULTURA. POLÍTICA
impostas pelo
tamanho da terra e
pela diversidade de costumes".
A resolução do problema
ali-
mentar brasileiro deverá sair de
laboratórios brasileiros e de li-
vros brasileiros —
e eis porque
é
tão animador o interêsse atual
por êsse
problema. Pioneiros co-
mo o dr. Eduardo de Magalhães,
cuja
"Higiene alimentarpubli-
cada em 1912 ,encerra tantos con-
ceitos úteis para
o tempo, e que
ainda hoje subsistem, como o
prof. R. de Souza Lopes,
publi-
cando também significativo tra-
balho precursor
dos seus atuais
estudos, como o dr. Alfredo de
Andrade, realizando o estudo do
valor nutritivo dos nossos ali-
mentos, como o eminente Afrâ-
nio Peixoto, como o ilustre prof.
Paula e Souza, realizando em
1921 a calorimetria dos alimentos
brasileiro, atualmente desenvol-
vida em seu fecundo
"Instituto de
Higiene", outros, poderão
ver no
interêsse atual pela
ciência da
nutrição, a partir
de 1935, um si-
nal de correspondente interêsse
por uma das mais importantes
questões nacionais.
O Brasil, por
sua feição geográ-
fica, apresenta vários problemas
alimentares. Por exemplo: a de-
ficiência de carne na Amazônia
e sua resolução natural pelo
maior
consumo de peixe;
a existência
de diétas regionais erradas e uni-
laterais, a base de farinha de
mandioca, a base de carne seca, a
base de feijão preto, que,
de
acordo com as pesquizas
de F. A.
de Moura Campos não é o mais
nutritivo tipo de feijão entre os
usuais na alimentação humana,
etc.; os problemas
ligados ao for-
necimento de leite, alimento im-
precindível em toda a diéta cien-
tificamente composta para
o ho-
mem são; os problemas
ligados
ao pouco
consumo de verduras e
de frutas, etc.
Cabe aqui especial referencia à
questão da área cultivada de
pro-
dutos alimentares e das necessi-
dades alimentares de determina-
da região. São necessários 50
a
80 ares cultivados de produtos
alimentares, por
habitante, para
que a alimentação de uma região
se possa
fazer satisfatoriamente.
Realizando o cálculo para
uma
família de quatro pessoas,
essa
necessidade mínima sobe a 200
ares por
família. Na África Equa-
torial cabem a cada família 60
ares da terra cultivada; em nossa
Amazônia, a cada família cabem
apenas 10 ares.
Felizmente a situação não é a
mesma nas demais regiões brasi-
leiras, mas essas cifras, que
apre-
sentamos a recente Congresso
Científico, representam um sinal
bem expressivo do aspecto que
o
problema toma em nosso
país.
A educação alimentar
do brasileiro
O problema
da alimentação do
brasileiro apresenta, ao lado do
aspecto puramente
econômico,
uma outra face igualmente im-
portante: o aspecto educacional.
Êsse dilema —
pauperismo e igno-
rância, nem sempre tem uma si-
tuação tão dramática quanto
em
nosso país.
E' certo que
em toda a parte
há
gente pobre e
gente que não sabe
comer. Porém o gráu
dessa po-
breza e dessa deseducação varia.
alimentaçao, política nacional 59
Nos Estados Unidos, por
exem-
pio, o alto
padrão de vida e o
elevado nível dos salários darão
cores menos vivas ao problema
econômico da alimentação, e mes-
mo assim Mc. Collum ainda afir-
mava, em 1934, a existência de
20 milhões de crianças america-
nas desnutridas. Em certos pai-
ses da Europa, por
outro lado, a
tradição da boa cozinha contri-
bue para
tornar menos significa-
tiva a questão
educacional da
alimentação. Conforme pude
ob-
servar em alguns países
da Euro-
pa, em 1938, o
problema alimen-
tar europeu é bem diverso do nos-
so. Não temos, na vida doméstica,
mesmo entre as famílias abasta-
das, o amor do bom prato, que
le-
va à pesquiza
de novos alimentos
culinários, que
leva ao prazer
da
variedade —•
eis uma das causas
que explicam as nossas tendências
de repetição, de monotonia ali-
mentar —
mesmo entre classes de
nível econômico mediano.
Já é uma verdade sabida: o
brasileiro não sabe comer. Diz
Alexandre Moscoso:
"urge
edu-
car, corrigir os erros, indicar a
acertada escolha dos alimentos,
mostrar qual
deve ser a alimen-
tação apropriada", etc. Helion
Povoa define bem:
"A
sub-nutri-
^ão resulta do baixo nível de
educação e da escassez econômi-
ca. Salário só, não basta; é pre-
ciso também educação: usar lei-
te, comer frutas, empregar legu-
mes na alimentação habitual. O
nosso homem do interior precisa
ser instruído, precisa
saber que
não se deve alimentar só do bal-
cão da venda, que
lhe devora tô-
da a bolsa pobre; precisa
se con-
vencer de que
a terra é dadivo-
sa; deve plantar
e colher".
O pauperismo
é, em verdade,
apenas uma das partes
do drama
alimentar das clases menos favo-
recidas. A outra parte
dêsse dra-
ma, e igualmente imperiosa, é a
falta de educação alimentar.
As soluções; a política
alimentar do atual
Govêrno
Xão se conseguirá realizar o
vasto trabalho de solucionar o
nosso problema
alimentar sem
muito espírito de determinação.
Desde 1935 a conciência brasi-
leira sentiu chegada a hora de
resolver êsse problema:
a
"Gam-
panha Nacional
pela Alimenta-
ção da Criança", realizada
pelo
prof. Olinto de Oliveira, atual
diretor geral
do Departamento
Nacional da Criança, foi o pri-
meiro passo
nêsse sentido. Uma
campanha educacional realizada
por aquêle eminente técnico do
Ministério de Educação e Saúde.
Iniciativas outras, tais como o
Inquérito realizado pelo
Depar-
tamento Nacional de Saúde, di-
rigido pelo
dr. J.
de Barros Bar-
reto, são dignas de nota. E a
recente creação do Serviço de Ali-
mentação da Previdência Social,
no Ministério do Trabalho, veio
constituir o grande
exemplo de
assistência alimentar aos nossos
trabalhadores. Torna-se neces-
sário dotar êsse novo organismo —
cujas iniciativas até agora teem si-
do tão acertadamente planejadas
e executadas —
de meios capazes
de transformar em ação nacional
o que já
está realizado no Distri-
to Federal, dando-lhe também re-
6QCULTURA POLÍTICA
cursos para
não só assistir como grave problema da alimentação
educar à grande
massa trabalha- no Brasil.
dora do país.
OS. A. P. S. re- Começamos agora, também nós,
presenta o inicio de um
grande uma verdadeira
política nacional
passo no sentido de solucionar de alimentação.
O processo
de deculturaçào
nas áreas da caatinga
(Introdução ao estudo das realizações do Governo
no Nordeste Brasileiro)
II
DJ AC IR MENEZES
Diretor cia Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará.
— l)o Instituto do Ceará. — Catedrático da Faculdade de
Direito do Ceará.
Tendo estudado, no numero inaugural desta Revista o processo
de "acul-
turação" nas áreas da caatinga, estuda hoje o autor o processo
inverso, ou
de "deculturação".
A situação dos indígenas que povoam o Nordeste su-
gere problemas da mais alta relevância. São os
grandes aspectos políticos
e
sociais desses problemas que
o autor procura focalizar
no artigo que
se segue.
REPETIDAS
vezes já
se chamou
a atenção dos estudiosos para
a importância e o interêsse
que as
pesquizas etnológicas apre-
sentam no Brasil, com intrincados
problemas decorrentes de tão
complexo melting pot.
Em cada
região do país
o processo
etnogê-
nico oferece aspectos que
se con-
trastam variadamente. Pondo de
parte a
questão politicamente
ex-
piorada da
"superioridade das
raças", que
Stewart Chamberlain
atiçou e outros continuaram, mui-
tas vêzes a serviço de ideologias
imperialistas, — não se
pretende
hoje erigir os motivos étnicos em
causas matrizes da evolução so-
ciai e política
dos povos.
O apru-
mo científico de um Le Bon,
acusando a mestiçagem de ser a
responsável pela
desordem eco-
nômica e financeira da América
latina, é de uma futilidade infi-
nita. Mesmo os que
sustentam,
precavidos e reticentes, a tese da
incapacidade ou debilidade físi-
ca ou mental dos tipos mestiços,
encontram, nos fatos nacionais, as
mais rijas negativas.
Êsse problema para
nós está a
exigir as mais sérias investigações
experimentais: prossegue o
pro-
cesso de caldeamento dos elemen-
62 CULTURA POLÍTICA
tos resultantes das cruzas anterio-
res. Pode-se delimitar, nas lindes
periféricas do sertão, a franja en-
tre culturas autóctones remanes-
centes e a civilização rural: e as-
sinalam-se ali os fenômenos de de-
composição cultural. Essa franja
refoge sempre para
os recessos
bravios, na mobilidade das fron-
teiras econômicas, que
se dilatam.
As relações, que
se travam entre
êsses longínquos aborígenes e as
populações mais
próximas, são di-
gnas de mais acurado exame. O
belo trabalho de Herbert Baldus
representa valiosa contribuição
nesse particular (1).
No que
tange ao nordeste, ês-
ses fenômenos de contactos cul-
turais já
se não verificam. Mas
a análise étnica e antropológica
de suas populações
revela a gran-
de percentagem
de sangue indí-
gena, altanando a média dos ti-
pos caboclos
(2). Êste mamelu-
co indioide não se confunde com
pardo, o mulato negroide. Nas
zonas da caatinga, a diluição dos
sangues puros
se iniciou há mui-
to, com as primeiras
tentativas de
fixação. O aborígene foi assimi-
lado com relativa facilidade pelo
sistema de trabalho libérrimo do
pastoreio, gerando os
primeiros
contingentes da plebe
das zonas da
caatinga, em larga miscigenação.
Acresce notar a extrema mobi-
idade das populações
nordesti-
nas. Os centros mais concentra-
dos, como Joazeiro, por
exemplo,
denotam a convergência de indi-
víduos afluindo de pontos
os mais
distantes. As dificuldades de vi-
da do meio explicam em parte
essa transhumância, a que
as ca-
lamidades periódicas
dão as cores
trágicas e violentas, tão exaltadas
pelos dissertadores literários.
E' possível
discriminar, no po-
limorfismo dos tipos constitucio-
nais dos nossos aborígenes, o tipo
constitucional dominante, com os
dados que
ainda nos restam? Em
seguida: é possível
acompanhar,
no mestiço do nordeste atual, to-
mando o tipo mais acentuada-
mente dominante nas suas popu-
lações, os caracteres que
herdou
das raças formadoras? Depois: qual
sua fórmula dinâmico-humoral?
qual sua morfologia?
qual sua
psi-
cologia? Nos bandos de fanáticos
e os bandos de cangaço, que
teem
fisionomia diversa, comportamen-
to social diverso, —
quais os tipos
prevalecentes? Será
possível efe-
tuar-se algum discrime?
O despedaçamento das
culturas indígenas
De passagem,
referimos que
as
plagas nordestinas, contrariamen-
te ao que pensaram
alguns, eram
densamente povoadas.
Os trechos
mais agrestes e sáfaros eram per-
lustrados por
tribus variadas. De
maneira geral, podemos
dizer que
os tapuias (na
sua quasi
maioria
do grupo
cariri), habitavam o in-
terior e praias
do norte; e da ri-
beira do Jaguaribe para
o sul, vi-
viam os aborígenes da grande
fa-
mília tupi. Resenhemo-los, rapi-
damente.
No alto sertão caririense, ha-
bitavam os carcuassús e os calaba-
ças, pelas margens do rio Salgado;
(1) HERBERT BALDUS, Ensaio de Antropologia Brasileira.
(2) O autor refere-se ao Nordeste semi-árido, onde Capistrano viu aparecer
uma "civilização
do couro".
O PROCESSO DE DECULTURAÇAO NAS ÁREAS DA CAATINGA 63
os cariús, pelos
rios Cariús e Bas-
tiões; os Genipapos (que, em
1724, juntos
aos cariús, sob a di-
reção dos Feitosas, assolaram as
propriedades dos Montes); —
nas
faldas do Araripe, os Carirís, Ca-
rirés ou Kiriris; os Icós, da na-
ção Carirí, rechassados da Paraí-
ba, onde depredavam os centros
colonizados e que
foram outrora
doutrinados por
Malagrida, quei-
mado pela
Inquisição portuguesa;
os Jucás,
errando pelas paragens
de Inhamuns, aldeados em 1727
nas margens do Jaguaribe,
de on-
de surgiu mais tarde a cidade de
Arneirós; os Quixelós
e Candan-
dús, de cujo aldeamento se ori-
ginou, posteriormente, a
povoa-
ção de Telha; os Paiacús ou
Baiacús, povoando
as zonas entre
Assú, baixo Jaguaribe
e serra do
Apodí; os Jaguaribáras, que
eram
Paiacús, situados entre o rio Ja-
guaribe, a serra de Baturité e o
rio Mundaú, tendo apoiado os
portugueses no combate contra a
sublevação dos seus parentes
Paiacús; Quixadás
ou Quixarás,
nas margens do Sitiá; os Guanas-
sés, ou Anassés, os Guanasseguas-
sú e Guanassémirim, inimigos
acérrimos, observados por
Ma ti as
Beck, bem como os Jaguaraúnas
e
Jagoarisguaris, espalhados
pelas
margens do Curú e Acaraú; os
Teremembés, que
se alongavam
além do Mundaú até o Parnaiba;
os Tacarijús, que
mataram o pa-
dre Francisco Pinto, que
foi vin-
gado depois
pelos Tabajaras; os
Potiguares do Ceará, que
auxilia-
ram as lutas contra os tapuias Ca-
rirís, na penetração
feita pelo
sul;
Xirirís e Xocós, pervagando
entre
Ceará e Paraíba; os Minaús, pela
serra do Piancó, contando, em
1643, apenas algumas centenas,
bravios e belicosos; e ainda Qui-
xariús, Xorós, Javós,
Uriús, Ca-
nindés, etc. (3).
O simples enunciado comprova
a asserção sôbre a densidade do
povoamento. Viviam em
peque-
nos grupos, que
facilmente se
subdividiam a se inimistavam,
como no caso dos Paiacús. A vida
econômica inferior não tornava
possível grupos sociais mais es-
truturados — traços típicos
que a
área cultural revela nos seus as-
pectos mais
gerais. Em estádio
convizinhando ao sedentarismo
agrícola, situam-se, entretanto, em
plano inferior ao da maioria das
tribus tupis. Daí talvez sua in-
disciplina e inaclimabilidade aos
centros da lavoura canavieira do
nordeste pernambucano.
Daí tam-
bém sua facilidade de adaptação
ao trabalho irregular das caatin-
gas, no impulso
que emprestou à
cultura pastoril.
Diferenciação
profunda, advinda de imperativos
da ambiência física.
Mas são eles o potencial
de
energias que
alimentam as agita-
ções de nossa época colonial. Sua
pacificação é lenta, a ferro e fo-
go. Repetimos. Resistem, en-
quanto possível, a dissolução ad-
vinda ao contacto do branco ci-
vilisador.
A civilização avançava. Ela ex-
primia a
quebra violenta de todos
os paradigmas
essenciais de sua
<*\ C ARI OS STUDART, Notas históricas sôbre os indígenas cearenses. Re-
vista trimestral do Instituto do Ceará, 1931. TRISTÂO DE ALENCAR ARARIPE,
11a enumeração que faz na sua História da Província do Ceará, edição de^1850, pags.
15 e 16, opina que
os Guanacés e Jaguaraunas, citados por
Ayres do Cazal, eram
tribus Anassés. -'
64CULTURA POLÍTICA
cultura. Êles foram heróicos na
oposição desesperada. Quem ler
o documentário dos capitães-mo-
res, dos ouvidores, as queixas
dos
sesmeiros apropriados das terras
dêles, (4)
sente o esforço tremen
do para
viver nas lutas que
en-
frentaram. Êsse caráter de pugna-
cidade e energia desmente o que
dêles disse levianamente Joaquim
Catunda nos seus Estudos de His~
tória do Ceará (5).
Pinta-os decadentes, como res-
tos de raça que,
em tempos ime-
moriais, atingira apogeu civilisa-
do.
"Seus usos e costumes só re-
velavam animalidade; nos homens
nem nas mulheres nenhum reca-
to nas relações sexuais; pariam
as
cunhans como alimárias dos cam-
pos, onde
quer que sentissem as
dores e apenas acabavam de sen-
tir as dores metiam-se nágua com
o filho...", etc. O ilustre sena-
dor não atentou que
o parto
é um
acontecimento animal, que
a au-
sência de civilização apenas o des-
pe dos
preconceitos creados, c
que êsse fato era o mesmo em
qualquer tribu sul-americana. O
que não existia em todos era o
fenômeno da couvade, que
cara-
cterisa um complexo cultural vil-
timamente bem estudado.
O historiador cearense enegre-
ce torvamente o quadro:
— e atri-
bue o despovoamento do nordes-
te a grande pederastia
reinante
entre os tupinambás, a que
filia
todo o matizado dos ameríncolas
aqui localisados. Sabemos que
não era tal. A região era habita-
díssima. Quanto
ao homo-sexua-
lismo, que
Catunda descobriu, é
uma invencionice inexplicável.
Não perquirimos
onde o escritor
foi descortiná-la, nem que
autori-
dades a escoram, desde que
não é
testemunha presencial dos fatos
narrados e examinados. Mas dis-
cutamo-la.
A bravura dos incolas
A extraordinária bravura dês-
ses incolas, escrevendo as páginas
mais sangrentas de resistência, à
colonização, que
os esfacelará e
oprimirá, exclue o quadro
de in-
dolência, amolecimento e degene-
rescência que
nos descreve. Até
a retórica, como sintoma de decre-
pitude, êle aponta. Os instintos
de agressividade e luta são proíun-
damente machos. Maranon já
mostrou luminosamente como o
trabalho e a luta, atividades que
o homem desenvolve contra o
meio, depende de fortes instintos
relacionados com o sexo. O traba-
lho está ligado ao instinto de con-
servação individual e não se opõe
ao sexo, como não se opõe o indi-
víduo à espécie. Intensa luta pe-
la vida exprime e exige forças
instintivas e sexuais. A forma mais
robusta e expressiva da masculi-
nidade é a luta.
A imensa energia desenvolvida
pelos turbulentos ameríncolas, na
resistência porfiada que
oferece-
ram, é o traço mais vigorosamen-
te macho que poderiam pôr
em
relevo. Dizíamos pela pederastia,
teriam outra psicologia
e outra
história. O contacto com a inva-
são civilisadora e sifilizadora, co-
mo diz Gilberto Freyre, far-se-ia
(4) BARÃO DE STUDART, Datas e fatos para
a História do Ceará, 3 vols.
— Documentos para a História do Ceará, 1 vol., ANTÔNIO BEZERRA — Algumas
Origens do Ceará.
(5) J. CATUNDA, Estudos da História do Ceará, 2.a ed.
O PROCESSO DE DECULTURAÇAO NAS AREAS DA CAATINGA 65
de maneira completamente diver-
sa da em que
se fez.
Ademais, sabe-se hoje como as
excitações sexuais, a que
recorre
o selvagem, como dansas, cânti-
cos, bebidas, são sintomas de sua
sexualidade mais débil. Das ra-
ças cruzadas, foi a branca a mais
erótica. A que
vinha em busca da
índia núa e da liberdade sexual.
E, como diz em sua linguagem
pitoresca o autor de Casa Grande
e Senzala, o branco tropeçava em
carne desde a beira da praia.
De-
sembarcava vibrando de luxúria.
Foi grande
a perseguição
à fe-
mea. Alguns jesuítas
não esca-
param às solicitações
genésicas. A
Venus aborígene acordou em al-
guns o
que se
julgara amor ta-
lhado.
Fisionomia da cultura abo-
ri gene
do noroeste
e nordeste
Está bem descrita a fisionomia
geral das culturas indígenas do
noroeste: caça, pesca,
cultura da
mandioca, tabaco e coca. Às vê-
zes, inhamum, girimum, pimenta.
O processo
de agricultura de coi-
varas, que passou
aos colonisado-
res. Tabaco usado como bebida
em certas cerimônias. Uso do
curare, da flexa, da lança, do ar-
co, do remo, do anzol, da arma-
dilha. Sinais por
meio de tam-
bôres.
Êsses traços, sumariados por
Whiffen, serviriam, com algumas
eliminações, para
caracterisar as
tribus tupis e tapuias do nordes-
te. A descrição que
nos deu Clau-
(6) ESTEVAM PINTO, pág. 237:
mais altos: os auetós, os parecis, os nauq
indígenas do Nordeste, vol. 1.
de Abeville das tribus do Mara-
nhão permitiria
se apôr alguns to-
que no
quadro. Cabanas oblon-
gas, cobertas de
palha ou folhas
de pindoba,
caindo até o solo, dis-
pondo de um orifício de entrada.
Em tempos de guerra,
cavavam
um fosso em volta de algumas al-
deias, garantindo-o
com cercas de
pau-a-pique. Em cada cabana,
acumulavam-se dezenas, às vêzes
uma centena de tupinambás —
de-
põe Abeville. Redes de embira,
instrumentos musicais, maracás
sagrados, machados de pedra,
ba-
laios, panacús, jarras
de cauim,
cabaças etc.
Tipo antropológico
Quanto ao tipo antropológico,
nem sempre são acordes as descri-
ções que nos deixaram cronistas e
historiadores.
Herckmann vê os tupis e gês
como
"amorenados"
(bruynach-
tlich), Gandavo acha-os
"baços",
frei Vicente do Salvador julga-os
"castanhos", Markgraf conside-
ra-os
"negros"
(nigros), Anchieta
opina para
o
"vermelho", Barleus
fala em
"azeitonado escuro". Bons
dentes, talhe proporcionado,
não
se pode
escorçar um tipo que
re-
suma a variedade das raças. A
estatura não atingiria a do borô-
ro, entre os quais
a média era de
1.80, consoante Botelho de Maga-
lhães. Nem o extremo oposto, on-
de o mauê faz lembrar os pi-
gmeus e negrilhos
(6).
O
"cabeça chata" do nordeste,
xantodermo indioide que
não fo:.
estudado ainda como devêra, re
"Os borôros, os carajas, os caiapós, são os
ias e os iamandis são os mais baixos". Os
66
#
CULTURA POLÍTICA
vela, na tendência braquitípica.
Na sua reatividade subitânea, que
o transfigura, como pintou
Eucli-
des, exsurgem os caracteres dos
contingentes étnicos aqui outrora
estacionados e diluídos na massa
das populações
rurais.
Agassiz fez comparações entre
o tipo indígena e o tipo do ne-
gro. Vale a
pena ouví-lo.
"O
que desde logo me impres-
sionou, vendo índios e negros re-
unidos, foi a diferença marcada
que há nas
proporções relativas
das diferentes partes
do corpo.
Como os macacos de braços com-
pridos, os negros são em
geral es-
guios; teem
pernas compridas e
tronco relativamente curto".
Em linguagem bio-tipológica:
um longilíneo, micro-esplânchi-
co, cuja psicologia
é freqüente-
mente esquizoide, sobre o que
vol-
veremos adiante. Continua Agas-
siz:
"Os
índios, ao contrário, teem
pernas e braços curtos e o corpo
longo; sua conformação geral
é
mais atarracada. Prosseguindo na
minha comparação, direi que
o
porte dos negros lembra os hilo-
batas, esguios e irrequietos, ao
passo que o índio tem algo do
orango, inativo, lento e pesado.
Está entendido que
há exceções a
esta regra, que
se encontram ne-
gros curtos e atarracados, bem
como índios altos e esbeltos; mas
tão longe quanto pude
observar, a
diferença essencial entre as raças
indígenas e negra é a altura e a
forma quadrangular
do tronco,
aliadas a curteza dos membros, na
primeira, e o arcabouço estreito,
o tronco curto, as pernas
alta-
mente talhadas e os braços com-
pridos, na segunda".
Estão aí esboçados, ligeiramen-
te, os tipos longilíneos e brevilí-
neos, dos quais
tiraríamos as duas
modalidades: os tipos astênicos e
estênicos, respectivamente. Pode-
se aceitar como verdade, pelo
me-
nos no que
disser respeito à an-
tropologia nordestina. Acrescen-
tamos outros traços, extraídos de
João Francisco Lisboa, ao tratar
dos tapuias:
"Posto
que exista uma analogia
notável entre todas as tribus do
litoral e do sertão, é certo que
os
tapúias, mais que qualquer
outra
nação americana, guardaram
o
cunho selvagem do tipo mongóli-
co (7).
Tinham as maçãs do ros-
to saliente e o ângulo do olho re-
montava para
as frontes. Eram
baixos e reforçados, e a cor da
pele, bem
que em
geral acobrea-
da, mitigava-se em certas tribus,
o ponto
de se aproximar ao bran-
co. Os cabelos lisos e negros des-
ciam pelas
espáduas, e a acreditar-
mos a Rouloux Baro, em certos
povos eram tão compridos e
pro-
fusos, que
aqui valiam a uma ves-
tidura".
A semelhança entre
os sexos
Impressionou ainda Agassiz a
maior semelhança entre os sexos:
a mulher índia, vista de costas,
exibia um aspecto inteiramente
masculino. Vem a mente aquela
passagem de Gandavo sobre cer-
tas mulheres aborígenes que
"de-
(7) A antropologia moderna conta muitos sábios (jue asseveram, como
ponto
fora de debate, a ascendência asiática do ameríndio. BOAS fixa no período
intei-
glacial sua vinda
para a América. Cf. ROY NASCH, A Conquista do Brasil.
O PROCESSO DE DECULTÜRAÇAO NAS AREAS DA CAATINGA 67
terminam ser castas, as quais
não
conhecem homem algum de ne-
nhuma qualidade, ainda
que as
matem". Abandonam as ativida-
des comum às suas companheiras
e
"imitam os homens e seguem
seus ofícios, como sinão fossem
suas femeas" (8).
Cortam os ca-
belos, vão à guerra,
caçam, pes-
cam, mantendo outra companhei-
ra, com quem
"se
comunicam e
conversam como marido e mu-
Iher".
O grande
observador notára
ainda que
não havia nelas a de-
licadeza feminina peculiar
aos ti-
pos da raça civilizadas. Essa si-
militude entre os sexos, verificá-
vel entre povos
salvagens, sugerem
algumas considerações interessan-
tes. Maranon menciona a poliga-
mia como sexualidade indiferen-
ciada —
e é sempre encontradiça
nessas fases de evolução social. A
diferenciação cresce dos animais
inferiores aos superiores. Social-
mente, há a mesma diferenciação.
Basta lembrar a história evolucio-
nal da família. Só as sociedades
que já ingressaram na barbaria
ou já
vão atingindo as fases civi-
lisadas marcham para
a comple-
ta diferenciação monogâmica.
"Sexo
e trabalho —
diz aquele
endocrinologista — desde os al-
bôres de nossa vida no planeta
aparecem unidos por
indisolúvel
laço biológico".
O trabalho, nas sociedades infe-
riores, surge como o diferencia-
dor máximo entre os indivíduos.
E é ainda o sexo que
determina a
primeira divisão histórica do tra-
balho. Entretanto, essa diíeren-
ciação não é absoluta, participan-
do muitas vezes os dois sexos de
atividade comum Essa indiferen-
ciação relativa induziu Catunda
em êrro: mas errou porque
visio-
nou justamente
o que passava
despercebido a outros, sem ele-
mentos para
estudar o problema.
Aliás, o que
mostramos aqui é a
tendência masculinisante das mu-
lheres, imposta pelas
condições da
vida selvagem.
Já com a negra o fato é dife-
rente, como notára Agassiz. "De
sorte que
se pode
dizer que
a mu-
lher índia é notável pelas
suas
formas masculinas, enquanto o
negro o é pela
sua aparência fe-
minina". Adiante, êle atenua as
observações: "A
diferença prove-
niente da diversidade de sexos
não é tão marcada nas duas raças:
a mulher indígena assemelha-se
muito mais ao homem do que
a
negra ao negro; as negras teem
geralmente o trabalho mais deli-
cado que
os homens de sua raça".
O exame do sábio vai às par-
ticularidades. Os seios da negra
são mais próximos que
os da ín-
dia. Nesta, os mamilos voltam-
se para
fóra, erectos e cônicos.
Olhada de perfil,
o seio parece
projetar-se sobre o braço. Na
ne«ra, o seio cilíndrico é mais,
mole, derrama-se sobre o peito.
Deculturação e
introversão
Fez-se muita literatura sôbre a
tristeza brasileira. Paulo Prado
chegou mesmo a ver nela uma de-
terminante mais do que
uma re-
sultante. Quiz
explicar muita coi-
sa a custa dessa tristeza irreme-
diável. Graça Aranha, ainda fa-
zendo literatura, disse alguma coi-
(8) GANDAVO, Piovincia de Santa Cruz, n. 48, cap. X.
68 CULTURA POLÍTICA
sa sobre a nostalgia das raças que
aqui se mesclaram. Outros foram
flauteando no mesmo estribilho.
As raças formadoras seriam tris-
tes? E que
é um ser triste? Ten-
temos encarar êsses fatos à luz da
psicologia e da biologia.
O prazer
de viver se manifesta
nos povos que
encontraram for-
mas político-sociais
compatíveis
com seu estádio de desenvolvi-
mento e expansão de forças pró-
prias. Está um
pouco vago, mas
prossigamos. As desadaptações,
que desajustam o indivíduo ou
grupos de indivíduos, de condi-
ções normais de atividade, operam
naturalmente a dissimetria, a in-
satisfação, o constrangimento.
Com maior intensidade, a revolta.
Si não caminha para
a revolta,
como meio de afastar os tropê-
ços, e não descobre meios racio-
nais, inteligentes, que
alcancem o
equilíbrio, há de fatalmente con-
formar-se. Resigna-se. Eis en-
tão outras formas sociais de com-
portamento: resignação,
pessi-
mismo, indolência etc. Isso não
é esquematizável e se reveste de
formas variadíssimas.
O índio era feliz, portanto
ale-
gre, na sua atividade normal, em
consonância com seu padrão
cul-
tural e com sua biologia de povo
em certa fase evolutiva. Não era
raça concentrada, melancólica,
que alguns viram
já dizimada e
escorraçada das terras melhores:
deculturada. Toda deculturação
é uma degeneração social pelas
dissimetrias desadaptantes, intro-
duzidas por
outros povos
mais
capazes de explorá-las. Leiam-se
as páginas
descritivas dos folguê-
dos, danças, cânticos, deixadas pe-
los missionários. Êstes, si bem que
fossem os mais mansos e terríveis
perturbadores do ritmo cultural,
notaram a espontaneidade vital
dos íncolas. Para não ir muito
longe, basta e aleitura de Cardim,
que, entretanto, di-los
"melancó-
licos, mas com muitos jogos,
di-
versões, raramente se desavindo".
"Logo
de pequenino
os pais
en-
sinam a bailar, a cantar e os seus
bailos não são diferentes de mu-
dança, mas é um contínuo bater
de pés,
estando quêdos,
ou an-
dando ao redor e meneando o cor-
po e cabeça, e tudo fazem
por tal
compasso e com tanta serenidade,
ao som de um cascavel feito ao
modo do que
usam os meninos de
Espanha, com muitas pedrinhas
dentro ou umas certas sementes
de que
também fazem muito boas
contas e assim bailam cantando
juntamente, porque não fazem
uma coisa sem outra, e teem tal
compassados uns atrás dos outros,
acabam todos juntamente
uma
pancada, como si estivessem todos
em um lugar".
Prossegue o cronista narrando
a estima recíproca que
reina en-
tre êles, o tratamento que
dão as
mulheres, etc. Uma série de in-
dicações que
denotam certa ex-
troversão. Nas cartas dos jesuítas
encontramos, vêzes sem conta, re-
ferências aos folguêdos indígenas.
Uma curiosa carta de autoria dos
meninos do colégio da Baía ao
padre Domenech, em 1552, diz
que
"êles
são amigos de coisas mú-
sicas",
"tudo
se consegue dêles
com cantorias" (9).
A tristeza e a introversão fo-
ram ,até certo ponto,
uma conse-*
quência dos contactos
perturba-
(9) SERAFIM LEITE, Novas Cartas Jesuiticas, pág.
148.
O PROCESSO DE DECULTURAÇAO NAS ÁREAS DA CAATINGA 60
dores entre as culturas indígenas
e a penetração
colonisadora. Nem
cabe atribuir somente ao colono
essas dissimetrias de culturalisan-
tes. Si o colono combatia-os, ma-
tando-os ou submetendo-os dura-
mente, o jesuíta
não era menos
desorganizador da cultura aborí-
gene. O imperialismo religioso
foi apenas uma guarda
avançada
do imperialismo da Europa bur-
gueza, na maturidade de sua ex-
pansão comercial. Na vanguar-
da do avanço, o padre
adoçava o
contacto. Funcionava como óleo
para suavisar o atrito. Produzia
uma deculturação homeopatica.
Mas o sentido de seu papel
está
em conexão com o desenvolvimen-
to civilizador do ocidente, que
vinha crescendo economicamente.
As chamadas Reduções, que
Aires de Casal, em 1630, contava
em número de 20, com mais de
70.000 habitantes, dos Guaranis,
no sul, dão uma idéia aproxima-
da do sistema que
os missionários
sonhavam implantar em todo o
continente. O Paraguai foi um
exemplo fascinante. Os aldeamen-
tos incompatíveis com a vida li-
vre, a fiscalização fradesca dos
corpos e das almas, o aniquila-
mento da espontaneidade da vida
(libérrima dentro daquêle para-
dígma cultural), a destruição da-
quêles moldes sociais... Introdu-
zia-se uma repentina sedentarie-
dade, novos modos de pensar
e
sentir, "folk-ways"
que se impri-
miam de chofre, normas de con-
duta sexual, etc. A mesma obser-
vação faz, hodiernamente, um
competente na matéria, o sr. Hei-
bert Baldus, em Toldo de Ias
Lontras, entre os Tapirapecós.
E o que
verificou foi a incapaci-
dade para
adaptarem-se dentro
do nosso processo
econômico.
"Nossa
civilização tem profun-
da influência nas relações entre as
gerações: faz surgir contrastes que
decompõem cada vez mais a co-
munidade". E adiante comenta:
"Pela
finalização do estado de
guerra, e
pela introdução de ins-
trumentos de ferro, a dureza da
luta pela
vida é diminuída de
modo que
lhe transforma, não ra-
ro, em ociosidade, a índole com-
bativa e produtiva".
Faz-lhe perder
o
"sentido
da
vida". Não compreende a ativi-
dade desenvolvida sob outros pa-
drões culturais, sem consonância
com sua mentalidade.
O micróbio da desa-
gregação
O elemento europeu, que
se
imiscue como condutor das uni-
dades culturais aborígenes, é o
micróbio que
vai desagregar a
comunidade, onde há certa soli-
dariedade orgânica, pela
destrui-
ção de seus valores vitais. Mesmo
em se tratando do jesuíta,
ou,
principalmente, em se tratando
dêle. Suaviter in modo, fortiter
in re. Aparentemente macio, as
conseqüências foram as mais pro-
fundas para
desarticular a cultu-
ra ameríndia. Desapareceram ra-
pidamente. Não fizeram a luta
estúpida e deshumana, —
mas a
destruição invisível das tramas
sociológicas e psicológicas,
heredi-
tárias e estabilisadoras, que
dão
unidade e homogeneidade ao gru-
po, que aparece como um com-
plex network, na expressão de
70 CULTURA. POLÍTICA
Hollingshead (10).
Daí a perda
do sentimento e alegria da vida.
Porque não admitir sua trans-
formação psicológica?
Os pro-
cessos orgânicos hereditários de-
terminam os caracteres indivi-
duais dentro de uma ambiência
social, que
resulta de interação
entre sêres humanos, ligados na
vida associativa. A ponto
de es-
crever Edward B. Reuter que,
na
acepção sociológica,
"uma
raça é
um sub-tipo físico de formação
cultural". Com isso quer
acen-
tuar a fôrça modeladora da am-
biência, e não esquecer, concomi-
tantemente, o valor dos fatores
heredológicos.
Ora, os destroços das culturas
esfaceladas não podiam
apresen-
tar tipos humanos orientados e
equilibrados: seus objetivos fo-
ram abalados, pervertidos,
subs-
tituídos, anulados. E a nova cul-
tura, que
se desenvolvia em tôr-
no, tinha condições diferentes de
vida. Tornaram-se estranhos. De-
sapareceram, desfeitos, os liames
ecológicos. Desajustaram-se cada
vez mais. E introverteram-se. A
muitos parecerá
audaciosa a con-
jectura. Mas freqüentemente o
explorado torna-se psicologica-
mente, um introvertido.
Dentro dos moldes da cateque-
se não se poderia
conservar aquê-
le
"sentido "espontâneo
da vida
aborígene, sòmente compatível
nos seus quadros
valorativos. Mo-
dificado o ambiente no sentido da
nova técnica econômica e das re-
lações sociais baseadas nela, per-
turbava-se inteiramente o equilí-
brio da comunidade íncola. Ês-
te não sabia mais porque
traba-
lhava, para que
trabalhava. Dis-
sipava-se o sentido vital da reali-
dade social em que
até então es-
tivera mergulhado. Da noite pa-
ra o dia, escamoteavam-lhe o re-
sultado de uma longa heredita-
riedade cultural, estabelecendo as
novas molduras instantâneas de
outra cultura, que
se impunha de
improviso.
òáo, pois,
motivos de ordem so-
ciológica, que
nos levam a admi-
tir a tese dociclotimismo do índio,
defendida com outros argumentos
por Pompeu Sobrinho. E são
esses caracteres psíquicos que pre-
valeceram no noáso caboclo. Idên-
tica a opinião de Álvaro Dória:
as perturbações
somato-psicoló-
gicas, endócrinas e
psicológicas,
resultantes de deficits orgânicos,
transmitem-se: e no tipo òrevilí-
neo estênico do caboclo ainda se
vislumbra a ciclotimia das raças
aborígenes.
Política e instinto
sexual
Outro traço das culturas indi-
genas, que comporta interessantes»
interpretações, está na couvade.
Como viu Gilberto Freyre, nêsse
complexo cultural tão caracterís-
tico das tribus brasileiras, os psi-
canalistas principalmente
acha-
riam bom veio para
sua literatu-
ra. Ali é manifesto o critério da
bi-sexualidade, que
aludimos an-
teriormente ao referir a fase de
relativa indiferenciação sexual co-
mum aos povos
inferiores, quan-
do os tipos morfológicos menos
se distinguem entre si, aproxima-
dos pelo
sistema de trabalho pe-
culiar aos grupos
de economia
naturística, os Naturvõlker dos
etnólogos alemães.
(10) ROBERT PARK, An Outline of the Principies of Sociology, 1939.
O PROCESSO DE DECULTURAÇÀO NAS ÁREAS DA CAATINGA 71
Tal fenômeno pode
ser enca-
rado como a reação do parentes-
co patrilinear
contra as fases ma-
trilineares anteriores. "Sociologi-
camente —
diz o escritor pernam-
bucano —
a couvade representa o
reconhecimento da importância
biológica do pai
na geração".
A análise de Goldenweiser, já
precedida pela de Westermarck,
expõe como a sexologia influiu
mesmo na posição
dos indivíduos
diretores dos grupos
sociais. A
combatividade é instinto sexual
secundário e caracterisa os ma-
chos bem machos da comunidade.
Enquanto na mulher predominam
instintos de passividade
e submis-
são, que
se liga a determinadas
fórmulas hormônicas, —
no ho-
mem se pronunciam
tendências
de agressividade e luta. O ato
sexual é efêmero: a manutenção
da prole
absorve a mulher no alei-
tamento enquanto arrasta o ho-
mem ao contacto social.
A atividade política
na comu-
nhão humana é uma das formas
dessa luta, que
se observa desde
sociedades inferiores. Pois, Gol-
denweiser viu a posição
de co-
mando em que
se colocavam os
homo ou bi-sexuais na sociedade
primitiva. Em todo caso a homo-
mixia, notada nas tribus amerín-
dias, não é o fato dominante, ca-
paz de sancionar a interpretação
de Joaquim
Catunda, que
não
dispunha das modernas informa-
ções etnológicas e biotipológicas,
para elucidação do fato. E' co-
nhecimento corrente que
a vida
sexual do primitivo
devia ser fra-
ca. As danças, músicas e afrodisía-
cos não exprimiam excesso de
erotismo, mas necessidade de ex-
citação para
o coito. O civilisa-
do é, como viram os pesquisado-
res do assunto, muito mais sensual
conseguindo, com pequenas
exci-
tações psíquicas,
aquilo que
êles
alcançavam com o afrodisíaco do
suor, das bebidas, das danças.
As sociedades secretas masculi-
nas, como a baita, por
exemplo,
tinha certo fim político,
a que
se
pode legitimamente ligar a in-
fluência do homem reagindo con-
tra a mulher. A pederastia, que
por vêzes se verificava nessas so-
ciedades, era, como estuda Gil-
berto Freyre, uma consequên-
cia (11),
não um
"motivo".
Con-
viria tomar ainda em considera-
ção a situação econômica em
que
se achavam essas tribus amerín-
dias, em pleno
nomadismo. E'
na agricultura que
se valorisa
mais a mulher, nascendo dessa fa-
se o código moral que
dá como
sagrado o parir
muitos filhos.
Eram unidades necessárias ao tra-
balho agrícola: daí função eco-
nômica do crescit et multiplicami-
ni, que
o desenvolvimento indus-
trial nas concentrações urbanas
iria depois pôr
em cheque.
Ainda se nota a necessidade de
dominar o macho em muitos ou-
tros costumes. Koppers conta co-
mo, em certas tribus, os homens
querem que as mulheres mani-
festem medo ante determinadas
danças. Cita o que,
na terra do
Fogo, a tradição indígena relata:
e, período
remoto as mulheres ti-
nham ligas secretas, graças
às
quais mantinham os homens em
completa obediência. Um dia,
porém, êles descobriram e coliga-
ram-se. Na dança dos ãnãpèsè —
acrescenta Baldus —
os tregeitos
(11) G. FREYRE, Casa Grande e Senzala.
72 CULTURA POLÍTICA
e gatimanhas
dos homens, ame-
drontando as mulheres, é o pro-
testo contra o seu poder.
Práticas
parecidas observara Von den
Steinen entre os borôros.
O índio na massa rural
do Nordeste
Essa longa divagação em torno
do contingente aborígene, como
elemento formador da grande
parte das
populações do nordeste
sêco, justifica-se justamente
em
face de sua provável percentagem
em relação as demais contribuído-
ras de nosso melting pot.
. . Quando
se acompanha o povoa-
mento do Ceará, que
tomamos co-
mo
"pivot" do nosso estudo, é
mister considerar outra ordem de
fatores antropológicos. A popu-
lação rural em que
se fusionam
elementos negros, e, em fraca es-
cala, até ciganos, com a massa
íncola, vai cedo diferenciando-se
dos contingentes brancos, dos a>
lonisadores, minoria mais benefi-
ciada, que
começa a cultivar as
terras mais férteis e organiza o
aparelho de govêrno.
Ainda ho-
je corre a tradição sertaneja sô-
bre os desmandos daqueles tem-
pos, quando várias cidades se ha-
viam formado e o comércio se de-
senvolvia. O policiamento
do m-
terior, na monarquia, realisado pe-
los volantes (forças
de linha, cha-
madas), comparecia durante as
feiras concorridas das cidades do
sul: Crato, Barbalha, Icó. Geral-
mente, a desordem era grande.
Desarmar os cabras que
vinham
ao mercado, com a fralda da ca-
misa fora da calça, era luta certa.
A expressão passar
a camisa ain-
da é conhecida entre alguns ve-
lhos da zona. Significava obrigar
a meter as fraldas para
dentro da
calça —
o que
era uma humilha-
ção para êles. Muitos reagiam va-
lentemente —
e, invariavelmente,
havia mortes.
Desenvolvia-se assim uma pie-
be já
em desinteligência com os
agentes do poder.
Elaboravam-se
as elites dirigentes com material
humano onde escasseava mais o
sangue aborígene. Os esmiuçado-
res da genealogia
das principais
famílias em relêvo no Estado, já
nos tempos finais da monarquia,
vão encontrar seus grandes
tron-
cos em indivíduos procedentes
de
classes superiores, e, freqüente-
mente, do clero. Muitos sacerdo-
tes foram exemplares pais
de fa-
mília. Eram os elementos mais
eugênicos do meio, melhormente
educados, empenhando-se em edu-
car os filhos. Prepararam ho-
mens que
se sobresaíram na poli-
tica, nas letras e artes. A sua si-
tuação prestigiosa
na sociedade
em formação explica em parte
os
fatos. As mancebias clericais não
eram vistas com os rigores do có-
digo moral que
vigoraria poste-
riormente.
O tapuia na formação
étnica
Para a formação étnica das po-
pulações rurais da caatinga con-
tribuiu com maior percentagem
o
tapuia. Os tupis, sempre dispôs-
tos ao combate,
"estatura
meã,
cor muito baça, bem feitos, dis-
postos e muito alegres de rosto e
bem assombrados" —
como descre-
ve Gabriel "Soares,
— estacionaram
pelas orilhas atlânticas. Embora
inferiores socialmente aos africa-
nos, conheciam a cerâmica, a arte
culinária, praticavam
a lavoura.
O PROCESSO DE DECXJLTURAÇAO NAS ÁREAS DA CAATINGA 73
O tapuia adaptou-se facilmente
à atividade pastoril.
Tipo longi-
líneo, suas cruzas marcaram a
massa sertaneja, rústica, combati-
va e vigorosas. O xantodermo
indioide reinou como vaqueiro da
zona semi-árida, aclimado às rela-
ções de trabalho ali desenvolvi-
das. E o processo
de trabalho é
seletivo de tipos. Foi êle que
deu
predominância aos longilíneos sô-
bre os brevilíneos nas áreas da
caatinga. O grande pesquisador
Álvaro Ferraz trouxe contribui-
ção segura
para o
que dissemos
no Outro Nordeste dispondo ape-
nas de observações pessoais (12).
Houve quem
visse no compor-
tamento social resabiado e esqui-
vo do caboclo, os laivos hereditá-
rios do índio, cuja esquizoidia,
em nossa opinião, seria efeito da
ambiência de opressão e desajus-
tamento creada pelo
colono.
Pode-se, entretanto, admitir
que é ainda decorrente de condi-
ções sociais a
que se não ajustou,
assimilado pelo processo
regular
de trabalho, as características psi-
cológicas do sertanejo. Nas qua-
lidades físicas, é mais visível a
influência indígena. O grande
concurso de sangue na aenogênese
das caatingas foi, incontestável-
mente, o dos Carirís. Essa vasta
família dos tapuias (.
.. Tapuia-
rum genere
cariri dicuntur —
ano-
ta Markgraf) espalhou-se pelos
sertões do Piauí à Baía. Também
Gês e Caraibas fluiram para
o
melting pot
dessas regiões. E ain-
da há remanescentes aborígenes
que si não souberam classificar.
Pompeu Sobrinho estuda atual-
mente os Fulniôs e Carnijós, e he-
sita na sua classificação etnológi-
ca. Mantidos em estado de rela-
tivo isolamento, estão se dissemi-
nando na massa rural aos poucos.
Os Carirís eram fortes, mem-
brudos, cheios de pêlos: prolixe
capillitio, diz Barleus. Nitida-
mente braquicéfalos, astuciosos,
de assombrosa resistência física,
sempre prontos para
a luta. Elias
Herckmann admirou-se de sua ca-
pacidade alimentar: um dêles
po-
dia comer como 5
homens! E
podiam passar alguns dias em
pie-
no jejum.
Registrou ainda sua
longevidade. "Vivem
muito e não
encalvecem" — disse Barleus.
Von Martius teve um quadro
da decadência indígena em Pedra
Bonita. Os índios estavam aldea-
dos sob a direção de juiz
e de um
escrivão. Eram Cariris e Sabujás.
O municpio contava então 600
habitantes.
"Ambas
as tribus —
informa
Martius —
estão em relações amis-
tosas e não se distinguem nem
pela conformação do corpo, nem
pelos costumes e hábitos, mas
apenas pela
diferença das linguas.
São de estatura mediana, bastan-
te esbeltos, de pouca
força físi-
ca, de cor pardo
clara, cabelos li-
sos e compridos. Não se defor-
mam nem pela
tatuagem nem pe-
lo bodoque nos lábios, nariz ou
orelhas e não teem na fisionomia
coisa nenhuma que
os distinga
dos demais selvagens do Brasil".
Mas não escapou ao sábio a de-
pendência e sujeição dêles aos bra-
sileiros e portugueses.
Viu como
obedeciam a contra gosto.
"São
indolentes, visionários, preguiço-
sos, indiferentes a iniciativas ou-
tras que
não as paixões
baixas".
(12) A. FERRAZ, A Morfologia do Homem do Nordeste.
74 CULTURA POLÍTICA
E notou ainda:
"São
muito uni-
dos entre si contra os europeus".
Mas estavam obrigados a plan-
tar mandioca, milho, bananas, sob
a direção do intendente. Como
interessar-se pelo
esfôrço? Obser-
va ainda o sábio que
não tinham
na lingua tradução para
a pala-
vra
"amigo". Havia um termo
equivalente:
"camarada". Isto é,
o colega do trabalho. Em face
dessa incapacidade para
a ami-
zade, Martius exclama:
"como is-
so é significativo para
o caráter
dêsses homens!"
Elementos assim deculturados
são naturalmente infelizes. E vão
contribuir, século afora, para
as
rebeliões que
estalam. Quando
o
presidente do Ceará Souza Mar-
tins (1840)
vai debelar os rema-
nescentes dos balaios, já
nas cer-
canias de Vila Viçosa, encontra,
engrossando a onda desordeira,
"descendentes de indígenas na
maior parte
e outros de cor mista,
a que
chamam cabras, e alguns
negros fugidos de seus senhores",
vestidos de camisa e ceroulas de
algodão, tingidos de vermelho.
O próprio
sistema de guerra
era o do índio, emboscando as
tropas legais, com espias, sem aco-
meter a campo raso, já
atirando
destramente com clavinotes, es-
parsos no interior das matas. E
contam-nos alguns relatos oficiais
que, nas fugas
precipitadas, ma-
tavam os filhos que
não podiam
carregar.
?
A autonomia municipal
e o pressu-
posto da autonomia
financeira
MENELICK DE CARVALHO
Diietoi cio Departamento de Justiça da Secretaria
cio Interior do Estado de Minas Gerais. Ex- Pre-
feito de Juiz de Fora c de Uberaba
Continuando os estudos que
iniciou, no número anterior desta Revista,sobre os
problemas da organização dos municípios, o autor mostra, hoje,
Que o antigo
principio da autonomia municipal, sobre que
se apoiara
a Constituição de 1891, baseava-se no falso pressuposto de uma
"auto-
nomia financeira" do município, a
qual c
praticamente impossível, não
só em nosso pais,
como à luz do próprio
exemplo dos Estados Unidos da
América do Norte. Demais, misturavam-se, na antiga organização, esferas
de atividade que
deviam permanecer distintas, como a
"política", no sentido
eleitoral, partidário,
e a "administrativa"
propriamente dita; não havia,
por isso mesmo, uma contabilidade
pública municipal,
que era simples
luxo burocrático, entregue ao arbítrio dos personalismos.
O Estado Novo,
centralizando e regulando a administração dos municípios, começou a
sanar todos êsses males. Introduziu a contabilidade, instaurou o método
das prestações de contas, uniformizou os orçamentos, consolidou as finan-
ças municipais, deu vida nova ao município. Os primeiros
benefícios da
nova organização já
se estão verificando na prática.
Outros problemas
relevantes já
se encontram em vias de solução.
ê
Aos mais autorizados defensores da autonomia comu-
nal não repugna o jus
supremae inspectionis, que
começou
a esboçar-se no século XVI, com a noção da unidade poli-
tica do Estado, num movimento de reação lenta contra os
privilégios, estatutos e direitos especiais dos corpos locais
dotados de auto-administração.
Nem há limitação proibida
ou condenável à autonomia
do município, quando
o Estado institue aparelhos que,
evi-
tando ou corrigindo a delapidação dos dinheiros municipais
(e a hipótese entre nós, em se tratando de municipalidades,
está muito longe de ser gratuita)
obriguem as municipali-
dades de manter-se dentro do regime legal, que
é incompa-
tível com essas malversações, que se
pretende devam ficar
impunes à sombra de uma autonomia que,
sob êsse aspecto,
seria, como disse Nilo Peçanha, a irresponsabilidade — o
que importa dizer a negação do
próprio regime republicano.
(Vide BARBALHO, Coment.
p. 267).
CASTRO NUNES
76CULTURA POLÍTICA
UM
DOS GRAVES males da es-
truturação administrativa do
nosso país,
segundo o modelo
clássico de outras nações, foi ou-
trora, dar-se aos negócios locais^ a
emancipação coerente com o prin-
cípio de que
"o Município esta
pa-
ra o Estado, assim como o Estado
está para
a União", princípio
fal-
so, que poz
no mesmo nível de
igualdade quantidades positiva
mente desiguais. A desigualdade é
manifesta, quer do
ponto de vista
político e histórico, quer quanto
ao aspecto econômico e adminis-
trativo. Nem o Estado pode
exi-
gir da União um tratamento de
igual para
igual —
pela simples
razão de que
ele é uma criação
dela —
nem o Município pode
competir com as prerrogativas
do
Estado —
simplesmente porque a
êste é que
cabe a missão constitu-
cional da sua organização, embo-
ra sujeito à observância dos limi-
tes teóricos do interêsse peculiar.
Portanto, se no Brasil, desde os
primórdios da sua formação
po-
lítica, a divisão administrativa
partiu do centro
para as sub-di-
visões, isto é, da União para
os
Estados e os Municípios, ficando,
porém, no centro a soberania
—
una e indivisível, conforme a me-
lhor conceituação jurídica,
— é
evidente que
a autonomia muni-
cipal não podia,
na realidade, ter
a configuração igualitária, que
se
lhe emprestou até o advento da
Revolução e quasi
convaleceu ali
por volta de 1934 a 1937-
A impossibilidade de uma
autonomia financeira
dos Municípios
Porque autonomia política
pressupõe, além do mais, autono-
mia financeira, como bem acen-
tuou Castro Nunes, em memorá-
vel assembléia constituinte
de
1933> ao tratar ^a emancipação
dos governos
locais; a autonomia
financeira é ideal inatingível,
porque resulta, pelo
menos, da
coordenação de dois fatores ba-
silares: — capacidade de
gestão
máxima e campo de inversão mí-
nimo, isto é, difusão de um ele-
vado índice de cultura em todo
o país
e delimitaçao estreita dos
encargos das administrações lo-
cais. Quanto
ao primeiro
fator,
esbarrou-se de frente com o pro-
blema da instrução pública
e
contramarchou-se, diante da vei i-
ficação de que
as fôrças educado-
ras, os mestres e a metodologia,
tinham de partir
do centro; quan-
to ao< segundo fator, a verificação
foi de máximo e não de mínimo,
ou por
outra, nos municípios, as
necessidades locais tendem é para
o crescimento, porque, neles, a
grande verdade é esta*.
— tudo es-
tá para fazer:
água, saneamento,
iluminação, pavimentação,
fontes
econômicas, instrução, tudo, en-
fim, que
diz da existência huma-
na, são problemas
eternamente
angustiosos e eternamente em so-
lução dispendiosa. Não há fon-
tes de economia local capazes de,
por si sós, atenderem aos encar-
gos da cidade; elas não
prescin-
dem de uma constante e crescen-
te ação da presença
de agitado-
res externos. Como na vida hu-
mana, o município não pode
exis-
tir fora da sociedade política, que
é o Estado, a Nação.
Tentou-se, por
isso, solucionar
a questão
financeira, conferindo
aos municípios ampla liberdade
na realização dos meios de se bas-
A AUTONOMIA MUNICIPAL E
tarem a si mesmos, dando-se-lhes
até o poder
de amoedar dinheiro,
que não foi outro o de emitir tí-
tulos da dívida pública e con-
trair empréstimos externos. E
foi o que
se viu: — compromissos
elevados a cifras astronômicas,
obras pública por
acabar ou ain-
da por
fazer, epidemias de insol-
vência, descrédito, depauperamen-
to, desânimo e, nesses transes
amargos,. . . apelos aflitivos à mãe
generosa, a União; nada de me-
lindres autonomistas!...
A lição dos Estados Unidos
Então, nos Estados Unidos, de
cujas lições sempre nos servimos,
o panorama
municipal se pintou
com estas cores, da pena
de W.
B. Munro:
"...
the cities were virtually
permitted to borrow at will,
without any legal or admi-
nistrative restrictions. The
result was that many of them
raw heavily into debt, parti-
cularly those wich adopted
the policy
of granting
bonu-
ses to turnpikes, canais and
railroads. I?i some cases these
debts exceeded the total va-
lue of ali the assessed proper-
ty within the municipali-
ty..(1).
E começou, sem parar
mais, o
programa das restrições,
que logo
após passou
do campo da autono-
mia financeira e veio para
o da
autonomia poltica
mesma, com a
instituição dos city manager
plans, que vêm dando os melho-
res resultados administrativos e
^(1)
Municipal Government and
(2) Ob. cit.,
p. 482.
PRESSUPOSTO DA AUTONOMIA 77
estão adotados na maioria dos
municípios americanos.
As municipalidades brasileiras
passaram pelos mesmos apuros da
malograda tentativa de autonomia
financeira, que
é muito mais am-
pia e mais
profunda do
que a
mera abundância de recursos mo-
netários.
Não basta arrecadar; é pre*
ciso saber gastar
Ainda a esse título, vem à bai-
la a velha advertência doméstica
de que
o problema
não é só arre-
cadar, mas, principalmente
saber
gastar; e, nêste
ponto, a munici-
palidade tem muito de aprender
nos exemplos dos negócios parti-
culares, como lembra o mesmo
professor Munro:
"This
is a field in which the
American municipality has
still a good
deal to learn
from the methods of private
business..." (2).
Vem daí a decadência das fór-
mulas clássicas, dos modelos de
importação. Pensávamos, com
amarga tristeza, que
tudo era fru-
to da nossa falta de cultura, do
nosso atrazo sertanejo, e —
mais
grave ainda
— chegamos a des-
confiar de um certo amolecimen-
to de virtudes morais diante da
tentação dos dinheiros do povo.
Pois, avultadas emissões, grandes
empréstimos e fartas arrecadações
amealhadas para
determinados
fins, desapareciam sem nenhum
reflexo nas finalidades previstas.
O abastecimento dágua, por
exem-
pio, era bandeira de vários movi-
mentos de operações de crédito,
Administration — Vol. II — P. 483.
73CULTURA POLÍTICA
e, „o emamo, „ torneira, conri- cipc,
nuavam secas...
As campanhas partidárias
ti-
nham, então, campo vasto e fér-
til para
destruir ídolos e
criar novos sóis em cjuc pesassem
os sulcos que
as vergastadas in-
sólitas deixavam na reputação do
poder público.
Mas, olhando por
sôbre os mu-
ros, vimos que
o mal era uni ver-
sal; por
toda parte,
ouvimos o
ecoar do mesmo estribilho —
"cá
e lá, mas fadas ha...
Castro Nunes, em seu notável
compêndio da ciência da admi-
nistração, conta-nos coisas do ar-
co da velha que
se passavam
na
história das comunas européias e
americanas. (3).
Necessidade de separar
"política" e
"ad-
ministração"
E' que
havia uma exagerada
concepção da autonomia munici-
pai, uma confusão insolúvel de
prerrogativas políticas de munici-
pes com as atribuições adminis-
trativas da municipalidade, ou se-
ja o impossível conciliar de duas
forças contrárias.
Cumpria que se distinguissem,
formal e substancialmente, as
duas componentes do organismo
municipal, definindo o que
fos-
sem liberalidades de feição priva-
da, individual, própria do muni-
g o que
fosse administra-
ção, de índole coletiva, impessoal,
duradoura e geral.
Em outros
termos, cumpria que se separas-
sem, já que
nao foi possível
har-
monizar, a política
e a adminis-
tração, isto é, o direito do muni-
o poder
de determinação, atuan-
te sôbre ambos, como função da
una e indivisível soberania na-
cional.
A situação de fato, a realidade
palpável e
palpitante,
não podia
ser mais contraditória Ci decepcio-
nante. Atos e fatos de caracterís-
ticas meridianamente administra-
tivas eram englobados, confundi-
dos e moídos, como se fossem de-
liberações imperiais, fora da apre-
ciação comum, jus imperii e não
jus gestionis, e
passaram para os
arquivos da coisa julgada
inape-
lável e posta
sob perpétuo
sigi-
lo. E' o caso da administração
financeira, da
prestação de con-
tas, processo puramente
adminis-
trativo, que, longe disto, era o
barômetro do prestígio pessoal,
do
índice da influencia política,
contas más e até inexistentes eram
dadas por
excelentes e aprovadas;
e contas excelentes, claras e
pre-
cisas, eram tidas por
mas, confu-
sas e erradas, e desaprovadas ou
não aprovadas. E não havia fôr-
ças humanas capazes de instituir
o princípio
da verdade, porque
o
caso escorregava subrepticiamente
do terreno da verificação júris
tantum, para o da
presunção ju-
ris et de* jure.
. . Questão
de con-
fiança política,
e...
"assuntos
que
non ío, pero
el tiempo reglará... ;
pedra em cima, tumularmente
guardado o
processo das contas...
A contabilidade era
' luxo
burocrático" nos
Municípios
(3)
A contabilidade era o luxo
burocrático", que nem tod^s as
O Estado Federado e sua Organização Municipal.
A AUTONOMIA MUNICIPAL
E PRESSUPOSTO DA AUTONOMIA 79
municipalidades podiam desfru-
tar, e, naquelas em que
êsse atri-
buto de civilização penetrava, so-
fria ele rudes golpes e era campo
das mais curiosas variações acro-
báticas da ginastica das cifras.
Aurino de Morais, o infatigá-
vel investigador do Conselho Téc-
nico de Economia e Finanças, em
brilhante exposição apresentada
aos peritos
em contabilidade
pú-
blica e assuntos fazendários, que
se reuniram para
última demão
na padronização
dos orçamentos,
faz o seguinte comentário:
"A "química
orçamentá-
ria" ou "de
contabilidade",
expressões usadas na lingua-
gem dos contadores, tornou-
se uma "irregularidade
regu-
lar". Comprar um microscó-
pio com a verba de concêrto
de elevador, um automóvel,
com a de construção de pon-
tes, algumas máquinas de
escrever com a de alimenta-
ção de
presos, um tapete com
a de auxílios a hospitais, pa-
gar o
jardineiro ou o empre-
gado particular com a verba
de lubrificantes, comprar
tinta e papel
com os decursos
destinados à conservação de
estradas ou limpeza de ruas,
etc., etc., são, infelizmente,
verdades das quais
todos nós
conhecemos grande
número.
A repetição e a tolerância
destas irregularidades, tor-
nando-as uma praxe,
em uso
generalizado, constitue um
dos problemas
mais sérios en-
tre Ob que
reclamam solução
urgente".
K' uma revelação que,
à primei-
(4) MUNRO - Ob. cit.
p. 477.
ra vista entristece, e, em reação,
dá estímulos para que
não desfa-
leçamos nos propósitos de corri-
gir os nossos males.
Mas, em verdade, êles são peca-
dos veniais, em face do que
se
passava, por exemplo, em Boston,
onde o legislador foi levado a
elaborar uma lei, em virtude da
qual ficava sujeito à
pena de
pri-
são até um ano, ou de multa até
1.000 dólares, o oficial que,
na
execução do orçamento, excedes-
se as dotações legais. Entretan-
to — acrescenta um cronista da
época — tal risco
penal não foi
suficiente para prevenir
os "de-
ficits"... (4).
Faltava o meio de tornar efe-
tivo o preceito
disciplinar. Por
melhores que
sejam as leis, não
passarão de mero
flatus voeis se
não houver como e quem
deva
executá-las.
Foi quando
a contabilidade co-
meçou a ter o seu primado
na vi-
da da administração municipal.
Já nos negócios
privados ela rea-
lizava a magia da faca de dois
gumes, provando a favor, e
pro-
vando em contrário também, do
próprio detentor e escriturário
dos livros comerciais.
A "prestação
de contas"
na Administração
Abriu-se, dessarte, combate os-
tensivo e vitorioso contra os abu-
sos, que,
dia a dia, vieram perden-
do terreno e se abrigando a refú-
gios descobertos, sujeitos ao mar-
telar incessante das baterias da
ordem financeira. As "outras
despesas", as
"diversas
origens",
80
CULTURA POLÍTICA
os
"eventuais", as
"despesas ím-
previstas", as
"miscellaneous ex-
penses" ou
"miscellaneous itens
— que
tanto irritavam a intolerân-
cia dos tratadistas, — foram os
últimos oásis da velha guarda
dos
inimigos da contabilidade.
Triunfante a contabilidade,
muito empirismo malsão perdeu
a sua influência e muita verda-
de flutuou, afinal, no confusio-
nismo especioso.
E a prestação
de contas deixou
de ser o vexame que produzia
arrepios na sensibilidade dos
pu-
ritanos, para ser um
processo nor-
mal, não apenas de constatação
da honestidade pessoal, mas das
fundações em que
se assenta a
solidez dos planos
de administrar
o presente
no sentido do futuro.
— "The
purpose
of accounting is
not only ensure honesty on the
part of the financial
officers, but
to facilitate the intelligent
con-
duct of the city's business", na fe-
liz imagem do municipalista ilus-
tre que
estamos citando.
O Estado moderno, onde quer
que se fundem as suas origens,
destaca-se pela racionalização
dos
serviços públicos, ou seja
pela pia-
nificação com o objetivo certo de
idealizar, começar e acabar todas
as modalidades do interesse cole-
i^ivoj e isto seria impossível sem
o conhecimento do custo exato
das utilidades e do fator huma-
no. Neste caso, o Estado moder-
no, na sua luta incessante com o
rotinismo, abre uma trégua, bus-
cando no passado pontos
de apoio
para suas realizações:
— sem sa-
ber ao certo quanto gastou
em de-
terminado serviço, no tempo e no
espaço, não haveria base segura
para fixar o
que deve
gastar no
futuro. A prestação
de contas e,
assim, um comêço e não um fim
da atividade.
O
"modus
faciendi" da
prestação
de contas
O modus faciendi da
prestação
de contas pode ser direto ou m-
direto, quer quanto ao exame es-
pecífico das despesas ,realizadas
através dos documentos de
quita-
cão, quer quanto
à simples de-
monstração da execução orçamen-
tária.
No primeiro
caso, a conferência
far-se-á in loco, na Prefeitura, ou
mediante a apresentação
das or-
dens quitadas
ao órgãos central
da verificação. E' a tomada
de
contas segundo o velho estilo, um
pouco parecida
com as devassas
de outros tempos, contra as quais
sempre houve reação local. Pro-
cesso empírico, apartoso
e de
custo caro, além de irreverente
quanto á dignidade da autorida-
de municipal, em razão da pre-
sença dê comissões apuradoras
es-
tranhas, — é usado excepcional-
mente, isto é, quando
há indicio
veemente de fraude na escritura-
ção.
O processo
indireto é o mais
usual, por
ser mais político, pres-
cindindo do exame local e mes-
mo das cédulas quitadas das des-
pesas. Parte do
pressuposto
de
uma boa organização contábil, se-
ja do
ponto de vista da técnica
da escrituração, seja da autorida-
de moral do contador, guarda-li-
vros, funcionários, enfim, encar-
regados dos lançamentos. Efeti-
va-se através da execução do or
çamento, cuja fiscalização pode
ser exercida à distancia, por meio
A AUTONOMIA MUNICIPAL E PRESSUPOSTO DA AUTONOMIA 81
de balancetes periódicos-mensais
ou trimestrais. O tribunal, co-
missão central, departamento de
contas, ou que
nome tenha o ór-
gão fiscalizador, acompanha
pari-
passu a execução orçamentária e
esta sempre habilitado, em qual-
quer instante, a
julgar com
pre-
cisão do estado das despesas, ain-
da que
não estejam liquidadas al-
gumas, porque o empenho
prévio
é também contabilizado.
Processo ideal, pela
simplicida-
de e discreção de movimentos,
pressupõe, porém, como dissemos,
uniformidade da técnica contábil
e idoneidade de agentes da exe-
cução local: —
contabilidade e
contadores fidedignos.
Difundida a contabilidade pú-
blica e dignificado o contador
municipal, a prestação
de contas
se faz como que
automaticamen-
te, sem os sustos dos extravios dos
documentos originários e sem a
incômoda presença
de fiscais fo-
rasteiros.
E' o ideal que
se procura
atin-
gir no nosso País e
que, presente-
mente, já
tem um grande
cami-
nho andado.
Para a rehabilitação do conta-
dor, registraram-se, nêstes últimos
tempos, dois acontecimentos de
larga projeção:
— as leis de disci-
pu na da
profissão dos contadores,
peritos e
guarda-livros, pelas quais
só os técnicos poderão
exercê-la;
e as garantias
de indemissibilida-
de do funcionalismo
municipal,
outrora batido pelas
tremendas
derrubadas partidárias
e contami-
nando de um comovente servilis-
mo. Ora, sendo técnico e tendo,
como tem, a indispensável cora-
gem profissional, que lhe dá a
certeza de contar com o patrocí-
nio da Constituição da Repúbli-
ca, o funcionário municipal não
se prestará
aos manejos da
"quí-
mica orçamentária" e cumprirá o
seu dever, para que
não mais "se
paguem jardineiros pela verba de
lubrificantes".
E o grave problema
da fé-ju-
rada do contador da Prefeitura
tem a solução adequada e prati-
camente realizada.
ê
O Estado Novo uniformizou
a técnica da contabili-
dade publica
O outro aspecto do pressuposto
da boa organização contábil — a
uniformidade da técnica —
tem
merecido também atenções espe-
ciais, no novo regime do país,
mormente de 1938 para
cá.
Depois da Constituição de 37,
que definiu com sobriedade e
jus-
teza a figura da autonomia muni-
cipal, afastando dela a hipótese
anacrônica da
"livre
aplicação dos
dinheiros públicos",
temos tido
legislação orgânica de profundos
efeitos saneadores na boa ordem
das finanças locais.
O decreto-lei número 1.202, de
8 de Abril de 1939, que
organi-
zou os Estados e Municípios den-
tro do Estado Nacional,
"teve
em
vista, em matéria financeira, a
economia do supérfluo e a boa
aplicação orçamentária, sem a
qual não
pode haver
gestão sadia,
com mais esta virtude: armar os
administradores de um instru-
mento de força superior para
re-
sistir à pressão
dos falsos interês-
ses locais, cuja impertinência tão
freqüentemente lhes dificulta a
realização dos sinceros propósitos
de zelar pela
coisa pública.
Mais:
82CULTURA. POLÍTICA
sujeitando todos os Estados à mes-
ma norma financeira, e, assim,
evitando uma certa competição
que em mais de um caso se tem
mostrado danosa, ela contribuirá
para sanear o ambiente financei-
ro do país
e o seu crédito interno
e externo". (5).
A seguir os decretos-leis núme-
ros 1.804 e 2.416, respectivamen-
te, de 24 de Novembro dé 1938 e
17 de Junho
de 194°* e portarias
ministeriais armaram o Conselho
Técnico de Economia e Finanças
e os/ Departamentos Administrati-
vos, bem como os Governos Esta-
duais, de poderosos
recursos nor-
mativos, que
lhes permitiram
rea-
lizar uma obra de organização
financeira de amplo alcance prá-
tico e sem exemplo na história re-
publicana.
O Conselho Técnico, reunindo
periodicamente os
peritos em
contabilidade pública e assuntos
fazendários, federais, estaduais e
municipais, e entrando a fundo
no propósito
sério de organizar
as finanças públicas,
tem tido
uma atuação freqüente e salutar
em todos os setores, e, silenciosa-
mente, discretamente ( porque
até
usa do mimeógrafo para
a cir-
culação de suas notáveis mono-
grafias, ao invés de fazer
gemer os
grandes prélios das editoras) cons-
trói a estrutura de um eficiente
organismo de govêrno
financeiro.
A padronização
dos orçamen-
tos, dentro de um modêlo único,
para a União, os Estados e os Mu-
nicípios, que
dantes parecia
uma
utopia, pelo
intrincado dos casos
regionais e locais e pelo
vetusto
preconceito de
que
"o
Brasil é
grande demais
para as fórmulas
unitárias" —
é hoje uma realida-
de, não mais a
"realidade vito-
riosa" dos exageros tribunícios
(porque já passou do momento
da descoberta do ovo de Colom-
bo), mas sim uma realidade con-
creta e normal na vida das admi-
nistrações municipais.
I
O que
tem sido a prática
do
"orçamento-padr&o"
Há dois anos, já
se prática
em
todo o país
o regime do orçamen-
to-padrão, a uniformização da
contabilidade pública, a ordem
sistematizada das finanças regio-
nais e locais.
E tudo se fez sem estardalhaços,
sem atritos, sem humilhações, e,
sobretudo, com a vontade decidi-
da e inquieta de tornar efetivo
um ideal e instalar em fundamen-
tos sólidos a confiança do crédi-
to governamental
e a defesa da
economia pública.
Seria interessante contar aqui
alguns episódios acerca do que
viu e observou e resolveu o C.
T. E. F., de preferência
no cam-
po das* atividades municipais, a
começar pelas
1.396 denomina-
ções dos tributos fiscais,
que êle
reduziu a 65, apenas, expressões
reais da nossa língua. Mas isso é
matéria para
volumes de crôni-
cas, —
deliciosas umas, pitorescas
outras e curiosíssimas todas, —
que Valentim Bouças e Aurino
de Morais e Oto Prazeres hão de
escrever um dia.
No magro espaço que
nos res-
ta cabe, porém,
a menção do se-
guinte episódio:
(5) FRANCISCO CAMPOS
— O Estado Nacional —
p. 118.
A AUTONOMIA MUNICIPAL E PRESSUPOSTO DA AUTONOMIA 83
— Em
pouco mais de
48 horas
do findar do mês de Janeiro pró-
ximo findo, o Departamento de
Assistência aos Municípios de Mi-
nas Gerais fornecia-nos, a pedido,
dois quadros
interessantíssimos,
contendo dados completos sobre
a vida financeira das municipali-
dades mineiras no corrente ano
de 1941! E' a ante-visão do que
elas vão arrecadar e do que
vão
empregar no presente
exercício
financeiro, com as indicações por-
menorizadas, que
satisfarão a
quaisquer requintes de curiosida-
de dos técnicos e estudiosos de as-
suntos administrativos.
Nêsses quadros,
vimos, com en-
tusiasmo, expressivos documentos
do acervo dos cometimentos ousa-
dos do novo regime.
Importância da discrimi-
nação orçamentária
Quem, em outros tempos
—
que não vão muito longe
—
pode-
ria informar de pronto quanto
gastam os municípios e,
por
exemplo, qual
o orçamento da
educação pública,
das obras de
utilidade coletiva, dos serviços in~
dustriais custeados pela
fazenda
local?
De duas ou três cidades, ser-lo-
ia possível,
mesmo assim impre-
cisamente, imperfeitamente, e ao
cabo de uma espera incomoda.
Mas de 288, em conjunto e cada
uma de per
si, com menção de
códigos, rubricas e incidências,
órgãos, serviços, elementos e ou-
tros particularismos
da contabili-
dade pública
— nãol Nunca! Por-
que ninguém sabia, nem
podia
aprender, eis que
o regime domi-
nante não permitia que
a União
ou o Estado exercesse a ação ins-
trutora e educacional, normativa
e organizadora, que
hoje se exer-
ce através das prefeituras.
Entretanto, agora, as respostas
não se fazem esperar: — em Mi-
nas, as municipalidades fixaram
em 134 -54^:542$ooo os seus orça-
mentos para
1941, destinando:
9-339:^3®$00°» para o serviço
de educação pública,
12.451:395Í000, para
os servi-
ços industriais, e
48.884:4341800, para
os servi-
ços de utilidade
pública.
E, se quisermos
saber o que
se
passa com as entidades dos de-
mais Estados, a presteza
é a mes-
ma e a mesma é a precisão.
Bas-
ta que
nos dirijamos ao Conselho
Técnico de Economia e Finanças
do Ministério da Fazenda.
Outros problemas
em
vias de solução
E' uma bela amostra de esforço
e uma quitação
histórica de de-
ver cumprido; mas é, também e
principalmente, uma demonstra-
ção de fé na capacidade da nossa
inteligência e do nosso labor, pa-
ra construir o Estado moderno,
num alto sentido de brasilidade,
e elevar a ciência das finanças pú-
blicas ao nível da civilização nova.
A obra feita é já
enorme, nu-
mérica e qualitativamente.
Muito há, porém,
ainda que
empreender, para podermos
afir-
mar que
não está longe da reali-
dade o pressuposto
da autonomia
financeira na outorga da autono-
mia municipal.
Outro problema
dos mais com-
plexos e urgentes caminha
para
a solução que
se impõe: — har-
84CULTURA POLÍTICA
monizar numa noção nacional a
legislação tributária da União,
Estados e Municípios, de manei-
ra que
a tríplice competência de
imposição não exacerbe a capa-
cidade fiscal do contribuinte e não
desanime o fomento das fontes da
economia.
Estudos aprofundados e impres-
sões colhidas nas últimas confe-
rências regionais promovidas pelo
C. T. E. F., autorizam a crença
de que,
dentro do corrente ano,
teremos a solução esperada, que,
se não for por
agora a velha e so-
nhada aspiração do imposto-úni-
co, há de ser uma fórmula em que
predomine o espírito da unidade
de justiça, que
hoje impera em
todo o território do país.
E' a missão que
vai ter, nestes
próximos meses, a Conferencia
Nacional de Legislação Tributá-
ria, que
se preparai
sob os melho-
res auspícios.
E a justiça fiscal
há de flores-
cer entre nós, como floresceram a
justiça civil, a
justiça comercial,
a justiça penal
e a justiça
da uni-
dade processo:
— igual para
todos
cm todo o Brasil.
Belo Horizonte, Fevereiro de
1941 •
A influência do poder pessoal
na
unidade
política do Brasil
II
Período monárquico
MONTE ARRAIS
Ex-depi.tado Federal pelo
Estado do Ceará
Continuando a desenvolver o tema que
iniciou no i.° número desta Re-
vista com a fase colonial, estuda hoje o autor a influência do poder pessoal
na 2.a fase da nossa evolução política
— a Imperial. A figura do Impera-
dor como um ponto
de convergência de forças sociais de dominação po-
litica — c o que
êle ensaia pôr
em fóco, numa tentativa de esclarecer esse
período tão importante da vida
política nacional.
EM
ESTUDO anterior, expuze-
mos como os agentes de nossa
catequese, em contraste com
os da norte americana, agiram
sempre, durante a fase colonial,
dominados por
um profundo
sen-
timento de fidelidade ao rei, cujo
poder pessoal e absoluto se difun-
diu pelos
vários setores das anti-
gas capitanias hereditárias, como
símbolo de unidade.
Representante dos
princípios fun-
damentais
E' necessário exprimir que,
quando afirmamos haver sido o
poder pessoal do imperante a for-
ça coordenadora da unificação do
país, não
queremos atribuir à au-
^ toridade real e
pessoal o caráter
de uma ação unilateral, em tôrno
**
da qual
se congregassem, em me-
ra atitude administrativa, as cor-
rentes dos povoadores
nacionais
de várias procedências.
O que,
com a afirmativa desejamos evi-
denciar, é que
dada a feição ab-
solutista de que
se revestia, então,
o representante da dinastia colo-
nizadora, o rei, pela
natureza de
suas funções majestáticas, repre-
sentava todos os princípios
funda-
mentais de nossa formação, desde
que dêle emanava a totalidade das
normas de ação pública
e priva-
da. A fé, consubstanciada no cul-
to e no regime católico, era por
êle impulsionada através de cate-
86CULTURA POLÍTICA
quistas eclesiásticos
ou leigos que
a difundiam em seu nome. A
lingua e os seus monumentos li-
terários, da mesma maneira, a êle
se ligavam. Camões, Vieira, antes
e depois da descoberta de Cabral,
não exaltaram os feitos a esta an-
teriores ou ulteriores senão em
função do desejo de honrar e de
glorificar a majestade
real. O
rei era o principal
de que
a pró-
pria nação e as colonias eram fôr-
ças accessórias.
Em face disto, forçoso é reco-
nhecer que todo o desdobramen-
to sucessivo da conquista e da
conseqüente assimilação dos ele-
mentos selvícolas ou africanos se
subordinou àquele
preceito máxi-
mo do rito político
dos domina-
dores. E' óbvio que,
ao afirmar a
preponderância
do português
co-
mo força nacionalizadora, não
queremos com isto negar
que os
dois outros fatores étnicos da nos-
sa mestiçagem também tenham in-
fluído, com o seu particularismos
de hábitos e de costumes especí-
ficos, na constituição coletiva do
espírito nacional. Contra esta
conclusão irromperiam, proceden-
temente, os mais veementes pro-
testos, fundados em realidades
históricas indisfarçáveis.
A m es cia de nossas
origens
Na língua, por
exemplo, o nu-
meroso vocabulário de origem in-
dígena e africano, que
ainda hoje
enriquece a nossa forma de ex-
pressão comum, representaria um
atestado flagrantemente denun-
ciador da inverdade inerente a
uma tal proposição.
Na literatu-
ra e nas artes rítmicas ou plásti-
cas, o canto, a dansa, e nos ofícios
domésticos, os trabalhos e arran-
jos culinários aí estariam
para
comprovar que nossas origens se
mesclam numa incontestável pro-
miscuidade, não sòmente racial,
mas igualmente artística, religiosa
e cultural. Então em religião, a
simples sobrevivência da
"ma-
cumba" e a fé em paranóicos
do
quilate dos Antonios Conselheiros
e outros revelariam, ex abundan-
tia9 sob tal faceta, o antagonis-
mo da nossa primitiva
existência
espiritual. O samba, os cantares
plangentes, as toadas várias, ora
remontando a uns, ora aos outros
ancestralismos, põem de relêvo a
infinita variedade de influências
sôbre que
se alicerçou a nossa vo-
cação nacionalista.
Seria, portanto,
absurdo admi-
tir que
fatores ainda agora pre-
sentes à marcha da nossa evolu-
ção não se corporificassem no seu
argamassamento histórico para,
conjuntamente com o ramo mais
predominante na hibridação, in-
fluir nas diretrizes da vida orgâ-
nica do país.
Dizer que
na cons-
tituição étnica nacional sôbre os
dois outros ramos predominou,
na
ordem política,
ou em qualquer
das demais, um traço de uma das
civilizações concorrentes, não é
a mesma coisa que
se afirmar a
anulação integral de tôdas as ma-
nifestações procedentes
das de-
mais fontes psico-biológicas
origi-
nárias.
O nosso sentido
institucional
A nossa tese é que,
no sentido
institucional, o Brasil, desde a
fase colonial aos nossos dias, foi
um país,
cuja unificação geográ-
fica e etnológica, como política,
A INFLUÊNCIA DO PODER PESSOAL NA UNIDADE POLÍTICA 87
foi determinada, pelo
menos
quanto às suas linhas mestras,
pe-
lo impulso de um estado políti-
co rigorosamente caracterizado
pelo poder de um órgão unipes-
soai. Si, durante o período
me-
tropolitano, o rei de Portugal pro-
moveu a catequese dos nativos por
intermédio de prepostos
seus, re-
vestidos, nêste Continente, das
insignias reais de chefes das Ca-
pitanias a
que dominavam como
senhores e por
direito próprio
e
não em vista de qualquer
manda-
to oriundo dos seus jurisdiciona-
dos, um exame, mesmo perfunctó-
rios, sôbre a situação do primei-
ro império ou do segundo logo
convence que
a instituição do go-
vêrno nacional, em contraposi-
ção ao das côrtes
portuguesas, em
nada modificou essencialmente,
nesse aspecto, a nossa primitiva
estruturação político-social.
Nenhuma transformação
na autoridade
política
Após as graves
comoções pro-
duzidas pelo
rompimento dos vín-
culos políticos que
nos ligavam
aos antigos colonizadores, o que
vimos é que,
reimplantada a di-
tadura monárquica no recem-cons-
tituído Estado Nacional, através
do regente convertido em Impera-
dor perpétuo,
nada se transfor-
mou, quando
à natureza pessoal
do poder
de um em relação ao do
outro. Como dantes, a autorida-
de política permaneceu
ligada
exclusivamente ao arbítrio indi-
vidual do reinante. O Impera-
dor era tudo e a Nação — como
união de forças humanas delibe-
rantes, detentora do seu próprio
destino — era nada ou
quasi nada.
Alguns fatos isolados, como
pronunciamento de Câmaras Mu-
nicipais, verificados antes ou de-
pois da Independência, ou como
as revoluções das chamadas repú-
blicas do Equador, no Norte, é
do Piratinin, no Sul, não pode-
riam indicar movimentos de opi-
nião capazes de, tomados em seu
sentido genérico,
traduzir que
o
pensamento das massas
popula-
res já
se havia libertado da pro-
funda influência pessoal
exercida
pela casa reinante.
Sufocados sem uma
vitória real
Além disto, é preciso
não olvi-
dar que
um ou outro dos pronun-
ciamentos, não só não lograram
propagar
- se, extendendo
- se à
maioria dos grupos provinciais,
como ainda foram sufocados sem
alcançar sequer uma vitória real,
impondo, no terreno dos princí-
pios, qualquer apreciável modifi-
cação nos sentimentos gerais
do
país, do
ponto de vista da conve-
niência de restringir o âmbito de
ação quasi
ilimitado da pessoa
do
imperante.
A Independência, si represen-
tou um acontecimento que,
até
certo limite, associou o povo
ci-
tadino, não logrou, do mesmo
passo, consubstanciar-se em reali-
dade jurídica,
sinão pela
aquies-
cência do príncipe
regente ao
transmutar-se voluntariamente de
agente do govêrno
metropolitano
em supremo magistrado da nova
soberania por
êle mesma esta-
tuída.
8*5CULTURA POLÍTICA
A Proclamação da
Independência
Sem a existência das incompati-
bilidades pessoais que, pouco a
pouco, irritando a Pedro I, o le-
varam a desvincular-se da domi-
nação ultramarina, não é
possível,
com apoio nos fatos, afirmar que,
por seu desígnio exclusivo, as
po-
pulações brasileiras possuíssem já,
então, aptidão para
atingir a igual
resultado. Não proclamou
o povo,
assim, sua própria
independência,
fê-lo o
governante estranho, como
um ato de benignidade ao em-
polgar-se pelo ódio e
pela paixão
do comando, em plena
revolta
contra seu próprio pai
e os digni-
tários da côrte de que
se despren-
dia sem respeito aos próprios
elos
da sua cadeia de ancestralidade
consanguínea.
Os brasileiros, é verdade, lhe
aplaudiram o ato, por
lhes ser pro-
veitoso, mas o grito
do Ipiranga,
traduzido no
"Independência ou
Morte!", soou primeiro,
isolada-
mente, dos lábios de um só ho-
mem, que
se aclamava de guia
e
protetor perpétuo para depois, en-
tão, reboar, por
todos os recantos,
como um éco de exaltação po-
pular.
A diferença da libertação
dos americanos
do Norte
Que diferença não se
pode di-
visar entre esta forma de liberta-
ção nacional e a da América do
Norte, em que
um punhado
de
patriotas, embebendo em sangue o
próprio solo e organizados em um
congresso, que era, de fato, o ór-
gão específico da vontade
geral,
sem apêlo a qualquer protetor
de origem real e de sangue euro-
peu, aboliu, em um ato de
perfei-
ta auto-determinação, os liames
que prendiam as varias colonias
ao poder
extra-territorial?! Co-
mo entre estas duas formas de
conduzir os acontecimentos se ma-
nifesta, inequívoco, o divórcio de
orientação dos métodos políticos
dominantes em cada um dos dois
hemisférios americanos!?
A disparidade de ação
Dois episódios subsequentes
ilustram, ainda melhor, a dispa-
ridade de agir de um e do outro
povo continental.
Proclamada a
Independência Americana com a
adoção de uma república gover-
nada por
um órgão coletivo, pou-
co depois periclitante
a unidade
territorial e demografica do novo
país, logo um segundo congresso
de nacionais —
a Convenção de
Filadélfia, -
apercebendo-se das
falhas institucionais do primeiro
regime, convoca-se e delibera por
si mesmo mudar o caráter do go-
vêrno, mediante a promulgação
de outra carta política.
Um cor-
po de homens e de
patriarcas au-
tenticamente nacionalistas, num
gesto de expressão imorredoura,
coletivamente, resolve em plena
solidariedade, sôbre a sorte da
Nação. Decretada a libertação do
Brasil, bem diverso foi o rumo
aqui trilhado para prover
o país
de uma constituição modeladora
do nosso govêrno geral.
Origina-
riamente, apelou-se para
uma
constituinte; mas esta, antes de
haver dado cumprimento à mis-
são intrínseca à sua investidura, é
dissolvida, afim de deixar sobre-
viver plenamente,
sem qualquer
contrapêso ou limitação, o poder
A INFLUÊNCIA DO PODER PESSOAL NA UNIDADE POLÍTICA 89
pessoal do
governante, de estirpe
estranha, a cuja graça
e generosa
magnanimidade haveríamos de
dever, como um gesto
espontâneo
cia sua própria
outorga, o primei-
ro pronunciamento
da vontade de
nossa existência de presumido
Es-
tado livre e independente.
O mesmo funcionamento
Si a abdicação e o ato adicional
representaram uma reação dos
sentimentos populares
contra a
absorção das prerrogativas popu-
lares, os seus efeitos práticos ja-
mais se fizeram, entretanto, sentir
sôbre o meneio das instituições. A
segunda regência, e o reinado de
Pedro II, continuaram a funcio-
nar do mesmo modo que
os re-
gimes precedentes e dentro do
mesmo ritmo de predominân-
cia da vontade pessoal
do gover-
nante supremo sôbre todos os cír-
culos das atividades de ordem le-
gal ou
particular que com êle fo-
ram chamadas a cooperar em me-
ro caráter consultivo ou de assis-
tência pessoal.
Tentativa de critica
institucional
E' intuitivo que
neste estudo,
comprimido pela
estreiteza do es-
paço, não nos
propomos a reali-
zar um exame integral de tôdas as
múltiplas causas sociais ou de to-
dos os fatos sociológicos que, com
maior ou menor intensidade, te-
nham concorrido para imprimir
a nossa evolução política o íeitio
personalíssimo que lhe acabamos
de apontar. Empreendemos, nes-
te escorso, mais um trabalho de
síntese, fundado na feição histó-
rica da nossa vida nacional, em
que o fenômeno estudado se
pa-
tenteie como um traço dos nossos
pendores espontâneos
para os
go-
vêrnos de um só titular, do que
propriamente uma minuciosa aná-
lise de fundo sociológico, de-
monstra tiva dos particularismos
que tenham servido de fontes a
uma tal situação. Fazemos uma
tentativa de crítica institucional
e não uma determinação precisa
das causas geradoras
do nosso de-
senvolvimento. Não é ocioso, en-
tretanto, que, para
atingir o mes-
mo alvo, encaremos aquêle aspe-
cto do assunto, embora perfunto-
riamente. Si a nós mesmos for-
mulassemos as perguntas
— "por-
que assumiram os regimes
políti-
cos do Brasil o prisma
de pes-
soalismo extremo?" —
"quais
as
causas sociais que para
isso contri-
buiram"? —
assim responderia-
mos:
"as
causas dessa orientação
devemos buscá-las em duas ori-
gens distintas
— uma, a
principal,
de ordem extrínseca ou extra-
continental; a outra, secundária,
da nossa própria
conformação in-
trínseca.
A primeira
e mais profunda
razão, à conta de que podemos
le-
var o nosso irresistível instinto de
dominação pessoal,
reside no fa-
to de termos aparecido na ordem
internacional como uma comuni-
dade colonial, submetida, em tu-
do que
se relaciona com a sua
formação coletiva, aos imperativos
de uma civilização já precedente-
mente constituída e transfundida
para o nosso solo nacional, com
tôdas as características que
lhe
eram próprias,
as quais
não se mo-
dificaram, ao menos quanto
às li-
nhas gerais,
nos seus delineamen-
tos básicos.
90 CULTURA POLÍTICA
Transmissão de
conhecimento
E' sabido, e isto já
nos ensina-
va Herbert Spencer, que
os povos
colonizados assimilam o conteu-
do da civilização veiculada pelos
colonizadores com os mesmos re-
quisitos que a ela sejam
peculia-
res. E' esta, aliás, uma condição
resultante da inferioridade psí-
quica, política e social em
que es-
tão os primeiros
em relação aos
últimos. O conhecimento se trans-
mite, em tais circunstâncias, so-
bretudo pela
difusão resultante do
contágio e, si nêste repousa o
princípio da transmigração das
idéias, é óbvio que
um tipo de ci-
vilização superior, ao entrar em
relação direta com um outro de
padrão inferior, tende sempre a
suplantá-lo. E' isto o que
se ve-
rifica até em casos em que
as ar-
mas de um povo
de nível mental
retardado abatem as de uma na-
ção de maior
potencialidade cul-
tural. Ao invés de impor o ven-
cedor seu estalão de vida ao ven-
ddo, êste é que
domina psíqui-
camente os triunfadores. Conclu-
dente é o exemplo dos romanos,
ao absorverem os povos germâ-
nicos barbarizados, após a catás-
trofe que
abateu materialmente
a nação.
Produto de uma
liga racial
Ora, nós, brasileiros, somos o
produto de uma liga racial
para
a qual
concorreram, em plena
dis-
paridade de nível intelectual,
por-
tugueses, indígenas e africanos.
Entre os coeficientes da mestiça-
gem, sòmente o
português era
portador de um
gráu de cultura,
relativamente elevado. Os dois
outros, embora a dissemelhança do
meio físico de que procediam,
ni-
valavam-se pela
ausência de qual-
quer progresso espiritual. A su-
perioridade do
peninsular não
podia, por tal maneira, deixar de,
pela absorção ou eliminação, su-
plantar os seus copartícipes de
hibridação etnológica e de forma-
ção social. Desde o seu encontro
inicial na zona litorânea até o seu
deslocamento para
a penetração
nas profundidades
do hinterland,
o precipitado
biológico da nossa
tripla formação demográfica se
portou de modo a confirmar,
pe-
los fatos, a proposição que
avan-
çámos.
A exploração das ri-
quezas nativas
Na exploração das riquezas na-
tivas, a partir
das do sub-solo até
as da superfície, outra não foi a
atitude dos nossos povoadores
e
desbravadores primitivos.
A con-
cepção fetichista do íncola ou do
negro cedeu, diante da pressão
violenta ou da persuassão
tran-
quila do conquistador reinícola.
A tribu, cultuando Tupan e do-
minada por
seus pagés,
simulta-
neamente sacerdotes, juizes
e guer-
reiros, é gradativamente
transfor-
mada nos núcleos rurais dos ci-
vilizados ou em aldeias em que
a
comunidade natural é automati-
camente substituída por
uma or-
ganização civil, orientada
para a
submissão ao agente do rei ou ao
apóstolo de Deus, entregues ao
desempenho da função de disci-
plinar, dirigir,
julgar, educar e
converter. O garimpeiro
de Mi-
nas-Gerais, o cultivador de São
Paulo, o senhor de engenho de
A INFLUÊNCIA DO PODER PESSOAL NA UNIDADE POLÍTICA #1
Pernambuco ou o creador do Nor-
deste, variando apenas de objeti-
vos profissionais,
emparelham-se,
no entanto, no mesmo mister so-
ciai de uniformização do nosso ti-
po humano,
psíquico e social. Em
derredor da fazenda, onde se ar-
ma, em volta da "casa
grandea
vasta curralaria, o branco, ocupan-
do a posição
central, sempre con-
duziu o negro e o selvícola ir-
manados pelo
trabalho, sob a égi-
de do orientador comum.
O comércio no
interior
Nas povoações
ou nos vilarejos,
a venda dos produtos
agrários e
pecuários, ou mesmo a troca e a
permuta de espécie
por espécie,
ou os atos votivos presididos pe-
los sacerdotes cristãos, reúnem,
nas feiras livres ou nos templos,
as populações
circumvizinhas. A
esta confluência de pessoas
soli-
darizadas pelo
interêsse ou pela
fé sempre se superpoz o chefe lo-
cal, quasi
invariavelmente um
regulete, sob o disfarce de prote-
tor e conselheiro.
Fisionomia típica
social
Em todos os tempos e, ainda até
há bem pouco, qualquer
dos Esta-
dos nordestinos apresentava esta
típica fisionomia social. O juiz,
o delegado de polícia,
o agen-
te do fisco moviam-se, não guia-
dos por
um princípio
de legisla-
ção escrita, mas ao impulso da
vontade ocasional de uma figura
poderosa, a cujas instruções mo-
mentâneas todos obedeciam. Ao
lermos, em Alexandre Herculano,
a descrição da vida municipal
portuguesa, temos a impressão até
de que
êstes centros primitivos^
da formação lusitana se desdobra-
ram para
o nosso meio, com tô-
das as cambiantes de sua feição
metropolitana. Em todo o perío-
do da penetração,
da conjunção e
fixação das tres raças em fusão,
o que
vemos, através do movi-
mento das bandeiras, da imigra-
cão nordestina para
a Amazônia,
da distribuição das populações
pelo alto sertão, é o
poder indi-
vidual do branco representativo
superar e anular a vontade da
massa popular, quer
no terreno
social e econômico, quer
no es-
tritamente político.
O índio e o
negro jamais
mandaram ou go-
vernaram, em qualquer
setor das
atividades nacionais. Não pode
haver dúvida que,
no seu senti-
do político,
tôda democracia pres-
supõe igualdade e liberdade jurí-
dicas, não só individual, sinão
também coletiva, isto é, de homem
a homem, de grupo
a grupo,
de
comunidade a comunidade. Co-
mo admitir que
imperasse no
país, durante todo o Império, um
tal regime, si era o acima indica-
do e não outro qualquer
o esta-
do social dominante? E' verdade
que Cassiano Ricardo, descreven-
do no seu
"Rumo ao Oeste", a
marcha das vanguardas bandei-
rantes para
o interior, salienta o
papel pelas mesmas exercido sô-
bre os tres elementos da mestiça-
gem, acentuando, com firmeza, o
caráter, inerente às bandeiras, de
fontes históricas da democratiza-
cão nacional.
No sentido da igualdade de
sangue e da parceria
de hábitos,
o princípio
é inteiramente certo.
Na sua acepção estritamente po-
92 CULTURA POLÍTICA
lítica, porém,
não cremos que
os de autocracia e da forma demo-
sucessivos govêrnos gerais
institui- cratica indireta. De modo algum,
dos sobre o país,
ou mesmo sôbre o Estado Brasileiro, como organi-
as circunscrições provinciais
te- zação máxima da ordem política,
nham emanado exclusivamente se configurou pelo
concurso da
daquela fonte de argamassamen- ação dos estadistas, isto e, das
to interno. Na constituição dos elites, conjugada a da população
poderes políticos, não operámos, em geral.
A Nação intelectual, re-
em qualquer
tempo, da periféria unida
em tôrno de uma íigura de
para o centro. Antes, avançamos maior
relevo, deliberava, por
m-
no sentido oposto, do centro para termédio
dela, após o que
a mas*
as extremidades. A evolução ve- sa amorfa recebia o ato sem re-
rificou-se entre nós por
compres- voltas nem aplausos, e por
vezes,
são, exercida pelos
núcleos mais em atitude de perfeita
incline-
gerais sôbre os mais locais e cir^ rença.
cunscritos, e jamais por
uma re-
ação coletiva advinda da irradia- Os únicos instrumentos
cão dêstes sôbre todo o organis- do pensamento
estatal
mo.
A influência de duas
correntes
Após a proclamação
do primei-
ro Império, o Brasil, políticamen-
te, sofreu a influência, mais ou
menos acentuada, de duas corren-
tes que
se contrapesavam entre
si. Ambas eram de caráter exter-
no, sendo que
uma metropolita-
na e a outra oriunda de outros
centros de civilização absoluta-
mente antagônicos aos processos
do nacionalismo português.
A
primeira destas fôrças inspirou-nos
o sentimento dos govêrnos
centra-
lizados, gravitando
em tôrno de
personalidades eminentes. A se-
gunda tentou conduzir-nos à ado-
ção da forma representativa com
bases nas deliberações do povo
devidamente organizado, como ex-
pressão de unidade auto-determi-
nante.
Foi do evolver paralelo
e con-
tínuo de tais orientações que
sur-
giram, no choque de interesses, os
nossos poderes
imperiais, mistos
Assim foi, ao outorgar-se, a
Constituição de 1824 e assim tam-
bém sucedeu por
ocasião da ado-
ção do chamado
"Ato Adicional",
de 1834, que
foram, de modo for-
mal, os únicos instrumentos po-
líticos consubstanciadores do pen-
samento estatal, em todo o exten-
so período
de dominação monár-
quica. Está
patente, pois, que
—
si a nossa democracia representa-
tiva correspondesse a uma forma
orgânica, intrínseca à evolução
política interna, e
que promanas-
se de um estado social integrado
ao espírito da nacionalidade —
os
movimentos destinados a consti-
tuí-la não resultariam das delibe-
rações de uma insignificante elite.
Ao revés, envolveriam a generali-
dade das classes em que
se divi-
dia a população,
disseminada pe-
lo território do país.
Era isto o
que demandariam, também, os
princípios inerentes a um verda-
deiro Estado Nacional, em que
o
govêrno se alicerçasse sôbre bases
populares e eletivas, fundadas em
A INFLUÊNCIA DO PODER PESSOAL NA UNIDADE POLÍTICA 93
qualquer gênero de sufrágio, ou,
mesmo em qualquer
espécie de
participação do elemento
popu-
lar na instituição dos poderes
públicos.
O exame da estruturação dos
poderes representativos e demo-
cráticos de qualquer país que
te-
nha atingido a um nível de cul-
tura relativamente apreciável, mi-
nistra-nos dados confirmativos de
quanto acabámos de expressar.
Na Inglaterra saxônia
ou normanda
Na Inglaterra saxônia ou nor-
manda, a prática
da colaboração
do povo
inteiro na Constituição
e na deliberação dos poderes pú-
blicos, emergiu da própria
célula
nuclear dos seus mais rudimenta-
res agrupamentos humanos. O
saxão primitivo,
ao congregar-se,
logo desenvolveu os germes
do
seu pendor para
os governos
de
feição coletiva, pois, jamais
ali se
gravitou em torno de um chefe
investido da supremacia do co-
mando. Mal despontavam os bur-
gos e os condados, com eles, con-
comitantemente, se definiam os
primeiros órgãos de
govêrno regu-
lar, representados por
assembléias
e tribunais eletivos. Articuladas
umas às outras, tais células cole-
tivas iam, paulatinamente,
se am-
pliando, por integrações sucessi-
vas, em organizações mais dilata-
das. Ao mesmo tempo que
isto
se verificava, o princípio
repre-
sentativo, igualmente, dilatava a
sua esfera de gravitação
legal. E
é por
assim ter sido que
os ana-
listas ingleses podem,
indiferente-
mente, ao examinar os seus textos
legais, concluir pela
afirmativa de
que as raízes da democracia bri-
tânica se soterram na profundida-
de da sua própria prehistória.
E*
este o aspecto de uma democra-
cia real, normalmente robusteci-
da através de causas autentica-
mente internas, viscerais e orgâ-
nicas.
O corpo da nossa
democracia
No Brasil, si as bandeiras, va-
rando os sertões numa promís-
cua composição de brancos, ver-
melhos e negros, fixaram o ho-
mem ao sólo sob um critério igua-
litário de ordem biológica, ape-
nas deram à democracia o cor-
po, mas não lhe infundiram a al-
ma que
devia constituí-la como
norma de govêrno generalizado.
Aqui podemos precisar,
como uma
resultante natural, que
a nossa
idiossincrasia pelos
regimes de
base representativa do tipo an-
glo-saxão promana do berço da
própria civilização nacional.
Somos, como povo,
um conglo-
merado derivado de tres fatores
que, considerados isoladamente,
jamais acusaram
qualquer grau de
inclinação pelos
regimes de go-
vêrnos de cunho eleitoral. O ne-
gro e o índio não ultrapassaram
a concepção retardatária de uma
organização puramente
tribal, co-
locada sob o mando dos pagés
de
vários tipos. O português,
na
pátria de origem ou no meio ame-
ricano, jamais
fugiu ao culto his-
tórico da coroa e dos seus reis
absolutistas revestidos de insígnias
e atribuições de arrogantes suze-
ranos.
A concepção particular
de qual-
quer forma
política não advem da
terra, mas do povo.
E' certo que
o meio físico, o ambiente geo-
94 CULTURA POLÍTICA
gráfico reagem sobre a massa hu-
mana, moldando o seu caráter e
as suas inclinações à feição das no-
vas circunstâncias intercorrentes.
Desta reação bem pode
resultar,
pela eventualidade de uma nova
forma adaptativa, mudança de di-
reção no espírito público
capaz de
aluir os alicerces psicológicos
de
qualquer comunidade de
povo ou
de raça. Não obstante, a realida-
de brasileira não foi absolutamen-
te esta. O elemento lusitano re-
presentou para nós o fator
predo-
minante na ordem geral
do nos-
so desenvolvimento político.
Re-
duzida a uma fórmula esquemáti-
ca o nosso ancestralismo socioló-
gico, nela encontraríamos o se-
guinte quadro de expressão:
Fatores democráticos represen-
tativos = o.
Fatores propícios
à investidura
pessoal == 100
% .
Dentro da objetividade histó-
rica, daí não há que
fugir. O
brasileiro é, por
constituição, um
indivíduo que, quando
associa-
do, normalmente se orienta para
a direção de uma chefia unipes-
soai. Essa tendência se manifes-
tou, quer
na esfera local ou esta-
dual, através dos coronelatos ma-
tutos e do caudilhismo província-
no, quer
na federal, encarnada, si-
multaneamente, nos chefes de
partido e nos
governantes que, en-
tre si, compartilhavam os desti-
nos nacionais. A diferença entre
o governante
e os chefe de parti-
dos, de então, era apenas que
os
últimos agiam por
trás das corti-
nas e os primeiros
manobravam
direta e ostensivamente a máqui-
na burocrática.
Encarado dês te prisma,
mesmo
já no
período da
primeira repú-
blica, Pinheiro Machado foi uma
síntese individual da nossa evolu-
ção histórica.
Quanto exprimi-
mos nos revela que,
um estudo
conciente do nosso processo
de
formação, comprova que
o que
re-
presentou continuadamente a
nossa normalidade, de fato, foi o
govêrno da feição
pessoal, e,
ja-
mais, o eletivo. Neutralizada nês-
se domínio a influência local e
circunscrita dos elementos aborí-
genes, o
que subsistiu,
já que sô-
bre êle em nada podia
influir o
ramo de origem africana, foi a
concepção portuguesa
de um na-
cionalismo anti - representativo,
apoiado na autoridade singular
de um monarca hereditário e in-
tangível. Daí as dificuldades en-
contradas pelos
estadistas do Im-
pério, ao
pretenderem transformar
a monarquia presidida pelos
des-
cendentes da dinastia bragantina,
de absoluta em representativa e
parlamentar. Não houve consti-
tuição ou lei, eloqüência tribúni-
ca ou doutrinação capazes de ven-
cer os desígnios inatos que
herda-
mos da estirpe metropolitana, mi-
nistradores da nossa mais remota
compreensão do govêrno
nacio-
nal, fundada no arbítrio ilimita-
do de sua Majestade de real. A vio-
lência, a irresponsabilidade e a
impunidade suprimiram, nas suas
fontes, o próprio
voto primário,
quando não entravaram o
parla-
mento por
êle ficcionalmente ins-
tituído.
Sem a confiança da maio-
ria parlamentar
No segundo Império, o monar-
ca magnânimo, mas voluntarioso,
governava, sempre,
permanente-
A INFLUÊNCIA DO PODER PESSOAL NA UNIDADE POLÍTICA 95
mente, com um ministério, da
sua e não da confiança da maio-
ria parlamentar.
E' isto, pelo
me-
nos, o que
nos consigna a histó-
ria.
A sorte das províncias
e dos mu-
nicípios pendeu,
sempre do arbí-
trio dos prepostos
diretos da sua
extensa rede burocrática, influen-
ciada pelos
áulicos da sua prefe-
rência política,
e nunca da ação
legal dos poderes
de feição eleti-
va que
as leis deixavam presumir.
O poder político,
como a vida ci-
vil e religiosa, movia-se automati-
camente em torno do astro cen-
trai, —
o Imperador —,
quando
não gravitavam
no plano
secundá-
rio de meros satélites dos presi-
dentes provinciais.
Ao lado desta
realidade é que
se erigiu, como
um palitativo,
a estrutura do go-
vêrno constitucional e parlamen-
tar nascido do esforço de alguns
sonhadores a quem
circunstân-
cias converteram em discípulos
do parlamentarismo
francês e do
catecismo cívico de Benjamin
Constant. Para compreender co-
mo o espírito brasileiro se definia
sociologicamente no sentido da
primeira e não da última forma
de orientação, basta racionar com
os dados da própria
vida política
das duas Américas e tomar em
conta a diversidade dos seus res-
pectivos fundamentos etnológi-
cos.
Si, no América do Norte, o in-
glês parlamentarista, ocupando o
novo habitat, converteu-se no
americano, democrático e presi-
dencialista, na América latina os
pendores dos espanhóis e
portu-
gueses pela dominação
pessoal dos
seus imperantes, logicamente, só
podiam gerar o fenômeno opos-
to, dado o absoluto antagonismo
das duas situações de origem. A
duplicidade de rumos históricos
bem evidencia porque
medrou
com tanto vigor entre os america-
nos setentrionais a autoridade co-
letiva das massas populares,
en-
quanto, no hemisfério sul, o espí-
rito político
se projetou
invaria-
velmente para
as hegemonias pes-
soais.
As portadoras
de
germes
As sementes advindas de climas
diferenciados eram portadoras
de
germes que, ao desabrocharem,
conservaram a marca de suas pe-
culiaridades genéticas.
No Bra-
sil, as idéias de fonte lusitana fio-
resceram em primeiro
lugar. Sua
feição política
difundiu-se, por
isto, muito antes de soprar sobre
os nossos quadrantes
sociais o tu-
fão que
se desencadeára da Fran-
ça para todos os
pontos cardiais
do pensamento
universal, vei-
culando o pólen
fecundante do
democratismo liberal. A implan-
tação dêste tornou-se, assim, obra
penosa e difícil,
por contrariar o
que já se infiltrava até o cerne da
emotividade do país.
Os ideais
da Escola Francesa que
o escol dos
publicistas, dos
parlamentares e
dos homens de Estado nos incul-
cou através do fraseado tribuní-
cio adquirido na leitura de Ben-
jamin Constant, Guizot, Franque-
ville, Jules
Simon e outros surdi-
ram como móveis sociais em an-
tagonismo com tôda a concepção
de vida pública que
entre nós os
antecederam. Daí nunca haverem
êles logrado, no âmbito dos cír-
culos de atividades nacionais, o
bom êxito vaticinado por
seus
96 CULTURA POLÍTICA
predicadores na fase da
propa
ganda. A técnica
parlamentar
brasileira sempre se manifestou
falha e deficiente. O mecanismo
eleitoral que
a acionava, igual-
mente funcionou como um aprês-
to cujo rendimento, quasi
nulo,
era, além disto, da peior
espécie.
O eleitorado que
o impulsionava,
o funcionário que
lhe coletava os
sufrágios, os poderes que
lhe apu-
ravam os resultados, longe de
lhes impor os objetivos demanda-
dos, pareciam
conspirar contra a
sua própria
implantação. A prá-
tica não era, por
tal modo, obje-
tivada sinão como um meio de
desmoralizar e de desmentir os so-
nhos alviçareiros previstos pela
pregação doutrinária. O
povo, se-
ja qual for o seu
grau de cultura,
é, por
intuição, realista. Não crê
sinão nos fatos e nos efeitos que
lhe são sensíveis.
A insuficiência do nosso
parlamen tarism o
O nosso parlamentarismo pode-
ria revestir os coloridos mais vi-
vos e fascinadores, quando
enca-
rados como mote da eloqüência
política. Como instrumento
prá-
tico de realização, de construção
da grandeza
e do bem estar pre-
nunciados, revelou-se, não só insu-
f iciente como decepcionante e per-
turbador. As eleições processa-
vam-se sob o ruído das assoadas
demagógicas, quando
não sob o
troar dos clavinotes ou o es tale j ar
dos cacetes. O ódio que
delas re-
sultou desunia homens, estirpes
e comunidades. O país
não pro-
gredia. Tudo marchava no ritmo
vagaroso dos tardigrados: — a
agricultura, a pecuária,
as comu-
nicações, os transportes, a eco-
nômia e a segurança. Os ade<
ptos do
poder pessoal do Impera-
dor, ou seja da conservação dos
antigos métodos de supremacia
real, sentiam, em tudo isto, a de-
bilidade do sistema e não perdiam
oportunidade para provocar,
cada
vez mais, a sua desmoralização,
desencantando o povo.
Êste, en-
tre o que
via e o que
lhe era pro-
metido pelos próceres
do regime,
preferia acreditar nos fatos. A
convicção que
se firmara, pois,
era a cíe que
o parlamento
e o re-
gime liberal de
que ele era o or-
gão personificador, não serviam
sinão para
embaraçar a ação vini-
pessoal do
grande Pedro II, com-
pelido a desperdiçar o seu tempo
para corrigir,
pelo exercício do
poder moderador, os transviamen-
tos, quer
do parlamento, quer
dos
chefes de partidos
cjue neles to-
mavam assento. Deste cotejo de
valores tão desiguais, o que po-
dia razoavelmente resultar, como
de fato resultou, foi o descrédito
da forma representativa e, com
a crença na sua inadaptabilidade,
uma fervorosa preferência por
aquelas em que
a ação pessoal
de
um chefe digno sentia-se inteira-
mente livre para
lutar contra o
mal e a corrupção dos homens
públicos.
Sobrepondo-se ao prurido
do democratismo
avançado
Não parece
de difícil compreen-
são que
si uma das direções do es-
pírito institucional, além de ser
extranha, conduzia à dissolução,
e a outra, sobre ser mais radicada
à vida nacional, levava à digni-
dade, a massa popular
se inclinas-
se instintivamente para
a que
me-
A INFLUÊNCIA DO PODER PESSOAL NA UNIDADE POLÍTICA 97
lhor se impuzera à sua insipiente
mentalidade. Foi por
esta forma
que o
poder pessoal enraizou-se
na conciencia geral e, sobrepondo-
se ao prurido do democratismo
avançado, prevaleceu como o mais
alto pendão
da unificação nacio-
nal. Menosprezados e diminuídos
nas suas prerrogativas os
poderes
originados do voto, (Parlamento,
Assembléias provinciais, Câmaras
municipais), a admiração pública
se fixava nos pró-homens da épo-
ca, e toda a marcha dos aconte-
cimentos que
favoreceram o de-
senvolvimento da unidade nacio-
nal se processou
sob a influência
direta, ou indireta dos mesmos.
Em nome do Imperado)
Em nome do Imperador, e não
em nome das instituições parla-
mentaristas, defendeu o nosso glo-
rioso exército nacional as fron-
teiras meridionais do país.
Em
nome dêle, ainda, manteve, o
mesmo exército, sob a suprema
inspiração do grande Caxias, a
persistência do vínculo tradicio-
nal de ligação entre as províncias
por vêzes ameaçadas na sua uni-
dade, pelas
rebeliões de fundo
cessecionista, intencional ou não.
Um povo
de onze milhões de
habitantes, e de quasi
cem por
cento de analfabeto, distribuído
por um vastíssimo território, sem
acesso aos grande
centros de cul-
tura do país,
não podia
compreen-
der e sentir as vantagens de um
sistema, como o representativo,
cujo conhecimento exige sempre
um alto grau
de preparação
in-
telectual e uma acentuada dispo-
sição de simpatia.
O saneamento do Amazonas
AZEVEDO LIMA
Chefe de Distrito Médico Pedagógico, na
Secretaria Geral de Educação e Cultura
da Prefeitura do Distrito Federal.
Esboçando os grandes problemas do saneamento do vale amazônico, o
autor nos transporta para um dos campos mais ricos de
possibilidades
bara o futuro brasileiro. A ação do Govêrno no reerguimento do Amazonas
iá se está fazendo sentir profundamente. Dia virá, diz o autor, em
que a
Amazônia poderá realizar a
profecia de vir a ser o celeiro do mundo
Marchamos para lá, vencendo a natureza, protegendo
o homem, garantin-
do-lhe a vida e a saúde contra as endemias, revalorizando-o pela revalo-
rização da terra.
"Precisamos dominar as endemias, para que
den-
"tro de
pouco, a média de crescimento da
população
"melhore e o seu rendimento econômico alcance os
"coeficientes dos países
civilizados. Fixando o homem
"à
gléba saneada e
produtiva, dando-lhe educação
"apropriada ao meio rural, evitaremos o êxodo dos
"lavradores e a fuga dos elementos jovens
e animo-
"sos, desviados do campo
para as grandes
cidades,
"com a ilusão de uma existência fácil e confortável".
GETULIO VARGAS
PARA
1.820.000 quilômetros
quadrados, apenas 450.000
habitantes. Que
é isso? Um
deserto. E esse deserto é o Ama-
zonas: a imensa planície
eqüino-
ciai que
a civilização contaminou.
Sim, contaminou-a.
Quanto se
podia fazer,
para dis-
simular a imprevidência crimino-
sa dos homens, já
foi feito. En-
tretanto, a verdade é que,
entran-
do pelas
regiões férteis e verde-
jantes da bacia amazônica, atra-
vés da rede maravilhosa dos seus
cursos potâmicos,
bandos de mas-
cates e aventureiros imprudentes
foram semeando pelo
deserto bra-
vio, mas virgem, os germes
letí-
feros.
A natureza amazônica
A natureza era hospitaleira e
boa. Era aquêle fervedouro de vi-
da, evocado pelo
cientista genial,
em páginas
memoráveis que
não
se desdouram entre os mais belas
e mais modernas das antologias
o SANEAMENTO DO AMAZONAS
alemãs. Recebeu a consagração de
salubérrima pelo gênio
do autor
do "Kosmosque,
em fecundas
explorações científicas, percorreu
a Amazônia, pelos
tributários do
Orenoco, até as fronteiras do
Brasil. Arrancou à imaginação só-
bria do naturalista apóstrofes de
arrebatamento poético:
"In
jedem
Strauch, in der gespaltenen Rin-
de des Baumes, in der von Hant-
füglern bewohnten Erde regi sich
hõrbar das Leben. Es ist wie eine
der vielen Stimrnen der Natur,
vernehmbar dern frommen, en
pfãnglichen Gemiite des Mens-
chen".
Em cada arbusto, em cada cór-
tice fendida de árvore, na terra
habitada por
himenópteros, ou-
via-se como que
um borbulhar de
vida. As vozes da natureza, em
festa perpétua,
acordavam os sen-
tidos do homem — do homem, do
desbravador, do conquistador, que
iria por
ela passar
espalhando em
seu rastro as sementes do mal. As
matas despovoadas, a imensidade
impérvia da jungle
amazônica,
que encheram de assombro, com
sua palpitação
de vida, a mentali-
dade excepcional de Von Hum-
boldt, a solidão feracíssima da
planície tropical, em
que reinava
o clima paradisíaco
de terras vir-
gens, iria receber um século mais
tarde, como ferrete indelével, a
antonomásia de "Inferno
Verde
com que
a pena
imaginosa do pro-
sador Alberto Rangel estigmati-
zou aquela vasta região do terri-
tório nacional.
A população
amazônica
Quatrocentos e cincoenta mil
viventes em superfícies de perto
de
dois milhões de quilômetros qua-
99
drados! Com franqueza, aí está a
prova de
que a natureza violada
se vinga dos invasores que
a po-
luiram, devorando-os. Dir-se-ia
que a Amazônia é um matadouro.
Ondas e mais ondas de nordesti-
nos audazes que
se obstinam em
povoá-la são por
ela tragadas.
Iinpi opera-se-lhe a inclemência
do clima. Faz mais de cincoenta
anos que
a literatura de ficção e
as descrições impressionistas dos
forasteiros a desmoralizam
e difa-
mam. O mundo imensurável do
Amazonas acena aos cúpidos com
a miragem de riquezas inexplora-
das e fabulosas de Golconda.
Mas os que
investem com os obs-
táculos das florestas impenetrá-
veis, si não morrem, adoecem. Es-
preita-os uma traição em cada
barranco de igarapé. Rondam-
lhes os passos
enxames de anofe-
linas. Os flibusteiros que
trans-
põem os
paúes e varam os
plainos
abrasadores, si se põem
a salvo
dos ferrões dos carapanãs, ou dos
gilvazes dos potòs,
si fogem dos
exércitos de saúvas enfurecidas
que arrazam tudo, aquelas saca-
saias escomungadas que
metem
mais medo aos imigrantes do que
os jaguares
de v. Humboldt, si
voltam dos barracões no bôjo das
montarias, deixando nas várzeas
encharcadas, no mistério das ma-
tas, as desilusões de seringueiros
falidos, veem pálidos, esquálidos,
salteados de sezões, farrapos de
homens, espectros de gente.
Não
há quem
o desminta.
E' verdade que
Raimundo de
Morais, aquela formosa inteligên-
cia de autodidata, que
há pouco
se» apagou, muito lido em Agas-
sis, Martius, Wallace, Hartt, Cas-
telnau, Spix, D'Orbigny Gibbon,
100 CULTURA POLÍTICA
Chandlçss, Bates, etc., a infindá-
vel legião dos naturalistas, que
andaram perscrutando,
em todos
os sentidos, os segrêdos da Ama-
zônia, ex-comandante de gaiolas
—
portanto, de intimidade com-
provada com as selvas amazonen-
ses __
para honrar a Amazônia, re-
buscou o estilo em ditirambos de
entusiasmo espasmódico. Multi-
plicou-se em literatura de
gênero
meio afetado, meio bucólico, que
cheira a poemas
campestres de al-
gum Teócrito
passadista, para
desagravar o
"celeiro do mundo ,
opondo ao Inferno Verde, de
Alberto Rangel., o Paraíso Verde,
da sua imaginação.
O vale e o clima
No entanto, desponta, a cada
passo, nas entrelinhas das apoio-
gias, a verdade involuntária. Re-
leiam-se os seus livros flamejan-
tes. Não varia o estilo. Aqui vá
de exemplo:
"Mal o navio atinge
a zona pastoril
da embocadura do
Xingu, dos campos do Aquiqui
para cima, a cerração se manifes-
ta com tôda a energia, tornando-
se perigosa.
Há noites em que,
vingadas as colinas da Prainha, o
vale parece
imensa fornalha de
mil chamas destruidoras. A at-
mosfera é morna e abafadiça. Fo-
gueiras sinistras, de altas línguas
de fogo, recordando a matéria
ígnea das crateras vulcânicas, Iam-
bem o espaço e iluminam o qua-
dro sensacional, grandioso
como o
do Vesúvio sepultando Hercula-
num e Pompéia na lava, à vista
aterrada de Plínio. A várzea abra-
zada, a crepitar, a chiar, a esta-
lar, arde por
todos os quadram*
s,
espavorindo as aves, afugentando
os quelónios,
atemorizando os
sáurios, assombrando as serpen-
tes...". E, nêste cenário dantes-
co, irrespirável, asfixiante, o ho-
mem vive, súa, trabalha, produz.
Descontemos as exagerações do
evocador. Sempre há-de sobrar
alguma coisa.
Outro, e êste verdadeiramente
notável, uma das glórias
da nos-
sa raça, espírito de escól, grande
alma chamejante de Quixote, per-
pétuo paladino de humilhados e
de terras ofendidas, também que-
brou lanças pelo
"clima calunia-
do". Foi Euclides. Mas, nas pá-
ginas cintilantes do seu ensaio sô-
bre as condições mesológicas da
Amazônia, não se chega a saber
bem si o ilustre autor de Peru ver-
sus Bolívia rehabilitou a natureza
desacreditada ou terçou armas pe-
lo heroismo silencioso, pela
intre-
pidez estoica dos caboclos do Nor-
deste, esses povoadores
abnegados
da gléba
ingrata.
E, na verdade, não é o clima do
Amazonas o que
os sanitaristas
caluniam. E' a hostilidade do
habitat o que
se procura
corrigir.
Há quem
viva na ilha de Dickson,
no mar de Kara, em pleno
oceano
Ártico, açoitado por
tempestades
polares, durante noites de cento
e tres dias, sob temperatura in-
terna de 12 gráus
abaixo de zero.
Vivem tibetanos na aldeia de
Thok-Djalank, a cinco mil me-
tros de altitude. Habitantes de
La Paz residem em arrabaldes si-
tos a 4.200
metros acima do ní-
vel do mar. E todos, naturalmen-
te, suportam bem as pressões
at-
mosféricas, sem vertigem das al-
turas, mais ou menos adatados à
anoxihemia anêmica das altitu-
des. Aqui, muito perto
de nós,
nas localidades ainda não sanea-
O SANEAMENTO DO AMAZONAS 101
das da Baixada Fluminense, ve-
geta uma
população de opilados.
Haverá aí quem
lhes inveje a
sorte?
O que
cumpre apurar é si está
ao alcance do poder publico,
si
depende da vontade dos homens
modificar o meio habitado e am-
pliar o habitável, no sentido de
oferecer possibilidade
de vida
aprazível as populações
dos solos
aluviais, afogados em enchentes
periódicas, que lhes devastam as
lavouras, e
"desarraígam
florestas
inteiras", servidos pelos
regimes
de cursos dágua transbordantes,
encharcados de pantanais
e ala-
gadiços, cobertos de florestas im-
praticáveis, inundados
por chuvas
torrenciais, e em cuja atmosfera
ardente enxameiam mosquitos.
E' o caso do Amazonas.
Euclides disse, em certo lugar,
que o homem aí chegou cedo de
mais:
"A impressão dominante
que tive, e talvez correspondente
a uma verdade positiva,
é esta: o
homem, ali, é ainda um intruso
impertinente. Chegou sem ser es-
perado nem
querido
—
quando a
natureza ainda estava arrumando
o seu mais vasto e luxuoso salão.
Encontrou uma opulente desor-
dem".
As origens do mal
Sem dúvida, as antigas tribus
de indígenas amazonenses desço-
nheciam a patologia
complicada
da idade contemporânea.
E' claro que
as regiões êrmas da
Amazônia ainda não eram assola-
das pelas
endemias de agora, ao
tempo em que
nelas galopavam
as
Amazonas fabulosas de Orellana.
Foram as correntes imigratórias
que veícularam a fauna
parasi-
tária até as longínquas paragens
do Cucuí, em que penetra
o Rio
Negro, e as terras lindeiras do sis-
tema hidrográfico que
deságua na
torrente do Rio Purús.
Encontram-se as fontes de in-
salubridade, ou as origens epide-
miológicas da Amazônia, nas in-
vasões do homem civilizado. Os
naturalistas estrangeiros que
visi-
taram os firmes
e tesos da planí-
cie desconforme, de Humboldt a
Martius, assombraram-se com a
opulência nunca vista da vegeta-
ção prodigiosa, em cujo regaço
impenetrável, à sombra de madei-
ros seculares, fervilha o reino zoo-
lógico que
a todos maravilhou. O
bem que
disseram dela! Mas às
enfermidades endêmicas que
ho-
je aí
grassam nenhum se refe-
riu. Ao contrário, gabaram
to-
dos a salubridade endêmica das
selvas.
Martius, Wallace, Agassis fes-
te j aram-lhes as virtudes
pacifica-
dor as, com acentos de éclogas ver-
gilianas. Durante nove anos es-
tanciou em Teffé o naturalista
Battes.
O próprio
Voltaire, que
a seu
tempo lia tudo, a literatura cien-
tífica e amena, a imaginosa e a
sábia, inclusive as lendas amazô-
nicas do cavalheiro Walter Ra-
leigh, não teria feito voltar, in-
dene de sexões, o seu Candide,
das aventuras do Eldorado, rumo
a Surinam, provavelmente
através
dos pântanos
e tremedais da Ama-
zônia, onde se foram perdendo
cargas de ouro e pedraria,
si sou-
besse que
lhe não custaria nada
agravar as aflições do sofredor
com o martírio das maleitas.'
102 CULTURA POLÍTICA
Doenças da Amazônia
O certo é que,
no quadro
noso-
lógico da antiga província
amazo-
nense, não figuram enfermidades
autóctones. As infecciosas e trans-
missíveis são, até, de importação
relativamente recente. A febre
amarela denunciou-se, pela pri-
meira vez, no Amazonas, em 1856,
quasi sete anos depois da data em
que explodiu nesta Capital a ter-
rível pandemia.
Aqui, na anti-
ga Côrte, asentou domicílio, du-
rante mais de meio século, o mór-
bo devastador. Dela e das cida-
des do litoral partiam para
o ex-
tremo Norte, em levas sucessivas,
os transmissores da desmoralizan-
te enfermidade, definitivamente
extirpada, em 1908, não por
mo-
dificações eventuais nas condições
do clima, mas graças
à obra pa-
triótica de inolvidável sábio: Os-
valdo Cruz.
A cólera desembarcou, no Ama-
zonas, de bordo do vapor Marajó,
em 1855, e fez-lhe nova visita em
1856, procedente
do Pará, no bô-
jo do Tapajós.
O impaludismo, doença plane-
tária, que
se instalou no Brasil,
pela primeira vez, em 1829, na
cidade de Macacú, província
do
Rio de Janeiro,
não é por
certo
originário dos trópicos, nem o co-
nhecia o Amazonas antes que
acometesse as ilhas da Guanabara
e alcançasse terra firme, propa-
gando-se pela antiga
província
fluminense, onde ainda agora rei-
na, como reina nos arredores da
Capital e em não raras metrópo-
les européias.
As leishmanioses amazonenses,
ou os vários aspectos clínicos da
mesma enfermidade parasitária,
reconhecem como agente patogê-
nico um protozoário
de procedên-
cia oriental.
O beri-beri nem é doença tro-
picai, nem é mal infeccioso. Pe-
la perpetuação
dele —
está isto,
hoje, exuberantemente provado
—
não responde, também, o clima do
extremo Norte.
Assiste, portanto,
aos amazo-
nenses razão para que
se rebelem
contra os que
irrogam ao seu Es-
tado natal a pécha
de insalubre.
As cifras de morbilidade
e obituário
Entretanto, a realidade crucian-
te é esta: as cifras de morbilidade
e obituário, no Amazonas, alcan-
çam proporções assustadoras.
Quaisquer que sejam as concep-
ções, mais ou menos razoáveis, in-
vocadas para
a explicação do fe-
nômeno do despovoamento, ou do
nomadismo amazonense; quer
busquem as doutrinas fundamen-
to nos mistérios dos anos clima té-
ricos, quer
se estribem em condi-
ções mais objetivas, de ordem te-
lúrica, atmosférica, agrária, topo-
gráfica ou econômica, o fato so-
ciai é que
não corresponde a den-
sidade da população
dispersa pe-
los latifúndios da Amazônia às in-
calculáveis riquezas em potencial,
nas regiões tão decantadas por
naturalistas e viajantes.
Thomas Buckle, na estupenda
introdução à
"História
da Civili-
zação na Inglaterra", monumento
de erudição científica, infelizmen-
te inacabado, no qual procurou
subordinar a evolução histórica a
princípios deterministas, e o
pro-
gresso social,
principalmente, às
influências poderosas
do meio
cósmico, hauriu nas lições dos na-
turalistas embevecidos a hipótese
/
O SANEAMENTO' DO AMAZONAS 103
de que
aos ventos aliseus poderia
atribuir-se o ritmo retardado do
desenvolvimento indígena. Ao
resumir o quadro panorâmico
desta terra maravilhosa, parece
que se limitou às leituras dos
que
se inebriaram com as exuberân-
cias da natureza amazonense, pa-
ra assim concluir:
"Tais
são a efu-
são e abundância vitais que
dis-
tinguem o Brasil entre todos os
países do mundo. Porém, no meio
dessa pompa,
desse esplendor da
natureza, não há lugar para
o ho-
mem. Fica reduzido à insignifi-
cância pela
majestade que
o cer-
ca. Tão formidáveis são as for-
ças que se lhe opõem
que nunca
poude dominá-las ou resistir à
sua imensa pressão".
Ora —
exemplo extraordinário
da falibilidade dos gênios!
— o
sábio insigne e pessimista, que
se
apoiou na ciência positiva para
a explicação de fatos sociais, não
chegou a vislumbrar as possibili-
dades imensas desta mesma ciên-
cia, a serviço da sociedade, para
correção da natureza e melhoria
do gênero
humano. Laplace, o
grande astrônomo, negou também,
com razões indignas do seu vasto
saber, a existência de meteoritos.
Galileu, físico imortal e revolu-
cionário, contestou a influência
da pressão
atmosférica sobre os lí-
quidos, depois de haver determi-
nado o pêso
do próprio
ar. Fre-
derico II, estadista sem par
e
protetor de talentos literários
cosmopolitas, não imaginou que
vivia ao pé
dêle um compatriota
ilustre, maior do que
todos os
outros —
Goethe. Luiz Felipe, ao
receber a notícia da morte de
Cuvier, o fundador da anatomia
comparada e da paleontologia,
perguntou, espantado,
quem era
êsse
"empregado
do Tardim das
Plantas".
O Amazonas, sorvedouro
de vidas
Não há, pois,
vergonha alguma
em confessar a verdade: o Ama-
zonas foi e é um sorvedouro de
vidas. Quanto
maior for a ca-
lamidade, maior será também a
glória de subjugá-la.
Carlos Chagas, o saudoso pro-
tozoologista nacional, honra e
luminar da nossa escola experi-
mental, confessou-a, sem rebuço:
"Sem
dúvida, na grande
Amazô-
nia, a dificuldade de viver só en-
contra medida exata na própria
facilidade de morrer, sendo ali a
vida humana quasi
uma epopéia,
pela imensidade de causas des-
traidoras".
Civilizações seculares teem-se ar-
ruinado por
culpa da inépcia hu-
mana. Lê-se em Gumplowicz que
o fisiologista Liebig explicou a
decadência do império romano
pelo empobrecimento
químico do
solo, em conseqüência de méto-
dos primitivos
de agricultura, es-
poli adores de sais de
potássio e
fósforo. No entender de Conrad,
atribuir-se-ia a degeneração social
à derrubada irracional das fio-
restas e, consequentemente, à de-
gradação do índice
pluviométrico.
Segundo Du Bois-Reymond, teria
baqueado a hegemonia política
do
Lácio porque
a ignorância das ci-
ências naturais privara
os roma-
nos da posse
de armas de fogo,
com que
sustariam as torrentes
das hordas invasoras. Não é do
próprio Buckle, em certo
passo
da sua obra magistral, a afirma-
ção de
que a civilização traduz
104 CULTURA POLÍTICA
"o
triunfo do espírito sobre os
agentes exteriores"?
A cultura humana é, pois,
ca-
paz de reagir, com êxito, contra
as influências deletérias do meio.
Na verdade, o homem, que
estra-
ga, corrompe, degrada a nature-
za, é apto, igualmente, a regenerá-
la.. A obra da aclimação não é si-
não pertinaz
esforço de saber apli-
cado ao preparo
do ambiente que
os grupos
humanos elegem para
domicílio. E' a adatação do ho-
mem ao habitat, é o domínio dos
agrupamentos sociais sobre a
agressividade do meio cósmico.
"A
vitória sobre as coisas, eis a
função do homem", escreveu
Emerson.
Essa obra de inteligência e cul-
tura nacionais havemos de reali-
zá-la. Um homem forte já
nô-la
prometeu. Confiemos nêle.
Índice endêmico
As primeiras pesquizas para
a
determinação do índice endêmi-
co, nas regiões malarígenas do
Amazonas, foram realizadas pelo
professor Carlos Chagas, segundo
métodos rigorosos, durante a sua
excursão científica de 1913-
Atraiu-lhe a atenção a considerá-
vel disparidade entre o elevado
índice malárico e a escassez numé-
rica das espécies de anofelinas.
Entretanto, já
havia sido regista-
do fenômeno idêntico por
Plehn,
em Duala, em Novembro de 1900,
e por
Hans Ziemann, no Came-
rum e outras localidades, antes
de 1908.
O melhor é dar a palavra
ao sá-
bio patrício:
"O
índice endêmi-
co pela
malária é elevadíssimo, po-
dendo-se afirmar, sem exagêro,
que, excetuados alguns indivíduos
residentes em centros populosos,
a totalidade da população
do in-
terior acha-se infectada pelo pias-
modium. Observações fizemos,
nêsse sentido, de levar ao desalen-
to. Em S. Felipe, pequena
cida-
de do Rio Juruá,
cuja população
oprimida poderia
ser avaliada em
850 ou 900
almas, colhemos da-
dos oficiais que
nos referiram
uma letalidade superior a 400 pes-
soas, no primeiro
semestre de
1911! Quer
dizer: metade dos ha-
bitantes de uma pequena
cidade
vitimada, em seis meses, por
uma
moléstia evitável e de processos
curativos bem estabelecidos. E
quando aí chegámos, nessa
pe-
quena
"necrópole",
ainda nos foi
dado apreciar os efeitos da inten-
sa e mortífera epidemia. Quasi
todos os habitantes de S. Felipe
achavam-se infetados, apresentan-
do os sinais clínicos da moléstia e
especialmente êsses volumosos ba-
ços, que tomam todo o abdômen,
característico da malária mal
curada. Nas crianças, em muitas
dezenas que
nos vieram a exame,
mais notáveis eram as consequên-
cias da moléstia, expressando-se
nas condições caquéticas de quasi
tôdas, na decadência profunda
de
pequenos organismos
quasi ina-
ptos para a vida e ainda menos
para o desenvolvimento físico,
combalidos pela permanência
de-
morada e, sem dúvida, definitiva
da infecção".
As mesmas devastações epidê-
micas foram pelo
falecido profes-
sor observadas em outros centros
e nos seringais de todos os rios,
onde a mortandade atingia a cifra
anual de 30
a 40%. Junto
aos
cursos dágua interiores, em zo-
nas produtoras
de borracha, nas
O SANEAMENTO DO AMAZONAS 105
proximidades do Abunã, no Alto
Acre, nos tributários do Purús,
do Rio Negro, do Juruá,
do Acre,
campeava o impaludismo, a pon-
to de dizimar 70%
da população,
cada ano, dessangrando, assim, o
País escassamente povoado,
depri-
mindo a produção, promovendo
o êxodo dos trabalhadores ater-
rados.
As tres espécies do hematozoá-
rio, com predominância
dos pa-
rasitos da terçã grave
e da beni-
gna, mais aspectos originais, mor-
fológicos e biológicos, do da
quarta, causador de manifestações
clínicas atípicas (
edema pretibial
precoce, às vêzes
generalizado, sín-
dromos nervosos, com aparição de
fenômenos par
ali ticos e evolução
infausta rápida), fizeram que
se
impressionasse Carlos Chagas com
a extrema difusão da enfermida-
de e o elevadíssimo índice de le-
talidade.
A leishmaniose tegumentária, o
purú-purú dos índios Paramirís,
a bouba, a lepra, o beri-beri, a
uncinarióse e, até, a tripanoso-
míase eqüina, epizootia mortífera
dos muares amazonenses, objeto
de estudo, in loco, do saudoso pro-
fessor, expuzeram-lhe ao exame
um quadro
epidemiológico que
ainda hoje nos espanta, pelo
som-
brio espetáculo de sofrimento, re-
presentado naquêle imenso cená-
rio equatorial.
Era essa a situação, há vinte e
sete anos.
A epidemiologia atual
A salvação do Amazonas terá de
se operar mediante vasto comple-
xo de providências
sanitárias, de
ordem pública
e particular, que
visem, ao mesmo passo,
os homens
e os agentes morbíficos.
Em face da grandeza
territorial
e das condições mesológicas de
uma natureza notoriamente hos-
til à vida e ao trabalho normais,
só a energia inquebrantável de
um governo
sem tibiezas, auxilia-
do pela
colaboração de técnicos
nacionais, executará a missão pa-
triótica de resolver cumulativa-
mente o duplo problema
da valo-
rização sanitária do homem e da
valorização econômica da terra.
Por certo, ao govêrno
do pre-
claro Presidente Getulio Vargas se
deparará, no próprio
Brasil, um
viveiro de capacidades profissio-
nais, nos domínios da medicina
tropical, da higiene pública,
da
engenharia hidráulica e da agro-
nomia científica, à altura de es-
boçar o plano grandioso,
de so-
corro às populações,
flageladas por
enfermidades evitáveis, e de assis-
tência técnica à agricultura roti-
neira.
No memorável discurso que
proferiu, no Pará, de volta da sua
excursão aos remotos sertões do
Oeste, prometeu
o presidente
Ge-
túlio Vargas, entre aplausos fer-
ventes de todos os concidadãos,
levar a efeito a emancipação eco-
nômica das regiões malsinadas, as-
sim pela proteção
sanitária dos
caboclos amazonenses, como pelo
amparo oficial à produção
agoni-
sante. Das promessas
à realização
não dista sinão um passo,
no go-
vêrno reconstrutor do Chefe de
Estado. Demonstram os fatos que
não se lhe opõem obstáculos in-
transponíveis, quando
a Nação
apéla para
a clarividência do go-
vêrno.
Assim, mal que
chegou do Nor-
CULTURA POLÍTICA
te, adotou o presidente
Getulio
Vargas a providência preliminar
que se impunha a iniciativa de
tamanha magnitude: determinou
que uma comissão de sanitaristas
fosse examinar, no local, os fato-
res disgenésicos, que
depreciam a
resistência dos trabalhadores, e
as condições deprimentes do meio,
salteado de enfermidades trans-
missíveis.
E' este o primeiro
estádio do
amplo programa
de saneamento,
o que
balizará a entrada dos ban-
deirantes da salvação sanitária
nos sertões martirizados por
um
século de desídia oficial.
Ainda não são conhecidas as ci-
fras reais do obituário, nem fo-
ram trazidos à luz os elementos
de informação colhidos pela
co-
missão especial de inquérito. Tu-
do nos induz a crêr, sem embar-
go, que ministrarão os mais dra-
máticos subsídios sobre as condi-
ções epidemiológicas do Amazo-
nas dos nossos dias. E' possível,
é quasi
certo que
os erros acumu-
lados durante mais de um quarto
de século de boêmia republicana
tenham contribuído para que
se
multiplicassem os algarismos as-
sustadores que
nos deu a conhecer
a expedição cientifica de Carlos
Chagas.
A revalorização do homem
Não existem enfermidades,
transmissíveis, ou não, no quadro
nosológico amazonense, para
o
combate às quais
não correspon-
dam, no arsenal terapêutico ou
profilático, armas eficientes.
A uncinarióse americana, a ma-
lária, as hipovitaminóses, a leis-
hmanióse, a febre amarela, a tri-
panozomíase
— os mais conside-
ráveis fatores de hecatombe e de-
pouperamento físico da
popula-
ção regional,
graças à intervenção
oportuna da assistência médica,
poderão ser, sinão riscadas defi-
nitivamente do obituário, pelo
menos combatidas, com indubi-
tável êxito, pelos
meios curativos,
pela higiene individual e
pela
profilaxia pública.
Identificadas, como estão, as
doenças locais, conhecidos os
agentes patogênicos,
a sua biolo-
sria, os insetos vectores, as formaso 7
clínicas, as condições de contá-
gio e
propagação, os métodos mo-
dernos de diagnóstico, a etiolo-
ei a, os recursos medicamentososo 7
adequados e, por
assim dizer, es-
pecíficos, não faltará às autori-
dades médicas sinão o concurso de
elementos materiais para que
che-
guem à revalorização sanitária dos
homens do Norte: curando os en-
fermos; reduzindo ao mínimo os
fócos de disseminação mórbida;
prevenindo a contaminação dos
sãos.
E' óbvio que
tal obra de sa-
neamento exigirá a cooperação de
especialistas excepcionalmente do-
tados, do ponto
de vista de vigor
físico e do de capacidade profis-
sional. Mais. Sem estar apercebi-
do de verdadeiro sentimento de
abnegação patriótica,
não haverá
pugilo de sábios capaz de arcar
com as responsabilidades dessa
façanha hercúlea. O trabalho no
sertão amazônico jamais
será uma
diversão oficial. Constituirá, an-
tes, um sacrifício premeditado,
permanente, contínuo dos ho-
mens, em prol
da coletividade na-
cional.
Por isto, o saneamento dessa
O SANEAMENTO DO AMAZONAS 107
terra infeliz terá de ser feito por
brasileiros.
Mercê de Deus, sobejam ao Bra-
sil, nesta hora de renovações so-
ciais, discípulos notáveis da gran-
de escola de medicina experimen-
tal, fundada pelo gênio
tutelar de
Osvaldo Cruz. Do seio das novas
gerações de médicos, agrônomos,
higienistas e urbanistas sairão os
elementos exclusivamente nacio-
nais, com que
o Presidente Ge tu-
lio Vargas empreenderá a obra
dentre todas soberba de incorpo-
rar a opulenta unidade federati-
va do extremo Norte à comunhão
brasileira —
saneada, redimida,
purificada, civilisada.
E' escusado imaginar que
a
imensidade oceânica do Amazo-
nas possa
ser reconquistada à sa-
lubridade, de súbito, por
obra
dalguns passes
de mágicos. O
Agro Pontino resiste ainda a ten-
tativas milenares de saneamento.
Capitais da Europa continuam in-
festadas, apesar de constantes es-
forços dos sanitaristas. Os mais
modernos métodos de engenharia
sanitária arruinariam a fazenda
nacional, e ao cabo seriam impro-
fícuos, si se empregassem em ser-
viços de defesa contra as inunda-
ções e drenagem dos
pantanais,
através dos seringais nativos, em
cuja atmosfera húmida vivem ho-
mens audazes, a arrostar a incle-
mência das selvas e a hostilidade
da fauna.
Os grandes problemas
do saneamento da
Amazônia
Naturalmente, o primeiro
tra-
balho do saneador consistirá em
atrair à vida, em centros de po-
pulação condensada, os sertanejos
dispersos pelas
áreas remotas em
que bracejam florestas rarefeitas
de héveas. Terão de ser chama-
dos ao convívio gregário
os habi-
tantes das solidões. Núcleos colo-
niais saneados permitirão
a prá-
tica das medidas de polícia profi-
lática, sob a vigilância permanen-
te de médicos, de urbanistas e de
engenheiros. Nem de outra ma-
neira poderia
conceber-se a ado-
ção de meios eficientes de assis-
tência sanitária, que
vão desde o
tratamento individual dos conta-
minantes até o estabelecimento
das instalações mais ou menos dis-
pendiosas recomendadas
pela en-
genharia urbana.
A higiene pública
moderna des-
vendou os segrêdos da insalubri-
dade. E descobriu os meios de
atenuá-la. Mas, só o otimismo
amaurótico e panglossiano
admi-
rirá a hipótese de ser saneado, de
chofre, um Estado dentro do qual
caberiam, juntos,
Portugal, a
França, a Espanha, a Italia, a
Suiça, a Holanda e a Dinamarca.
Cumpre consignar, ainda, que,
sem concentração prévia
dos agru-
pamentos humanos dos barracões
em povoados
salubres, baldados
serão todos os esforços no sentido
do aproveitamento econômico da
terra.
Preparar regiões circunscritas
para salvar os amazonenses
— eis
o programa.
Nêste sentido, ne-
nhum sacrifício pecuniário
será
grande demais
para a Nação in-
teira. No formoso elogio fúnebre
de Osvaldo Cruz, mais do que
formoso, eruditíssimo, proferido
pela eloqüência incomparável de
Rui Barbosa, aduz-se um exemplo
do que
seria para
a riqueza nacio-
nal a salvação dos párias
herói-
*
108 CULTURA POLÍTICA
cos, que
morrem à míngua, nos
sertões do Amazonas:
"Quando
os
Estados Unidos, em uma epide-
mia de tifo americano que por
éles grassou
no derradeiro quar-
tel do século dezenove, perderam,
por ela, vinte mil homens, dentre
cento e vinte mil acometidos, o
congresso nacional, estimando em
valores pecuniários
a soma do
dano infligido a república, o or-
çou em duzentos milhões de dóla-
res ou cêrca de oitocentos a no-
vecentos mil contos em nossa moe-
da. Ora, adotada para
o cálculo
a mesma base de preço,
tendo-nos
morrido, só aqui no Rio, dêsse
mal, em cincoenta e sete anos,
perto de sessenta mil doentes, ha-
vemos de concluir, segundo a es-
timativa americana, que
o Brasil,
no curso dêsse período,
só nesta
cidade, perdeu,
em vidas huma-
nas sorvidas na voragem da fe-
bre amarela, não menos de dois
milhões de contos de réis. Êste,
o contingente apenas desta capi-
tal. Adicionai-lhe, agora, as par-
celas relativas a todas as outras
no imenso litoral do Norte bra-
sileiro, desde o Amazonas até ao
Espírito Santo, pelo
interior dês-
ses Estados, e, no Sul, através dos
mais populosos,
como S. Paulo,
na metrópole estadual, em Santos,
em Campinas; adicionai-lhe essas
parcelas e apurai onde não irá
parar o total dos milhões de con-
tos de réis, que
a devoradora ca-
lamidade nos terá tragado...".
Não exageraria, sem dúvida,
quem afirmasse
que o Amazonas,
sózinho, perdeu
mais, muito mais,
infinitamente mais, em valor eco-
nômico, durante meio século de
obscurantismo e abandono siste-
mático da defesa sanitária.
Revalorização econômica
da terra
Conjugam-se a proteção
da vi-
da e a exploração inteligente da
terra. E' mesquinha a produção
do homem combalido. E' nulo o
rendimento da gléba poluída.
Quantos não fujam da terra mal-
si nada, despovoando-a, vegetarão
nela, sem frutos.
Aí está por que
o Amazonas é
um deserto. Poderiam nêle viver
folgados cento e cincoenta mi-
lhões de homens. Poderia ser o
"celeiro do mundo". Por enquan-
to não passa
de promessa
de ce-
leiro. Mas, já
é o cemitério de ca-
boclos intrépidos.
O Presidente Ge túlio Vargas
vai valorizar o homem. Logo, va-
lorizará a planície
voraz: sanean-
do-a primeiro, povoando-a
em se-
guida, explorando-a
por fim.
O grande
Estado foi a terra de
promissão dos forasteiros. De-
sentranhava-se em riquezas prodi-
giosas e fáceis. A borracha, nos
tempos felizes, transformava aven-
tureiros em rajás perdulários.
Ca-
da igarapé amazonense rolava em
suas águas lendas do Pactolo.
Manaus, a capital, era a Babilô-
nia de orgias.
Depois, à medida que
o macha-
do do seringueiro depredava a
floresta, sangrando a árvore para
colher o látex, com a mesma des-
preocupação bestial do selvícola
australiano, que
abate a planta
para colher o fruto, iam-se abrin-
do claros na densidade das selvas.
Embrenhavam-se nas matas os
caçadores de seiva. Contamina-
vam os sítios paludosos,
ou eram
picados pelas anófelinas infeccio-
nadas. Plantar, não plantavam
nada. Destruíam, só.
O SANEAMENTO DO AMAZONAS109
Campeou a miséria no paraíso
devastado. Em 1900, os seringais
selváticos do Amazonas produ-
ziam 27.000 toneladas de borra-
cha; em 1910, 40.000
toneladas;
em 1913, 39.000
toneladas. E o
rendimento foi descendo, descen-
do, até despenhar-se em 14.000
toneladas, no ano de 1930.
Entrementes, e ao revés, a se-
mente da hévea aclimada no Ori-
ente, em campos submetidos a
métodos racionais de agricultura,
em fazendas orientadas por
dire-
trizes científicas, dava 4
tonela-
das, em 1900; 8.200, em 1910;
304.000, em 1920, e, dez anos mais
tarde, 800.000 toneladas!
Resultado, aqui: homens arrui-
nados e doentes, terra esterilizada
e deserta. De sorte que
a ressur-
reição do Amazonas terá de mar-
char, pari passu,
com a restaura-
ção sanitária dos trabalhadores.
A missa© médica, que promo-
ver a recuperação da saúde, será
seguida da missão de agrônomos,
que iniciará as
populações agrá-
rias na cultura racional do sólo.
Cidades asseiadas e salubres. Cam-
pos saneados e limpos.
A colonização da
Amazônia
Preparada a terra para
receber
o trabalho do lavrador, onde ir
buscar os homens que
a povoem
e
agricultem?
Admitamos que
vivam dentro
das fronteiras nacionais quarenta
e cinco milhões de habitantes.
Ninguém se atreverá, certamente,
a dizer que
correntes migratórias
brasileiras, deslocadas para as zo-
nas saneadas da Amazônia, sejam
suficientes para
atender as necessi-
dades agrícolas de um Estado que
comporta população
laboriosa su-
perior à da República Americana.
Tanto mais que
temos, nós brasi-
leiros, o direito de aspirar, atento
o ritmo vertiginoso da civilização
moderna, à ascenção rápida da
prosperidade nacional.
E' evidente que
o propósito
das
instituições políticas presididas
por govêrnos emancipados de
pre-
conceitos raciais e obsessões jaco-
binistas —
e ao número dêles, se-
gundo se verifica
pelo vulto das
realizações, pertence
o do Presi-
dente Getulio Vargas —
consiste,
nomeadamente, em adiantar o re-
lógio do progresso
material.
De que
serve sanear um deser-
to, si não o povoarmos
depois?
Solos dadivosos acendem a co-
biça dos homens. Drenado, na
América do Norte, o vale do Rio
Colorado, irrigados os areais sá-
faros, que
distam do sul da Cali-
fórnia às fronteiras áridas do Es-
tado de Arizona, alastrou-se pela
região intérmina, conquistada pe-
la engenharia hidráulica à tirania
do infortúnio climático, uma po-
pulação laboriosa de nacionais e
ádvenas, ávidos de lucro, sôfregos
de ouro. A política
de coloniza-
ção americana orientou as torren-
tes dos novos povoadores,
locali-
zando-os em núcleos, radicando-os
ao solo. O que
era um Saára
inhóspito, até há pouco,
logo se
converteu em fertilíssimo pomar,
uma das glórias
da ciência ame-
ricana, orgulho de estadistas, fon-
te inesgotável de riqueza pública
e copioso celeiro de abastecimen-
to mundial. E, o que
mais é, va-
leu, também, como índice expres-
sivo da capacidade de absorção dos
elementos alienígenas pelas
raças
miscigêneas da América do Norte.
110 CULTURA POLÍTICA
"Governar
é povoar",
eis o afo-
rismo político
de imortal estadista
sul-americano, aquêle êmulo de
Hamilton, de quem
disse certo po-
lígrafo mexicano que
foi
"mara-
vilhoso inventor social e esquisi-
to inventor literário".
"A
his-
tória e a legislação argentinas são
carne e sangue de Alberdi, nas
obras que
legou à sua pátria
o
profundo estadista tucumano".
"Ali,
na Europa —
escreveu Al-
berdi, há um século, em
"Bases"
o seu livro magistral —
sobra, até
o ponto
de constituir um mal, a
população de
que aqui temos ne-
cessidade vital. Chegarão aque-
Ias sociedades a incompatibilida-
des fundamentais, quando possuí-
mos ao seu alcance um quinto
do
globo terráqueo deshabitado? O
bem estar de ambos os mundos
concilia-se casualmente; e median-
te sistema de política
e de insti-
tuições adequadas, os Estados do
outro continente devem propen-
der a enviar-nos, por
imigrações
pacíficas, as
populações que os
nossos devem atrair por política
e
instituições análogas. Esta é a lei
capital e sumária da civilização
cristã e moderna, nêste continen-
te... Nós, europeus de raça e ci-
vilização, somos os donos da Amé-
rica. E' tempo de reconhecer esta
lei do nosso progresso
americano
e tornar a chamar, em socorro da
nossa cultura incompleta, aquela
Europa, que
combatemos e ven-
cemos nos campos de batalha, po-
rém que
estamos longe de vencer
nos campos do pensamento
e da
indústria".
O futuro
Modelando o futuro do Ama-
zonas, a obra do govêrno
resgata-
rá os pecados pretéritos.
Durante
meio século de administração re-
publicana, a
grandeza cósmica do
Amazonas nunca figurou nos cál-
c.ulos dos alquimistas liberais. Sa-
bia-se, vagamente, da existência
dêsse país
de lendas fantásticas e
depravações republicanas. Era
um quisto
enorme encravado no
território da Republica. Vivia à
margem da civilização, sugado o
povo pelas ventosas dos hemató-
fagos, roído em suas energias pe-
los hematozoários de Laveran, es-
poiiado pela praga social dos re-
gatões e atravessadores.
Vai o presidente
Getulio Var-
gas reenxertá-lo na comunidade
nacional. Empreza abençoada,
que significa apenas isto: enrique-
cer o patrimônio geográfico
do
Brasil com um corpo estranho de
um milhão oitocentos e vinte mil
quilômetros quadrados, relegados
ao desprezo pela
incúria crimino-
sa dos velhos estadistas!
Com o seu corpo de técnicos ofi-
ciais, fará o govêrno
ressurgir uma
unidade federativa que
reúne tô-
das as condições de clima, ferti-
lidade, abundância, extensão e ri-
quizas naturais,
para chegar a ri-
valisar, por
si só, com qualquer
das mais poderosas
nações do
globo.
Concluída essa obra beneméri-
ta de patriotismo,
não seria exa-
gero adiantar
que a nossa civiliza-
ção se deslocará
para o extremo
septentrional do Brasil. O Norte
marcará, então, o ritmo do nosso
progresso. Oferecerá hospitalida-
de acêrca de cento e cincoenta
milhões de homens. Ensinará aos
brasileiros do futuro o amor da
vida agrícola. Trará às cidades
do litoral a fartura do seu solo, a
O SANEAMENTO IX) AMAZONAS111
lição da vida honesta, o exemplo
do trabalho e a prova
da nossa
grandeza.
Concorrerá aos mercados do
mundo com os frutos da nossa la-
voura. Carreará para
o Brasil os
excessos de população que
trans-
bordam na Europa desesperada, e
abrirá aos brasileiros cépticos os
braços generosos
da sua natureza
pródiga.
Bem haja, pois,
o govêrno que
vai iniciar a obra de 1 itans, en-
:>randecendo a Pátria.
Mercê dela, veremos então con-
vertida em realidade, pelo gênio
de brasileiros, a profecia
de V on
Humboldt.
O Amazonas será mais cêdo do
que era lícito esperar, o celeiro do
Mundo.
t
A obra social do govêrno
e o
aproveitamento da Amazônia
RAIMUNDO PTXHEIRO
Ex-inspetor escolar no Estado do Pará
Encara êste artigo um outro aspecto do mesmo tema do artigo anterior:
o reer&uimento da Amazônia e a obra social que ali vem realizando o
Govêrno. O autor conhece diretamente os problemas
da região e a percorreu
pelo interior, como inspetor de ensino.
AS
palavras de fé e de en-
tusiasmo patriótico
no fu-
turo grandioso
do Brasil
com que
o Presidente Getulio
Vargas sempre se dirige à Nação,
infundem uma confiança tão
grande nos
propósitos do
govêrno
que a ninguém é lícito, em cir-
cunstâncias tais, recusar a sua co-
laboração à campanha de recons-
trução nacional que
vem realizan-
do, principalmente quando
é sa-
bido o cuidado que
o govêrno
lhe
dispensa, em que pese
a sua des-
valia, como agora.
O que
o Estado Novo
- realizou na
Amazônia
A confiança que
se gera
da pa-
lavra oficial só pode
ser explica-
da, aliás, pela
exatidão com que
o govêrno,
fugindo aos moldes da
época que
o mundo atravessa,
tem resgatado as promessa
feitas
ao País. Tudo o que
o Estado
Novo já
realizou ou continua rea-
lizando no sentido de revigorar o
organismo da Nação, restauran-
do-lhe antigas energias e desper-
tando-lhe forças novas, ou até en-
tão desconhecidas, foi objeto de
promessas formais do
govêrno tal
a certeza de poder
cumpri-las. As
reservas da vitalidade e de capa-
cidade de realização de que
o Es-
tado Novo vem dando fartas mos-
tras, revelam e significam a con-
ciência e a serenidade que
sem-
pre presidem às deliberações do
govêrno no cogitar e resolver os
problemas nacionais,
por mais
complexos ou trabalhosos que
se
apresentem.
A par
dos benefícios sociais e
econômicos advindos da criação
dos ministérios da Educação e do
Trabalho, dando-nos leis sábias de
amparo aos trabalhadores do cam-
A OBRA DO GOVÊRNO E O APROVEITAMENTO DA AMAZÔNIA 113
po e da cidade, ou fomentando a
agricultura, a indústria e o comér-
cio, sem esquecer as inumeráveis
realizações dos demais setores da
administração, tão conhecidas e
aplaudidas teem sido elas, ainda
agora vem o governo
de pôr
mãos
à grande
obra da alta siderurgia,
empreendimento que
deverá ficar
como expressão viva deste decênio
de operosidade.
Ao Presidente Ge túlio Vargas
não seduz apenas governar.
A
ânsia demonstrada por
S. Excia.
de saber o que governa
e para
o
conhecimento exato do que já
peregrinou pelos quatro cantos do
País, é que
explica essa clarivi-
dência que
S. Excia. tem das rea-
lidades nacionais.
Algumas realizações do
decênio Vargas
Foi do contato direto com a
terra e com a gente que
S. Excia.
compreendeu a oportunidade de
muitas das suas mais arrojadas
iniciativas. Não podem proceder
de outra origem, conquistas como
a da Justiça
do trabalho, a lei dos
2/3, as do salário mínimo e aas
oito horas de trabalho, a sindica-
lização classista, a criação dos ins-
titutos de previdência
social, o
reajustamento do funcionalismo
público civil e militar, a lei de
usura, o estatuto do funcionário,
as obras da Baixada Fluminense e
Contra Sêcas, a criação do Insti-
tu to do Livro e do Patrimônio
Histórico, a proteção
ao teatro
nacional, o reaparelhamento das
fôrças do ar, terra e mar, a ele-
trificação da Central do Brasil e
a construção da sua nova estação
principal, a criação dos institutos
do álcool, café, cacáu, mate, sal,
a instituição do crédito agrícola
e industrial, a criação do Institu-
to dos Resseguros, o reaparelha-
mento do Loide Brasileiro, a en-
campação da Amazon River, a
criação do S. N. do Petróleo e
do Cons. Federal do Comércio
Exterior, o recenseamento nacio-
nal, a criação dêsses dois grandes
serviços —
o Instituto Nac. de
Est. Pedagógicos e o Departamen-
to Administrativo do Serviço Pú-
blico, cujos trabalhos de seleção
de valores para
servir ao Estado
tem sido simplesmente útil e no-
tável, como útil e notável foi a
criação do Departamento de Im-
prensa e Propaganda no sentido
de coordenar, amparar e orientar
a nossa vida artística e cultural,
assim como propagar
o desenvol-
vimento a que
atingimos.
A comunhão brasileira
Dessas medidas, um propósito
ressalta inconfundível, evidente: o
interêsse em dar ao homem o má-
ximo de confôrto, de segurança
pessoal e de assistência social
pa-
ra que
êle, fortalecido de corpo e
de espírito possa,
afinal, produzir
mais e melhor para
a coletivida-
de. O indivíduo no Estado No-
vo, quer
seja empregado ou pa-
trão, homem ou mulher, velho ou
criança, intelectual ou simples
operário, nacional ou estrangeiro,
tem uma função social determi-
nada no conjunto das atividades
coletivas, que
lhe dá direitos in-
transferíveis e invioláveis mas que
o obriga a produzir
em correspon-
dência com os benefícios recebi-
dos. Graças a essa compreensão
de responsabilidades, restabeleci-
114 CULTURA POLÍTICA
da a ordem interna e externa, a
comunhão brasileira, surge, já
agora, como uma máquina perfei-
tamente ajustada produzindo
aci-
ma da expectativa.
O restabelecimento da
confiança
A promessa governamental,
tão
desmoralizada que
andava pela
função que
lhe era atribuída nas
plataformas eleitorais, readquire,
assim, o prestígio que
lhe deve
caber, restabelecendo a confiança
que desertára do coração dos bra-
sileiros. Aquêle ceticismo doentio
e profundamente
epidêmico em
que se alimentavam as ideologias
exóticas para gerar
a desarmonia,
está virtualmente extinto. E o
brasileiro que
descria de tudo, in-
clusive de si mesmo, cobra animo
e crê novamente!
O Brasil, porém,
é tão grande,
tão grande que, por
maior que
te-
nha sido a atividade governamen-
tal, se muito se fez, não se fez tu-
do ainda.
Do Rio Grande do Sul ao Ama-
zonas a ação dos poderes públicos
tem realizado obras que
mais pa-
recem milagres. Não há dificul-
dades irremovíveis nem obstá-
culos que
façam deter a marcha
acelerada da máquina administra-
tiva no seu afã de transformar so-
ciai e economicamente o Brasil,
utilizando para
isso as próprias
re-
servas que jaziam
inexploradas.
E' recente a resolução do govêr-
no federal de ampliar os seus ob-
jetivos na Amazônia, onde, se é
um fato que
o caboclo já
travou
conhecimento com os benefícios
de assistência social oferecidos a
todos os brasileiros, não é menos
verdade que
ele ainda
"vive
qua-
si na miséria dentro do maior ce-
leiro do Mundo" —
como disse
Alfredo Ladislau (1).
A complexidade da
limpeza
Que o Presidente Ge túlio Var-
gas não desconhece a complexida-
de da empreza a que
se propoz,
testemunha-o claramente sua vi-
sita ao setentrião, no propósito
de
ver e sentir, êle mesmo, as pró-
prias forças em face da magnitu-
de dos problemas,
tão cioso S.
Excia. tem se mostrado das pro-
messas que
faz. E quando
todo o
País, acompanhando mentalmen-
te S. Excia. através das paragens
mais longínquas e inóspitas dês-
se pedaço
enorme do Brasil, qua-
si esperava a desistência dos seus
alevantados propósitos,
eis que
o
Presidente Vargas, num impulso
muito seu, mais uma vez o sur-
preende e desnorteia, reafirman-
do a sua fé inabalável nos gran-
des destinos do Brasil de hoje,
que compreende a Amazônia tam-
bem!
"Olhos de
quem quiz ver"
S. Excia. viu a Amazônia com
"olhos de
quem quiz ver" e com-
preendeu, com a lucidez extraor-
dinária que
lhe remarca o espíri-
to ágil e empreendedor, que o seu
principal problema é, antes de
tudo, curar o homem, física e es-
piritualmente, para torná-lo apto
a produzir
o máximo. Para que
as riquezas inexgotáveis que
a ter-
rae o rio guardam
invioláveis no
(1) ALFREDO LADISLAU
— Terra Imatura.
I
A OBRA DO GOVÈRNO E O APROVEITAMENTO DA AMAZÔNIA 115
seu seio, como para premiar
o es-
forço do homem, possam
ser con-
venientemente exploradas, urge,
primeiro, dar a êsse homem a for-
ça necessária
para que êle
possa
confiar em si mesmo na luta in-
gente que terá de travar. E' ine-
gável
— e o
governo o sabe
—
que
nenhum esforço humano poderá
transformar, em dez anos, o In-
ferno Verde num Paraíso. Não
será, talvez, para
a nossa geração
que isso se realizará. Poder-se-á,
porém, só
por isso,
procrastinar o
início dessa campanha nacional,
que a incúria do
passado retar-
dou? Será c^ue os homens de hoje
não se sentiriam imensamente fe-
lizes de poderem
reservar para
as
próximas gerações, que serão car-
ne da nossa carne e sangue do
nosso sangue, a certeza de um fu-
turo grandioso?
Coube ao Chefe
do Govêrno, numa coincidência
notável que
não me furto em as-
sinalar, responder a essas pergun-
tas que
sempre me fiz, no dia em
que, precisamente, há dez anos
passados, nós, os revolucionários
de 30,
lá estavamos, no quartel
do
26 B. C. de armas na mão para
lutar, também, por
um Brasil
melhor!
As riquezas da
Amazônia
A Amazônia nascida da última
convulsão geogênica que
sublevou
os Andes, e mal ultimou o seu
processo evolutivo com as várzeas
quaternárias que se estão forman-
do e lhe preponderam
na topo-
grafia instável, sendo talvez a ter-
ra mais nova do mundo consoan-
te as conhecidas induções de Wal-
lace e F. Hartt, (2)
abrem-se,
(2) EUCLIDES DA CUNHA
agora, com o seu pretendido
apro-
veitamento, perspectivas
fantásti-
cas. Ela tem tudo e tudo pode
produzir. Suas maravilhas tão co-
nhecidas e proclamadas pelos
mais notáveis sábios do mundo co-
mo Wallace, Edward, d'Orbegny,
Martius, Bates, Agassiz, Hartt,
Humboldt e tantos outros que
prelustraram a região só teem ser-
vido, porém,
à nossa vaidade. No
tempo mesmo em que
ela, num
transbordamento extravagante das
suas riquezas inexgotáveis, encheu
o vale de ouro e de aventurei-
ros, foi ainda à vaidade do ho-
mem que
êsse ouro mais ajudou.
Lá estão, ainda, em Belém e Ma-
náus, os vestígios dessa época de
magnificência, a atestar a impre-
vidência do caboclo e a falta de
uma providência governamental
no sentido de orientá-lo, de re-
crutá-lo e aos seus recursos para
que êle
pudesse subjugar comple-
tamente o meio, como agora, sem
aquêles recursos, o govêrno pre-
tende fazer.
Nem só o dinheiro
constroi
Contestando os argumentos de
conceituado economista o qual
me
afirmava —
poucos dias antes da
conferência que
realizei, sobre o
assunto, na Associação Brasileira
de Imprensa, por
iniciativa do
Grêmio Paraense —
ser impossí-
vel o aproveitamento da Amazô-
nia a que
o govêrno
se propõe
sem que para
isso possa
reservar
um numerário que
anda pela
ca-
sa do fantástico, dizia eu: E' sem
dúvida que
nada se faz sem di-
nheiro. Mas será o problema
ape-
nas de dinheiro, como querem
à margem da história.
116 CULTURA POLÍTICA
muitos? O passado
faustoso mos-
tra claramente que
não. Dinhei-
ro e muito convergiu para
a re-
gião
—
quasi beirando
por êsses
números altos —
lá permaneceu
e
de lá saiu novamente, no seu
eterno fadário, sem deixar, em
troca, a nova civilização que
bem
poderia ter sido criada com êle.
E a verdade é que
deixou até o
homem mais miserável ainda,
com a falta de uma infinidade de
coisas que
lhe tinha sido dado
conhecer. A borracha não custa-
va senão o trabalho de cortá-la.
Agora era preciso
lutar —
a ter-
ra se tornara esquiva! A princí-
pio lutou mesmo, lutou muito,
desesperado como um náufrago
que procura salvação. Depois, aos
poucos, foi
perdendo as energias
e acabou desistindo de tudo! Ho-
je êle é um vencido ainda
— é
mais do que
isso, é um ser doen-
te, física e moralmente, que
con-
tagia tudo com o seu céticismo
enorme. Seus filhos nascem do-
entes do corpo e desde os primei-
ros dias de vida adquirem essa en-
fermidade de alma que
os inutili-
za, que
lhes dá aquele aspecto de
sombras vivendo mecanicamente,
sem vontade, apenas pelo
instinto
de conservação inerente a todo
ser animal —
ou seja aquêle
"as-
pecto esdrúxulo de
povo velho,
velho por possuir
crenças escas-
sas no futuro", como bem preci-
sou Vicente Licínio Cardoso" (3).
Trabalho difícil
e penoso
Não basta, como se vê, inundar
a Amazônia de dinheiro. Nem só
de pão
vive o homem. E' preci-
so, antes, tirá-lo do abatimento
em que
vegeta ainda. Certo, não
será trabalho fácil provocar
o are-
jamento da alma soturna dêsse fi-
lho do norte, cujo céticismo pro-
vêm da sua persuassão,
a priori,
da inutilidade da ação, porque
seu
sub-conciente previne-o
de que
sua ação será fragmentária, des-
contínua, sem unidade social, se-
gundo Menotti dei Picchia
(4).
Ninguém se pertence
inteiramente
Convém demonstrar-lhe o equí-
voco, fazendo-o compreender ao
mesmo tempo que
nenhum indi-
víduo se pertence
inteiramente
pois como membros
que somos,
indistintamente, da coletividade,
não podemos,
segundo a vontade
constitucional, negar a nossa con-
tribuição para
o seu bem estar. E'
preciso que êle
perceba, de resto,
que nenhurrf esforço é vão, con-
soante a velha lei de Lavoisier
pela qual nada se cria ou se
per-
de na Natureza. Em suma: urge
renovar-lhe as esperanças do mes-
mo modo que
reativar suas ener-
gias embotadas. A esperança
ge-
ra a ação. E' mesmo, como preci-
sa Alexis Carrel, um dos fatores
mais ativos do ajustamento do
indivíduo a um meio desfavorá-
vel (5).
E' preciso,
assim, des-
mentí-lo mesmo —
quando êle
pe-
la boca de Aiuna afirma:
"O
ex-
tremo norte nunca existiu, e,
quem sabe?
jamais existirá talvez
para os estadistas do sul"
— como
o Presidente Ge túlio Vargas a ca-
ba de fazer!
(3) V. LICÍNIO CARDOSO — À margem da história do Brasil.
(4) MENOTTI DEL PICCHIA - Soluções Nacionais.
(5) ALEXIS CARREL — O homem, êsse desconhecido.
A OBRA DO GOVÊRNO E O APROVEITAMENTO DA AMAZÔNIA 117
Conhecido o homem e
suas realizações
Todo o Brasil conhece o seu
Presidente e as suas realizações.
O caboclo sabe, inclusive, que
a
êle deve o regresso dos últimos
nordestinos —
aqueles
"brabos"
que tanto concorreram
para o fas-
tígio de outiora —
que souberam
sua terra saneada e livre, afinal,
das agruras das sêcas! E êle bem
o compreende o que
isso repre-
senta!
Ninguém pode
negar que
a vi-
sita do Chefe do Govêrno, abriu,
naquêle sentido, clareiras novas
no céu carrecado da vida arnazô-
nica. Suas palavras
de fé vale-
ram, por
certo, como o som de
um novo canglor conclamando a
gente do vale também
para a cam-
panha de redenção
que transfor-
mou o Brasil do Pindorama dos
Poetas na oficina de trabalho em
que, hoje, se forjam e se retem-
peram as energias nacionais!
V
1
O seguro social e a sua
evolução no Brasil
ALCIDES MARINHO RÊGO
Autor de uma obra esplêndida sôbre "A
Vitória do Direito Operário no
Decênio 1010-1940"; médico dc institutos de aposentadoria e pensões
- o
nome que assina êste artigo focaliza uma das melhores e mais humanas
conquistas da legislação social brasileira: o seguro socai, que se traduz
auer no seeuro contra acidentes de trabalho, quer na creaçao das Caixas
e Institutos de Aposentadorias e Pensões, quer na assistência medico-nos-
pitalar ao trabalhador.
"El seguro social supera Ias divisiones que pro-
vienen dei reparto desigual de la produccion,
resti-
tuye la vida econômica y social a los indivíduos que
se ven privados de su capacidad de trabajo, dando-les
una parte modesta, pero
cierta, de los bienes indis-
pensables para una existencia digna de ser denomi-
nada humana".
(JÚLIO BUSTOS
— La Seguridad Social)
A
INSTITUIÇÃO dos segu-
ros sociais, relegada duran-
te muitos anos a plano
in-
ferior, mesmo nos países
em que
as leis trabalhistas tiveram maior
desenvolvimento, passou a consti-
tuir um dos problemas
mais im-
portantes para o mundo de após-
guerra.
A experiência alemã, cujos re-
sultados haviam sido considera-
dos de grande
utilidade, durante
o período
de conflagração mun-
dial, induziu os demais povos
ci-
vilizados a adotarem, de modo
rápido, novos métodos de seguro
social, tanto para
os riscos de ve-
Ihice, doença, invalidez e morte,
como também para
os de desem-
prego involuntário, uma das con-
seqüências mais trágicas da últi-
ma grande guerra.
Acompanhando a evolução da
política social
processada no velho
continente os países
americanos
foram também, gradatiyamente,
aperfeiçoando a sua legislação sô-
bre questões
do trabalho, mesmo
sem a pressão
de fatores que
tor-
navam cada vez mais complexa a
tarefa dos govêrnos
europeus. Os
efeitos do desenvolvimento indus-
trial vertiginoso c dos sistemas
de racionalização do trabalho, o
"chômage", as lutas de classes,
foram questões que
não agitaram
O SEGURO SOCIAL E A SUA EVOLUÇÃO NO BRASIL119
as populações
da América latina,
num sentido profundo,
ou mes-
mo não chegaram a tomar aspe-
cto apreciável.
Os Seguros Sociais, como escre-
veu o professor
Hitze, devem ser
considerados como medidas para
o asseguramento do salário justo,
pois
"o salário
percebido pelo
trabalhador, enquanto é apto pa-
ra o trabalho e pode
encontrá-
lo, não só há de cobrir suas ne-
cessidades nos dias de inatividade,
sinão também a amortização do
capital representado pelos cuida-
dos e pela preparação
recebidos
durante a juventude,
assim como
os desembolsos ocasionados pelas
enfermidades, a
perspectiva da ve-
lhice e, finalmente, os riscos para
a saúde e à vida inherentes ao
trabalho". Êsse caráter comple-
mentar do salário, atribuído aos
seguros sociais, define, de manei-
ra precisa,
o conceito que se deve
emprestar ao valimento do traba-
lhador, cujo único, capital, duran-
te tôda a existência, se resume no
rude labor quotidiano. A deli-
nição de Hitze, bem entendida,
se refere, integralmente, ao tra-
balhador com orientação e pre-
paração profissionais.
Seguro cofitTCL acidentesde
trabalho
A primeira
modalidade de se-
guro social posta
em prática
no
Brasil visou os acidentes de tra-
balho, tendo sido instituída com
a lei n.° 3.724. de 15 de
Janeiro
de 1919-
O decreto n.° 24.637, de 10
de Julho
de 1934- veiu ,dar
um
sentido mais amplo ao risco pro-
fissional, equiparando aos aci-
dentes a doença profissional. Foi
essa uma grande
conquista da
nossa legislação trabalhista pois,
como ensina Ferrannini,
"em me-
dicina se considera enfermidade
tudo o que
não é estado fisiolo-
gico e ao conceito de enfermidade
não se pode
opor outro conceito
que o de estado normal da saú-
de". Não se justificava,
assim,
qualquer antagonismo entre o
acidente de trabalho e a doença
profissional. As diferenças entre
ambos residem tão sòmente no
modo por que
se processa
o seu
desenvolvimento. Esta distinção é
bem focalizada por Boccia:
"a
anormalidade e a imprevisão, re-
quisitos para dar vida
jurídica
ao conceito de acidente de traba-
lho, não existe no conceito de en-
fermidade profissional, que é re-
sultante de elementos danosos,
necessariamente relacionados com
um ofício determinado e, por
conseguinte, nem anormais nem
imprevisíveis. Esta diferença, con-
tinua o autor de
"Medicina dei
Trabajo", é tão evidente que,
às
vêzes, a mesma casualidade lesiva
pode atuar seja como acidente,
seja como enfermidade profissio-
nal, o que
vale dizer, ora em for-
ma violenta, rápida, imprevista,
ora em forma contínua, lenta, co-
nhecida".
Encontram-se, porém, em am-
bas as ocorrências, os mesmos ele-
mentos que caracterizam o risco
de trabalho, podendo conduzir à
eventualidade de um dano. A
condição precípua do direito à
indenização é que
sejam, uma ou
outra, resultantes exclusivamente
do trabalho, ou a êle inerentes
ou peculiares.
120 CULTURA POLÍTICA
As indenizações
i
As indenizações, de acôrdo com
a lei vigente, são calculadas em
relação às seguintes modalidades
de acidente:
a) morte;
b) incapacidade permanente
e total;
c) incapacidade permanente
e parcial;
d) incapacidade temporaria e
total;
e) incapacidade temporaria e
parcial.
O empregador, além das inde-
nizações estabelecidas, é obrigado,
"em todos os casos e desde o mo-
mento do acidente", à prestação
de assistência médica, farmacêu-
tica e hospitalar.
A incapacidade parcial
ou to-
tal si durar, quando
temporária,
mais de um ano, passa
a ser con-
siderada permanente.
Enquanto em alguns países
os
seguros contra acidentes de tra-
balho são realizados pelo pró-
prio estado ou
por instituições
autárquicas, no Brasil vigora, ha-
bitualmente, o regime de institui-
ções privadas. A
garantia de exe-
cução da lei é assegurada pela
obrigatoriedade dos empregado-
res a ela sujeitos terem contrato
de seguro contra acidentes, co-
brindo todos os riscos previstos,
ou, na ausência do mesmo, de fa-
zerem, em estabelecimento de cré-
dito garantido pelo poder públi-
co, um deposito na proporção
de
2o:ooo$ooo para
cada grupo
de 50
empregados ou fração, até ao má-
ximo de 200 contos.
Algumas instituições de previ-
dência social, como o Instituto de
Aposentadoria e Pensões da Esti-
va, garantem
os seus associados
contra os acidentes de trabalho,
cobrando, obrigatoriamente, dos
empregadores e dos sindicatos a
êle subordinados, os respectivos
prêmios do seguro.
As Caixas de Aposenta-
dorias e Pensões
A segunda fase dos seguros so-
ciais, em nosso país,
é demarcada
pela creação de Caixas de Apo-
sentadoria e Pensões para
os fer-
roviários, instituídas, em 1923,
pelo dec. n.°
4.682.
A forma de constituição do pa-
trimônio adotada foi a de trípli-
ce contribuição. Em regime de
verdadeira cooperação social, con-
correm empregados, empregado-
res e o Estado, em quotas
iguais,
para a formação dos fundos ne-
cessários.
O sistema de aposentadoria e
pensões estendido em 1926 aos
portuários, começou a
generali-
zar-se, graças
ao decreto n.° 19.497,
de 17 de Dezembro de 1930. As
Caixas, que
nêsse ano somavam
42, já em 1934
perfaziam o total
de 173. A receita global
das mes-
mas, que
em 1923 atingia a
13 • 592:96o$ooo,
elevava-se, em
19552, a 92.883:4251214.
Em 1937,
o montante das arrecadações dava
a cifra de 127.878:7171400.
Iniciou-se, então, a formação
dos Institutos de Previdência por
categoria profissional,
de modo a
que pudesse o seguro social ficar
centralizado em organizações de
grande vulto, capazes de, à custa
da concentração dos seus efetivos,
garantir a sua estabilidade finan-
ceira, sem os riscos das pequenas
O SEGURO SOCIAL E A SUA EVOLUÇÃO NO BRASIL 121
Caixas, que
se disseminavam, com
rapidez, por
todo país.
Um dos mais reputados técni-
cos do Bnreau International du
Travail, S. A. Tixier, após exa-
minar a nossa organização de se-
guro social, em fase ainda de ex-
perimentação, escreveu interessan-
te relatório, cheio de observações
oportunas, que
saiu publicado
no
Boletim do Ministério do Traba-
lho, Indústria e Comércio, n.° 5,
de Janeiro
de 1935.
Assinalava o articulista as prin-
cipais medidas necessárias à solu-
ção do
problema de constituição
dos institutos de previdência
so-
ciai, medidas que, acrescentava,
coincidiam com a opinião recolhi-
da entre os nossos técnicos.
Essas medidas eram as seguin-
tes: a necessidade da fusão das
Caixas existentes, numerosas de-
mais; a urgência da elaboração
de bases estatísticas e de previsões
atuáriais; a utilidade de uma coor-
denação dos textos dos diversos
decretos relativos às Caixas de
Aposentadoria e Pensões.
O esboço de solução, então tra-
çado por A. Tixier, comportava
tres diretivas. A primeira,
mais
radical, consistia em crear um só
"Instituto Nacional de Seguros
Sociais", em que
seriam segurados
todos os trabalhadores do
país,
plano de execução dificílima em
face da grande
extensão territo-
rial a ser considerada. A segunda,
de forma conciliatória, previa a
creação de caixas independentes
em cada Estado, com o mínimo
de 5.000
associados, inspeciona-
das por
um Instituto Central de
Seguros Sociais e garantidas por
um Fundo Central de Resseguro.
A terceira planejava
a instalação
de vários Institutos Centrais, ten-
do como órgãos de execução cai-
xas regionais e agências locais, sob
a fiscalização do Conselho Nacio-
nal do Trabalho.
As reformas sugeridas pelo
di-
retor dos Seguros Sociais de Gene-
bra, dando maior apoio às ten-
dências dominantes no espírito
dos nossos especialistas na maté-
ria, foram sendo cuidadosamente
encaminhadas, já com o auxílio
imprescindível de dados positivos,
fornecidos pelo
Serviço Atuarial
do Ministério do Trabalho, crea-
do em 1934.
O plano
de fusão das pequenas
caixas fez reduzir, inicialmente,
as 186 que
existiam em 1937 a
103. As novas instituições resul-
taram em conseqüência da fusão
verdadeira de diversas pequenas
caixas, ou da incorporação de al-
gumas menores a outras de maior
estrutura.
Foram surgindo, progressiva-
mente, e de acôrdo também com
as novas diretrizes de organização,
outros organismos de seguro so-
ciai, formados, não em relação às
emprezas, como o são as Caixas,
porém, sob base
profissional. As-
sim sucedeu quanto às classes dos
marítimos, comerciários, estivado-
res, industriários e empregados em
transportes e cargas. O incremen-
to notável trazido pelos grandes
Institutos ao sistema de previdên-
cia social pode
ser aferido pela
simples verificação do patrimô-
nio total, realizado anualmente.
0Em 1938, ultrapassava o mesmo
meio milhão e excedia, ao fim do
exercício de 1939» a quant^a
vu^"
tosa de um milhão e meio de con-
tos de réis.
122CULTURA
POLÍTICA
Os benefícios das aposen-
tadorias e
pensões
As aposentadorias e as
pensões,
isto é, o auxílio direto ao asso-
ciado e o auxílio prestado à famí-
lia no caso do seu falecimento,
constituem os benefícios
funda-
mentais dados pelas Caixas e
pe-
los Institutos de Aposentadoria e
Pensões. Outras modalidades de
auxílio são, porém, dispensadas
aos segurados da Previdência
So-
ciai: assistência médica e hospi-
talar, auxílio-maternidade, auxí-
lio-funeral, empréstimos
em di-
nlieiro e construção de casa pro-
pria.
As aposentadorias, a
princípio,
tanto podiam ser ordinarias
co-
mo por
invalidez. No primeiro
caso, bastava que o associado
ti-
vesse, no mínimo, 5° anos de ida-
de e 30
anos de serviço efetivo, ou
60 e 20 respectivamente. Essa
prá-
tica, recentemente abolida, cons-
tituiu, sem dúvida, experiencia
arriscada. A despesa sempre cres-
cente com o pagamento
das apo-
sentadorias por invalidez mostrou,
ao fim de algum tempo, a situa-
ção periclitante que resultaria, si
fossem mantidas as aposentado-
rias ordinarias. O montante
das
importâncias correspondentes
às
últimas, superior ainda ao rela-
tivo às primeiras,
não poderia
permitir fossem estas atendidas,
dentro de um futuro próximo,
sem dano visível para a estabili-
dade financeira das instituições.
A resolução adotada pelo govêr-
no, que determinou
a suspensão
das aposentadorias ordinárias,
constituiu medida mais que
aÇe^"
tada. O afastamento de indiví-
duos ainda válidos, embora com
longo tempo de serviço ativo, não
se iustifica, razoavelmente, para
um regime de perfeito
equilíbrio
social, quando do mesmo decor-
rem conseqüências prejudiciais.
O
auxílio-velhice, no entanto, per-
manece, por intermédio
da apo-
sentadoria compulsória, desde que
o tempo de serviço não seja infe-
rior a dez anos.
Nenhuma aposentadoria pode,
atualmente, ser inferior a 200$000,
nem superior a 2*.ooo$ooo.
O projeto
de reforma da legis-
lação sôbre Caixas de Aposenta-
doria e Pensões, já concluído, es-
belece maiores vantagens para a
aposentadoria por invalidez, cuja
concessão dependerá, apenas, do
período de carência e não mais
do tempo de serviço ou de contri-
buições. As pensões
obedecerão,
de acordo com o mesmo projeto,
ao critério de proporcionalidade
ao número de beneficiários do se-
gurado. A cada um destes corres-
ponderá uma quota
suplementar,
de 10%, além da quota
fixa de
25 %, calculadas sôbre o valor de
aposentadoria por invalidez.
A assistência médico-
hospitalar
A assistência médico-hospitalar
dispensada nas instituições de se-
guro social comporta, até agora, o
tratamento geral em ambulatório
e o internamento hospitalar, nos
casos de intervenções cirúrgicas e,
de acordo com rècentíssimo de-
creto, nos casos de doenças men-
tais. O auxílio em espécie é con-
cedido aos segurados que tenham
direito à aposentadoria por in-
validez.
O govêrno
vem cogitando, há
bastante tempo, da creação de um
O SEGURO SOCIAL E A SUA EVOLUÇÃO NO BRASIL 123
seguro-doença especial. Muito se
tem debatido, ultimamente, sobre
tal questão.
Essa modalidade de
seguro, constituída de maneira
independente, graças
à arrecada-
ção de uma taxa à
parte, permi-
te assegurar ao trabalhador en-
fermo, não apenas os recursos ne-
cessários ao tratamento, seja êste
de natureza médica, hospitalar ou
sanatorial, preventivo
ou curati-
vo, mas ainda o pagamento
de um
salário adequado às suas necessi-
dades econômicas.
O seguro-doença ideal é, indis-
cutivelmente, o que
abrange, de
modo indistinto, qualquer
espé-
cie de enfermos. Um seguro es-
pecial contra a tuberculose, já
estudado por uma comissão de
técnicos, nomeados pelo
Ministro
do Trabalho, poderia
constituir
o início de um seguro geral,
si a
instituição imediata dêste se afi-
gurasse de difícil realização. A
tuberculose, no Brasil, atinge a
cifras muito altas, tanto de mor-
bilidade como de mortalidade. O
desfalque levado, à sua conta, ao
patrimônio dos órgãos de
previ-
dência social tem merecido par-
ticular atenção dos que
cuidam do
assunto, daí surgindo a idéia de
se atender à questão por
meio do
seguro-tuberculose.
Não apenasmente curativa, po
rém e sobretudo preventiva, se-
ria a campanha contra a peste
branca entre os beneficiários do
seguro social, visto como as Cai-
xas e os Institutos de Aposentado-
ria e Pensões prestariam, de acor-
do com o projeto
elaborado pela
citada comissão, tanto o auxílio
em natureza (médico e higiêni-
co), mediante a instalação de vas-
ta rede de dispensários, sanato-
rios e preventórios,
como o auxí-
lio em espécie, com o pagamento
de 50
a 75 %
do último salário
básico do associado.
O seguro contra a tuberculose,
si realizado, não daria, por
certo,
solução definitiva ao problema
de
assistência ampla às massas tra-
balhadoras, no interêsse de pre-
servar-lhes a saúde e a própria
vida. Seria, contudo, outro avan-
ço no terreno das realizações do
seguro social, que vai sendo con-
solidado, no Brasil, de maneira
auspiciosa.
Em política
social, embora ten-
do à vista paradigmas
das expe-
rimentação feita alhures, qual-
quer problema a ser atendido,
reclama longo e acurado estudo
das condições econômicas e so-
ciais ambientes, baseado em da-
dos estatísticos e previsões
atua-
riais, o que
não permite,
muita
vez, aos que
fazem julgamento
supereial ou afoito, uma compre-
ensão justa da demora relativa
que acompanha a elaboração de
muitas decisões.
O patrimônio
das institui-
ções de
previdência
O patrimônio
das instituições
de previdência,
representando
grandes reservas da economia ge-
ral, não pode
tender para
o con-
gelamento; precisa ser aplicado de
maneira vantajosa, porém
de mo-
do a que
os valores voltem a cir-
cular, estimulando o desenvolvi-
mento de novas fontes de rique-
za para
o país, que
são, em última
análise, vantagens maiores para a
coletividade.
Essa orientação vem sendo se-
guida pelo governo, nas disposi-
ções adotadas em relação ao em-
124CULTURA
POLÍTICA
prêgo das importâncias
acumula-
das pelo sistema
do seguro so-
C13.1 . . i» »¦
A inversão de capitais,
limita-
da, de início, à tomada de títulos
públicos, passou a ser feita, mais
tarde, na aquisição de casas desti-
nadas à moradia dos segurados e
na creação de carteiras de empres-
timos. O crédito agrícola, por úl-
timo estabelecido, tornou ainda
mais amplo o campo de circulaçao
do dinheiro arrecadado,
cuias dis-
ponibilidades careciam
de mobili-
zação garantida e compensadora.
As operações imobiliárias,
rea-
lizadas pelas Caixas e Institutos
de Aposentadoria e Pensões,
re-
presentam uma das formas de ati-
vidade mais úteis às classes traba-
lhadoras. Atendendo
à circuns-
tância de serem as habitações pro-
letárias, na sua mór parte, precá-
rias, quanto aos requisitos de con-
fôrto e higiene, além custarem
preço elevado,
determinou o
go-
vêrno pudessem ser empregados,
na solução dêsse problema, até
,0% dos saldos das instituições
de previdência
social. Milhares
de habitações, inúmeras
vilas e
verdadeiras cidades operárias
teem
surgido, em todos os estados, em
conseqüência dessa orientação,
atestando, de maneira eloqüente,
os grandes benefícios que
vai pro-
duzindo, em nosso país,
o seguro
social.
1
Evolução da
política
imigratória do Brasil
Ul —
Primeiro período de expansão, até 1555
ARTUR HEHL NEIVA
Membro do Conselho de Imigração e Colonização
e Diretor Geral do Expediente e Contabilidade
da Polícia Civil do Distrito Federal.
NO
ARTIGO precedente
mos-
tramos de que
forma ha-
viam sido, por
D. João
III,
encaradas as solicitações veemen-
tes de Nobrega, logo após sua che-
gada ao Brasil, no sentido de ser
incentivado o povoamento,
trans-
crevendo trecho da carta que,
em
Setembro de 1550, o monarca es-
crevera a Per o Anes do Canto,
nos Açores, procurando
facilitar
a canalização, para o nosso
país, de
forte corrente imigratória de
ilhéos.
As mesmas medidas de
quatro séculos
atrás
Êssc documento merece
^
uma
análise mais detida, em
^
virtude
de sua importância capital, por-
que vein mais uma vez
provar co-
mo, já
naquela época, o Govêrno
empregava em relação ao proble-
ma em estudo a maior parte
das
medidas que ainda hoje, decorri-
dos quasi 4
séculos, são postas
em
prática para atingir o mesmo re-
sultado. Embora julgue, pessoal-
mente, bastante aleatória a apli-
cação irrestrita do princípio
da
causalidade aos fenômenos histó-
ricos, é forçoso convir que, pelo
menos nêste caso, temos um dos
mais belos exemplos da demons-
tração da existencia do nexo cau-
sal entre um determinado proble-
ma social e as providências
toma-
das pelo
Poder Público desejoso
de seguir a mesma norma políti-
ca, embora separadas por um
pe-
ríodo de tempo de quasi 400
anos.
Com efeito, o problema que
então avultava era o mesmo, pra-
ticamente, de hoje em dia —
en-
cher o país
de gente
boa, que
ete-
tuasse a tnise en valeur das suas
126CULTURA POLÍTICA
riquezas potenciais,
e a atitude
do Govêrno, em última análise,
também não se modificara — agir
no sentido de fomentar o
povoa-
mento com elementos nessas con-
dições. ,
Como salientei acima, geral-
mente, em historia,
r *
causas não produzem
eleitos equi-
valentes, afirmativa que seria ab-
surda nas ciências matemáticas,
apesar dos paradoxos
logicos
deram origem às tres escolas do
pensamento matemático
moderno,
os logísticos de Rússel, os intuicio-
nistas de Brouwer e Weyl e os
formalistas de Hilbert,
irreconci-
liavelmente em conflito. Já
nas
ciências físicas, Heisenberg, Born
e Dirac atacam de frente o prin-
cípio, embora Planck e Einstein
mantenham a
possibilidade
de
sua existência. E* fato comum
que, nas ciências biológicas, a
ação do princípio
da causalidade
é bem mais imprecisa, o mesmo
remédio, por exemplo, provocan-
do reações diferentes, embora em-
pregado de maneira semelhante,
em pacientes
diversos. E, por
conseguinte, natural que, dada a
complexidade e variabilidade
das
causas, freqüentemente imponde-
ráveis ou desconhecidas, que afe-
tam os fenômenos sociais, seja
praticamente
ilusória sua aplica-
cão rigorosa a casos suficientemen-
te separados espacial ou tempo-
ral mente.
Fenômenos diferentes
provenientes
da
mesma causa
Exemplificando: a luta entre o
rei e os nobres, com vantagem
para êstes, conduziu, na Inglater-
ra, à constituição de um estado
forte, do tipo parlamentar,
plena-
mente apto a progredir
durante
séculos e a manter o equilíbrio in-
terno, indispensável a
qualquer
nação organizada; e na Polônia a
uma situação de verdadeira anar-
quia, impeditiva cia criação de um
estado intrinsicamente habilitado
à estabilidade, que permitiu sua
desaparição em fins do século
XVIII. E assim poderiam
ser mui-
tiplicadas as instâncias em que,
pela ação de outras concausas, os
efeitos foram divergentes, embo-
ra os mesmos fenômenos históri-
cos atuassem primitivamente.
Passando à análise do documen-
to em questão,
vemos que:
1) o
rei deseja a imigração para o Bra-
sil; 2) Para incentivá-la, dá um
certo número de facilidades aos
emigrantes açorianos,
vantagens
essas de natureza econômica, a)
fornecimento de viagem gratuita,
b) alimentação e c) doação de
terras.
A política
real agia, pois,
com
perfeito acêrto psicológico,
jo-
gando com vários fatores da na-
tureza humana — o espírito de
aventura, o desejo de lucro e a
ambição de ser proprietário,
to-
dos tres molas fundamentais ^de
ação, embora muitas vêzes recôn-
ditas, especialmente o último que,
excitava o sentimento de fome
de
terra, tão comum nos povos
euro-
peus. Era o
que se
poderia cha-
mar de imigração colonizadora
em mais alto gráu.
Idênticos os incentivos,
hoje, empregados
Pois bem: Hoje, ainda, os incen-
tivos empregados são idênticos. Os
govêrnos, atualmente, quando
de-
evolução da política imigratória no brasil127
sejam fomentar a imigração, lan-
çam mão dos mesmos recursos.
S. Paulo, por
exemplo, financiou
o transporte marítimo dos imi-
grantes até 1927, conforme dados
do Dr. Henrique Doria de Vas-
concelos, grande
autoridade no
assunto, que
em brilhante artigo
sobre as Oscilações do movimen-
to imigratório no Brasil, publi-
cado no n.° 2, vol. 1, da Revista
de Imigração e Colonização",
pp. 211-233, demonstra à sacieda-
de o paralelismo
existente entre
as quantias
despendidas nessa ru-
brica e o número de imigrantes
entrados naquêle Estado. Mais
recentemente ainda, o Estado de
Minas Gerais despendeu, em
1940, 25o:ooo$ooo a título de
adiantamento para o
pagamento
das passagens
marítimas para
um
certo número de ilhéos portugue-
ses, provenientes
da Ilha da Ma-
deira.
Concomitantemente, usa-se na
atualidade, apenas de maneira
modificada pelas circunstâncias
presentes
— é
preciso nunca esque-
cer que
o período que
medeia en-
tre o documento e a data de ho-
je, alterou totalmente as condi-
ções do mundo
— o atrativo da
terra, o desejo de ser proprietá-
rio de um imóvel rural, facili-
tando-se ao máximo o pagamen-
to por parte
do imigrante, o qual
poderá ver satisfeita sua ambição
num prazo que
depende exclusi-
vãmente do seu trabalho indivi-
dual.
Finalmente, pode
ser traçado o
paralelo entre os mantimentos
El-Rei mandava fornecer aos imi-
grantes e a assistência hoje em dia
prestada pelos órgãos competen-
tes sob a forma de empréstimo e
nas doações in natuxa de semen-
tes, ferramentas e utensílios indis-
pensáveis ao
pleno aproveitamen-
to do terreno a ser colonizado.
As colunas mestras do
fomento imigratório
Êstes tres fatores — subvenção
ou auxílio para
as passagens,
doa-
ção ou cessão de terras
por quan-
tia mínima e assistência sob tôdas
as suas formas, técnica, social ou
financeira, — constituem ainda
nêste momento, as colunas mes-
tras de qualquer política
de fo-
mento da imigração, visando in-
fluir, de maneira positiva,
sôbre
o povoamento
do solo. São, em
pleno século XX, absolutamente
indispensáveis, embora associa-
das a outras, em todos os progra-
mas de imigrações colonizadoras,
sendo encaixadas em todos os pia-
nos de colonização técnicamente
organizados.l J
Profunda a visão dos
estadistas lusos do
cinquecento
\
Sentimos, pois,
mais uma vez, a
transcendência das medidas to-
madas, em meiados do século
XVI, pela
Coroa portuguesa
em
relação ao Brasil, e a profunda
visão das realidades dos grandes
estadistas lusos do cinquecento.
Era apenas natural que
o Rei
dêsse conhecimento, ao Governa-
dor Geral, dessa sua política,
des-
dobrando-a em detalhes aplicá-
veis ao Brasil. Foi o que
ocorreu,
conforme se verifica do alvará pu-
blicado a pp. 333"^ vo*'
XXXV dos Does. Hist., e que pe-
la sua suma importância aqui
transcrevo;
128 CULTURA POLÍTICA
"Eu El-Rei faço
saber a Vós
Thomé de Souza do Meu Conse-
lho, e Capitão da Bahia do todo-
los Santos, e Governador das ou-
tras Capitanias, e terras do Br a-
sil, que
havendo eu respeito ao
muito que
importa a serviço de
Deus, e Meu haver nessa Cidade
do Salvador; e nas outras Povoa-
ções dessas Partes moradores, e
ahastança, que
as possam povoar,
e aproveitar em Engenhos e Fa-
zendas de assucares, que
lá se en-
nohreçam, e que quanto
com mais
brevidade se nisso prover
tanto
mais cedo as ditas terras se pode-
rão segurar, e dar novidades, e
rendimentos; e para que
muitos
com elles por
vontade folguem
de
empregar lá suas fazendas,
e de
se irem lá viver; Hei por
bem,
que toda a
pessoa, que a sua custa,
e despesa se for
a essa Cidade, e
Povoações para
nellas viver e as
povoar, e aproveitar neste anno
de 1551, e no que
virá de 1552,
e assim os que
lá mandarem no
dito tempo a fazer
de novo Enge-
nho de assucar, ou reformar os
que tinham nessa Capitania des-
sa Bahia, e na do Espirito Santo
de Vasco Fernandes Coutinho an-
tes de se despovoarem, sejam es-
cusos de pagarem
o Dizimo, que
me pertence
de suas novidades por
tempo de cinco annos, que
come-
çarão a correr de sua chegada a
terra, onde fizerem
seu assento
em diante, e isto se entenderá as-
sim nessa Capitania, como em
cada uma das outras dessa terra,
e os Lavradores, e outras Pessoas,
que nos ditos dois annos tenho
ordenado, que
vão das Ilhas da
Madeira, e dos Açores, e de São
Thomé, e de outras Partes para
moradores da dita Cidade do Sal-
vador, e que
mando dar a custa
de minha Fazenda embarcação, e
mantimento para
a viagem e para
alguns mezes em terra serão es-
cusos de pagarem
o dito Dizimo
de suas novidades por
tempo de
tres annos de suas novidades di-
go annos de sua chegada em di-
ante. E porém
sendo algum dei-
les Carpinteiros da Ribeira, ou
de Casas, Calafates, Tanoeiros,
Ferreiros, Serralheiros, Besteiros,
Pedreiros, Cavoqueiros, Serrado-
res, ou Oleiros, os taes por
respei-
to dos seus Officios gozarão
da
dita Liberdade por
tempo de
cinco annos pela
maneira sobredi-
ta, posto que
houvessem embar-
cação, e mantimento para
a via-
gem a custa de Minha Fazenda; e
uns, e outros pagarão
aos Capitães
sua redizima, e os mais Direitos,
que lhe
pertencem; e aos meus Of-
ficiaes qualquer parte, que lhes
couber haver dos seus mantimen-
tos; porque
a mercê, que
lhes as-
sim faço
é somente de que fica
li-
vre para
Mim do dito Dizimo por
Me pertencer.
Notifico-vol-o as-
sim, e ao Provedor-mór de Mi-
nha Fazenda, ou Almoxarifado
faça fazer um titulo, em
que re-
giste as Pessoas,
que nestes ditos
dois annos lá forem
viver, e fize-
rem, ou mandarem fazer
Enge-
nhos novos, ou reformar, os que
dantes tinham com declaração,
dos que foram,
ou mandaram a
sua custa, e dos que
houveram a
dita embarcação, e mantimentos
para cada um
gozar da dita liber-
dade pela
maneira sobrédita por
este só Alvará, o qual,
ou o tras-
lado delle por
vós assignado, e
Sellado com o Sello de Minhas
Armas valerá durante o dito tem-
po, como se
fosse Carta em
fór-
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA IMIGRATÓRIA NO BRASIL 129
ma, posto que
não fosse passado
por minha Chancelíaria. Feito
em Almeirim a 20 de Julho de
Comentando, observamos que:
1) o Govêrno quer povoar;
2) De-
seja aproveitar economicamente a
região, pela
instalação de enge-
nhos e fazendas de açúcar; 3)
Pa-
ra cumprir seus objetivos, isento
da Dízima real —
vantagens de na-
tureza econômica —
os que
volun-
tariamente se constituíssem po-
voadores, por 5
anos, prazo
êsse
reduzido a 3
anos para
os ilhéos
que se hajam aproveitado das van-
tagens oferecidas pela
carta ante-
riormente transcrita, a Pero Anes
do Canto; 4)
Concede vantagens
especiais aos técnicos enumerados,
equiparando-os, para
efeito de
isenção de impostos, aos povoado-
res à custa própria,
embora se ha-
jam aproveitado das concessões
feitas aos ilhéos; 5)
Finalmente,
manda estabelecer um registro
dêsses imigrantes.
O equilíbrio econômico
da colônia
Torna-se necessário frisar, aqui,
especialmente os pontos
seguintes.
Preliminarmente, o objetivo de
tornar a colônia economicamente
aproveitável, rendosa, não mais
pela indústria extrativa apenas,
como a do páu
brasil, mas pela
fixação de colono ao solo pelo
trabalho agrícola, empregando os
incentivos usuais ainda hoje em
dia, de isenção tributária, com os
efeitos psicológicos
e materiais
daí decorrentes, sem, ao mesmo
tempo, prejudicar
excessivamente
as receitas indispensáveis à manu-
tenção do aparelho administrati-
vo —
só a dízima era suprimida.
Em segundo lugar, o paralelo
perfeito que ainda
pode ser esta-
belecido —
passados 4 séculos I en-
tre as políticas
relativas à intro-
dução de técnicos. As mudan-
ças são, apenas, de
grau entre
aquela época e a atualidade; a
idéia fundamental é a mesma.
Hoje, graças
ao vertiginoso pro-
gresso da técnica, iniciado
pela
revolução industrial e que,
nos
seis múltiplos aspectos, é o cara-
cterístico mais marcante da éra
em que
vivemos, a da máquina,
favorecemos especialistas de ou-
tra natureza —
mas esta é a úni-
ca diferença. Então, o Brasil, pre-
cisava construir habitações e na-
vios, defender-se; hoje, carece de
industrializar-se ao máximo, na
variedade infindável dos sectores
que a complexidade da civilização
atual criou. Nada mais. Na
legislação atualmente vigente,
procura-se até atrair e facili-
tar a vinda, além dos agricultores,
aos técnicos de indústrias rurais,
que gozar de
preferência de
quo-
ta como aquêles (Dec.
lei n. 406,
de 4
de Maio de 1938, art. 16;
Dec. 3.010,
de 20 de Agosto de
1938, arts. 10, 222, passim.).
Por fim, a criação de uma de-
terminada modalidade de registro
para os imigrantes. Embora vi-
sando apenas objetivos fiscais, é,
em germe,
a organização hoje de-
sabrochada, do Serviço de Regis-
tro de Estrangeiros, um dos pon-
tos capitais da legislação atual
(Dec. lei
406, citado, capítulo VI,
e dec. 3.010,
arts. 130 a 164), que
o nosso país
foi o^ primeiro
a in-
troduzir no Continente America-
no e que
outras nações se apres-
saram a imitar.
130 CULTURA POLÍTICA
Ampla publicidade
do
primitivo alvará
E' conveniente salientar que
o
alvará referido foi prorrogado por
mais tres anos, conforme provi-
são real de 22 de Junho
de 1554,
determinado o rei, agora a D.
Duarte da Costa, que
enviasse o
traslado do primitivo
alvará a tô-
das as Capitanias e PovoaçÕes da
costa do Brasil, para
dar-lhe a
mais ampla publicidade (Does.
Hist., XXXV. pp. 336
e 337).
Infelizmente, não sabemos qual
o resultado prático, quantitativo,
da aplicação de tão sábias dire-
trizes.
Preocupemo-nos, pois,
com ou-
tro aspecto do problema, já que
os documentos disponíveis não
nos permitem perquirir
mais mi-
nuciosamente êste ponto.
Do-
cumento bastante posterior,
data-
do de 12 de Junho
de 1555. per*
mite-nos apenas verificar que
con-
tinuava a política
a favorecer a
imigração de ilhéus, possivelmen-
te nas mesmas condições anterio-
res, conforme se conclue do se-
guinte trecho da carta de Simão
da Gama de Andrade ao Rei, e
que se encontra
publicada na
pag.
380 do
3.0 vol. da História da Co-
lonização Portuguesa no Brasil:
"Senhor —
Da ylha
de São Mi-
guell hesprevi ha vosa Alteza tu-
do ho que
hatelli me tinha ço-
cedido e asi esprevi ao comde e
mandey ha certidão de Manoell
da Camara da gemte que
da ylha
trouve, como V. A. me mandava
no regimento que
me deu e o mes-
mo faço
haguora que
mando húa
certidão do governador
e outra
de Manuell da Camara de toda
ha gente
com que
haqui cheguey,
hasy de llixboa como das ylhas
peíla quall poderá ver
que não
foy ho numero tanto como
pare-
cia que
nas ylhas
se poderiam
achar, ha rezão porque
senão
quisseram então enbarquar foy
por ha terra hestar muito habas-
tada de todos mantimentos pryn-
cipallmente pão que
vallia a
trynta reaes ho allqueire".
Solicitada a vinda de
mulheres brancas
Já tivemos ensejo de ver como
Nobrega, em suas cartas, não se
cansava de solicitar a vinda de
mulheres brancas para
o Brasil
(Cartas, pag. 79-80, 109, 111, 126,
132), no que
era secundado pelo
Pe. Francisco Pires, em sua carta
de 1552 para
os Irmãos de Portu-
gal (Cartas Avulsas, XIV,
pag.
128). Também, sabemos que,
com
intuito de fixar definitivamente
ao solo os imigrantes como colo-
nos, os jesuítas
insistiram pela
vinda de pessoas
casadas (Nóbre-
ga, Cartas do Brasil,
p. 85, e
João
de Aspilcueta Navarro, Cartas
Avulsas, 1, p. 53).
Êste último,
em 28 de Março de 1550, assim
se exprime
"...
e muito mais se
ajudariam si dahi viessem homens
de bem casados para
habitarem
esta terra". Desta mesma opi-
nião, aliás expressa com muita
clareza e vigor, é o Provedor-mor
Antônio Cardoso de Barros, que
em carta a El-Rei, aos 30
de Abril
de 1551, referindo-se provável-
mente à cidade do Salvador, es-
creve:
"...
muy vazia asy de ca-
sas como de jemte posto que
cada
dia se não fazemdo
a jemte que-
rera deus que
venha pera que
va
em crecimento e lembro a vossa
alteza que
aproveito ca mais hu
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA IMIGRATÓRIA NO BRASIL 131
ornem casado que
dez solteiros por
que os solteiros nam
precurã se-
não como se am dir e os casados
como amde nobreser a terra e sos-
tentala". (Anais
da Biblioteca
Nacional, vol. LVII, p.
19).
A família
como elemen-
to de fixação
Nunca será demasiado salientar
que, como elemento de fixação, a
família é insubstituível quando
se
trata de colonizar, sendo por
êsse
motivo exigida, nas mais moder-
nas legislações, sua vinda, como
se poderá
verificar, para
não citar
senão a lei brasileira, no §
i.° do
art. 61 do Dec. 3.010,
de 20 de
Agosto de 1938.
Em 1551 chega ao Brasil a ar-
mada sob o comando de Antônio
de Oliveira, a qual,
segundo Frei
Antônio San Roman, História Ge-
neral, Valladolid 1603, pag.
694,
citado por
Serafim Leite, História
da Companhia de Jesus no Bra-
sil I, 174, nota 3,
trouxe gado,
sementes, e muitas mercadorias.
Gabriel Soares, no seu Tratado
Descriptivo do Brasil èm 15^7»
pag. 105, a ela se refere, afir-
mando que
nela vieram
"... ou-
tros moradores casados e alguns
forçados, em a
qual mandou a
Rainha D. Catharina. . . algu-
mas donzelas de nobre geração,
das que
mandam criar e recolher
no mosteiro das orphãs, as quaes
encommendou muito ao governa-
dor por
suas cartas, para que
as
casasse com pessoas principaes
da-
quelle tempo; a
quem mandava
dar em dote de casamento os offi-
cios de governo
da fazenda
e jus-
tiça, com o que
a cidade se foi
des-
envolvendo".
Parece laborar em erro o ilus-
tre observador do Brasil quinhen-
tista. Com efeito, a pag.
104, dá
a vinda do i.° bispo em 1550,
quando aquêle só chegou aqui a
22 de Junho
de 1552 (Nóbrega,
Cartas do Brasil, X, pag.
128), de
modo que,
como uma data depen-
de da outra pela
redação que
lhe
dá, as órfãs citadas só teriam aqui
aportado em 1553, o que
deve ser
a realidade, pois
antes desta data
não se encontra a menor referên-
cia às mesmas nos Documentos
Históricos da Biblioteca Nacio-
nal, vols. XIV, pg. 361,
e XXXV,
pag. 384.
A nosso ver trata-se de uma
confusão cuja explicação deve ser
razoável —
vinda, por
várias vê-
zes, das armadas reais, trazendo
elementos de civilização material,
e talvez haver sido Antônio de
Oliveira o comandante da própria
flotilha que
trouxe D. Duarte da
Costa, o que
não pudemos
apu-
rar.
Antes da vinda do 2.0 governa-
dor chegaram ao Brasil órfãos,
meninos, para
serem educados nos
colégios dos jesuítas;
órfãs, po-
rém, com o intuito de servirem
de elementos colonizadores, pelo
casamento aqui, só a partir
de Ju-
lho de 1553. Com a documenta-
ção de
que disponho, esta afir-
mativa é formal, pois
não se com-
preende que nos mandados de
pa-
gamento que cobrem todo o
pe-
ríodo em questão,
consignando
todas as despesas determinadas
pelo governador Tomé de Sou-
za —
ou pelo
Provedor Mór An-
tônio Cardoso de Barros, não se
encontre um único em benefício
das órfãs, antes do grupo
das 9
que vieram com D. Duarte
(Cf.
Documentos Históricos, vol XIV,
p. 361).
132 CULTURA. POLÍTICA
A política
das órfãs
Julgo de interêsse fornecer aqui
os motivos da política
de vinda
das órfãs. Quem
nô-la dá é, com
sua costumeira clareza, Pedro de
Azevedo na História da Coloniza-
ção Portuguesa no Brasil,
3, pp.
341-342 nos seguintes termos:
"No
século XVI, as guerras
ou
expedições ultramarinas rouba-
vam ao reino um número consi-
derável de homens válidos, que
por lá morriam ou desapareciam,
deixando na metrópole ao aban-
dono os filhos,
e por
outro lado o
estado sanitário na capital do
reino era deplorável e por
isso
as epidemias ceifavam todos os
anos adultos, como se pode
veri-
ficar nos registros
paroquiais dês-
se tempo, ainda existentes. Den-
tro do Castelo de Lisboa estabe-
leceu-se um recolhimento de ór-
fãs, onde estas eram educadas e
recebiam um dote para
se casa-
rem". Das 9, que
constituíram a
primeira leva, só conhecemos o
nome de duas através dos Do-
cumentos Históricos: Clemência
Dória. casada com Fernão Vaz da
Costa (vol.
XXXVI, pp.
XIII e
152) e Jeronima
de Gois, casada
com João
Velho Galvão (vol.
XXXV, p. 383).
Sabe-se ainda
que vieram a cargo de uma ma-
trona, que pereceu
no naufrágio
do bispo D. Pero Fernandes, por
uma referência feita à
"velha
que
veo com has orffans" na carta em
que os oficiais da Câmara do Sal-
vador, em 18 de Dezembro de
1556, noticiaram ao rei o trágico
destino do bispo (História
da Co-
lonização Portuguesa no Brasil,
3, p. 381). Seria Maria Dias,
creada das órfãs, a quem
foi en-
tregue o mantimento das mesmas
"duzentos réis
para cada uma,
pa-
ra peixe
e miudezas" (Does.
Hist.
XIV, p. 361),
ou pertencia
êste
nome a
"hua moça orfã criada das
orfans que
vieram em minha com-
panhia", a
que se refere D. Duar-
te da Costa na carta que
escreve
ao monarca em 3
de Abril de
l553< pedindo
a graça
do degre-
dado Sebastião D'elvas que
com
ela se casou, a seu pedido, quan-
do asilado no colégio dos jesuí-
tas, para
evitar que
fosse açoitado
e desorelhado por
crime de furto
(Hist. Col. Port. no Brasil,
3,
p. 371)? E' êste mais um dos
pe-
quenos e irritantes mistérios de
nossa história.
Além das órfãs, as poucas
mu-
lheres brancas que
aqui existiam
eram as esposas de funcionários,
como por
exemplo D. Beatriz,
casada com Duarte Coelho, em
Pernambuco, as de alguns portu-
gueses casados
que as mandaram
buscar ao reino (Nóbrega,
Cartas
do Brasil, p.
120:
"Há cá muita
somma de casados em Portugal
que vivem cá em
grandes pecca-
dos; a uns fazemos
ir, outros
mandam buscar suas mulheres"),
e, finalmente, cêrca de 30
espa-
nholas que
naufragaram ao sul de
S. Vicente, a cujo respeito Tomé
de Souza nos dá a seguinte notí-
cia, em carta dirigida ao rei em 1
de Junho
de 1553, publicada
a
pp. 364
— 6, vol.
3, da Hist.
Col. Port. no Brasil:
"De Cas-
tella partiu
hua armada com 300
pessoas pouquo mais ou menos
per a o rio da Prata, a
quoall par-
te delia na Ilha do Príncipe na
Costa da Guiné e parte
na costa
entre ho Rio da Prata e São Vi-
cente 60 lleguoas delle honde se
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA IMIGRATÓRIA NO BRASIL 133
chama o Rio dos Patos se perdeo
casy toda e se salivarão soomente
6o pessoas
casy a metade molheres
honde entrava a molher do gover-
nador que
tão bem falleceo que
se chamava Fernando de Saraiva
e suas filhas e
parentes em
que
erão nove ou dez molheres fidall-
gas afora outras, os
yndios como
virom que
era gente que
se pa-
recia com nosquo e dizerem lhe
que erão
yrmão nossos nam lhes
fizeram mall allgum antes muy-
to guasalho,
como se vyão asy per-
didos veyo hum capitam daquella
companha que
se chamava Johão
do Sollazar que foy
criado do du-
qne d'Aveiro a
quem fez deitar o
abito de Santiguo ê chegando es-
te homem a São Vicente cheguei
eu e me pedio que
mandase bus•
car aquelles homens e molheres
que estavão ally
perdidos pareceu
me serviço de Deus e de V. A.
mandallos buscar em hum navyo
he trazellos a São Vicente para-
cendo me que
as molheres virão
tão em fadadas
dos trabalhos que
pasarão que casarão ahy com
quem lhes der de comer e os ho-
mens que farão
cada hum sua
roça. E parti
com elles desa po-
breza minha que
llevava e nom
foy tam pouco que
nom fose
mais
do que
eu tinha do meu de trinta
he cinquo anos".
Epílogo triste
A história subsequente dessas
desafortunadas é interessante, se
bem que,
como geralmente
ocorre
a tôdas as aventuras da vida real,
tenha um epílogo triste, ou pelo
menos muito prosáico.
Em 10 de
Abril de 1556, D. Duarte da Cos-
ta promulga
uma ordem real re-
ferente às mesmas, sendo êsse,
aliás, o último documento de que
tenho ciência em relação às náu-
fragas, que
depois disso não mais
deixam vestígios.
Diz o texto em questão, publi-
cado nos Does. Hist., vol. XXXV,
pp. 344-5
"...
Faço saber que
eu
mandei no anno de 1553 ao Dou-
tor Per o Borges do Desembargo
do dito Senhor, e Provedor-mor
de sua Fazenda, e seu Ouvidor Ge-
ral com alçada nestas Partes á Ca-
pitania de São Vicente, e lhe man-
dei que
da Fazenda de Sua Alte-
za desse a umas mulheres Caste-
lhanas Fidalgas, que
Thomé de
Souza ahi mandara vir do Porto
dos Patos cem cruzados, e assim
algum panno,
e resgate ao Capi-
tão Salazar, e escrevi a Sua Al-
teza coom fizera
isto por
me pa-
recer seu Serviço, porque
o dito
Thomé de Souza lhe mandara
dar outros cem cruzados da Fa-
zenda do dito Senhor quando
as
mandara ir á dita Capitania, e
Sua Alteza me respondeu em uma
Carta assim, e no Cabo do Capi-
tulo diz o seguinte: E porque
não
hei por
Meu serviço disperder-se
mais de Minha Fazenda cousa al-
guma com as ditas mulheres, lhe
não mandareis dar mais nada à
custa delia, e porém
Ordenareis,
que se lhe
faça em tudo todo bom
tratamento".
Flagrante das condições
prevalecentes
Não era para
estranhar que
sò-
mente viessem voluntariamente
para o Brasil mulheres em
pe-
queno número e
que não fossem,
precisamente, de
qualidade, a
menos que
se tratasse de casos es-
peciais como os
já citados, e isto
134 CULTURA POLÍTICA
porque as condições de terra não
eram exatamente as que
se pudes-
sem denominar de confortáveis,
mesmo para
aquela época. A
respeito, existe um contexto ver-
dadeiramente edificante, como se
fora uma fotografia instantânea
das condições que
aqui prevale-
ciam. Trata-se da carta escrita da
Baía em 13 de Julho
de 1551, e
publicada a
pp. 24-28 do vol.
LVII dos Anais da Biblioteca Na-
cional, por
Luiz Dias, mestre das
obras da fortaleza e cidade do
Salvador desde Janeiro
de 1549,
a Miguel de Arruda, em Lisboa,
na qual,
depois de contar que
"eu
qua pude apanhar emprestado
ajmda por que
dei Rey do soldo
diguo hü so cyltill me deraão nem
paguarão nem ai de
quem mo
pa-
guar por o
que vem do reino he
fero velho como ho
que se vemde
na feira
em Lisboa e com histo se
pagua a
pobre gemte que qua tra-
balha que
os Rimdimentos do
brazil com que qua
nos mãoda-
vão he tudo burlaria por que
não
hai ahi com que
se pague
mejo
ordenado dum destes senhores",
relata que
as casas são de taipa-
ria, de parede
de mão, de barro e
feno, mostra as condições de tra-
balho e as promessas
enganosas"
"pareçiame
a mim que
se lhe a
vosa ?7i. quitaçe
e lhe paguaçem
o te7upo que qua
tem servido po-
lo virem ser vir tam lomge e os
emguanarem com tais paguamen-
tos j
e que
aviam de dar de co-
mer e damlhe hü pouquo
de fa-
rinha de pao
com hu pouquo
de
vinagre e azeite e sem houtra car-
nee nem pexe
e jsto
Asim 7ne va-
lha a verdade com he verdade//",
e implora "pelas
simquo chaguas
de Jesu christo que...
me quei-
rais tirar de qua pois foi
sua vom-
tade que
eu viese qua",
dizendo
ainda
"e
düa maneira ou doutra
folguari aque v. m. me mãodace
hir por
amor de noso senhor por-
que lhe sertefiquo
que se
qua
morer que
hei de hir dereito ao
imforne e mais lhe diguo senhor
que não se
pode la dizer tamto
que mais não
pacemos qua de
fo-
me e trabalho emquãoto esta ba-
hia não tiver sem moradores em
que emtrem cimquoemta de ca-
valo nunqua deles farão
bons nem
comerão bom bocado / / porque
teras de criação de todolas cou-
zas deste mundo não na hai em
toda a tera como hesta mes (sic)
ho gemtio
dela he demonios//".
Finalisa sua jeremiada
informan-
do que
os "omens
todolos outros
não comem senão farinha e hü
pouquo de azeeite eu da
pasqua
pera qua não tenho
pam de
por-
tuguall nem vinho/". Como se
vê, a vida da Cidade do Salvador
não era sedutora em meiados do
século XVI...
Imensa a obra de
Tomé de Souza
Seja como for, a obra de Tomé
de Souza no setor da atividade que
nos interessa é imensa. Posterior-
mente, tres lustros após sua saída
do poder,
Gandavo lhe faz jus-
tiça, ao afirmar, referindo-se à
Capitania da Baía: "O
primeiro
Capitão que
a conquistou, e que
a começou de povoar, foi
Fran-
cisco Pereira Coutinho: ao qual
desbaratarão os índios com a for-
ça de muita
guerra que lhe
fize-
rão a cujo impeto nam pode
re-
sistir, pela
multidão dos inimigos
que entam se conjurarão
por to-
das aquellas partes
contra os Por-
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA IMIGRATÓRIA NO BRASIL 135
tuguezes. Depois disto tornou a
ser restituida, e outra vez povoa-
da por
Thomé de Souza o pri-
meiro governador geral que foi
a
estas partes.
E daqui por
deante
forão sempre os moradores multi-
plicando com muito acrecenta-
mento de suas fazendas". (His-
toria, p.
88) .
A influência de Tome
de Souza
A influência de Tomé de Sou-
za, porém,
ainda se faz sentir de-
pois de sua
partida para o reino.
E' assim que, já
na corte, influe
para a vinda ao Brasil de uma
grande expedição colonizadora,
que deveria fixar-se no norte do
país. Efetivamente a armada, no
dizer de Gabriel Soares de Sou-
za e de Frei Vicente do Salvador,
constava de tres naus e duas cara-
velas (Varnhagen
I, p. 330
e I, p.
341), e vinha sob o comando de
Luiz de Melo, conduzindo, além
de 300
infantes e 50
cavalarianos,
grande número de mulheres e fa-
mílias.
As referências mais interessan-
tes são, a respeito dessa imigra-
ção, infelizmente malograda,
pois
naufragou nos baixios da costa,
salvando-se poucas pessoas,
as que
se encontram nos abundantes co-
mentários de Capistrano de Abreu
e Rodolfo Garcia que
constituem
a nota VI, pp. 339-42,
à secção
XVI do i.° vol. de Varnhagen,
Hist. Ger. do Bras.
Transcrevo, aqui, apenas duas
cartas, que
esclarecem perfeita-
mente o assunto.
"Em
carta sem data, extractada
numa do Príncipe, de 13 de Ju-
nho de 1554, Luís Sarmiento es-
creve: "cerca
de la armada que
el
Serenisimo Rey avia enbiado al
brasil con un capitan que
se dizia
antonio delorero con muchos ca-
sados para poblar
en la costa dei-
la y
la que postreramente
estaba
para partir de
que es capitan luis
de melo en ciertos navios que
avia armado, en que
llevaba mas
de trezientos honbres los cincuen-
ta o sesenta de acaballo los qua-
les van todos a sus costas a des-
cubrir con licencia dei dicho Se-
renisimo Rey" —
Carta do Prin-
cipe, de Ponferrada, 13 de Junho
de 1554.
Carta de Joan de Samano, es-
cripta por
mandado do Príncipe,
de Valladolid, a 9
de Março de
1554, em resposta a outra de 5
de
Fevereiro: "He
visto lo que
dezis
cerca dei armada que
el Serenisi-
mo Rey enbia al brasil de que
va
por capitan antonio lourero,
y
que lleba mucha
gente y casados
con sus mujeres e hijos para po-
blar por
aquelas partes y
outra
gente para descubrir
y que se di-
ze alia en el brasil que
tiene mu-
cha gente por
aquela costa en lo
que tiene
poblado y que aveis
procurado por aver traslado dela
ynstruccion que lleban
y que no
abeis aliado horden de poder
la
aver,f.
O Príncipe, citado, é o filho de
Carlos V, o qual
dois anos depois
ascenderia ao trono de Espanha e
que a História conhece como Fe-
lipe II. Pelas suas qualidades
de
estadista, que
nunca lhe poderão
ser negadas, sejam quais
forem os
sentimentos que
lhe dediquemos,
o Imperador confiou-lhe a regên-
cia de Espanha desde 1543, quan-
do completou dezesseis anos; por
conseguinte, desde aquela época,
intervinha na política geral,
como
136CULTURA POLÍTICA
bem o salientou Rafael Altamira
no ensaio sôbre Felipe II que
constitue o 6.° capítulo do II vol.
da Coleção "Hommes
d'État", Pa-
ris *937> publicada
sob a direção
de A. B. Duff e F. Galy (pp.
521, 539).
O povoamento do
Brasil
Tratamos, até agora, do povoa-
mento do Brasil, referindo-nos
especialmente à Baía,
pois a Ci-
dade do Salvador, como capital,
era o centro político-administrati-
vo mais importante, onde se
po-
deria, por
conseguinte, medir
mais facilmente os efeitos da po-
litica imigratória, objeto de nos-
so estudo.
Entretanto,
já Pedro de Azeve-
do, em seu feliz comentário à p.
335 do vol. III da Hist. Col.
Port. Bras., evidencia com clare-
za a verdadeira situação do Go-
vêrno Geral: "Como
vemos pela
carta de nomeação de Thomé de
Souza, este foi encarregado
da ca-
pitania da Bahia e de governa-
dor geral de tôdas as outras, não
sendo, portanto, extinto
por com-
pleto o sistema das donatarias,
ha-
vendo só a mais uma entidade in-
termédia entre o soberano e os
capitães".
E, pois, justo que
lancemos
uma breve olhadela pelas
outras
capitanias, onde, embora lenta-
mente, começavam a repontar os
frutos da sábia política de fa-
vorecer o povoamento.
A profícua administração
de Duarte Coelho
Assim, em Pernambuco, conti-
nuavam a prosperidade e o
pro-
gresso devidos à boa administra-
ção do seu donatário, Duarte Coe-
lho, que,
no dizer de Oliveira
Lima na "A
Nova Lusitânia", cap.
VII do 3.0
vol. da Hist. Col.
Port. no Brasil, p.
284, "tomára
a precaução de trazer consigo ca-
patazes proficientes, já adestrados
na Madeira e em São Tomé, e
obreiros industriosos,
pela mór
parte judeus, que eram o melhor
elemento econômico do tempo e
que lucravam com
fugir à fúria
religiosa que grassava na Penín-
sula". Também, com êle, foi fei-
ta a primeira
tentativa da intro-
dução, no pais,
de donzelas, como
a D. Isabel de Fróes que, para
aqui casar-se e com recomenda-
ção da rainha, acompanhou
a es-
posa do donatário à sua capita-
nia, (Ibid,, pg.
288). Infelizmen-
te, depois de sua morte, ocorrida
provavelmente em Agosto de
*554» (Varnhagen, I,
p. 372, nota
VIII), a capitania começou a de-
clinar pela
falta de capacidade ad-
ministrativa de seus herdeiros.
E' conveniente abrir aqui um
ligeiro parêntesis. Como
já ti-
vemos ensejo de salientar em ar-
tigo anterior, a época dos primei-
ros povoadores e donatários coin-
cidiu com, e seguiu-se logo após,
a perseguição dos
judeus de Por-
tugal e sua conseqüente expul-
são. Daí a sua vinda para
o Bra-
sil, no século XVI, em apreciável
quantidade, especialmente
para
Pernambuco. Sôbre êste
proble-
ma, aliás, teem sido publicados
vários estudos, conforme se pode-
rá ver na bibliografia que
indica-
mos. >1
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA IMIGRATÓRIA NO BRASIL 137
Freqüentemente visitado
por navios do Reino
Além dos fatos apontados exis-
tem, porém,
razões pelo
menos
tão ponderáveis quanto
as citadas
para explicar o florescimento de
Pernambuco. Entre outras, en-
contramos em Gandavo a obser-
vação, a nosso ver, decisiva:
"E a
causa principal
de ella hir sem-
pre tanto avante no crecimento
da gente, foi por
residir continua-
mente nelle o mesmo Capitão que
a conquistou, e ser mais frequen-
tada de navios deste Reino por
estar mais perto
delle que
cada
huma das outras. . (Historia,
p. 87).
Já anteriormente, o espírito
lúcido de Tomé de Souza se
apercebera da imprescindibilida-
de da ação constante e da presen-
ça dos donatários à testa de suas
respectivas capitanias, pois,
con-
forme se verifica da carta que
es-
creve a el-Rei em i.° de Junho
de 1553, publicada
a pp. 364-6,
da Hist. Col. Port. no Brasil, 3.0
vol., afirma, na pitoresca
lingua-
gem da época, e empregando lo-
cuções então correntes, mas que
hoje seriam tidas pelo
menos co-
mo inadequadas:
"It. Como dise
a V. A . não farey
senão as lem~
branças muito necessarias sem as
quais esta terra se não
poderá
sustentar senão se hum homem
pode viver sem cabeça. V. A.
deve mandar que
os capitães pro-
prios residão em suas capitanias
e quando
isto não por
allgúns
justos respeitos
ponhão pesoas de
que V. A. seya contente
porque
os que
aguora servem de capitais
não os conhece a may que
os
pario. . .".
A capitania de Ilhéus
A capitania de Iheus, como ve-
mos em Gandavo, História, pp.
88-9, foi doada a
"Jorge
de Fi-
gueiredo Corrêa, Fidalgo da Ca-
sa de El Rey nosso Senhor: e por
seu mandado a foy povoar
hum
João Dalmeida, o qual
edificou
sua povoaçam
trinta legoas da
Bahia de Todos os Santose
Nóbrega, Cartas do Brasil VII, p.
107, escreve que
em
"Porto Se-
guro e em Ilhéos encontrei uma
certa gente que
é casta de Topi-
nichins, entre os quais
existem
muitos dos nossos... Como es-
ta carta é de 6 de Janeiro
de
1550, verificamos que, já
nessa
data, estava em vias de ser feito
o povoamento
naquela região.
As primeiras
tentativas
da colonização do
hinterland
Anteriormente, tive oportuni-
dade de referir-me a uma carta
dirigida ao soberano em 12 de
Maio de 1548 por
Luiz de Gois.
Dêsse documento, publicado
na
íntegra em Hist. Col. Port. no
Bras. 3.0, p.
259, conclue-se que,
naquela época, a situação da ca-
pitania de São Vicente, no tocan-
te à população,
era esta:
"... soo
nesta capitania entre homens e
molheres e mininos e mais de
seiscentas almas (cristãs)
e de es-
cravaria mais de tres mil. ..
Em 25 de Janeiro
de 1554, nos
campos de Piratininga, registra-se
a fundação da futura cidade de
São Paulo, que
se desenvolveu em
tôrno do Colégio de jesuítas
cria-
do por
Nóbrega, perto
do vale
do Anhangabaú, embora Serafim
Leite preferia
a data de 30
de
138 CULTURA POLÍTICA
Agosto de 1553. (Hist.
Comp.
Jesus no Brasil, I, pp.
270-1).
Essa é uma das primeiras
tenta-
tivas de colonização de hinterland
brasileiro. Houve outras, porém,
geralmente com o caráter de ex-
pedições de descoberta, como
por
exemplo aquela de Martim Car-
valho que,
segundo Gandavo,
Tratado, p. 59,
entrou
"pela
ter-
ra algumas duzentas e vinte le-
goas", partindo de Porto Seguro,
o que
representa, indubitavelmen-
te, um feito importante. Deixe-
mos, porém, para
mais tarde o
estudo das entradas.
Na carta de Tomé de Souza,
acima citada, assevera o Governa-
dor que
"O Espirito Santo he a
melhor capitania e mais abastada
que ha nesta costa mas está tam
perdida como o capitão delia
que Vasco Fernandez Couti
-
nho..". Aliás, êsse infeliz donatá-
rio tem, em sua vida, um episódio
para nós tão incompreensível
que
não posso
furtar-me a ligeira di-
gressão, a
qual espero me será
perdoada pelo estranho sabor
que possue.
O desenvolvimento do
hábito de fumar
Quando, pouco depois da des-
coberta da América, foi introdu-
zido na Europa o hábito de fu-
mar, aprendido pelos
marinheiros
de Colombo, ninguém poderia
supor o extraordinário desenvol-
vimento que
iria ter, no mundo,
o mais inocente dos vícios moder-
nos. Talvez o destino, com a sua
habitual ironia, haja querido
fa-
zer justiça poética,
avassalando
definitivamente os conquistado-
res do Novo Mundo pela
sujeição
a um elemento cultural das raças
cujas civilizações destruíram, im-
placavelmente, na sua ilimitada
cobiça de ouro e na estupidez de
seu estreito fanatismo religioso.
Sabemos, hoje em dia, que
de
nada adiantaram as medidas re-
pressivas empregadas contra os
fumantes pelos potentados
de
todo o mundo —
nem a ameaça
de pena
capital, executada na In-
glaterra por ordem do rei
Jaime I,
embora por
outros motivos, em
Sir Walter Raleigh, que passa por
haver sido o introdutor do ca-
chimbo naquêle país,
apesar de
haver aprendido o seu uso pelo
i.° Governador da Virgínia Ralph
Lane, que
o presenteara
com um
em 1586; nem o castigo de abla-
ção dos lábios dos
que fumavam
e do nariz dos tomadores de rapé,
infligido por
Abbas I, chá da Pér-
sia, ou a pena
de morte decreta-
da por
Miguel Fedorovich, czar
da Rússia, nem finalmente a ex-
comunhão com que,
em 1624, 0
Papa Urbano VIII fulminou to-
dos os fumantes. Como sóe acon-
tecer, o vício venceu.
Considerado como
crime
Mas, na época que
estamos ana-
lisando, fumar era considerado
prática nefanda, infame. E o
po-
bre donatário da capitania do Es-
pírito Santo,
que o havia contraí-
do, sofreu, como vários outros, as
conseqüências dêste seu costume,
pela intolerância do i.° bispo, D.
Pero Fernandes, conforme se vê
do seguinte trecho de carta que,
em 20 de Maio de 1555, foi en-
viada ao rei por
D. Duarte da
Costa (Hist.
Col. Fort. no Bras.
3, p. 375):
"Vasco
Fernandes Cou~
tinho chegou aqui velho pobre
e
I
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA IMIGRATÓRIA NO BRASIL 139
cansado, bem injuriado do bis-
po, porque em Pernambuco lhe
tolheo cadeira despaldar na igre-
ja e apregoou
por escomungado
de mistura com homens baixos
por beber
fumo segundo mo êle
dise, eu o agasalhei em minha
casa e com minha Fazenda lhe so-
corri a sua pobreza pera
se poder
ir pera
o Espirito Santo e o bis-
po o agasalhou com dizer no
púl-
pito cousas delle tam descorteses
estando elle presente que
o puse-
ram em condigam de se perder
do que
eu o desviei e hei vergo-
nha de decrarar o que
lhe disse e
por lhe defender a elle o
fumo
sem o qual
nam tem vida segun-
do elle diz o defendeu nesta ei-
dade com excomunhões e gran-
des penas
dizendo que
era rito
gentilico sendo hüa mezinha
que
nesta terra sarava os homens e as
alimarias de muitas doenças e que
parece que nom devia de defen-
der e por
se achar que
hum po-
bre homem o bebia o mandou
pôr nu da cinta
pera cima na See
hum domingo á missa com os fu-
mos no pescoço
e condenou a ou-
tro na mesma pena
o qual
de
vergonha de a cumprir fugio pe-
ra os gemtios
tutiapara e o mata-
ram la e o bispo foi
causa desta
morte e da guerra que pode
su-
ceder do troco que
hei de tomar
como tiver tempo e certa infor-
maçam da maneira de sua morte".
Felizmente, os tempos muda-
ram...
BIBLIOGRAFIA
ABRO, A. d' — "The
Decline of Mechanism (in modern Physicos") — Cap. VII,
pp. 45-57; New York, D. Van Nostrand Company Inc., 1939.
ALTAMIRA, RAFAEL —
"Philippe II d'Espagne",
"in" Hommes d'État, vol. II,
sob a direção de A. B. Duff e F. Galy, ed. Desclée de Brouwer, Paris, 1937.
ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL — Vol. LVII, 1935 - Rio de
Janeiro, 1939.
AZEVEDO, J.
LÜCIO D' — "História
dos Cristãos Novos Portugueses", Livraria
Clássica Editora, Lisboa, 1922.
CARTAS JESUÍTICAS —
"Cartas Avulsas": 1550-1568
— Publicação da Academia
Brasileira, II — História. Cartas jesuíticas
II, Rio de Janeiro,
1931.
DOCUMENTOS HISTÓRICOS DA BIBLIOTECA NACIONAL — Vols. XXV,
XXXVI — Rio de
Janeiro, 1937.
GANDAVO, PERO DE MAGALHÃES —
"Tratado da Terra do Brasil" e
"Histó-
ria da Província de Santa Cruz", Clássicos Brasileiros, ed. do Anuário do
Brasil, Rio de Janeiro,
1924.
GOODMAN, PAUL —
"História do Povo de Israel", Est. Gráf. Vilas Boas &: Co.,
Rio de Janeiro,
1929.
HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NO BRASIL - Vol.
3.
KASNER, EDWARDS; e NEWMAN, JAMES —
"Mathematics and the Imagination",
ed. Simon and Schuster, New York, 1940, Capítulos II e VI, especialmente
nota 12, pp.
221-22.
LEITE, SERAFIM-S. J. —
"História da Companhia de
Jesús no Brasil", 2 vols.
Lisboa, 1938.
LEITE FILHO, SOLIDONIO —
"Os
judeus no Brasil", ed.
J. Leite 8c Cia., Rio
de Janeiro,
1923.
NÓBREGA, MANOEL DA —
"Cartas do Brasil 1549-1560". Publicação da Acade-
mia Brasileira, II — História, Cartas
jesuíticas I, Rio de Janeiro,
1931.
PEIXOTO, AFRÂNIO; — GRIECO, AGRIPINO; RAMOS, ARTUR; MORAIS
EVARISTO DE; FREIRE, GILBERTO; GARCIA, RODOLFO; ROQUE-
140 CULTURA POLÍTICA
TE-PINTO, EDGARD; LEITE FILHO, SOLIDONIO —
"Os
judeus na
História do Brasil" — ed. Uri Zwerling, Rio de
Janeiro, 1936.
RAIZMAN, ISAAC —
"História dos Israelitas no Brasil", ed. Buch-Presse, São
Paulo, 1937.
TARSIER, PEDRO —
"História das Perseguições Religiosas no Brasil", ed. Cultura
Moderna, 2 vols., S. Paulo, 1936.
VARNHAGEN, FRANCISCO ADOLFO DE, Visconde de Pôrto Seguro — "História
Geral do Brasil", Tomo I, 4-a ed., Cia. Melhoramentos de São Paulo.
São Paulo, s. d.
WÂTJEN, HERMANN —
"Das hollãndische Kolonialreich in Brasilien", ed. Frie
drich Andreas Perthes A.-G, Gotha, 1921.
Educação nacionalista
no Distrito Federal
NEUSA FEITAL
Professora em exercício no Departamento de Educação
Nacionalista da Prefeitura do Distrito Federal.
A obra de educação nacionalista que
o atual govêmo
vem realizando é
uma das tarefas mais importantes do renascimento político
brasileiro. Es-
pecializada nêsses
problemas, apresentamos a autora um documentário do
que é essa obra no Distrito Federal, tal como a vem sendo desenvolvida nos
planos realizadores da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal.
i —•
Conceito atual de
Educação
DESDE
as mais remotas épo-
cas, inúmeros pensadores
preocuparam-se em definir
Educação.
Na antigüidade, devemos a Só-
crates, a Platão e Aristóteles —
máximos esplendores do pensa-
mento grego
—
profundos e belís-
simos conceitos acerca de proble-
mas educacionais. As luzes, que
essas mentalidades privilegiadas
projetaram sobre a civilização he-
lênica, adquiriram com o decor-
rer dos tempos, cintilações cada
vez mais brilhantes. E os educa-
dores modernos não podem pres-
cindir dos sábios ensinamentos
que as tres das mais fulgurantes
expressões da filosofia grega
lega-
ram à posteridade.
Na Idade
Média, no Renascimento, na Éra
Moderna, nos dias contemporâ-
neos sempre houve quem
se de-
tivesse em formular doutrinas sô-
bre Educação.
Uma análise das teorias educa-
cionais nos diferentes períodos
da
História da Humanidade, seria
tarefa demasiado longa, sem ca-
bimento no estudo rápido a que
ora nos propomos.
Todos os grupos
humanos, des-
de as tribus trogloditas aos super-
civilizados homens das grandes
cidades hodiernas, possuíram
e
possuem idéias sobre Educação.
Ainda sem o saber, muitas vê-
zes, tal sucedia ao interessante
Mr. Jourdain
fazendo prosa...
Ao falarmos em conceito atual
de Educação, de certo modo da-
mos margem a que
se pense
em
alguma coisa que
se transformou.
142 CULTURA POLÍTICA
E realmente. Sobram-nos razões
para que assim nos expressemos.
O caráter essencialmente trans-
formador da civilização de nos-
sos dias, as incessantes e rápidas
mudanças que
se operam nas con-
dições atuais da vida, não pode-
riam deixar de atingir a Educa-
ção.
O antigo conceito de que
a
Educação era o processo pelo qual
a geração
adulta preparava
a in-
fância para
a vida futura, teve de
ser desprezado. Diante das rápidas
mudanças a que
todos assistimos,
seriam inevitáveis os fracassos que
poderiam advir de um tal
pro-
cesso.
À compreensão de que
a Edu-
cação e a Vida são coisas estreita-
mente correlatas é que
devemos
chamar de conceito atual de Edu-
cação.
"Educação é Vida, e viver, é
desenvolver-se, é crescer. Vida e
crescimento não estão subordina-
dos a nenhuma outra finalidade,
salvo mais vida e mais crescimen-
to", assim se expressa John
De-
wey.
Aos educadores de hoje cabe a
responsabilidade de preparar
os
educandos para
uma vida cada vez
mais ampla e mais feliz. No mo-
mento presente,
e nunca num fu-
turo longínquo e imprevisível. A
Educação deixou de ser ensaio,
treinamento, para
ser a própria
vida.
Dentro dêsse ponto
de vista,
abandonou-se a falsa concepção de
que sòmente
pais e
professores
educavam. Hoje ninguém con-
testará que
não unicamente a Fa-
mília e a Escola, mas o Parque
de Recreio, a Igreja, a Imprensa,
o Teatro, o Cinema, o Rádio, os
Clubes e tantas outras organiza-
ções que conhecemos, são fatores
que exercem influência sobre a
educação de um grupo
social. A
Família e a Escola, não negamos,
são os maiores responsáveis pela
Educação. A proporção que
a
vida moderna restringe as opor-
tunidades da primeira,
a tarefa da
Escola e das outras instituições
vai tomando maior vulto.
Uma vez definido o conceito
atual de Educação, em têrmos da
próprio vida,
passaremos a tra-
tar da
2 —
Educação nacionalista
Nas horas conturbadas que
vi-
vemos, vim exame, ainda que
su-
perficial, na vida
política dos
grandes povos faz-nos
pensar na
necessidade cada dia mais pre-
mente de cultivarmos nos indiví-
duos o amor à Pátria e a conciên-
cia da nacionalidade.
"Precisamos reagir em tempo
contra a indiferença pelos princí-
pios morais, contra os hábitos do
intelectualismo ocioso e parasitá-
rio, contra as tendências desagre-
gadoras, infiltradas
pelas mais
variadas formas nas inteligências
moças, responsáveis pelo
futuro
da Nação; precisamos
com a
maior urgência, dar sentido cia-
ro, diretrizes construtoras e re-
gras uniformes à
política educa-
cional, o mais poderoso
instru-
mento a utilizar no fortalecimen-
to de nossa estrutura moral e eco-
nômica", —
foram palavras
do
Presidente Vargas, por
ocasião da
cerimônia comemorativa do pri-
meiro centenário da fundação do
Colégio Pedro II, a 2 de Dezem-
bro de 1937. Pronunciadas há tres
\
EDUOAÇAO NACIONALISTA
anos, elas se tornam agora mui-
to mais veementes e expressivas.
A lição que podemos
colher do
terrível cataclisma europeu vem
mostrar-nos o quanto
é necessá-
rio reagir. Sim, porque
não bas-
ta agir.
Conciente das responsabilida-
des que pesam
sobre os seus om-
bros, todo educador precisa
ter
formado —
não com a rigidez de
um dogma, mas de maneira inte-
ligente e crítica —
um corpo de
doutrinas filosóficas. A matéria
prima com
que trabalha o educa-
dor é demasiado plástica para
que êle se aventure a modelá-la
sem idéias preconcebidas
e sem
alvos bem delimitados.
Quando inquirimos:
"Que
se
deseja fazer das crianças, educan-
do-as? Que
sentido deve ter a Edu-
cação?" estamos em pleno
domí-
nio da Filosofia.
"A
grande tarefa dos nossos
dias é preparar
o homem novo
para o mundo novo,
que a má-
quina e a ciência estão exigindo".
Necessitamos estudar com cui-
dado quais
os processos
educati-
vos mais adequados às nossas con-
dições sociais.
A Educação Nacionalista deve
ser compreendida como a cuida-
dosa preparação
do indivíduo no
sentido de tornar a Pátria mais
feliz, fazendo-a mais disciplinada
e mais forte.
Assim, entre nós esta educação
especializada — despertando na
alma brasileira o senso da Histó-
ria, o amor às tradições, o culto
dos grandes
nomes nacionais, a
cooperação de cada qual
na vida
coletiva do país
— em todos in-
cutirá clara noção das possibilida-
des espirituais e materiais do Bra-
NO DISTRITO FEDERAL 143
sil, e os meios de aumentá-las, no
interesse da amplidão dos seus
destinos.
Integrados na realidade brasi-
leira as gerações
atuais não se-
guirão os visionários e os céticos.
Nem aos que
enchem a boca com
as riquezas do Brasil, sem refletir
sõbre os meios de aproveitá-las.
Nem aos pessimistas que
espalham
aos quatro
ventos boatos derro-
tistas e notícias alarmantes.
A creação do Departamento de
Educação Nacionalista, na Secre-
taria Geral de Educação e Cultu-
ra do Distrito Federal, foi a afir-
mativa de que
se tornou necessá-
rio dar um novo e claro sentido
às diretrizes da nossa política
edu-
cacional.
Vejamos como se desenvolve
3 —
O plano
de realizações
no Distrito Federal
Creado pelo
Decreto 6.641, de
14 de Março de 1940, o Depar-
tamento de Educação Nacionalis-
ta vem pondo
em prática
um lou-
vável programa
de realizações.
Fazem parte
dês te órgão admi-
nistrativo os
Serviços de
Educação Cívica
Educação Musical e
Artística
Educação Física
Correspondência
O Departamento de Educação
Nacionalista propõe-se
a estender
sua ação educacional paralela-
mente à grande
obra socializado-
ra das escolas, quer
as que
estão
subordinadas diretamente aos go-
vêrnos municipal e federal, quer
as de iniciativa particular.
CULTURA. POLÍTICA
fundamental do monumento que de
brasileiras. .. ,
se construiri. Num future bem Atravds da
palavra predicadora
pr6ximo, pequeninas c&ulas do do professor,
de construtivas alo-
Departamento de Educa^o Na- cu^Ses de rAdio-conferencistas
e
cionalista integrar-se-So aos orga- de filmes educativos, desenvolver-
nismos vivos que
sSo as nossas fd- se-a um
patnotismo sad.o conci,
bricas, as oficinas, os clubes e de- zente com o lema
- conhecer o
• _ nua oct-oiim Brasil e ama-lo •
Isto representa, apenas, a pedia
tido para
a infância e a juventu-
fundamental do monumento que
se construirá. Num futuro bem
próximo, pequeninas células do
Departamento de Educação Na-
cionalista integrar-se-ão aos orga-
nismos vivos que
são as nossas fá-
bricas, as oficinas, os clubes e de-
mais agrupamentos que estejam a
requerer cuidados educacionais.
Sôbre todos exercerá uma açãoServiço de Educação
Fisica
bem definida, continuada e^ per-
sistente, o sentido da formação de São
atrjbuições deste Serviço:
brasileiros aptos a elevar o ra melhorar
as condições de saúde
sil ao plano
das grandes potências ^
educandos, ministrar conhe-
Serviço de Educação oportunidades de uma vida sadia,
Cívica. £ortalecendo os indivíduos atra-
vés de desportos e exercícios gi-
A êste setor do Departamento násticos, enfim desenvolvendo vi-
de Educação Nacionalista com- gorosas
mentalidades.
pete" disseminar noções relativas Q
preceito ^e
Juvenal
"mens
à história pátria,
desenvolvendo sana m corpore sano" é o objeti-
nas crianças e nos adolescentes vo
vjsa(jo pelo
Serviço de Educa-
culto das tradições nacionais. -písica. do Departamento de
conhecimento da vida dos gran- Educação Nacionalista. E não se
des homens servirá de estímulo limita aqui a tarefa educacional
ao aperfeiçoamento dos educan- desta organização. A certeza de
dos. Quantos
sentimentos de in- que o aproveitamento útil das
ferioridade, dêsses que
a doutrina horas de lazer é um dos recursos
do sábio de Viena denominou importantes da educação moder-
"complexos", serão libertados com na
veju prestigiar
a recreação di-
o conhecimento de fatos tais: rigida,
no processo
educacional
a precária
situação econômica de que vaj sendo
posto em
prática,
eminentes vultos históricos, a ori- qs parqUes Infantis e Centros de
gem modestíssima de outros e tu- Recreação
são núcleos educacio-
do mais que possa
servir de estí- najs em vitorioso funcionamento
mulo aos desalentados por
fato- entre nós.
res desta ordem.
Além disso, ao Serviço de Edu- Serviço de Educação Mu-
cação Cívica compete difundir se- sical e Artística
guras noções sôbre a realidade
brasileira. A grande
siderurgia, O desenvolvimento artístico co-
marcha para
Oéste, o combate as mo fator de engrandecimento da
endemias, as obras contra as sê- nacionalidade, é o alvo primor-
cas, não serão expressões sem sen- dial dêsse Serviço.
mundiais.cimentos científicos sôbre
ques-
tões de Higiene, proporcionar
EDUCAÇAO NACIONALISTA NO DISTRITO FEDERAL 145
O culto da Arte e o amor ao
Belo vão sendo conseguidos atra-
vés do ensino de canto orfeônico
e de música heróica e folclórica:
um material sonoro pleno
de bra-
silidade.
As realizações do Serviço de
Educação Musical e Artística teem
merecido palavras
de louvor díe
figuras de indiscutível projeção
nos meios políticos,
sociais, edu-
cacionais e artísticos.
As demonstrações de canto or-
feônico constituem índice de de-
senvolvimento do ensino de mú-
sica no Distrito Federal.
De outro lado, as exposições de
desenho e artes aplicadas, sobre-
tudo nas escolas secundárias e pro-
fissionais, são um atestado elo-
quente do
que estamos afirmando.
Os Serviços de Educação Musi-
cal e Artística e de Educação Cí-
vica teem objetivos de tal forma
aproximados, que
será difícil es-
tabelecer-se diferenças entre um e
outro relativamente à finalidade
que visam:
— educar.
Serviço de correspondência
E' o órgão administrativo do
Departamento de Educação Na-
cionalista.
Serviço de documentação, de
pesquisas e de ligação, irradia
suas atividades através de todo o
Departamento.
O Departamento de Educação
Nacionalista, cujo programa
de
ação vimos de expor, realiza sua
importante obra educacional por
meio dos Centros Cívicos.
4 —
Os centros cívicos
—- Função nacionalizadora.
— Objetivos educacionais.
A 27 de Junho
de 1940 foram
creados os seguintes Centros Cí-
vicos Distritais:
— Almirante Tamandaré,
na Ilha do Governador.
— Santos Dumont, no bair-
ro da Saúde.
— Duque de Caxias, no
bairro de Itapirú.
— Rui Barbosa, no
Jardim
Botânico.
— Tiradentes, em Copaca-
bana.
— José
Bonifácio, em São
Cristovão.
— Barão do Rio Branco, em
Vila Isabel.
— D. Pedro II, no Engenho
Novo.
— Marechal Deodoro, no
Engenho de Dentro.
10 — Francisco Manuel, em
Madureira.
11 — Marechal Floriano, na
Penha.
12 — José
de Alencar, em Ja
carépaguá.
13 — Olavo Bilac, na Vila Mi
litar.
14 — Osvaldo Cruz, em Cam-
po Grande.
15 — Diogo Feijó, em Santa
Cruz.
Além dêstes, em cada escola
municipal foi instituído um Cen-
tro Cívico Escolar.
Estas instituições, espalhadas
por todo o Distrito Federal, como
se pode
verificar no mapa anexo,
teem a seu cargo a tarefa de exe-
cutar o programa
de ação do De-
partamento de Educação Nacio-
nalista.
Os Centros Cívicos Distritais
são destinados a coordenar e ori-
entar as atividades da infância' e
da juventude
da Capital da Re*
146 CULTURA POLÍTICA
pública quando à educação cívi-
ca, à educação física e à educação
artística.
Instalados em cad$ Distrito
Educacional e em perfeita
arti-
culação com os Centros Cívicos
Escolares —
que teem atividades
semelhantes e são a êles subordi-
nados, — destinam-se a influir
poderosamente nas crianças e nos
jovens brasileiros
quanto à for-
mação da conciência nacional.
Através de auditórios, bibliote-
cas, parques, ginásios
e instala-
ções complementares
— inclusive
para projeções cinematográficas
e
audições radiofônicas — cabe-lhes
uma ação regular e contínua, quer
nos dois turnos da secção diurna,
para crianças e adolescentes, quer
na noturna — destinada a adultos,
matriculados ou não nas escolas
públicas e
particulares.
Cada Centro Cívico tem como
responsável um professor
"Coor-
denador" e —
professores especia-
lixados para
as atividades de au-
ditório, biblioteca, cinema, de-
senho, trabalhos manuais, músi-
ca, canto orfeônico e educação
física, que,
também, conta com o
concurso adequado do serviço me-
dico.
A creação do Departamento a
que vimos de nos referir, marca-
rá uma nova fase de progresso
na
história da formação de uma con-
ciência nacional, capaz de tornar
o Brasil uma nação mais forte e
mais feliz.
O D.E.H.
AGE Eli TODO O DISTRITO FEDERAL
/
~
-./
! »sf ^
k
.
•
• -I A
DEPARTAtlf WTO j« EDUCA^AO
MACIWAllSTA
Sctvi^o dt Servi^o de Seivi^© de C. jcrvi^o de
E. Ci^kCA E fibica. fW*cdcAit»ilKJi CoireapondenciA
Cenlros Cfvfcos
JEdwca.ç4o HicioruloU.
d* Cf *nç*s aJo.
le*»c«rvt«^ c ddoltot».
£dtfca,f4o Jilauoruli^U
de cr An?*) Ad».
le*»c«rvt«^ c Adoltotx.
1
I
Razões de ser do D. A. S. P.
BEATRIZ MARQUES DE SOUZA
Oficial administrativo em exercício na Divisão de
Organização e Coordenação do Depaitamento
Administrativo do Serviço Público
Tendo-se especializado em Administrarão Pública na "School
of Public
AHnir*" da 4*American
University , em Washington, D. C.,E. U. A., real%
Sà"líS3£
™ninPdZrM;
«
fSBSffV''A^merTa^e 72SE
d? raió- tendo servido também no Conselho Federal do Serviço
°P^rc°a
&il9£'4"Z creação até
^ ^Unção
- a autora conUnua a
série de artigos sôbre a organização do DASPque esia revisia » «
tuiçâo de 1937*
MUITO
se tem escrito e fa-
lado sobre o D. A. S. P.
Onde quer que
se vá, há
de se ouvir referências a êle, co-
mentários a respeito desta ou da-
quela decisão sua. Trata-se, umas
vêzes, de concurso aberto, ou de
nova repartição creada; outras, de
modificação num regulamento de
pessoal, ou em normas relativas a
material . E muitas mais facetas
de sua atividade são objeto de
análise.
A um observador atento e
imparcial, não é preciso pesqui-
sar muito para
chegar à conclu-
são de que,
de um modo geral,
entre o funcionalismo ou entre
aquêles apenas indiretamente in-
teressados, a opinião assim ex-
pressa não é favorável ao D. A.
S. P.
Aquêles, porém, que
_
acom-
panham de
perto a atuação dêsse
órgão, sabem sem cabimento tal
conceito * Não podem,
entretan-
to, deixar de reconhecer quão
prejudicial é esse estado de coisas,
não só para
o D. A. S. P. pro-
priamente, como também para
o
processamento
da reforma admi-
nistrativa brasileira que o mes-
mo ajuda a levar avante.
"Porque é o D. A. S. P.
olhado com tanta antipatia"? per-
guntam êles.
RAZOES DE SER DO D. A. S. P.
\
Também não parece
necessá-
rio indagar muito para
saber a
resposta. E' que,
esse D. A. S. P.
de que
todos falam, ainda é,
paradoxalmente, desconhecido.
Sim, porque
não se sabe qual
sua
razão de ser, quais
os princípios
que motivaram sua creação; não
se tem idéia de seu papel
no sis-
tema administrativo federal, nem
de sua projeção
no cenário da vi-
da pública
do país.
O que
se sa-
be é ser êle o
"terror", o
"inimi-
go" do funcionalismo,
pois:
"Fu-
lano foi preterido
em sua última
promoção por causa do D.A.S.P."
(sic);
"Beltrano —
tão inteligente
e culto! —
foi inhabilitado em
concurso realizado pelo
D. A. S.
P." E outras mais situações dêsse
gênero são as
que cream um am-
biente injustamente hostil para
o
D. A. S. P.
Portanto, é indispensável tor-
ná-lo melhor conhecido. Dizer
porque, para que êle existe;
pro-
var que
foi creado por
absoluta
necessidade de existência de um
órgão de sua natureza; demons-
trar que,
si alguns de seus atos
não atendem a interêsses indivi-
duais, talvez justos,
é porque
re-
sultam da aplicação de critério
geral, o único
que consulta às con-
veniências da coletividade; fazer
sentir que
não se trata de um mo-
vimento de repercussões limitadas
a determinado setor da adminis-
tração, mas de um programa
de
racionalização de todo o mecanis-
mo administrativo.
Uma vez isso feito, não creio
que ainda houvesse
quem não se
sentisse animado a colaborar com
149
o D. A. S. P. tornando, assim,
possível a
plena realização de
seus objetivos.
•Para essa obra de divulgação,
claro é que
desejem contribuir es-
pecialmente aquêles
que, por o sa-
berem empenhado na reconstru-
ção de nosso sistema administra-
tivo sob mais sólidas bases de
economia e eficiência, nêle depo-
sitam suas esperanças de um Ser-
viço Público verdadeiramente ra-
cional.
Filio-me, com orgulho, a ês-
se grupo
dos que
acreditam no
D. A. S. P. Tentarei, pois
— e
o que
se segue é êsse ensaio —
con-
tribuir para
seu mais amplo co-
nhecimento pelo público, pro-
curando responder a várias per-
guntas que pairam no ar.
ii
Como bem diz John
A. Fair-
lie (1)
"in its broadest sense Pu-
blic Administration consists of
ali those operations having for
their purpose
the fultillment or
enforcement of public policy
as
declared by the competent auto-
rities".
Portanto, Administração Pú-
blica é a ação do Govêrno na
proteção à Vida, à Saúde e ao Tra-
balho; na orientação e fiscaliza-
ção da Educação; no fomento e
controle da Produção, da Indús-
tria e do Comércio; na Defesa Na-
cional; na construção das vias de
comunicações e transportes; e em
todas as demais funções que
dizem
respeito às finalidades do Estado.
FAIRLIE TOHN A. — Public Administration and Administrative Law,
• in'/
"Haines", C. G! and Dimock, M. E., eds., Essays on the Law and Pratice of
crovernatnental Administration, 1935» 3~43*
150 CULTURA POLÍTICA
Para executar esse progra- ou
"especiais", ou
"de
administra-
ma, a Administração precisa mon- ção especifica",
tar e fazer funcionar um meca- Hoje,
quasi já nem mais
nismo apropriado, no qual
caçla comporta discussão a tese de que
peça se entrose
perfeitamente o
exercício das atividades
"meios"
trabalhe em harmonia com as de- tem que
ser conferido a órgãos
mais. Na composição e no fun- exclusiva e especialmente consti-
cionamento dessas peças
— ou se- tuídos para
êsse fim. Porquanto,
ja no
que Leonard D. White
(2) si atribuídas aos
que teem a seu
denomina
"the management of cargo o desempenho de atividades
men and materiais in the accom- funcionais, não só desviarão, com
plishment of the
purpose of the seu volume e complexidade, a
State" - os mesmos elementos atenção
do comando para
sua so-
são sempre encontrados. Assim lução, em
prejuízo daquelas, co-
é que, nêste ou naquêle setor da mo não
poderão merecer toda a
Administração, nenhuma realiza- atenção que sua técnica especialis-
ção é levada avante sem
que haja sima demanda,
constituição e delimitação de au- Além disso, por
serem as
toridade; definição de objetivos; atividades institucionais, como já
formação estrutural racional e mé- ficou visto, comuns a todos os ór-
todos de trabalho adequados; pes- gãos da administração, é de todo
soai e material; e recursos finan- aconselhável evitar-se diversidade
ceiros suficientes. em seus processos
de execução,
Essas atividades não são, co- aplicando-se critérios
gerais, pa-
mo se vê, atribuição precípua
do dronizando-se normas e
processos
Estado, e, sim, verdadeiros
"meios" de trabalho, e controlando-se, me-
de que
êste se utiliza para
conse- diante supervisão única, o seu
cução de seus
"fins". exercício.
Classificam-nas os tratadistas Daí os
princípios que acon-
modernos -
especialmente os selham a execução das atividades
none americanos,Pq„e ao es.ndo * adm.msuraçSo geral
•da Administração Pública veem especializados, sob a onentaçao
dedicando especial carinho -
ora coordenaçao e fiscal.zaçao de um
como
"institucionais", ora como outro,
também especializado e co-
"housekeeping", ou
"auxiliares", locado no sistema administrativo
ou
"adjetivas", ou, ainda,
"de ad- «mo peça
central , de modo a
ministraçâo geral",
em contrapo- ter a visão de conjunto
que o ha-
^
bilite
a a<nr sempre no interesse
siçao as atividades que
constituem uiuit, a
0 ^
a finalidade precípua
do Estado, geral.
e a que
denominam
"funcionais", Não são outros os ensina-
ou
"primárias", ou
"substantivas", mentos de Willoughby (3),
Pfif-
(2) WHITE, L. D. — Introdution to the Study of Public Administration,
The Mac Millan Co., New York, pág. 6.
(3) WILLOUGHBY, W. F. Principies of Public Administration, The
Brookings Institution, Washington D. C., i927»
RAZOES DE SER DO D. A. S. P. 151
fner (4),
Walker (5),
White (6)
Lewis (7)
e alguns mais que
se de-
•dicaram ao estudo da Administra-
^ão Pública e
que tanto veem
contribuindo para colocar o meca-
nismo administrativo dos Estados
Unidos entre os mais eficientes ho-
je existentes.
Também nós vimos nos be-
neficiando do que
teem êles pre-
conizado. A legislação iniciada
-em 1936 obedece, inegavelmente,
à sua doutrina.
Com efeito, que
foi o Con-
selho Federal do Serviço Público
Civil sinão a tentativa — feliz-
mente coroada de êxito, — de
centralização da seleção de pes-
soai, conseqüente da implantação
do sistema do mérito; da super-
visão das demais fases de admi-
nistração de pessoal;
e da organi-
zação do nosso serviço público?
Moldado em linhas seme-
lhant.es às da
"Civil Service Com-
mission" norte americana, não foi
o Conselho, porém,
sinão uma
etapa na adoção daquêles princí-
pios. Menos de dois anos após sua
creação, foi o mesmo integrado
num órgão de mais complexa e
ampla ação: o D. A. S. P., ao
qual cabe
proceder à seleção de
pessoal para execução dos servi-
ços públicos, cuidar do aperfei-
çoamento do mesmo e readaptá-lo
a outras funções, quando
necessá-
rio; classificar os cargos e funções
públicas; examinar e
propor alte-
rações em níveis de remuneração;
orientar e fiscalizar a execução da
legislação referente a direitos e
deveres dos servidores públicos;
estudar, permanentemente,
a or-
ganização e funcionamento dos
serviços públicos, procurando
dar-
lhes melhor estruturação, evitan-
do conflitos de competência e pa-
ralelismo de funções e propondo
adoção de normas de trabalho
mais racionais; estudar a simpli-
ficação da variedade de material
em uso, estabelecendo padrões e
sugerindo melhores métodos para
aquisição, requisição, distribuição,
guarda e utilização de material.
E a todas essas funções virá jun-
tar-se, futuramente, mais outra de
maior relevância: a elaboração da
proposta orçamentária e a fisca-
lização da execução do orçamento.
No decorrer de seus traba-
lhos, assume o D. A. S. P., qua-
si sempre, o aspecto de um
"esta-
do maior" da Presidência da Re-
pública, isto é: não tem funções
executivas, mas opinativas; acon-
selha, não manda. Constituem ex-
ceção a essa regra as funções re-
lativas à seleção de pessoal,
à sim-
plificação e à
padronização de
material, em que
a multiplicidade
de execução grandes prejuízos
acarretaria, não só por
ser prová-
vel a falta de uniformidade de cri-
tério, como também por
se faze-
rem necessários bem maiores re-
cursos financeiros.
Como foi assinalado acima,
o D. A. S. P. é a peça
central do
(4) PFIFFNER, JOIIN M.
— Public Administration, The Ronald Press Co.,
New York, 1935.
(5) WALKER, HARVEY
— Public Administration in the United States,
Farrar and Rinchart, New York, 1937*
(6) WHITE, LEONARD D.
— Op. cit.
tn\ MERIAN, LF.WIS, e SCHEMECKEBIER, LAURENCE F. - Reorgani-
sation of the National Government, The Brookings Institution, Washington,
D. C., 1939.
152 CULTURA POLÍTICA
sistema de integração das ativida-
des de administração geral. Para
melhor compreensão desse con-
junto, convém acrescentar que
suas demais peças
são os Departa-
mentos de Administração e as
Comissões de Eficiência, dos Mi-
nistérios, e a Comissão de Orça-
mento do Ministério da Fazenda.
Cabem agora aqui —
pois
que me referi aos ensinamentos
dos mestres estadunidenses sôbre
o assunto —
algumas observações
a respeito do que
aquela grande
nação tem realizado nêsse tempo.
Em 1929, o
"Institue for Go-
vernment Research" da
"Broo-
kings Institution" propoz
a cen-
tralização, num
"Service of Ge-
neral Administration", das ativi-
dades institucionais do Govêrno
Federal Norte Americano (8). E'
tão evidente a identidade de pro-
pósitos entre êsse
plano e o
que
presidiu à creação do D. A. S. P.,
que parecem desnecessários maio-
res comentários sôbre êsse aspecto
da questão.
Quando a Brookings Insti-
tution apresentou tal proposta, já
vigorava, porém,
nos E. U. A., a
centralização das atividades rela-
tivas à seleção de pessoal
e cias-
sificação de cargos, na
"Civil Ser-
vice Commission"; das de orça-
mento, no
"Bureau of the Bud-
get", então no
"Treasury Depar-
tment"; das de organização, par-
te nêsse mesmo Bureau e parte
no
de
"Efficiency", existente desde
1916; e das de material, na
"Pro-
curement Divison" do
"Treasury
Department". Dêsse modo, em-
bora ainda houvesse carência de
unidade de comando, pelo
menos
já havia órgãos especializados
pa-
ra tratar dêsses assuntos.. Por ou-
tro lado, qualquer
reorganização
geral do sistema dependia de
aprovação do Congresso, o que
tornava difícil e demorada sua
realização. Acresce que
o grande
desenvolvimento do ramo admi-
nistrativo Federal Norte America-
no tornava muito mais complexa
a solução do problema.
Por essas razões, não pôde
obter concretização a proposta
da
Brookings. Gradualmente, po-
rém, veem sendo efetuadas reor-
ganizações parciais que importam
no reconhecimento da excelên-
cia de sua doutrina.
Assim é que
se extinguiu,
em 1933, o
"Bureau of Efficiency",.
e centralizaram-se no
"Bureau of
the Budget" os estudos de orga-
nização. E em 1939, em conse-
quência, especialmente, dos estu-
dos realizados pelo
Presidentas
Commitee on Adminisrative Ma-
nagement", e dos trabalhos efe-
tuados pelo próprio
"Bureau of
the Budget", foi êste último sub-
metido a uma reforma, mediante
o
"Plano
de Reorganização n. 1"
e várias
"Executive
Orders (9).
Hoje, compreende o Bureau 5
di-
visões:
"Estimates", "Fiscal", "Le-
gislative Reference",
"Administra-
tive Management" e
"Statistical
Standards".
A adoção integral daquela
proposta continua a ser
por mui-
(8) Proposal for a Service of General Administration of the National Go-
vernment of the United States, "Public
Personnel Studies" December, 1929, Vol. 7,
11. 12, págs.
166-179.
(9) U. S. A. Government Manual, U. S. A. Government Printing Officc,.
Washington, D. C.
RAZOES DE SER DO D. A. S. P. 153
tos aconselhada, mas se apresenta
bastante difícil, visto como a gran-
de expansão do Poder Executivo
norte americano, nêstes últimos
anos, acarretou um formidável de-
senvolvimento das atividades de
administração geral,
a ponto
de
tornar talvez demasiadamente vul-
tosos os encargos que
seriam atri-
buídos ao
"Service
of General Ad-
ministration".
Do exposto se verifica que,
consideradas as grandes
diferen-
ças existentes entre os ambientes
a que pertencem,
são bem seme-
lhantes as organizações adminis-
trativas brasileira e americana.
Os princípios
doutrinários em que
se baseiam são da mesma origem, e
nossos administradores teem pro-
curado aqui aproveitar, adaptan-
do-os a nosso meio, os ensinamen-
tos que
a experiência norte ame-
ricana possa
nos oferecer. Tam-
bém o D. A. S. P. segue essa
orientação, para
o que
envia,
anualmente, mediante seleção,
funcionários federais aos Estados
Unidos, para
realização de cursos
em universidades e estágios em re-
partições públicas e na indústria
privada.
Sendo reconhecidamente efi-
cientes os serviços públicos
norte
americanos, a manutenção dessa
política permite considerar-se,
pa-
ra os nossos serviços públicos
e,
em conseqüência, para
o país,
bas-
tante animadora a perspectiva.
Po-
rém, mais, muito mais o seria, si
aqueles que,
numa luta surda, fa-
zem com que
o trabalho de racio-
nalização efetuado pelo
D. A. S. P.
só consiga progredir
à custa do es-
forço sobrehumano de uns tantos
idealistas e patriotas, procuras-
sem, ao invés disso, examinar,
criteriosamente, as atividades dês-
se órgão, prestando
atenção não
apenas a um ou outro aspecto iso-
lado —
que pode, mal situado, ser
impropriamente compreendido —
mas ao todo, à grande
obra que
se
realiza. Que
essas pessoas
não
neguem, antes de ver; que
não
tentem destruir sem siquer ter
noção do que
se está construindo.
Que, animadas de espírito
patrió-
tico e progressista,
estudem o que
é e o que
faz o D. A. S . P., pa-
ra saber que
muito mais poderá
êle ser e fazer si puder
continuar
seu caminho num ambiente de
compreensão e boa vontade.
Evolução da
política
republicana
AZEVEDO AMARAL
'0?
'
na /ase anterior à vitória revolucionaria de 1930
Estudando
em artigo pu-
blicado na edição anterior
de Cultuvcí Política a evo-
lução da política
imperial, ti-
vemos ensejo de mostrar como os
acontecimentos naquêle
período
da história brasileira obedeceram
à ação de influências, que se vi-
nham caracterizando desde eta-
pas precedentes da formação na-
-cional. Passando agora à analise
da marcha progressiva
da política
republicana, devemos desde logo
acentuar que
o mesmo fato não se
reproduziu no ciclo historico que
vamos examinar. Na evolução da
política republicana observa-se
muito menos lógica no encadeia-
mento das suas sucessivas fases e
sobretudo é impressionante a fal-
ta de uma concatenização perce-
ptível entre o desenvolvimento das
instituições republicanas e os efei-
tos de influências anteriores ao
estabelecimento do regime surgi-
do do golpe
militar de 15 de No-
vembro.
A República de 1889
e as ideologias
republicanas
elaboradas no período
impe-
rial e provindas
mesmo do fim
da época colonial não se acham
vinculadas por uma associaçao,
que torne o advento do regime re-
publicano uma conseqüência
na-
tural e lógica da difusão de cor-
rentes caracterizada por uma coe-
sa orientação democrática. Tem-
se insistido tanto na existência de
uma idéia republicana, que se te-
ria tornado verdadeira tradição,
mantida e desenvolvida ati aves
dos sete decênios de regime mo-
nárquico, que a lenda de um íe-
publicanismo histórico se integrou
no espírito público,
como fato real
e indiscutível. Entretanto, o exa-
me mais cauteloso da história do
pensamento político brasileiro
não parece justificar
o que pela
grande maioria é aceito como ma-
teria pacífica.
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA REPUBLICANA 155
Para tornar bem claro o ponto
<que estamos apreciando, é neces-
sário distinguir cautelosamente
dois aspectos diferentes do assun-
ito em aprêço. De certo modo po-
de-se afirmar que
uma tendência
republicana existiu no Brasil, des-
de a época em que
condições fa-
voráveis facilitaram o surto de as-
pirações nacionalistas e a medita-
ção sobre temas
políticos. A' se-
melhança do que
ocorreu sempre
países novos de formação co-
lonial e nos quais
a sociedade se
dividia em classes, não havendo
na camada superior grandes
di-
ferenças de nível econômico, esta-
beleceu-se entre nós no período
colonial uma situação de igualda-
de dos elementos constituintes do
grupo que representava a elite di-
rigente. Assim não havia famí-
lias que
ocupassem posição
de pre-
ponderância, capaz de outorgar-
lhes títulos para
se candidatarem
a tornar-se a dinastia nacional,
quando a emancipação
política do
país viesse a ser uma realidade.
Um sentimento de igualdade so-
ciai nivelava os membros do que
se poderia
chamar a nossa classe
aristocrática, que
era constituída
pelos grandes proprietários terri-
toriais. Todos julgavam-se
com
os mesmos direitos e de fato ti-
nham razão para
isso, sendo por-
tanto inconcebível qualquer
fu-
tura forma de organização inde-
pendente da Nação, em
que os
membros dessa elite não comparti-
lhassem em termos idênticos no
govêrno do
país.
Daí a impossibilidade da ada-
tação de instituições monárquicas
a um ambiente em que
nada per-
mitia o surto de uma dinastia. A
forma de govêrno para
a qual
ins-
tintivamente gravitavam
as aspi-
rações dos que
começavam a for-
mular idéias vagas sobre a inde-
pendência, era forçosamente a de
uma organização política,
na qual
os representantes do feudalismo
agrário, que
empiricamente se
constituíra, seriam os árbitros dos
destinos da Nação. Em outras
palavras, elaborara-se subconcien-
temente na classe superior do pe-
ríodo colonial uma idéia republi-
cana, plasmada
segundo as linhas
de uma organização aristocrática.
Era a idéia formulada em termos
precisos em 1710
por Bernardo
Vieira de Melo, ao propor
a ins-
tituição de uma república, copia-
da nas suas linhas gerais
do mo-
dêlo veneziano. Na Inconfidên-
cia esse pensamento já
não se
apresenta com a mesma clareza,
porque no espírito dos conspira-
dores de Vila Rica já
começavam
a infiltrar-se as idéias que
na mes-
ma ocasião iam propelir
o revolu-
cionismo francês e haviam chega-
do até o altiplano mineiro, como
importações culturais da Europa
trabalhada pelas
conseqüências
políticas das idéias do século
XVIII.
Foi a introdução dêsse exotis-
mo cultural, que
a partir
do mo-
mento assinalado pela
conspira-
ção frustra dos
patriotas de Minas
Gerais atuou em diversos pontos
do nosso território, dando lugar
ao aparecimento de núcleos de ir-
diação ideológica, identificados
com uma nova forma de republi-
canismo. O que
se poderia
cha-
mar de autêntica tradição republi-
cana do Brasil era anterior e na-
da tinha de comum com o pensa-
mento promanado
das influências
156CULTURA POLÍTICA
que se originaram nas idéias de
Rousseau e nas tendências do
enciclopedismo francês. O nosso
republicanismo colonial emergira
espontaneamente das condições
econômicas e sociais do meio bra-
sileiro. Tinha assim as caracte-
rísticas 'inconfundíveis de uma
creação autêntica das forças pias-
madoras da nacionalidade e era,
portanto, uma corrente mais ins-
tintiva que
ideológica, integrada e
profundamente enraizada na rea-
1 idade nacional.
O republicanismo, que a
partir
do fim do século XVIII aparece,
refletindo em terras americanas a
ação longínqua dos catastróficos
acontecimentos que subvertiam a
antiga ordem européia, era de
natureza muito diferente. Tra-
tava-se neste caso do efeito da
elaboração meramente subjetiva
processada nos espíritos mais cul-
tos e mais fortemente influencia-
dos pela
observação daquêle agi-
tado e fascinante período
históri-
co. Êsse republicanismo destaca-
va-se da realidade brasileira, ao
ponto de não apreender em
que
proporções as fórmulas renovado-
ras do revolucionismo francês
contradiziam a nossa realidade
geográfica, econômica e social,
tornando-se evidentemente inada-
ptáveis à solução do
problema
político, que se iria apresentar aos
contrutores da nacionalidade in-
dependente.
Um surto de dema-
gogia republicana
veiu a intercalar-se no curso
da nossa evolução política
nos
anos imediatamente precedentes
à
emancipação do rompimento dos
nossos vínculos com a metrópole.
Com a transferência da séde da
monarquia portuguesa para
o Rio
de Janeiro,
começaram a afluir ao
Brasil elementos empolgados pela
ideologia revolucinária que se
propagara de França e
penetrara
em larga escala em Portugal com
a invasão napoleônica. O prestí-
gio das idéias revolucionárias,
aqui chegadas desde o fim do sé-
culo XVIII, exercera-se até então
quasi exclusivamente em um cír^
culo social limitado a certos meios
da classe superior da sociedade
brasileira. Eram elementos inte-
lectuais que
acompanhavam os
acontecimentos da Europa, ad-
quirindo dêles e das forças ideo-
lógicas em jôgo
um conhecimento
tão minucioso e preciso, que
cau-
sava surpresa e quasi
espanto aos
viajantes ilustres que
visitavam o
nosso país.
No espírito desses brasileiros,
mais ou menos cultos todos êles,
e na sua grande
maioria coloca-
dos em situação econômica e so-
ciai confortável, a ideologia revo-
lucionária não passava
de fonte
de prazer
intelectual e entre a
aceitação teórica dos postulados
do
republicanismo democrático e
qualquer tendência à sua aplica-
ção prática mais ou menos ime-
diata havia para
aquêles homens
um abismo intransponível. Bem
outra era a maneira como os fatos
políticos se apresentavam aos ele-
mentos de uma classe socialmente
inferior, que
se encaminharam pa-
ra o Brasil após a vinda da famí-
lia real para
o Rio de Janeiro.
Esta nova categoria de republi-
canos sentia impaciência em trans-
formar em realidades concretas a
ideologia mal digerida e defeituo-
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA REPUBLICANA
samente assimilada, que haviam
absorvido na atmosfera da Euro-
pa agitada
pelo terremoto revo-
lucionário. O republicanismo
dessa gente
assumiu logo a forma
de uma atividade demagógica, que
por ser exercida subterraneamen-
te não era menos eficiente na de-
terminação de graves
efeitos per-
turbadores da vida brasileira. Por
volta de 1815 começaram a surgir
as lojas maçônicas, que
se multi-
plicaram rapidamente. Eram nú-
cleos de irradiação revolucionária,
donde, se incontestavelmente par-
tiam idéias de emancipação nacio-
nal, se projetavam
sobretudo ten-
dências fortemente coloridas pelas
expressões mais radicais do pensa-
mento revolucionário de 1789 e
1792.
Êsse movimento inconfundivel-
mente demagógico e com finalida-
des subversivas bem patenteadas
nas crises revolucionárias nordes-
tinas de 1817 e 1824 fez sentir a
sua influência nas agitações do
primeiro reinado e adquiriu
pro-
porções particularmente acentua-
das no decurso da Regência. Mas
após a proclamação
da maiorida-
de de Pedro II e sobretudo depois
de subjugado o movimento revo-
lucionário de 1842 e pacificada
em 1845 a província
do Rio Gran-
de do Sul, a influência do repu-
blicanismo exótico, transplantado
de Portugal no princípio
do sé-
culo, dissipou-se rapidamente,
sem deixar vestígios apreciáveis na
opinião pública, que
a experiên-
cia desoladora da Regência desi-
ludira do democratismo e aceita-
ra satisfeita a afirmação do po-
der imperial.
O republicanismo
organizado
só começa a esboçar-se com a
iniciativa concretizada no Con-
gresso de Itü e no Manifesto de
Campinas, publicado
em 3
de De-
zembro de 1870. Na gênese
das
correntes políticas que
então se
encaminharam de modo definido
para o combate às instituições mo-
nárquicas entraram vários fatores.
Um dêles e de certo modo o mais
importante foi o esgotamento das
forças do partido
liberal, que
ha-
viam mantido nesta agremiação
política vestígios mais ou menos
acentuados das vagas idéias repu-
blicanas do fim da época colonial
e dos dois primeiros
decênios do
Império. Após o abandono da
política de fusão dos
partidos,
concebida e executada pelo
mar-
quez de Paraná, o liberalismo res-
tabelecido como força partidaria
e de novo em concorrência com
os conservadores não apresentava
mais traços apreciáveis das influ-
ências radicais, que
anteriormen-
te o haviam de certo modo torna-
do ambiente propício
ao cultivo
de tendências republicanas.
Assim os liberais que poderiam
ser qualificados
de adiantados e
radicais sentiram-se deslocado nas
novas configurações do liberalis-
mo, que
se convertera incondicio-
nalmente ao regime monárquico,
conversão que
tivera espetacular
exemplificação no que
foi enca-
rado pelos
contemporâneos como
a apostasia de Sales Torres Ho-
mem. Para êsses elementos, cuja
orientação ideológica era incom-
patível com o novo feitio do
par-
tido liberal, as perspectivas
de
uma carreira política
dentro dos
quadros monárquicos
passaram a
158 CULTURA POLÍTICA
ser extremamente problemáticas.
Era, portanto,
natural que
na ló-
gica da situação assim delineada
os descontentes do partido
liberal
se congregassem em uma nova
facção, francamente caracterizada
pela hostilidade ao regime impe-
rial.
A este motivo político
do surto
das formações republicanas asso-
ciavam-se outras razões, que
re-
forçavam o movimento solene-
mente definido nos termos do his-
tórico Manifesto de Campinas. As
guerras do Prata e a campanha do
Paraguai haviam colocado o Bra-
sil em um contacto muito mais
direto e íntimo com o espírito re-
publicano predominante em tôdas
as outras nações do nosso conti-
nente. Surgia assim um fator sen-
timental, que
viria a ter grande
influência no incremento ulterior
do republicanismo. E ao lado
dêle uma determinante de ordem
econômica também fazia sentir a
sua ação orientada, de modo a ca-
var uma separação cada vez maior
entre a nova geração
e as insti-
tuições monárquicas.
A partir
de 1850 a economia
brasileira entrara em uma fase de
expansão apreciavelmente acele-
rada. O desenvolvimento das
construções ferroviárias determi-
liara efeitos altamente estimulan-
tes sôbre as atividades agrícolas,
acentuando sobretudo a propaga-
ção rápida da lavoura cafeeira
pa-
ra novas zonas. Com o desloca-
mento dos cafesais das regiões flu-
minenses do vale do Paraíba para
o norte de S. Paulo e depois na
direção de oeste da província
ban-
deirante, verificou-se nestas no-
vas áreas de exploração do café
um surto econômico, cujas pro-
porções não tardaram em reper-
cutir em um progresso
acelerado
de S. Paulo.
A formação de novos e impor-
tantes interêsses na região paulis-
ta redundou na eclosão ali de
preocupações concernente a uma
ampliação da autonomia adminis-
trativa, encarada como impres-
cindível ao aproveitamento em
larga escala das possibilidades
de
riqueza, que
tão inconfundivel-
mente se vinham apresentando.
Sob a pressão
destes novos fatores,
as aspirações federalistas que já
se haviam aplacado mesmo nas
regiões do país,
onde anterior-
mente se tinham manifestado com
maior vigor, recrudesceram. E
agora S. Paulo, que
acelerada-
mente se ia tornando a mais im-
portante região econômica do<
país, passava a ser o
principal fo-
co de irradiação das reivindica-
ções autonomistas. O federalis-
mo nascente em S. Paulo atuou
como estimulante poderoso
das
idéias análogas que
estavam ador-
mecidas em outras províncias
e
notadamente no Rio Grande da
Sul, onde o cilo de guerra
civil,
encerrado pela pacificação
de
1845, deixara indeléveis e fortes
traços de um tenaz espírito fede-
ralista.
Em face do reaparecimento das
aspirações autonômicas das pro-
víncias mais importantes, que
se
apresentavam influenciadas por
motivos novos de ordem econômi-
ca, cuja eficácia era incomparavel-
mente maior que
a das razões sen-
timentais do federalismo dos pri-
meiros tempos do Império, a mo-
narquia encontrava-se em posição
muito difícil. O êrro mais grave
do regime imperial nesse setor po-
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA REPUBLICANA
lítico fôra animar os partidaris-
nios regionais com o Ato Adicio-
nal de 1834, ao mesmo tempo que
mantinha e de certo modo acen-
tuava mesmo um rígido sistema
de administração fortemente cen-
tralizada. As províncias
mais im-
portantes se haviam tornado nú-
cleos de fôrças políticas
locais,
cuja influência era tacitamente
reconhecida pelo poder
central
em tudo que
se inscrevia na ór-
bita propriamente política
da vi-
da regional. Mas enquanto des-
frutavam êsses privilégios
de na-
tureza política,
as províncias
ti-
nham a sua administração inter-
na colocada na esfera do govér-
no, que
do centro regulava o rit-
mo das mais íntimas -atividades
administrativas e econômicas de
cada província.
Semelhante estado de coisas era
evidentemente insustentável, em
face da expansão econômica que
se verificava em certas regiões e
notadamente no sul do país,
so-
bretudo em S. Paulo, onde à
sombra da prosperidade que
ia
sendo creada pelo
café se desen-
volvia um compreensível senti-
mento de orgulho regionalista.
As aspirações
federalistas
representam portanto,
desde a
década de 70,
o elemento vitaliza-
dor e propulsor
da propaganda
republicana. O Império, preço-
cemente envelhecido e restrin-
gido na sua capacidade renovado-
ra pelo
ritmo da acanhada menta-
lidade política
de PedroII, mos-
trou-se inapto para
uma obra de
reajustamento, que
lhe poderia
ter permitido
a sobrevivência.
Anos mais tarde, já
ao avizinhar-
se o colapso das instituições mo-
nárquicas, a necessidade inadiável
da transformação do Império uni-
tário em organização federativa
impunha-se a muitos dos mais es-
clarecidos espíritos que
milita-
vam nas fileiras da política par-
tidária.
"Federação
com o Impé-
rio" reclamava Joaquim
Nabuco.
''Federação com ou sem o Impé-
rio" retrucava Rui Barbosa, como-
expoente da ala do partido
libe-
ral que
aceitava implicitamente o-
sacrifício das instituições vigentes.
Para o entendimento claro da
processo ulterior de evolução da
política republicana é imprescin-
dível acentuar que
a incompati-
bilidade entre a monarquia e a
Nação resultou, não de um anta-
gonismo essencial da opinião
pú-
blica ao regime monárquico, mas
da contradição iniludível entre as-
novas realidades da economia bra-
sileira e a obsoleta organização ad-
ministrativa, rigidamente centra-
lizada da Constituição de 1824.
As fôrças
demagógica?
que desempenharam do última
decênio da monarquia papel
sa-
liente na agitação do espírito das
massas e sobretudo das novas ge-
rações, suscitando nelas correntes
sentimentais de hostilidade ao-
Império, tiveram influência in-
comparavelmente menor que
se
lhes poderia
atribuir, diante da
lenda creada ao redor da propa*
ganda republicana. A atuação-
dos propagandistas populares
foi
limitada na sua órbita de influên-
cia e extremamente superficial e
efêmera nos seus efeitos. O repu-
blicanismo demagógico não pas-
sou de um fenômeno que
não se
fez sentir para
além dos ambien-
160 CULTURA POLÍTICA
tes acadêmicos e de círculos so-
ciais, que
nas condições da época
não dispunham absolutamente de
meios para
operar uma transfor-
inação institucional.
A Abolição e a Quês-
tão Militar
foram por
outro lado episódios,
cuja repercussão nacional teve in-
caiculávcl alcance no determinis-
mo da proclamação
da Repúbli-
ca. Em ambos os casos os acon-
tecimentos foram aproveitados e
explorados com inexcedível habi-
1 idade por Quintivo
Bocaiúva, o
mais eficiente dos propagandistas,
senão o único cuja atuação exer-
ccu influência verdadeiramente
decisiva sobre o curso do movi-
mento anti-monárquico. Os sin-
tomas de decadência do Impe-
rio, manifestados em tantas das
expressões da vida política
do
país, delinearam-se com rcáxima
nitidez na questão
militar e na
campanha abolicionista.
A necessidade da substituição
do trabalho escravo pela
ativida-
de economicamente superior do
homem livre era tão evidente,
que nem mesmo os mais ferrenhos
conservadores e os espíritos mais
rotineiros se atreviam a defender
a instituição servil, justificando-a
com argumentos ideológicos. E
essa necessidade se tornara ainda
muito mais imperiosa, quando
o
surto da lavoura cafeeira de São
Paulo impoz o desenvolvimento
de uma política
imigratória, sem
a qual
seria evidentemente inviá-
vel o plano
ambicioso da avança-
da dos cafesais para
o oeste. Mas
o afluxo de trabalhadores brancos
era inexequível, em face da re-
pugnância dos europeus em virem
trabalhar ao lado de negros escra-
vos nas nossas lavouras. Foi com-
preendendo êsse
ponto essencial
da questão, que
os agricultores e
políticos paulistas se tornaram os
campeões da abolição e foram de
fato os que
decisivamente contri-
buíram para
a realização da gran-
de reforma.
A atitude do poder
imperial ti-
nha pois
de pautar-sé pelo
reco-
nhecimento da necessidade de re-
organizar o trabalho nacional,
em harmonia com as injunções
inconfundíveis dos tempos novos
e de realidades sem precedente
no passado.
Mas entre a simpatia
e o apoio que
a coroa devia dar
ao movimento em prol
da eman-
cipação dos escravos e uma a ti-
tude desabridamente demagógica,
pondo-se à frente do mais avan-
çado radicalismo abolicionista,
havia muita diferença.
Em artigo ulteriormente publi-
cado em Cultura Política acer-
ca da evolução da política
im-
perial, tivemos ensejo de assinalar
que durante o último decênio da
monarquia o velho imperador en-
veredara pela
demagogia, em uma
tentativa baldada de captar para
a dinastia o apôio popular.
No
plano político essa tendência ca-
racterizou-se na substituição das
eleições indiretas, únicas consen-
tâneas com a realidade brasileira,
por um
processo de eleição dire-
ta, cuja finalidade era apenas di-
minuir a fôrça e a influência dos
elementos que justificadamente
dirigiam a política
nacional. Na
esfera social e econômica a mes-
ma tendência fez-se sentir em re-
lação ao abolicionismo, de que
a
princesa herdeira da coroa se tor-
nou figura exponencial, obede-
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA REPUBLICANA 161
cendo evidentemente à orienta-
ção traçada
pelo próprio sobe-
rano.
Com a sua atitude no caso da
questão servil, a monarquia afas-
tou de si as principais
forças di-
rigentes da Nação, representadas
pela classe dos
proprietários ter-
ritoriais. E foi nêsse meio que
nos
últimos anos do Império se veri-
ficou o maior número de deser-
ções das fileiras monárquicas
pa-
ra o campo republicano, trazendo
esses elementos uma força efetiva
e respeitável, cujo concurso deu
extraordinário ímpeto à onda re-
publicana.
Paralelamente ao afastamento
das forças sociais mais identifica-
das com o regime e cujo apôio lhe
era indispensável, o poder
impe-
liai deixou que
os políticos pro-
fissionais, tradicionalmente hos-
tis às classes armadas creassem e
mantivessem em aberto uma peri-
gosa questão militar. O estudo
dêsse assunto não poderia
ser
mesmo sucintamente feito aqui,
ihas não podemos
nos abster de
registrar que
essa crise, cujo de-
senvolvimento trouxe na sua lógi-
ca o colapso da monarquia, envol-
ve a demonstração mais impres-
sionante da falta de senso políti-
co, senão mesmo de lastimável di-
minuição dos sentimentos patrió-
ticos dos homens que
dirigiram o
Império no período
final do ci-
cio monárquico. Ter permitido
que insignificantes
questões disci-
plinares, facilmente solucioná-
veis por
medidas de simples bom
senso, se transformassem em um
verdadeiro rompimento do poder
político com as forças armadas, é
realmente uma das mais surpre-
endentes exibições de inépcia que
é possível
imaginar.
O advento da Republica
ocorreu em uma atmosfera ine-
quivocamente influenciada
por
três fatos de preponderante
rele-
vância. O primeiro
era a ascen-
dência que
as idéias federalistas
haviam conquistado sobre o espí-
rito da camada dirigente do país.
A este ponto
capital vinculam-se
outros dois elementos. Um deles
era a desorganização da econo-
mia agrícola que
se observava em
muitas regiões do país,
como
efeito da abolição realizada em
um ambiente demagógico e sem
que o
poder público tivesse toma-
do as medidas imprescinpíveis pa-
ra a substituição normal do es-
cravo pelo
trabalhador livre. Fi-
nalmente a questão
militar, tra-
zendo o Exército, contra a sua
vontade, para
arena política,
conferiu automaticamente às cias-
ses armadas uma função decisiva
na plasmagem
da nova ordem na-
cional. No estudo das determi-
nantes da evolução da política
re-
publicana, a
primeira questão a
ser examinada é o papel
dos mili-
tares na crise histórica de 1889.
A intervenção do Exército, pre-
ci pitando
a proclamação
da Re-
pública, constitue um dos episó-
dios mais felizes de todo o desen-
volvimento histórico do Brasil.
Quando se analisa o
papel das
forças armadas em 15 de Novem-
bro de 1889, a conclusão que
se
impõe, com a força irresistível
de uma verdade insofismável, é
que naquela ocasião o Exército
prestou ao
país um serviço muito
maior ainda que
o simples impe-
to dado pelo golpe
militar ao pro-
132 CULTURA
gresso político d<i nacional idade.
A iniciativa resoluta de Deodoro
e dos outros elementos militares
que cercaram o
glorioso veterano,
teve antes e acima de tudo o ca-
ráter de um gesto
salvador da
própria existência política
da Na-
ção.
Quando o
gabinete Ouro Pre-
to encetou a sua obra de vigorosa
reação anti-republicana em
Junho
de 1889, já
se tornara evidente que
a queda
da monarquia era ine-
vitável. Os dias do regime esta-
vam contados e o seu encerramen-
to previamente
designado para a
hora em que
terminasse a vida já
em franco declínio de Pedro II.
As forças sentimentais sempre tão
poderosas no nosso meio
garan-
tiam o prolongamento
da agonia
do regime, que
assim iria morrer
no momento em que
desapareces-
se o soberano, cercado pelo
res-
peito e carinho da imensa maio-
ria dos brasileiros. Mas êsse mo-
do de encarar a solução do proble-
ma nacional, embora refletisse a
nobreza de alma da nossa gente,
envolvia um êrro político,
capaz
de acarretar tremendas e imprevi-
síveis possibilidades.
O Império identificara-se por
tal modo com a personalidade
do
segundo Imperador e a tenacida-
de da vontade de domínio dêste
atrofiara por
tal forma as forças
ativas da política
nacional, que
o
desaparecimento daquela figura
central determinaria em quais-
quer circunstâncias uma crise
muito grave.
Os perigos
de se-
melhante situação haviam se tor-
nado incomparavelmente maio-
res diante dos sinais de uma re-
ação concertada para
assegurar
o êxito do terceiro reinado.
POLÍTICA
Em uma atmosfera tranqüila,
em que
a substituição da mo-
narquia pela república
por oca-
cião da morte de Pedro II fos-
se aceita como ponto pacifico pe-
la maioria da Nação, a mudança
de instituições podia ser aguar-
dada com a paciência
e serenida-
de que
caracterizava a atitude de
muitos republicanos, entre os
quais provavelmente
figurava o
próprio Benjamin Constant.
Mas a orientação do Ministério
Ouro Preto mudara por
comple-
to a fisionomia política do
país.
Os partidários
do terceiro reina-
do reinado organizavam-se e mo-
bilizavam as suas forças para
com-
bater o republicanismo que avan-
cava. Em tais circunstâncias, a
morte do Imperador assinalaria a
hora do comêço de uma guerra
ci-
vil. E o Brasil de 1889 não teria
podido talvez conservar a unida-
de da sua personalidade política
diante dos choques de uma luta,
que assumiria talvez as mais amea-
çadoras proporções. Foi êsse
imenso perigo que
as classes ar-
madas evitaram, precipitando
a
proclamação da República e sal-
vando assim o país
da mais peri-
gosa crise de todos os tempos.
As diretrizes dos ho-
rriens de 1889
O regime republicano nasceu
entre nós como resultante da ação^
convergente de forças geradas
no
dinamismo social e econômico do
país e não como conseqüência da
influência exercida pelas
tendên-
cias ideológicas de uma minoria
dirigente. A revolução de 1889 foi
um movimento emergido do sub-
conciente nacional, embora as
condições culturais da Nação na-
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA REPUBLICANA 163
quela época não
permitissem a
comparticipação efetiva das mas-
sas populares
nos acontecimen-
tos de que
redundou a proclama-
ção da Republica.
À semelhança do que
ocorrera
em 1822 na crise da Independên-
cia, a República surgiu sem que
o seu advento fosse, mesmo em
parcela muito
pouco considerá-
vel, determinado por
uma atitude
insurreicional do povo.
Êste, con-
forme o testemunho autorizado e
insuspeito de um dos mais pre-
eminentes protagonistas
do 15 de
Novembro,
"assistiu bestializado"
a queda
da monarquia e o nasci-
mento da República. A frase cé-
lebre de Aristides dá Silveira Lo-
bo, bem característica na sua bru-
talidade do temperamento da-
quêle republicano histórico, foi
também uma expressão rigorosa
do espírito de veracidade do seu
autor. E o alcance dá observação
tão melancolicamente pessimista
de Aristides Lobo tem inexcedí-
vel relevância, quando
se procura
interpretar a evolução ulterior da
política republicana. O regime
democrático foi instituído entre
nós sem que
o povo
tivesse com-
partilhado ou
pelo menos se in-
teressado pela grande
metamor-
fose política que
se operava.
O fenômeno mais impressionan-
te que
se depara ao estudioso da
história na primeira
República
encontra a sua chave interpreta-
tiva naquela indiferença, que
con-
tinuou durante quarenta
anos,
mantendo uma separação profun-
da entre o Estado republicano e
as massas da população
brasileira.
A causa desse lato tão desconcer-
tante e cujos efeitos foram de
tanto alcance, encontra-se em unia
circunstância a que já
aludimos
em linhas anteriores. A propa-
ganda republicana verdadeira-
mente eficiente e da qual
a mais
típica exemplificação temo-la no
apostolado jornalístico
de Quin-
tino Bocaiúva, exerceu a sua in-
fluência apenas em certos meios
da elite nacional. E essa propa-
ganda explorou apenas temas de
atualidade prática,
difundindo na-
quêles meios a convicção de
que
uma transformação institucional
poderia solucionar
problemas pre-
mentes da vida da nacionalidade.
Dando assim um cunho pra-
gmatista à sua
propaganda, Quin-
tino Bocaiúva patenteou
os tra-
ços superiores da sua mentalidade
de estadista e a grande
capacida-
de que possuía
como homem de
ação revolucionária. Mas por
outro lado uma propaganda
con-
duzida em tais termos tinha for-
çosamente de deixar a opinião
pú-
blica dirigente sem adequada òri-
entação ideológica, que
lhe per-
mitisse vir a tornar-se um ele-
mento de colaboração conciente
e ativa no momento da organiza-
ção das novas instituições. A cam-
panha demagógica feita
paralela-
mente pelos pregadores populares
da República também não trou-
xe contribuição alguma, no senti-
do de educar o povo
sôbre a natu-
reza do regime que
lhes era apre-
sentado como fórmula de renova-
ção nacional. O leit motiv das
declamações desses propagandis-
tas era invariavelmente a diatri-
be contra a dinastia bragantina e
contra os políticos que
militavam
nos partidos
monárquicos. Êsse
caráter puramente
negativista e
164 CULTURA POLÍTICA
demolidor da evangelização po-
pular da República explica o fe-
nômeno extranho que Aristides
Lobo registou, em palavras
tão ás-
peras, no seu comentário sarcásti-
CO sôbre a atitude do povo
em 15
de Novembro de 1889.
A corrente positivista
destaca-se no nascimento da
República como isolada manifes-
tação de um sentido ideológico
definido, a que
a ausência de fôr-
ças intelectuais
que o contrabalan-
çassem deu um
poderio desmedi-
do naquêle momento histórico. O
núcleo contista, que
representou
papel tão
proeminente na fase
inicial do período
republicano,
era na sua maioria constituído por
oficiais do Exército, sôbre os quais
se exercera a influência educacio-
nal de Benjamin Constant, um
dos primeiros
adeptos da filoso-
fia positivista
no Brasil. Trata-
va-se de uma pleiade
de moços,
alguns dêles de grande
valor in-
telectual e todos equipados por
uma sólida cultura fundamental,
o que
os tornava no momento
uma fôrça, não apenas de orien-
tação espiritual do Exército, co-
mo também de atuação conside-
rável no conjunto da vida nacio-
nal.
O grupo
contista do Exército,
a que
se associavam elementos ci-
vis, cuja insignificância numéri-
ca era compensada pela
autorida-
de cultural e moral que possuíam,
constituía ao tempo da proclama-
ção da República um núcleo de
elite, cujo sólido preparo
cientí-
fico contrastava com o beleletris-
mo superficial que
caracterizava a
grande maioria da classe dirigen-
te do Império. Assim orientados,
os positivistas
estavam natural-
mente predestinados
a impor o
cunho das suas idéias na plasma-
gem das instituições republicanas,
para cujo advento haviam contri-
buído em larga escala como agen-
tes de infiltração republicana nos
quadros do Exército.
Considerada de um modo ge-
ral, a influência do núcleo de dis-
cípulos de Augusto Comte foi be-
néfica, como fôrça orientadora da
evolução da política
republicana.
Realmente, se sob certos pontos
de vista os positivistas
comprome-
teram o vigor dos sentimentos na-
cionalistas, devido ao prestígio que
sôbre eles exerciam utopias hu-
manitárias e ilusões pacifistas,
é
incontestável que
à influência do
positivismo se deve
principalmen-
te terem sido muito atenuadas as
tendências liberais - democráticas
que, sem a ação moderadora da-
quela corrente, teriam
provável-
mente levado o país
ao estabele-
cimento de instituições, em que
se prolongaria
o parlamentarismo
anarquisante da época anterior.
Foram os positivistas que
in-
cutiram na república nascente as
idéias sadias de um autoritarismo
em harmonia com o espírito re-
publicano, autoritarismo
que foi
nos primeiros
anos da nova or-
dem política
fator decisivo da
consolidação do regime e da re-
pressão eficaz das forças anarqui-
santes de todo o gênero.
A elaboração da Cons-
tituição de 1891
realizou-se em condições con-
sideravelmente desfavoráveis ao
êxito de uma obra construtora,
qual a exigiam os interêsses nacio-
nais. Várias circunstâncias con-
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA REPUBLICANA 165
corriam para
crear uma atmosfe-
ra de perturbação
espiritual em
torno do trabalho de organização
das novas instituições.
O primeiro
dêles era a ausência
de um preparo prévio
de nature-
za ideológica, a que já
nos refe-
rimos anteriormente. A propa-
ganda republicana não tivera o
aspecto de uma obra educacional
da elite do país, por
forma a tor-
ná-la capaz e colaborar concien-
temente na elaboração de um es-
tatuto político
consentâneo com as
exigências da realidade nacional.
Outra causa de confusão ainda
mais grave
era a influência exer-
cida pelos
elementos monárquicos
que aderiram em massa ao regi-
me triunfante em 15 de Novem-
bro. De certo modo essas ade-
sões foram úteis e poder-se-ia
mes-
mo dizer providenciais, porque
sem elas a alta direção do país
fi-
caria desamparada de elementos
eficientes, que
somente em núme-
ro muito exiguo poderiam
ser en-
contrados nos quadros
do chama-
do republicanismo histórico. Mas
embora úteis senão mesmo indis-
pensáveis sob êsse
ponto de vista,
os adesistas formavam uma cor-
rente perturbadora
da atmosfera
política, no tocante à organiza-
ção institucional a
que se ia
pro-
ceder. Eram homens viciados e
deformados pelos processos
da po-
lítica eleitoral que
o Império en-
tretivera, no seu esforço para
acli-
matar no Brasil instituições in-
compatíveis com as realidades do
nosso ambiente social.
Além disso essa gente, profun-
damente impregnada do demago-
gismo inerente ao eleitoralismo,
tendia, em obediência à inclina-
ção habitual de todos os converti-
dos ao extremismo nas suas novas
idéias, a tornar-se propugnadora
de excessos em matéria de auto-
nomia provincial,
afim de lison-
jear o espírito federalista,
por tô-
da a parte
surgido como reação
contra os processos
centralizado-
res do regime decaído. Um caso
típico do que
acabamos de assina-
lar foi o do velho Saraiva, que
eleito para
a Constituinte como
representante da Baía, tornou-se
naquela assembléia expoente de
um federalismo tão desbragado,
que se incompatibilizou com o
novo ambiente parlamentar,
ao
ponto de ser relegado a uma obs-
curidade melancólica e quasi
hu-
milhante.
O perigo
de uma confusão anar-
quisante na marcha dos trabalhos
da Constituinte reunida em 1890
não era atenuado pela
falta de au-
toridade moral das credenciais
eleitorais dos seus membros. O
pleito em
que foram eleitos os
constituintes em 15 de Setembro
de 1890 realizara-se de acôrdo com
as normas prescritas
em um re-
gulamento expedido
pelo minis-
tro do Interior, Cesário Alvim, e
no qual
aquêle antigo político
li-
beral, passado para
as fileiras re-
publicanas na última sessão da
Câmara dos Deputados do Impé-
rio, aplicara às primeiras
eleições
do novo regime métodos calca-
dos na tradição monárquica da
fraude eleitoral.
A Constituinte eleita em tais
condições inaugurava o regime,
dando ao povo
a certeza de que,
em matéria de eleições pelo
me-
nos, o 15 de Novembro nenhuma
modificação trouxera aos nossos
costumes políticos.
CULTURA POLÍTICA
Rui Barbosa e Júlio
de Castilhos
aparecem na elaboração da
Constituição de 1891 como expo-
entes de duas correntes que
se
defrontariam na evolução da po-
lítica republicana, até o momen-
to da revolução nacional de 1930.
Rui Barbosa, com uma cultura
fortemente impregnada do espí-
rito jurídico
e integrado pela
sua
formação intelectual nas idéias do
democratismo anglo-saxônio, é a
figura representativa de tendên-
cias liberais democráticas desloca-
das da realidade nacional e exis-
tentes apenas no plano
subjetivo
de concepções doutrinárias aprio-
rísticas e puramente
teóricas. Jú-
lio de Castilhos, a única figura
verdadeiramente grande
de esta-
dista e pensador político
surgida
na fase inicial do ciclo republi-
cano, é o expoente de um concei-
to realista dos problemas
nacio-
nais e de uma organização esta-
tal, calcada não em abstrações e
postulados puramente jurídicos,
mas na apreciação objetiva das
condições sociais e políticas
do
meio brasileiro.
As coiídições políticas
e cultu-
rais que predominavam
na atmos-
fera da Nação, ao reunir-se a as-
sembléia que
elaborou a Consti-
tuição de 1891, eram infelizmente
muito mais propícias
à prepon-
derância das idéias de Rui Bar-
bosa, ainda quando
êste não pos-
suísse para
ampará-las os recursos
«excepcionais de um extraordiná-
rio poder
de expressão verbal. O
Brasil de 1891, conservando os úl-
cimos vestígios das taras coimbres-
cas e nutrido espiritualmente ape-
nas pela
cultura superficial, que
o beleletrismo e o arcaismo filo-
sófico e jurídico
ainda mal abala-
do pelos golpes
de Tobias Barre-
to haviam entretido durante o Im-
pério, não se achava
preparado
para plasmar as suas novas insM-
tuições nas linhas que
lhe teriam
sido dadas, se a Júlio
de Castilhos
houvesse cabido a direção do tra-
balho de elaboração constitucio-
nal.
Os pontos
de partida
da
evolução política
vieram a ser portanto
os pos-
tulados decorrentes da influên-
cia simultânea do liberalismo her-
dado da monarquia e do federa-
lismo imposto pelas
reivindica-
ções das
províncias, empolgadas
por um movimento de reação
contra o excessivo sistema centra-
lizador do regime decaído. Desen-
volvimento exorbitante da auto-
nomia concedida aos Estados e sa-
crifício dos interêsses da coletivi-
dade em proveito
do indivíduo
teriam de caracterizar a marcha
da política
republicana, até que
os inconvenientes e os perigos
des-
sa orientação creassem fôrças de
reação da conciência nacional, ca-
pazes de alterar o rumo históri-
co, como aconteceu afinal com a
revolução de 1930.
Durante a fase de consolidação
da República aquelas fôrças de
ação centrífuga que
tendiam a
afrouxar os vínculos da unidade
nacional e a enfraquecer o Esta-
do, diminuindo-lhe a autoridade
e o prestígio
e tornando-o inca-
paz de enfrentar os
problemas
práticos que se apresentavam, fo-
ram felizmente contidas pela
in-
tervenção do poder
militar. Nês-
se caso temos um dêsses exemplos
evolução da política republicana167
do próprio
mal tornar-se um fa-
tor de resultados benéficos.
Houvesse prosseguido o traba-
lho de consolidação e adaptação
•do regime em um ambiente de
normalidade e
provavelmente as
íòrças desintegradoras do federa-
lismo e da demagogia animada
pelos excessos do liberalismo do
estatuto de 1891, teriam chegado
a extremos capazes de determinar
.efeitos irremediáveis. Mas as lu-
tas suscitadas pelo
choque das
paixões facciosas das ambições in-
dividuais, a que
se associaram ma-
nobras do impenitente saudosis-
mo monárquico, deram lugar a
situações de grave perturbação.
Em face destas o poder
central,
que ainda apresentava naquela
•época uma fisionomia acentuada-
mente militar, viu-se obrigado a
adotar medidas, que
redundaram
cm um controle dos Estados pela
autoridade nacional e em prolon-
gadas suspensões das
garantias
com que
a Constituição protegia
e estimulava excessos de liberalis-
mo individualista.
Assim a Nação pôde
atravessar
um período
extremamente crítico,
r indo a emergir dele com a ma-
nutenção íntegra da sua unidade
e sem ter sofrido profundos
aba-
los sociais, econômicos e políti-
cos causados pelos
desmandos da
demagogia. Quando
em 15 de
Novembro de 1894 Floriano en-
tregou ao primeiro presidente
ci-
vil, Prudente de Morais, a presi-
dência cia República, o Brasil
não somente mantinha em condi-
ções de
perfeita solidez a sua es-
trutura nacional, como sofrerá
muito menos que
se poderia
espe-
rar os efeitos das lutas facciosas
e da guerra
civil. O Exército,
que com a
proclamaçâo da Repú-
blica salvara o país
dos mais gra-
ves perigos,
completara a sua obra
restringindo os excessos possíveis
do federalismo e impedindo que
uma onda de demagogia anarqui-
sante avassalasse a Nação.
A importância da função exer-
cida por
um govêrno
forte, con-
tando implicitamente com o apôio
da força armada, patenteou-se
lo-
go no
primeiro quatriênio subse-
quente ao encerramento do man-
dato de Floriano. O primeiro
presidente civil, apesar de haver
revelado grandes qualidades
e in-
discutível espírito de patriotismo,
mostrou-se desde logo incapaz de
impedir a recrudescência da agi-
tacão, recalcada e esmagada pela
energia do seu predecessor.
E se
circunstâncias felizes ligadas
^
a
atitude disciplinada e patriótica
das forças armadas permitiram
a
Prudente de Morais levar a termo
o seu govêrno,
a maneira como
ocorreu a agitação em tôrno da
sua sucessão poz
em relêvo sinais
inequívocos de uma perigosa
acentuação dos regionalismos, que
ameaçavam transformar o sistema
federativo da Constituição de
1891 em uma verdadeira confe-
deração de Estados quasi
indepen-
dentes.
A fragmentação
da per-
sonalidade política
da Nação,
que Floriano mantivera coesa
através das vicissitudes do seu agi-
tado govêrno,
começou a operar-
se logo no início da presidência
Prudente de Morais. Alguns dos
mais esclarecidos e patrióticos
che-
fes republicanos, como Quintino
Bocaiúva, Campos Sales, Francis-
168 CULTURA POLÍTICA
co Glicério, Júlio
de Castilhos e
outros, compreenderam a necessi-
dade de coordenar a política
na-
cional em uma organização disci-
plinada e centralizada. Daí a for-
mação do Partido Republicano
Federal, que
constituiu o primei-
ro esforço unificador, cuja verda-
deira finalidade era restringir as
tendências centrífugas dos regio-
nalismos exaltados.
As condições políticas
do país
já se caracterizavam
porém de
modo tão acentuado, no sentido
de uma expansão cada vez maior
das autonomias estaduais e do
predomínio dos regionalismos,
que aquêle
partido, em vez de ser-
vir para
os objetivos coordenado-
res visados pelos que
o haviam
fundado, tornou-se uma demons-
tração impressionante do perigo
da dissolução política
da Nação.
As 21 bancadas que
até o tercei-
ro ano da presidência
Prudente
de Morais representavam as fôr-
ças políticas confiadas* à leaderan-
ça hábil de Francisco Glicério, re-
fletiam outros tantos núcleos dês-
se espírito regionalista, que
sò-
mente viria a ser definitivamente
vencido mais de quarenta
anos
depois pela
instituição do Estado
Nacional.
A sucessão de Prudente de Mo-
rais, precedida por
uma das mais
vivas agitações parlamentares
e
jornalísticas da
primeira Repú-
blica, realizou-se em linhas incon-
fundivelmente indicadoras do par-
celamento da política,
segundo as
configurações dos interêsses esta-
duais. Os efeitos da luta que
ha-
via chegando ao ponto
de justifi-
car as mais vivas apreensões de
um retôrno ao período
da guerra
civil, foram contudo neutraliza-
dos pela
intercorrência de um epi-
sódio, que
impressionou profun-
damente toda a Nação. Em prin-
cípios de 1898 as dificuldades fi-
nanceiras resultantes em parte
das
despesas extraordinárias acarreta-
das pelos
acontecimentos dos anos
anteriores, mas sobretudo deter-
minadas pelas
flutuações cambiais
promanadas do abalo do crédito
e dos primeiros
sinais de declínio
nas cotações do café crearam uma
situação insustentável para
o Te-
souro.
As diferenças de câmbio passa-
ram a avultar em proporções
as-
sustadoras no conjunto das despe-
zas da República, tornando pra-
ticamente impossível à manuten-
ção dos
pagamentos relativos à
nossa dívida externa. O primei-
ro funding
negociado pelo
minis-
tro da Fazenda Bernardino de
Campos foi a única solução pos-
sível para
um problema, que
só
apresentava como alternativa uma
desastrosa confissão de falência. A
concordata porém
não era para
o
orgulho nacional muito menos
humilhante que
o descalabro in-
tegral do nosso crédito. Os ad-
versários do regime republicano
exploravam a situação e a opi-
nião pública
manifestava o seu
profundo desapontamento diante
do que
acontecera. Entretanto o
espírito da Nação não se abateu e
a conciência da necessidade de re-
erguer a todo o transe o crédito
do Brasil fez com que
se esqueces-
sem as amarguras da recente luta
política, formando-se uma unani-
midade de apôio ao novo Presi-
dente, que
teria de cumprir os
termos do acôrdo firmado com os
nossos credores externos.
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA REPUBLICANA 160
A política
dos
gotfcrnadores
ií
As circunstâncias em que
Cam-
pos Sales assumiu a
presidência da
República não iludiram entretan-
to o arguto homem de Estado, que
tomava conta do govêrno
onera-
do por
tão tremendas responsabi-
1 idades. Bem sabia êle que
os
elementos descontentes, cuja co-
ordenação já
vinha sendo manho-
samente tentada pelos poucos
mas tenazes sobreviventes do mo-
narquismo, dificilmente deixa-
riam de crear ao seu govêrno
di-
ficuldades capazes de tornar in-
viável a obra de restauração fi-
nanceira, para
a qual
obtivera a
colaboração eficiente de Joaquim
Murtinho. A necessidade de as-
segurar não apenas a estabilidade
da ordem pública,
mas uma tran-
quilidade política que permitisse
ao govêrno
contar implicitamente
com o apoio do Congresso, indu-
ziu Campos Sales a dar um pas-
so, que
veiu a ter conseqüências
de grande
envergadura na mar-
cha ulterior da política
repübli-
cana.
Firmando entre o executivo fe-
deral e os governadores
das uni-
dades federativas um pacto
de so-
lidariedade, nos termos do qual
cada governador
se tornava o ar-
bitro da política
do seu Estado,
comprometendo-se em troca a ga-
rantir ao Presidente da Repúbli-
ca o apôio incondicional das suas
bancadas na Câmara e no Sena-
do, Campos Sales realizou na evo-
lução da política
' republicana o
primeiro ato orientado no senti-
do de coordenar e unificar poli-
ticamente o Brasil. Nenhum epi-
sódio da história da primeira
Re-
pública foi mais discutido e con-
trovertido que
a organização da
política dos
governadores. A cri-
tica dos que
divergiam da atitu-
de de Campos Sales insistiu prin-
cipalmente sobre o tema de que
aquele estadista, formando o blo-
co dos chefes das unidades fede-
rativas, fortalecera as oligarquias
regionais e conferira ao Presi-
dente da República um poder
in-
contrastável, que
se apontava co-
mo incompatível com o espírito
do regime e a própria
letra do
seu estatuto fundamental. Ou-
tros viram na política
dos gover-
nadores apenas um expediente
ocasional, que
se poderia justifi-
car pela premência
dos proble-
mas que
assoberbavam então o go-
vêrno federal e para
cujo encami-
nhamento satisfatório se tornava
imprescindível afastar possibilida-
des de qualquer
agitação parla-
mentar.
Há nessas críticas um fundo de
indiscutível verdade. Com a po-
lítica dos- governadores
Campos
Sales estabeleceu um sistema ba-
seado no poder
verdadeiramente
absoluto dos situacionismos esta-
duais, que
eram as expressões das
oligarquias dominadoras nas anti-
gas províncias. E é também fora
de dúvida que
o poder presiden-
ciai, contando com a colaboração
incondicional dos satrapas esta-
duais, adquiria estabilidade e pro-
porções, que necessariamente vi-
riam abrir-lhe novas perspectivas
de predomínio.
Nem é também
possível contestar
que o motivo
principal e imediato da iniciativa
de Campos Sales tenha sido a com-
preensão da imperativa necessida-
de de assegurar ao seu govêrno
plena liberdade de ação no
pros-
seguimento de uma política
finan-
170CULTURA POLÍTICA
ceira, envolvendo medidas drás-
ticas e que
iriam ferir os mais di-
versos interesses.
Mas uma vez admitido tudo is-
so, parece-me
ainda justo
apreciar
a política
dos governadores
de um
ponto de vista histórico mais ele-
vado. Paralelamente às conveni-
£nc«as da administração financei-
ra, que
em uma fase tão crítica se-
riam certamente atendidas pela
coesão disciplinada e dócil das re-
presentações no Congresso, aque-
ia política,
fortalecendo o poder
presidencial em uma escala sem
precedente desde o encerramento
<lo período
da guerra
civil, vinha
crear o primeiro
elemento de re-
ação eficaz contra as forças centrí-
fugas dos regionalismos dissolven-
tes. Encarada por
êste prisma
a
política dos
governadores de Cam-
pos Sales marca o
ponto de
par-
tida de um movimento centraliza-
dor, a princípio quasi
imperce-
ptível e titubeante, mas
que se
foi progressivamente
definindo,
até concretizar-se na ação orgâ-
nica desenvolvida pelo
Presidente
Getulio Vargas desde a revolução
de 1930, para
culminar enfim nas
«configurações do Estado Nacional
de 1937.
E quando
se considera a obra
«de Campos Sales, levando em con-
ta as tendências nacionalistas e o
espírito de brasilidade daquele
grande estadista republicano, não
é possível
evitar-se pelo
menos a
hipótese de que,
entre as razões
•da sua política
unificadora, ti-
vesse entrado o pensamento
de en-
cetar uma reação contra as forças
dissolventes de ura federalismo
mal compreendido e desvirtuado.
A campanha civilista
veio dez anos após o início do
movimento de consolidação do
poder presidencial, cujo
ponto de
partida fôra a
política dos
gover-
nadores de Campos Sales, impri-
mir uma fisionomia nova à evo-
lução do regime instituído em
1891. Durante os primeiros
vinte
anos de existência das instituições
republicanas, as forças políticas
em ação tinham atuado quasi
ex-
clusivamente dentro da órbita
traçada pelas
configurações de um
sistema inconfundivelmente oli-
gárquico. Era a organização do
Império continuada com as for-
mas exteriores do estilo democrá-
tico. O povo
não atuava na mar-
cha dos acontecimentos, senão pe-
lo reflexo que
as opiniões entre
ele elaboradas iam ter nos círculos
detentores do monopólio da dire-
çáo dos negócios
públicos.
Êste sistema, por
mais contra-
ditório que
fosse à doutrina do
regime republicano, tal qual
êle
se organizara nos termos da Cons-
tituição de 1891, era entretanto
um resultado natural das condi-
ções que realmente se apresenta-
vam no meio brasileiro. E se por-
ventura é possível
alegar que
do
afastamento das massas populares
da política
redundava o atrazo na
educação cívica das mesmas, por
outro lado é indiscutível que
na
prática o monopólio oligárquico
não acarretou resultado aprecia-
velmente desvantajosos e permi-
tiu mesmo que
evitássemos situa-
ções mais ou
•menos anárquicas,
patenteadas no desenvolvimento
histórico de outras nações do nos-
so continente. Rui Barbosa, com
os formidáveis recursos que
a
sua eloqüência e extraordinário
EVOLUÇÃO DA POLÍTICA REPUBLICANA 171
poder de expressão verbal lhe con-
feriam, creou em torno da sua
•candidatura à presidência
em 1909
uma agitação até então sem pre-
cedente na história republicana.
As massas populares
foram
atraídas por aquela campanha a
uma intervenção na marcha da
política, em escala muito maior
que a verificada em episódios ana-
logos do ciclo imperial. Nem a
agitação que precedeu o encerra-
mento dramático do reinado de
Pedro I, nem a campanha aboli-
cionista e a propaganda
da Repú-
blica extenderam as atividades de-
magógicas a um círculo tão vas-
to de elementos populares.
Com êsse deslocamento da po-
lítica para
o plano
de uma de-
tnagogia de vastas proporções,
a
evolução do regime passou
a com-
plicar-se por forma a tornar ex-
tremamente difícil o prossegui-
mento natural e lógico da marcha
progressiva pela qual se vinha
encaminhando a ordem republica-
na. Daí em diante a consolida-
cão do poder presidencial, que
na
lógica do presidencialismo
da
Constituição de 1891 e sob a pres-
são de imperativos da realidade
nacional se vinha acentuando
desde a presidência
Campos Sales,
passou a
processar-se em uma at-
mosfera sobrecarregada de pai-
xões populares
e sempre propícia
a todas as maquinações demagó-
gicas. O tato dos
políticos que
solucionaram o caso da . sucessão
do marechal Hermes da Fonseca
impediu a reprodução no qua-
driênio imediato de uma crise
idêntica à que
Rui Barbosa defla-
grara. A circunstância especialís-
sima da sucessão Wencesláu Braz
ter lugar durante a guerra
euro-
péia e
quando o Brasil
já se acha-
va envolvido no conflito interna-
cional afastou também a possibi-
lidade de uma análoga luta po-
lítica.
A segunda tentativa de Rui não
conseguiu tornar o pleito,
em que
saiu vitorioso o nome de Epi-
tácio Pessoa, uma repetição do
que se
passara dez anos antes.
Mas dois anos depois o problema
da sucessão delineou-se em condi-
ções particularmente críticas,
que
evidenciaram como se tornara
complexa a política
republicana,
deixando perceber
as perspectivas
de uma inevitável e próxima
mu-
tação histórica. Já
não se trata-
va apenas de agitação demagógi-
ca creada pela
influência domina-
dora de uma grande personalida-
de, excepcionalmente dotada pa-
ra agitar e fazer vibrar intensa-
mente a alma das multidões.
Eram os problemas
fundamentais
do Brasil que
começavam a im-
por-se à Nação, exigindo um re-
ajustamento institucional, que
não poderia
ser adiado por
muito
tempo. Os defeitos insanáveis do
regime estabelecido em 1891 tor-
navam-se patentes
à Nação, a
princípio iludida
pela idéia de se-
rem os males de que
se queixava
resultantes da aplicação defeituo-
sa da Constituição vigente, mas
convencida pouco
a pouco
de que
a reforma imperiosamente recla-
mada teria de atingir a própria
estrutura daquela organização
constitucional.
A revolução de 1930
ponto culminante da série de
perturbações que acidentaram os
últimos oito anos da primeira
Re-
pública, foi a expressão ainda mal
172 CULTURA POLÍTICA
definida das aspirações nacionais,
no sentido de uma transformação
radical da ordem política
manti-
da durante quarenta
anos. A co-
incidência daquela grande
crise
de mutação histórica com o mo-
mento em que
se acentuavam em
outros países
as manifestações da
reação de um espírito novo con-
tra a democracia liberal, cujo fra-
casso universal ia sendo gradual-
mente reconhecido, imprimiu à
revolução brasileira um aspecto
peculiar.
Uma inevitável confusão ideo-
lógica caracterizou o movimento
de Outubro, cujo ímpeto propul-
sor seguia apenas o rumo traçado
pela quasi unanimidade
que se
formara em tôrno do reconheci-
mento implícito da necessidade de
uma reforma política
radical. A
personalidade do Presidente Ge-
túlio Vargas, providencialmente
surgida como centro de direção e
coordenação desse movimento re-
novador, impediu a anarquia po-
lítica, que
sem a intervenção dês-
se predestinado
chefe nacional te-
ria sido inevitável.
Personificando os sentimentos,
as aspirações e a vontade do Bra-
sil como nenhum outro homem
de Estado o fez em toda a nossa
história, o chefe da revolução de
1930 tornou-se o mandatário da
Nação para
executar a obra de
reorganização, que
deveria cons-
ti tu ir o empreendimento a ser le-
vado na última etapa da evolu-
ção da
política republicana. A
influência do chefe nacional des-
pertou no
povo forças de ação cí-
vica, com as quais
êle pôde pias-
mar instituições novas, chegando
na lógica dêsse processo
evoluti-
vo ao coroamento da obra reno-
vadora com a Constituição de 10
de Novembro de 1937* Dentro
das configurações do Estado Na-
cional, a política
republicana se-
guirá o curso da sua marcha
pro-
gressiva sem sobressaltos e sem
afastar-se das linhas traçadas pe-
Ias realidades históricas e atuais,
em uma adaptação evolutiva às
situações e aos problemas
novos
que forem surgindo.
Nêstcs dez oitos do lotos políticos polo estobilizoçõo dos
conquistos o concretização dos aspirações revolucionários do
1930, tom sido o Presidente Getulio Vorgos o pensomoitfo
diretor e inspirador do nosso vido público, o móis ativo dou-
trinedor do novo Estado Brasileiro, o que moior oco o com-
preensõo tem encontrado em todos os comodos populores
do país.
Em sues polovros e, oindo móis, em sues oções, teem-se
refletido aspirações profundos do povo brasileiro, em seus
ideeis de paz o de concórdia, de tolerância o de equilíbrio,
de fórça o de branduro, de respeito oo trabolho o de «mor
eo homem e à terra.
Definir e interpretar esse pensamento, esclarecê-lo sob
todos os aspectos, é o finalidade desta seção — que viso,
com isso, um esclarecimento o uma interpretação dos pró-
prios rumos políticos brasileiros, que nele se toem espelhado
em seus momentos mais significativos.
O escritor que se incumbe da análise de hoje, é um
historiador de nome, autor de "No
Tempo do Floria no"
(Rio, 1940), "História
do Fortaleza de Santa Cruz" (Bi-
blioteco Militar, Rio, 1941), "Aspectos
históricos do Estodo
Novo" (Rio, 1940) — o que, destacando em trecho ezpressivo
de "A
Novo Político do Brasil", demonstro como o pensamento
do Presidente se integrou no ritmo dos tradições políticos do
Brasil, de cujo sentido êle se fez intérprete, em benefício da
unidade nacional.
Tradição política
do principio
de unidade nacional
SÍLVIO PEIXOTO
"A nova Constituição, colocando a realidade acima dos for-
malismos jurídicos, guarda
fidelidade às nossas tradições e
mantém a coesão nacional, com a paz
necessária ao desen-
volvimento orgânico de tôdas as energias do país".
Getulio Vargas —
A Nova Política do
Brasil, Vol. V, pag.
114.
NAO
SE IMPROVIZAM mo-
mentos ria vida dos povos.
Nem na História, na lenta e
impassível sucessão dos fatos, con-
cederia ao espírito humano o ar-
bítrio de criar situações em que
ele agisse como única fôrça deter-
minante.
Xanto os fatos culminantes da
vida social, como os homens que,
pela sua
genialidade, os represen-
tam, são surpresas que
só se ex-
plicariam com apelos ao misté-
rio e a forças extra-humanas.
Os espíritos que
se habituaram
a pesquisar
as origens das causas e
dos fatos, sabem que
tanto os cha-
mados momentos decisivos, como
os homens que
representam esses
instantes definitivos da humani-
dade, foram demoradamente pre-
parados, resultaram de um longo
processo de cristalização histó-
rica.
Não se pense que
essa concepção
que tudo subordina à
justas deter-
minantes, possa
destruir o prestí-
gio que as
grandes datas, ou os
homens representativos, exercem
sôbre a psicologia
das multidões.
Recursos da própria
história
Êsse processo
de investigação e
análise, na serenidade de seu jul-
gamento, como
que engrandece a
própria condição humana. Êle
nos ensina, assim, que
os aspectos
mais emocionantes da vida social,
quer se traduzam em fatos ou em
gestos humanos,
podem ser expli-
cados com recursos de nossa pró-
pria história, sem a necessidade de
176 CULTURA POLÍTICA
apelos a elementos estranhos aos
milagres de nossa inteligência.
Basta recompor paisagens
vis-
tas, recordar caminhos já per-
corridos, reencontrar o fio do pas-
sado, para que
sintamos esclare-
cido todo mistério da ação pre-
sente que
nos envolve e nos sur-
preende.
O Estado Nacional e o estadis-
ta que
assumiu a responsabilida-
de de sua criação, não foram um
fato gratuito
na história do nos-
so país.
Muito pelo
contrário, re-
presentam uma dádiva do
passa-
do feita ao presente
do Brasil.
Dos tempos remotos da
Inconfidência
Mineira
As angústias e as inquietações,
os sobressaltos e as impaciências
que temos vivido desde a revolu-
ção de 1930, até Novembro de
37,
não foram mais do que
forças
componentes de uma paisagem
so-
ciai que já
se delineara desde os
tempos remotos da Inconfidência
Mineira.
Nos primitivos
anseios de eman-
cipação nativista, quando
clarea-
vam nos horizontes de nossa his-
tória os primeiros
relâmpagos de
liberdade, fugidios, mas anun-
ciando, na sua rapidez, tempesta-
des que
não viriam longe, tal co-
mo se escrevia na legenda herói-
ca
"Libertas
quae sera tamen",
já
insinuavam que
no solo pátrio
estavam se arraigando as primei-
ras raízes do Estado Nacional.
Talvez a expressão — Estado
Nacional —
pareça um
pouco pre-
cipitada para
designar a concreti-
zação dêsses idealismos nativis-
tas. Mas isso só acontecerá aos
observadores demasiadamente afei-
çoados aos rótulos
jurídicos com
que o Direito Constitucional cos-
tuma designar as realidades so-
ciais. Como quer que
seja, aquê-
les movimentos já
denunciavam a
eclosão de uma conciência nacio-
nal que,
mais tarde, haveria de se
cristalizar na forma de govêrno
que hoje serve ao
país.
Reduzida a uma inconsistente
e pueril,
contenda de vocábulos
— Estado, Conciência
— temos
que a nossa situação
política de
hoje, realiza objetivamente o sub-
jetivismo libertário dos Inconfi-
dentes, e se recuarmos um pouco
mais, de todos os movimentos na-
tivistas que
ficaram anônimos, ou
esquecidos no registro da nossa
história.
De qualquer
maneira, o que
im-
porta é o caráter nacional
que ês-
ses movimentos já
revelavam e
que foram amplamente consubs-
tanciados em normas de govêrno,
pela vocação
política do Presi-
dente Vargas.
O sentido representativo
do Estado Novo
Acorde que
foi com o passado
político da nação, o Estado Na-
cional não representou uma vio-
lência imposta às tradições e ao
idealismo social da América. Si
na ordem interna êle representa
uma cristalização de tendências,
na ordem externa significa afir-
mação dos propósitos
de paz
e
equilíbrio social que
animaram
sempre as jovens
repúblicas do
Continente.
Atravessámos uma fase aguda,
em que
a unidade da Pátria amea-
çava destruir-se, em
que a infil-
tração de ideologias orientadas
para à agressão e a rapinagem in-
\
O PENSAMENTO POLÍTICO DO CHEFE DO GOVÊRNO
ternacional lançava os
germes da
dissolução e do terror no seio da
comunidade nacional, quando
surgiu, como um imperativo de
sobrevivência, uma fatalidade a
que não
poderíamos fugir, sob
pe-
na de vermos destruídas a nossa
soberania, nossa independência e
nossas liberdades — o Estado Na-
cional.
Realizando a concentração da
autoridade e do
poder público na
figura do primeiro
magistrado da
nação, o novo regime antecipava,
num mundo em desordem, a úni*
ca fórmula possível
de salvação da
ordem democrática. Nunca se
fastou do conteúdo jurídico
do
Estado Novo o sentido social da
Democracia, que é, em última
análise, a própria
vocação políti-
ca da América.
Evitando aqui a implantação
dos regimes de compressão totali-
tária, dos sistemas de ditaduras
de partidos,
o Estado Nacional
conjurou os fantasmas da servidão
è da desordem, reintegrando-nos
na paz,
no tradicionalismo e na
fraternidade da América.
Foi assim o nosso atual sistema
de govêrno
uma reafirmação da
ordem nacionalista do Brasil na
ordem continental da América.
Vitória do espirito
de autonomia
O Sete de Setembro, assinalan-
do a data de nossa emancipação
política, representa a vitória mais
expressiva do nosso espírito de au-
tonomia.
Toda a história do Brasil, pro-
cessada em sentido anterior a essa
data, não é mais do que
a luta pela
conquista de nossa soberania. E'
o ciclo formidável e heróico das
revoluções nativistas, tangencian-
do todas as Províncias em que
se
alastravam, unificando-as sôbre o
domínio de uma fôrça espiritual
que era
quasi uma mística: a de
que era necessário
proclamar-se
nossa Independência. E' um ca-
pítulo ainda a se escrever, na nos-
sa história, o da influência dessas
revoluções como força unificadora
do país.
Foi a compreensão da
Independência e o sentimento
profundo de sua necessidade,
que
nos deram o sentido unitário da
nacionalidade.
Depois do Sete de Setembro, a
nossa atitude histórica passou
a
ser outra: a de defesa intransigen-
te do bem alcançado com o Grito
do Ipiranga. Todo o nosso esfôr-
ço passou então a se orientar no
sentido de manter intacta a uni-
dade nacional, ora atravessando
a fase de sua consolidação, ora
vivendo os momentos angustiosos
de sua defesa.
As raízes do Instituto
Jurídico
Tanto no ciclo das revoluções
nativistas, como na fase que
se
abriu com o advento da Indepen-
dência, o analista menos apressa-
do de nossas realidades sociais,
poderá encontrar as raízes mais
longínquas do instituto jurídico
que, sob a exata designação de Es-
tado Nacional, consubstância a vi-
da política
da nação.
No ciclo das revoluções nativis-
tas predominou
o sentido de au-
tonomia nacional, que
é o mesmo
que se expressa, nos dias corren-
tes, na necessidade de afirmar, pe-
remptoriamente, a intangibilida-
de de nossa soberania.
Na fase que
sucedeu ao Sete de
178 CULTURA POLÍTICA
Setembro o pensamento predomi-
nante nas elites que
nos dirigiam
foi o de consolidar a vitória do es-
pírito de soberania, tornando ca-
da vez mais sensível e mais palpi-
tante o sentido de nossa unidade
política .
A necessidade dessa política
unitária foi a que
determinou,
em Novembro de 37, quando
o
país atravessava uma fase
perigo-
sa de desagregação, o aparecimen-
to do Estado Nacional, como úni-
co recurso de manter, pelo
mila-
gre da centralização do
poder, in-
destrutível o destino da naciona-
lidade.
Encontram-se, assim, no tempo
e no espaço, as duas constantes
fundamentais de nossa vocação
política: Autonomia e Unidade.
O caminho à desagregação
Quando a Côrte
poz em dúvi-
da a lealdade de D. Pedro, o seu
primeiro cuidado, fora isolar do
Rio de Janeiro
as demais Provin-
cias, subordinando-as, política
e
administrativamente, à Lisboa.
Si essa medida visava diminuir o
poder de D. Pedro,
que ficava,
assim, reduzido à condições de
Capitão-Mor do Rio de Janeiro,
não há negar que
ela repercutiria
de maneira mais profunda
no or-
ganismo nacional: à desagrega-
ção seríamos fatalmente conduzi-
dos pelo
ato de D. João
VI.
O comentário que
essa atitude
comporta sugere conclusões edi-
ficantes, às quais
não podemos
ser indiferentes. A mais grave
de
todas, é a que
demonstra como a
quebra da unidade nacional e
conseqüente desagregação inter-
na, era o primeiro
objetivo a ser
considerado pelos que,
no exte-
rior, tentavam e planejavam
a
nossa servidão política.
O retorno à unidade
A conciência dessa verdade não
passou em brancas nuvens ante os
olhos prescutadores
e sábios de
José Bonifácio. Tanto assim
que
êle, que
foi a alma suprema da
campanha emanei padora,
o Pa-
triarca da Independência, logo
após o Fico, aconselhou D. Pedro
a convocar um Conselho de Pro-
curadores-Gerais das Províncias
do Brasil, o que
foi feito por
de-
creto de 16 de Fevereiro de 1882.
Voltaram, dessa forma, a se con-
gregar as nossas Províncias, devi-
do à percepção política
do anima-
dor genial
da Independência.
Era o retorno à unidade.
Para consolidar essa volta, foi
ainda, sob a inspiração do Patriar-
ca, que,
a 21 de Fevereiro do mes-
mo ano, D. Pedro ordenava que
lei alguma de Lisboa fosse exe-
cutada no Brasil, sem o Cumpra-
se do Príncipe-Regente.
Afirmava-se, nessa atitude, com
propositada veemência, a inten-
ção de
jugular a influência dis-
solvente do Reino.
O novo ato, respondendo a D.
João VI, conduzia o
govêrno do
Príncipe Regente ao único cami-
nho que permitiria
a vitória do
espírito emaneipador.
Fora da disciplina da unidade,
violado o seu ritmo, não nos res-
taria, sinão a condição de país
sub-colonial. Essa degradação só
poderia ser conjurada, si nos man-
tivéssemos unos, disciplinados sob
as ordens do poder
central, bem
longe do divórcio a que,
solerte-
mente, nos quiz
arrastar D.
João VI.
#
O PENSAMENTO POLÍTICO DO CHEFE DO GOVERNO 179
O ato do Príncipe-Regente con-
vocando uma Constituinte Brasi-
leira, a 3
de Junho
de 1822, inse-
re-se ainda entre as medidas acon-
selhadas por José Bonifácio
para
manter, com vitalidade, o prínci-
pio de coordenação unitária do
país.
4
Tríplice da unidade
nacional
Como forças que prepararam
a
Independência é preciso, pois,
a
essa altura, julgar
e definir os tres
atos a que
acima nos referimos: a
ordenação de que
nenhuma lei
portuguesa fosse cumprida no
Brasil sem a referenda do Prínci-
pe Regente, a convocação do Con-
3elho de Procuradores Gerais das
Províncias e a convocação da
Constituinte Brasileira. Êsses tres
atos, bem que
deveriam passar
à
História, com a designação de
Tríplice da Unidade Nacional.
Já então
poderíamos considerar
vitoriosa a idéia emaneipadora.
A circunstância do Sete de Se-
tembro tem, dessa forma, um ca-
ráter meramente adjetivo: fala
mais a ordem cronológica da His-
tória do que
ao seu sentido poli-
tico e à sua interpretação social.
Os atos de D. Pedro pelos quais
declarava inimigos todas as tropas
que, de Portugal ou de
qualquer
outra nação, desembarcassem no
Brasil, (Decreto
de i.° de Agosto
de 1822) e o Manifesto dirigido
aos Governos e aos países
amigos,
oferecendo oportunidade para
com êles estabelecer relações de
amizade, e declarando ainda con-
tinuarem abertos ao comércio do
mundo os portos
do Brasil (6
de
Agosto de 1822), são iniludivel-
mente atos de uma nação sobera-
na, nobremente integrada na pos-
se de seu govêrno
e na conciência
de sua independência.
Orientações tradiciona-
listas da política
imperial
Só agora, já
decorrido tanto
tempo, durante o qual
tem sido
tão fecunda e rica a nossa experi-
ência política, podemos
compre-
ender o enorme benefício que
resultou dos atos que,
no capítu-
lo anterior, designamos por
Tri-
plice da Unidade Nacional.
Mais do que
a Independência,
êles possibilitaram
a nossa exis-
tência política,
isenta de dissen-
ções, isolacionismos e de desagre-
gações.
Graças, unicamente à alta e
genial visão de estadista de
José
Bonifácio devemos êsse milagre,
que é a manutenção, no tempo e
no espaço, do princípio
vital de
nossa unidade.
A Independência importa para
nós, porque
sem soberania não é
possível admitir estado livre, mas
importa, sobretudo, como fator
precípuo de nossa existência, a
condição unitária. Não fosse a
força da coesão nacional, nascida
do ritmo das revoluções nativis-
tas e prestigiada pelos
atos com
que D. Pedro respondeu à inter-
venção dissolvente de D. João
VI,
que nos teria contecido, logo após
o Sete de Setembro?
O exemplo da própria
América
Latina, a que
estamos incorpora-
dos, é expressivo para
todos nós.
O resultado^das lutas pela
in-
dependência dos grandes
Vice-Rei-
nados espanhóis na América, foi
o seu desmembramento em repú-
blicas turbulentas, logo confiadas
180 CULTURA POLÍTICA
à ação devastadora dos caudilhis-
mos, e ainda ao perigo,
não me-
nos inquietante, das economias in-
suficientes.
Fomos prevenidos
contra a fa-
talidade da desagregação, pela
sa-
bedoria política
dos homens que,
preparando a Independência, cui-
daram também de manter isento
de falseamentos, o princípio
da
união nacional. E' o depoimento
de José
Bonifácio que
se impõe,
ainda a essa altura:
"Sem
a monarquia não have-
ria um centro de força e união
e sem êste não se poderia
re-
sistir às Cortes de Portugal e
adquirir a Independência Na-
cional".
A política
objetica de
José Bonifácio
E o seu esforço, mais que
o de
qualquer um outro, foi o de criar
uma Pátria orgânica, em que
ca-
da Estado fosse uma célula indis-
pensável à super-estrutura
poli ti-
ca da nação.
Por isso, a sua política
foi ni-
tidamente objetiva, e em razão
dessa objetividade, teve mesmo
de se opor ao subjetivismo libe-
ral dos que,
sôbre o comando de
vultos como Gonçalves Lêdo, que-
riam que
à Independência suce-
desse, imediatamente, a Repú-
blica.
Com o seu profundo
amor à
evidências, homem de pensamen-
to frio mais do que
imaginação e
idealidade, — não lhe fôra inútil
o longo contacto com o estudo
das ciências geológicas, que
lhe
imprimiu à inteligência um pro-
fundo sentido de realismo no jul-
gamento dos fatos
—
José Bonifá-
cio viu, claramente, os perigos
a
que estaríamos expostos, se logo
após o Sete de Setembro adotas-
semos o regime republicano.
Havíamos saído de uma luta
tremendamente feroz pela
con-
quista de nossa soberania, em
que
todas as Províncias experimenta-
ram, sem sintonia no tempo, a ru-
deza das revoluções nativistas.
Nessas lutas, como que
elas ga-
nharam uma certa individualida-
de autônoma, acentuando tendên-
cias regionalistas que poderiam
ser levadas a um paroxismo peri-
goso.
E foi êsse paroxismo
o alvo de-
sejado pelo
reino, quando
na lu-
ta contra D. Pedro, as subordi-
nou diretamente à Lisboa. Ora,
em emergência como essa, a que
nos poderia
levar a República?
A resposta parece
clara, se vol-
tarmos ao exemplo que
a própria
América Latina nos oferece e ao
qual já nos referimos: a desagre-
gação do Brasil,
que viria suas
Províncias, constituídas do dia
para a noite, em Repúblicas ou
pequenos Estados inteiramente
desligados da comunidade nacio-
nal.
Monarquia —
força
ordenadora
O binômio Independência —
Monarquia, pareceu
a José
Boni-
fácio como única força capaz de
nos ordenar, de novo, no ritmo
da unidade nacional, disciplinan-
do regionalismo que
as revoluções
nativistas exasperaram e o Reino
tentou, ingloriamente explorar.
Foi assim que
a Monarquia ca-
racterizou a fase da consolidação
da Independência, inaugurando
para o
país os ciclos das lutas em
favor da centralização do poder.
O PENSAMENTO POLÍTICO DO CHEFE DO GOVERNO 181
Desde então a nossa vida poli-
tica dividiu-se em duas correntes:
uma nitidamente objetiva, en-
quanto a outra dc batia-se,
gene-
rosa, mas, romanticamente, no
empirismo vago das soluções sub-
jetivas.
José Bonifácio condicionou sua
vocação ele homem público
à uma
norma de ação positiva,
a essa
mesma diretriz de pragmatismo
político a
que se subordina, nos
dias presente,
o Governo da Re-
pública.
A dissolução da Consti~
tuinte de 1823
O ato de dissolução da Cons-
tituinte (12
de Novembro de
1823), levado a efeito pelo
Impe-
rador, não representou, como a
muitos pareceu
ou ainda possa
parecer, uma violência contra a
ordem jurídica
em que
se inau-
gurara os destinos de um
país tão
novo ainda na posse
de sua sobe-
rania; liga-se êle, evidentemente,
ao imperativo de política
objeti-
va, única capaz de tornar impôs-
sível a divisibilidade da nação.
Salvou-se assim, com esse apa-
rente ato de violência estatal, a
obra construtora de homens que,
a exemplo de José
Bonifácio, so-
brepunham os destinos do país
à
sedução e ao brilho fácil das idéias
importadas.
O primeiro
atentado con-
tra a Unidade
Uma prova
de que
a verdade
histórica estava com os pugnado-
res do binômio Independência —
Monarquia, reponta no movimen-
to da Confederação do Equador
que, si desfraldava a bandeira da
República abria também aos ven-
tos a flámula odiosa do separa-
tismo.
A esse surto de liberalismo, des-
ligado das realidades nacionais e
que, já depois de nossa constitui-
ção em
país autônomo, representa
o primeiro grave
atentado contra
a nossa unidade, prendem-se,
co-
mo conseqüência, a vitória dos
caudilhos da Lavalleja, no sul, e
a perda
da Província Cisplatina,
que integrava o nosso
patrimônio
territorial.
Todos êsses acontecimentos
trouxeram em convulsão agônica
o primeiro
reinado que
foi, en-
fim, eclipsar-se com a abdicação
de D. Pedro.
A renúncia do Imperador, sen-
do uma vitória dos brios naciona-
listas, feridos pela
insolência dos
reinós, que
tentavam insinuação
triunfante na máquina política
do
país, trouxe
para nosso calendá-
rio cívico a data do 7
de Abril,
gênese da Regência.
O ponto
culminante da
nossa história
política
Não resta a menor dúvida que
o Primeiro Reinado, embora con-
sumasse as idéias de Independên-
cia, foi, de um certo modo, uma
herança de Portugal legada ao
Brasil. Eis por que
a Regência,
passando a significar, com mais
verdade histórica, e mais acentua-
da nitidez política,
a fase real de
nossa emancipação, reúne aspectos
capazes de definí-la, de acôrdo
com a frase de Euclides da Cunha:
"E' o
ponto culminante de nossa
história política".
Êsses aspectos mencionam-se no
sentido nacionalista com que
se
enriquece a renúncia de D. Pe-
182 OULTURA POLÍTICA
dro, e no objetivo de, entre dis-
senções ideológicas, manter inta-
cto o princípio
da unidade do
país.
A Confederação do Equador
não ficou sem repercussão na sen-
sibilidade de nossos patrícios.
As idéias de federalismo repu-
blicano, que
caracterisaram aquê-
le movimento subversivo, conti-
nuaram em fermentação, lançan-
do o país
numa fase aguda de no-
vas revoluções e perturbações
d:i
ordem pública.
Êsses movimentos
insurrecionais começam no Rio
de Janeiro
com a sedição de tro-
pas do Exército e da Marinha na
Ilha das Cobras; com a revolta
no Maranhão e outra no Recife
(A Setembrada); com nova sedi-
ção no Ceará, comandada
pelo
Coronel Pinto Madeira; com a
Cabanada, em Pernambuco; com
a Sabinada, na Baía; com a re-
volta dos Balaios, de novo, no Ma-
ranhão, encerrando-se o ciclo re-
volucionário com a guerra
dos
Farrapos, no Rio Grande do Sul.
Delicadíssima a missão
da Regência
A missão da Regência foi pois
delicadíssima; coube-lhe a conju-
ração de todos êsses movimentos,
não só em benefício da ordem e
da segurança do Govêrno, como
da salvaguarda dos propósitos,
mesmos, de sobrevivência e per-
petuidade nacionais. Felizmen-
te estavam à sua frente Evaristo,
Feijó, e Caxias, a cuja energia de-
vemos o milagre da indissolubili-
dade da Pátria, triunfando sem-
pre sôbre os antagonismos regio-
nalistas e as divergências ideoló-
gicas.
Para realizar êsse programa,
a
Regência não fugiu ao manda-
mento da centralização do poder.
A conciência de que
essa fór-
mula política
era a única capaz
de garantir
a coesão do país,
re-
velam-se em todos os seus atos.
Assim, por
exemplo, quando
Caxias partiu para
o Maranhão,
afim de sufocar a Balaiada, leva-
va consigo o poder
civil e o po-
der militar. Nessa conjugação de
autoridades, evidencia-se a noção
de que
as crises internas só podem
ser vencidas quando
aquelas duas
forcas, civil e militar, atuam unís-
sonas, em favor do fortalecimen-
to do poder.
Força viva da
unificação
Além cie proporcionar
o espe-
táculo de energia nacionalista qut
foi a conjuração de todos os movi-
mentos insurrecionais, o período
regencial revelou ainda ao país
a
fôrça mais viva de sua unificação,
aquela que
melhor age no sentido
de trazer sempre imperturbável o
ritmo da indivisibilidade brasi-
leira: essa fôrça é a que
repousa
no prestígio
e no espírito de sa-
crifício do Exército.
Foi nessa época aguda que
sur-
giu, para nós, a figura de Caxias,
cujos serviços ficaram ligando,
como numa cadeia ininterrupta,
os destinos da Regência aos des-
tinos do segundo Reinado.
E' aí, então, que
se vão crista-
lizar, sôbre o olhar benevolente e
compassivo do Imperador, todas
as promessas
de união nacional.
Fase decisiva da afir-
mação nacional
Apesar de todas as lutas inter-
nas, umas travadas no terreno lím-
O PENSAMENTO POLÍTICO DO CHEFE DO GOVERNO 183
pido das idéias, outras sangrando
no campo raso das revoluções fra-
tricidas, ou das guerras
civis, o
Segundo Reinado assinala a fase
decisiva da afirmação nacional.
Ora enfrentando as crises inter-
nas mais agudas, ora sendo sur-
preendido por uma
guerra ingló-
ria e injusta, que
lhe foi impôs-
ta pelo
capricho e a desmedida
ambição de poder
de um tirano,
insatisfeito de escravisar a sua
própria Pátria, Pedro II discipli-
na todas as forças vivas do pensa-
mento democrático brasileiro, har-
monisa todas as energias iniciais
de nossa riqueza, por tal forma,
que o seu
govêrno permite a cris-
talização dos anseios mais altos da
nacionalidade.
Garantida, como indestrutível,
a unidade do país, que
resiste até
mesmo às agressões externas, re-
vitalizando-se nêsses embates, está
garantida, também, na ordem das
relações internacionais, a nossa
soberania. Todo o trabalho de
seu Govêrno, orientou-se nêsse
sentido: a de projeção
continen-
tal do Brasil, projeção
sem impe-
rialismos, apesar da ronda de cau-
dilhos que
cercava as nossas fron-
teiras com o Prata. Para alcan-
çar tal objetivo, tornou-se impres-
cindível a referência interna de
nossa união.
E foram tão grandes
os serviços
prestados nêsse sentido,
que du-
rante o seu reinado, de meio sé-
culo, o livre debate dos proble-
mas mais fundamentais do país,
— Abolição e República
— tive-
ram curso, e muitas das vêzes, ape-
sar de contrários à estrutura da
Monarquia, receberam o apoio do
próprio Monarca.
Referimo-nos, particularmente,
à Gampanha Abolicionista, cujas
vitórias iniciais foram consagra*
das pelo
Parlamento Monárqui-
co, para
não citar o próprio
fim
vitorioso da campanha, que
sen-
do o colapso do Império, não im-
pediu, por mãos régias, a
promul-
gação da Lei Áurea.
A Campanha Abolicionista
origem da República
Na crise econômica em que
a
extinção do braço escravo lança-
ria o país,
estava a origem da Re-
pública. Esta viria imposta
por
invencível determinismo históri-
co, mas sugeitando-se sempre aos
dois princípios
basilares da forma-
ção nacional: Unidade e Centra-
lização do Poder.
As crises que
o país
experimen-
tou, sob o novo regime, veriam
demonstrar que
todo o distancia-
mento daquela política
fundamen-
tal, importaria ao nosso sacrifí-
cio, conduzindo-nos, por
vêzes, a
perigos irremediáveis.
Imposto a centralização
do poder
A essa altura, porém, quando
todos os êrros acumulados no de-
correr de quarenta
anos de vida
republicana, creavam para
o Bra-
sil um clima de asfixia, que
nos
seria fatal, acarretando a nossa
submersão numa onda total de
anarquismo e desordem, podemos
voltar as vistas aos apêlos profun-
dos das lições do passado, que
nos
impunham uma volta imediata
ao sistema de concentração do po-
der. Êste, salvando a ordem e to-
das as demais conquistas espiri-
tuais e materiais que
se haviam
definitivamente incorporado ao
patrimônio de nossa História, es-
CULTURA POLÍTICA
taria, também, salvaguardando os
princípios nucleares da nacional i-
dade: Unidade e Soberania. Fo-
ram ainda essa forças, que
trazem
a marca indeclinável de nossa ini-
ciação no concêrto dos países
li-
vres e das nações fortes, que
im-
primirem ao Estado Nacional o
sentido histórico em que
êle fun-
damenta as suas orientações de
política tradicionalista e ação emi-.
nentemente brasileira.
Vocação histórica do
governo provisório
A República veio mais da Abo-
lição do que
talvez mesmo da pro-
paganda a
que se dedicaram os
legionários de Silva Jardim.
As suas origens repousaram na
crise econômica, determinada pe-
la libertação do braço escravo,
num país
em que
a vida indus-
trial ainda não se organizára, de
maneira a compensar o desnivela-
mento provocado pela
Lei Áurea.
Essa verdade histórica paten-
teia-se, com a fôrça de uma evi-
dência irrefutável, quando
consi-
déramos que
os maiores embara-
ços creados à Consolidação da Re-
pública, foram inspirados no de-
sassossegado e irrequieto saudosis-
mo político
dos barões e viscondes
que, então, nos dirigiam.
Foram as tentativas de restaura-
ção monárquica,
quer se apresen-
tassem sob feição meramente po-
lítica, quer
surgissem na explosão
violenta das sedições militares,
atentados praticados,
muitas vê-
zes, não só contra a nova ordem
constituída, como também contra
os dois princípios
nucleares da
civilização brasileira.
À essa altura, para
salvar os
destinos da jovem
República, que
eram também os destinos da na-
cionalidade, tornou-se imperioso
o retorno às tradições centraliza-
doras de nossa conduta política.
Deodoro, à frente do Govêrno
Provisório, ora enfrentando a in-
quietude restauradora dos monar-
quistas, ora fazendo barreira aos
excessos e desmandos ideológicos
dos republicanos dissidentes logo
aos primeiros
dias da República,
apoiado na conciência do nosso
primeiro constitucionalista, reali-
zou Deodoro esse milagre de equi-
líbrio, que
é a concentração do
poder dentro das formas rígidas
dos princípios jurídicos
de liber-
dade e justiça
social.
A centralização do poder
e o
fortalecimento da autoridade não
representaram, aos seus olhos de
patriota cheio de desvêlo
pelos
destinos do Brasil, termos de uma
equação ditatorial.
Toda a sua ação à frente do
Govêrno Provisório, demonstra
lucidamente, êsse apêgo aos prin-
cípios fundamentais de nossa vo-
cação política.
Sem a centralização do poder,
não seria possível
disciplinar o
cáos e o tumulto dos primeiros
dias da República. Mas era pre-
ciso, nessa emergência, que
o gran-
de soldado, para prestar
realmen-
te, inestimáveis serviços à Pátria,
não confundisse o fortalecimen-
to do poder
central com os trans-
bordamentos do excesso de poder.
E nisso, na exata compreensão
dos limites em que
se devia con-
ter, foi que
Deodoro se manifes-
tou o estadista ao qual
a Repú-
blica deve a sua sobrevivência.
As questões,
como a das emis-
sões bancárias e a da construção
O PENSAMENTO POLÍTICO DO CHEFE DO GOVÊRNO 185
do pôrto
das Torres, não deixa-
ram, sem marcas, a sua passagem
entre os debates ministeriais.
O combate à política
financeira de Rui
O ardor com que
Demétrio Ri-
beiro, fiel às lições rígidas do po-
sitivismo, combateu a
política fi-
nanceira de Rui, lançou a chama
da inquietação em que
se abra-
zou a sensibilidade inexperiente
do primeiro
Ministério Republi-
cano.
Figura de prol
entre os corifeus
da República, o eminente Minis-
tro gaúcho
foi o opositor mais
violento da política
econômica
de Rui. O choque entre os dois
assumiu as proporções
de um pré-
lio entre titans. Nêsse momento,
mais do que
em qualquer
outro,
Deodoro portou-se
à altura de sua
fé no ideal republicano. Presti-
giando, em toda a linha, a figura
de Rui, o Marechal revelava o
sentimento de política
objetiva
que o animava. Não importa
que
tenha fracassado a política
finan-
ceira de Rui. O que
antes se de-
ve destacar é o tato político
de
um militar que,
embora sem ne-
nhum tirocínio de poder,
explica-
do pelas
condições mesmas de sua
vida dedicada ao Exército, ao to-
mar o pulso
da República, logo
lançasse a sua vista para
o pro-
blema inadiável da reorganização
econômica do país.
Embaraços à ação
construtora
As lutas e divergências manti-
das no seio do próprio
Ministé-
rio, ou das fileiras Republicanas,
corriam, entretanto, pário com as
conspirações de retôrno à vida
monárquica.
Homens eminentes, ou porque
tivessem interesses contrariados pe-
lo novo regime, ou porque
man-
tivessem o platônico
compromisso
de gratidão
com o Imperador exi-
lado, foram pródigos
em fomen-
tar embaraços à ação construtora
do primeiro
Govêrno Republi-
cano.
Como quer que
seja, o que
re-
sultava era a creação de um cli-
ma de impaciências e sobressai-
tos, em que
cada vez mais se ge-
neralizava a campanha favorável
à volta ao regime encerrado com
a promulgação
da Lei Áurea, pois
já escrevemos
que a Abo\ição foi
a última pulsação
de vida do Im-
pério.
Entrave à ação do
govêrno
A imprensa que,
nessa época,
atingira ao auge do instinto com-
bativo, pois
fora ela, com Patro-
cínio, a grande
voz libertadora da
raça negra, e com Quintino,
o
clangor reboando o advento na
nova éra, responsabilizou-se mui-
to pela
manutenção dêsse estado
de coisas contrárias à ação obje-
tiva do Govêrno provisório.
Con-
fundindo liberdade de pensamen-
to, com licença e desbragamento,
em que
à análise das idéias se
preferia a retaliação das dignida-
des pessoais,
êsse jornalismo
de
barricada, provocando
irritações,
fomentando antipatias, tornou-se
veículo da restauração monárqui-
ca. As medidas que
então se to-
maram contra eTa, restringiam-se
unicamente, ao número das pro-
vidências indispensáveis à preser-
vação da paz
e da ordem. Nem
se podia
compreender que
tra-
duzissem uma atitude de violên-
186 CULTURA
cia à liberdade de expressão, uma
vez que
emanavam do mesmo go-
vêrno que, pela palavra
de Demé-
trio Ribeiro, agitara a questão
das
liberdades públicas,
e pelo
saber
jurídico de Rui, afirmara corajo-
samente, a liberdade de cultos,
mantendo separados o Estado e a
Igreja.
E' de Campos Sales, também, a
atitude de repressão ao abuso em
que decaiu o
panfletarismo, ten-
do sido êle mesmo o autor do de-
creto que,
nos dias agitados do
Governo Provisório, regulou a
matéria. E não é possível,
diante
da pureza
inequívoca de seus
ideais, tão prodigiosamente
defen-
didos numa vida de consagração
à intangibilidade dos destinos de-
mocráticos, atribuir-lhe intenções
de arbítrio e prepotência.
A falência
de Maná
O quadro geral
de nossa exis-
tência política, que
nos havia si-
do legado pelos
destroços do Im-
pério, não apresentava nenhum
rendimento apreciável. Todas as
fôrças do progresso
nacional esta-
vam inoperantes. A falência de
Mauá, nos últimos dias do Im-
pério, mostra bem como era an-
gustiosa a situação das energias fo-
mentadoras da economia poli
ti-
ca. Reduzia à análise desapaixo-
nada, sabe-se, hoje, que
a falên-
cia de Irineu Evangelista de Sou-
za decorreu mais da atitude de
desinterêsse do Estado em face dos
fenômenos de produção
da rique-
za do que
mesmo da incapacidade
de financista e industrial revela-
da por
'Mauá.
A República, assentando os seus
fundamentos sobre o areai move-
diço e escorregadio da falsa eco-
POLÍTICA
nomia escravagista, teria de cui-
dar imediatamente do problema
econômico, pondo
ordem ao dese-
quilíbrio financeiro do
país. Na
luta para
solucionar êsse proble-
ma, empenhou-se, resolutamente,
o Govêrno Provisório, graças,
não
só à sabedoria de Rui, como prin-
cipalmente à energia inquebrantá-
vel do Generalíssimo.
A ação do govêrno
Provisório
Ao lado dêsse problema
funda
mental corriam outros a que
não
ficou indiferente o Govêrno Pro-
visório. A criação da pasta
da
Instrução Pública, as reformas da
Escola Normal, do Instituto dos
Cegos e do Museu Nacional, bem
como a revisão do ensino superior
e o projeto
de reforma do Obser-
vatório Astronômico, a construção
de quartéis,
o Serviço Geográfico
do Exército, a grande
naturaliza-
ção etc., demonstram o aprêço
do Govêrno aos problemas
e aos
apêlos da realidade nacional.
E tudo isso, o que
feito e o que
ficou apenas em debate, deve-se
unicamente à persistência
com
que Deodoro manteve o
princípio
da centralização do poder, graças
ao qual
foram vencidas todas as
tentativas orientadas no sentido
de perturbar
a vida da Repú-
blica.
A atuação do Generalíssimo é
uma lição fecunda, a manter, in-
tacta, na multiplicidade de suas
sugestões, a diretriz suprema da
política brasileira, através de to-
dos os tempos.
Tendo assumido a responsabi-
lidade dos destinos nacionais nu-
ma hora aguda de transição, em
O PENSAMENTO POLÍTICO DO CHEFE DO GOVERNO 187
que a mentalidade monárquica
era substituída pela clara ideoló-
gica republicana, Deodoro repre-
senta o protótipo
do estadista bra-
sileiro.
As circunstâncias que adjetiva-
ram o seu govêrno
eram as que
levam à anarquia e à desordem.
Nessa emergência, apoiado pelo
Exército, e pela
conciência jurí-
dica do país,
êle surge como o ho-
mem providencial.
Reunindo to-
das forças, centralizando o poder
e fortalecendo a autoridade, não
derrapa, contudo, no plano
incli-
nado da opressão e da negação
das liberdades públicas.
Refletem-se nessa sua atitude as
constantes essenciais de nossa ten-
dência política.
Assim como na
Regência foi preciso
voltar ao sis-
tema de concentração do poder,
para que se salvasse os
princípios
nucleares da unidade e da sobe-
rania nacionais, no Govêrno Pro-
visório tornou-se imperiosa a ado-
ção dessa mesma atitude, em vir-
tude não só da situação de tran-
sição política
em que
nos encon-
travamos, como também, por
im-
posição de contingências históri-
cas invencíveis.
Não se muda de regime sem
quebra do
que se
poderia cha-
mar de
"normalidade social".
Um novo regime representa
sempre uma rotura dessa norma-
lidade, razão pela qual
os govêr-
nos que
iniciam novas éras políti-
cas são, necessariamente, govêr-
nos de força e autoridade. Fôrça
que se apoia, não na violência e
na arbitrariedade, mas que
emer-
ge de sua
própria necessidade de
sobrevivência e consolidação.
Ponto de contacto com a
instituição jurídica
de
10 de Novembro
Em Deodoro, na sua energia
férrea e indomável, mercê da qual
foi possível
salvar, não só os des-
tinos da República, mas os pró-
prios destinos do
país, é
que po-
demos encontrar uma das refe-
rências mais luminosas da insti-
tuição jurídica
fundada a 10 de
Novembro.
Os propósitos
de ordem e de
paz que animaram o disciplina-
dor do cáos republicano proje-
tam-se até nós, numa afirmação
de que
fora do círculo em que
se
restringe a nossa experiência poli-
tica, não há govêrno que
se ajus-
te às necessidades do país.
O Estado Nacional tem uma
das suas fontes originárias, na li-
ção de energia com
que Deodoro
dirigiu os primeiros
momentos da
vida Republicana.
As coincidências entre o Ge-
neralíssimo e o nosso atual Chefe
de Govêrno, são de ordem histó-
rica, e mais do que
isso, inspi-
ram-se nas razões profundas
das
tradições políticas
do Brasil.
Tanto no Govêrno Provisório,
como no Estado Nacional, são os
mesmos os problemas
a solucio-
nar: o de nossa continuidade, ou
antes, o da continuidade de nossa
soberania, afirmando-se vitoriosa
sôbre as fatalidades da inquietu-
de universal.
A preservação
da paz
e da uni-
dade brasileiras são, hoje, os fun-
damentos essenciais do Estado
Nacional, como a ordem e a in-
tegridade nacionais foram hon-
tem a vocação histórica do Govêr-
no Provisório.
A Constituição de 10 de Novembro de 1937 se coracte-
riso pelo seu sodio realismo, odoptcdo às realidades e tradi-
çóes brasileiras, e pelo seu espírito avançado e integrado nas
grandes correntes da evolução política do mundo moderno.
Os debates e comentários que ilustram esta seção, con-
fiados sempre a Magistrados, membros do Ministério Público,
Desembargadores e Ministros do Supremo Tribunal, Juriscon-
sultos ou figuras eminentes das letras jurídicas nacionais,
visam esclarecer êsses dois troços e acompanhá-los em seus
desenvolvimentos e raízes profundas.
O estudo de hoje, sobre o Poder Judiciário na Constituição
de 1937, é subscrito por um Juiz da Justiça do Distrito Fe-
de rol, sócio titulor do Instituto Brasileiro de Cultura e da
Sociedade Ceorense de Geografia, autor de "Do
Proteção Legal
ao Trobalho das Mulheres e Menores", "Da
Proteção à Mater-
nidade rto Direito Operário", "Justiço
do Trabalho".
O poder judiciário
na
Constituição de 10 de
Novembro de 1937
CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS
Juiz da 2.a zona do Registro Civil do Distrito Federal
APÓS
a instituição do regime político
atualmente vigorante entre
nós, o Presidente da República, que
é a sua incarnação e a
autoridade máxima do novo sistema, tem sido objeto de estudo
e análise por parte
dos doutos e entendidos em matéria constitucional.
Natural, aliás, é que
isso aconteça, dada a circunstância de que
o Presidente da República, pela
soma de poderes que
concentra em
suas mãos, tornou-se o diretor supremo dos destinos da nacionalidade
e, assim, o grande
responsável pela
vigência da nova ordem política
estabelecida. Reforçada a sua autoridade —
por fôrça da função
que
lhe é reservada, —
pela Constituição de 10 de Novembro, com o sacri-
fício, que
se fazia mister, das atribuições do Poder Legislativo, claro
é que
essa circunstância determinasse em tôrno do Presidente da Re-
pública um interêsse todo especial dos estudiosos do Direito Público
em nosso país.
Não faz muito tempo tivemos o ensejo de ler brilhante traba-
lho, subordinado à epígrafe
uO
Poder Executivo da nossa Constitui-
ção", da lavra autorizada dêsse talentoso causídico que
é Jorge
Severiano.
Com relação ao Poder Judiciário,
entretanto, o mesmo inte-
rêsse se não se verificou, o que,
aliás, plenamente,
se explica, não só
192 CULTURA POLÍTICA
pelo fato da natureza não
política de suas funções,
que não tem, assim,
na vida nacional a repercussão que
logra o exercicio das funções exe-
cutivas e legislativas, como também pela
circunstância, merecedora de
realce, de que
não sofreu o Poder Judiciário,
no estatuto do Estado
Novo, qualquer
alteração nas normas e princípios que
orientavam a
sua organização e definiam as garantias
dos juizes,
anteriormente.
Posta em confronto a lei fundamental do Estado Novo com a Gaita
Constitucional de 16 de Julho,
na parte
referente ao Poder Judiciário,
constatamos que,
efetivamente, no novo estatuto político,
estão repro-
duzidos os princípios
e as regras mandadas observar pela
constituição
precedente, não havendo, desta maneira, nesse
ponto, diferença entre
os dois estatutos mencionados.
Em verdade, é essa a conclusão que
se impõe, inelutavelmente,
ante o exame atento das duas constituições.
O art. 63 da carta política
de 1934, tratando dos órgãos do
Poder Judiciário,
dispunha:
"São órgãos do Poder
Judiciário:
a) a Corte Suprema;
b) os Juizes
e tribunais federais;
c) os juizes
e tribunais militares;
d) os juizes
e tribunais eleitorais.
O estatuto de 10 de Novembro repetiu êsse dispositivo em seu
art. 90,
apenas fazendo voltar a tradicional denominação do mais
alto pretório
do país, que
retomou o seu velho nome de Supremo
Tribunal Federal, substituindo, na letra
"b",
juizes e tribunais fede-
rais", em face da supressão desses, por
"Juizes
e tribunais dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios" e suprimindo a letra
"d"
do
art. 63, por
conseqüência do desaparecimento da justiça
eleitoral.
No que
diz respeito, porém,
às garantias
dos juizes
é onde mais
se torna patente
e se evidencia a absoluta identidade entre os dois
diplomas constitucionais, o que
vem demonstrar que
foi o mesmo,
nessa parte,
o pensamento que presidiu
à elaboração das duas cons-
tituições.
Assim é que
o art. 91
da Constituição vigente reproduziu in-
tegralmente, nas mesmas palavras,
as prescrições
acauteladoras da in-
dependência do exercício da nobre e difícil missão de distribuir jus-
tiça do art. 64 da constituição anterior.
Para melhor exposição de nossa tese, pomos
diante um do outro,
e por partes,
os preceitos
a que
aludimos, das duas constituições.
O PODER JUDICIÁRIO NA CONSTITUIÇÃO DE 1937 193
Diz o art. 64 da constituição de 16 de Julho
de 1934:
"Salvas
as restrições expressas na constituição, os juizes go-
zarão das garantias
seguintes":
Prescreve o art. 91
da nova constituição:
"Salvas
as restrições expressas na constituição, os juizes gozam
das garantias
seguintes".
Notamos, aí, que
a única diferença que
surge entre os dois
textos é que
um emprega o verbo gozar
no futuro, enquanto que
o
outro dele se serve no indicativo presente.
Continuemos.
A letra a do art. 64 está redigida assim:
"A)
Vitaliciedade, não podendo perder
o cargo senão em vir-
tude de sentença judiciária,
exoneração a pedido,
ou aposentadoria,
a qual
será compulsória aos 75
anos de idade, ou por
motivo de inva-
lidez comprovada, e facultativa em razão de serviços públicos presta-
dos por
mais de 30
anos, e definidos em lei".
A letra a do art. 91
é esta:
"A)
Vitaliciedade, não podendo perder
o cargo senão em vir-
tude de sentença judiciária,
exoneração a pedido,
ou aposentadoria,
compulsória aos 68 anos de idade ou em razão de invalidez compro-
vada, e facultativa nos casos de serviço público prestado por
mais de
30 anos, na forma da lei".
Como se vê, o preceito
é o mesmo. Apenas há uma redução
no limite da idade, para
efeito da aposentadoria compulsória. De
75 anos,
que era,
passou para 68.
A disposição da letra b no art. 64 da Constituição de 1934 e
art. 91
do atual estatuto básico é a seguinte:
A disposição da letra b no art. 64 da Constituição de 1934 e no
no art. 91
do atual estatuto básico é a seguinte:
"A)
inamovibilidade, salvo por promoção
aceita, remoção a
pedido, ou
pelo voto de dois terços dos
juizes efetivos do Tribunal
Superior competente, em virtude de interêsse público".
Cumpre apenas salientar que,
na Constituição de 1934, a re-
moção a pedido
figurava como a primeira
causa da amovibilidade dos
magistrados.
Resta a letra c asseguradora aos juizes
da garantia
da irredu-
tibilidade dos vencimentos. Na Constituição de 1934 diz-se que
os
vencimentos dos juizes
ficam sujeitos aos impostos gerais.
Na atual
Constituição, fala-se sòmente em impostos.
194 CULTURA POLÍTICA
I
No paralelo que
estabelecemos entre os dois artigos justo
não
esquecer a eliminação sofrida, no pacto
constitucional vigente, do
§ único do art. 64. E'
plenamente compreensível o desaparecimento
da restrição que
ali se fazia ao preceito
salutar da vitaliciedade, quan-
to aos juizes
federais
"com
funções limitadas ao preparo
dos proces-
sos e à substituição dos juizes julgadores",
dado que já
não é possí-
vel a creação dos juizes
de que
naquele preceito
se cogitava.
Prossigamos, porém,
no confronto que
vimos fazendo entre as
duas constituições.
O preceito
do art. 65 da Carta de 16 de Julho que
trata da
proibição aos
juizes do exercício de
qualquer outra função
pública,
está reproduzindo no art. 92
do Estatuto de 10 de Novembro. Su-
primiu-se nêste entretanto, a expressão
"salvo
o magistério e os casos
previstos nesta Constituição",
que era uma exceção à regra
proibitó-
ria. E' que
no Estado instituído em 1937, não se tolera qualquer
es-
pécie de acumulação,
quer se trate de funções,
quer dos
proventos que
elas proporcionam.
A regra do art. 66 da Constituição de 1934 desapareceu da
nova lei fundamental, por
força da natureza mesma do regime vi-
gente, que eliminou, em
proveito da Nação, os
partidos políticos.
No que
toca à competência dos Tribunais quanto
à sua eco-
nomia interna, houve uma diminuição na soma de atribuições que
lhes é facultada. No art. 93
da Carta de 1937, que
é a reprodução
do art. 67 da Constituição de 1934, constata-se a eliminação da letra
c que
dava aos Tribunais competência para
nomear, substituir e de-
mitir os funcionários de suas secretárias, cartórios e serviços auxiliares.
A regra do art. 68 da Constituição de 1934 está, hoje, contida
no art. 94
da nova Carta.
Os dispositivos dos arts. 69, 70, 71
e 72
da Constituição pas-
sada não tiveram reprodução no pacto
vigente. Em compensação, sur-
gem nêstes dois
preceitos novos: o do art.
95, que trata dos
pagamen-
tos devidos pela
Fazenda Federal, em virtude de sentença judiciária;
e o do art. 96, que
versa sobre a declaração da insconstitucionalidade
de lei ou ato do Presidente da República, pelos
Tribunais.
Demoremos, agora, a nossa atenção e o nosso exame sobre o
capítulo referente ao Supremo Tribunal Federal, que,
na Carta de
16 de Julho
tinha denominação de Côrte Suprema.
Verificamos que,
embora de pouca
monta, há algumas altera-
O PODER JUDICIÁRIO NA CONSTITUIÇÃO DE 1937 106
ções a registrar nêsse capítulo da Carta de 10 de Novembro, sôbre o
mais alto Tribunal de Justiça
do País, nos seus arts. 97
a 102.
No Estatuto de 1934, o assunto era regulado em 5
artigos, os
de ns. 73
a 77.
Apareceu, assim, mais um artigo na nova Cons-
tituição. E' o que
tem o n. 99
e trata do Chefe do Ministério Pú-
blico Federal. E' um preceito
novo no capítulo. Na Constituição
anterior, êle aparecia no §
i.° do art. 95,
na secção I —
do Minis-
tério Público —
do capítulo VI —
Dos órgãos de cooperação nas ati-
vidades governamentais.
O art. 97
da atual Constituição é o art. 73
da anterior. De-
sapareceu, entretanto, o §
2.0, e o §
i.° passou
a ser §
único.
O Supremo Tribunal conservou a sua composição: onze Minis-
tros. Permitiu-se, como dantes, a elevação do número desses minis-
tros e proibiu-se
terminantemente a sua redução.
Na regra do art. 98,
o Estatuto vigente conservou a do art.
74 da
presente, apenas com a exclusão das locuções
"alistados
eleito-
res" e
"salvo
os magistrados", a primeira
contendo uma exigência
para ser nomeado ministro do Supremo,
que já se não
justifica no atual
regime, a segunda portadora
de uma exceção favorável aos magistra-
dos, que,
então, não estavam sujeitos aos limites de idade, mínimo e
máximo, fixados constitucionalmente, para
o ingresso no Supremo.
A competência para
aprovar as nomeações dos Ministros do Supremo
Tribunal passou
do Senado para
o Conselho Federal, que,
como sa-
bemos, substituiu, na atual organização política,
com as naturais pe-
culiaridades ao novo Estado, a chamada Câmara Alta.
O preceito
do art. 75
da Carta de 1934 está reproduzido no
art. 100 da atual. Entretanto, a competência para processar
e julgar
os Ministros do Supremo passou
do Tribunal especial a que
se refe-
fria o art. 58
da Constituição de 1934, para
o Conselho Federal.
Com referência à competência do Supremo Tribunal Federal,
matéria definida, anteriormente, no art. 76
da Constituição de 16 de
Julho, e, hoje no art. 100 do diploma Constitucional de 10 de No-
vembro, se bem que,
de modo geral,
se possa
afirmar que
êsse dis-
positivo manteve aquêle, houve algumas modificações
que merecem ser
postas em evidência.
Assim é que já
não tem o Supremo Tribunal competência para
processar e
julgar, originariamente, o Presidente da República e
já
não existem os dispositivos que
antes figuravam nas letras ceido
n. I. do art. 76 já
citado. E' que
desapareceram do organismo ju-
196 CULTURA POLÍTICA
diciário da Nação os juizes
federais e seus substitutos e já
não cabe
a medida protetora
do
"mandado
de segurança contra atos do Presi-
dente da República e de seus ministros.
Quanto à competência
para julgar da mais elevada Corte de
Justiça do
país, também se constata alteração digna de nota. Dêste
modo, à letra a do n.° 11, 2, do art. 76
se deu, na nova Constituição,
o seguinte substitutivo:
"a)
As causas em que
a União for interessada como autora
ou ré, assistente ou opoente".
O dispositivo da letra b do mesmo n. e artigo, desapareceu,
por força da supressão da
Justiça Eleitoral. A regra da letra c do n.
11, 2, do já
referido art. 76 passou
a ser a da letra b do art. 101, 11,
2, com a seguinte redação.
"As
decisões de última ou única instância denegatórias de
"ha-
beas-corpus".
Cumpre, ainda, assinalar o desaparecimento da norma do n. 3
do art. 76
da Constituição anterior, que
tratava da revisão, em be-
nefício dos condenados, dos processos
findos em matéria criminal.
As secções III e IV do cap. IV —
do Poder Judiciário
—
que
tratavam, respectivamente, dos juizes
e Tribunais Federais e da Jus-
tiça Eleitoral, desapareceram.
Resta-nos para
conclusão dêste nosso ligeiro estudo sobre o Po-
der Judiciário
no Estatuto de 10 de Novembro, o exame do capítulo
relativo à Justiça
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
que constituía matéria do título II da Carta Política de 1934.
E' interessante sobremodo e, por
sem dúvida, oportuna apre-
ciação dêsse capítulo do diploma constitucional que
ora rege os des-
ti nos da Nação Brasileira.
Poderá parecer
a quem,
menos avisado, e sem a noção exata
da estrutura do nosso novo sistema político,
estudá-lo, que
o Esta-
tu to de 10 de Novembro, dando, como deu, e era imprescindível, maior
amplitude à órbita de ação do Poder Executivo, cuja preponderância
é, hoje inegável, o tenha feito, também, em detrimento do Poder j«-
diciário.
Já deixamos dito, de início,
que êsse alargamento da esfera do
Poder Executivo é feito em prejuízo
apenas do Legislativo, que
teve
sensivelmente diminuídas as suas atribuições.
O Poder Judiciário
continuou a ser o que
era dantes. Não
O PODER JUDICIÁRIO NA CONSTITUIÇÃO DE 1937 197
houve nenhuma restrição quanto
às suas funções, nem quanto
às pre-
rogativas e garantias
dos seus membros.
Desta forma, relativamente à Justiça
dos Estados, da metrô-
pole Federal e do Território do Acre, lícito é dizer
que, presente-
mente, a situação é a mesma que
vigorava antes do golpe
de Estado
de que
resultou a implantação do atual regime.
E\ pelo
menos, o que
forçosamente se deduz do texto consti-
tucional, estabelecido, para
conclusões mais seguras e procedentes,
um
paralelo, nessa
parte, entre os dispositivos das duas cartas magnas.
Do mesmo modo que
o art. 104 da Constituição de 1934, o art.
103 da Constituição de 10 de Novembro deixa aos Estados inteira
liberdade para
legislar sôbre a sua divisão e organização judiciária
e
para prover os respectivos cargos, obrigando-os apenas à observância
de determinado: preceitos.
Êsses preceitos, que
os Estados não podem
deixar de respeitar religiosamente, são os da Vitaliciedade, Inamovi-
bilidade, Irredutibilidade de vencimento e Incompatibilidade para
o
exercício de outra qualquer
função pública,
e mais os enumerados nas
letras a e f
do art. 103 citado e que,
antes, vinham nas mesmas le-
tras do art. 104 da Constituição de 1934, à exceção da letra c, e no
§ i.° do mesmo art.
Com relação ao preceito
da letra /
do art. 103 da atual Cons-
tituição, reprodução quasi
literal do contido no §
i.° do art. 104 da
anterior cumpre observar que
não é ele mais que
um reforçamento
da garantia
da inamovibilidade, consagrada na letra b do art. 91
da
presente Carta Política, reforçamento êsse
que é feito tendo em mira,
evitar tão sòmente que,
mediante a chicana da mudança da sede de
um juízo,
se sacrificasse o princípio
da inamovibilidade e, destarte,
se tornasse o respectivo titular amovível. Urge ainda salientar, a
propósito dessa regra Constitucional,
que, na Constituição em vigor,
se deu maior vitalidade, expressão mais forte, ao direito do juízo,
no
caso de mudança da séde do juízo que
ocupa. Assim é que,
emquanto
na lei, fundamental de 1934, nêsse caso, era facultado ao juízo
remo-
ver-se com a nova séde, ou pedir
disponibilidade, com vencimentos
integrais, no Estatuto de 10 de Novembro se permite
ao Juiz
se não
quizer acompanhar a nova séde, entrar em disponibilidade.
Em lugar do direito de pedir,
tem, hoje o juiz
o direito de en-
trar em disponibilidade, o que
constitue, inegavelmente, uma defini-
ção mais segura, mais
positiva, da
garantia que .0 legislador consti-
tuinte quiz
assegurar aos magistrados.
198 CULTURA POLÍTICA
Dispondo a constituição de 1934, na hipótese que
vimos ana-
lizando, que
ao juiz
é facultado pedir
disponibilidade, poderia pare-
cer que
êsse pedido
estaria sujeito à apreciação de autoridade supe«
rior, podendo
ser ou não deferido, e, evidentemente, não foi isso
o que quiz
o constituinte da s.a república.
Dando melhor redação ao dispositivo, a carta política
de 1937
não deixa margem a nenhuma dúvida, ressaltando patente
e claro
de seu texto que
o ato do juiz
de entrar em disponibilidade não de-
pende de
qualquer apreciação.
Ainda no capítulo da justiça
dos Estados do Distrito Federal e
dos territórios, notamos que
as normas dos parágrafos
2.0 e 3.0
do
art. 104 da constituição de 1934 não aparecem no estatuto presen-
te, que,
assim, não cogita da promoção por
merecimento.
A regra do § 4.0
é, atualmente, matéria do art. 104 e a do
§ 6.° matéria do art. 105.
O preceito
do § 7.0
aparece, agora, no art. 106.
O § 5.0
não tem correspondente na carta atual.
O art. 105 da Constituição de 1934, referente à organização da
justiça do Distrito Federal e dos territórios, igualmente, não foi
mantido.
Aparecem, no estatuto do Estado Novo, entretanto, dispositivos
novos relativos à justiça
local. São os dos arts. 107, 108 e seu §
único,
109 e seu parag.
único e 110.
O art. 107 estatue que,
à exeção das causas da competência do
Supremo Tribunal Federal, todas as demais são da competência da
justiça local..
O art. 108 e seu §
único tratam das causas em que
a União for
autora ou ré, assistente ou opoente.
O art. 109 consigna uma medida complementar, de um certo
modo, das formas do art. anterior e seu parágrafo. Determina
que,
das sentenças proferidas em
primeira instância, nas causas referidas
no art. 108 e seu parágrafo,
havera recurso direito para
o Supremo
Tribunal Federal.
O paragrafo
único do art. 109 dispõe sôbre a cobrança da dí-
^da ativa da União, matéria hoje regulada pelo
decreto-lei n. 960,
de 17 de Dezembro de 1938.
Finalmente, o art. 110 prescreve que
"a
lei poderá
estabelecer
para determinadas ações e competência originária dos tribunais de
apelação".
O PODER JUDICIÁRIO NA CONSTITUIÇÃO DE 1937 199
Com as ligeiras observações e comentários que
aí ficam, em
face do exame dos textos das duas constituições brasileiras, a de 1934
e a vigente, nos capítulos referentes ao poder judiciário,
reforçamos
a convicção, que
firmamos de início, de que
o pacto político que
nos
deu o Estado Novo não alterou os princípios
e as regras em que
assen-
tava, no estatuto anterior, a organização daquêle poder.
Por outro
lado, manda a verdade proclamar que
as garantias que proporcionam
aos juizes
inteira liberdade e absoluta independência no exercício de
seu nobre e elevado mister, foram integralmente mantidas e até, de
uma certa maneira, reforçadas, como acontece, em relação ao preceito
da letra
"f"
do art. 103, por
uma mais clara redação do texto
constitucional.
1
Quaisquer citações bibliográficas de velhos autores, ou
de novos anteriores a 1930; quaisquer documentos históri-
cos, que interessam à vida política do Brasil — terão oco-
Itiida nesta seção.
As eleições no Brasil durante
a Primeira República
As eleições. no Brasil, sempre foram uma ameaça constante a tranqüilidade
pública e a boa orientação dos governos, perturbados nas suas diretrizes
pelos demagogos exaltados, e, não raro,
pelos motins dos entusiastas creado-
res de boatos atrevidos e falsos, dc conseqüências quasi
sempre funestas.— Entretanto,
quantos homens de
gênio não foram arrastados
pelo perigo
da oratória e dos vivas, atraiçoados pelas palmas
dos ambientes tumul-
tuáriosl — O interior do Brasil era bem a expressão da barbaria, e o su-
bôrno, deformando os caracteres era o maior incentivo ao crime, ao ban-
ditismo, pela conquista do dinheiro
fácil, adquirido em "tempos
de eleição
Os inúteis, os preguiçosos,
os comodistas, esperavam com o seu voto o bom
tempo da "safraOs
espertos, os trapaceiros, criminosos, esperavam a con~
fusão para assassinatos, assaltos, roubos, desordens e toda sorte de crimes.
E a família patriarcal, a tradicional família dos engenhos e das fazendas,
vivia então sobressaltada, infeliz, correndo de lá para cá, trancando as mo-
çoilas nos colégios, escondendo os rapazes turbulentos nos porões,
ou fa-
zendo-os emigrar para as Capitais, temendo a traição dos disparos
que
nunca se descobria de onde vinham. — Transcrevemos hoje, nestas páginas
do passado, um interessante documento daquela época de
pavor e susto,
cheirando aifida a sangue e a intriga. E* o depoimento do então menino
Teotônio Tavares de Miranda Neto, testemunha ocular da hecatombe de
Garanhuns, ocorrido no dia 15 de Janeiro de 1917, extraído dos autos de
inquérito instaurado pelo
Bel. José Francisco Ribeiro Pessoa, então Juiz
de Direito na Comarca de Gravatá. — Foi durante o govêrno de Manoel
Borba, adversário do General Dantas Barreto, que se deu a catástrofe,
naquela bela e conhecida cidade Pernambucana. — Era o resultado das
campanhas eleitorais. ..
CORPOS de delicto de Fl. a Fl. , constantes do inque-
T 1 rito, dão a certeza dos homicídios praticados
na hecatom-
be conseqüente do assalto da cadeia, bem como dos que
foram mortos e feridos na repulsa do assalto e não foram occultados
pelos interessados.
"Para
dar uma idéia, tanto quanto possível,
completa, de como
se passaram
os vários crimes sucessivos em connexão ocorridos por
occasião do assalto á cadeia, basta recorrer ao depoimento de uma
testemunha occular, ainda que
simplesmente informante por
ser filho
de uma das victimas —
Tenente Coronel Argemiro Miranda, —
o
menor de dez annos de idade, a respeito de cuja informação, diz a lei
processual reguladora da especie,
quanto as declarações das
pessoas em
204 CULTURA POLÍTICA
tais condições inhibidas de deporem: essas informações terão o cre-
dito, que
o Juizo
entender que
lhes deve dar, em attenção as cir-
cunstancias". — Art. 267 do Reg. n. 120 de
31 de
Janeiro de 1842
ainda em vigor.
"Veja-se essas declarações do citado informante, do nome
Theotonio Tavares de Miranda Netto, que
se encontram a fl. 337
usque fl. 340,
combine-se com as de quasi
todas as testemunhas jura-
das do inquérito e seus appensos e ter-se-á a descrição, a mais cabal,.
de toda a chacina.
"Não
precisarei aqui reproduzir ipsis verbis a hedionda
descripção.
"O tenente Meira Lima, antes de começado o tiroteio, cum-
pre observar, fora com antecedencia a Cadeia e fizera d'ahi retirar
toda a munição ahi existente, recommendando aos soldados da Guar-
da não consentisse entrar ali ninguém, nem mesmo conduzindo refei-
ção alguma
para os recolhidos, aos
quaes não
permitira conduzirem
armas, porque
affirmava-lhe estarem plenamente garantidos
em suas
vidas, repetindo-lhes sempre o estribilho de que
dali não sairia ele
Delegado,
"sem
que passassem antes sobre o seu cadaver".
"Entretanto, isto feito,
poz-se logo ao fresco, indo ali raras ve-
zes, sendo certo que, poucos
momentos antes do assalto, a pretexto
de
haver recebido um recado do Juiz
de Direito Dr. Abreu e Lima, cha-
mando-o, desapareceu inteiramente da cadeia, indo para
a casa da
viuva, onde, nessa ocasião, também permanecia
o mesmo Dr. Abreu.
"Isto
feito, começara, logo após, o tiroteio pelos
assaltantes, em
numero crescido, os quais
atacaram-na a mesma cadeira, pela
frente,
pelo oitão e
pelo lado de detraz, havendo ahi subido
por uma esca-
da, colocada na supra janella,
e galgando
o batente desta, o can-
gaceiro conhecido
por Caju, a
quem o tenente Antonio Padilha for-
necera antes um rifle, dispara tiros certeiros e de pontaria, pelo
oculo
aberto na mesma janela,
sobre os recolhidos naquele compartimento.
"Ao
mesmo tempo, os assaltantes do lado da frente faziam
dahi cerrado fogo para
dentro, alvejando a porta
do dito comparti-
mento, capitaneando esse grupo
de assaltantes, entre outros o fami-
gerado Antonio Rosa Filho.
"Na
angustia desse trevoso momento, a tragédia hedionda que
- ahi se desenvolvera, a chacina resultante de todo esse descomunal as-
salto, jamais
talvez visto ainda na serie dos crimes comuns os mais
pavorosos, somente equiparavel aos
que o cyclone da
guerra europea
ha dado lugar serem consumados por
creaturas humanas, é quasi
in-
descri ti vel, não ha cores carregadas com as quaes
seja possivel
des-
creve-lo.
"Como
já foi dito, os tiros foram dados, ao mesmo tempo,
pela
porta da frente da cadeia e
pelo oculo da alludida
janella do mata-
douro da morte, onde se encontravam os citados refugiados.
"O
primeiro destes a ser baleado
pelo bandido Cajú desse
ultimo ponto,
fora logo Francisco Yeloso da Silveira, que
cairia ime-
0
TEXTOS E DOCUMENTOS HISTÓRICOS 205
diatamente fulminado por
certeira bala. Em seguida, Júlio
de Miran-
da, depois Sátiro Ivo da Silva, atingido por
um projétil
de rifle em uma
das orelhas. Logo apos o mesmo Sátiro recebe um outro tiro na mão
direita, deixando-a meio decepada.
"Quasi ao mesmo tempo, abrindo a
porta do compartimento a
força, ai penetram
dois outros sicarios —
Antonio Rosa Filho e outro
de nome Manoel Francisco, tipo baixo e grosso,
na expressão do ci-
tado informante, o menor Teotonio de Miranda Neto, filho de Ar-
gemiro, e
que tudo
presenciára de vista. Desses indivíduos o
pri-
meiro descarrega o rifle sobre Manoel Jardim
e o segundo sobre a
cabeça do dr. Borba Júnior, quando
ambas as victimas já
se acha-
vam deitadas sobre o solo do quarto.
Em seguida, ainda Antonio
Rosa Filho, sangra lentamente a punhal,
na carótida, a altos brados,
ouvidos na visinhança, nos extertores da agonia e das dores lancinan-
tes por que
estava passando
com semelhante genero
de morte, gri-
tava em berros:
"acabem-me logo de matar, sem mais demora,
por
amor de Deus!".
"Dai
passa esse mesmo consumado facínora Antonio Rosa a d»ir
profunda punhalada em Sátiro Ivo,
já deitado sobre o solo. Nesse
comenos, Júlio
de Miranda, pode
apanhar uma espingarda, encon-
trada no chão, e com ela procura
defender-se disparando vários tiros,
ainda dentro do recinto da cadeia, mas já
fora do compartimento em
que se achava, até
que, esgotada a munição da arma, e deixada esta,
apodera-se de uma outra carabina, abandonada pelo
cabo de policia
Cobrinha, que,
na defesa heróica da cadeia já
havia tombado fui-
minado pelos
cangaceiros.
"Com a referida carabina, sustenta ainda o fogo, com denodo e
heroísmo, não vulgares, contra estes, até esgotar também a respectiva
munição, isto ainda dentro da cadeia, e saltando, pouco
antes de es-
gotada a mesma municação, encontrada já
no chão, arrecadada e for-
necida por
seu filho menor, o referido informante, a fls. 337
do in-
querito, salta
para o lado de fora da mesma cadeia, ahi continuando a
defeza, até que
é atingido por
uma nova carga de tiros dos canga-
ceiros, como o fora
"Cobrinha" e, como este, cae fulminado e varado
de balas, deixando ao expirar, uma enorme poça
de sangue, ainda vi-
sivel no lugar do sacrifício, isto é, no solo e junto
a parede
do lado
direito do edifício da cadeia, conforme se constata do auto de exame
do mesmo edifício, por
mim e com a minha assistência e de testemu-
nhas procedido, já
oito dias decorridos da hecatombe, ut fls. 68 us-
que 70 v. dos autos do inquérito.
"Destruídos esses últimos redutos de resistencia
— "Cobrinha
e
Argemiro Miranda, já
se achando ferido mortalmente Vicentâo e mor-
tos tres ou quatro
dos cangaceiros, penetra então no interior da ca-
deia a restante horda de assaltantes, ainda em numero avultadissimo, e
ainda praticam
as maiores crueldades, e roubos, para
coroação final de
sua obra.
206 CULTURA POLÍTICA
"E'
assim que
vibram alguns deles novas facadas nas vitimas,
já cadaveres e nos
que ainda se achavam agonisantes, nos últimos
pa-
roxismos da morte, dão-lhes coronhadas nas faces, nos rostos, nas ca-
beças, deformando-lhes' as fisionomias, de modo a quasi
se desconhe-
ce-los a simples inspeção ocular. Não só isso, mais também decepam
o dedo em que
o Dr. Borba, tinha o seu anel simbolico de medico,
para roubarem-no,
quebram-lhe a outra mão, dão-lhe uma forte co-
ronhada na face dilacerando-lhes as carnes e fazendo aparecerem a des-
coberto da epidermes os ossos faciais. Assim também praticam
como
outras vitimas da chacina, como o coronel Sátiro Ivo, cujo ventre
abrem a golpe
de navalha, deixando vasarem-lhe os intestinos, alem
de deformarem-lhe o rosto, roubando-lhes as jóias,
manchadas de san-
gue, que em seu
poder tinha,
jóias essas
que, afinal, o mesmo Anto-
nio Rosa fora expontaneamente entregar ao tenente Teofanes, hoje
capitão, já
na ocasião no exercício que
assumira á tardinha daquele
mesmo dia 15 de Janeiro.
"Roubaram de todas as vitimas dos recolhidos
presos ali
pelo
tenente Meira Lima, em numero de sete, todo o dinheiro que
haviam
conduzido consigo, em crescida soma, deixando-lhes os bolsos vasios
do lado de fora das vestes. Apos fica um desses bandidos a guarnecer
a cadeia, da qual
soltaram e deram evasão a dois presos
ali anterior-
mente recolhidos, para
reforçarem ainda mais os grupos
dos assaltan-
tes. Esse facinora fora o individuo de nome Antonio Pedro Francis-
co, ou Manoel Francisco, por
cujo nome é também conhecido pelo
informante de fls. 337,
o qual, procura
na ocasião do assalto tam-
bem mata-lo, não o fazendo por
ter-lhe sido ponderado pelo
mencio-
nado Antonio Rosa Filho
"não
ser conveniente matar-se uma creança".
"Desacata, maltratando, também, com
palavras injuriosas, a mãi
dessa creança —
d. Ignez de Miranda —
que em companhia deste e
dos outros seus filhos menores, fora ali ver o cadaver de seu mari-
do e tratar de conduzi-lo para
sua casa, afim de dar-lhe sepultura de-
cente, não lhe respeitando nem a dor inconsolavel da viuvez, nem as
lagrimas derramadas diante do cadaver de seu marido, com quem
abraçada se lamenta da perda
irreparavel sofrida e da fileira de orfão-
sinhos que
ficaram sem os seus carinhos e proteção.
"Malditos! Amaldiçoada
gente!.. .
"A
todas as viuvas que
ali foram com os mesmos intuitos, ne-
gava-se aquele facinora a
permitir a retirada dos cadaveres das
pes-
soas que
lhe foram seus arrimos e protetores
naturaes.
"Enquanto isso se
passava, conservaram-se na casa da viuva
Brasileiro, em sua companhia, os citados tenentes Meira Lima, e Pa-
dilha, o Juiz
de Direito Dr. Abreu e Lima, e outros e outros, a bom
recato, intimamente regosijados talvez pelo
êxito feliz da campa-
nha dantes traçada nos Estados Maiores da politicagem
local.
"Aguardavam a volta dos assaltantes. Estes, terminada a cha-
cina, voltam, pressurosos,
a citada casa e ahi, para
onde eram, também
e ao mesmo tempo, transportados os cangaceiros feridos no assalto,
TEXTOS E DOCUMENTOS HISTÓRICOS 207
entram e abraçam rejubilados, todas as pessoas
de ambos os sexos, a
começar da viuva Brasileiro, sua filha casada com José
Viana, a este,
ao Dr. Abreu e Lima, Juiz
de Direito, tenentes Meira Lima, Padi-
lha, Fausto Galo, Jacome
Sampaio e sua mulher e outros parentes
e
amigos ali presentes,
como o revelara a Testemunha Francisca Barbo-
sa, com a confirmação da referida, nesse ponto,
o Dr. Pacifico dos
Santos, promotor
efetivo da comarca, que
se achava presente
nessa
mesma ocasião em a mencionada casa Vid os seus respectivos depoi-
mentos nos autos. Feito isso, já quasi
ao anoitecer, trataram de trans-
portar os cadaveres de
quasi todas as victimas, com excepção apenas
de poucos
delles, para
os quaes
a complacência e longanimidade da
vingança, já
saciada dos seus principaes
responsáveis, acoçados, de
certo, pelo
remorso que já
lhes começava a invadir a alma de bar-
baros, fora permitido
a condução para
as casas das respectivas viuvas,
os irmãos Júlio
e Argemiro, Veloso, Manoel Jardim
e sobrinho, e
Sátiro Ivo, em uma carroça de lixo da Prefeitura Municipal, com
destino a igreja Matriz, onde ficaram depositados, com proibição
dos
cangaceiros ali postados
de guarda, por
consentimento das autorida-
des principais
da localidade, de permitirem
a quem quer que
fosse
lá penetrar.
Essa carroça, em seus trajetos, com esse destino, tinham ordem
os seus carroceiros de pararem
em frente a casa da mencionada viuva,
para poder e ter ela a certesa de haverem sido cumpridas as suas or-
dens. Saia então de sua casa o seu parente
afim farmacêutico Jaco-
me Coelho de Matos Sampaio, morador comvisinho, para
isso verifi-
car na rua e transmitir-lhe para
lá a noticia, e somente depois dessa
verificação, tinham ordem os carroceiros de prosseguirem
a viagem. O
cadaver do dr. Borba Júnior,
era visto sobre os outros, em decubito
dorsal, com as pernas
dependuradas da carroça, encharcadas as suas
vestes de sangue, já
coagulado. Já
era quasi
noite e os raros Iam-
peões da iluminação da cidade, achavam-se apagados em sua totali-
dade. Tudo que
venho de narrar encontra-se e se verifica da leitu-
ra dos autos do inquérito e seus dois Apensos.
"Malograra-se, entretanto, uma ultima
parte do
programa tra-
çado da tragédia. Não tiveram tempo de incendiar as casas comerciaes
da cidade, pertencentes
as victimas, para
o que já
haviam colocado
nas portas
do estabelecimento dos irmãos Miranda, latas de gasolina
e fachos apropriados, a esse fim, conforme fora ainda encontrado e
talvez por
isso mesmo, pelo
Delegado, já
em exercício, o então tenen-
te Teofanes Torres, hoje capitão, a quem
infelizmente não me foi pos-
sivel ouvir em depoimento a esse respeito, por
não ter esse oficial per-
maneado aqui até o encerramento das diligencias, sendo transferido,
muito antes, para
a cidade de Olinda, Recife, afim de assumir o co-
mando do esquadrão dc Cavalaria. Seria então a destruição completa
da cidade, pelo
incêndio total delia, alimentado pela
enorme copia
de matérias inflamaveis, nestas mesmas casas existente. Repetir-se-ia
no século actual da electricidade, mais uma nova tragédia dos antigos
208CULTURA POLÍTICA
tempos de Roma pagã,
tendo por
autores os novos Neros caricatos de
Garanhus, que desapareciam na voracidade do incêndio,
para ser re-
construída, pela base,
por novas
gerações, talvez compostas de menos
selvagens do que a actual constituída como era a anterior
por canga-
ceiros, por meio dos
quaes pretendia a família Brasileiro e os seus
mentores e amigos dedicados implantar a civilisação, com o seu per-
petuo poderio e mandonato local. Convém, a
proposito dos
prepa-
rativos do malogrado incêndio, chamar a attenção para
uma circuns-
tancia característica do fornecimento da gasolina, para
tal fim desti-
nada. Somente na cidade eram possuidores
de semelhante combus-
tivel, o capitão Tomaz da Silva Maia, prefeito
em exercício, preso pre-
ventivamente, com confirmação dessa prisão pelo
Superior Tribunal,
em denegação de habeas corpus por
ele impetrado, e o negociante Ni-
colau Deletieri; implicado nos fatos criminosos do dia 15 de Janeiro,
com indicios, porem,
ainda vir a ser apurada. Antes de terminar
essa longa narrativa, apurada no inquérito, de todos os fatos crimi-
nosos ocorridos e dos seus responsáveis cumpre ainda referir-me, e por
ultimo, mais ao seguinte.
"Logo na manhã seguinte a hecatombe, aproveitando o trem
especial que
conduzira para
ser ali enterrado o cadaver do coronel Ju-
lio Brasileiro, a sua viuva, os tenentes Meira Lima e Padilha, Fausto
Galo, Eutiquio Brasileiro, Alfredo Brasileiro (Doca)
o dr. Abreu e
Lima e respectivas familias, e alguns outros, protogonistas
da mesma
hecatombe, seguiram para
a capital, onde se conservaram até hoje, não
mais regressando aqui um só deles!
"O
que poderá significar semelhante attitude, somente
justifica-
vel naquelles, dentre elles, que
foram presos preventivamente,
ou se
achavam foragidos por
terem tido noticia dos mandados de prisão,
também preventiva,
expedidos por
este Juizo,
contra elles, senão o
remorso de suas consciências pelo
receio de serem passiveis
de qual-
quer castigo, em represalia dos crimes de
que foram autores ou cum-
plices, no supramencionado dia, nesta mesma cidade?
"Disa?it Paduani
"Fazendo
ponto aqui, no tocante à narrativa dos fatos crimino-
sos passaremos
a outra parte
do relatório".
t
0
Memorandum sobre a situação
agrícola nacional no último
período
do II Império
Êsse memorandum histórico consta da Proposta apresentada aos Poderes do
Estado pelo
Com. Domingos Teodoro de Azevedo e pelo
Tenente Coronel
Augusto de Miranda Jordão, fazendeiros na Província do Rio de Janeiro,
proprietários e altos negociantes daquela época, matriculados
pelo Tribunal
do Comércio da Corte. — A referida Proposta tinha por fins principais:
A
Amortização da Divida Interna, fundada pela Lei de 15 de Nov. de 1827;
Conversão da Moeda Papel do Govêrno em ouro ao par;
empréstimo à La-
voura a juro
módico e a prazo
longo. — Por ela sente-se a incerteza política
e financeira de 7iossa última fase do Império. — O receio dos lavradores,
a insegurança da indústria agrícola eram o espantalho dos economistas da-
quela época, a
"assombração" dos capitalistas latifundiários,
que viam de~
saparecef o braço servil, pela fatalidade da Abolição. — A
questão dos
juros
altos, que
arruinou tantos capitalistas, a insuficiência da capital nacional
para fomento, atemorizavam as iniciativas em toda a vastidão do Império.
Dai surgirem os comentários mais absurdos, as hipóteses mais desastradas
no sentido de evitar o abismo para
onde se precipitava,
cada vez mais, o
Brasil. — Infelizmente, porém
a nossa economia tomava aspectos alarmantes,
E como tudo se reorganizou tão diferentemente de tais prognósticos!
Vejamos por
exemplo quanto
a emissão do papel
moeda, recurso hoje
adotado em todos os países.
— A creação dos Institutos4 as leis do Reajus-
tamento Econômico, as Leis de Proteção aos trabalhadores rurais, as Leis
de Assistência Social, a técnica de especialização, e tantos outros benefícios
alcançados pela
numerosa classe, representam uma paisagem
nova na his-
tória agrícola do nosso Pais. — Já não é a velha história enferrujada dos
"engenhos" no atrazo das veredas para
carros "plangentes"
e retardatários,
ou para
as "aranhas"
aristocráticas dos "Senhores". — As estradas largas,
os caminhos de Ferro, ligando quasi todas as Cidades do Brasil imenso, e
ainda as linhas aéreas, nem recordam mais aquéle legitimo quadro
colonial,
quasi lendário no
pensamento da nova
geração.
J/y. 1 INGUEM desconhece porque se acha na consciência geral, que
o Paiz luta
|\| com serias difficuldades economicas e financeiras, há
já alguns annos.
" ^ "Que
estas difficuldades têm produzido crises commerciaes não
perio-
dicas, mas quasi permanentes,
causando sempre graves embaraços á Lavoura^ ao
Commercio e a toaas as mais Industrias, tudo com grande dano da riqueza
publica.
"Que situação anômala em
que, infelizmente, se acha o
paiz, tem a sua
erigem na falta de capitaes disponíveis para satisfazer as necessidades das Indus-
trias, muitas dellas largamente remuneradoras: escassez do meio circulante, que não
<está em relação com as avultadas transações deste vasto Império; e principalmente
a incompatibilidade do papel
moeda.
210
4
CULTURA POLÍTICA
"E,
que esta situarão reclama urgentemente medidas que
impeção a con-
tinuacão de sua marcha» _, •
Os capitaes que devem ser fornecidos á lavoura tornão-se raros e inaccessi-
veis a essa industria por differentcs causas.
•« j
o Falta de confiança na sorte dos imóveis ruraes pela dependencia do
valor dos braços escravos. ...... i_
"Crise do trabalho agrícola pela
diminuição de braços, pelas
va-
gas incertezas de seu futuro, e
pelo malogro de todas as emprezas
a "Dalií*
vem a dependencia senão a inferioridade desta indus-
tria quando concorre com outras, pedindo auxilio de capitaes.
?•o o _ inimobilização dos capitaes em Apólices da Divida Publica, com juros
de seis por cento. A ruina da Lavoura tem vindo dos altos juros que
paea; são efficientes as causas da impontualidacle do lavrador, que
não é para admirar, que este tenha sido obrigado a
pagar juros al-
tissimos, que tem arruinado a uns e .paralizado o desenvolvimento da
cultura a outros.
(Tal como aconteceu agora aos lavradores, milagrosamente salvos,
pelas Leis
do Reajustamento Economico).
"E
quando o legislador tem querido promulgar
medidas á favor
da Lavoura, que tem feito?
"Tem-lhe offcrecido a perspectiva
de juros de seis
por cento
de annuidade fixa de amortização, além de despezas onerosas de ava-
liacões e de dependencias de favor do Banco do Brasil e da insut-
ficiencia do Capital de vinte e cinco mil contos para soccorrer uma
Industria que reclama o quádruplo
desse capital.
"Com taes favores a Lavoura não melhorou, melhorarao ape-
nas alguns devedores, que substituirão débitos mais onerosos por
ou-
tros menos onerosos, quanto a juro
e quanto
a prazo,
"o o \ perspectiva de
juro de seis por
cento ainda nao lhe facilitou o Capital»
"Em concurrencia com os Títulos da Divida Publica interna,
fundada a Lei de 15 de Novembro de 1827, que hoje se acha elevada
a duzentos e sessenta e seis mil contos, os Títulos Hypotecarios, longe
de serem preferidos, são desprezados.
"Emquanto o Estado
pagar semestralmente juros
a seis por
cen-
to ao anno pela sua Divida interna, a taxa de juro para
a Lavoura
e para
todas as Industrias será forçosamente mais elevada, e os capi-
talistas negarão a todas estas a provisão de Capital necessário a
pro-
durão, contentando-se com a segurança do emprestimo e juro
das
Apólices."A
prova desta verdade está no malogro das Lettras Hypote-
carias as quaes hoje são cotadas com descontos de vinte e trinta por
cento, e que
sendo dadas nos emprestimos á Lavoura como Capital,
elevão os juros
dos emprestimos a oito, e nove, e mais por
cento.
"Mas como é
possível esperar o Credito das Letras Hypotheca-
rias emquanto o Governo pagar semestralmente juros
a seis por
cento
ao anno pelos Títulos de Divida fundada?
"A insufficiencia do capital nacional
para fomento, e actividaue
das Industrias e principalmente
da Lavoura é um facto incontestável.
"Para isso tem concorrido o emprego, embora reproduetivo, nas
Estradas de Ferro e outras vias de Communicação; os impostos gra-
vosos que pesão
ainda sobre as Industrias e sobre os consumidores^
absorvendo uma boa parte
dos seus lucros, mas, cuja continuação será
necessaria para que o Governo recue na carreira dos melhoramentos,
materiaps; e também um tal ou qual
desequelibrio entre quantidade
actual do meio circulante e as transações novas e mais activas na
vasta extensão do Império.
"Mas
principalmente e
para a escassear o Capital animador das
Industrias a derivação irresistível daquelle para o emprego em Apoli-
ces da Divida Interna. A pouco
mais de dez annos a Divida interna
fundada tem ciescido em mais de duzentos contos além do Empresti-
mo de 1868, e da Divida Fluctuante sempre crescente, esses empregos
absorvem mais de trezentos contos de Capital, desviados dos empregos,
industriaes.
TEXTOS E DOCUMENTOS HISTÓRICOS 211
"O remedio radical
para curar o mal da actual situação eco-
nomica será pois a creação de um Banco
que tenha
por fins:
"1.° — AMORTIZAR A DIVIDA PUBLICA FUNDADA PELA LEI DE 15
DE NOVEMBRO DE 1827, NO VALOR DE DUZENTOS E SESSEN-
TA E SEIS MIL CONTOS.
"2.0 - RESGATAR TODO O PAPEL MOEDA DO GOVERNO, CUJA IM-
PORTANCIA ACTUAL DE CENTO E QUARENTA
E NOVE MIL
E QUINHENTOS
E DOIS CONTOS — começando o resgate em um
período determinado e substituído integralmente
por moeda de ouro
todo o restante papel
moeda e a emissão do Banco.
"3.0 - EMPRESTAR A LAVOURA ATE' CINCOENTA MIL CONTOS, com
juros de seis
por cento a taxa da annuidade
para a amortização, se-
gundo as condições da Proposta
junta.
"São obvias as vantagens da
proposta.
1
"O Estado em trinta e
quatro annos se desonera de toda a sua divida fundada
na somina de 266.ooo:ooo$ooo e consequentemente de seus juros.
"Em mais de
quatro annos todo o
papel moeda na somma de i49.502:ooo$ooo
será convertida em ouro com garantias que
offerece a proposta
de deposito na
Caixa de Amortização de Apólices da Divida Interna e na Agencia Financeira do
Governo em Londres de Títulos de valor real.
"A Lavoura obterá emprestimos mais fáceis menos onerosos e
por maior
prazo
até a soma de 50.000:000^000
e mesmo ate i io.ooo:ooo.Sooo conforme o art. 14 da
mesma proposta.
"Todas as Industrias aproveitarão os resultados de augmento de uma emissão,
garantida com Deposito de Títulos de Divida do Estado e convertivel em moeda forte.
"Os títulos da Divida Interna não
poderão descer abaixo do
par, o Governo
poderá ter recurso de nova emissão de Apólices, certamente
por juro menor e os
títulos da divida externa que poderão
ser adquiridos pelos Bancos se fortalecerão,
augmentando-se o Credito Publico no exterior, e fácilitando-se assim qualquer
opera-
cão que
o Governo possa
ter necessidade ou vantagem de fazer no exterior.
"Alem disso as Letras Hypothecanas cujo curso não tem sido
possível esta-
belecer vantajosamente no Império forçosamente adquirirão o credito de que pre-
cisão para
favor da Lavoura, tornando-se o emprego preferível para
os capitacs
que hoje se immobilisáo nas Apólices da Divida Publica Interna.
"Bastaria este resultado
para justificar a
proposta por quanto estes títulos de
tanto merecimento conquistarião toda a confiança a quem direito, essa confiança
para com
que a Lavoura,
grande e
principal fonte de riqueza Nacional adquirisse
tríplice força, não definhado como infelizmente vai acontecendo por falta de capitaes.
"O credito territorial, diversão benefica para
os capitaes, seria então entre nós
uma realidade e obtida sem esses grandes sacrifícios do Thesouro Nacional,
que
constantemente estão sendo reclamados.
"E, uma vez
que as Letras Hypothecarias, emmittidas com
juros e; amortiza-
ção por sorteio adquirirem o credito publico
de que
devem gosar,
serão natural-
mente substituídas as Apólices para
o emprego dos capitaes das corporações de mão
morta, das Companhias de Seguros e sociedades particulares a cujos Patrimonios Pios
ou Beneficentes as Apólices sei vem de base.
"Então todos os Bancos que
fazem ou fizeram emprestimos á Lavoura po-
derão alargar as suas emissões e facilitar e tornar menos onerosos os capitaes neces-
sarios para
fomento das outras Industrias os capitaes que se não empregam naquellas.
"Tantas vantagens,
por certo não se
pode obter, sem algum favor do Estado.
Esse favor único é o da emissão facultada ao Banco para
realizar uma grande
operção financeira e economica.
"AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA EM TRINTA E
QUATRO ANNOS;
"RESGATE DO PAPEL MOEDA E DA EMISSÃO DO BANCO EM MAIS
QUATRO ANNOS ALEM DOS TRINTA E QUATRO;
"E EMPRESTIMO
' LAVOURA EM TAL ESCALA QUE
FIQUE FUNDADO
O CREDITO DAS LETRAS HYPOTHECARIAS, sSo vantagens que
legitimarão
mesmo um sacrifício por parte
do Estado.
"Aléin de
que o favor que
sq pede
da emissão não pode
ter inconvenientes
inherentes ao crescimento do meio circulante:
212 CULTURA POLÍTICA
441,0 _ porque a emissão é feita com garantia
de Deposito de Apólices da
Divida Publica que desde o momento do Deposito se tornao ín-
alienaveis. .. ,
442.o Porque, por
effeito desta emissão um anno depois de ter ella chegado
ao máximo o Banco começará a recolher annualmente^IU-
1. ^oo:oooSooo de papel moeda do Governo que
será no fim ao prazo
do contracto, resgatado integralmente, bem como a emissão pedida,
sendo o pagamento feito em ouro, na razão do par.
Libras ester-
linas a 27 dinheiros por mil reis;
44o o Porque a emissão assim garantida contribuirá para
restabelecer o equi-
librio entre as crescentes transações mais activas das nossas Industrias
com a quantidade actual do nosso meio circulante cuja escassez ate
certo ponto retarda, ou restringe o movimento mais accelerado ho|e
das transações entre differentes praças do Império.
"40 — Porque a emissão será feita gradualmente
e a proporção dos Deposi-
tos de Apólices e portanto não deverá occasionar baixa de Cambio,
que não possa ser contrariada por
expedientes do Governo e que nao
seia imediatamente compensada pelo augmento das Rendas Publicas
resultante do mais activo das immensas vantagens que offerecem a
44Admitindo
que se dê o facto de baixa de Cambio, não im-
porta isso em desfavor a combinação da Proposta, porque, qualquei
sacrifício que dessa baixa proviesse, quando muito, poderia
ser cori-
siderado como um imposto indirecto PRIVATIVAMENTE a fins tao
grandiosos como são: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BUCA IN-
TERNA — e
— CONVERSÃO DO PAPEL MOEDA DO GOVERNO
EM OURO - AO PAR, e IMPOSTO, O MAIS EQUITATIVO POR
QUE SERÃO AS CLASSES MAIS ABASTADAS QUE O SLiPORTA
RAO QUASI EXCLUSIVAMENTE.
"A Lavoura so tem a ganhar porque
venderá por mais altos preços,
os seus
produtos; o mesmo se
pode dizer de todas as outras industrias; O Commercio nada
pode porque sempre vende na razão do
preço que compra.
"Os Bancos de Credito Real, as Emprezas de Estradas de Ferro, e da Nave-
gacão de nosso extenso Littoral, e dos nossos Rios, a Exploração de nossas Riquezas
Mineraes, as Edificações e melhoramentos de nossas cidades reclamão Capitaes e
Credito, que não encontrão e cuja restrição retarda o engrandecimento do Império.
44A Proposta, pois
tem por
objeto mobilizar o Capital Nacional, e encami-
nhar a sua distribuição, segundo as legitimas exigencias de todas as Industrias,
fazendo ao mesmo tempo o grande Serviço de Amortização que
a DIVIDA PUBLICA
TNTERNA CONVERTENDO A CIRCULAÇAO MONETARIA DE PAPEL INCON-
VERTIVEL EM OURO.
"Emfim, tornando arithmethica a demonstração da vantagem de
que offe-
rece ao Estado o Banco que
os Proponentes querem fundar, exporão as seguintes
bases de calculo:
"Em
34, annos fica amortizada a Divida Publica interna
na somma de 266.ooo:ooo$ooo
E mais 4 annos fica resgatado o
papel moeda
na somma de 149.502:000^000
"Somma da Divida do Estado amortizada 415.502:000^000
"Continuando as cousas como estão terá o Estado de
pagar naquelle prazo:
Rs. 6o6.48o:ooo$ooo e no fim do prazo
continuará o Estado devedor dos mesmos
266.000:000^000 em Apólices vencendo o juro
de seis por
cento, e do papel
moeda
no valor de 149.502:0003000 cuja Amortização muito lenta e muito onerosa por
meio de impostos se tem sempre malogrado.
"Entretanto,
que o Banco só receberá do Estado cerca de 420.ooo:ooo$ooo,
juros das Apólices
que adquirir e depositar 11a Caixa da Amortização até o
prazo
cie trinta e quatro
anos, e que
serão logo consideradas como amortizadas, pela
clausula^ de inhabilidade com que
ahi serão depositadas. Convencidos das immen-
sas vantagens desta Proposta a qual
não faltão — UTILIDADE PUBLICA NO FIM,
HONESTIDADES NOS MEIOS, NEM GARANTIAS PRECISAS -
a sua aprovação
e autorização para reunir o Capital necessário para
a fundação do Banco".
Carta régia do Rei de Portugal ao
governador
e capitão geral
das mi-
nas, Luiz Diogo da Sylva e o con-
sequente pedido
de exoneração
do vice rei conde da Cunha
Revolvendo velhos documentos históricos é que
sentimos a verdadeira
expressão de nossas conquistas no tempo. — Vejamos, hoje,
por exemplo,
como se escoava o ouro nacional, no tempo dos vice-reis, por
esta carta
régia do Soberano de Portugal ao Governador e Capitão General das
Minas Luiz Diogo da Sylva, redigida a 30
de julho
de 1766 e o conse-
quente pedido de demissão do Vice-rei Conde da Cunha que
tanto policiou
contra o contrabando do ouro, verdadeiro fantasma da Corte.
— Naquêle
tempo, em que todas as nossas riquezas caminhavam para
Portugal, ca-
minharam também com elas, mais 330.000 oitavas de diamante e 36.000
arroubas de ouro. — Devemos, pois,
a Pedro I a justa homenagem do nosso
reconhecimento pelos primeiros passos do Progresso Nacional na conquista
de nossa Independência. - O
primeiro documento conserva a ortografia
do texto original, o segundo, entretanto, transcrito de uma coletanea pu-
blicada recentemente, perdeu, infelizmente, aquela forma
arcaica.
"LUIZ DIOGO DA SYLVA, Governador e Capitão General das Mi-
' nas Geraes, Amigo: Eu El-Rey vos invio muito saudar: Os freqüentes
e importantes extravios de ouro, que por contrabando se tem dezenca-
minhadO dessas Minas Geraes para as Cidades do Rio de Janeiro,
Bahia,
e Portos a ellas adjacentes, sendo prejudiciaes ao Meu Real Serviço o foram
ainda muito mais aos Meus Vassallos moradores nas referidas Minas
Geraes subsidiariamente obrigados a completar nas Casas de Fundição
as quotas nellas estabelecidas para
a arrecadaçao dos Quintos que
se
devem ao Meu Alto e Supremo Domínio. E porquanto pela
Devassa
a que mandei proceder
com estes justos, e indispensáveis moüv» «
ptOTOu
Dlenissimamente, que a cauza mayor daquelles roubos feitos à Minha Real
Fazenda e aos Meus sobreditos Vassallos, consiste no grande numero
deOurives, que nas Cidades do Rio de Janeiro,
Bahia, ei Olinda e mais
lugares daquellas Capitanias se tem multiplicado; os quaes recolhendo a
si o ouro em folhetas, hu'as vezes o reduzem a barras falsas, sem ha-
verem pago o direito dos quintos:
outras o converte nas obras delma-
gens torpes, e indecentes, de rozarios e em outras do uzo das gentes,
oara com estes artifícios cobrirem os referidos roubos, e os passarem
a este Reino debaixo da especie das referidas obras: Querendo obviar a
tâo perniciosos
descaminhos; arrancando a cauza deltepelas '«asraizc^
e exercitando ao mesmo tempo a Minha Real benignidade, Hou p
214CULTURA POLÍTICA
bem por hu'a parte
mandar soltar os prezos culpados' na referida De-
vassa, e rezolver que por ella se não procedesse
ate Segunda Ordem Minha.
E fuy servido ordenar por outra parte, que
os Governadores CapiUes
Generaes das sobreditas Capitanias do Rio de Janeiro, Bahia, ei Pernam-
buco, logo que recebessem as Cartas que
lhe fis dirigir, fizessem prender
e incorporar nos Regimentos d'aquellas Cidades todos os Officiaes, e
Aprendizes do referido Officio de Ourives de ouro ou prata, que fossem
solteiros, ou pardos forros, incorporando-os nos Regimentos pagos
das
referidas Capitanias, ou nas de qualquer outras das vezinhas. Que
depois»
de o haverem assim executado fizessem fechar todas as loges dos Mestres dos
referidos Officios demolindo se todas as forjas delles. e seqüestrando se lhes
todos os instrumentos que costumão servir para
as fundições, ou para
as
obras de ouro. e de prata; pagando-se lhes pelo justo
valor que tiveram ao
tempo dos sequestros, e remetendo se para as Cazas da Moeda, ou Hm-
dicão das respectivas Cidades: Que cada hura dos referidos Mestres fi-
zesse termo judicial assignado perante
o Intendente Geral pelo qual
termo se obrigasse a não exercitar mais o referido Officio sem especial
Ordem do Governo respectivo nos cazos adiante declarados debaixo das
penas estabelecidas contra os falsificadores de Moeda. Que os Aprendi-
zes ou Artífices escravos fossem logo mandado para as cazas de seus
Senhores, obrigando se estes por outros termos a se servirem delles
para outros differentes, exercícios sem lhes permitirem trabalhar de
ourives nem conservar algu* instrumento da referida arte, debaixo das
penas de perdimento dos Escravos e de degredo para
Angola com
inhibicão para voltarem ao Estado do Brazil: Que
as mesmas penas se
executarão d'aqui em diante contra todas as pessoas de
qualquer estado,
qualidade, e condicão que fossem, em cujas cazas se acharem quasquer
officinas de fundições, ou instrumentos proprios pa. ellas se fazerem:
Oue aquelles dos Mestres dos sobreditos Officios de Ourives de ouro,
ou de prata, que considerando a facilidade que
a Ley de dez de^ Setem-
bro do anno proximo passado deu, para
a communicação quazi quoti-
diana, desse estado com este Reino quizesse vir estabelecer nelle as
suas loges para
nellas trabalharem, o poderão
livremente fazer, e se
lhes darião por aquelles Governos Guias para
se transportarem com as
suas famílias, sendo peritos nas artes das suas
profissoens, de boa vida
e costumes sem haverem padecido nota nos seus
procedimentos, fossem
empregados com preferencia nas cazas da Moeda, e Fundição actuaes
dessa Capitania das Minas Geraes, Goyaz, e da de Matto Grosso, e S.
Paulo, que fuy servido mandar e estabelecer; sem
que deste Reino se
podesse mandar outros Artífices para
as referidas cazas, em quanto
na-
quelles Estados os houvesse hábeis, e qualificados
na sobredita forma:
Que as Alfandegas respectivas se não desse despacho de entrada a ins-
trumentos de fundição, ou de Ourives que não fossem remetidos ás In-
tendências Geraes, com arrecadaçoens, e Guias da Caza, da Moeda desta
Corte, com avizo da Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, e
Domínios Ultramarinos, debaixo das penas
de perdimento
dos Officios
aos que taes despachos derem, sendo Proprietários, ou de valor delles
sendo serventuários: E que
finalmente em todos, e cada hum dos cazos
acima declarados, se admitissem denuncias em segredo, nas quaes
sendo
justificadas pela corporal aprehensão, se aplicaria a metade das penas
tão
bem particularmente aos Denunciantes, e a outra a metade das obra:>
dos hospitaes. E Sou Servido outrosim, que pela
vossa parte
executeis,
o que
fica referido em tudo o que
for aplicavel, não consentindo por
modo algum, que nessa Capitania se estabeleção com
qualquer pretexto
ourives de ouro, ou de prata:
O que
tudo fareis executar na sobredita
forma, não obstante qualquer
Leys Regimentos Ordens, ou Dispoziçoens
que sejão em contrario.
"Escripta no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda a trinta de
Julho
de mil sete centos sessenta e seis. — Rey".
"Illmo. Exmo. Sr. -- Na ultima ocasião em
que tive a honra de
me por
aos reais pês
de EL Rei Nosso Senhor, lhe pedi (com aquela per-
turbação que naturalmente costumo ter na sua real
presença) que fôsse
servido mandar-me um sucessor logo que
lhe constasse que por causa
de minha curta capacidade obrava alguns desacertos, e porque
a Praça
de Lisboa e a desta terra, e descobriram em mim muitos que
eu não
sabia que
o eram, pois
os de que
eles me podem
criminar serão tão
TEXTOS E DOCUMENTOS HISTÓRICOS 215
somente, os terem executado fielmente as reais ordens, que Sua Magestade
foi servido dar-me na sua regia carta de 16 de Dezembro de 1753, para
serem presos
e seqüestrados os extraviados dos seus reais direitos, não
me podia persuadir que
observando eu religiosamente, o que na mesma
real carta se me ordenava excedia a minha obrigação, porem para me
capacitar de que
não sirvo, nesta parte,
a meu amo tão bem como
devia, basta-me o ver que
o mesmo Senhor me manda promover
o zêlo
com que o sirvo, com a prudência
e a dissimulação e como não obstante
esta determinação, não alcanço o como a posso praticar, peço
a El Rev
Nosso Senhor, que
se alguns dos meus serviços tem algum merecimento
por remuneração deles, me faça mercê de me mandar sucessor, pois
tam-
bem por outros motivos que
nesta referirei se vê que com bastante causa
peço esta graça que
também é precisa para
o bem comum e quietação
desta Capital.
O primeiro motivo consiste o
que em outras ocasiões tenho dito
a V. Excia. que os meus muitos anos, os esquecimentos que
êles me
causam, os achaques que padeço, e o não poder
com o excessivo pêso
deste governo, me obrigava a pedir
sucessor, a fim de que Sua Magcs-
tade podesse
ser mais bem servido. Isto é o que
tenho pedido nas mi-
nhas súplicas sendo tão verdadeiras como justas, porém como ainda ha
outros motivos graves que parece ser necessário, que por
causa deles
Sua Magestade queira mudar de Governador, os devo relatar a V. Ex.
para que cheguem a real
presença do mesmo Senhor.
Segundo motivo é sem dúvida ser necessário que o Governador seja
benquisto com todos, especialmente com os militares e com estes por
infelicidade minha o não posso conseguir, não obstante o estarem todos
fardados e pagos,
até do que
lhe ficaram devendo meus antecessores,
alem do que teem sido muito acrescentados nos
postos, atendidos por
mim em todos os seus particulares,
e estimados como nunca nesta terra
se viu. Estes mesmos a quem tantos benefícios tenho feito me desejam
ver vendido, porque só se lembram da liberdade que
houve no tempo
do Conde de Bobadela, e ainda a apetecem para poderem gozar aquela
soltura e desobediencia em que
se criaram e viveram não menos que
trinta anos completos, pelo que todos esperam que
meu sucessor queira
seguir aquele sistema.
Terceiro os Ministros desta Relação que deviam concorrer para
a boa harmonia do mesmo Tribunal, e para
a boa arrecadação da Real
Fazenda, e se uniram ao Chanceler João Alberto Castelo Branco, para
protegerem homens indignos e outros devedores em quantias^ graves
a
Real Fazenda, estes procedimento toram tão excessivos que
ate na mes-
ma Relação e fora dela fizeram algumas desatenções ao Procurador da
Joroa e ainda que a cena vai presentemente
mudada, e a meu entender
melhorada com a posse do novo Chanceler, êles me temem e me desejam
fora desta terra, mas poderá ser que
sucedendo assim eles se emende
venham a ser muito bons Ministros porem já agora por
nenhum modo
poderão ser meus bons amigos; e pelo que
tenho dito a alguns deles
sobre o seu procedimento
me desejam ver fora daqui, e se Gonçalo José e
o Procurador da Coroa ficarem nesta terra depois de eu sair dela, os
hão de apedrejar por teiem servido até ao presente
com muita honra,
e uni crànde zelo da Real Fazenda e isto com desinteresse e verdade
pelo que rogo a V. Excia. os patrocine para que possa
haver muito
Ministros que os queiram imitar. ,
r t
"Quarto o Bispo (se
me é permitido
repetir alguns dos fatos que
com cie tem sucedido) posso dizer o muito que
se tem interessado pelo
Tesoureiro da Casa da Moeda Alexandre de Faria, o intento que teve
de intimidai- o Desembargador Procurador da Coroa para que nao apr-
casse as contas que a este homem se deviam tomar, o muito que a
Prelado aistou largar a prata que
a sua Magestade pertencia, e
que
estava no deposito eclesiástico, as vergonhosas deligencias que a^sefl"
/eram nara a não darem que tudo e notorio pelo que
claro esta que
também este Bispo me não gostará, ainda que
aparentemente mostra
SCr
"Ouinto!ga Camara Eclesiástica e Clero que poucos
eram os cabe-
dais desta Capitania, para o que
êles lhe tiravam com as habilitações
dos cue se queriam ordenar, e estes por
não poderem presentemente con-
segu?r as oXís Tulgam uns e outras que
eu lhes causei este prejuízo,
216 CULTURA POUTICA
que só
quando me ausentar poderão
melhorar de fortuna, pelo que todos
eles me não gostam. ?"Sexto,
tendo frades vivido sempre (nesta Capitania) com escanda-
losa liberdade, e vendo que esta se lhe tem quordado_
alguma cousa, na
meu tempo, e neste experimentam o embaraço de não poderem
tornar
noviços, se persuadem de que
eu sou o que lhe tem feito este dano que
tem experimentado, e por esta causa também com êles estou malquisto.
"Sétimo, é infalível que
nem os homens de negócio, hão de deixar
de continuar os contrabandos, nem eu ao que deva obrar aue os evitar,
porque isto é o que Sua Magestade presentemente
me ordena, e como
êles malquistando-me nas duas praças conseguem o
perdão dos seus
excessos, pode Sua Magestade estar na certesa que
estes homens se quei-
xarão sempre de mim, sem deixarem de extraviar os diamantes; ouro,.
e direitos das fazendas.
"Oitavo, também é certo que
nenhum Governador se pode benquis»
tar, não tendo com que pague a quem
manda tomar os gêneros que
precisa, para manter e
prover as praças
do S;il e satisfazer o soldo das
tropas e porque
a falta das frotas tem causado um grande embaraço no
comércio, se experimenta uma grande diminuição no rendimento da Al-
fândega, e com estes motivos como pode um Governador remediar estas
faltas de meios para ser benquisto, com a mesma tropa é com os ne-
gociantes a
quem não
poderá pagar?: a meu sucessor nao será difícil o
remediar esta falta, porque se lhe
permitirá logo o poder
se valer da
casa da moeda, liberdade esta que o Conde de Bobadela teve, e de
que
também usaram com larguesa os Governadores interinos, e que
eu não
pude conseguir não obstante o te-la
pedido ha tres
para quatro anos,
sem merecer nem a resposta desta representação, pelo que
naturalmente
por este motivo, também me irei malquistando cada vez mais.
"Nono, sabe-se
que a maior rua desta terra e a mais
populosa e a
dos Ourives, e que
esta inumerável gente se sustentava daqueles ofícios
de que já não pode
usar, e todos sup&em que
foi arbítrio a sua extinção,
pelo que de mim se
queixam incessantemente, e este só motiv.o bastava
para me malquislar, e fazer aborrecido no Rio de
Janeiro."Décimo,
neste Capítula mostrarei últimamente outros motivos pelos
quais se vê claramente
que com todos me tenho malquistado, e
que por
esta causa me parece
ser necessário que para
esta terra venha com bre-
vidade Governador que se
possa fazer amado.
"Todos os oficiaes da Alfândega, vendo o cuidado em
que nela
estou e no seu despacho, se não satisfazem deste novo zelo, os da Fazenda,
como pela
nova regulação perdem
os ofícios de que
se sustentavam, per-
suadem-se que
eu fui o árbitro desta novidade e se queixam
de mim.
"Oq da Casa da Moeda com as necessárias e importantes diligências
que tenho feito nela, estes mais
que todos me desejam o sucessor
que
peço e
porque em descaminhos da Real Fazenda tenho achado cúmplices
alguns oficiais militares, que
tenho presos
e lhe estou averiguando as
culpas particularmente,
também estes e seus camaradas, ansiosamente
desejam novo governo."Estes
grandes motivos me impossibilitam
para me
poder benquistar,
o que
será muito fácil a qualquer outro que me vier suceder,
porque
conhecendo estas gentes que êle não podia ter
parte nos meus desacertos
se poderá
fazer muito amado o que
muito importa ao real serviço de
Sua Magestade, que
não tem conquista tão importante como esta, a
qual achei
perdida por todos os modos, e
por toaas as suas
partes mais
importantes, porque
não havia nelas mais que
desordens — insultos —
ruínas — pobresas
— roubos, sendo nestes a Fazenda Real a mais pre-
judicada, as conquistas do sul, V. Excia. sabe o deplorável estado em
que estavam, e como tudo se reformou, satisfaço-me com
que o digam
as pessoas que
na praça
de Lisboa e na desta Capital me malquistaram;
e para que
o beneficio (que com tanta despesa da Real Fazenda e tra-
balho meu) possa permanecer, conheço
que é preciso
novo Governador
como todos desejam, para que
com a sua prudência e dissimulação, venha
consolar os que ainda lamentam a
perda que tiveram na falta do Conde
de Bobadela, e na brevidade do Govêrno interino."Deus
guarde a V. Excia. muitos anos — Rio de Janeiro, a
7 de
julho de 1767 — Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Conde
da Cunha".
Panorama da atividade
governamental
III
As obras de remodelação da cidade
NADA
mais exagerado do que
considerar-se o Rio de Janeiro
como
vim resultado quasi
exclusivo de favores da natureza, menospre-
zando-se a ação que
aqui tem tido a mão do homem. Porque si
há cidade no mundo que
seja legítimo produto
do trabalho humano,
essa é, certamente a nossa Capital. O êrro acima vem da confusão
que se faz entre a beleza natural e as condições urbanísticas do Rio.
Por certo, a paisagem
é magnífica, esplendorosa, um presente para
os nossos olhos e um consolo para
o espírito, mas ao lado dêsse quadro
deslumbrante, a velha urbe colonial encontrou toda sorte de hostili-
dade para
desenvolver-se. Começa
por isto: o
próprio conjunto de
montanhas e de colinas, que
dá encanto à cidade, traça um rumo irre-
guiar e difícil à sua expansão. O Rio não encontrou uma planície
suave como Paris, onde a pequena
elevação de Montmartre forma o
único acidente orográfico, nem a horizontahdade tranqüila do
pampa
por onde se extendeu
vertiginosamente Buenos Aires. Mesmo Sao
Paulo, pouco
feliz sob o ponto
de vista de sua topografia urbana,
fundada numa colina, teve melhor sorte que
o Rio, pois
a aiea cir-
cuniacente favoreceu plenamente o desenvolvimento da cidade.
A Capital do Brasil vê-se apertada entre dois obstáculos intrans-
poníveis: o mar e a montanha. Dir-se-á
que nisto vai todo seu atra-
tivo, toda sua originalidade. Certamente, mas uma cidade e um aglo-
merado humano e o homem costuma procurar
os luRares. onde as
condições da natureza tornam a vida mais fácil. Tudo impe
Rio de vir a ser uma grande
cidade si os seushabuanesnaosedis-
puzessem a lutar com a natureza.
Foi o que
fizeram, d.sassomb a
220CUI/TTJRA POLÍTICA
mente, desenvolvendo um esforço hercúleo, em cujo resultado as ge-
rações de hoje devem mirar-se orgulhosas.
Quem observa a configuração da baía Guanabara
nos textos,
cartográficos de duzentos anos atraz pode
avaliar amplamente a ex"
tensão dêsse trabalho humano. Estampas antigas mostram-nos o bair-
ro da Lapa como um verdadeiro lago, quando já
existiam os arcos do.
aqueduto de Santa Tereza. Onde se ergue hoje a igreja da Candeia-
ria encalhou outrora um barco e êsse fato se prende
mesmo ao nome
do templo. Também o bairro da Tijuca, hoje tão aristocrático e sa-
lubre não passava de um
pântano. O solo do Rio na sua maior ex-
tensão estava todo sulcado de veios de água, cujo drenamento seria
bem demorado e trabalhoso. Em lugar de recuar e procurar
outro
sítio mais propício para
instalar-se, o homem, entretanto, resolveu en-
frentar os obstáculos e adaptar às necessidades urbanas os que
não
podiam ser removidos. A luta foi lenta, embaraçando durante mui-
tos decênios o progresso
do Rio, mas nem por
isso o homem dei-
xou de vencer.
Nos primeiros
dias da República, nossa Capital ainda apiesen-
tava precário aspecto, sem
poder nem de longe comparar-se aos
gran-
des centros da Europa e mesmo da América. Basta dizer que
sua rua
principal e de maior movimento, eixo em tôrno do
qual girou no de-
correr de muitos anos toda a vida do país
— a rua do Ouvidor
— eia
simplesmente um beco. Tal a exclamação desoladora que parte
dos.
lábios do herói da
"Capital Federal" de Coelho Neto. Vindo de Mi-
nas, a sonhar alvoroçado com as belezas do Rio, o provinciano,
logo-
ao saltar aqui, manifesta o desejo de ver a rua do Ouvidor. E que
decepção! Aquilo a famosa artéria tão decantada no Interior?
A mesquinhez do cenário urbano contrastava com a magnifi-
cência da natureza. Ao lado de montanhas colossais aquela aglome-
ração de casas minúsculas e enegrecidas, de vielas, tortuosas, a antiga
cidade das
"Memórias de um Sargento de Milícias". E assim mes-
mo, grande já
tinha sido a conquista do homem nessa época; daí em
diante, porém,
é que
ela vai tomar seu maior impulso. Há ainda o
flagelo da febre amarela. O estrangeiro evita a nossa Capital, con-
siderando as belezas naturais coisas para
se ver de longe e nossos na-
vios sofrem toda sorte de intervenções vexatórias no estrangeiro. Er
preciso trabalhar muito no
quadro magnífico com
que a natureza
nos brindou.
Estamos em 1904. Rodrigues Alves sóbe ao poder
e, graças
à
política financeira do seu antecessor, empreende o
grande plano de
remodelação da cidade. Não precisamos
encarecer aqui, mais uma
vez, o espírito de iniciativa do Presidente paulista.
Convém repetir,
entretanto, que um dos seus maiores méritos foi o de ter sabido esco-
lher seus auxiliares. Pereira Passos incumbe-se da tarefa de transfor-
mar o Rio numa Capital apresentável. Para isso é preciso
demolir.
Casarões horrendos, becos, vicias, tudo forma um
"carrefour" medo-
PANORAMA DA ATIVIDADE GOVERNAMENTAL221
nho no centro urbano. (O
calor fazia com que
se abrissem ruas muito
-estreitas afim de que
os habitantes fossem beneficiados pela
sombra).
O alvião do progresso
desceu impiedoso sôbre ò velho Rio. Rasgou-
se a Avenida Central, abriram-se praças,
construiram-se jardins.
Foi
a época do
"Bota
abaixo". Essas medidas, coincidindo com a extinção
da febre amarela pelo
saneamento da cidade, realizado por
Osvaldo
Cruz, assinalou completa transformação da Capital. Nos anos subse-
quentes novas remodelações foram se
processando em ritmo acelerado:
arrazou-se o morro do Senado e depois o do Castelo, em 1922 gran-
de obra que
deu mais uma vasta faixa de terra à urbe, melhorando
além disso as condições higiênicas da parte
central da cidade; Copa-
cabana transformou-se num bairro de arranha-céus, o movimento au-
mentou extraordináriamente, tornando-se o Rio em tudo semelhante
aos maiores Capitais do mundo. Falar-se diante disso apenas em be-
leza natural, esquecendo a obra da homem, é não querer
reconhecer
a verdade.
Entretanto, pode-se dizer
que o Rio moderno expandiu-se, den-
tro do traçado de remodelação do prefeito
Passos. E o que
êsse in-
teligente administrador não podia
supor é que
o progresso
da cidade
fosse tão rápido, a ponto
de em trinta anos tornar as referidas obras
inadatáveis ás novas necessidades urbanas. A Avenida Rio Branco,
por exemplo, era bastante larga em 1904; hoje é excessivamente estreita.
O prefeito
Passos não imaginava o que
seria o Rio de 1941. E assim
fez uma cidade apenas para
seis lustros.
Isso concorreu para que
se tornasse indispensável outro plano
de remodelação, visando não só as condições do Rio atual, como a
crescente expansão da nossa Capital. E' a obra que já
começou a ser
posta em
prática pela Prefeitura, de acordo com o Governo Federal.
Será arrazado o morro de Santo Antônio, aterrada uma parte
da en-
seada do Rússel, abertos novos túneis e novas vias publicas,
entre
quais se destaca a Avenida Getulio Vargas. Êste ultimo empreendi-
mento é dos principais
do aludido plano, pois prolongando
até o
cais do pôrto
a Avenida do Mangue vai descongestionar extraordina-
riamente o movimento do centro urbano. Corrige assim nao só a lar-
eura exígua da Avenida Rio Branco, como das ruas transversais, que
tanto embaraço causam ao tráfego. A 1 ** Jpn
sistema de financiamento racional e inteligente para
a realizaçao des-
sas obras de maneira a torná-las menos dispendiosas aos cofres
pu-
blicos. Eo Govêrno atual
já não incidirá no êrro antigo. Teremos,
desta vez, um Rio para
cem ou duzentos anos.
Locação de empregados em serviços domésticos
o extraordinário progresso verificado no Brasil nestes últimos
anos, em matéria de leis sociais, cada vez mais seaja. Vamos
dando ao mundo o exemplo de uma leg^iaçao trabalb sta mode ar,
surpreendendo os especialistas estrangeiros que
nao. nos teem regatea
222CULTURA POLÍTICA
do louvores. O fato torna-se mais significativo si levarmos em conta
o curto espaço de tempo em que
se realizou essa obra tão vultosa. Que
possuíamos nesse sentido em 1930? Nada ou
quasi nada. O traba-
lhador vivia sem proteção
alguma. Nem férias, nem aposentadoria,
nem outra garantia qualquer.
Apenas o sentimento de humanidade
dos patrões.
Estavamos muito atrazados com relação a vários países
do mundo. E compreende-se que
dessa situação se prevalecessem
os agi-
tadores, os propagandistás
de extremismo subversivos para ativai seu
nefasto proselitismo.
Protegiam-nos, entre outras tantas 1 azoes, a
obstinação de certos espíritos ronceiros, fanatizados pelo
culto de um
liberalismo inadequado às condições do mundo moderno. Afastando
as influências dêsse espírito retrogado, ao mesmo tempo que
destruía
o fermento das ideologias extremistas, o govêrno
do Presidente Var-
gas dava cumprimento a um
programa sindicalista,
que há de ser
sempre considerado verdadeira obra prima
de política
administrativa,
reciprocidade de direitos entre empregados e patrões para
segurança
comum e maior rendimento do trabalho. E não se pode
falar em sa-
crifícios e concessões quando
se trata apenas de justiça
— deveres e
direitos. Decretos sôbre decretos foram com rapidez extraordinária,
dando uma configuração magnífica à nossa organização sindical.
O que
outros povos
haviam arrancado à custa de luta e san-
gue, na turbulência das
greves, nós o conseguimos numa atmosfera
de paz,
com o concurso de técnicos e legisladores. Foi um dos mais
belos exemplos de revolução pacífica que
se conhecem. A transfor-
mação operou-se sem abalos de qualquer
espécie e sem o menor dese-
quilíbrio econômico. Na
grande parada proletária de Novembro do
ano passado,
o Presidente Getulio Vargas poude
ter a comprovação
dos resultados fecundos de sua obra, recebendo as mais expressivas
manifestações de gratidão
do trabalhador brasileiro. Mas essa obra
continua a aperfeiçoar-se, pois
seria impossível atingir-se tão rapida-
mente uma forma definitiva. A própria
natureza das leis do traba-
lho faz com que
elas estejam sujeitas a modificações de acordo com
o desenvolvimento do país.
O decreto 3.078,
ultimamente assinado
pelo Presidente da República, é mais uma bela conquista de tão vasto
e complexo aparelhamento. Dispõe sôbre a locação de empregados
em serviços domésticos com o mesmo espírito de equidade já
evi-
denciado na regulamentação de outros ramos profissionais.
No Brasil sempre houve crise de serviçais domésticos. Mal re-
munerados e sem garantias,
os indivíduos que preferiam
essa profis-
são nunca a consideravam um meio de vida efetivo, empenhando-se
por isso com
pouco interêsse no labor e abandonando-o na
primeira
oportunidade. Quer
no Interior, quer
nas Capitais, a dificuldade para
se encontrar bons empregados dessa categoria era geral.
Com o de-
creto ora incorporado às nossas leis trabalhistas, a situação vai
mudar fatalmente, pois
os direitos de tais profissionais
assegurados,
não só aumentarão o número dêles, como os levarão a um cumpri-
mento mais solerte de suas respectivas obrigações.
PANORAMA DA ATIVIDADE GOVERNAMENTAL 223:
A fabricação
de pólvora
de base dupla
lnauguraram-se no dia 13 de Março as novas instalações da Fá-
brica de Pólvora de Base Dupla, de Piquete, presididas
as solenida-
des pelo
General Gaspar Dutra, Ministro da Guerra.
Há quarenta
anos que
o General Mallet, ministro do govêrno
Campos Sales, pensara
em instalar no mesmo local, junto
ao dorso
da Mantiqueira, uma fábrica capaz de produzir,
suficientemente, pól-
vora da referida qualidade.
Mas a idéia encontrou sérios obstáculos
e o que
vínhamos tendo até a pouco, para
suprir as necessidades das
nossas forças armadas era a pólvora
de base simples. Para isso havia-
mos adquiridos vultosos maquinários nos Estados Unidos. Nossos
técnicos em balística, porém,
não cessavam de exaltar as qualidades
da base dupla —
como observou o General Silo Portela, em discurso
feito por
ocasião do ato inaugural —
e os industriais de Piquete sem-
pre encararam a
possibilidade de vir a fabricá-la, embora com sacri-
fício das montagens que
tão caro haviam custado ao govêrno
e não
podiam ser utilizadas sinão em
pólvora simples.
O Presidente Getulio Vargas, encarando a questão
de frente,,
segundo a norma de todos seus atos, não hesitou em ordenar o aban-
dono das construções antigas e o conseqüente aparelhamento de novas
instalações de acordo com os progressos
de tal ramo industrial. Lon-
gos e
profundos estudos
- diz o General Portela, na inteligente espia-
nação do seu discurso — foram empreendidos por
elementos da Di-
retoria do Material Bélico -
dentre êstes sobresaindo-se o de especia-
listas de Piquete —
não só em nossa terra como no estrangeiro, com
o fito de orientar a administração sobre a mais conveniente escolha
entre os vários processos
industriais utilizados em diferentes países.
Não era de fácil solução o problema por
termos de opinar em assuntos,
cuia prática continuava completamente desconhecida no Brasil e
qualquer conclusão apressada
poderia levar-nos ao mesmo impasse an-
terior: o desaproveitamento de instalações tão dispendiosas.
Afinal, depois de todos êsses estudos, conseguiu-se padronizar a
fabricação com o emprêgo de nitrocelulose e nitroglicerma. Tinha-
mos, pois,
a pólvora
de base dupla, com a vantagem nao so de ser
adequada ao aparelhamento bélico
que acabamos de adquirir no
estrangeiro, como de permanecer
longo tempo em perfeito
estado de
conservação, graças aos estabilizantes que possue.
A fabrica de P -
quete é a
primeira dessa
pólvora instalada na América do Sul, o
que
ainda nos dá o privilégio
de podermos
exportar o produto.
1 al a
nova iniciativa de vulto tomada pelo govêrno para
intensificação da
grande obra de nossa defesa e segurança.
Por decreto de 25 de Março, o Govêrno aprovou o regulamen-
to da Escola Técnica do Exército, destinada a formar engenheiros
militares necessários ao mesmo e indispensáveis ao preenchimento
de
cargos especializados de suas diferentes funções técnicas.
224 CULTURA POLÍTICA
Instruções sobre a Escola de Aeronautica
Tendo sido, por
decreto do Governo, extintas a Escola de
Aviação Naval c Escola de Aeronáutica do Exercito, foram criadas,
«consequentemente, a Escola de Especialistas de Aeronáutica e Escola
»de Aeronáutica. Sôbre esta última, o Ministro Salgado Filho baixou
as seguintes instruções: A formação de oficiais aviadores passará
a ser
feita agora numa só escola denominada de Aeronautica, que
utilizará
para seu funcionamento as instalações e recursos do extinto estabele-
cimento congênere do Campo dos Afonsos. A instrução a ser minis-
trada aí compreenderá um curso completo de tres anos pelos quais
será convenientemente distribuído o ensino, abrangendo: a) Instru-
<ção fundamental —
relativas às disciplinas necessárias ao preparo
bá-
:sico superior do futuro oficial; b) Instrução militar relativa a regu-
lamentos militares, à reorganização de serviços da Aeronáutica, do
Exército e da Armada; c) Instrução Aeronáutica relativa aos assun-
tos que
são necessários ao preparo profissional
do futuro oficial, tais
como: Aerodinâmica, Teoria do vôo, Motores, Navegação, Armamen-
to, Metereologia, Tecnologia Aeronáutica, Fotografia Aérea, Rádio,
Tática e Instrução Prática de vôo. A Escola funcionará em 1941 com
seu curso completo, obedecendo no que
lhe for aplicável o regula-
mento da extinta Escola de Aeronáutica do Exército, regulando-se
«os casos omissos e nos decorrentes da fusão por
meio de instruções
.provisórias, baixadas pelo
seu comandante.
A fiscalização
dos entorpecentes
O Brasil tem sabido defender-se contra o flagelo dos entorpe-
•centes. E é preciso
intensificar cada vez mais a fiscalização de ma-
neira a não permitir
as manobras audaciosas dos viciados e dos tra-
ficantes da morte. Tanto os primeiros,
como os segundos lançam mão
dos processos
mais engenhosos para
burlar a vigilância das autori-
dades. Com as medidas ultimamente tomadas, porém,
as dificuldades
para os violadores da lei multiplicam-se. Hoje,
já são impossíveis cer-
tos truques de que
lançavam mão os viciados, como, por
exemplo, o
•de se apresentarem numa casa de saúde para
se submeterem a um tra-
tamento de desintoxicação que,
no fundo nada mais era sinão uma
forma segura e econômica de entreter o vício. A grande
responsa-
bilidade dos médicos nêsse terreno leva as autoridades policiais
a não
lhes perdoar
as menores infrações. Porque si não há função social
mais sublime e de maior significação humana do que
a da medicina,
bem grande
é a culpa dos que
dela se prevalecem para
alimentar ví-
cios tão nocivos. O uso dos entorpecentes veio do Oriente, dêsses po-
vos para
os quais
a vida real quasi
não tem significação. Entre a ati-
tude do hindú que
fica horas e horas de cabeça curvada, meditando
sôbre a bemaventurança eterna do não ser e a do indivíduo que
en-
tra numa
"fumerie" de ópio
para mergulhar no sonho a identidade é
perfeita. O entorpecente favorece uma evasão, sendo
por isso mes-
PANORAMA DA ATIVIDADE GOVERNAMENTAL 223
mo uma negação da vida. Que
a arte se tenha beneficiado algumas
vêzes dessas evasões não duvidamos, mas são benefícios tão insignifi-
cantes, que pesam
tão pouco
no rói das grandes
criações do espírito
humano, que
não podemos por
aí descontar a menor partícula
dos
danos do vício.
Si recorrermos à história da literatura, veremos que
a contri-
buição dos paraísos
artificiais
"nela
é quasi
nula: Tomás Quincey,
Raudelaire, e mais alguns poetas
de segunda ordem resumem todo o
contigente das obras inspiradas por
tal vício. Por outro lado, muitos
dos que
exaltaram os entorpecentes nos seus livros fizeram-no apenas
por snobismo, como no caso de
Jean Lorrain,
que tanto falava em
ópio mas nunca conseguiu suportá-lo.
Não há, pois,
nenhuma tenuante para
um flagelo tão voraz.
Vício das sociedades decadentes, a toxicomania deve ser combatida
com a maior energia no Brasil, povo jovem,
em pleno
elan^ de vi-
talidade e progresso.
Cada viciado comete um crime não so contra
si mesmo, como contra a coletividade, infiltrando nela um fermento
de desagregação.
Incrementando o combate sem tréguas a êsse mal, o Governo
acaba de organizar a Comissão encarregada da fiscalização dos cntor-
pecentes. Compõe-se ela do Diretor do Departamento Nacional de
Saúde, de um representante da Diretoria de Saúde do Exército, de um
representante do Corpo de Saúde da Armada, de um representante do
Ministério da Justiça
e outro do Ministério do Trabalho, do Chefe
de Divisão de Atos, Congressos e Conferências Internacionais do Mi-
nistério das Relações Exteriores, do Diretor da Secção de Fiscalizaçao
do Exercício Profissional do Ministério da Educação, da autoridade
policial encarregada do serviço de fiscalização e repressão ao uso e co-
mércio ilicito de tóxicos e entorpecentes, de um conferente designado
pelo inspetor da Alfândega do Rio de
Janeiro, de um representante
do Instituto de Química
Agrícola do Ministério da Agncultura de
um representante de estabelecimento clinico especializado em toxico-
mania e de um funcionário das clases K e
J do Ministério das Rela
ções Exteriores, que
exercerá as funções de secretario.
Essa Comissão tem funções amplas, devendo focalizar a impor-
tacão e o trânsito de entorpecentes pelo territorio nacional. Nao sera
concedido o certificado de importação a
quem tenha sido condena o
em processo por qualquer infração da lei
que regula o uso
,de
e^or-
pecemesf r^m à sociedade
comercial de que
o mesmo .nd,v,d„o
faça parte.
Proteção aos servidores do Estado
Os aue louvam os privilégios
de certas funções públicas
não
se lembram de que
estes são contrabalançados poi' ia^r£^
t„. „
rUrn, imareos Está nessas condiçoes o cargo de iiscai ae ím
<"¦« ctí* p"*
°timc,onàno
226 CULTURA POLÍTICA
inimizades, ódios e dificuldades de toda sorte. Entre o contiibuinte
e o representante do fisco nem sempre ha o entendimento perfeito
que a honestidade e o civismo do
primeiro deviam
garantir. in-
compreensão e a má fé do contribuinte leva-o a receber, muitas vezes,
com agressividade o fiscal. Vem o propósito
lembrar um exemplo
literário, mas nem por
isso menos expressivo: o de Cervantes. No-
meado cobrador de impostos na Espanha, o autor do D. Quixote
,
apesar da penúria
em que
vivia, acabou desistindo das funções ante
as hostilidades que
teve de enfrentar. A maioria das pessoas,
no seu
julgamento apressado, não atenta
para o lado difícil e escabroso de
tais cargos. E é preciso
notar que
os obstáculos são maiores para
os
que trabalham no Interior do
país, em regiões mais ou menos atra-
zadas, onde o homem não se compenetrou ainda devidamente da
legitimidade do imposto e dos deveres de todo cidadão para
com
o Govêrno.
Foi com tais obstáculos que
se viu a braços o fiscal de consu-
mo José
Bernardo Bezerra de Menezes, procurando
desempenhar ho-
nesta e rigorosamente suas funções no Interior do Ceará, para
onde
havia sido designado. Ali prostou-o
morto a reação violenta de um
contribuinte recalcitrante, fato amplamente divulgado por jornais-
desta Capital.
O Govêrno, considerando os serviços prestados pelo
extinto e
a circunstância de ter sido assassinado no cumprimento dos seus de-
veres, resolveu conceder uma pensão
especial à viuva e filhos meno-
res do referido funcionário. E' um legítimo ato de justiça,
revelando
o interêsse e o carinho com que
o Govêrno vê a sorte dos seus devo-
tados servidores.
Instituto Nacional do Pinho
Por decreto de 19 de Março, o Govêrno criou mais um órgão
especializado para
o fomento dos nossos produtos
agrícolas. Trata-se
do Instituto Nacional do Pinho, cujas funções são as seguintes:
a) coordenar e superintender os trabalhos relativos à produção
do pi-
nho; b) promover
o fomento do seu comércio no interior e no ex-
terior do país;
c) contribuir para
o reflorestamento nas zonas de
produção de
pinho; d)
promover os meios de satisfazer os
produto-
res, industriais e exportadores quando
às necessidades de crédito e fi-
nanciamento; e) manter em colaboração com o Ministério da Agri-
cultura a padronização
e a classificação do pinho;
f) fixar preços
mí-
nimos, estabelecer quotas
de produção
e de exportação; g)
organizar
o registro obrigatório dos produtores,
industriais e exportadores;
h) providenciar
sobre a construção em locais adequados de usinas de
secagens e armazéns para
depósito de madeiras; i) regular a instala-
ção de novas serrarias, fábrica de caixas de beneficiamento de madei-
ras; j) promover
a criação de órgãos industriais autônomos para
a ex-
ploração de indústrias derivadas da madeira; k) manter um serviço
de estatística e informações; 1) fiscalizar a execução das medidas e re-
?
PANORAMA DA ATIVIDADE GOVERNAMENTAL 227
I
soluções tomadas, punindo
os infratores de acôrdo com as penalidades
que forem fixadas no regulamento do Instituto Nacional do Pinho;
m) instituir e organizar os demais serviços necessários às realizações de
seus objetivos.
Um dos grandes
males do Brasil foi a monocultura, erro em
que vínhamos incidindo até há
pouco tempo. Imaginávamos
que só
poderíamos ser
grandes produtores de café e
que êste vastíssimo solo
tão fértil, de natureza geológica
tão variável e, em condições atmos-
féricas tão diversas não podia prodigalizar-nos
outras riquezas. Como
já acentuamos aqui na vez anterior, nem mesmo cuidamos de estudar
as possibilidades
de produção
da nossa terra. A situação privilegiada
que desfrutávamos no mercado mundial como exportadores de café,
fazia com que
todos os nossos esforços se concentrassem no cultivo,
atitude que
hoje, racionalmente abandonamos, graças
ao plano
de
política econômica do Estado Novo.
Restrições à entrada de estrangeiros no pais
Logo depois de decretar a obrigatoriedade de registro para
os
forasteiros, que
entrarem no país
em caráter temporário, o Govêrno
assinou outro decreto, restringindo a entrada de estrangeiros. Fica
assim suspensa a concessão de vistos temporários em passaportes
de
filhos de outros países, que pretendam permanecer
no Brasil, excetu-
ando-se os nacionais de Estados Americanos, os indivíduos de outra
nacionalidade, desde que
façam prova
de possuir
meios de subsistên-
cia. O visto permanente
também acaba de ser suspenso, com exclusão
dos seguintes casos: a) quando
se tratar de estrangeiros os técnicos ru-
rais, que
venham para
o Brasil com emprêgo garantido;
b) de estran-
geiros que transfiram
para o Brasil
quantia correspondente no nu-
nimo a quatro
contos de réis; c) a técnicos de mérito notoriamente
excepcional, que
encontrem no Brasil ocupação adequada. Nos ca-
sos
"a"
e V a imigração será autorizada sob a condição de não poder
o estrangeiro exercer outra atividade remunerada, durante os primei-
ros dez anos de sua residência no Brasil e tendo-se em vista o seguin-
le: sua aptidão para
o trabalho a que
se propõe;
suas condições de
assimilação pela população
brasileira; sua localização no Brasil de
maneira a evitar-se a formação de núcleos de difícil absorção e a con-
densação nos centros urbanos.
Como se vê, essas medidas estão perfeitamente
de acôrdo com
as que
todos os países
teem tomado com relação à entrada de estran-
geiros, pela necessidade de defeza econômica. No Brasil, sempre hou-
ve a mais descabida tolerância nêsse assunto, só agora encarado no
seu devido aspecto, e com o rigor necessário.
Transformações
no
campo do direito
III
LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO
Professor na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil
O artigo anterior cogitou das "Transformações"
de caráter orgânico-judi-
ciário operadas no primeiro período de governo
do Piesidente Vargas,
porque tudo quanto
se fez nesse
particular deve ser anotado para
o efeito
da fixação histórica dessa época, movimentada e fecunda,
da V'd""e*,°'
nal importa tratar da creação da Justiça de exceção
— que
e de
juridico-processual
— antes de examinar o trabalho realizado nesse campo
durante os períodos
subsequentes<
"Justiça Revolucionária"
FIEL
ao seu pensamento
e ao seu propósito
e aplicando o ponto
de
vista que
expoz no discurso de 3
de Novembro de 1930, quando
se empossou na Chefia do Govêrno Provisório, o Presidente Ge-
túlio Vargas baixou o Decreto n.° 19.440, de 28 dêsse mês pelo qual
deu organização ao Tribunal Especial, creado pelo
art. 16, do De-
creto institucional n.° 19.398, de 11 de Novembro, com a competên-
cia especial de julgar
os crimes políticos
e funcionais que
menciona
enumera.
Por outro lado o decreto em aprêço impõe as sanções de cara-
ter político, que prevê,
em defesa dos princípios
do regime republi-
cano, do decoro e do prestígio
da administração, do erário, da ordem
numa palavra,
do interêsse público
em geral*
Nos termos dessa lei o Govêrno se reservou a faculdade de apli-
car, de plano,
essas sanções quando julgasse
conveniente, limitando a
competencia do Tribunal Especial aos fatos que
tivessem ocorrido no
período do Govêrno cuja ação
político-administrativa determinou a
Revolução.
TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DO DIREITO229
A jurisdição
do Tribunal se estendia a todo o território nacio-
nal. cumprindo, entretanto, que,
na aplicação das penas
e sanções
de sua atribuição, atendesse aos interesses nacionais, à segurança da
ordem pública
e considerasse, em cada caso, as respectivas circunstân-
cias agravantes e atenuantes.
A lei em aprêço declarava quais
os atos passíveis
de sanções
como as providências
de caráter político que poderiam
ter aplicação
cumulativa e regulava o funcionamento do Tribunal, que
era consti-
luído por
cinco membros, assistidos por
dois Procuradores especiais
nomeados, todos, livremente pelo
Governo.
O decreto, que
declarava expressamente as atribuições de jui-
zes e procuradores,
cogitava também da nomeação de comissões de sin-
dicáncia, que fossem necessárias, das respectivas atribuições e da or-
dem dos serviços, e estabelecia a forma do processo
a ser observado.
Êsse processo
deveria ser escrito, salvo quando
se tratasse dos
incidentes de natureza ordinatória, que poderiam
ser propostos
e tra-
tados verbalmente. .
O ume o recurso
Das sentenças do Tribunal, sempre escritas e fundamentadas, o
único recurso cabível seria o de embargos para o
próprio Tribunal,
ao qual era lícito requisitar todas as
providências, diligencias e infor-
mações que julgasse
convenientes, como também ordenar a prisão
dos indiciados. .
As circunstâncias de se tratar de
justiça de exceção e de n
ter o Tribunal Especial nenhuma instância superior à sua, que pudes-
se rever as suas sentenças, explicam o fato de não dar a lei de sua or-
ganização outro recurso das respectivas decisões que
o de embargos.
Dispostas as atribuições
Em 7
de Janeiro
de 193» foi baixado o Decreto n.°79-575 que
dispunha sobre as atribuições dos
procuradores
especiais
£0
T«buna
Especial e dava algumas outras providencias
de ordem interna e
natureza proc«sual^
Especial, creado pela
Lei orgânica n° 19.398,
de „ de Novembro de ,9S» e organisado pelo
28 do mesmo mês, foi dada nova organizaçao mais conforme com a
exigências do interêsse público, pelo Decreto n.° i9-7*9> de 20 «jc
Fevereiro o qual,
outrossim, estabeleceu
o processo
de julgamento
dos
crimes de sua competência e deu outras providencias.
Criada a
"Junta de Sanções
Êsse órgão de Justiça
Revolucionária, como algures se denomi-
„ou o Tribunal Especial,'pouco .empo depois de
dame„« de coÜL'
lar a LSncia® dLa organização
e, por
isso, o tramformou em
230 CULTURA POLÍTICA
uma
"Junta
de Sanções", constituída por
tres Ministros de Estado e
a ela conferiu a competência, que
era atribuída ao Tribunal, em de-
fesa dos princípios
do regime republicano, do decoro e do prestígio
da administração, do erário nacional, da ordem e do interêsse públi-
co em geral.
Êsse Decreto n.° 19.811 não só traçava as normas constitutivas
da Junta
e regulava o seu funcionamento como estabelecia a forma
do processo
respectivo.
Reduzido o número de seus membros
A organização do Ministério Público com função perante
a
"Junta", foi alterada com a redução do número de seus membros a
um único Procurador, auxiliado por
dois adjuntos, denominados sub-
procuradores e aos
quais caberiam as atribuições
que o referido decre-
to menciona no art. 5.0.
Corrigidos os erros iniciais
Passados as primeiras
horas de agitação partidária,
resultante
natural e conseqüência lógica da vitória da Revolução, ou atenuada
essa agitação pela
ação sedativa do tempo, com a volta da calma e da
reflexão aos espíritos, foi possível
ao egrégio Chefe do Govêrno orien-
tar-se melhor e mais seguramente para guiado pela
serenidade que
caracterisa todas as suas atitudes, rigorosamente equilibradas, corrigir
êrros de seus auxiliares e impedir abusos de autoridade, como vedar a
prática de atos de vindíta
pessoal e
política contra adeptos e auxilia-
res da situação deposta, que,
aliás, sofreram não poucos
vexames inú-
teis, desnecessários e injustos tão desconformes com a índole e com o
espírito do Presidente Getulio Vargas.
Assim, como o propósito patriótico
de pacificar
os espíritos a
bem da nova ordem de coisas que
a Revolução creara, uma das pri-
meiras providências
e das mais acertadas de que
usou o Presidente
foi a que
consta do Decreto n.° 20.270, de 3
de Agosto de 1931 pelo
qual revogou o Decreto n.° 19.630, de 27 de
Janeiro dêsse ano,
que
continha disposições referentes à interdição de bens das pessoas
de que
cogita o Decreto n.° 19.440, de 28 de Novembro de 1930.
Como motivo ou razão fundamental da providência
simpática,
inteligente e necessária de apaziguamento e de justiça
figurava em
primeiro plano a cessação das causas
que determinaram a restrição da
livre movimentação de bens particulares,
e entre essas a de estarem
assegurados e salvaguardados os interêsses da Fazenda Nacional.
Elevado o número de membros da "Junta99
O Decreto n.° 20.329, de 27 de Agosto elevou de tres para
cin-
co o número de membros da
"Junta
de Sanções" a que já
fiz referên-
cia, creada pelo
Decreto n.° 19.811, de 28 de Março, em substituição
TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DO DIREITO 231
ao
"Tribunal Especial", e o Decreto n.° 20.346, regulou a execução
cias decisões da
"Junta".
Medidas de natureza orgânico-judiciária
Os decretos n.° 19.408, de 1930 e n.° 19.656, de 1931, que,
res-
pectivamente, reorganisaram a Côrte de Apelação e o Supremo Tri-
bunal Federal, vedavam, um e outro, pelos
seus artigos 14 e 20, aos
Juizes federais e locais e aos membros do Ministério Público Federal
e local a aceitação e exercício, mesmo gratuito,
de qualquer
função pú-
blica, salvo do magistério.
Essa proibição, porém,
conforme declarou o Decreto n.° 20.680,
<le 18 de Novembro, não abrangia o desempenho das funções de ár-
bitro mesmo quando
a Fazenda Pública tivesse interêsse na pendência.
Como providência
necessária e recomendável para
o desafogo
das pautas
e solucionamento do grande
número de feitos paralisados
nos cartórios à espera de julgamento,
o Decreto n.° 20.699, de 23 de
Novembro determinou que
o Supremo Tribunal Federal realizaria,
enquanto não esgotasse a pauta
das causas com dia, quatro
sessões
semanais, de 1 de Abril a 30
de Novembro e tres de 1 de Dezembro
a 31
de Janeiro.
Desdobramentos de serviços
Com o propósito
de facilitar os serviços respectivos e, conse-
«quentemente, atender melhor ao interêsse das partes,
o Decreto n.°
20 731 de 27 de Novembro desdobrou em dois o Cartório de Registo
de Interdições e Tutelas do Distrito Federal, e, ao mesmo tempo de-
clarou o objetivo dêsse Registo; mencionou as atribuições, encargos e
vantagens dos respectivos oficiais, e enumerou o que
devia ser obriga-
toriamente registado de modo a valer contra terceiros.
Criado mais um lugar de solicitador
Pelo Decreto n.° 20.746, de 2 de Dezembro foi creado mais um
lugar de Solicitador da Fazenda Nacional,
junto
ao Supremo Tribunal
Federal e pelo
Decreto n.° 20.752, de 3
desse mes ficou^«tabelecicto
que não constitue incompatibilidade
sujeita a sançao legal.°desem-
penho de comissão conferida pelo
Governo a magistrados federais
para a elaboração
de Anti-projetos de organização e
processo dos
juízos
¦e tribunais da União ou de codificação das suas leis.
Vedado o conhecimento de habeas-corpus
Com o propósito de evitar os inconvenientes resultados e os ma-
les decorrentes dos embaraços areados
pela intervenção da
administrativa por provocação
de funcionários atingidos p p
dades disciplinares, o Govêrno baixou o Decreto n. 20.810 de 17 de
232 CULTURA POLÍTICA
Dezembro de 1931 pelo qual
vedou expressamente o conhecimento de
habeas corpus ou de outros quaisquer
recursos interpostos em conse-
quência da aplicação de tais
penalidades por autoridade competente.
Facilitada a verificação e o exame dos livros
O interesse pela
regularidade e eficiência da fiscalização do
imposto de sêlo contra a qual
se opunham embaraços e dificuldades,
exigia providências
adequadas que
foram adotadas pelo
Decreto n.°
20.816 de 17 de Dezembro, o qual
determinou que
os tabeliães de
notas e demais serventuários da Justiça
do Distrito Federal seriam
obrigados a exibir, para
verificação e exame, aos Agentes da Recebe-
doria do Tesouro Nacional, os livros e documentos, sujeitos à sela-
gem, existentes nos respectivos cartórios.
Crcados dois cargos de Pro?notores dos Registros Públicos
Ainda pelo
motivo de considerar que
o interesse superior da
Fazenda Pública como o legítimo interesse das partes
merecem o maior
acatamento e o máximo desvêlo, exigindo, consequentemente, uma
fiscalização severa nos cartórios dos tabeliães de notas, dos oficiais de
protesto, dos registros
públicos e dos distribuidores da
Justiça local, e
tendo em consideração a circunstância de que
esses serventuários não
estão debaixo de fiscalização permanente
e contínua dos Juizes
e mem-
bros do Ministério Público, o Governo, pelo
decreto n.° 22.159, de 8
de Março, creou dois cargos de Promotores dos Registos Públicos des-
criminando-lhes as atribuições.
Resguardada a defesa judicial
dos interesses da União
Motivos relevantes, quais
os que
dizem respeito diretamente à
defesa judicial
dos direitos e interesses da União Federal, atribuída
aos Procuradores da República, da qual
se ocupava o Decreto n.°
10.902, de 1914, inspiraram os preceitos
contidos no Decreto n.° 21.367,
de 5
de Maio de 1932 que
dispoz a respeito além de tratar de outros
assuntos de interesse para
a administração da Justiça, pela qual
o
Presidente Getulio Vargas revelou sempre o máximo interêsse e para
a qual
tem sempre voltada a sua atenção vigilante e solícita.
Desdobrado o cargo de i.° Contador
Pelo Decreto n.° 22.561, de 20 de Março foi desdobrado o car-
go de i.° Contador e alterada a numeração dos cargos de contadores
tendo em vista a conveniência do serviço público que
reclamava uma
providência correspondente ao desenvolvimento dos encargos compre-
endidos na esfera de competência dêsses serventuários.
TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DO DIREITO
Creadas as funções
de testamenteiro e tutor judicial
Pelo motivo de considerar que
a maior eficiência do exercício'
do cargo de testamenteiro dativo depende, em parte,
da reunião dos
poderes respectivos em mãos de determinada
pessoa, assim como no
tocante à representação e defesa dos interêsses dos incapazes quando,
porventura, seus interêsses colidirem com os dos seus representantes
legais, houve por
bem o Govêrno crear os cargos de testamenteiro e
Tutor Judicial pelo Decreto n.° 22.850 de
5 de
Julho de 1933.
Êsse decreto disciplinou as atribuições que
competiriam aos
titulares dos cargos creados e regulou o sistema de sua nomeação,
substituição e remuneração.
Providências de natureza judiciária
e fiscal
O Decreto n.° 22.957, de 5
de Julho provendo,
como fez, sôbre
os meios assecuratórios da cobrança da dívida fiscal adota outras pro-
vidências de natureza judiciária
e fiscal.
Entre essas providências
importa destacar a que
declara que
os
Estados quando requererem
perante a
Justiça Federal ficariam sujei-
tos ao pagamento dos respectivos sêlos, taxas e demais emolumentos-
fixados em lei, ou regulamento federal e a que
denomina de Adjuntos
do Procurador da República os antigos Solicitadores da tazenda.
O preenchimento
das vagas de Oficiais de Justiça
Modificando o decreto n.° 21.728, de 1931 foi baixado o de-
creto n.o 23.020, de 3»
de Julho
de 1932 ^
dispoz sobre o preen-
chimento das vagas de Oficiais de Justiça
das Pretorias e Varas Ci-
veis do Distrito Federal devendo ser observadas, em cada caso, as con
dições de antigüidade, idoneidade moral e capacidade prof.ss.onal
dos candidatos.
A 2.a Procuradoria Criminal c a
9.a Promotoria
Pública
O Decreto **.9.3. * '» J»lh°
foi Pp" "
ÍJr
de crear, pelo,
motivos q.te declara, os cargos
£
Criminal na Tustiça Federal do Distrito e o de 9°
Promotor Publico,
na Tústiça kKal, regulando as respectivas
atribuições e dtspondo que
a primeira
nomeação seria feita livremente.
Direção, guarda e conservação
do Palácio da Justiça
Fm 16 de Outubro foi baixado o Decreto n.° 23.214, que
apro-
vou as instruções s6bre aJir«ç£
^ ^Sole
aíS
fiíX" ÊwoV—
* —« *—
CULTURA POLÍTICA
Dezembro de 1931 pelo qual
vedou expressamente o conhecimento de
habeas corpus ou de outros quaisquer
recursos interpostos em conse-
quência da aplicação de tais
penalidades por autoridade competente.
Facilitada a verificação e o exame dos livros
O interesse pela
regularidade e eficiência da fiscalização do
imposto de selo contra a qual
se opunham embaraços e dificuldades,
exigia providências
adequadas que
foram adotadas pelo
Decreto n.°
20.816 de 17 de Dezembro, o qual
determinou que
os tabeliães de
notas e demais serventuários da Justiça
do Distrito Federal seriam
obrigados a exibir, para
verificação e exame, aos Agentes da Recebe-
doria do Tesouro Nacional, os livros e documentos, sujeitos à sela-
gem, existentes nos respectivos cartórios.
Cveados dois cargos de Promotores dos Registros Públicos
Ainda pelo
motivo de considerar que
o interesse superior da
Fazenda Pública como o legítimo interesse das partes
merecem o maior
acatamento e o máximo desvêlo, exigindo, consequentemente, uma
fiscalização severa nos cartórios dos tabeliães de notas, dos oficiais de
protesto, dos registros
públicos e dos distribuidores da
Justiça local, e
tendo em consideração a circunstância de que
esses serventuários não
estão debaixo de fiscalização permanente
e contínua dos Juizes
e mem-
bros do Ministério Público, o Govêrno, pelo
decreto n.° 22.159, de 8
de Março, creou dois cargos de Promotores dos Registos Públicos des-
criminando-lhes as atribuições.
Resguardada a defesa judicial
dos interesses da União
Motivos relevantes, quais
os que
dizem respeito diretamente à
defesa judicial
dos direitos e interesses da União Federal, atribuída
aos Procuradores da República, da qual
se ocupava o Decreto n.°
10.902, de 1914, inspiraram os preceitos
contidos no Decreto n.° 21.367,
de 5
de Maio de 1932 que
dispoz a respeito além de tratar de outros
assuntos de interêsse para
a administração da Justiça, pela qual
o
Presidente Getulio Vargas revelou sempre o máximo interêsse e para
a qual
tem sempre voltada a sua atenção vigilante e solícita.
Desdobrado o cargo de i.° Contador
Pelo Decreto n.° 22.561, de 20 de Março foi desdobrado o car-
go de i.° Contador e alterada a numeração dos cargos de contadores
tendo em vista a conveniência do serviço público que
reclamava uma
providência correspondente ao desenvolvimento dos encargos compre-
endidos na esfera de competência dêsses serventuários.
TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DO DIREITO
Creadas as funções
de testamenteiro e tutor judicial
Pelo motivo de considerar que
a maior eficiência do exercício
do cargo de testamenteiro dativo depende, em parte,
da reunião dos
poderes respectivos em mãos de determinada pessoa,
assim como no
tocante à representação e defesa dos interesses dos incapazes quando,
porventura, seus interêsses colidirem com os dos seus representantes
legais, houve por
bem o Governo crear os cargos de testamenteiro e
Tutor Judicial pelo
Decreto n.° 22.850 de 5
de Julho
de 1933-
Êsse decreto disciplinou as atribuições que competiriam aos
titulares dos cargos creados e regulou o sistema de sua nomeação,
substituição e remuneração.
Providências de natureza judiciária
e fiscal
O Decreto n.° 22.957, de 5
de Julho provendo,
como fez, sôbre
os meios assecuratórios da cobrança da dívida fiscal adota outras pro-
vidências de natureza judiciaria
e fiscal.
Entre essas providências
importa destacar a que
declara que
os
Estados quando requererem
perante a
Justiça Federal ficariam sujei-
tos ao pagamento
dos respectivos selos, taxas e demais emolumentos
fixados em lei, ou regulamento federal e a que
denomina de Adjuntos
do Procurador da República os antigos Solicitadores da Fazenda.
O preenchimento
das vagas de Oficiais de Justiça
Modificando o decreto n.° 21.728, de 1931 foi baixado o de-
creto n.° 23.020, de 31
de Julho
de 1932 que
dispoz sôbre o preen-
chimento das vagas de Oficiais de Justiça
das Pretonas e Varas Ci-
veis do Distrito Federal devendo ser observadas, em cada caso, as con-
dições de antigüidade, idoneidade moral e capacidade profissional
dos candidatos.
A 2.a Procuradoria Criminal e a g.a
Promotoria Pública
O Decreto n.° 22.913, de 10 de Julho
foi baixado para
o efei-
to de crear, pelos
motivos que
declara, os cargos de 2° Procurador
Criminal na ]ustiça
Federal do Distrito e o de 9.0
Promotor Publico,
na Justiça
local, regulando as respectivas atribuições e dispondo que
a primeira
nomeação seria feita ln reniente.
Direção, guarda e conservação do Palácio da Justiça
Em 16 de Outubro foi baixado o Decreto n.° 23.214, que apro-
vou as instruções sôbre a direção, guarda e conservação do Palácio
da Justiça e em 17 dêsse mês o de n.° 23.220 para
o efeito de alterar
a composição da Corte de Apelação pelo
aumento do número de seus.
234 CULTURA POLÍTICA
membros para
vinte e tres, pela
investidura do Procurador Geral no
cargo de desembargador e pela
designação de um dos desembargado-
res, pelo
Chefe do Govêrno Provisório, para
exercer, em comissão, o
cargo de Procurador Geral e para
regular a substituição eventual deste
foi promulgado
o decreto n.° 23.302, de 30
do mesmo mês.
Em defesa da Família Brasileira
Tantas e de tão diversas formas foram as fraudes e tão escan-
dalosa e desenvolta se tornou a indústria das anulações de casamento
que o Chefe do Govêrno Provisório,
profundamente impressionado
pela situação
que se creava em detrimento dos altos interesses sociais
e da segurança do instituto da família, se viu na contigência patrió-
tica e benemérita de agir enérgica e eficazmente no sentido de de-
fender a sociedade brasileira e coibir severamente os abusos.
Averbadas as sentenças
E, assim, além das providências
de ordem policial
e de nature-
za criminal que
foram adotadas para
a apuração regular dos fatos e
punição severa, consequentemente, dos criminosos, resolveu o Presi-
dente Vargas baixar o Decreto n.° 23.301, de 30
de Outubro, pelo
qual determinou
que as sentenças decretatórias de nulidade ou anu-
lação de casamento seriam averbadas, necessariamente, no Registo Ci-
vil, para que produzissem
os seus efeitos legais somente depois de confir-
madas, definitivamente, na instância superior.
Para que, porém, pudesse
haver confirmação definitiva pela
instância superior, —
porque poderia não haver recurso voluntário da
parte
— determinou a lei
que o
Juiz prolátor da decisão anulatória
apelaria de ofício, isto é, interporia necessariamente a apelação na
mesma sentença, sem prejuízo
do recurso, porventura,
interposto por
qualquer interessado.
O decreto referido dispoz, outrossim, sôbre o processo
da aver-
bação das sentenças e sôbre as penalidades
aplicáveis aos infratores.
A venda de bens em leilão Público
Alterando pelo
decreto n.° 23.303, de 30
de Outubro, o disposto
arts., 2.0 § 4.0,
letra a e 6.° do Regulamento a que
refere o decreto n.°
2.818, de 23 de Fevereiro de 1898, ficou estabelecido que
o Depositá-
rio Geral do Distrito Federal, vencido o prazo
de 90
dias dos depósi-
tos, comunicaria à autoridade competente e anunciaria, por
editais,
publicados na forma indicada, a venda dos bens em leilão
público, re-
colhendo-se o produto
à Caixa Econômica em nome e à disposição
do Juízo.
TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DO DIREITO 235
Criado o lugar de Juiz Substituto da
Fazenda Municipal
O Decreto n.° 23.597, de 18 de Dezembro, em virtude dos mo-
tivos nêle largamente expostos, creou no Distrito Federal o lugar de
Juiz Substituto dos Feitos da Fazenda Municipal com a competência
de processar
e julgar
as infrações de leis, regulamentos e posturas
mu-
nicipais, ficando êsse cargo, para
todos os efeitos, equiparado ao
<le Pretor.
Dispunha mais êsse decreto sôbre a nomeação, substituição e
remuneração dêsse titular, como também sôbre o recurso cabível das
suas decisões.
Elevado o número de Procuradores
da Fazenda Municipal
Pelo decreto n.° 20.039, de 26 de Maio de 1931» cuja referên-
cia havia omitido, foi creado mais um lugar de Procurador dos Fei-
tos da Fazenda Municipal a ser nomeado pelo
Interventor do Distrito
Federal e não pelo
Presidente da República, como era em virtude do
art. 34,
do Decreto n.° 5.160,
de 1904, que
foi revogado.
Porque revigorado pelo
art. 2.0 dêsse decreto n.° 20.039, o art.
39, do citado decreto n.°
5.160, os Procuradores dos Feitos teriam o
triplo dos prazos para
arrazoar e dar provas.
1.
7.° Oficio do Registo de Imóveis do Distrito Federal
Foi creado pelo
decreto n.° 20.134, de 24 de Agosto o j.°
Ofício
{lo Registo Geral de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelas
freguesias ou distrito municipais de Candelaria, São jose,
Engenho
Velho e Ilha do Governador desmembrados dos i.°, 2.0, 3.0
e 5.0
.Ofícios.
Medidas de caráter juridico-fiscal
e penal
Pelo Decreto n.° 19.414, de 20 de Novembro de 1930, publicado
pelo
"Diário Oficial" nos dias 22, 23 e 25 dêsse mês, atendendo às
dificuldades da situação e dando uma demonstração concreta do seu
interêsse pela
sorte das classes contribuintes o honrado Chefe do
Governo resolveu, inteligente e patrioticamente,
autorisar a cobrança
amigável, como foi dito, das dividas provenientes
de impostos e taxas,
de responsabilidade individual, sem as multas de mora, a que, por-
ventura, estivessem sujeitas, devendo-se proceder
na conformidade das
"Instruções"
que acompanhavam o mesmo decreto e baixadas
pelo
Ministro da Fazenda para
serem observadas e executadas pela
Direto-
ria da Receita Pública do Tesouro Nacional.
236CULTURA POLÍTICA
Acautelados os interesses da Fazenda Pública
Afim de acautelar os interesses da Fazenda Pública, quanto
à
efetivação das providências
a que
se referem os arts. 9
e 12 do De-
creto n.° 19440, de 28 de Novembro de 1930, pelo qual
£01 dada or-
ganizacão ao Tribunal Especial e tendo em visto o
que dispoz o art.
43 dêsse Decreto no tocante à alienação, oneração ou desistencia de
bens, direitos ou ações de responsáveis pela gestão ou aplicaçao de di-
nheiros públicos, foi
promulgado em 27 de
Janeiro de 1931 o De-
creto n.° 19.630, mantendo a indisponibilidade de tais bens; proibido
o levantamento de depósitos bancários e regulando, também, a forma
de liberação ou desoneração dêsses mesmos bens ou fundos.
Indulto, por
clemência
Apoiado aos motivos justificativos que
constam do Preâmbu-
lo" do Decreto n.° 19 445,
de 1 de Dezembro de 1930, resolveu o Go-
vêrno, clementemente, indultar todos os criminosos incursos nos arts.
124, 134, 303, 306, 377, 399
e 402,
do Código Penal ainda que
se ve-
rificasse alguma das hipóteses do art. 66 do mesmo Codigo, e os que,
porventura, estivessem respondendo a
processo-crime por qualquer dos
crimes ou contravenções referidos, estabelecendo, entretanto, as con-
dições que
devem ser observadas para
a concessão do indulto.
Em defesa da Saúde do Povo
Porque se tornassem vulgares as falsificações e fraudes de gê-
neros alimentícios em detrimento da saúde do Po\o houve poi
bem
o Chefe do Govêrno cogitar do assunto pelo
Decreto n.° 19.604, de
19 de Janeiro
de 1931, para
"julgar crime de estelionato, com as
pe-
nas previstas
no art. 338,
do Código Penal, fabricar, dar e vendei
ou expor ao consumo público gêneros
alimentícios nas condições men-
cionas nos n.° I a V do art. 1.° dêsse Decreto.
Considerando a importância do dano resultante dessa práti-
ca criminosa e no propósito
de uma coibição severa, declara que
tais
crimes são inafiançáveis, ficando seu autor obrigado a indenizar o
dano que
haja causado, independentemente do processo
e julgamento
de ação criminal.
O recolhimento dos depósitos judiciais
Providência útil, necessária e vantajosa que,
entretanto, não
teve, especialmente nos Estados, a aplicação devida, era a que
resulta-
ria do Decreto n.° 19.870, de 15 de Abril de 1931, que
determinava
a obrigatoriedade de recolhimento às Caixas Econômicas Federais das
importâncias em dinheiro dos depósitos judiciais,
bem como as das
cauções constituídas para garantir
a execução de qualquer
contrato,
TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DO DIREITO 237
a prestação
de qualquer
serviço ou o fornecimento de qualquer
utilidade.
Retificação e regulamentação
Um mês, após, porque
a execução da medida falhara, o Govêr-
no baixou outro decreto, o de n.° 19.987, de 13 de Maio, para
o fim
de retificar e regulamentar o anterior, de n.° 19.870.
E, nêsse intuito, estabeleceu no art. i.° quais
os depositos
cujo recolhimento seria obrigatoriamente feito nas Caixas onde as
houvesse.
Além de outras providências
apropriadas, que deu o decreto em
apreço, declarou que
seria facultativa a remoção para
as Caixas Eco-
nômicas dos depósitos judiciais
em dinheiro, anteriores a vigência do
decreto n.° 19.870, não cabendo aos depositários judiciais qualquer
iniciativa a respeito, mas tão sòmente atender às determinações do Juiz
do processo.
A
"indústria das multas'
Como providência relevante e moralisadora foi baixado o De-
creto n.° 19.455. de 4
de Dezembro de 1930 pelo qual
foi declarado
que
"nenhum
Juiz, ou funcionário administrativo,^
federal, estadua
ou municipal, perceberá percentagem,
ou bonificação direta ou indi-
reta, de multa, pena pecuniária,
ou qualquer
dívida fiscal, em proces-
so de qualquer
natureza, que tenha
julgado, ainda mesmo em
pri-
meira instância", aplicando-se o dispositivo aos processos pendentes.
Medida essa altamente moralizadora e de grande
alcance social,
que deu excelentes resultados, mas
que, infelizmente, foi abolida com
referência aos funcionários administrativos que, com algumas exce-
cões honrosas e louváveis, mas muito poucas,
desgraçadamente, se
servem dela, agora, como arma de perseguição
contra os contribuintes
em benefício próprio
e em desconceito da administração pública, pela
exploração organizada da rendosa
"indústria das multas",
que está a
pedir a atenção esclarecida e o corretivo severo do honrado cheie
da Nação.
Colaboram nesta seção elementos escolhidos dentre os
mais significativos da eli»a intelectual do Brasil: elementos
de diversas correntes literárias, artísticas e cientificas, visto
que esta Revista não tem partidos e há-de procurar
sempre
espelhar tudo o que é genuinamente
brasileiro; elementos
de todos as gerações que hoje vivem no Brasil
— gerações
iovens de apás-guerro; gerações do princípio
do século; ge-
rações que nasceram com a República; gerações
de antes
da República, que assistiram a Abolição. Cada qual
tem um
representante, assinando as crônicas mensais desta seção.
A ordem social, a paz, o trabolho. a tolerância política
favorecem o desenvolvimento de todas as capacidades
creadoras da coletividade. A vida popular conquista um mais
alto nivel de estabilidade. Usos, costumes, artes, literatura,
ciências — adquirem um impulso novo, de verdadeira flora-
ção intelectual e estética.
Estas páginas refletem êsse espetáculo extraordinário de
renascimento do Brasil Novo. Elas constituem um depoimento
vivo e irretorquível do espirito de pax, de concórdia, de
tolerância e de unidade, que hoje desfrutamos.
Influência
política sôbre a evo-
lução social, intelectual e
artística do Brasil
III
A
GRANDE verdade sociologica, que
a história dos povos
orga-
nizados nos transmite é esta: não há regimes bons, nem re-
gimes maus ha regimes
políticos adequados a determinado
tempo, à determinada sociedade, a determinado povo,
à determinada
raça. Êsse enunciado, aparentemente complexo, é facilmente compre-
ensível se, por
seu intermédio ou pela
sua aplicação, pretendermos
re-
constituir, mesmo em linhas rapidas e apressadas, toda a curva que
a história política
do Brasil vem traçando, da centralização adminis-
trativa inaugurada por
Tomé de Souza, na Baía, à centralização que
retomamos em 1937.
Por várias vêzes, em variadas circunstâncias, fugimos à nossa vo-
cação política,
fugindo, portanto,
aquilo que
há de mais profundo
em
nós, essa personalidade
nacional que
nos afirma diversos, em tudo
por tudo, no continente americano, como os detentores de uma ter-
ceira América, diferente pela
língua, pela
formação intelectual, pela
formação espiritual, pela
formação religiosa mais pura, pela
formação
política mais característica. Tais fugas de vim roteiro
que eqüivale,
sem dúvida, a uma positiva
vocação, só ocorreram em momentos nos
quais suponhamos estar certos
pela embriaguez das fórmulas de
que
nos deixamos tomar. Foram precisos
sacrifícios enormes e renún-
cias espetaculares para que
verificássemos o quanto
a realidade trans-
borda do conceito, no provérbio
escolástico e fora dêle.
Pois só quando
um regime político
é adequado ao seu meio, só
quando êle incidir sôbre a sociedade como
que atraído
pela fôrça de
um polo
magnético contrário, êle poderá
dar os resultados que
a
letra de fôrma pretende
e que
a intenção dos homens de boa von-
242CULTURA POLÍTICA
tade desejam. Há, também, no ajuste entre o regime político
e uma
sociedade, a intromissão daquilo que
os sociólogos mais eminentes
chamam de o
"preconceito do
patriotismo", êsse mesmo
preconceito
que Comte, no seu tempo, reputava ser o maior entrave à evolução
social» intelectual e artística de um povo.
Preconceito político
é, em resumo, essa vontade passiva que
se
manifesta apenas em potência,
mas que,
em ato, não existe ou nao
existirá jamais. Foi contra êle
que se insurgiram os homens de
30,
assim como, em seu nome, as crises sucessivas que
daquela data atra-
vessamos nos assolaram. Foi contra êle, com a sua coorte espectacular
de conseqüências malsãs que
se insurgiu, por
sua vez, em 37
o Pre-
sidente da República, evitando, com uma intuição prodigiosa
de nos-
sas necessidades, o esfacelamento da unidade nacional, ameaçada
tantas vêzes pelo
apetite
"patriótico" de tantos brasileiros iludidos
pela deformação da
paisagem que a sêde de mando dá e a
preocupa-
rão da conquista da autoridade concede.
Eliminando o preconceito patrioteiro
e não apenas patriótico,
o reaime político
inaugurado em 37 poude
devolver, à sociedade para
a qual
foi criado, a sua influência bemfazeja. Então, a evolução co-
meçou em todos os setores. A pessoa
encontrando maiores possibili-
dades, maior aisance para
os seus movimentos como unidade moral; o
indivíduo dispondo de maiores possibilidades para
o exercício de seus
direitos, como unidade social. A inteligência encontrando melhores
campos para
o seu exercício e a imaginação criadora valendo-se da re-
ceptividade social para
a veiculação fértil de seus produtos.
Convidado a colaborar com o govêrno
na obra comum, o indi-
viduo deixou de ser um instrumento inativo da ordem política para
ser, êle mesmo, uma componente da ordem social. Quer
dizer, des-
pojando-se de sua forma de existencia
passiva, passou, por sua vez, a
atuar, também, à margem do Estado, em prol
do bem comum. Os
resultados de tal reviravolta foi êsse progresso
inegável que
assistimos
em todos os meios nos quais palpita
a vida do Brasil, das camadas
mais subalternas da população,
dos mocambos aos palácios,
dos palá-
cios às ruas, das ruas aos campos, dos campos aos salões. O brasi-
leiro começou a adquirir conciência de seu papel
social, de sua função
socialisadora e não meramente política,
estatística (para
a hora de
votar), numérica (para
a hora de constituir o aglomerado das mani-
festações de encomenda).
As artes, como reflexo da sociedade, e, entre todas, a literatura,
como uma componente do próprio
meio, evoluiram na mesma pro-
porção. Começamos a olhar
para nós mesmos, como a criança da ane-
dota e ficamos espantados com a nossa própria
nudez. E como as
vestimentas para
o nosso corpo estavam relegadas nos porões
do pas-
sado, fomos buscá-las para
essa festa em que
todos participamos, para
comemorar o redescobrimento de nós mesmos.
Esta revista está mostrando, em secções especialisadas de que
EVOLUÇÃO SOCIAL, INTELECTUAL E ARTÍSTICA
se constitue, como êsse redescobrimento se processa.
Como corres-
pondemos, como tentamos corresponder
política, social, intelectual e
artisticamente a tudo o que
de mais puro
reside na alma nossa que
os
nossos maiores criaram e para
cuja ressurreição trabalhamos. Con-
fíantes, porque
só a confiança no passado permite
resistir aos emba-
tes do presente.
E porque
é dessa confiança que
se forjam a alma
e o corpo dos vencedores, isto é, dos que
lutam com fé.
a) Evolução social
A ordem política
e
a evolução social* •
iii
INTERDEPENDÊNCIA necessária
A
entre a ordem política
e a evo-
lução social faz-se por
meio de
um como que
acordo tácito entre a
vontade do poder
e o meio em que
ês-
te se exerce. Não é que
a política
che-
gue a influenciar o social a
ponto de
determinar-lhe a mudança completa da
fisionomia íntima. Porque a alma de
um povo
não é modificável em função
de decretos e regulamentos.
Êsse acordo deve, pode
e só existe,
realmente, quando
o regime político
no
tempo representa uma aspiração social
latente, que
só ainda não se manifes-
tara à espreita do momento propicio
para fazê-lo.
Essa verdade é tanto mais verificável
quanto sabemos
que, pela oposição
pas
siva dos povos
não há govêrno que
re-
sista à impopularidade fatal. Os sis-
temas representativos vivem dêsse prin-
cípio. As mudanças que
sofrem ou as
transformações por que passam
ou que
determinam nascem dessa fôrça que
sóbe, incoersível, dos comentários de
rua, dos anedotários de salão, dos de-
sejos que
não se manifestam, que
mor-
rem no silêncio de cada um, mas cuja
trama invisível constróe êsse ambiente
de mal estar que
é o sinal mais do que
característico da presença
da tempes-
tade.
Quem analisar o meio social brasi-
leiro, nêste momento, há-de verificar
que tal não acontece entre nós. E se
quizer explicá-lo, só
poderá fazê-lo em
função política,
confrontando o mini-
mo das aspirações populares
com o que
o Estado Novo lhe concede, pelas
ins-
tituições de amparo que
criou, pelas
formas de assistência social que
inaugu-
rou, pelas previsões que pratica,
a todo
o momento, da nossa preparação
de hoje
para o amanhã
que virá.
O govêrno
sabe que
os rótulos nada
significam e que
as idéias sociais só se
atirmam realmente férteis quando
nas-
cidas de um desejo nacional. As demo-
cracias são acôrdos do povo
com o go-
vêrno. E é dêssse acordo que
vivemos,
debaixo de sua proteção que
traba-
lhamos.
Cônsultae o homem da rua, a mu-
lher do campo, o cavalheiro habituê
dos salões, se estão satisfeitos com o
Brasil, com a posição
do Brasil em face
de si mesmo e em face do mundo.
Perguntae ao homem do comércio, ao
lavrador da terra, ao operário das ci-
dades se está feliz com as leis que
o
govêrno lhe oferece, se tem algo a re-
clamar contra o estado geral
da vida,
de sua vida, em confronto com a sua
vida de anos atrás. Todos lhe respon-
derão pela
afirmativa, porque
só a se-
gurança permite tal resposta. De tal
modo a vida política
do país
se ajusta
à vida social, de tal maneira as duas
se influenciam mutuamente, numa tro-
ca de concessões socialisadoras, que
o
descontentamento não existe. Vozes iso-
ladas, porém, poderão
se erguer para
reclamar. Mas o seu eco se perderá
com
A ORDEM POLÍTICA E A EVOLUÇÃO SOCIAL 245
o próprio
sentido das palavras que pro-
nunciar, porque,
também elas, não en-
contram correspondência na realidade.
E é da realidade que
estamos vivendo,
nêste momento. Passou o tempo em que
acreditavamos nas fórmulas vasias de
sentido prático
e nos embalavamos com
as promessas
fulgurantes que
nos faziam.
O povo
sabe o que quer
e o govêrno
quer o
que o
povo deseja. Nossas leis
são recebidas com aplausos, nossas ini-
ciativas são prestigiadas pelo govêrno.
Govêrno e povo
se irmanam e os seus
entendimentos não se fazem mais à
sombra dos partidos políticos, detrato-
res da autoridade e fomentadores de
vaidades inconfessáveis.
Nossos interêsses são discutidos às
claras, porque
os nossos interêsses se
resumem num interesse comum: a fe-
licidade do Brasil para
o bem de todos.
A tranqüilidade de todos para
bene-
fício de cada um. Não há mais em jôgo
o jôgo
individual. Não há mais em
jôgo, o jôgo
dos grupos.
As possibili
dades são iguais porque
as oportuni-
dades também o são.
Quadros e
do Centro
iii
cos tum e s
do Sul
(Ccitagvazes)
MARQUES REBÊLO
QUANDO
Verde não saiu mais,
quando os meninos se espalha-
ram — Guilhermino César e
Francisco Inácio Peixoto foram para
Belo Horizonte estudar Direito, Ascâ-
nio Lopes foi para
um sanatório e dai
para o céu. Rosário Fusco foi ser cató-
lico no Rio, uns para
ali, outros para
acolá e alguns para
tão longe que
nun-
ca mais ninguém ouviu falar nêles —
quando tudo isto se deu, o correio de
Cataguazes teve o seu movimento dimi-
nuido de cincoenta por
cento e não du-
vido que
em virtude de tal baixa o di-
retor regional tenha mandado fazer sin-
dicâncias e inquéritos.
Da esfolada carteira do grupo
escolar,
o menino Rosário, que já
fazia os seus
poemas sucessivamente parecidos
com
os de Mário de Andrade, Ronald de
Carvalho, Omar Kaiam etc., escrevia
a Paulo Prado em termos tão livres e
íntimos que
deixava o circunspecto es-
critor um tanto alarmado, chegando
mesmo um dia a reclamar ao Antônio
de Alcântara Machado um certo "man-
de colaboração, seu burro", que
êle
achava um tanto desrespeitoso. Escre-
via ao Mário que
foi o mestre da tur-
minha, escrevia ao Oswald de Andra-
de que gostaria
de ser o mestre e a An-
tônio Alcântara, Sérgio Milliet, Pruden-
te de Morais Neto, Couto de Barros,
Menotti dei Picchia, Guilherme de Al-
meida, Cassiano Ricardo, Manuel Ban-
deira, ligava-se ao norte e ao sul, ao
Pará, Ceará, Baia, Paraná. Comuni-
cava-se com a França — Blaise Cendras,
Paul Morand, Max Jacob,
Guillaume
Apolinaire, — com a Argentina, onde
tinha uma namorada de nome Maria
Clemência que
lhe mandava linólios e
desenhos, com o Uruguai, o Perú. o
Chile.
Chico Peixoto, que
tinha uma Buick
verde, tinha amores epistolares com
poetisas da Bolívia. La Paz! La Pazl
— e os sinos de Cataguazes feriam o
coração do poetinha,
e as chuvas de
Cataguazes enchiam o poetinha prêso
em casa de fartas melancolias.
E chegavam cartas, jornais,
revistas,
relatórios, manifestos, livros, desenhos,
listas, originais, artigos, ensaios, muita
poesia, do Equador, do Paraguai, de
Portugal, Espanha, Cuba, Venezuela,
Costa Rica.
Os colecionadores de sêlos farejavam
a agência, procuravam
subornar os car-
teiros... Mas era impossível. O grupo
de "Verde"
não esperava carteiro em
casa. Presenciava a abertura das ma-
Ias. Pegava no enorme maço postal
e
ia para
o café repartir os troféos. Gui-
lhermino era elogiadíssimo na Colôm-
bia. A poetisa
boliviana mandava car-
?
QUADROS E COSTUMES DO CENTRO E DO SUL 247
tas em branco com a marca dos seus
lábios em rouge, e Peixotinho chorava
comovido! Rosário lia alto coisas que
não estavam nas cartas, segrêdos, inti-
midades com 06 grandes
homens que
não moravam em Cataguazes, desperta-
va invejas. £ tinha tardes melancólicas
— hoje so recebi doze cartas... Maria
Clemência só me mandou vinte dese
nhos esta semana... Prudentinho há
três dias que
não me escreve...
£ tudo era mocidade que
é mais
que beleza. £ tudo era
graça inteli-
gência nova, corações ardentes, entu-
siasmo, sangue, alegria. Mas a cidade
não levava a sério os seus meninos, in-
grata cidade
que ignorava onde mora a
beleza, o que
é a beleza. Talvez não
zombasse abertamente dêles porque
os
pulsos dos rapazes tinham bastante
energia para
não suportar zombarias,
mas se riam em casa, às escondidas, o
que dá
quasi na mesma. O
que a ci-
dade não sabe e que
Cataguazes só exis-
tiu quando
havia a Verde e o cinema
de Humberto Mauro. Só será lembra-
da como uma realidade quando
nos
tratados de literatura se falar em certo
interessantíssimo período
da nossa cul-
tura, que
se chamou o movimento mo-
dernista, ou quando
se falar nos pri-
mórdios de filmagens no Brasil. No
mais não existe, apesar do seu riso. £'
uma cidade como tantas cidades, à
beira dum rio como tantos rios, com
uma ponte
metálica como tantas ou
tras pontes
metálicas feitas pela
enge-
nharia estadual.
* # #
Estão abrindo a urna das Marias. O
que se entende
por urna das Marias é
a urna eleitoral correspondente mais
ou menos à letra M do eleitorado da
cidade, e como Maria é nome dos hu-
mildes — Maria da Silva, Maria de
Je-
sús, Maria das Dores, Maria das Dores
Correia, Maria da Fonseca, Maria de
Jesus Batista, Maria
José da Silva, Ma-
ria Rodrigues da Silva, Maria Teresa
de Jesús,
Maria Antônia da Concei-
ção... — e como um dos
partidos tira-
bram em cumprimentar na rua as co-
sinheiras e as copeiras, em abraçar as
lavadeiras e as engomadeiras, pois
acha
que isto é
que é fazer
política pelo
povo, a abertura da urna é esperada
com ansiedade pela população que
tem
comparecido diariamente à apuração,
acompanhando os resultados com a mes-
ma paixão
com que
acompanhasse um
campeonato esportivo no qual
a honra
da torcida estivesse empenhada.
O partido popular que
está sendo
derrotado por pequena
margem, conta
com uma vitória estrondosa na urna
das Marias, que
o rehabilite e o pre-
pare para uma vantagem mais ampla
quando se abrirem as urnas de Laran-
jal, onde o eleitorado é francamente
seu. Lá fora, na rua, há sujeitos com
foguetes na mão esperando o resulta-
do... Os ouvidos dos adversários que
agüentem.
Partido A, partido
B, partido
A, par-
tido B — os votos se equilibram... E
a assistência toma nota: treze a treze,
quatorze a treze,
quinze a treze,
quin-
ze a quatorze, quinze
a quinze...
O
ambiente está tenso de emoção. De re-
pente as Marias do
povo começam a
atraiçoar o partido
dos abraços na rua.
Começam e não param.
£ quando
can-
tam o último voto da urna, o partido
dos abraços foi derrotado por
uma di-
ferença de mais de duzentos votos. £s-
touram lá fora outros foguetes que
não
os do partido
dos abraços. Como doíam
fundo aquêles estouros! £ os derrotados
chefes saíam melancólicos da Prefeitu-
ra, onde se está processando
a apura-
ção. Vá se acreditar em
povo e em
abraços! — e
pensam com acre descren-
ça nas urnas de Laranjal, tanto mais
que os adversários andaram
por lá dis-
tribuindo um horror de sapatos e pe-
ças de algodãozinho...
• # *
Gordo, amável, sorridente, entusias-
mado, Antero Ribeiro é proprietário
das Oficinas Gráficas Ribeiro e do Bar
da lei teria, mas não há empreendimen-
to local que
não tenha o seu apôio
imediato.
Cataguazes é terra de calor forte.
Faltava uma sorveteria. Comprou uma
máquina elétrica e refrigerou a popu-
lação com o famoso picolé
Rui Barbosa.
# * *
A família Peixoto se mostra enver-
gonhadíssima do
pobre almôço
que pô-
de oferecer ao visitante ilustre.
248 CULTURA POLÍTICA
O cardápio compunha-se dos seguin-
tes pratos:
Sôpa de ervilhas, Peixe as-
sado, Empadas e Pastéis, Galinha assa-
da, Salada de alfaces e agrião, Carne re-
cheiada, Lombo de porco
com tutú de
feijão, Arroz de forno, Lingüiça e fa-
rofa de torresmo, Couve à mineira, An-
gú à mineira, Rósbife. Como sobreme-
sa havia: Doce de côco, Doce de leite,
Arroz doce, Gelatina, Goiabada cascão,
Melado e várias espécies de queijo.
Co-
mo bebidas: Vinhos portugueses,
bran-
cos e tintos, Champanhe francesa,
Águas minerais e café.
A família estava envergonhadíssima!
« * »
O café do falecido Aristides ficava
na praça
mais importante, daí sua fre-
guezia ser numerosa.
As moças chegavam, sentavam, pe-
d iam:
Sorvete de chocolate, seu Aristides.
Aristides era amável, tinha coisas en-
graçadas:
Sorvete acabou, mas tem guaraná
geladinho, muito diurético.
* « *
Nasceu a menina Bárbara. A cidade
se escandaliza, fala abertamente que
é
uma vergonha dar-se o nome de Bárba-
ra a uma inocente. Tanto nome bonito
— Marlene, Daisí, Marí, Jurací,
Adail,
Berenice, Nilze, Dulce, Ivone, Ivonete,
tantos, tantos! E não falam apenas, pas
sam a agir. Conversam com o pai, pro-
curando por
meios persuassórios
con-
vencê-lo de que
a criança será fatal-
mente infeliz, pois
terá a vergonha do
nome etc., (quem
diz isto é dona
Aglaia). Enviam cartas anônimas, ter-
minam por
falar com o vigário que
não
batise a menina, mas o vigário infeliz-
mente respeita muito o pai
do anjinho,
que é
pessoa potentada na cidade. Há
uma semana de agitação, ao fim da
qual o
pai vai ao cartório e registra a
menina — Bárbara. O povo
ainda fala
dois ou três dias, depois, cansado e der-
rotado, volta-se para
outro acontecimen
to não menos palpitante:
seu Talino
cuspiu na cara da mulher. Mas secre-
tamente prepara
um apelido para
a ino-
cente Bárbara.
• • •
José César
possue uma coisa rara era
Minas Gerais: bons dentes. Mas pos-
sue uma coisa que
é comum nos mí-
neiros: malícia.
Ei-lo à porta
da sua farmácia, sor-
rindo, maliciando, deixando a vida pas-
sar. Hoje é calma, sossegada, o filho
vai bem em Belo Horizonte, dona Isau-
ra não envelhece, é sempre a mesma
esposa dedicada, a mesma quituteira
de mão cheia. Mas houve tempo...
Comprou duzentos mil réis de merca-
doria fiados, botou nas costas de um
burro, bateu para
São Manuel, abriu
a botica. Isto é a vida. E sorri. O sol
de Cataguazes tem os mesmos belos fui-
erores do sol de outras terras. Está dou-
rando agora os altos da Vila Teresa.
José César sorri.
• • «
O batuque está lavrando para
as ban-
das do Meia Pataca:
"Botei meu cará no fôgo,
Maria pra
vigiar,
Maria mexeu, mexeu
Deixou o cará queimar".
O batuque está lavrando para
as ban-
das da Pedreira:
"As moças de Cataguaiz
Não andam de pé
no chão".
Não, Cataguazes! As tuas moças an*
dam de olhos no chão.
# # #
Quando o telegrama chegou
já pas-
sava de dez horas, e a notícia correu
como um raio pela
cidade: pelo
trem
do meio dia chegariam não sei quantos
turistas para
visitar Cataguazes.
O caso era êste: certa sociedade fi-
larmônica de Petrópolis, em cada seis
meses, fretava um trem especial, en-
chia-o com os seus sócios e sua banda
de música, enfeitava-o de bandeiras e
escudos e ia visitar uma cidade qual-
quer onde
passava o domingo, num am-
pio piquenique. Aquele semestre tocá-
ra a Cataguazes ser a cidade visitada.
A palavra
turista era inédita em Ca-
taguazes, e o povo gosou-a
orgulhosa-
mente. O dia era de intenso calor, mas
- ^^^^p'Kmk:,
xXnEBm .2m& A ^^^^^^^l^^^P^Mi^MiiililMilillilPIBWIIIl'^IM
CATAGUAZES — Praça Santa Rita
' • 3'»
SB- ^PyPp -f3p& A
^^MW^MII^^^^^^^MBffiMMMi^i^|lii'i'i|llM^ii«
Bill v ^j^9nM^
k^,
$!- W /v -1iv * " ' ",|(|r-
¦~Síf
ywj^^x-x-afrsx^xtttaxtx^ft-xy*:;##^^
^^KBB&82!6SiaM0f%l&za^' vV I
,/?" g p
<> | | p , . g
||
•* ;
- $$
-.,< | p|if| p
|
i"' -?'/ -I $//i $® **'t
w<i' H I I l H s Im tn 1
i <'',*/
MMBWMWKfe*- - ¦ •
MftK ¦ • *
:'•* - -•••-
HHHt; - • .- •
'. '
-. ^;;K'#PHR
I ' ¦* *.
> 4 •*•**£' & . ¦¦ , * ' ' * i/
CATAGUAZES — Visto parcial
MStfirJ '
*y.
^>^-:.V' ;.y
'' ¦ -S
sil *. Ip*
* z,- t?vr •. ." . ^i -fp i;: - • ' '¦" ••'
¦M?*.«- u V~ .. ® spi ¦ •' ¦'#.. i •: . ...-| ;.. . x' -. ¦¦*£'.¦•££ ¦¦ ;t, ., .
PC gp^E4i w'^'iai-.'V-i • " f:wwmFfflfrf *' II *-S SK /ira^iy^,:,.^ Hi .<, •;. '
"Mitt. «s
¦¦¦ », - .v, . ...;¦-, 4 .
- . ¦¦ ^
S* ^ •.*.
MM^ftgffl|f||yyw|j«jt*i^^ : x-x-x*xy .x-x-x-x-x-.y :¦¦••:•:• -xawtx^x-x-xttrxx^rtx-x-y^x-x-xy;:^^^
W ^jlfeff V^*^1, ?/yyJ i
' 1 x '
^5 v - '/%'^^^BP^m
¦^^feflSS i v ifciMi® ® *#' % ^ '' 'C'
i I ii^i^iil IP1 -; <
- ,¦/
MBBBWWi»r;- - ¦ •
« ¦• •
•' .
WwMHHIIKfefMM ^'^sSHBte^ ^IMM ¦" ''
.
'.
, - '
v ?*^^^K
J ' -<^ ^
^ ''/ *">''" , < .* f 'j&M
.< ^ ****iM '* '
> * , ' •* j , _.«• ,' • •
¦ MH ¦¦ HlHaHHHMHBa^ii^^MBf:l^;;
QUADROS E COSTUMES DO CENTRO E DO SUL 249
na hora da chegada do trem a estação
estava cheia. Muito antes do trem apa-
recer já
se ouviam os foguetes. Quando
o trem chegou mais perto,
ouviu-se a
banda de música num festivo dobrado.
Quando o trem
parou foi um vivório
louco. Armou-se o cortêjo. A banda
de música petropolitana
ainda se fez
mais marcial, mais alegre. E foram su-
bindo para a
praça Rui Barbosa. Na
praça Rui Barbosa é
que fica o clube
de Cataguazes, por
cima do cinema, que
na verdade foi construído para
teatro
rio tempo que
não havia cinema. Hou-
ve a recepção. O presidente
da socie-
dade filarmônica, um cavalheiro gordo,
de guarda-pó
e boné, elogiou imensa-
mente Cataguazes antes de conhecê-la
e ofereceu uma corbeile de flôres pe-
tvopolitanas, que
simbolisava a amiza-
de destas duas cultas e progressistas
ci-
dades etc. e tal. O prefeito
infeliz-
mente não estava presente
— tinha ido
na véspera para
a sua fazenda nos ar-
rabaldes. Quem
agradeceu em nome da
cidade foi o Arruda, jornalista
local.
Abria as portas
de Cataguazes àquela
plêiade de amigos, e o coração dos ca-
taguazenses também estava aberto para
recebê-los como irmãos. O presidente
da sociedade estava comovido. Arruda
arrematou: "Cataguazes
é vossa, meus
irmãos!
E os turistas saíram para
visitar a
cidade. Infelizmente, Cataguazes não é
grande, e
pior do
que isto é uma das
cidades menos turísticas do Brasil. O
resultado foi que
em cinco minutos os
turistas tinham visto tudo. E as ruas
sem árvores, e o sol rachando, os tu-
listas suavam como bicas. Só havia um
remédio — voltar
para a
praça Rui Bar-
bosa onde algumas poucas
árvores da-
vam um pouco
de sombra. Foi lá que
eles desembrulharam os seus farnéis,
abriram suas garrafas
térmicas, mata-
ram a fome e a sede. Foi lá que
êles
ficaram o dia todo como um bando de
ovelhas cansadas até que
o trem se
formasse às seis horas para
levá-los de
volta para
a fresquíssima e pitoresca
Petrópolis.
E durante todo o dia o que
se deu
foi que
Cataguazes rodava à volta da
praça para ver os turistas. E na Vila
Teresa, no bairro do hospital, na estra-
da de Sinibú, havia diálogos assim:
Já foi ver os turistas?
já. .. O V.' 3
Eu fui ver os turistas agora.
Eu vou mais tarde. Deixe passar
o sol.
No céu não há estréias. Vou esten-
d ido no fundo da canoa, sozinho, ao
sabor da correnteza, que
é fraca. Por
vêses, piados
extranhos cortam o negror
da noite, e veem dos bambuais penosos
gemidos. Há o coaxar das rãs. O bater
leve das águas contra alguma pedra
escondida, o assobio dos morcegos cru-
zando rápidos sôbre a canoa.
No céu não há estrelas. Faz um pou-
co de frio. Agasalho-me no cobertor.
E a canoa continúa devagar ao sabor
das águas. Agora já
estou longe da
ponte. E as luzes da cidade, nas mar-
gens, são como círios
que ladeassem um
esquife.
Canta o poeta paulista:
"Ouero ir ver de
forde verde
os verdes
de Cataguazes".
E' a vida que
responde:
"Partiram, não estão mais lá!"
Quadros e costumes do Nordeste
iii
GRACILIANO RAMOS
NA
CIDADEZINHA de cinco mil
habitantes, elevados a dez mil pelo
bairrismo, o caixeiro da farmácia
publica experiências de boas letras no
semanário independente e noticioso, que
tira quinhentos
números e, por
ser pou-
co noticioso e muito independente, já
rendeu sérios desgostos ao diretor. Mo-
léstias, remédios nauseabundos, suspen
são da fôlha, que,
depois de quinze
dias, três semanas, um mês, volta a dr-
cular com mais notícias e menos inde-
pendência. Veem daí as relações do
ajudante da farmácia com o diretor da
íôlha. Há nela uma seção literária — e
foi isto que
seduziu o rapaz, homem de
raras ocupações e desejos imoderados.
Vira êle em jornal grande
uma linha
preciosa:
"As ruas fustigadas
por vio-
lentíssimo temporal". Folheara atento o
dicionário pequeno
e ficara surpreen-
dido. Ora muito bem. "Fustigadas
por
violentíssimo temporal". Que
beleza!
Nunca ninguém na cidadezinha de cinco
mil habitantes, elevados a dez mil pelo
bairrismo, havia composto frase tão so-
nora e difícil. O vocabulário da povoa-
ção era minguado, e a sintaxe variava
de indivíduo para
indivíduo. A filha
do telegrafista cantava, desafinada e sen
timental: "A
brisa corre de manso".
Mas a professora
vizinha achava que,
sendo brisa uma palavra
feminina, de-
via emendar-se a cantiga: "A
brisa corre
de mansa '.
O moço da farmácia decidira servir-se
dos temporais e evitar as brisas. Redi-
gira e
publicara na fôlha independente
uma coluna verbosa, mas com tanta in-
felicidade que
o promotor,
hábil em
poesia e
gramática, afirmara nas bar-
bearias que
aquilo era de Vitor Hugo.
Intimado a exibir prova,
o bacharel
respondera que
não se lembrava da pas-
sagem plagiada,
mas tinha certeza de
que havia furto. O autor, brioso, lera to-
dos os livros de Vitor Hugo, alcançara a
absolvição e, dono dessa cultura razoável,
xingara o promotor
em becos e esquinas.
Assim teve principio
a carreira li te-
rária do ajudante da farmácia. Adquiriu
diversos volumes, encheu-se de regras,
estudou metrificação e leu jornais.
Deseja transpor os limites da cidade-
zinha, mas por
enquanto ainda é um
escritor municipal. Capricha na orga-
nização de contos, manda-os a revistas,
aos concursos que
se fazem na cidade
grande, sonha com
prêmios de vulto,
com ilustrações vivas, em tricromia. Es-
fôrço vão. Ninguém lá fora o enxerga.
Zanga-se, julga-se
vítima de injustiça.
Depois desanima. As histórias arranja-
das pacientemente,
desmanchadas, refei-
tas, são ruins. Porque? Não há ali uma
criatura que
lhe possa
dar explicações.
Aprende só — e isto é doloroso. Neces
sário enorme trabalho para
compreen-
der, em seguida esquecer, recomeçar,
orientar-se de novo. Evidentemente as
QUADROS E COSTUMES DO NORDESTE 251
lições vistas nos livros estavam erradas.
Volta, procura
lições diferentes, que
abandona. Avança em alguns pontos,
em outros permanece
ignorante. Não
dispensa os temporais que
fustigam as
ruas.
Bem. Agora é capaz de utilizar brisas
e temporais, certo de que
a combinação
está sofrível. A diretora do grupo
esco
lar pediu-lhe
discursos para
os meninos
que tinham findo o curso
primário. Fez
uns quatro, que
foram preteridos pelos
do juiz
de direito, um maluco. Está
melhorando, sem dúvida. Os chavões de
juiz de direito foram recebidos com
muito elogio, sinal de que
não presta-
vam. Bobagens de arrepiar.
Provavelmente os temporais que
açoi-
tam as ruas também não valem nada.
Se valessem, os contos, direitinhos na
conjugação e na concordância, teriam
sido publicados,
com ilustrações de San-
ta Rosa.
Continua a trabalhar, só, adiantando-
se em alguns lugares, emperrando em
outros. Tem um bando de nomes na ca-
beça, mas emprega-os sem discernimento
e deforma-os na pronúncia.
Envergonha-
se de usá-los em conversa, porque
ali não
os conhecem. Certamente o consideram
pedante quando receoso, larga uma da-
quelas palavras longas
que viu no ro-
mance cacete. Cacete, pois
não, embora
lhe falte coragem para
dizer isso. Desço-
briu num rodapé louvores excessivos ao
romance e ficou grogue,
matutando, co-
mo quem
decifra charada. Precisa reler
aquela droga, bocejar em cima dela.
Dirá que
é magnífica, está visto. Presu-
mirão que
êle sabe julgar.
Ainda nSo
sabe, mas saberá.
Tem armazenado noções valiosas, dan-
do por paus
e por pedras,
vencendo
crises de apatia. Ultimamente conseguiu
perceber defeitos
graves nuns versos e
isto o alegrou. Assevera interiormente os
seus progressos.
Pensa em sujeitos ani-
mosos que
subiram sozinhos. Como se
chamava o carvoeiro que
chegou a pre-
sidente do Estados Unidos? Lincoln ou
Washington? Um dos dois.
Efetivamente os temporais são chin-
frins: arruinaram-lhe os contos. Os tem-
porais e as brisas. E' bom livrar-se des-
sa verbiagem. Mas habituou-se. Que
adotará para
substituí-la? Impossível
achar um conselho. Irá caminhando às
apalpadelas, batendo nas paredes.
E tal-
vez acerte. Acertará, sem dúvida. Den-
tro de vinte anos terá os cabelos brancos
e os joelhos
duros, morderá com dentes
postiços e lerá com óculos. Permanecerá
solteiro e abstêmio. Mas poderá juntar
palavras, modificá-las, envernizá-las. Será
um técnico e assinará coisas notáveis.
Choca projetos
doidos. Não os confessa
por temer
que o metam a ridículo. Vinte
anos, trinta anos quando
muito.
— Vejam o Lincoln.
opovo
brasileiro através do folclore
iii
BAStLlO DE MAGALHÃES
Membro do Instituto Histórico e Geográfico Bra-
sileiro. Professor catedrático do Instituto
de Educarãoj
CUMPRE-NOS
ainda esclarecer alguns
aspectos do folclore místico-religio-
so, de que
sumariamente tratámos
nos artigos anteriores. Um dêles é o que
se refere aos santos erigidos pelo
nosso
povo à categoria de
patronos de várias
modalidades da nossa existência objeti-
va ou de advogados especiais contra so-
frimentos físicos, animais venonosos e ca-
lamidades cósmicas. Embora essa cren-
ça nos tenha vindo principalmente
de
Portugal, ela, como se pode
ver em
Mal ver t, Ciência e religião (pág. 208),
desde muito que
se generalizára
na Eu-
ropa. Entre êsses patronos
celestiais,
existe um, que
não citámos no artigo
antecedente: é São Julião,
a quem
Wal-
ter Scott, em seu admirável Quentin
Durward, atribui o encargo de prote-
ger os viajantes. Além disso, nos
países
europeus de mais intensa atividade mi-
litar sempre se acreditou que
São Mar-
cos livra de arcabuzamento ou fuzila-
mento os seus devotos e que
São Jorge
é quem
dá coragem ao soldado para
combater os inimigos. Consigne-se tam-
bem que
a crença em São Brás, como
patrono contra as doenças da
garganta,
é correntia na Espanha, segundo Ro-
driguez Marin, Cantos populares es-
panfioles (vol. I,
pág. 444). Que de
Portugal foi que
nos veiu a fé em San-
ta Apolônia, como advogada contra as
dores de dentes, é o que
se infere do
que diz o erudito Leite de Vasconcelos,
em suas Tradições populares
de Por-
lugal (pág.
20), José
da Alencar, em
O ermitão da Glória, deixa bem cia-
ro não se tratar do arcanjo São Miguel,
potestado da côrte celestial,
porém sim
de certo mortal canonizado, um dos pa-
tronos que
mencionámos no artigo do
mês próximo-passado.
Eis o que
diz na
sua sobredita novela o grande roman
cisca brasileiro: — "No
risco de perder
a mão, e talvez a vida, valeu-se de São
Miguel-dos-Santos, advogado contra os
cancros e tumores, e prometeu-lhe dar
para sua festa o
peso em
prata do mem-
bro enfermo". Daniel de Gouveia, fi-
nalmente, em seu Folk-lore brasileiro
(pág. 3^), conta
que, tendo de através-
sar um capinzal, o nosso matuto, em-
bora leve ao pescoço,
como patuá
con-
tra os répteis venenosos, um dente de
jacaré, reza a seguinte oração: —
"São
Bento, água-benta, Jesús-Cristo
no al-
tar! Arredai todo bicho feroz, que
esti-
ver no caminho, que
eu quero passar!"
E acrescenta que,
si os nossos sertane-
jos
"encontrarem uma cobra, no mo-
mento em que
nada tenham para
ma-
ta-la, servem-se de um lenço, em que
dão ires nós, dizendo: — Preso por
or~
dem de São Bento!'*
Vem a ponto
consignarmos aqui não
ser êsse caso único de mixtum compo-
situm da dupla e simultânea influên-
O POVO BRASILEIRO ATRAVÉS DO FOLCLORE 253
cia exercida no espírito dos nossos pa-
trícios do hinterland pelo
fetichismo e
pelo cristianismo. Dessa miscigenação
místico-religiosa, tão profundamente
es-
tudada por
Nina Rodrigues com rela-
ção ao elemento africano introduzido
110 Brasil, há frisante exemplo num dos
melhores romances de Bernardo Gui-
marães. Assim, Gonçalo, o protagonis-
ta do Ermitão de Muquém, conduzia
à cinta certa mandinga ou caborge,
amuleto poderoso, que
lhe dera ura
preto velho, feiticeiro de fama; e do
pescoço lhe
pendia, em relicário de ou-
10, uma imagem de Nossa Senhora da
Abadia, dádiva materna. E êle, "todas
as vêzes que
se achava em apêrtos, com
uma das mãos apalpava o cinturão, em
que trazia o talismã da superstição afri-
cana, e com a outra levava aos lábios
o lelicário, confundindo desta maneira,
em sua tosca imaginação, o culto da
mãe de Deus com uma grosseira
fei-
ticária".
Já se nos ensejou dizer
que a dois
santos portugueses,
São Gonçalo-de-
Amaranie e Santo Antônio-de-Lisboa, è
que se atribui, além e aquém-Atlântico,
a meritória missão de casamenteiros, o
primeiro como
patrono das velhas e o
segundo como advogado das moças. Não
foi somente este que
mereceu, a mais
de um aspecto, o tradicional carinho do
nosso povo, pois
aquele também achou
benévola acolhida 110 coracão dos nos-
sos sertanejos.
Antes de tratarmos do grande
tauma-
turgo lisboeta, cujo trânsito para
a gló-
lia ocorreu na cidade italiana de Pá-
dua, e que
merece mais longas refe-
rências, pelo
muito que
influiu em nos
sa história e em nosso folclore, passa
lemos em rápida revista o culto po
pular prestado no Brasil a São Gonça-
lo-de-Amarante.
Oriundo de família nobre, nasceu na
aldeia de Arriconha, do arcebispado de
Braga. A princípio padre
secular, pe
regrinou pela
Terra-Santa e esteve em
Roma; por
fim, professou
na ordem do-
minicana; e, como se infere do "Fios
sanetorum'' e do que
escreveram sôbre
êle frei Luiz de Sousa e Silva Pinto
(este às
págs. 21-26 de seus Santos
portugueses, ed. de 1895), além de ha-
ver projetado
e levado a cabo a ponto
cie Amarante (topónimo que
se lhe jun-
tou ao nome de batismo), andou por
muito tempo a pregar pelas povoações
rurais, pedindo
esmola para
os mise-
ráveis e esforçando-se por
dar lenitivo
a todos os sofrimentos, notadamente os
dos enfermos e dos velhos. Disso resul-
tou, como é óbvio, o haver-se tornado
patrono do casamento das mulheres de
idade avançada. A lenda lusitana, mi-
grada para o Brasil, representa-o tam-
hém como violeiro e dansador, acres-
rentando, todavia, que, para
se peni-
tenciar desses pecadilhos,
as solas dos
seus sapatos traziam pregos pontudos,
que lhe feriam as
plantas dos
pés.
Todas as circunstâncias acima refe
ridas constam das trovas que
até agora
são cantadas em vários pontos
do inte-
rior do nosso país,
em honra do bene-
mérito santo português.
Note-se que
o
nosso povo, que
conserva imutável a
data da festa de Santo Antônio-de-Lis-
boa, olvidou o dia em que
a Igreja co-
memora o trânsito de São Gonçalo-de-
Amarante, 10 de janeiro,
como se pode
ver na monumental obra do padre
Paul
Guérin, Vies des saints (vol.
I, pág.
260 da 6.a ed.). A tresena de Santo An-
tônio-de-Lisboa realiza-se sempre de 1
a 13 de Junho,
ao passo que
a home-
nagem rendida pelos
nossos sertanejos
ao referido dominicano luso é a geral*
mente celebrada em um domingo da se
gunda quinzena de Setembro.
A quem quiser
inteirar-se pormeno-
rizadamente das singularidades dêsse
nosso culto tradicional recomendamos
dois trabalhos ainda recentes. O pri
meiro é o capítulo, tão curioso quanto
cheio de louçânias de estilo, intitulado
"A dansa de São Gonçalo" (págs.
167-
176), que
se encontra no livro de con
tos (publicação póstuma)
de Antônio
cie Alcântara Machado, tão cedo arre
batado pela
morte à fecunda carreira
intelectual que
havia brilhantemente
encetado. O segundo é um mais de
tençoso estudo (magnificamente ilus-
trado), devido a Marciano dos Santos,
"A dansa de São Gonçalo", inserto em
1937 no vol. XXXIII da "Revista
do
Arquivo Municipal de São Paulo"
(págs. 85-116). A famosa festividade
popular foi outrora descrita
por frei
Miguel do Sacramento Lopes Gama, em
seu célebre Carapuceiro (1839),
e à
mesma fizeram referências não despi-
ciendas Gilberto Freire, Edmundo
Krug, Paulo Cursino de Moura e ou-
254 CULTURA POLÍTICA
tros cultores das nossas tradições.
Em duas quadras, que
evidentemente
vieram de além-Atlântico para
o Bra
sfl, percebe-se
o sainete lusitano:
"Viva e reviva
São Goncalinho!.*
Dai-me, meu santo.
Bom maridinho;
Seja bonitinho
£ me queira
bem;
Aquilo que
é nosso
Não dê a ninguém!"
A trova em que
se manifesta a fun-
cão de mais relêvo, atribuída ao ca-
nonizado dominicano luso, quasi
não
variou na sua migração para
o Brasil:
"São Gonçalo-de-Amarante.
Casamenteiro das velhas,
Por que
não casais as moças?
Que mal vos fizeram elas?"
Alberto Pimentel, em "O
livro das
lágrimas" (Lisboa,
1874), dá a forma
que consta da
poesia popular lusitana:
São Gonçalo d'Amarante,
Casamenteiro das velhas.
Por que
não casais as novas?
Que mal vos fizeram elas?"
Pelo fato de ser comumente de ma
deira a sua imagem ou de trazer êle,
às vezes, uma viola sobraçada, a isso se
reporta uma das quadras que
lhe são
dirigidas pelos
seus festejadores:
São Gonçalo-de-Amarante,
Que és feito de nó de
pinho,
Dá-me fôrça nas canelas,
Como porco
no focinhoí"
E' indubitavelmente portuguesa, e
consigna o haver o santo dominicano
morado à beira do Tâmega, outra tro-
va bastante curiosa:
"São Gonçalo caiu na água,
Por morar perto do rio.
O' santo, dou-te minh'alma,
Para que
eu não morra de frio!"
Há, entretanto, nada menos de qua-
tro silvas em que
os devotos do casa-
menteiro das velhas não obedeceram ao
rigor das rimas, preferindo
as simples
toantes, a exemplo do que geralmente
se encontra na poesia popular
caste
lhana.
A primeira,
si confirma que
o tauma-
turgo de Arriconha visitou a Cidade-
Eterna, exagera a sua capacidade casa
menteira. ao ponto
de promover as
n ripei as do próprio,
seu compatrfdo, fa-
tecido era Pádua:
"São Gonçalo
já foi
padre
Em uma igreja de Roma,
Onde êle fez casar
O nosso bom Santo Antônio".
A segunda comprova a penitência
do
calçado cheio de pregos,
a que já
fize-
mos alusão, e põe
de manifesto que
o
dominicano altarizado é também patro-
no das parturientes:
"São Gonçalo tem rasgado
Sola dura de sapato,
Somente por
visitar
Mulheres que
estão de parto".
A terceira indica ter sido êle um de-
fensor dos vinhêdos na terra de Afonso
Henriques, juntando-se, assim, a dois
outros santos que,
conforme Paulo de
Morais ("Novo
manual de agricultura
prática, pág. 769), lá presidem à vin-
dima. e à vinificação:
"Dia de São Mateus,
Vindimam os sisudos,
Semeiam os sandeus".
"Por São Martinho,
Prova teu vinho".
A sobredita terceira silva, até agora
cantada 110 Brasil, é a seguinte:
"Si fôres a São Gonçalo,
Trazei-me um cacho de uvas;
Si o santo ficar com raiva,
Dizei que já
estão maduras".
A quarta patenteia a confusão
que a
fantasia de lusos e brasileiros es tabele-
ceu entre os dois santos, o de Lisboa e
o de Arriconha, originado ainda êste
último à categoria de patrono
contra
as injúrias ou calúnias proferidas por
lábios femininos:
O POVO BRASILEIRO ATRAVÉS DO FOLCLORE 2SS
"São Gonçalo é santo bom,
Pois livrou o pai
da fôrca.
Livrai-me, santo, livrai-me
Das mulheres de má bôcal"
Como se pode
ver no desenvolvido
estudo feito por
Marciano dos San-
tos (cumpre-nos ponderar que prefe-
rimos a certas expressões das suas tro-
vas algumas variantes ouvidas por
nós
em Minas), a festividade popular,
com
que se celebra ainda em nosso
país o
casamenteiro das velhas, termina pela
inesperada referência a outro mortal
canonizado, São Lourenço, tão querido
na terra ibérica, onde, em homenagem
ao mesmo, tem a fôrma de uma gré-
lha o célebre Escoriai, mandado erguer
por Felipe II
para comemorar a vitó-
ria de São-Quintino, Com efeito, a
dansa em louvor de São Gonçalo ter-
mina por
uma ceremônia de agitação
de lenços, como que para
um adeus, en-
quanto os violeiros e o côro clunagitan-
te entoam o seguinte:
"Vamos dar a despedida
Vamos dar a despedida
Em louvor de São Lourenço
Em louvor de São Lourenço.
Em louvor de São Lourenço,
Em louvor de São Lourenço,
Todos guardem
os seus lenços
Todos guardem
os seus lenços".
Em suma: do nosso folclore místico-
religioso, uma das tradições mais inte-
ressantes, por patentear a influência dos
taumaturgos lusitanos em nossa terra,
é, sem dúvida alguma, a antiga e curió-
sa "Dansa
de São Gonçalo".
Intérpretes da vida social brasileira
iii
JOSE'
Maria da Silva Paranhos, Ba-
rão do Rio Branco, nasceu no Rio
de Janeiro
a 2 de Abril de 1845, na
Travessa do Senado n.° 8, hoje rua 20
de Abril. Era filho do grande
estadista
do mesmo nome e que
teve o título de
Visconde do Rio Branco.
Fez no Colégio Pedro II, em seis anos,
o curso de humanidades que
então era
feito em sete anos. E transferindo-se
para São Paulo, formou-se na célebre
Faculdade.
Terminado o curso, foi professor
in-
terino de História e Corografia do Bra-
fiil no Colégio Pedro II e depois foi
nomeado promotor público
na cornar-
ca de Nova Friburgo, na então provin-
cia do Rio de Janeiro,
cargo que
exer-
ceu por pouco
tempo.
Filho de quem
era, não foi atraído
pela política, mas naturalmente levado
para ela. E assim foi eleito deputado
geral pela província de Mato Grosso nas
legislaturas de 1869 a 1872 e de 1872
a 1875. Sua atividade parlamentar foi
destacada, e tendo brilhado também co-
mo jornalista
nas páginas
de "A
Na-
ção" abandonou
jornalismo e política
porque, desgostoso da
política partidá-
ria, preferiu
trocar a sua posição por
um lugar no corpo consular.
^Liverpool foi o primeiro consulado
onde trabalhou e depois da proclama-
ção da República até 1892,
José Maria
da Silva Paranhos ocupou o lugar de
superintendente geral da imigração.
Em 1894 foi nomeado ministro pleni-
potenciário e enviado extraordinário do
Brasil perante
o governo
dos Estados
Unidos da América, no processo
de ar-
bitragem da secular questão
de limites
entre o Brasil e a Argentina. Data real-
mente daí a grande
carreira do Barão
do Rio Branco, figura ímpar na nossa
diplomacia, que
soube a rasgos de ta-
lento, honestidade e habilidade fixar os
verdadeiros limites do Brasil, ampliar
o seu território, elevar aos olhos do
mundo a soberania brasileira, fazer vol-
tar para
a América os olhos do Velho
Mundo. A decisão do presidente Cie-
veland, dando ganho
de causa ao Brasil
no território das Missões, foi o seu pri-
meiro grande triunfo diplomático.
Mais uma vitória logrou êle alcan-
çar logo depois,
quando, perante o
go-
vêrno da Suíça, teve a incumbência de
advogar os direitos do Brasil na pen-
dência de limites com a Guiana Fran-
tesa. Em 1902 foi levado ao cargo de
Ministro das Relações Exteriores, e a
sua trajetória nesse pôsto
foi de um
brilho estelai, que
só a morte apagou,
pois o Barão do Rio Branco morreu
quando ainda exercia as funções de Mi-
nistro de Estado, em 1912, atravessando
portanto quatro períodos presidenciais—
o de Rodrigues Alves, o de Afonso
Pena, o de Nilo Peçanha e o do Mare-
chal Hermes da Fonseca.
Na qualidade de Ministro, resolveu a
intrincada questão do Acre, asseg^uran-
do ao Brasil, pelo
Tratado de Petrópo-
lis, celebrado a 17 de Novembro de 1903
entre o Brasil e a Bolívia, um novo,
imenso e produtivo território,
que ex-
cede em superfície a vários Estados da
INTÉRPRETES DA VIDA SOCIAL BRASILEIRA 257
União. Conseguiu do Vaticano a cria-
•ção do primeiro
cardinalato sul-ameri-
cano para
o Arcebispo do Rio de Ja-
neiro. Conseguiu que
fôsse realizada no
Rio de Janeiro
a 3-a Conferência In-
ternacional Americana. Conseguiu a
participação conspícua do Brasil na
Conferência da Paz, em Haya. Firmou
o Tratado de condomínio da lagôa Mi-
rim do rio Jaguarão,
afirmando à Rc-
pública do Uruguai e ao mundo a
per-
duração das generosas
tradições da po-
lítica brasileira no continente.
Figura singular de homem, amante
da bôa mesa, inseparável do charuto,
bonacheirão, distraído, (na
sua mesa de
trabalho, que
era um mundo desorde-
nado de papéis,
foram encontrados de-
pois da sua morte mais de dez relógios
perdidos no meio da sua
papelada), era
principalmente despido de todas as vai-
dades, e recusou sempre todas as pro-
postas que lhe fizeram
para que che-
gasse à Presidente da República.
Rio Branco, que
foi presidente
do
Instituto Histórico e Geográfico e mem-
bro da Academia Brasileira de Letras,
escreveu: Episódios da guerra
do Pr a-
ta, 1825-1828, trabalho que
saiu pri-
meiramente em uma revista mensal do
Instituto Científico de SSo Paulo; um
esbôço biográfico do general José
de
Abreu, Barão do Serro Largo, trabalho
publicado na revista do Instituto His-
tórico; anotações copiosíssimas à obra
de Schneider A guerra
da tríplice
aliança, que
foram traduzidas do ale-
mão por
Manuel Tomaz Alves Noguei-
ra; inúmeras notas em francês sôbre o
Brasil e o nosso café, divulgadas em
1884 quando
representava o país
na
Exposição de Petersburgo; a parte
his-
tórica, também escrita em francês e de
notável valor de síntese, na obra Le
Brésil em 1889, organizada pelo
Sindi-
cato Franco-Brasileiro na Exposição
Universal de Paris, realizada naquela
data: umas Efemérides brasileiras, que
apareceram primeiro
no "Jornal
do Co-
mércio" do Rio de Janeiro;
e as pre-
ciosas memórias apresentadas nos Es-
tados Unidos e na Suíça para
defesa dos
nossos direitos nas questões
das Missões
e do Amapá, sendo que
somente estas
últimas formam um livro de 840 pá-
ginas, repletas de seríssima documen-
tação e de uma segurança de conclusões
simplesmente notável, porque
como cs-
critor Rio Branco, antes de tudo, era
de uma grande
clareza, de uma grande
correção e de uma grande
limpidez de
estilo.
Em 3
de Fevereiro de 1912 sofreu o
Barão do Rio Branco, uma síncope de-
pois do
jantar, e não refeito dela expi-
rou a 10 do mesmo mês, num dia de
carnaval. O carnaval foi transferido pa-
ra que
o Brasil envolto em imenso
luto, pudesse
acompanhar até o cemi-
tério do Cajú o corpo daquêle que
em
vida fôra o maior defensor dos seus
direitos.
Páginas do passado
brasileiro
iii
Entre os intérpretes da vida citadina fluminense, poucos escritores como
França Júnior puderam fixá-la com tanta simplicidade, tanta segurança e
tanto bom humor. A pena
de França Júnior é ágil e a influência que
êle exerceu na crônica do jornalismo carioca é evidente até os nossos dias.
Nos seus famosos
"Folhetins" semanais,
publicados no "Globo
Ilustrado",
no "Correio
Mercantilno "O
Pais", na "Gazeta
de Noticias", êle foi o
caricaturista exímio das vidas e dos costumes da cidade do Rio de Janeiro
no último quartel
do século XIX, exatamente quando
as primeiras ma-
nifestações ao progresso urbano se faziam sentir com o aparecimento dos
bondes, do gás,
das grandes emprêsas comerciais, das estradas de
ferro etc.
Escolhendo entre os inúmeros "Folhetins"
de França Júnior o que êle dedi-
cou às organizações ministeriais, lembramos que
os tormentos de uma
política de vaudeville dominavam a côrte, e iriam,
preparando o caminho
para a República, tornar a República, como tornou, vitima da mesma
insegurança aue acabou por abalar o Império,
falsa política, nefasta po-
litica que felizmente terminou na aurora do Estado Novo.
#/ j.
POLÍTICA é uma das mais
A sérias preocupações do Brasil,
' * e especialmente desta mui leal
e heróica cidade do Rio de Janeiro,
onde a vida pública e
privada dos ho-
mens de Estado é discutida em altas
vozes nos botequins, confeitarias, lojas
de charutos, armarinhos, praças e
pon-
tos de bonde.
A julgar pela parte ativa
que cada
cidadão toma nos negócios oficiais, êste
país deveria ser uma república de anjos,
Infelizmente assim nSo é.
Os tais anjos brincam por
dá cá aque-
la palha, e os negócios conservam-se
sempre no mesmo estado.
Por que
brigam? Pelas idéias, pelos
princípios.
E quereis
saber, como entre nós se
briga pelos princípios?
E' assim:
O Machado Pereira é conservador.
Está enganado; é liberal.
Nunca foi liberal; votou sempre
com os vermelhos.
Na última eleição votou conosco.
Êle é tão conservador, como o Ar-
ruda.
Quem? O Arruda da Guaratiba?
Sim, senhor.
Êste era liberal, foi demitido
por
prevaricador...
E' verdade.
-- Eu conheço-o como as
palmas de
minhas mãos. Depois passou-se para
os conservadores, quando subiu o
ga-
binete Quintanilha...
Não foi no
gabinete Quintanilha
que êle virou casaca, mas sim no Minis-
tério do Luiz Pereira.
Ora, meu caro amigo, outro ofício.
No ministério do Luiz Pereira èle já
era republicano, e escrevia da "Espada
de Damocles", um jornal democrata
que
aqui houve, aquelas célebres cartas con-
tra o chefe de Estado assinadas "A
sen-
tinela".
Por sinal
que o
govêrno, para ca-
lar a bôca do tal marreco, nomeou-o
cônsul para a Suíça.
PAGINAS DO PASSADO BRASILEIRO 259
E fez mais ainda — deu-lhe o tí-
tulo de conselho.
Foi uma grande bandalheira!
Mas era preciso.
Êsses conservadores foram sempre
assim.
E os liberais são ainda piores.
Sabe o que
mais, meu amigo, fique
com as suas idéias, que
eu ficarei com
as minhas.
E eis aí o que
são as idéias e os prin-
cipios de que
falam quasi
todos.
E pelas
idéias e pelos princípios
co-
metem-se injustiças, torce-se a lógica,
abocanham-se reputações e quebram-se
cabeças às portas
das igrejas.
Êste exórdio, com tiradas cheirando
a artigo de fundo de jornal
de Oposi-
ção, foi-me sugerido
pelo papel impor-
tante que
representa a política
em to-
dos os atos da nossa vida.
Quem quiser ver o Rio de
Janeiro
com febre e perder
a cabeça, basta di-
zer-lhe ao ouvido:
Caiu o ministério!
A notícia circula de bôca em bôca,
sai do Castelões, entra no Bernardo,
para na
"Gazeta de Notícias", volta
para o Farani, estaca nos
pontos dos
bondes, embarca nos ditos e percorre
um por
um todos os arrabaldes.
No dia seguinte não fica ninguém
em casa.
A rua do Ouvidor é pequena para
conter os curiosos.
Formam-se grupos às
portas das lo-
jas, pelas esquinas, e em cada semblan-
te lê-se o seguinte ponto
de interro-
gação:
Quem foi chamado?
Começam as versões:
Já sei quem
é o organizador.
Quem é?
O Soares da Silva.
Ora, oral
Acabo de estar agora mesmo
com êle.
Se não estás caçoando conosco, es-
tás mentindo.
Quanto apostas?
Mas como é isto possível,
se o
Soares partiu
ontem com a família para
Teresópolis?
E' verdade; porém ontem mesmo
recebeu o telegrama e desce hoje.
Aí vem o Goulart.
Homem, o Goulart deve estar bem
informado.
Oli, Goulart, quem
foi o chamado?
O Silveira de Assunção.
O que
estás dizendo?!
A pura
verdade.
Com os diabos, por
essa não es-
perava eu!
Estou aqui, estou demitido.
E dois.
Mas isto é certo?
E até já
está organizado o minis-
tério.
Quem ficou na Fazenda?
O Alberto da Rocha.
E na Justiça?
O Brandão. Para a Guerra entrou
o Felício; para
a Agricultura o barão
de Pitanga Vermelha.
O barão de Pitanga Vermelha?!
Sim, pois
não o conheces?! E* o
Ladislau de Medeiros.
Ah! já
sei.
Para estrangeiros o visconde de Pe-
dregulhos; para
a pasta
do Império o
Serzedêlo e para
a da Marinha o Lucas
Viriato.
Quem é o Lucas Viriato?
Não o conheço.
Nem eu.
O que
é êle?
Não sei, mas dizem-me que
é ra-
paz muito inteligente e muito honesto.
Bom dia, meus senhores.
Ora viva, senhor Comendador.
—• Então, já
sabem?
—• Acabamos de saber agora mesmo.
O presidente
do conselho é o Silveira
de Assunção.
-- Não há tal; foi chamado, é verda-
de, mas não aceitou.
Mas senhor comendador, eu sei de
fonte limpa...
Também eu sei que
o homem es-
teve no Paço cinco horas a conversar
com o rei, e que
de lá saiu à meia noi-
te, sem se haver decidido coisa alguma.
Ora aí está quem
nos vai dar no-
tícias frescas.
Quem é?
O conselheiro Anastácio, que
ali
vem.
Chama-o.
Senhor conselheiro, satisfaça-nos a
curiosidade; quem é o homem
que vai-
nos governar?
Pois ainda não sabem?
São tantas as versões...
Pensei que
estivessem mais adian»
tados. Ora ouçam lá; presidente
do
200 CULTURA POLÍTICA
conselho, visconde da Pedra Funda; mi-
nistro do Império, André Gonzaga; da
Marinha, Bento Antônio de Campos...
— Muito bem, muito bem! Ora gra-
ças a Deus
que já se fez alguma coisa
que vale a
pena.
Ministra da Fazenda, barão do
Bico de Papagaio.
Para a Fazenda?!
Sim senhor.
Porém êste homem nunca deu pro-
vas de si... E' pouco
conhecido... As
circunstâncias em que
se acha o país...
Não diga isto. E aquêle aparte que
•êle deu ao Ramiro na questão
bancária?
Não me lembro.
Pudera não! O senhor não acom-
panha os debates
parlamentares, não es-
tá enfronhado nos negócios do país!
—- Vamos adiante.
Ministro da Guerra, Antônio Hor-
ta
Magnífico!
Da Agricultura, João
Cesário; fica
na pasta
de Estrangeiros o presidente
do Conselho.
Antes êle ficasse na da Fazenda.
Assim se tinha combinado a prin-
cípio; porém
depois reconheceu-se que
êle andaria melhor como ministro de
estrangeiros, porque já
esteve na Eu-
ropa e fala muito bem diversas línguas.
Após o conselheiro aparece um ba-
rão, sucede a êste um jornalista,
veem
depois diversos empregados públicos,
e
cada qual
trás o seu ministério em um
pedacinho de
papel, dizendo: Êste é o
^verdadeiro.
Os políticos
da rua do Ouvidor são
dignos de sérios estudos.
Em primeiro
lugar figura o político
bem informado. E' aquêle que
sabe
de tudo. Exemplo:
Êste ministério devia infalivelmen-
te cair.
Está visto; êle não podia
ficar go-
vernando o país
eternamente.
Há muito tempo que
os sujeitos
andavam brigados; eu já
fui oficial de
gabinete e sei o
que são essas coisas.
Além disto pessoa
fidedigna asseverou-
me que
o Pereira nunca mais poude
tragar o Almeida, desde o dia em que
êste não quis
nomear-lhe o sobrinho
para a Alfândega da Baía. O Ernesto
Pessoa também não olhava com bons
olhos para
o Miguel Faria desde a ques-
tão do matadouro, que,
a meu ver,
foi o que
deu com o ministério em
terra. O organizador do novo gabinete
não é o Matias de Araújo, ou o Si-
queira, como dizem
por aí. Deixe-os
falar; a coisa já
está assentada.
— Quem
é então?
-jfc E' segrêdo; não posso
dizer por
ora.
Êsses políticos
bem informado são, em
geral, grandes jogadores de voltarete.
Ora os leitores não ignoram a influên-
cia que
o voltarete exerce sôbre a nos-
sa política.
Segundo rezam as crônicas,
até alguns ministérios teem sido orga-
nizados em partidas
de Voltarete, e mui-
tos indivíduos devem ao codilho as po-
sições que
ocupam.
Os políticos
bem informados, apenas
sobe um ministério, indicam logo os
nomes dos presidentes
de província,
dos
chefes de polícia,
dos delegados, sub-
delegados, de todos aquêles, enfim, que
vão erguer-se ufanos sôbre os destroços
da derrubada.
Tipo oposto é o do político que
não
sabe de coisa alguma, que
nada lê, que
no fundo é completamente indiferente
aos negócios públicos;
mas que
afeta
acompanhar a marcha dos acontecimen-
tos franzindo o sobrôlho e dizendo
sempre:
Isto é uma grande
bandalheira!
Quando se encontra com algum ami-
go assume um ar misterioso e
pergunta:
O que
há de novo?
Não sei; fala-se que
o ministério
caiu e que já
está organizado outro.
Então chama-o para
um lado, encos-
ta-lhe a bôca ao ouvido e exclama:
Isto é uma grande
bandalheira!
Na primeira
esquina encontra-se com
outro amigo, e repete a mesma frase.
Há ainda o tipo do político
esperto,
que é aquêle
que tem em cada
par-
tido um compadre com probabilidade
de subir ao poder.
Os tipos desta or-
dem estão sempre com o govêrno
em
casa. E' por
ocasião das organizações
ministeriais que
êles sobem à tona dá-
gua, para a
pesca.
O belo sexo também toma parte
ati-
va nêsse movimento.
Tomára já
ver êste ministério or-
ganizado.
Eu estou pelos
cabelos!
E eu então?! Há dois anos que
meu marido está desempregado e que
nós vivemos no... no... como se cha •
PAGINAS DO PASSADO BRASILEIRO261
ma aquilo, menina, que teu
pai fala
todos os dias lá em casa?
No ostracismo, mamãe.
E' isto mesmo. Quando penso que
aquele malvado demitiu Luiz por
cau-
sa das eleições de Santa Rita...
Meu marido foi também demitido
por causa das tais malditas eleições. Eu,
se fôsse homem, acabava com câmara,
com governo,
com liberais, conservado-
res e republicanos e reformava este país.
Ai, ail E' o que
eu digo muitas
vèses. A minha desgraça é vestir saia.
Os pretendentes
roem as unhas, an-
dam às tontas, e são os que
mais per-
guntam .
Dias depois os jornais publicam
a
organização do gabinete.
O novo mi-
nistério é recebido com hosanas pelos
correligionários, e a ferro e fogo pelos
adversários. E eis aí o que
é a poli-
tica. Tinha razão um amigo meu, su-
jeito de vistas largas,
quando dizia:
— Eu pertenço
ao partido, que
tem
por partido tirar
partido de todos os
partidos".
,* ¦ •* .
» .
b) Evoiuçào intelectual
A ordem política
e a
evoiuçào intelectual
iii
INTELIGÊNCIA não produz
em
A série. As vocações não se impro-
/ ^ visam. Cada ato intelectual é um
ato de fé em algo, que
vem, por
si
mesmo, comprometido por um feitio
particular, por um modo de ser espi-
ritual. Eis porque
o espirito não se dá
e nem se subordina. Toda vez que
um
governo supõe
poder sufocar a inteli-
gência, dai
por diante os sem dias se-
rão contados. As relações que
se esta-
belecem, necessariamente, entre os pro-
dutos intelectuais e o meio social de
determinado tempo são de tal modo iti-
timas que poderemos, por
seu intermé-
dio, tomar o pulso
das intenções poli-
ticas dêsse tempo.
A inteligência parte do real
para pro-
jctar-se. E essa
projeção é sempre a
devolução de um reflexo do meio em
que se exercita, para que
vive e do
qual se alimenta. Mas êsse
jôgo de re~
flexos, produtor daquilo
que se respon-
sabiliza pelo
trabalho da inteligência,
precisa ser auxiliado
pela correspondên-
cia necessária entre o ambiente social
e o ambiente político, ambos,
por sua
vez, produtores
e produtos,
a um tem-
po, do
que essa mesma inteligência
constrói, pelo que
veicula ou pelo que
cria.
Não desprezando a inteligência, de
nenhum modo e de nenhuma maneira,
prestigiando a cultura em todas as suas
manifestações, o govêrno
do Brasil sa-
bc que
os povos
sô se prolongam,
atra-
vès do tempo e através das idades, por
intermédio das criações intelectuais.
A alma da França nasceu com a
Chanson de Roland, chorou pelas
lágri-
mas de seus românticos, sorriu com Vol-
taire, sofreu, odiou e amou pelo
sofri-
mento, pelo
ódio e pelo
amor de seus
filhos que viveram em função pura
da
inteligência. O espirito inglês ou a al-
ma alemã foram unificados, fortaleci-
dos, aprenderam a impor-se, um e ou-
tra, por
intermédio de Shakespeare ou
Milton, Luthero ou Goethe. Pela lin-
gua uniforme, afirmando o
prestigio de
uma literatura e o coração de uma pá-
iria, Dante representa, na Itália, o
mesmo que
Camões em Portugal, Cer-
vantes, na Espanha, ou Machado de As-
sis e Euclides da Cunha no Brasil.
As obras políticas ficam pelos
bene-
fiei os
palpaveis que prolongam, atra-
vés das obras que forem
criadas conco-
mitantemente com êsse ou aquêle go-
vêrno. A inteligência não pode,
de mo-
do algum, divorciar-se do social, assim
como o social não pode
viver divor-
ciado do político.
Essa interdependén-
cia subtilissima é que prolongou
até nós
o prestigio
dos gregos
e romanos, fun-
d adores do mundo. E é essa mesma
trama, feita de atrações
que se ajus-
tam e cotnpreensões que
se identificam
que há-de firmar o
prestigio da era
que
atravessamos, a mais fértil de quantas
A ORDEM POLÍTICA E A EVOLUÇÃO INTELECTUAL
assistimos durante tôda a nossa histó~
ria como povo
e como nação.
Ao cabo de 10 anos de govêrno,
cujas
realizações, todas, nos transmitem uma
lição de boa vontade e de cordura, o
que apreendemos, da ação
política do
chefe do govêrno
é essa vontade de
acertar as idéias políticas do Brasil com
as necessidades sociais de um tempo do
mundo.
Afinando a sociedade brasileira às
aspirações políticas do nosso
presente
(que, por sua vez,
prolongam as nossas
vocações mais acentuadas do passado)
o
que assistimos è a vigência de um
go-
vêrno de coerência com o passado,
atenção ao presente, preocupado
em
preparar-nos para o futuro.
Por isso,
agora, a inteligência não se afasta do
Estado. Por isso, os intelectuais já en-
contram, nas preocupações
do Brasil,
nos seus problemas
mais angustiantes,
os seus próprios problemas
ou os temas
de suas obras. Entre nós, a inteligência
renasce. E renasce para
servir ao pais,
por intermédio daquêles que fazem
a
opinião, que unem govêrno
e povo,
porque êles é
que pensam, êles é
que
criam, êles é que,
em primeiro plano,
estão encarregados de fazer prolongar,
para o futuro próximo,
as indicações
dos rumos que
devemos seguir, traçados
pela nova
política do Brasil.
Literatura de ficção
iii
WILSON LO USA DA
A EVOLUÇÃO da moderna poes>a
N
brasileira, a intencionalidade revo-
lucionária de forma, no aitist^i,
em certos casos, foi bem mais inferior
à substância real dessa mesma poesia.
Quando findava a
primeira parte do
nosso modernismo, toda ela entregue ao
veiso, assim como a segunda entregou-
se à prosa,
o que
sentiamos de realmen-
te grande
nos poetas
de todas as cor-
ientes vinha muito mais do pensamento
que da técnica de composição de cada
um.
A estética modernista, que abolira o
dogmatismo parnasiano, que libertara a
métrica e concedera mais flexibilidade
ao ritmo, deixava de valer, para o in-
dividualismo do artista, como a ultima
palavra. Naturalmente, o mesmo acon-
teceu a todas as escolas e artistas do
passado, ainda que
se possa
argumentar,
em contrário com as épocas clássicas do
verso e da prosa.
Nos poetas,
entre-
tanto, êsse fato explica-se sem grande
dificuldade. Sob qualquer ponto
de
vista que
seja encarado, o artista do
verso é sempre muito mais individua-
lista que
o da prosa.
Seu- potencial
de
emoção, através de um instrumento tão
maleável e tão rico em efeitos verbais
e sonoros, como é o verso, torna-se du-
piamente mais
profundo e extenso. Daí,
também, seu isolamento maior no que
se refere à expressão dos sentimentos ín-
timos, e que
se libertam mais facilmen-
te que
os de um romancista, por exem-
pio.
No caso particular
da moderna poe-
sia brasileira, nomes como os de um Ma
nuel Bandeira, Ribeiro Couto, Emilio
Moura, Jorge de Lima, Murilo Men-
des, Carlos Drumond de Andrade, Au-
gusto Frederico Schmidt e Vinicius de
Moraes, representaram, no que
diz res-
peito à forma muito menos do
que se-
ria possível
esperar de revolucionários
estéticos. Todos, ou quasi
todos, mar-
caram realmente essa fase posterior
a
1930 muito mais pelo
fundo poético
de
cada um que
mesmo pelo emprêgo sis-
temático e intencional de uma nova
técnica na composição do verso. No mo-
men to, todavia, o que
impressionava era
a libertação, mesmo superficial, de to-
dos os laços do passado.
Num ambien-
te onde a desordem espiritual conta-
minava as melhores inteligências, onde
a crítica a quaisquer
experiências in-
telectuais era mal compreendida, ou
sem valor, onde um vasio terrível de
espiritualidade corrompia tudo, o que
parecia mais absurdo ou
grotesco, mais
ousado ou violento, mesmo incompreen-
sível, atraía sempre. Foi o tempo de
muito modernismo de convenção, de
poesia só no
papel, de excessos que
comprometiam o pensamento
tantas vê-
zes admirável de vários poetas
nossos
realmente anunciadores de uma liber-
tação e de um estado de espírito novo.
E' claro, todavia, que
certos aspectos
da nossa poética
tinham raízes na face
inicial do modernismo. Raízes que
se
prolongaram no tempo e
que se adivi-
LITERATURA DE FICÇÃO26ã
nhavam ainda no período
de 193° a
1931 como uma lembrança e uma ad-
vertência.
A reação a êsse estado de coisas foi
natural, quasi expontânea e, embora
tardia, iluminou certas faces do pro-
blema intelectual brasileiro até então
desconhecidas ou obscuras.
Para muitos dos que escreviam poe-
sia nos primeiros anos da revolução,
afigurava-se que o ambiente literário
brasileiro pouco se havia transforma-
do. O mais fácil, portanto,
seria pro-
loncrar os métodos anteriores. Fazer
violência, pela audacia de certas atitu-
des, puramente
exteriores em alguns
casos, ao espírito adormecido e confor-
mista da burguesia literária, chocando-a
ou ridicularizando-a. Êsse o caso de
muita poesia sem finalidade, também
chamada, por um crítico, de
poesia gra-
tuíta, que se andou escrevendo no pe-
ríodo fácil dos primeiros
instantes da
vitória revolucionária. Onde tudo se-
ria motivo para sucessos rápidos, onde
a literatura andava sujeita às piores
concessões de um pretenso
espírito mo-
derno. Não seria razoável, aliás, es-
perar qualquer outra atitude de um
meio visceralmente anárquico e dema-
gógico como o nosso na época a
que
me refiro. Por outro lado, no entanto,
muita coisa admirável se escreveu, mui-
ta coisa que nos advertia sôbre a fal-
sidade do terreno pisado. Sinais inquic-
tos, sinais de uma espiritualidade laten-
te mas sufocada, sinais desesperados, às
vezes, de muitos que ainda tateavam in-
decisos entre os diversos caminhos aber-
tos à imaginação criadora. Não que
a poesia
convencional, feita para
espan-
tar ou chocar o gosto comum houvesse
desaparecido por completo. Mas a rea-
cão nascera do próprio
excesso de ru-
mos, da inconsequência de certos pro-
blemas, do vasio em que estavamos ati-
rados. Ainda não definíramos o senti-
do da nossa libertação, ainda não sa-
biamos ao certo que caminho escolher.
Enquanto esperavamos, no entanto, ia-
mos fazendo experiências, com escalas
em todos os matizes literários, misturan-
do o falso e o sincero, o exibicionismo
c a realidade.
Aos primeiros
sinais de uma nova fase
que se esboçava vigorosamente, às
pri-
meiras advertências de alguns livros que
nos falavam da realrlade das coisas, to-
da a nossa passividade
no aceitar qual-
quer malabarismo de forma começou a
desaparecer. Seria mesmo desnecessário
citar o Passaro Cégo, de Augusto Fre-
derico Schmidt, para documentar su-
ficientemente o que
afirmo, no sentido
do abandono de certos processos
artis-
ticos. Alguns poemas de Manuel Ban-
deira, em Libertinagem, demonstra-
riam que,
num modernista de primeira
linha já se harmonizavam forma e
pen-
samento, num espírito de aguda sen-
sibilidade, embora o poeta
da Estrela
da Manhã seja considerado um dos
mais perfeitos
artífices do verso. Não
me refiro, é claro, a certos poemas
seus
essencialmente descritivos, exteriores, co-
mo "Evocação
do Recife",
"Mangue",
"Belém do Pará" e
poucos outros. Re-
firo-me antes a essa profissão
de fé em
que o
poeta diz estar
"farto do Uris
-
mo comedido, do lirismo bem compor-
tado", ao "anjo
da guarda",
à cantiga
da andorinha e a outras pequenas
obras-primas de beleza interior. E não
se diga que posso
citar apenas Ma-
noel Bandeira como exemplo do pouco
valor que
o exibicionismo de forma ia
adquirindo. Alguma poesia, de Carlos
Drumond de Andrade, e Poemas, de
Murilo Mendes, livros de 1930, confir-
mam e acentuam os mesmos sinais, as-
sim também como Remate de Males,
de Mario de Andrade, sob certos pon-
tos de vista apenas. Os dois primeiros,
no entanto, marcaram nitidamente a
transformação que se iniciava e conti-
nuaria nos anos posteriores, num sen-
tido de despojamento exterior, de per-
da dos atributos apenas estruturais do
verso que
se fazia então. Conservando
absoluta independência de temas, ês-
ses poetas
revelaram aspectos diferentes
da nossa sensibilidade criadora, num
período de excepcional gravidade,
e de-
finiram também uma renúncia indis-
pensável aos
processos que haviam ini-
ciado os primeiros
tempos modernistas.
O individualismo do pensamento
anu-
lava, portanto,
nesses poetas,
a comu-
nlião mais ou menos geral em torno
de certos teoremas de completa liber-
dade de forma, até então inatacáveis.
Pois a característica mais importante,
ou mais observada, em alguns escritores
dêsse período,
assim como em muitos
dos primeiros
modernos, era o desejo
de libertação. Tanto Manuel Bandeira
266CXJXiTURA POLÍTICA
falava em libertação, na sua Poética
como Mario de Andrade fazia o mes-
mo, antes, no prefácio
de Paulicea
Desvairada. Libertinagem, mesmo, é
um título expressivo dessa vontade de
rompimento com o passado.
Todavia,
após os poetas que
citei, outros viriam,
ou êles próprios mais tarde, livres de
certos preconceitos e menos inclinados
aos malabarismos, ao puro jôgo verbal
das formas então usadas. Canto da
Noite, por exemplo, de 1934» trouxe ao
verso moderno uma absoluta puresa de
composição. Assim como Estrela da
Manhã, de Manuel Bandeira. Forma
e Exegese, de Vinícius de Moraes. Can~
to da hora amarga, de Emílio Moura,
Poesias, de Adalgisa Nerí, A túnica
inconsútil, de Jorge
de Lima, Poesta
em pânico, de Murilo Mendes, Sen-
timento do Mundo, de Carlos Dru-
mond de Andrade. Todos evoluindo do
exterior para o interior. Despojando-se
dc muita coisa supérflua. Pois não fo-
ram poucos os imitadores de Manuel
Bandeira, os medíocres, naturalmente,
que se
julgaram no direito de inter-
pretar, a seu modo, o verso de Poé-
tica: "todos
os ritmos sobretudo os
inumeráveis". Muito belo, mas não pa-
ra qualquer
um e também não mal
compreendido.
Literatura de idéias
iii
PEDRO DANTAS
PROCURARAM
as crônicas anterio-
res salientar a importância que ul-
timamente assumiu para o
pensa-
mento brasileiro a conciência do seu
sentido nacional. O que
há de mais
significativo nessa atitude, hoje domi-
nante, é a sua relativa novidade, pois
são ainda bem próximos
os tempos em
que não estávamos habituados a
pen-
sar assim. Dominava-nos, então, certo
sentimento de inferioridade, que se di-
ria antes acentuado do que
reduzido
pela exaltação momentânea devida a
êxitos internacionais, algumas vêzes re-
tumbantes, mas sempre extraordinários
e surpreendentes para nós mesmos. Na
obra de Carlos Gomes, por exemplo,
celebrávamos principalmente o
que nos
parecia conter de inesperado prodígio,
e essa impressão mesma nos vinha tal-
vez menos da própria
música do que
do acolhimento favorável que lhe dis-
pensára a crítica italiana.
"A Europa
curvou-se ante o Brasil", verificávamos,
exultantes, a propósito
de Santos Du-
mont. Mas essa ingênua expressão de
orgulho nacional trazia implícita a no-
ção subconciente de
que o fato repre-
sentava uma subversão dos valores pa*
cificamente admitidos. Rui Barbosa
"roubou" — como hoje se diz na gíria
cinematográfica — a conferência de
Haya, mas em nosso entusiasmo, não
deixamos de discernir no episódio o
triunfo pessoal de um homem
que sem
pre tivemos tendência a classificar en-
tre os gênios
e não era, portanto,
re-
presentativo.
No seu segundo número, em home-
nagem a Afonso Arinos, a revista "Eu-
clídes" publica
uma carta que
Alceu de
Amoroso Lima, em 1915, dirigiu ao ad-
mirável "conteur"
de "Pelo
Sertão".
Nêsse depoimento da adolecência, dizia
o hoje notável ensaísta católico que
so-
fríamos de uma crise de patriotismo,
por nos faltarem
"razões" de amar ao
nosso país.
Precisávamos de quem
nos
apontasse essas "razões",
como acabava
de fazer Afonso Arinos numa confe-
rência, gênero que
o grande
escritor
mineiro versava com inexcedível maes-
tria. "Essa
é a questão
magna", con-
cluia Amoroso Lima, "o
resto viria de-
pois". Em abono do
que vínhamos sus-
tentando, não se poderia
desejar do-
cumento mais expressivo.
Sobreviera, porém, a
guerra de 1914.
Dir-se-ia — naquele tempo
— um fim
de civilização. A duração da catástro-
fe criou para
nós uma situação de iso-
lamento que
nos obrigava a voltar-nos
para nós mesmos. Subitamente brota
ram no país
atividades que as
próprias
barreiras alfandegárias não haviam con-
seguido impor. Nossa condição de mer-
cado abastecedor de matérias primas
e
gêneros de necessidade favorecia o im-
pulso econômico. A indústria aclimou-
se entre nós em caráter definitivo, pois
não nos seria mais possível
abandoná-
la, ainda que
a sua defesa custasse uns
tantos sacrifícios. Com a participação
do país
no conflito, cristalizou-se o
sentimento patriótico, momen tanea -
mente despreocupado das boas-razões
268CULTURA POLÍTICA
que muito custára a encontrar Amoro-
so Lima. O problema
da força impu-
sera-se novamente à consideração uni-
versai, como um fim, para
os belicosos,
romo um meio, para os pacíficos.
O
Brasil pacifista, que entrára na Rucr-
ra por princípios, continuando a assis-
tir a guerra, não podia
escapar a essa
geral apreensão: coube a um puro
in-
telectual, o poeta Olavo Bilac, príncipe
entre os seus pares, iniciar e dirigir a
campanha pela preparação militar da
mocidade. através do sorteio e das li-
nhas de tiro, recorrendo, para a sua
propaganda, a uma argumentação
na-
cionalista exaltada.
Tudo isto se seguira de perto à re-
modelação urbanística da capital da Re-
pública e ao seu saneamento. Segundo
a frase corrente, o Rio civilizara-se, to-
mando ares de grande cidade. A expo-
sição internacional de íqoo já deixára
uma impressão favoravel da nossa ca-
pacidade produtora e organizadora:
liam-se, a respeito, as crônicas entu-
siásticas de João
do Rio. Assim, quan-
do, mal terminada a guerra, o
preparo
dos festejos comemorativos do nosso pri
meiro centenário de independência nos
fez considerar o caminho percorrido, o
estudo do que realizáramos nesse pe-
riodo, lá veio encontrar um pensamen-
to nacional mais contente de si e predis-
posto a auto-satisfação.
Isso, porém, não foi tudo, nem assi-
nalou, a bem dizer, o instante decisi-
vo. Naquela mesma oportunidade, mui-
tos, mais exigentes, não se conforma-
Aam ainda com os resultados obtidos.
Sentia-se, apesar de tudo, uns restos do
antigo espirito colonial no próprio
cui-
dado que púnhamos em disfarçá-lo, na
aceitação indiscutida de valores ajusta-
dos superficialmente e quasi
sempre já
substituídos nos seus lugares de ori-
gem. Havia, pois,
certa puerilidade e
certa contradição num nacionalismo que
não tinha, para apoiar-se, sinão valores
encontrados segundo uma escala nao
nacional, e o mais das vêzes caída em
desuso. Tal nacionalismo deveria ser
o das "juvenilidades
auri verdes", que
apresentou, por aquela época, num
curiosíssimo poema-sinfonia, que
foi
Mário de Andrade.
Foi isto pelo início do movimento
modernista Vimos, na ultima crônica,
que esse movimento trazia, como con-
teúdo ideológico inicial, a atualizaçao
e a universalização da arte e do
pen-
samento brasileiros. Passada a fase des-
truídora dos primeiros
combates, verifi-
caram, porém, os seus elementos de
primeira linha que
éste segundo obje-
tivo não poderia ser atingido direta-
mente, mas haveria de ser o resultado
quasi involuntário de um processo
an-
terior de verdadeira integração nacio-
nal. Por coincidência, outro tanto se
passava nos centros estrangeiros mais
influentes, si bem que não pelos
mes-
mos motivos. Nosso caminho estava,
pois, traçado e,
para os modernistas,
nem podia
ser outro, em virtude de al-
guns dos
princípios essenciais do seu
programa de realizações. Sua contri-
buição fundamental, que imprimiu ao
espirito brasileiro uma direção decisi-
va, foi a conversão de valores até en-
tão havidos como negativos —
porque
eram diferentes dos valores cosmopoli-
tas — em
positivos, por uma aceitação
que parecia impraticável. Foi êsse o
verdadeiro sentido de algumas varian-
tes nem sempre levadas muito a sério
pelos seus
próprios criadores, como a
do "Pau-brasil"
e da "Antropofagia",
abandonadas, mas não exauridas, por
Oswald de Andrade e seus compa-
nheiros.
Literaturahistórica
iii
HÉLIO VIANA
Professor catedrático de História do
Brasil na Faculdade Nacional de Fi-
losofia, da Universidade do Brasil
S RECENTES comemorações dos
Àl centenários portugueses propor-
cionaram a publicação
de mui-
Ias dezenas, senão mesmo de algumas
centenas de volumes dedicados à His-
tória de Portugal, especialmente quan-
to aos períodos
relativos à Fundação do
Reino, descobrimentos marítimos, colo-
nização e Restauraçao de 1640. Interes-
sando diretamente à História do Bra-
sil muitas das edições oficiais portu-
guesas então aparecidas, vamos nos
ocupar, a seguir, das que
foram lan-
cadas pela
Agência Geral das Colonias,
repartição superiormente dirigida pela
alta capacidade administrativa de Jú-
lio Gaiola.
O descobrimento do
Brasil
Começando, cronologicamente, pelo
descobrimento do Brasil, merece os mais
francos aplausos e agradecimentos a ini-
ciativa da reunião, em um só volume,
em grande
formato, com reproduções
integrais em fac-similes, d'Os Sete Úni-
cos Documentos de 1500, conservados
em Lisboa, referentes à Viagem de Pe>
dro Alvares Cabral. Precedidos de eru-
ditas explicações da lavra de um dos
maiores, senão o maior especialista em
história náutica dos tempos modernos,
A. Fontoura da Costa, (1) são os
seguintes êsses documentos em boa hora
divulgados nessa edição tecnicamente
incomparável a qualquer
outra anterior:
_ Carta Régia da nomeação de Pe-
dro Álvares de Gouveia para capitão-
mór da armada que vai
paia a Índia.
Assinada pelo Secretário de Estado An-
lônio Carneiro, em nome do Rei D.
Manuel I, datada de Lisboa, a 15 de
fevereiro de 1500, conforme o registo
existente rto Arquivo Nacional da Tôr-
re do Tombo.
II — Borrão original da primeira
fô-
lha das Instruções de Vasco da Gama
para a viagem de Cabral. Êsse impor-
tantíssimo documento, escrito, sem in-
dicação de local e data, pelo
Secretário
de Estado Alcáçova Carneiro, adquiri-
do na Espanha pelo
historiador brasi-
leiro Visconde de Porto Seguro, foi, por
este, depois de devidamente aproveitado
em sua História Geral do Brasil (ainda
hoje, graças aos acréscimos de Capistra-
no de Abreu e Rodolfo Garcia, a me-
lhor que possuímos),
oferecido ao Ar-
quivo da Torre do Tombo, onde ainda
se encontra. Sua leitura, ipsis litteris,
feita pelo
insigne Diretor do mesmo
Arquivo, Antônio Baião, acha-se acom-
panhada, na
presente edição, de uma
"versão em linguagem atual", da auto-
ria de A. Fontoura da Costa.
III — Borrão original de algumas fô-
lhas das Instruções Régias (Regimento
Real), dadas a Cabral para a sua via-
270 CULTURA POLÍTICA
gem. Também sem indicações de local
e data, as 23 páginas
dêsse documento,
provavelmente descoberto pelo
mesmo
Varnhageii na Tôrre do Tombo, inte-
ressam ao conhecimento da ação de Ca-
bral na índia e em Melinde.
IV — Borrão original das Instruções
Régias Adicionais, sob a forma de Car-
ta, dadas a Cabral para
a sua viagem.
Igualmente sem data é local, essa outra,
descoberta do Visconde de Pôr to Seguro
no velho arquivo português,
diz respei-
to à navegação e vigilância das merca-
dorias a serem embarcadas na índia,
à possibilidade
da compra, ali, de na-
vios, bem como à participação
de es-
trangeiros na viagem.
— Carta de D. Manuel ao Rei de
Calecut. Escrita em Lisboa, a i.° de
Março de 1500, e enviada por
intermé-
dio de Cabral. "Esta
carta deve ser con-
siderada como a credencial acreditando
Pedro Álvares Cabral, como embaixador
extraordinário do Rei de Portugal jun-
to ao Samorim", diz A. Fontoura
da Costa. E* reproduzida pela
cópia
existente na Biblioteca Nacional de
Lisboa.
VI — Carta do Achamento do Brasil,
escrita por
Pero Vaz de Caminha, do
Porto Seguro da Ilha de Vera Cruz, a
i.° de Maio de 1500, e dirigida ao Rei
D. Manuel. Publicando, mais uma vez,
o importantíssimo documento que
é a
"certidão de batismo do Brasil", a
pu-
blicação do Ministério das Colônias, de
Portugal, reproduziu, linha a linha, em
perfeito fac-simile, as 28 páginas
ma-
nuscritas do precioso
original que
se
guarda no Arquivo Nacional da Tôrre
do Tombo. Contribuindo para
divulgar
ainda mais o singular depoimento pres-
tado pelo
minucioso escrivão da feito-
ria que
se iria estabelecer em Calecut,
acompanha o seu texto integral uma
bem clara "versão
em linguagem atual*',
da autoria de A. Antônio Baião.
VII — Carta de Mestre João,
bacharel
em artes e medicina, dirigida a D.
Manuel, do mesmo local e data. Sem
se deixar seduzir por
exageros, ultima-
mente correntes a respeito do signatá-
rio dês te outro interessante documento
referente ao descobrimento do Brasil,
aceita A. Fontoura da Costa, no res-
pectivo Preâmbulo, a
possibilidade de
ser identificado o seu autor como o
espanhol Mestre João
Faras, tradutor
da Geografia de Pompônio Mela, como
primeiramente lembrou Sousa Viterbo,
em 1900. Destaca, entretanto, o erudito
comentador d'Os Sete Únicos Documen-
Los, "o
tópico mais importante da carta,
referente à belíssima constelação aus-
tial que
Mestre João
isolou, descreveu,
esqueniou e denominou: a Cruz (Cru-
zeiro do Sul)". A leitura da Carta do
discutido Mestre João
também foi fei-
ta por
Antônio Baião, competindo
a sua "versão
em linguagem actual"
ao falecido Prof. Luciano Pereira da
Silva, outro eminente especialista em
História Náutica Portuguesa.
A exploração da costa
Ainda sôbre o descobrimento do Bra-
sil, seus antecedentes e conseqüências,
valiosas referências constam de outras
publicações portuguesas recentes, da
Agência Geral das Colônias.
Assim é que,
além de alusões ao
Tratado de Tordesilhas, de 1494, e às
reuniões da Junta
de Badajoz, em 1524,
também reproduções dos mapas de
Cantino (1502)
e Hamy (posterior
a 1504), bem como do globo
de Mer-
cator (1541),
nos quais
figura o Brasil,
— aparecem na volumosa segunda edi-
ção, aumentada, do
primoroso e,
possi-
velmente, mais completo trabalho em
seu gênero,
escrito em nossa língua, que
é A Marinha dos Descobrimentos, de
A. Fontoura da Costa.
Na lista dos "Roteiros
Portugueses
até 1700", que
faz parte
dêsse livro de
532 páginas, como no volume especia-
lizado do mesmo autor, intitulado Bi-
bliografia Náutica Portuguesa até 1700,
e na reedição, ainda por
êle prefacia-
da, da Prática da Arte de Navegar, es-
crita em 1673, segundo as lições do oi-
tavo cosmógrafo-mor de Portugal, Luiz
Serrão Pimentel, — surgem indicações
preciosas para a História Marítima do
Brasil (de
cujo levantamento cuida, pre-
sentemente, o nosso Ministério da Ma-
rinlia). São as que
se referem aos
numerosos Roteiros de Portugal a vá-
rios pontos
da costa do Brasil e entre
êstes, que
do século XVI ao XIX tanto
serviram à navegação a vela, excelente-
mente demonstrando o permanente
adiantamento de Portugal em todos os
setores da arte náutica.
LITERATURA HISTÓRICA 271
Mas onde aparece uma contribuição
de valor realmente inapreciável para
os historiadores, pela
revelação, que
só-
mente agora foi feita, em nosso idioma,
quanto ao discutido caso da
primeira
viagem portuguesa
de exploração do li-
toral atlântico sul-americano, servindo
para retirar, definitivamente, de Amé-
rico Vespúcio, o fundamento de tôdas
as alegações referentes à sua prioridade
na concepção continental das novas ter-
ras descobertas, — é na publicação,
tam-
bém devida à Agência Geral das Co-
lônias, das Cartas das Ilhas de Cabo
Verde, de Valentim Fernandes —
7506-/50^.
Nêsse volume, além dos estudos car-
tográfico e bio-bibliográfico, relativo
àquelas ilhas e àquele tipógrafo ale-
mão, tradutor, escritor e tabelião pú-
blico dos mercadores de sua naciona-
lidade, estabelecidos em Lisboa, — es-
tudos esses ainda uma vez eruditamente
feitos por
A. Fontoura da Costa,
— está incluída, em anexo, a "Tradu-
ção do ato notarial de Valentim Fer-
nandes, feito em Lisboa, aos 20 de Maio
de 1503". Refere-se, êsse documento,
primeiramente, à viagem de Pedro Ãl-
vares Cabral, em que
se "descobriu,
num mar desconhecido, sob a linha
equinocial, um outro mundo, pela
Di-
vina Providência ignorado de tôdas as
outras autoridades". Depois de tratar,
com minúcias que
fazem supor per-
feito conhecimento, dos selvagens que
habitavam a nova terra, o que
se deve,
provavelmente, aos degredados aqui
deixados pela
frota descobridora, e que
teriam voltado a Portugal, — fala, a
referida carta registada pelo
tabelião
moraviano, numa "outra
armada do
mesmo cristianíssimo rei" (de
Portugal)
"destinada a êsse fim",
que percorreu"o
litoral daquela terra por quasi 760
léguas". A pele
de um crocodilo (ja-
caré) e a "imagem"
de um de seus ha-
bitantes, então enviadas a Bruges pelo
alemão João
Draba, acompanhavam a
aludida carta, que
foi lida por
Valen-
tim Fernandes "presente
diante da ré-
gia majestade, dos seus barões, supre-
mos capitães e pilotos
ou governadores
dos seus navios da supracitada terra dos
antípodas com o novo nome de terra de
santa cruz e todos unanimemente a
confirmaram
Os grandes
vultos da
colonização
Destacadas figuras da colonização
portuguesa no Brasil forneceram mate-
riais para
uma série de folhetos de
menos de cem páginas
cada um, em
que a respectiva biografia, sucintamen
te traçada por
escritores do Brasil e de
Portugal — principalmente pelos pri-
meiros — está acompanhada, algumas
vezes, da transcrição de importantes do-
cumentos a seu respeito guardados nos
arquivos portugueses.
Abrindo cronologicamente a coleção,
escreveram pequenos
e brilhantes en-
saios sôbre os desbravadores do Ceará
Pero Coelho de Sousa e Martim Soa-
res Moreno, os acadmicos Gusta-
vo Barroso e Afrânio Peixoto. Cinco
valiosos documentos relativos ao legen-
dário "guerreiro
branco", colhidos no
Arquivo Histórico Colonial, de Lisboa,
enriquecem o segundo dêsses trabalhos.
D. Marcos Teixeira, quinto
bispo do
Brasil, Visitador do Santo Ofício na
Baía em 1618, governador
revolucioná-
rio e organizador da resistência à inva-
são holandesa no Salvador em 1624, —
foi concienciosamente biografado, com
os poucos
elementos informativos atual-
mente disponíveis por
Wanderley Pinho,
noutro folheto da coleção.
A vida e os feitos, principalmente no
Brasil, de Salvador Correia de Sá e Be-
nevides, constituíram o objeto de outro
meticuloso levantamento biográfico rea-
lizado por
Ciado Ribeiro de Lessa.
A figura do ilustre carioca (que
agora
um genealogista
argentino, Alfredo
Diaz de Molina, na Revista Ge-
nealógica Brasileira, sensacionalmente
apresentou como nascido em Cádiz, na
Espanha), — filho e neto de governa
dores do Rio de Janeiro, governador,
êle mesmo, por
três vêzes, desta cidade,
além de defensor do Espírito Santo
contra os holandeses, em 1625, e *n"
sígne Restaurador de Angola, em 1648,
constitue, sem dúvida, atrativo sufi-
ciente para
os pesquizadores que
de-
sejarem esclarecer os pontos
ainda ne-
bulosos de sua agitada e fecunda exis-
tência. Os documentos apresentados e
cotejados por
Ribeiro de Lessa, os
quadros genealógicos adicionados ao vo-
lume (que
é o maior da coleção), as
investigações, enfim, a que procedeu
o
272 CULTURA POLÍTICA
distinto bibliófilo, merecem ser devida-
mente continuadas, afim de que
se ob-
tenha a solução das lacunas ainda sub-
sistentes, a respeito do ilustre represen-
tante seiscentista da família de Men
de Sá.
Três guerreiros
das lutas contra os
holandeses encerram a série de úteis
brochuras biográficas, relativas ao Bra-
sil Colonial, lançadas pela
Agência Ge-
ral das Colônias: Luiz Barbalho,
por Bernardino José
de Souza; Henri-
que Dias,
por Frazão de Vasconce-
los; Francisco Barreto, por
Pedro Cal-
mon. Embora curtas, essas tentati-
vas de reconstituições isoladas da vida e
feitos dos valorosos cabos de guerra
—
o herói da retirada do Pôrto dos Tou-
ros a Baía, o notabilíssimo negro da
luta contra os invasores de Pernambuco
e o general
de sua restauração final, —
poderão, certamente, contribuir
para
chamar a atenção geral para êsses
gran-
des vultos de nossa História, brasilei-
ros, afro-brasileiros e portugueses (mes-
mo nascidos em outros países,
como é o
caso do acidentalmente peruano Fran-
cisco Barreto), que
tanto e tão árdua-
mente trabalharam pela
manutenção
integral do território da Pátria.
A restauração de 1640
e o Brasil
A Restauração de 1640, seus prece-
dentes e sua repercussão nas colônias
portuguesas, constituiu, como era natu-
ral, assunto de numerosos ensaios agora
publicados em Portugal.
Um dos mais volumosos conjuntos de
estudos a êsse respeito está contido na
obra intitulada A Restauração e o Im~
pério Colonial Português, em
que cola-
boraram diversos escritores de Portugal
e do Brasil.
Em suas 545 páginas,
depois de uma
inteligente "Explicação
Prévia", de au-
Geral das Colônias, Júlio
Caiola, apa-
receu dois estudos introdutivos de-
aparecem dois estudos introdutórios de-
vidos a historiadores de grande
reno-
me internacional: "Conseqüências
ime-
diatas da união com a Espanha na de-
cadência do Império Colonial Portu-
guês", por Manuel Múrias, o no-
tável Diretor do Arquivo Histórico Co-
lonial, de Lisboa, e "O
Impéiio Por-
tuguês na hora da Restauração", pelo
Prof. Daniião Péres, da Universidade
de Coimbra. Seguem-se três partes
re-
lativas à Reconquista do Império", des-
tinadas, sucessivamente, ao Brasil, à
África e ao Oriente. Na primeira,
ocupou-se do "Brasil
Político-Militar",
Pedro Calmon, e do "Brasil
Social '
(de 1500 a 1640), o autor dêste artigo.
Das partes
seguintes, referentes à África
e ao Oriente, trataram alguns dos mais
conhecidos especialistas em História Co-
lonial Portuguesa, como o Coronel Lei-
te de Magalhães, Gastão Sousa Dias,
General Teixeira Botelho, General Fer-
reira Martins e Gastão de Melo de
Matos.
Não ficaram aí, apenas, as contri
buições para
a História da Restaura-
cão de Portugal, editadas pela
Agência
Geral das Colônias. Dois volumes, bem
ilustrados e documentados, de Subsídios
para a História das Guerras da Restau-
ração, no Mar e no Além-mar (inclu-
sive no Brasil, de 1646 a 1654) escre-
veu o Contra-Almirante A. Botelho
de Sousa. Resumiu-os, mesmo, em par-
te, num folheto intitulado O Perio-
do da Restauração nos mares da Me-
tròpole, no Brasil e em Angola.
O padre
Antônio Vieira
Versando, porém,
tantos temas histó-
ricos do Brasil e de Portugal do século
XVII, das Jutas contra os invasores ho-
landeses à Restauração e suas dificul-
dades, não seria possível que
ficasse
esquecida a figura sem par
do luso-bra-
sileiro típico que
foi o Padre Antônio
Vieira. E, apesar de já
existirem tantas
e tão valiosas contribuições bio-biblio-
gráficas a seu respeito, abalançou-se a
Agência Geral das Colônias a lançar
mais uma, confiando-a, entretanto, à
competência, dificilmente superável, de
Hernani Cidade, Professor da Facul-
dade de Letras de Lisboa.
Padre Antônio Vieira é o título dessa
obra que, pela
sua original concepção,
não teme confrontos com outras ante-
riormente dedicadas ao famoso jesuíta
do Colégio da Baía e superior das Mis-
sões do Maranhão e Grão-Pará.
Começa por
um Estudo Biográfico e
Critico acompanhado de um sermão
e sua apologia acêrca do Quinto
Impé-
rio, disto constando todo o primeiro
vo-
lume. Referem-se principalmente
ao
LITERATURA HISTÓRICA273
Brasil o segundo e o terceiro tomos,
dedicados "à
Guerra e a Política na Co-
lônia" e "à
Vida Social e Moral na Co-
lonià", respectivamente. O quarto
volu-
me, afinal, último até agora publicado,
trata d' "A
Crise da Restauração — Em
Portugal", como os dois anteriores fa-
zendo-o sempre através dos Sermões do
inolvidável orador sacro, conforme a se-
leção e ordenação de Hernani Ci-
dade, autor, também, do Prefácio e das
notas que
a cada um eruditamente
acompanham.
# # *
As atividades editoriais assim tão ai-
tamente demonstradas pela
Agência Ge-
ral das Colônias, de Portugal, não pre-
cisam, realmente, de elogios que
não
sejam os resultantes da análise, mesmo
superficial e apressada, dos respectivos
conteúdos. Se somente aquêles que
mais de perto dizem respeito ao Bra-
sil são tantos e tão notáveis, imagine-
se o valor dos que
se referem às nume-
rosas conquistas, colônias e ex-colônias
de Portugal, espalhadas por
tôda a
África e por grande parte da Asia e da
Oceania. Ao lado de uma apresentação
gráfica sempre perfeita, a escolha dos
têmas e sua entrega a especialistas repu-
tados faz com que
os volumes editados
por aquela repartição
possam ser con-
siderados modelares, amplamente cora-
provando o bom gosto e a capacidade
de seus eminentes organizadores.
* • í1^ IleStava
.comPosta crônica
quando chegou a noticia do falecimento,em Lisboa, desse eminente técnico em história da navegação e dos descobrimentos
portugueses. Pelo muito que direta ou indiretamente serviu à historiografia brasi-
leira, é justo que aqui,
por êsse motivo, seja prestada uma
pequena, mas significativahomenagem a Fontoura da Costa. s
Literatura latino-americana
I
GUERREIRO RAMOS
Entre o movimento literário e intelectual do Brasil e o de toda a América
Latina há profunda afinidade. Os povos
latino-americanos comungam em
certos ideais comuns, em tendências sociais e culturais, que
lhes emprestam
a todos um mesmo espirito de solidariedade continental. A seção de "Lite-
ratura latino-americana", que
inauguramos neste número, se ajusta ad-
miravelmente à expressão do movimento intelectual do Brasil, que
se in-
tegra no todo maior da evolução cultural da América Latina. Iremos pro-
curar os pontos
comuns que
nos aproximam, aquêle "sentido
de americani-
dade" que está presente em todas as literaturas luso e hispano-americanas.
Foi confiada esta secçâo a um escritor e professor
da nova geração,
técnico
da Diretoria de Cultura e Divulgação da Baia, jornalista, ensaísta e
poeta,
autor de "O
Drama de ser dois" (Poesia,
Baia, 1937), "Introdução
à Cul-
tura*p (Baia, 1939, incluído na relação bibliográfica latino-americana da
Inter-American Book Exchange de Washington), "Rilke
e o estado poético",
e tendo ainda em preparo
um volumoso ensaio sôbre "A
Formação da Lite-
ratura Nacional".
NAO
será difícil reconhecer, nesia
hora em que
a Europa se peni-
tência tragicamente de seus êrros,
que os
povos americanos se encontram
numa situação oportuníssima para
cx-
plicitarem, em termos de cultura e dc
civilização, o espírito continental, o sen-
timento de americanidade. Seria, po-
rém, ingênuo acreditar no definitivo de-
clínio do continente europeu como é,
por outro lado, ingênuo um certo con
tinentalismo, ou melhor, o americanis-
mo que prevê, para
breve, uma surpre-
macia da América sôbre a Europa. Co-
locando-nos entre o otimismo de uns
e o pessimismo
de outros, pensamos
que, nêste instante, o
que a América
apresenta de superior, talvez, ao Velho
Mundo é uma comunidade histórica
mais viva e recente, uma possibilidade
maior de comunhão entre os diversos
povos que a constituem.
Aquêle sentimento de americanidade
si bem que
obscuro, e em pressentimen-
to, ainda, não é uma palavra,
apenas,
para ser usada em discursos diplomá-
ticos, mas corresponde a alguma cousa
viva na alma do continente e poderá
lazer da América um mundo, isto é,
um todo constituído de partes
organi-
camente aderentes. Na Idade Média, a
Europa foi, de fato, um mundo, por-
que suas nacionalidades, de contôrnos
pouco precisos e definidos, trabalhadas
pelo sal da Igreja Católica, não se sepa-
ravam por
fronteiras eçonômicas, po
líticas e geográficas
tão nítidas, como
nos tempos modernos. A organicidade
que o Velho Mundo
perdeu, com a dis
solução das formas da medievalidade,
lhe dava a conciência de u'a missão a
cumprir e identificou o seu destino com
o destino do Ocidente. Si o Ocidente
começou no Golgota, como diz Mari-
tain, foi na Europa que
se exprimiu
morfologicamente como um tipo de ci-
vilização distinto do tipo hindú, do chi-
nês, do islâmico. A guerra
a que
as-
LITERATURA LATINO-AMERICANA 27b
sistimos é a liquidação de um mundo
infiel à sua vocação, é o termo de um
processus que se iniciou com a Renas-
cença, que
representa a rutura da hie
rarquia, da ordem, da organicidade.
Êsle é um instante raro para
a Amé-
rica no sentido em que
lhe cumpre as-
sumir uma vocação, também, elaborar
um novo mundo, pois,
o fermento do
Ocidente foi lançado em suas entra-
nhas.
Numa revista de cultura política,
co-
mo esta, que quer
ser uma pesquiza
incessantes das linhas mestras da na-
ção em todos os setores da cultura e ura
esfôrço de penetração
em busca do sen-
tido de nossas tradições, que quer,
atra-
?és dos seus quadros,
espelhar a vida do
país, seria uma lacuna a ausência de
uma secção sôbre a literatura latino-
americana, um dos aspectos da ativida-
de intelectual por
onde é mais fácil o
acesso à intimidade dos países
irmãos.
Nas futuras crônicas dêste lugar, se-
rá sempre considerando que
o Brasil
não se pode
dissociar do continente
americano, que
exploraremos os planos
da literatura latino-americana, ora apre-
sentando uma visão de conjunto sôbre
um período,
uma época, ora estudando,
especialmente, personalidades cujas
obras sejam portadoras
da teluricidade,
da nota continental que
nos interessa.
Ser-nos-á fácil, numa espécie de mé-
todo comparado, aproximar a evolução
literária americana da formação nacio-
nal e encontrar, em uma e outra, pon-
tos de contacto que
revelem uma se-
melhança de fisionomia histórica e so-
ciai, desde um Bolívar, no terreno po-
lítico, em cujas cartas, proclamaçôes e
discursos se acham, em germe, a doutri-
aa de uma democracia continental e a
idéia da organicidade, até às obras lite-
rárias que
denunciam a aura da terra,
de Sarmiento, em Facundo, de Hernán-
xiez, em Martin Fierro, de Guiraldes, em
Don Segundo Sombra, de Hugo Wast,
em Desierto de Piedra, de Zorrila, em
Tabaré, de Laireta, em Zogoibi, de
Reyles, em El Terruno e ainda, em ou-
trás esferas, as de um Rubén Darío, um
Amado Nervo, um José
Enrique Rodó,
um Santos Chocano, um Ricardo
Palma...
Muito de nosso interêsse, entretanto,
será dirigido para
os atuais poetas,
ro-
mancistas, novelistas, sociólogo e filó-
sofos que,
como no Brasil, estão dando
às literaturas de seus países uma indi-
vidualidade, enriquecendo-as de obras
de ambiência genuinamente nacionais.
Êste fenômeno de maturidade vem
sendo marcado pelo
aparecimento de
estudos de psicologia literária como Por
la emancipaciôn da la America Latina,
e A donde va indo a América? de Haya
de la Torre; Siete ensayos de interpre-
tación da la realidad peruana de Ma-
riátegui; Vida y pasiôn
de la cultura
en America de Luiz Alberto Sanchez;
Hispana-America e intuición de Chile y
otros ensayos de Mariano Picón Salas;
America inicial de Luiz Franco; Seis
ensayos en busca de nuestra expressión
de Henriquez Urefia; La sensibilidad
americana de Emílio Trugoni.
Sem nenhuma dúvida, a moderna li-
teratura latino-americana é muito m»fri
rica e fecunda do que
a dos períodos
anteriores. Como aconteceu no Brasil,
a evolução literária dos outros povos
americanos se assinala por
trés grandes
etapas distintas: a colonial em que
a
margem deixada à arte foi o sermão,
a crônica, e a elegia, como diz Ludwig
Lewisohn, num livro, aliás, referente
aos Estados Unidos (The
Story of Ame-
rican Literature), cuja pista
haveremos
de seguir em algumas das próximas
crônicas; a romântica, de importância
não apenas literária, mas também poli-
tica e até filosófica, sob cuja influência
as nacionalidades americanas tomaram
conciência de si mesmas e começou,
literatura, a experiência afetiva da ter-
ra e, por
fim, a fase contemporânea
que é um tournant, uma confluência
de anseios e que, pelo
notável acêrvo
de obras originais, nos confirma que
a
América já
encontrou suas formas ge-
nuínas para
dizer-se.
Valha, assim, esta crônica inicial como
uma exposição dos motivos que justifi-
cam estas novas colunas de CULTURA
POÍTICA, as quais
não serão um sim-
pies registro bibliográfico mensal, mas
uma janela
aberta para
a América La*
tina, cuja paisagem literária é tão bela
como a de um amanhecer...
História literária do Brasil
III
ROSÁRIO FUSCO
j.
PESAR de acabarmos o primeiro
século em prosa (1500-1600), pro-
sa poética embora, é,
paradoxal-
mente, um livro de poesia que
serve
de marco ou ponto
de referência de tu-
do o que
nos ficou do século XVI.
Queremos falar da Prosopopéa, de
Bento Teixeira Pinto, estampado em
1601, em Portugal, em louvor de Duar-
te Coelho Pereira, primeiro donatário
de Pernambuco, morto em África, lu-
tando com D. Sebastião contra os mou-
ros.
Como manifestação mais remota da
literatura do Brasil, êsse poema camo
neano de reinol Bento Teixeira deve
ser emparelhado à Relação do Naufra-
gio de Jorge de Albuquerque e o Dia-
logo das Grandezas do Brasil. Isso si
quizermos excluir, do mesmo rol, co-
mo realmente o fazemos, o Tratado
Descritivo, de Gabriel Soares, que é de
587-
Mas é só mesmo com Botelho de Oli-
veira que
começa o nosso nativismo li-
terário, que
— esboçando-se nos ver-
sos da Ilha da Maré se acentúa, forte-
mente, na Historia do Brasil de Frei
Vicente do Salvador. Êsse nativismo li-
terário que
correu paralelo ao
políti-
co, na colônia, prolonga-se, pelo
tempo
afóra até o século XVIII.
E é ainda sob a imposição de suas
normas, — mais contágio do
que in-
fluência — que
os arcades mineiros pre-
pararão êsse romantismo brasileiro de
que tanto falam os historiadores,
presos
à necessidade de uma divisão das esco-
Ias literárias entre nós.
Todos os autores são unânimes em
mostrar que
foram as lutas políticas,
que por tantas vêzes chegaram a fazer
periclitar a integridade da colônia, que
fomentaram e insuflaram o espírito na-
ti vista de nossos escritores e poetas.
E realmente, só depois das guerrilhas
como os holandeses, na Baía e em Per-
nambuco, das lutas com os franceses,
no Maranhão, das complicações políti-
cas com os jesuítas, no Pará —
é que
os nossos intelectuais começam a pen-
sar mais no Brasil, apreendendo melhor
isso que
Barrés chama de "noção
de
pátria" que os livros não dão e
que
só a atmosféra social empresta ou nos
faz adquirir por um fenômeno
próxi-
mo da osmose.
Os fidalgos continuam enchendo as
ruas de Salvador. Os funcionários do-
govêrno geral prosseguem fazendo or-
gias nas ladeiras excusas e escuras da"cidade
D'el Rei e Côrte do Brasil",
índios mansos e negros se misturam pe-
lo sexo e pelas atitudes
públicas, pe-
HISTÓRIA LITERÁRIA DO BRASIL 277
los gôstos e
pelas preferências ao al-
cool, aos amores escandalosos, à in-
fluência perniciosa dos reinois ociosos
"que vivem do nada fazer e se apai-
xonam com o tudo esperar", para
usar
a expressão pitoresca de um cronista
daquêles recuados tempos.
Pois é nessa atraosféra, como reação
a êsse meio e a essa sociedade, é que
nascem, para
viver, e vivem, para pro-
duzir, os poetas
do nosso período clás-
sico que
constituem a Escola ou o cha-
mado Grupo Baiano, a que pertencem,
entre outros, Botelho de Oliveira, San-
ta Maria Itaparica e o próprio diver-
gente Gregório de Matos.
Estudos e pesquisas
cientificas
III
VIEIRA PINTO
Professor na Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil. Ex- professor de Filosofia
das Ciências na Universidade do Distrito Federal
A radioatividade de alguns minerais brasileiros
NOSSO
POTENCIAL econômico e
constituído em parte primordial
pelos recursos minerais. Dêstes, al-
guns estão
já estudados e em exploração
mais ou menos avançada, mas a maioria
não achou ainda a maneira de atualizar
em nosso benefício a sua prodigiosa
ri-
queza. E' um
problema dos mais sérios
para o nosso
país, pois devemos aprovei-
tar as circunstâncias atuais para
con
correr com a nossa produção
mineraló-
gica nas condições
perturbadas da eco-
nomia mundial. A fase primitiva
do
nosso ciclo econômico mineral caracte-
rizou-se pela
exploração dos minérios
de luxo, o ouro e as pedras preciosas.
A entrada do ferro e do manganês e
recentemente do carvão no cenário eco
nómico é uma segunda fase, ainda não
satisfatória, em face do imenso poderio
ainda inutilizado. A terceira fase deve-
rá ser a do aproveitamento total das
riquezas do sub-solo. Para isso tende
a política
do Govêrno, promovendo de
todos os modos as pesquizas geológicas,
paia localização e estudo dos minérios
e suas jazidas.
Com o desenvolvimento dêsses estu-
dos, ao lado do conhecimento metódico
e mais extenso dos minérios já
des-
cobertos, outros podem
vir a ser encon-
trados, que
constituirão surpreendente
revelação. Assim, queremos
referir-nos
nesta crônica aos estudos a que
se de-
votou o Prof. J.
Costa Ribeiro, da Fa-
culdade de Filosofia, da Universidade
do Brasil, e que
vieram revelar a
existência de minerais brasileiros do-
tados de alta radioatividade. Será util
divulgar os trabalhos de superior in-
terêsse científico e nacional dêsse jovem
mestre, e que,
tendo sido comunicados
à Academia Brasileira de Ciências, não
tiveram no público geral
a merecida
repercussão.
Conseguiu o Prof. Costa Ribeiro en-
contrar numa espécie mineral que
lhe
fôra enviada, um teor de rádio supe-
i lor ao conhecido entre os minerais
congêneres, mesmo aquêles que
são
hoje industrializados para
a produção
regular do rádio. Procurando estudar
os valores comparativos de diversas
amostras de minerais radioativos achou
numa delas, proveniente
do município
de Rio Branco, em Minas Gerais, um
elevado índice de radioatividade.
A técnica usada nestas pesquizas
consistia em reduzir a pó
impalpável
os minerais em estudo e obter uma
suspensão do pó
em clorofórmio. Sôbre
um disco metálico de área determi-
nada obteve-se por
evaporação do cio-
rofórmio uma camada aderente de es-
pessura uniforme. Com tôdas as amos-
tras procedeu
da mesma forma, resul-
ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS279
tando uma coleção de discos para o
estudo comparativo da emissão radio-
ativa.
Para determinar as correntes de ioni
/ação produzidas por esses minerais,
<reou o Prof. Costa Ribeiro um método
especial. Consiste éste na utilização de
um método de ponte para medir as
< 01 rentes de ionização, no qual a
que-da de tensão resultante da
passagemda corrente a ser medida
por uma re-
sistência niuiro elevada é equilibrada
pela aplicação de uma diferença de
potencial de compensação. Utiliza-se um
electrômetro de grande sensibilidade
paia indicação do equilíbrio e mede-se
a difeiença do potencial de compensa-
c.ão com um milivoltimetro ou com um
potcnciômetro de fio calibrado, si se
deseja maior precisão.
A característica corrente-tensão dêsse
aparelho apresenta um trecho inicial
sensivelmente retilíneo correspondente
aos pequenos valores de tensão, só se
encurvando para
valores mais altos, e
tornando-se paralela ao eixo das ten-
soes no regime de saturação. A parte
retilínea é extremamente favorável às
medidas de radioatividade, pelo mé-
iodo de comparação entre substancias
a ensaiar e outra padrão. Assim, se as
tensões não ultrapassam o percurso re-
lilíneo da curva a proporcionalidade
existente entre os valores de v e os d ei
permite comparar as tensões direta-
mente medidas no circuito de ponte,
obtendo-se a relação entre as correntes
de ionização produzidas pela
substâu-
i ia em estudo e outra tomada como
padrão.
Com o emprêgo déste método exami
naram-se espécies minerais de vá-
rias procedências. Assim foram estuda-
das a monazita e a samarskita de Divi-
no de Ubá, a policrasita de Pomba, ^
uranita da Serra da Moeda e do En-
genho Central, e a curita do Congo
F»elga. O óxido negro de urânio foi
a substancia usada como padrão.
Foi exatamente no curso dessas me
didas que
se tornou evidente a proemi-
nência da radioatividade das amostras
do Engenho Central. Podemos ver no
quadro abaixo os valores da radioati-
vidade relativa, isto é, a relação entre
as intensidades das correntes de ioni-
>-a.,áo do mineral e do óxido de urânio,
u inado como termo de comparação.
Radioatividade
relativa
(Valores médios)
fVvido negro de urânio
Monazita
Samarskita
Policrasita
Uranita (Ser. da Moeda)
Uranita <Eng. Central).
Curita
1.00
°'37
°'53
<>,54
°-54
3 <85
3'62
Após estas medidas, minuciosamente
verificadas e repetidas várias vezes, che-
gou-se à conclusão da existência de um
mineral dotado de um teor de radioati-
vidade mais alto que
o da própria curita
do Alto Katanga, de onde provém atual-
mente a maior parte do rádio utilisado
no mundo.
Julgou então o Prof. Costa Ribeiro
necessário continuar os estudos em tôr-
no desta descol^erta de tão grande inte-
rêsse. O problema que
se segue é o de
verificar qual a natureza do rádio —
ele-
mento responsável pela alta radioativi-
dade do mineral.
Para isso é necessário estudar a ema-
nação desprendida de uma solução do
mineral, mantida em balão fechado, du-
rante um tempo suficiente para garan-
tir o equilíbrio dos produtos de desin-
tegração com os rádio-elementos pre-
sentes na solução. Foi usado o método
de circulação para
as primeiras medi-
cias, mais tarde repetidas pelo
método
de ebulição. Em todos os casos verificou-
se que
a curva de evolução da corrente
11a câmara de ionização tem a forma
característica da produzida pela
emana-
< ão do rádio.
Comparando as soluções de minério
do Engenho Central com as da pech
blenda de Joachimstal encontraram-se
valores de radio sempre superiores no
produto brasileiro. Por exemplo, na pri-
meira medida efetuada os valores indi-
cavam um teor em rádio correspondente
a i>73 miligramas de rádio por
tonelada
de mineral. Em uma série de medidas
os valores médios obtidos foram os se-
guintes:
280 CULTURA POLÍTICA
Teor expresso em
mg. Rá./ton.
Pechblenda 215
Mineral em estudo 253
Êsses valores indicam uma riqueza de
cêrca de 18 %
mais elevada no mineral
brasileiro que
na pechblenda.
Fica esta-
belecido ser o rádio o elemento causai
da radioatividade reconhecida. O tórlo
deve ser excluído. Para verificação do
seu teor em urânio são usados processos
químicos, assim como
para estudar a
sua composição centesimal, e, uma vez
êstes dados obtidos, será possível
cal-
cuiar então a sua "idade"
provável.
FÍlo será demasiado encarecer o alto
sentido destas pesquizas, que podem
ser
a origem de um aproveitamento eco-
nômico considerável. Dada a grande
ne-
cessidade do rádio para
o tratamento
das neoplasias, e a sua completa carên-
cia entre nós, estamos certos que,
si
fosse possível
a sua exploração, lucra-
riamos com isso, não apenas a aquisição
de uma nova fonte de riqueza, mas tam-
bém de uma fonte de saúde de que,
por enquanto, se acham privados
a
imensa maioria dos necessitados dessa
terapêutica.
Entretanto, é ainda cedo para julgar
dessa possibilidade.
O Prof. Costa Ri-
beiro termina unia de suas monografias
tom estas palavras
de prudente
reserva:
"Trata-se de um mineral
que se apre-
senta com características que poderão
ser do maior interesse para
o País, caso
ocorra em quantidade
apreciável e em
condições de ser explorado industrial-
mente, o que,
no entanto, ainda não é
possível afirmar".
Educação
iii
F. VENANCIO FILHO
Professor catedrático do Instituto de Educação do
Distrito Federal. Sócio fundador e ex-Presidente
da Associação Brasileira de Educação
A
EDUCAÇÃO secundária foi sem-
pre, no Brasil, ensino, no sentido
restrito do étimo do vocábulo.
Nunca teve qualquer
estrutura forma-
tiva, sendo, de caráter meramente infor-
inativo. Foi sua nota tSnica a de trân-
sito para
as escolas das profissões
libe-
rais e por
conseqüência, como estas,
simples graduação
social. Não é por
acaso que
o Brasil é o único país
em
que todos os cursos
profissionais são
marcados por
anéis coloridos...
E por
isso que
sempre assim foi, não
se justifica o refrão
permanente da de-
cadência que
se lhe vem atrib»'*ndo,
desde épocas imêmores. O diagrama de
sua evolução seria quando
muito repre-
sentado por
linha reta paralela
ao eixo
horizontal e nunca pela parábola
des-
cendente com que
a pintam
observado-
res apressados. Decaindo sempre, desde
tanto tempo, já
teria atingido ao cen-
tro da terra. No período
colonial a sua
organização era naturalmente precária.
Nasceu da necessidade de formar mis-
sionários, catequistas e professores para
a Companhia de Jesus.
Só um esta-
belecimento atingiria níveis bem altos,
um pouco
adiante da sua época, êste
admirável Seminário de Olinda, do
grande Azeredo Coutinho, o notável re-
presentante da cultura do tempo,
"ma-
temático e economista" que
"de algu-
ma sorte já prefigurava,
no versar os
mais díspares assuntos, o traço essencial
de nosso espírito vezado às generaliza-
ções brilhantes em detrimento das es-
pecializações fecundas".
O Império pouco
adiantaria à situa-
tão da colônia. Não poude José
Boni-
fácio, o estadista culto e sábio, em meio
às múltiplas e complexas questões que
teve de enfrentar, atentar para
o pro-
blema da formação da cultura do país,
que já, a êsse tempo, preocupava os
po-
vos adiantados. A Constituição, outor-
gada em 1824
pela Coroa,
propugnando
a "instrução
primária gratuita" e para
todos, atingia antes a uma aspiração que
à realidade, remota ainda em nossos
dias e os' "colégios
e universidades" se-
riam votos esquecidos ou ignorados. O
Ato Adicional, dez anos mais tarde,
transferia a instrução primária às Pro-
víncias, ficando ao poder
central o en-
sino superior e, em têrmos vagos, "ou-
tros quaisquer
estabelecimentos que
ve-
nham a ser criados". As aulas régias,
soltas e dispersas por
várias cidades do
Brasil, iam preparando uma certa cul-
tura secundária, sobretudo em algumas
províncias. Antes do Colégio Pedro II,
oficializando o Seminário de S. Joa-
quim, na regência de Araújo Lima,
já
o Rio Grande do Norte, por
atq> do
Presidente Basílio Quaresma Torreão,
de 2 de Dezembro de 1836, creava o
Ateneu, reunindo as aulas avulsas. Sur-
282 CULTURA POLÍTICx\
giriam posteriormente, em outras pro
víncias, estabelecimentos oficiais de en-
sino secundário, alguns de renome.
E' de 1811, talvez, o primeiro
esta-
belecimento secundário de iniciativa
particular, devida a Felisberto Antônio
de Figueiredo Moura. Com a criação
dos cursos jurídicos,
em 1827. a exi-
gência de exames,
perante bancas ofi-
ciais, de algumas matérias, traía a fei-
ç3o de trânsito, até hoje típico de cur-
so secundário. Em 1832, o Seminário de
Olinda se transforma em estabeledmen-
to de ensino secundário, mais tarde
curso anexo da Faculdade de Direito,
que se estendeu a S. Paulo. Em 1854
surgem exigências novas para
as ma-
trículas nas Faculdades de Medicina e
Direito, ligeiramente diferentes para
ca
da qual,
sendo que
nas primeiras
os
exames eram prestados perante
bancas
oficiais, presididas pelo
Diretor da es-
cola.
Só a partir
de 1874 é que
os cha-
xnados preparatórios puderam
ser feitos
nas províncias que
não possuíam
esco-
Ias superiores, só existentes no Rio. em
S. Paulo, na Baía e no Recife.
A educação feminina, dominantemen-
te doméstica, era feita também em es-
tabelecimentos particulares,
religiosos,
especialmente católicos. Só se ampliou
com o advento das escolas normais, efe-
tivamente começadas em 1880 na Corte.
Depois de 60 desenvolvem-se inúme-
ros colégios secundários, de iniciativa
privada que atingiram alguns, sob o
idealismo de educadores eminentes, ní-
veis bem altos, com os de Tautphoeus.
Freese, Micaúbas. Pujol, Kopke. Mene-
zes Vieira. Aquino. O ensino oficial se
limitava ao Colégio Pedro II, e outros
provinciais com número
pequeno de
alunos, dos quais
minoria fazia o curso
de bacharelado em ciências e letras.
# ? #
Com o advento da República não te
ve novos rumos a educação brasileira.
Faltou-lhe um jefferson ou um Sar-
miento. Espanta que
o não tivesse sido
Rui Barbosa, esquecido do autor do
Parecer famoso de 1882 e que passaria
cincoenta anos de apostolado cívico,
defensor das liberdades brasileiras, de-
satento aos seus fundamentos. São opor-
tunnas e justas, por
isso, aquelas pá-
ginas de Vicente Licínio, 11
* "A Margem
da História do Brasil", quando
o re-
lembra e inclue na mesma acusação
Pedro II, que,
de volta dos Estados
Unidos, em 1876, nenhum passo
real
déra pela
educação.
Benjamin Constant, transferido por
conveniências políticas, para
a pasta
es-
drúxula e efêmera de "Instrução
Pú-
blica, Correio e Telegrafos", fez a sua
reforma, logicamente modelada pela
sua
escola filosófica, ambiciosa de mais pa-
ra a nossa cultura, pela
falta da peça
essencial, que
era o professor. E como
se ativera à escala enciclopédica da ad-
mirável série comteana, não a ajustou
às possibilidades e necessidades
pedagó-
gicas e iniciou a famosa
"congestão ce-
rebral" de que
vem, no papel, padecen<-
do o nosso ensino secundário. Não
cumprida a sua reforma, foi modificada
por Fernando Lobo e finalmente refor-
mada em 1901 por
Epitácio Pessôa.
Convém observar que
no exame das
leis do passado há o esquecimento ou
a ignorância de inumerável série de fa-
tos e episódios parasitários,
reais ou in
ventados, que
lhes acompanhavam a
execução, enquanto que
dos coevos te-
mos conhecimento, tanta vez deforma-
do pelo
interêsse ou pela
raaledicência
O ' Código de Ensino" de 1901 durou
10 anos. Reforma revolucionária se se-
guiria, para o ensino secundário, com
a Lei Rivadávia Correia, em 1911, que
o desoficializou. E porque
não foi pre
parada por um largo debate, antes fru
to de trabalho quasi
secreto de gabinete
ministerial, teve efêmera duração, subs-
tituída pela
Reforma Carlos Maximilia
110, em 1915.
Permaneceria 10 anos, modificada em
1925 pe*o Ministro
João Luiz Alves,
com a Reforma chamada Rocha Vaz.
Chegamos enfim à Reforma Francisco
Campos, com a Revolução de 30,
de 18
de Abril de 1931, em que pela primeira
vez em toda a história de educação no
Brasil a legislação do ensino secundário
se fazia separada da do ensino superior.
# # #
A despeito das afirmativas de cada
legislador de que
tudo o que
encontra-
va eram ruínas e escombros, pode-se
vislumbrar, sem dificuldade, uma níti-
da linha evolutiva, no nosso ensino se-
cundário. especialmente 110 período
re-
publicano.
EDUCAÇAO283
A reforma Francisco Campos, quer
a
de Ensino Superior, aí realmente su-
perior, porque incluiu o universitário e
não apenas os profissionais clássicos,
quer a do ensino secundário, represen-
tam outros rumos, dentro da corrente
renovadora iniciada em 1927 pela
Re-
forma Fernando de Azevedo, no Distri-
10 Federal, que
incorporava em lei, pe-
la primeira
vez, as novas idéias, origi-
nadas das pesquisas em
psicologia e so-
ciologia educacionais.
Após a extinção do Ministério da
Instrução Pública, voltou o ensino a
depender do Ministério da Justiça
e
Negócios Interiores, (antigo do Impé-
rio), com uma Diretoria apenas de ca-
ráter burocrático, ficando todas as ques-
tões em relação direta com a Secretaria
da pasta política, a
que se devem to-
das as reformas até a de 1931, já
do
Ministério da Educação, criado em 1930.
Com a reforma de 1911 surge o pri-
meiro órgão de natureza técnica, em-
bora de ação temporária, e meramente
consultivo, que
foi o Conselho Superior
de Ensino, constituído dos diretores dos
institutos federais e de um represen tan-
te eleito pelas
congregações de cada
qual.
Em 1925, aparece um órgão perma-
nente, além do Conselho, êste na lei
desdobrado em 3
secções, mas só na lei,
com uma composição mais ampla, pois
abrangia o ensino do gráu primário e
de outros ramos.
Êste órgão é o Departamento Nacio-
nal de Ensino, que
se desenvolveu, pas-
sando por
várias denominações, até o
atual Departamento Nacional de Edu-
cação, a que
se subordina todo o ensi-
no mantido e fiscalizado pela
União, â
exceção dos que
teem autonomia, como
a Universidade do Brasil e o Colégio
Pedro II.
A despeito da descontinuidade admi-
nistrativa, tão característica; apesar das
declarações uniformes das exposições de
motivos dos reformadores de que
o que
encontravam de nada servia, sendo pre-
ciso modificar tudo, edificar de novo, fa-
zendo tábua raza, apesar de tudo isso,
há, talvez sem se dar conta, uma con-
tinuidade subterrânea, em alguns prin-
cípios fundamentais à educação secun-
dária.
Assim a idéia de seriação de curso é
um princípio
em evolução contínua.
Do regime de "preparatórios"
soltos,
isolados, sem ligação de fundamentos
foi-se chegando ao curso em série, de
matérias agregadas em conjunto, a prin-
cípio sob a forma de exames, depois
de ensino.
A preocupação exclusiva do exame,
apressado, subjetivo, em forma de lo-
teria, que
ia desde as bancas examina-
doras, variáveis ao acaso do figor dos
seus componentes até a do ponto,
subs-
titue-se a do ensino seriado, feita a
apuração em provas parciais,
cada vez
mais amplas de conteúdo, ao lado das
provas mensais e da
prova oral, de me-
nos valor e portanto
de menos pêso.
Ao envés do ensino secundário restri-
to a uma percentagem insignificante da
população adolescente, uma maior ex-
tensão, pois
de 1930 a 1936 variou o
número de alunos, de 40 mil a cêrca
de 160 mil, para uma variação de
po-
pulação de
40 milhões para 42 milhões.
Extensão às moças dêsse ensino, pois
em 1907 concluíram o curso secundário
de bacharelado em letras as duas pri-
meiras jovens que
a êle se aventuraram
e hoje o número delas eqüivale ao do
sexo masculino.
As avaliações estatísticas relativas ao
ensino eram obtidas globalmente nos
lecenseamentos gerais, enquanto
que
hoje já
se possuem
dados do país
todo,
dignos de fé e em dia.
Ouvem-se por
toda a parte pregoei-
ros da decadência, que
todos se julgam,
sem excessão, depositários de uma gran-
de cultura, esquecidos do que
foi o en-
sino do seu tempo e dos que
sobraram
na massa imensa que
se perdeu pela
vida afora e do esfôrço próprio
de cada
um, aceita sem discussão aquela pre-
sença de cultura pessoal...
Os dados que permitem
a afirmativa
segura de que
o ensino melhorou são
escassos e é evidente que
êle não aten-
de àquela finalidade formativa, que
é
precipua. Falta-lhe aquêle sentido de
organicidade e de unidade, de sistema
desmodrômico, de cultura ajustada para
a vida, no meio e no tempo, que
llie
deve ser peculiar.
Considera-se agora que
hoje há exi-
gências de higiene de
prédios, de ins-
talações para
os colégios secundários.
E outrora?
Há uma preocupação
mais ampla de
disciplinas coletivas, como educação fí«
284 CULTURA POLÍTICA
sica, canto orfeônico. Hoje os progra-
mas e pela primeira
vez na escola se-
cundária apresentam normas metodoló-
gicas.
E' óbvio que
a média geral
do ensino
piorou em absoluto, e o fenômeno é
geral, uma vez que
essa extensão do
ensino secundário não se fez acompa-
nhar da medida necessária, imprecindi-
vel, urgentíssima, da formação especí-
fica do professor
secundário, que
aliás
o legislador reconhecia como providên-
cia sem a qual
tudo o mais falharia.
De 13 mil professores que
havia em
1932 passou,
o número em 1936, a 18
mil, só nêste período,
sendo que
nesta
data cêrca de 50 %
dêsse professorado
não tinha curso secundário completo.
Convém não esquecer que já
se en-
contrará hoje, quem
faça do magistério
profissão e
que outrora êle era cons-
tituído em quasi
totalidade de médicos,
que ensinavam física,
química e histó-
ria natural, engenheiros, que
ensinavam
matemática e desenho, advogados que
ensinavam o resto.
E' certo que
havia bons e até ótimos ,
professores, mas não os há hoje também?
Entretanto o magistério é profissão
que exige formação específica, não ape-
nas o primário,
mas igualmente o se-
cundário, pois que
tem que
trabalhar
com sêres dotados de uma psicologia
própria e
que vão agir em seu meio
social.
O que
a educação secundária exige é
reforma^ diremos mesmo revolução, de
métodos e não de currículo, de seriação
e de programas.
? # #
A grande
reforma da educação secun-
dária, compatível com as aquisições pe-
dagógicas do nosso tempo, tem de ser
radical. "O
sistema de hábitos, atitudes
e comportamentos que
o habilitem (o
estudante) a viver por
si mesmo e a
tomar em qualquer
situação as decisões
mais convenientes e mais seguras", con-
forme se lê na magistral exposição de
motivos do Ministro Campos, exige uma
modificação de estrutura, não só no pcs-
soai docente, o que
é essencial, como
na própria
construção do currículo e
sobretudo nos processos
de aprendi-
zagem.
Seria solução inteira e positiva
a essa
análise indeterminada a que
reduzisse
o estudo com professor
às duas discipli-
nas instrumentais: linguagem (nacional
e estrangeira) e matemática. Esta da-
ria o pensamento
funcional e a primei-
ra o pensamento
lógico. As demais se-
riam conteúdo das duas, adquiridas, co-
mo são na realidade, para
uma incor-
poração definitiva, as ciências físicas e
naturais, a geografia
e a história, em
bibliotecas, laboratórios, oficinas, numa
atividade pessoal
e direta de cada ado-
lescente, além das disciplinas coletivas
de educação física e canto.
Uma reforma dêsse tipo poderia
cons-
truir uma transformação molecular da
educação secundária para
os nossos dias.
Talvez seja cêdo de mais para
tentá-la.
Movimento bibliográfico
III
ANTÔNIO SIMÕES DOS REIS
Do Instituto Nacional do Livro, do Ministério
da Educação e Saúde
RELAÇÃO DOS LIVROS PUBLICADOS NO BRASIL EM MARÇO DE 1941
Livros Brasileiros
Biografias — Memórias e auto-biografias
MACEDO. ROBERTO — O barão do Rio Verde. Rio, Alba, 1941, 168
p.NAPOLEÃO, ALUIZIO — O segundo Rio Branco. Rio,
"A Noite", 1941, 187
p.
Contos
MARINS, NILZA — Primeiro sonho
(Contos). Rio, Cia. Brasil Ed., 1941.
XAVIER, BRAULIO - Vidas em tumulto. Rio, Pongetti, 1941,
409 p.
Ciências médicas
ARAÚJO (H. C. de Souza; e A. F. Rodrigues de Albuquerque) — A lepra na
cidade do Rio de Janeiro. Sep. "Ata
Médica", Rio, Imprensa Nacional
1941, De pp.
63-90.
ARAÚJO, H. C. DE SOUZA — Aspectos da prostituição e do combate às doenças
venéreas nalguns países Sul-Americanos. Separata, Rio, Imprensa Nacional,
1941. De pp. 745-750.
LAMARE, RINALDO DE — A vida do bebê. Rio, Freitas Bastos, 1941, 344 p.
Critica
PINTO, LEONARDO PINTO — Origens da literatura portuguesa. S. Paulo,
1941, 8 p.
Direito e legislação
SILVEIRA, ALÍPIO — A boa fé ?io Direito Civil. Ensaio. Carta-prefácio de Clovis
Bevilaqua. S. Paulo, Tip. Paulista, 1941, 204 p.
Diversos
DELGADO, LUIZ e ANDRADE BEZERRA — Recepção de Luiz Delgado na Aca-
demia Pernambucana. Recife, 1941, 47 p.
MAUL, CARLOS — Há um rumor de lutas nas catacumbas. (Crônicas da atuali-
dade brasileira. Rio, Zelio Valverde, s. d., 200 p,
286 CULTURA POLÍTICA
VIEIRA, CELSO — Estudos e orações. (Trabalhos
da Presidência). Rio, Publica-
ções da Academia Brasileira, 1941. 288 P»
ERSE. ARMANDO (.João Luso)
— Assim falou Polidoro. Rio, Cia. Editora Ame-
ricana, 1941, 208 p. ... o
Orações e palestras.
Rio. Livraria José Olímpio editora, 1941, 258 p.
Educação
FONTE. GUIOMAR DE SA* — A moça moderna. Rio, Pongetti, 1941, 108
p.
Estado Novo. I: Administração
DUTRA, EURICO GASPAR — O Exército em dez anos de
governo do Presidente
Vargas. Conferência, Rio, D. I. P., n. 168, 70 p.
Estado Novo, II: Direito e Legislação
DUARTE, GIL —4 A paizagem
legal do Estado Novo. Rio. Livraria José Olímpio
Editora. 1941» 203 p.
Estado Novo, III: Diversos
PALAVRA (A) DOS ESTADOS
— Rio, D. I. P., n. 165.
Estado Novo, IV: Educação
SANTOS, FRANCISCO MARTINS DOS — O
fato moral e o fato
social úi década
getuliana. 2.a ed.. Rio, Zelio Valverde, 1941, 144 P
Estado Novo, V: Produção
CORDEIRO DE SOUZA, OCTACILIO PINTO — Aspectos da Produção Animal n *
Estado Novo. Rio, D. I. P.. n. 164, 157 p.
Estado Novo. VI: Sociologia
GUIMARÃES, OSIAS — Amor à terra. (Decenal da revolução brasileira^. Obra
premiada no concurso de monografias instituído pelo
D. T. P. Rio, De-
partnmento de Impren»a c Propaganda, 191». n. 174, 208 p.
PADILHA, JOÃO — O Brasil na
posse de si mesmo. Rio, D. I. P., 1941. n. 163, 127
p.
Estado Novo, VII: Urbanismo
CRUZ, H. DIAS — Os morros cariocas 110 novo regime. Rio, 1941. 67
p.
Estado Novo, VIII: Viação
MELLO. VIEIRA DE; e TEIXEIRA BRANDÃO - A nova
política ferroviária <í >
Brasil. Rio. D. I. P.. n.° 173. 1941, 138 p.
e uma f. desdobrável.
Folclore
GOMES, ANTONIO OSMAR — A chegança. Contribuição folclórica do Baixo São
Francisco, Rio, s. d. 1874-4 (n. nums.).
História do Brasil% 1
MORTE, JOSE' MATOSO MAIA — O município de Niterói. Corografia. História.
Estatística. MenwSria. Rio, "Jornal
do Comércio", 1941, 370 p.
GOYCOCHEA, CASTILHOS — O espirito militar na
questão acreana. Rio, Biblio-
teca Militar, 1941, 124 p.
LEITE, AURELIANO — São Francisco de Paula de Ouro-Preto nas Minas Gerais.
2.a ed., S. Paulo, Revista dos Tribunais, 1941, 142 p.
MOVIMENTO BIBLIOGRÁFICO 287
\
LISBOA, BALTAZAR DA SíLVA -- Anais do Rio de Janeiro. Tomo I, Rio, Pre-
-ri.!»? 1? Plstru,°
te^5rai' 'W' '35 P- Com o retrato de Henrique de
Toledo Dodsworth e Pio Borges.
Livros didáticos
Aritmética:
ZANELLO. HÍPÉRIDES — Aritmética
primária. 3a ed.. S. Paulo, Cia. EditoraNacional. 1941, 226
p.
Biologia:
RIALVA, RITA AMIL 13E Noções de biologia geral. Para o curso complementar
e escolas normais. 3«a
ed., Rio. F. Briguiet, 1941, 572 p.
Ciências físicas e naturais:
FACCINI, NIARIO — Ciências físicas e naturais. 2.a série, ,t.a ed.. Rio. F. Bri-
guiet Sc Cia., 19}if 260 p.,
ilus.
Física c química:
FACCINI, MARIO — Física e química. 3a
série, 8a ed.. Rio, F. Briguiet. 1941, 430 p.
Francês:
ALEM, NEIF ANTÔNIO, e DULCfi DE MORAIS BIANCHINI — Précis de litté-
rature. S. Paulo. Cia. Melhoramentos, 1941, 186 p.
Geografia:
GABAGLIA. F. A.; e J. C. RAJA OABACIA — Curso de geografia. i.a série.
Rio, F. Briguiet, 1941, 162 p.,
ilust.
História da civilização:
SERRANO, JÔNATAS
— História da civilização. Volume IV. A civilização moder-
na. Rio, F. Briguiet, 1941, 298 p.
SILVA, JOAQUIM
— História da civilização. 4.0 ano
ginasial. 12a ed., S. Paulo.
Companhia Editora Nacional, 1941, 273 p.
História do Brasil:
SILVA, JOAQUIM
— História do Brasil para
o quarto ano
ginasial. Rio. Cia.
Editora Nacional, 1941, 226 p.
SERRANO, JÔNATAS
— Épitome de história do Brasil. g.a
ed.. Rio, F. Briguiet.
1941, 250 p.
SILVA, JOAQUIM
— História do Brasil. Para o
quinto ano ginasial.
S. Paulo,
Cia. Editora Nacional, 1941, 233 p.
Inglês:
SERPA, OSWALDO; e PAULO CEZAR MACHADO DA SILVA - A. B. C. Direct
metho Pictured bv A. Espinheira. Rio, Livraria Alves, 1941.
A. B. C. — Exercise-book. Rio, Livraria Alves, 16 p.
Latim:
FARIA, ERNESTO — O latim pelos
textos. (Trechos
escolhidos, anotados e gra-
duados para
o estudo do latim). 3a
ed., Rio, F. Briguiet, 1941, 408 p.
ilust.
Livros de leitura:
BRAGA, ERASMO — Leitura. I (Série Braga). 148.0 ed., S. Paulo, Cia. Melho-
ramentos, 1941, 187 p.
288 CULTURA POLÍTICA
Leitura. II (Série Braga). iu.a ed., S. Paulo, Cia. Melhoramentos, 1941, 217
p.
Leitura. III (Série Braga). 72a
ed. S. Paulo, Melhoramentos, 1941, 259 p.
FLEURY, RENATO SENECA - Na roça. (Cartilha) 29a ed., S. Paulo, Cia. Me-
lhoramentos, 1941, 64 p.
OLIVEIRA, MARIANO DE — Cartilha. Ensino Rápido de Leitura. 2i6.a ed.,
S. Paulo, Cia. Melhoramentos, 1941, 48 p.
Páginas infantis. 56.a ed., S. Paulo, Cia. Melhoramentos, i94f> 111
P*
SOUSA, JÜLIO DE FARIA E — Cartilha intuitiva. Leitura intermediária. Se-
jamos bons. io.a ed., S. Paulo, Liv. Record, 1941*
Português:
CRUZ, MARQUES DA — Português prático. 3a
série. S. Paulo, Cia. Melhoramen-
tos, 1941, 316 p.
Química:-
QUINTELA, DONALDSON MEDINA
— r.° caderno de química prática.
Rio,
"Jornal do Comércio", 1941, 294
p.
Zoologia:
FEIO, JOSÉ'
LACERDA DE ARAÚJO — Sinopse de sistemática zoológica. Acom-
panhada de sucinta caracterização
para ordens e
grupos superiores e de um
glossário de termos usados em zoologia. Rio,
"Jornal do Comércio",
194I» *7* P-
Literatura infantil
DUARTE, BANDEIRA — Rondon o bandeirante do século XX. Desenhos de F.
Acquarone. S. Paulo, Livraria Martins, s. d., 204 p.
Romances
AZEVEDO. ALUIZIO O mulato. 11a ed., Rio, F. Briguiet. 1941, 475 p.
CELSO, MARIA EUGENIA — O diário de Ana Lúcia. Rio, Liv.
José Olímpio,
1941, 240 p.
NABUCO, CAROLINA — A sucessora. 3.a
ed., Rio, Liv. José
Olímpio, 1941.
OLIVEIRA, ALVARUS DE — Romance
que a
própria vida escreveu. Rio, Cia.
Brasil ed., 1941, 194 p.
Poesia
CORRÊA, DOM F. DE AQUINO — Terra natal. g.a
ed., Rio, Imprensa Nacio-
nal, 1941, 206 p.
CRUZ, FRANCISCO VERA — Sonho e paizagem. S. Paulo, Elvino Pocaí, 1941,
94 p.
SAMPAIO, B. — Taça vazia. S. Paulo, Revista dos Tribunais, 1941, 217 p.
SANTOS, ARLINDO VEIGA DOS — Isenso da minha miséria. (Trailler literário).
S. Paulo, 1941, 24 p.
VIEIRA, OLDEMAR — Folhas de chá. S. Paulo, Ed. Cadernos da Hora Presente,
1941, 126 p.
Sociologia
ANDRADE, ALMIR DE — Formação sociológica brasileira. Vol. I. Os primeiros
estudos sociais no Brasil. Séculos XVI, XVII e XVIII. (Coleção documen-
tos brasileiros, v. 27). Rio, Livraria José Olímpio, 1941,
320 p.
CARNEIRO, DAVID — Evolução moderna. Epopéia Indústria. Drama. S. Paulo,
Athena Editora, s. d. 243 p.
LIMA, A. M. BUARQUE DE — Navalismo contemporâneo. Rio, Getulio Costa,
1941, 190 p.
MOVIMENTO BIBLIOGRÁFICO289
Viagens
GABAGLIA, RAJA — Em águas do Pacifico. Rio, Imprensa Naval, 1941, 12
p.SILVEIRA, ALÍPIO — A Argentina de hoje. Impressões e estudo. S. Paulo, Tio.
Paulista, 1941, 56 p. r
TRADUÇÕES
Ciências médicas
ROSEMBERG. MAX — Clinica das afecções renais. Trad. Heitor Jobim e Raul
Margarida. 7.*
ed., S. Paulo, Melhoramentos, 1941, 260 p.
SCHICK, BílLA; e WILLIAM ROSENSON — O novo guia
das mães. Pref. Marta*
gão Gesteira. Trad. Fernando Tude de Sousa. Rio, Li\* José Olímpio,
1941, 270 p.
Romance
VANCE, ETHEL — Fuga (Escape) Romance.
(Fogos Cruzados-2). Trad. Lúcio
Cardoso. Rio, Liv. José Olímpio, 1941,
458 p.
Sociologia
ROMAIN, JULES
— Os sete mistérios da Europa. Trad. Ernil Fahrat. Capa de
Raul Brito. Rio, Liv. José Olímpio, 1941,
324 p.
c) Evolução artística
A* ordem política
e
a evolução artística
iii
ESTÉTICA
ou filosoficamentc, a arte
— qualquer forma de arte — é um
élo que
tios une à realidade. Por
intermédio dela afirmamos e negamos,
a um tempo, o mundo que
nos cerca.
Mas é do presente
valendo-se dos dados
que êste nos fornece, que partimos pa-
ra recuar ou avançar no tempo.
Um artista não tira, de dentro
meandros de sua própria
alma, a alma
de seus personagens. assim como um
pintor não improvisa os seus motivos.
assim como um músico não inventa ?io-
1 ações sonoras inéditas para
compor a
sua sinfonia'.
Os artistas vivem de associações de
dados conhecidos, porque a arte se ali•
menta de um conhecimento universal,
capaz de identificá-la em qualquer la-
titude. A música de Bethoveen, ale-
mão, poderá
ser entendida por um nor-
te-americano, assim como a miísica de
César Franck, francês, poderá ser apre-
ciada por um inglês ou um uruguaio.
A arte não tem pátria porque a sua
linguagem não conhece fronteiras. Ela
c sempre, entretanto, ate certo modo
um produto do meio de onde
provem.
uma vez que
os meios sofrem as in-
junções dos fatores externos e internos,
a que
se referem os sociólogos.
Na classe dos fatores internos, estão
compreendidos aqutles que poderíamos
chamar fatores constantes da alma do
homem, propriedades eternas do espi-
rito, que
existem independentemente
das condições de raça, lingua, naciona-
lidade. As variações espirituais são mi-
nimas, no caso, porque
o fim das artes
è um único. Elas perseguem a beleza
e a beleza tanto pode
residir num rosto
mutilado como numa face de
"auroras
feita" como dizia Cruz e Sousa.
A arte brasileira, que
hoje se afirma
mais do que
ontem, está, nêste momen-
to, vivendo um de seus períodos mais
fulgurantes justamente porque, aspi-
rando o universal, parte
do nacional
para afirmar-se juntamente com as ca-
racteristicas essenciais da nossa alma,
da alma do Brasil. Não traindo a sua
origem, portanto, ela não trai a sua
função socializadora nacional e a sua
função unificadora universal. Sua, men-
sagem é a mensagem do país, que
ela
carrega no seu bojo, espalhando os nos-
sos motivos, impondo os fiossos temas,
esclarecendo as nossas particularidades
de povo e divulgando o nosso
feitio de
nação.
Tomai os nossos livros de estudos,
ouvi as nossas músicas, ascultai as nos-
sas pequenas artes
populares menores
— que
refletem o ambiente social em
que vivemos, criado pelo ambiente
poli-
tico de que
dispomos.
Então, ver eis que
o Brasil participa
das nossas manifestações artísticas e que
as nossas artes também trabalham a
unidade nacional. Todas as escolas, to-
dos os gêneros (da
literatura às artes
plásticas) se identificam, no fundo, pe-
EVOLUÇÃO ARTÍSTICA 291
la aspiração comum: brasilidade, uni-
ver sal idade.
Partimos do Brasil, mas aspiramos o
mundo.
E o mundo há-de compreender-nos
porque, valendo-nos da sua experiência,
utilizando-nos de seus modelos, soube-
mos, vagarosa mas firmemente, libertar-
nos da sua influência para
assegurar a
nossa independência artística.
E eis como a legenda de um grande
autor brasileiro tornou-se, com a per-
missão social legada pela política,
o
lema inconciente dos artistas patrícios.
"Cria o teu ritmo livrementedizia
Ronald de Carvalho no inicio do mo-
vimento modernista brasileiro. E é li-
rrremente que
estamos criando: sem a
tutela do Estado, sem a sua direção,
mas com a sua assistência. Êle não tn-
vade o domínio das artes: protege-os.
Êle não provoca conflito entre os in-
leresses dos artífices de todas as artes:
separa-os. Êle prestigia as artes do Bra-
sil, porque
é dêsse prestigio que
vivem
os governos patrióticos, concientes de
reu papel
e côncios de seu dever.
Música
iii
LUIZ HEITOR
Professor catedrático da Escola Nacional de
Música da Universidade do Brasil
BRASÍLIO
Itiberê constitue um "ca
so'' na música brasileira. Brasilio
Itiberê, o Segundo, vamos logo pre-
cisar, pois
em meiados do século pas-
sado, quando
o gênio
de Carlos Gomes
cometia suas primeiras
sortidas, na Côr-
te do Império, revelando as primeiras
óperas brasileiras de grande
sucesso,
um outro Brasilio Itiberê, que
havia
de ter carreira brilhante na diplomacia,
também fazia jús
a duradouros triun-
fos, aproveitando em sua célebre peça
para piano, a Sertaneja, e
pela primei-
ia vez em nossa história musical, te-
mas populares
ou arranjados à feição
dos populares.
Êsse velho Brasilio Iti-
berê, morto em Berlim, em 1913, como
Ministro do Brasil junto
ao governo
do Kaiser, não chegou a ser um músico
ativo porque
a arte, para
êle, teve de
conservar-se no terreno do diletantismo,
só corno tal servindo para
conferir ain-
da maior brilho à vida social de quem
foi um mestre das boas maneiras, ex-
poente legítimo das mais nobres tra-
dições da Carrièrre. Êsse salto do dile-
tantismo para
a profissão
artística é a
proeza que cometeu o nosso Brasilio
Itiberê, sobrinho do primeiro,
aceitan-
do, em 1938, a primeira
cátedra de Foi-
clore Musical criada no Brasil: a da
extinta Universidade do Distrito Fede-
ral; e entrando a compor, desde uns
dois anos antes, uma obra que,
apesar
da critica impiedosa do autor, capaz
de suprimir tudo o que
não lhe agra-
da, alguns meses depois de terminado,
vai dia a dia se avolumando e se apre-
sentando mais firme e mais original.
O "caso",
tratando-se de Brasilio Iti-
berê, não é, propriamente,
a sua pas-
sagem da profissão
de engenheiro para
a de professor
de música e compositor,
mas o tardio dêsse chamado vocacional
e a ausência de formação técnica regu-
lar do compositor que,
entretanto, en*
frentou sobranceiramente, sem temor e
sem alarde, a situação difícil que
se
criava para
êle, resolvendo-a na solidão,
com os seus próprios
recursos, com o
interêsse profundo
e altivo que
sem-
pre devotou àquela arte
que um dos
grandes espíritos do século XYr chama-
va de Frau Música (Lutero).
Sabemos,
através do "caso"
Mussorgsky ou do
"caso" Vila-Lobos, a
que transcenden-
te amadurecimento, inconfundivelmen-
te vigoroso e puro,
essa formação au-
todidática do compositor pode
chegar,
tratando-se de indivíduo impulsionado
por uma verdadeira fôrça criadora.
Não se pode generalizar, pretendendo,
como muitos o fizeram, que
o composi-
tor deve encontrar por
si mesmo, sem
as muletas das disciplinas escolares, suas
próprias harmonias e suas
próprias for-
mas. Mas é certo que
em alguns casos
(e o de Brasilio Itiberê é típico: gran-
de maturidade intelectual* espírito
boêmio, imaginação vagabunda, inca*
paz de sujeitar-se à intolerável sêca dos
estudos fundamentais), é certo que
em
MÚSICA298
alguns casos a dispensa desses estudos
torna-se necessária. Aventurar-se sem o
seu auxilio no caudal da produção mu-
sical contemporânea, tão refinadamente
alentada de técnica, em algumas de suas
expressões, talvez seja temerário; mas
essa própria ausência de técnica, tra-
dicional ocasionando um?, espontaneida
de cheia de imprevistos e uma agreste
originalidade, pode
muito bem vir em
auxilio do compositor, sobrepondo suas
obras, em virtude dessas qualidades no
vas, às que
no requinte da técnica, en
Demostram um certo esgotamento, uma
debilidade criadora habilmente enroti-
pada. E no caso de Brasílio Itiberê há
a considerar, como acima ficou dito, a
psicologia do autor,
quarentão, boêmio,
conhecedor refinado de tudo o que,
no
Brasil, podemos
conhecer de boa músi-
ca; submetê-lo ao regime de cantos da-
dos e contrapontos invertíveis seria as-
sassinar a sua imaginação, roubar todo
o brilho e tôda sedução à livre obra
de arte, méta exclusiva dos seus tardios
esforços.
Natural do Paraná, como toda a di-
nastia dos Itiberês, entre os quais
se
conta esse precioso João
Itiberê da
Cunha, que
assinava Iwan d'Hunnc
suas primeiras
obras musicais, e hoje é
conhecido, nos círculos de arte de todo
país, pelas
iniciais JIC,
com que
subscreve a sua secção de música no
Correio da Manhã (1),
Brasílio Itiberê
veio ao mundo em maio de 1896. A luz
suave do planalto
e o estímulo do clima
temperado, que
contribuem para
um
mais harmonioso equilíbrio da persona-
idade, formaram o ambiente de sua in-
fância e piimeiros
anos da mocidade.
Curitiba viu despontar o seu interêsse
pela música,
pelas letras e
pelo caudal
fecundo da arte e da vida do povo.
Dois músicos estrangeiros, retidos no Es-
tado pela
doçura do seu clima e de sua
gente (como aconteceu a tantos outros),
ministraram-lhe todos os conhecimentos
técnicos que
recebeu através de profes-
sores de música: um italiano, o maes-
tro Corradi, e um suíço (autor
de uma
ópera sobre o romance Inocência, do
Visconde de Taunay): Léo Kessler. Mas
o discípulo de estrangeiros, ao surgir
nos, muitos anos depois, como compo-
sitor levanta o estandarte de um con-
victo nacionalismo, sem alardes, sem cx-
clusivismos, porém simples e seguro de
seu rumo. Não fôra, certamente, 11a
escola daquêles mestres que
êle rece-
bera tão exótica iniciação, ou, sequei,
o gôsto por
essa música impura... Ou-
tios haviam sido, na verdade, seus guias.
Sei de um jovem compositor brasileiro,
autodidata como Brasílio Itiberê, porém
tendo vivido desde criança dentro da
profissão musical, e, por
isso, talvez,
dotado de espantosa habilidade, no tra
to de suas obras, que,
sempre que
in-
terrogado acêrca de seus professores de
composição, responde com a maior
fleugma: "Bach
e Beethoven"... Brasí
lio Itiberê poderia
dizer o mesmo; po-
rém acrescentando: "o
povo". Porque
realmente, ao lado do estudo dos gran-
des monumentos da música, foi nêsse
convívio íntimo com o povo que
êle
buscou tôdas as normas de sua arte.
Brasílio Itiberê nasceu folclorista. Ne-
nhum de nossos artistas tem partici-
pado mais intimamente do
que êle da
vida do povo, porque
nenhum, como
êle, tem pelo povo
tanto interêsse, tan-
ta ternura, mesmo, ou uma igual ca-
pacidade de adaptar-se e inspirar con-
fiança. Durante anos a fio, ao lado das
suas leituras e de concertos avidamente
assistidos, foi observando os folguedos e
trabalhos do povo que
Brasílio Itiberê
passou os seus melhores momentos de
lazer. E' um profundo
conhecedor das
escolas de samba do Distrito Federal e
membro destacado de várias delas. Bi-
sonho, muitas vêses, em nossa socieda-
de, êle se transforma, quando
em con-
tato com a sua gente, divertido com o
pemosticismo de uns, as
"vantagens" de
outros ou a impermeável burrice de al-
guns. Mas a todos observando com fi-
nura e, de uns anos para
cá, quando
a
sua vocação se definiu mais precisa-
mente, recolhendo cuidadosamente tôda
documen tação preciosa.
Sua primeira
obra tornada pública
foi
uma suite para piano (Invocação, Co-
ral, Dansa), premiada,
em 1936, num
concurso instituído pela
Associação dos
Artistas Brasileiros. Em germe,
encon-
tramos nessa obra todas as caracterís-
ticas de seu estilo, apuradas e robuste-
(1) João Itiberê da Cunha é autor de obras
pianísticas de ótima fatura, hoje
em dia incluídas no repertório de quasi
todos os nossos concertistas e de muitos
estrangeiros. A Marcha Humorística é, de todas, a mais divulgada.
294 CULTURA POLÍTICA
cidas nas que
se têm seguido, até à Suite
n.° 2 (O protetor Exú, Ogum, Xangô),
que o
pianista Arnaldo Estréia incluiu,
recentemente, em um de seus progra-
mas. Em 1938 uma outra obra de Bra-
sílio Itiberê era premiada
em concurso:
Ponteio p'ra
São João (canto e
piano),
-fr-ft
vencedora do concurso de canções bra
sileiras instituído pelo jornal
A Noite.
Sôbre um motivo obstinado de acom-
panhamento, só modificado 110 trecho
central da canção, quando
a veemência
expressiva chega ao auge, desenvolve-se
a linha vocal, placidamente
sincopada:
I 1 •'
J; ,1; n\
,v« « T/or*«rwN ---.po
A bagagem de Brasílio Itiberê, tôda
ela datando dêstes últimos quatro anos,
c relativamente importante e muito va-
riada. Inclue peças para piano (além
das duas suites citadas 6 Estudos e uma
Tocata), para cravo
(3 Invenções),
para
cravo e flauta (Divertimento),
música
de câmara (Trio
n.° 1, para
violino, vio-
loncelo e piano; Quarteto
n.° 1, para
cordas; Quarteto
n.° 2, para
flauta,
óboe, clarinete e fagote), canções popu-
lares harmonizadas para
canto e piano
e duas obras vocais de mais amplas di-
mensões: Praça 11 (para
coro misto, 3
pianos e instrumentos de
percussão) e
Oração da noite (para
contrai to solo e
côro misto.
Para 2 pianos
escreveu Brasílio Itibe-
rê uma peça
muito curiosa que,
aliás, a
vista das tendências expostas em todo
êsse grupo
de composições, pode
ser to-
mada como uma espécie de manifesto-
programa: Conversa de Bach e Naza-
reth. O velho João
Sebastião, dos co-
rais e do Cravo bem temperado, em
bate-bôea com o Ernesto do Turuna...
Nazareth é um dos ídolos de Brasílio
Itiberê (basta
lembrar a sua conferên-
cia para
a Associação dos Artistas Bra-
sileiros, em 1939); mas Bach também é.
E em quasi
toda a sua obra, através do
sabor acre de fruta da terra e das cruas
dissonâncias ditadas pelo
seu instinto
modernista, percebemos
a substância da
música do grande
Cantor de Sto. Tomaz,
na harmonização e na maneira de con-
duzir as vozes. Essa presença
de Bach na
obra de Brasílio Itibirê (apregoada
como
sendo do melhor nacionalismo por
Vila-
Lobos, o inventor das bachianas brasilei-
ras...), é tão evidente que
em uma de
suas Invenções para
cravo o tema, lem-
brando alguma gavota que
não figurou
no Limo de Ana Madalena:
T i H t
s
mu
transforma-se 11a seguinte variação, bem carioca:
Na verdade, começamos a pensar,
com Andrade Muricí (2), que
Bach é brasileiro..
(2) Andrade Muricí, Música brasileira moderna. Revista da Associação
Brasileira de Música, Rio de Janeiro,
1932, n.° 1, pág.
14.
Artes
plásticas
iii
CARLOS CAVALCANTI
Conservador de Museus de Arte do Ministério
da Educação e Saúde
NO
ÜLTIMO artigo desta secção ten-
tei uni trailer" do desenvolvimen-
to de nossas artes plásticas nos sé-
culos XVIII e XIX. Fixei rapidamen-
te, quasi no feitio de uma notícia de
jornal, como se deveria fazer a prepa-
ração técnica do jovem artista colonial,
cujo mais barato e constante mestre te-
ria sido a estampa religiosa italiana, a
estampa solta, autônoma, rolando sózi-
nha pelos pecados ou aplacando esses
pecados dentro dos livros de orações e
dos missais.
Pelo modo como se educavam os ar-
tistas das manhãs brasileiras, pode
ima-
ginar-se as dificuldades por êles certa-
mente experimentadas. Não deveriam
dispor de bons e numerosos instrumen-
tos técnicos, tintas, pincéis e telas, már
more e bronze, que
os ajudassem na
execução de suas obras.
As condições gerais
da época não po-
deriam permitir
rápido progresso
das
artes. As ordens religiosas pagavam
tão
mal quanto
aos govêrnos
e os partícula-
res. Valentim lamentava-se da parei-
mônia de seu garboso
vice-rei e com-
parando-se o preço
conhecido de tan-
tas obras de arte com o padrão
de vida
do tempo verifica-se que
como sempre
os artistas eram mal pagos.
Sem os pa-
trimônios que
foram humildemente
acumulando, as irmandades talvez os
contentassem concedendo-lhes lugares
importantes nas procissões e honrarias
vistosas. As deficiências de material e
de dinheiro andavam assim no -mesmo
tom para qualquer arte. Os escultores
lutavam com enormes dificuldades pa-
ra o sonho louco da fundição de seus
trabalhos. No Brasil antigo, o portu-
gues fundia era muito ouro. A eseul-
tura em madeira floresceu porque si
madeira era de dar com o pé
e não
tinha preço.
Todos sabemos as duras
provações de Valentim para
fazer correr
a liga com que
moldou as estátuas e
ornamentos do Passeio Público.
Não se serviram da pedra,
material
fundamentalmente escultórico, por
in-
capacidade técnica e taml>ém porque a
escultura que
conheciam era uma es-
cultura aceleradamente da decadência
de uma decadência. Mesmo depois da
chegada de Dom João
VI, a situação
não se modificou em linhas gerais. Os
artistas franceses reclamavam a falta
de material, necessitando mandar bus-
cá-Io na Europa, com a enervante
demora dos navios. Pradier, para
ir em-
bora, naturalmente arrependido de ter
vindo, apresentou a razão, por
tôdas
aceita apesar da existência da Impren-
sa Régia. de não dispor o Rio dos ele-
mentos necessários à execução de suas
gravuras. E Grandjean de Montigny viu
impraticáveis seus belos e ardentes pro-
jetos, em face da
poupança do govêr-
no e dos particulares. Tôdas essas cir-
296 CULTURA POLÍTICA
cunstâncias precisam ser consideradas
para a
justa compreensão do desdobra-
mento de nossas artes naquêles tempos.
Quanta coisa seria explicada se
pudes-
semos conhecer exatamente os proces-
sos técnicos utilizados pelos nossos
pri-
meiros artistas, o trabalho do pintor,
do
escultor e do dourador, do encarnador
e do ornamentista.
O sentido meramente cronológico e
episódico com que
muitas pessoas
orientam seu interêsse pela história de
nossas artes faz com que
se estude e
exemplifique apenas o aspecto pitores-
co da obra de arte, isto é, o que
ela
comporta como geografia,
como senti-
mental, como história, em suma, ex-
clusivamente como assunto. Relega-se
para segundo plano
sua estrutura téc-
nica, seu conteúdo eminentemente piás-
tico, a pintura,
a escultura e a arqui-
tetura consideradas em si mesmas, ex-
primindo-se com os meios
próprios de
expressão.
O mal de origem de nossa historio-
grafia de arte e seus resultüilcs até ago-
ra tão precários para
a compreensão de
nossa evolução é sem dúvida êsse cará-
ter simplesmente literário, sua ausên-
cia de sentido sociológico e sua subes-
timação do que
na obra de arte repre-
sentam os elementos plásticos
e técni-
cos, independentes do assunto. Com es-
sa coisa tão excessivamente pouco
lite-
rária que
é pintura
se faz no Brasil
muita literatura, uma cerebriníssima li-
teratura, metafísica pura para
um le-
gítimo pintor que vê e ama êste
gran-
de mundo de Deus apenas na melodio-
sa simplicidade dos fenômenos cromá-
ticos e lineares. Atente-se, por
exem-
pio, na abundante bibliografia do Al ei-
jadinho, quasi tôda
puramente históri-
ca, sem tentativas sérias de interpreta
ção crítica, com a análise dos elemen-
tos constitutivos de sua plástica.
Em
virtude disso, sabemos hoje muita coi-
sa do grande
estatuário, mas ainda
ignoramos o essencial — somos incapa-
zes de situar-lhe o estilo. Alguns exe-
getas de Portinari —
apenas côr, forma
e linha — desconhecem-lhe talvez quais
as cores da paleta.
Descobrem-lhe, por
outro lado, tão transcendentes intenções
que o devem assustar, na candura do
mundo colorido em que
de olhos aber-
tos mergulhou para
o resto da vida.
A obra dos pintores
visceralmente
plásticos não se
pode conciliar com a
interpretação literária. Um quadro
de
Cézanne, eis um plástico,
é a coisa me-
nos suscetível de apreciações li terá-
rias, porque
se resume em cores, com
exclusão radical de qualquer
intenção
anedótica. O assunto na sua obra é as-
sim o mais insignificante, pretexto ape-
nas para
a solução de problemas,
crea-
ções novas nos domínios da
plástica.
Conta-se, aliás, que
êsse extraordinário
homem depois de apreciar longamente
um quadro
de Rubens não conseguia,
dias passados,
identificá-lo pelo assun-
to, mas tão sómente pelos
tons domi-
nantes, a disposição e as relações das
massas coloridas nas suas maravilhosas
e indizíveis harmonias.
Não me posso
furtar à gana
de trans-
crever, nesta altura, algumas palavras
justíssimas de Paul Signac, a
propósito
dêsse verdadeiro truismo que
é o ane-
dótico e o estético na obra de arte.
Escreveu êle que
o assunto anedótico
como fator de emoção não age senão
sôbre os incapazes de emoção estéti-
ca. Quanto
menos o observador é sen-
sivel à emoção estética ou técnica, mais
se sensibiliza com o assunto. Aquêlcs
que se arrepiam diante do sorriso da
Gioconda, que
ouvem o badalar dos si-
nos no Angelus, ou o ruído do vento e
do mar diante das marinhas de Claude
Monet, formam outra categoria, tam-
bém deploravelmente insensível às har-
monias das linhas e das cores. Uma
classe de outras vítimas é constituída
daquêles que querem
ver uma porção
de coisas nas quais
o pintor
absoluta-
mente não pensou:
humanidade, sen-
sualidade, ternura etc. Os mais cultos
se deixam cair nêsses disparates. Quan-
do em 1896, Georges Seurat expôs sua
téla-manifesto: Un dimanche à la Grau-
ae Jatte, as duas escolas literárias que
então reinavam, naturalistas e simbo-
listas, julgaram-na
segundo suas ten-
dências. Huysmans, Paul Alexis, Ro-
beit Caze viram a ociosidade domini-
cal de gente
simples, aprendizes, mu-
lheres catando aventuras pelas
ruas, en-
quanto que Paul Adam admirava na
rigidez dos personagens
cortejos faraó-
nicos e o helenista Moreas via procis-
sões panateanas.
Ora — conclue Paul
Signac — Seurat procurára
apenas uma
composição clara e alegre, num jôgo
ARTES PLÁSTICAS297
equilibrado de verticais e horizontais,
uma dominante de tintas quentes e de
tons claros, com branco, o mais lumi-
noso, ao centro.
Compreende-se pois a importância
que a análise da estrutura
plástica re-
presenta para a explicação da obra de
arte, o estudo do trabalho de creação
técnica do pintor ou do escultor ou do
arquiteto, a maneira por que êles se
utilizam dos recursos próprios de sua
arte.
Êsse estudo impõe-se irrecorrivelmen-
te com a ciência de que
só os especia
listas são capazes, em todo o desenvol-
ver de nossas artes. Por isso mesmo,
pelo critério de competência
que ele
exige, não tenho a intenção de fazê-lo.
mas apenas de encarecê-lo, com a co-
operação de desvalioso subsídio, cons-
fante de algumas receitas usadas pelos
pintores, douradores e ornamentistas
portugueses dos
princípios do XVII e
fins do XVIII séculos. Essas receitas
foram extraídas de um tratado de pin-
tura amplamente divulgado em Por tu-
gal e. ao que
se pode
licitamente pre-
sumir, também em nosso país.
Não
me parece um destempero
julgá-lo uti-
lizado pelos
nossos coloniais. Trata-se
da "Arte
Poética e da Pintura e Si me-
tria com princípios
de Perspectiva com-
posta por Philipe Nunes natural de
Villa Real". Êsse livro foi editado em
Lisboa em 1615, com a primeira parte
consagrada à poética
e a segunda tra-
tando de problemas
técnicos de pintura
e de desenho. Seu autor foi um nome
no tempo, no dizer de Taborda. Mas,
suas receitas poéticas parece
não alcan-
çaram o mesmo êxito das pintóricas,
porque vamos encontrar em 1767, mais
de século e meio depois, estas últimas
reeditadas, num pequeno
e módico vo-
lume, tipo de edição popular.
Deve
concluir-se, assim, de sua valia para
o
aprendizado e uso nos atelieres da épo-
ca. Na verdade, o livro é um perfeito
manual, sumamente prático
e instruti-
vo, desvendando os segredos técnicos, de
preparação de télas, tintas, que
os mes-
tres relutavam em transmitir honesta-
mente aos discípulos. Aliás êsse foi o
propósito mesmo de Philipe Nunes que
o confessa no prefácio,
intitulado Pró-
logo aos Pintores.
Depois de fazer o louvor da pintura
e ministrar regras práticas
de perspec-
tiva e proporções humanas, entra no
vasto receituárío que oferece de
pre-
paração de télas, panos, madeiras e vi-
dro para pintura, de tintas
para os que
saibam "lavrar"
a fresco, a óleo, à têm-
pera, em iluminura, para
os dourado-
res em páo,
como em couro e em pedra.
Assim, logo de início, êle nos infor-
ma os "nomes
das tintas que
se lavrâo
a oleo: Alvavade, Vermelhão, Verdete,
Zarquão, Sinopera, Oenolim, ou, como
outros dizem. Machim, Masicote, Som-
bra de Cintra, ou de osso Queimado,
Cinzas, Ocre Claro. Esmalte, Ocre Es-
curo, Lacra, Cochonilha, Preto de Elan-
des, ou Carmin, Verdacho. Terra Roxa,
Almagra, Jalde.
Todas estas se móem
nas pedras,
salvo os Azuis, que
são dei-
gados, que na paleta com o oleo se
concertão. Depois de moidas, para
es-
tarem frescas, para
em todo tempo se
lavrarem, se porão
na agoa em suas
vieiras cobertas com papel a Alvayade,
Zarquão, Masicote, Vermelhão, as ou-
tras se cobrirão muito bem porque
nSo
lhes entre pó".
Senhor dos segrêdos da cozinha pin-
tórica de seus contemporâneos, ensina
nos em seguida o "Modo
para appare-
lhar panno,
e madeira para a
pintura;
de usar Jalde a oleo; o Alvayade e Cin-
zas; de fazer Verdes; "as
mesclas de cô-
res como se fazem"; "como
se faz poli-
mento"; "o
azul ultramarino como se
lavrar (como
he tão caro, não se usa
muito, e portanto
não se sabe o uso
delle tão facilmente)"; modo de fazer
"cambiantes" e
já agora, entre tantas
outras, que
seria longo enumerar, uma
receita para
fazer boas sombras nos ros-
tos. E* assim; "Osso
queimado e moido
com agoa, e depois de secco moido a
oleo he sombra para
os rostos mimo-
sos. Também para
rostos mimosos se
faz sombras com Cinzas, e a mesma en-
carnação. Também se faz outra sombra
com Ocre Claro e Preto de Flandes.
Também Verdacho faz muito boa som-
bra. Para os rostos rústicos Sombra de
Cintra com a EncarnaçSo, que já
fica
dita acima. Também o preto
lápis com
a Encarnação faz uma sombra graciosa
para os rostos mimosos".
Voltamos a página
e encontramos:
"Como se faz mordente
para dourar**;
"modo de
perfilar", onde se lê
que:"para
fazer hum veo branco, que
cubra
cabellos, ou que quizerem,
depois da fi-
298 CULTURA POLÍTICA
gura enxuta a banhai com oleo. e alim-
pai brandamente, depois ide
perfilando
o veo com branco, e com hum pincel
ide sol vendo, e aonde for necessário re-
tocar com mais branco, se pode
retocar".
Depois de minuciosas explicações sô-
bre pintura
à têmpera, a fresco e ilu-
min ura, modos de obter efeitos de pers-
pectiva aérea, de copiar urna cidade.
Philipe Nunes passa
a dar noções sobre
composição dos quadros
à maneira de
trípticos, reminicência flamenga: de
pintar bandejas á moda China e cie uti-
lizar o nanquin.
Algumas receitas revelam, entretan-
to, aspectos curiosos. Mostram que
muitos cores minerais vinham, como se
sabe. em estado bruto — aos torrões,
em pedras, que
se "móem,
lavão e apu-
rão. em agoa de gomma sem mais
pu-
rificacão, ou, em huma pouca
de agoa,
com hum dedo de mel, pouca
cousa
ou açúcar cándi". Outras manifestam
influência da magia dos alquimistas. O
preparo é
quasi cabalístico:
"O Machim
te-lo-hão primeiro
de molho em ouri-
na de moço virgem, ou çuino de lima.
e com elle o moerão em lugar de agoa.
e com sromma se fará".
Através de outras receitas ainda, ve-
mos como se introduziram na química
dos atelieres portugueses e, forçosamen-
te, dos nossos, corantes vegetais brasi-
leiros. Vejam como se obtém a "côr
Roseta": "Tomem
páo do Brasil, e ras-
pado com hum vidro, tomarão as ras-
pas e bóta-las-hão em huma
panella vi-
drada, e a huma onça de Brasil botarão
seis de vinho branco, e esteja assim de
molho vinte e quatro
horas, o logo se
porá ao fogo, e ferverá até
que mingue
a terça parte,
e tirar-se-ha logo fóra a
panella, lancem-lhe meya onça de
pe-
dra hume moida, e para
se affinar mais
lancem-lhe meya onça de cal virgem, ou
graã em
grão, e meva onça de
gomma
Arabica, e depois de coada se pôde
usar".
Na mesma página,
outra receita, la-
conicamente intitulada "Brasil":
— "To-
marão páo
do Brasil que
seja doce na
lingoa, e fa-lo-hão em rachas miúdas,
e botar-lhe-hão agoa em quantidade
que fique tres dedos coberto o
páo, e
estará assim de molho hum dia, e huma
noite, e depois ferverá até que gaste
quase metade, e depois de frio lancem
o páo
a huma parte, que
fique a agoa
só, na qual
botarão huma pequena
de gomma
Arabica, e esteja assim até
que a
gomma se derreta, mexendo-a,
cada dia, duas. ou tres vezes, e como
for derretida, ponha-se
outras vez em
fo^o brando, e em começando de fer-»
ver lhe botem pedra
hume bem pizada,
pouca, e
pouca, até
que faça a agoa
muito vermelha, e quando
estiver (pro-
vando-a na unha) em côr de carmesin,
botem-lhe huma pequena
de pimenta
machucada, e como ferver tire-se do
ío^o e coe-se. e guarde-se em hum vi-
dro e use-se".
Estas algumas das lições do bom Phi-
lipe as quais
como já
disse presumo
te-
níiam também servido aos nossos pinto-
res, aos nossos douradores de altar,
ornamentistas, encarnadores e mais artis-
tas. Numas receitas manuscritas, que
se
me afiguram à primeira
vista do século
XVIII, topei com fórmulas de Philipe
Nunes ligeiramente alteradas. E' pois
mais um indício a que
se acrescenta a
multiplicidade de exemplares do Tra-
tado de Pintura existentes ainda em
nosso país.
Só na Biblioteca Nacional
se encontram, salvo erro. cinco. E para
terminar, quero
fazê-lo como Philipe
no seu Prólogo aos Pintores: —
"Emen-
de, e acrescente quem
souber, e apren-
da quem
não souber, e todos dem gló-
ria ao Senhor. Qui
vivit, & regnat per
omnia saecula saeculorum".
Te atro
iii
R. MAGALHÃES JÚNIOR
RENE'
Rocher, antigo diretor do tea
tro Vieux Colombier, da capital
francesa, ao embarcar, há meses, no
Rio, de regresso à Europa, levou sob o
braço os originais de algumas peças
de
autores brasileiros, prometendo
solene-
mente representá-las (êle
é também
ator) em Paris, com sua companhia, a
mesma que
o nosso público
várias vê-
zes aplaudiu no Teatro Municipal. Êsse
gesto espontâneo de René Rocher
possi-
velmente será adiado até que
a paz
volte
a reinar na conturbada Europa, mesmo
porque de nada adiantaria aos seus au-
tores que
essas peças
subissem agora à
cena, dado o ambiente de nervosismo
atual, com todas as atenções voltadas
unicamente para
a guerra.
Pode mesmo
ser esquecido, com o correr do tempo,
pois não se
pode alimentar maiores ilu-
sões quanto
ao interêsse de um grande
centro cosmopolita, como Paris, por
um
teatro como o nosso, cujas expressões
mais significativas destes últimos tem-
pos têm sido
justamente as
peças de
sabor mais particularmente
local, vin-
culadas a episódios ou alusões à nossa
história, que por
serem ali desconheci-
dos pouco
ou nenhum interêsse pode-
riam despertar.
A promessa
de René Rocher me fez
lembrar, por
natural associação de
idéias, a figura de um dos nossos mais
interessantes dramaturgos, cujo nome,
porém, está caindo em lamentável e in-
justo esquecimento. Aludo a Roberto
Gomes, que
também um dia viu André
Brulé embarcar para
a França com có-
pias de suas
peças, depois de haver
pro-
metido solenemente ao autor o mais
forte empenho no sentido de as fazer
representar em Paris. A imprensa da
época registrou também em têrmos en-
tusiásticos a iniciativa que
exprimiria
a gratidão
de André Brulé aos círculos
intelectuais brasileiros bem como ao pú-
blico do Rio pelo
caloroso acolhimento
que sempre tivera entre nós. À distân-
cia. porém, premido por
outras solici-
tações, por
empenhos de autores presti-
giosos, André Brule ia encenando as
obras de Roger Ferdinand, de Jacques
Nathanson. Pierre Mortier ou Jager-
Schmidt, sem dispensar maior interêsse
à promessa que
fizera ao autor brasi-
leiro. Por vezes, quando
Roberto Go-
mes lhe escrevia algumas linhas, no seu
excelente francês, perfeito
como o de
um parisiense, perguntando-lhe
se tinha
ainda a intenção de cumprir a palavra
empenhada. André Brulé mandava-lhe
um bilhete cordialíssimo, na sua letra
larga e garranchenta,
dizendo maravilhas
do autor e da peca,
mas que
ainda não
surgira a oportunidade própria.
Ro-
berto Gomes que
esperasse, pois,
sur-
gindo essa oportunidade, iria a
peça
à cena...
Acontece que
a peça
em questão,
Ao
decimar tio clia, premiada
em segundo
lugar no concurso de teatro brasileiro
que a Prefeitura do Distrito Federal
realizára logo após haver sido construí-
do o Teatro Municipal, havia sido dada
300 CULTURA POLÍTICA
em nosso idioma nesse ano (1909) e, al-
gnm tempo depois representada, em
francês, na mesma casa, pela
companhia
de André Brulé. Êsse ilustre ator não
só prometera
a Roberto Gomes repre-
sentar em Paris Ao declinar do dia,
como ainda a vigorosa obra dramática
Berenice, que
o próprio
autor vertera
para a língua em
que o
gênio de Mo-
liére se exprimiu.
Tudo isso aconteceu há pouco
mais
de vinte anos. A Europa estava em
condições normais e. nem assim, as
peças de
"Roberto
Gomes foram repre-
sentadas. Não que
lhe faltasse mérito
como autor dramático. Êsse mérito, bas-
ta para
comprová-lo a circunstância de
haver Roberto Gomes levantado, por
duas vezes seguidas, o prêmio
munici-
pai de teatro, a
primeira vez com a
peça acima mencionada e a segunda, em
1910, com o romance lírico Canto sem
palavras. Escrevendo nos lazeres
que
lhe dava a sua atividade de professor
de francês do Instituto Benjamin Cons-
tant (depois foi promovido
a inspetor
escolar), Roberto Gomes era um entu
siasta da literatura dramática francesa
e suas peças
eram escritas, com uma
nota pessoal
de originalidade, sem dú-
vida, mas dentro dos moldes das peças
do teatro parisiense
da época. Henry
Bataille o influenciou profundamente.
Canto sem palavras
é positivamente
in-
fluenciado pelo
romantismo de Bataille
de Songe d'un soir d'amour, o Bataille
poeta. Berenice
já trás o entono do Ba-
taille de La marche nupciale e de La
femme nue. Nessa época, Bataille ainda
não havia passado,
como hoje. Con-
quanto tivesse escrito ainda várias ou
tras obras, — Sonho de uma noite de
luar (até o título é uma
pura evocação
da peça
de Bataille que já
lhe sugerira
o Canto sem palavras,
e Inocência, era
Berenice a obra preferida
de Roberto
Gomes. O escritor chegou mesmo a vi-
ver o trágico epílogo dessa obra quando,
minado por
enfermidade incurável, for
çado a aposentar-se na função
pública
que exercia, neurastenizado
pelo isola-
mento e pela
inatividade forçada, — êle
que fôra um homem de salão, um
"cau-
seur" fascinante, um espírito mundano
por excelência, — resolveu despedir-se
pateticamente do teatro da vida. Como
a protagonista
da sua peça,
a torturada
Berenice, Roberto Gomes encerrou o úl-
ti mo ato da existência com um tiro no
peito.
"Morrer! Como esta idéia me
persegue e atormenta!" Podia-se dizer
que era o
próprio dramaturgo quem
fa-
lava, nêsse momento do IV ato de Be-
renice, pela
bôca da protagonista,
uma
mulher que
começára irremediavelmente
a envelhecer...
Escritor teatral por
excelência, por
vocação, não tendo feito outra espécie
de literatura. Roberto Gomes teve seu
nome lembrado pela
última vez no car-
taz dos nossos teatros quando Jaime
Costa, em 1932, realizou no João
Cae*.a-
no uma temporada oficial brasileira. A
peça de maior êxito dessa temporada
foi Berenice, cujo papel
central foi vi-
vido pela atriz Iracema de Alencar.
Obra de fôlego, tendo vinte e dois per
sonagens, além de alguns figurantes,
Berenice, só por
isso, talvez não seja
mais freqüentemente representada nos
nossos teatros e pelas
companhias em
excursão. Canto sem palavras
fez parte
também do repertório de Jaime
Costa.
Mas uma dessas superstições tão pe
culiares aos meios artísticos condenou
irremissivelmente o belo trabalho. Di-
zia-se que
a peça
dava azar e que
su-
cediam coisas desagradáveis nos dias em
que a representavam. Aqui, rebentava
uma desordem e, em face do pânico,
os espetáculos tinham de ser suspensos.
Ali, registrava-se um incidente entre a
companhia e os estudantes. Além, ou-
tia coisa qualquer.
Por exemplo: a em-
briaguês do maquinista, que
acabava
não montando o cenário do espetáculo,
ou a indisposição de um ator, prejudi-
cando a representação. Juntou-se
a isso
mais um detalhe: alguns atores assegu-
iam haver visto um desconhecido, de
rosa ao peito, passeando
nos bastidores
do teatro, durante a representação. Era
assim, de rosa ao peito, que
andava
sempre Roberto Gomes, nos salões, co-
mo nos teatros e concêrtos, pois
seu
labor jornalístico
se dividia entre a crô-
nica elegante, a crítica de teatro e a
crítica musical.
Aos poucos,
vai-se apagando o nome
de Roberto Gomes, que
escolheu o dia
31 de dezembro de 1922
para desertar
da vida e da sua enfermidade incurável.
E' pena que
tal suceda, pois
Roberto
Gomes foi e é uma das expressões mais
legítimas das nossas letras teatrais. Pa-
rece-me justo
sugerir, por
isso mesmo,
TEATRO 301
que na coleção de teatro das edições
oficiais do Ministério da Educação e
Saúde Pública, de que por
enquanto sai-
ram apenas dois volumes, não se co-
nhecendo o que
está programado a se-
guir ou se a série será suprimida de
vez, sejam reeditadas as principais
obras
de Roberto Gomes, Berenice e Canto
sem palavras.
Do mesmo modo, seria
interessante, afim de não deixar que
a
obra desse talentoso dramaturgo caia
no olvido, fazer o Curso Prático de Tea-
tro as provas
anuais com uma dessas
obras. Roberto Gomes desprezou tudo
pelo teatro. Não se
pode compreendei
que o teatro o despreze e esqueça,
que
repudie a sua memória e a sua obra,
lançando ainda sôbre ela o estigma das
abusões mais ridículas.
Eis aonde nos pode
conduzir o giio
do pensamento,
como diria Machado de
Assis, que quis
fazer teatro e nisso fa-
lhou inteiramente, embora triunfante
no conto e no romance de "humor*.
De René Rocher fomos a André Brulé.
De Brulé a Roberto Gomes e, agora,
como se estivessemos fazendo uma
"round-trip", voltemos novamente ao
ponto inicial, ou seja, às
peças brasi-
leiras em francês. Não há dúvida que
o sistema Roberto Gomes-Brulé é o
que está mais
próximo da viabilidade.
Se as companhias francesas representa-
rem peças
brasileiras nas suas tempo-
radas no Municipal, — ao menos uma
em cada "saison",
— e se essas peças
agradarem, não só ao público
como
aos atores que
as criarem, é bem pos-
sfvel que,
em ocasião propícia,
numa
"tournée" de emergência ou em caso
de carência de originais franceses, con-
quistem os nossos autores,
por fim, a
excelente oportunidade para
valorizar o
seu nome através de um cartaz em Pa-
ris. Até lá, é necessário que
não haja
mais guerra
e, em lugar desta, surja a
bôa vontade do nosso prefeito,
no senti-
do de determinar essa exigência, em ca-
lá ter irrevogável, como condição básica
para a realização das temporadas fran-
cesas tão generosamente
subvencionadas
pelo povo, através do seu.govêrno, e
pe-
Ias elites, através da bilheteria...
Cinema
III
LÚCIO CARDOSO
Outro
assunto de grande
impor-
tância e também atualmente
bastante discutido em nossos jor-
nais e revistas literárias é o que pren-
de a literatura diretamente ao cinema.
Já Erico Veríssimo,
que como todos
sabem ocupa lugar de tão gran-
de destaque em nossa literatura moder
na. declarou em Nova York que
o ro-
mance brasileiro está abandonando a
sua subserviência ao romance europeu e
voltando-se para
o americano. Palavras
que não são inteiramente destituídas de
sentido, pois
é sabido também que
Erico Veríssimo orienta toda uma cor-
rente da nossa literatura.
Ora, nada existe de mais estupenda-
mente falso do que
essa literatura que
os americanos crearam à margem do ci-
nema. Ainda nêste momento, vamos en-
contrar num jornal qualquer
um ar-
tigo sobre o momentoso assunto, e em
que alude o articulista à esplêndida
harmonia reinante nos dois arraiais,
se assim se pode
dizer. Até há pou-
co, segundo o mesmo, ou até antes
de Sem novidade no front, ainda não
tínhamos assistido à realização perfei-
ta dêsse "casamento".
Decerto, para
quem o assina, e como êle
próprio se
incumbe de avisar no princípio do ar-
tigo, literatura é só esta que
vem das
trincheiias molhadas de sangue, que
mostra os grandes anceios da humani-
dade, coletividade e todas essas babozei-
ras que
estavam em moda há dez anos
passados. O caso é que
tínhamos as
sisudo antes vários filmes adaptados de
obras famosas. Os franceses, entre ou-
tros muitos haviam tentado Salamm-
bô, Ana Karenina já
fôra vista várias
vezes, Os Miseráveis já
era um assunto
ultra batido, Notre Dame de Paris que
fizera a fama de Lon Chaney. O homem
que ri, até mesmo o Hamlet de Sha-
kespeare e a Tragédia Americana de
Dreiser.
E tinham sido filmes que
haviam ren-
dido milhões, já que,
segundo aquêlc
articulista, é o dinheiro o fim a visar
em qualquer
dos dois campos. Mas, que
sucedeu depois do ultra-medíocre ro
mance de Remarque? Apenas isto: uma
literatura inteira nasceu à sombra des-
sa adaptação famosa. Já
não precisava
o cinema afrontar a poeira
inútil das
bibliotecas. Toda uma valente equipe
(íe escritores disponíveis se encarrega-
ria de crear essa literatura dos "best-
sei ler", dos milhões de exemplares, que
teriam o destino de acompanhar os fil-
mes como os programas nas mãos dos
espectadores ou o "chiclet"
das moci-
nhas enjoadas. E tivemos então Rebe-
ca, Kitty Foyle, Tudo isto, e o céo
também c tudo o mais que poderiam
produzir escritores da classe dos IJpton
Sinclair, dos Sinclair Lewis, James
Hil-
ton, Steimbeck e não sei que
mais. Não
foi o cinema que
se casou com a lite-
ratura. Foi a literatura que
se escravi
sou ao cinema. O que
assistimos agora
é o soberbo espetáculo dessa degrada-
câo, na produção
ininterrupta dos "best
CINEMA303
seller" que
descem como cachoeiras dos
Estados Lnidos.. . I odos cies já
veem
de antemão com o sucesso garantido,
bem como a fortuna do autor, é claro.
Como há de resistir o triste literato na-
cional ao esmagador desfile dêsses mi
Ihões que
se sucedem aos seus olhos atò-
nitos? O único meio de atingir essa
faustosa perspectiva, é
passar com ar-
mas e bagagens para
o lado dessa nova
literatura. Lancemos o grito de inde-
pendência, creemos a nossa literatura ci-
nematográfica. Façamos de conta que
os Estados Unidos descobriram uma no-
va literatura. Inventemos essas histó-
rias de meninos perdidos que
o cinema
russo popularizou num filme suspeito,
retratemos com cores negras o destino
dêsses garotos abandonados às forças do
crime pela
incúria da sociedade, pinte
mos com amoroso delírio as multidões
famintas, os pés
inchados, a escraviza-
cão das fábricas, o triunfo dos senhores
ricos e cruéis que
deshonram tímidas
operárias...
Teremos conseguido então um resul-
tado quasi
sobrenatural: estaremos fren
te a frente com uma literatura nula.
sem fundo real, sem destino, que
nada
significa, pois
nada traduz — e o
que
é pior, a
que falta o veículo
para que
foi destinada: o cinema. Pois não te
mos ainda cinema e Hollywood não se
preocupa com os escritores do Brasil,
que entretanto teimam em caprichar
nos temas que
rendem milhões. Os nos-
sos "best-sellers"
apresentam resultados
desoladores. Ou si acaso rendem algu-
mas dezenas de contos, permanecem co-
mo coisas estranhas, inacabadas, trunca
das por
um destino maléfico. Como estão
longe dos rumorosos sucessos de Ernesi
Hemingwy!... Começamos agora a pre-
senciar a "blitzkrieg"
dos escritores na-
ctonais contra o cinema americano Hol-
lywood é o pôrto
mais próximo
a que
se
destinam. Mas si bem que lutem furio-X
samente por
uma clareira, uma nesga
onde possam
introduzir a imortal obra
indígena, nada conseguem, tudo perma-
nece em silêncio. O espírito de Deus
ainda não reina sobre as águas.
*• * #
C)ue me perdoem essa revolta inútil.
Mas diante de escritores que
ousam le-
vantar cifras como documento de valor
literário, como não ferir logo a origem
do mal, como não atacar esse cinema
cuja fôrça é bastante para
corromper
o destino de uma literatura inteira? O
nosso dever é não voltar os olhos para
essa arte standartizada, não nos preo-
cupar com os problemas
dessa literatura
artificial. Pois na medida que
nos afas-
tarmos da experiência ganha pela
lite
ratura européia, estaremos apenas crian-
do uma coisa subalterna, uma coisa sem
nome, sem expressão, sem vida, sem
autonomia*, sem grandeza, sem nada. O
dia em que perdermos de vista Sha-
kespeare ou Tolstoi ou Sthendal ou
Balzac ou George Meredith, estaremos
caminhando para a ruína. Como os ho-
mens a quem
um assassinato coloca
fora da lei. estaremos fora da literatura,
como tão bem disse um dos nossos mais
conhecidos críticos, a respeito de uma
obra qualquer
da nossa literatura, gê
nero "best-seller".
Em vez de tantos
dramas vasios de sentido, em vez de
tantas histórias calcadas, na remissão de
dores que
existirão eternamente sôbre
a terra, cuidemos de coisas mais pró-
ximas e mais reais. Porque, este sim.
é o verdadeiro realismo. O resto é
ficção, e o que
é pior,
do mais desen •
cantado romantismo.
Aliás, para
cinema, não precisamos
de recorrer a nenhum argumento espe-
ciai. Temos obras que garantiriam fil-
mes de sucesso e autores que poderiam
escrever autênticos cenários.
Rádio
iii
MARTINS CASTELO
NÃO
teem sido poucos
os esforços dis-
pendidos, nos últimos anos, com o
propósito de melhorar a
produ-
ção literária radiofônica. As normas es-
tabelecidas para a música em 1928, no
Congresso de Goettingen, tornaram-se
extensivas à literatura — ação claramen-
te exposta e forma concisa. E devem
ser observadas ainda, como regras fun-
damentais, a conveniência do número
restrito de personagens,
a necessidade de
uma situação dramática e a fiel suges-
tão do ambiente. São estas, aliás, as
características do verdadeiro rádio^tea-
tro (1).
O gênero
reclama uma técni-
ca própria para
a "produção"
e para
a "interpretação",
exigindo uma colabo-
ração estreita do autor, dos artistas e
do "metteur
en ondes". Uma cena não
basta. E* preciso,
às vêzes, todo um gru-
po de estúdios
para a transmissão de
uma peça.
Existem traços particulares que
dis-
tinguem a "peça
radiofônica" da "peça
teatral". Aí estão a possibilidade
de mu-
dança rápida das cenas, a supressão da
distância, a "montagem"
dos elementos
— palavras,
música, ruídos — e o "dé-
cor" acústico, enfim toda a gama
de
nuanças e de efeitos sonoros. E duas
modalidades se prestam
admira velmen-
tc ao teatro do espaço — o tema atual,
tomado à vida quotidiana
e apresenta-
do de uma maneira realista, e a peça
especulativa ou mística, dominada pelo
fantástico e pelo
irreal. Mas, como pon-
to nevrálgico do problema,
há um obs-
táculo que
vem impedindo o progresso
do rádio-teatro. No "broadcasting",
um
drama é irradiado oito ou dez vêzes no
máximo, enquanto no palco
uma obra
de sucesso pode
ter quinhentas
ou seis-
centas representações. Com o objetivo
de remediar essa situação desfavorável
aos autores que escrevem
para o micro-
fone, a "Union
Internationale De Ra-
diodiffusion" facilita, o mais possível,
a
permuta de
peças radiofônicas, assina-
lando aos seus membros todas as pro-
duçôes de êxito, com indicações do as-
sunto, particularidades
técnicas e tradu-
cões existentes. Basta dizermos que.
em
c inco anos, aquêle organismo genebrino
distribuiu às emissoras dos quatro
can-
tos do mundo listas sinóticas de três
mil novecentos e vinte e sete rádio-
dramas (2).
A questão
econômica arrefece, porém,
o entusiasmo dos rádios-autores. E caí-
mos no regime das dramatizações de ro-
mances ou das adaptações de peças
tea-
trais, como se já
não devesse pertencer
inteiramente ao passado
aquela primei-
ra experiência de R. E. Jeffrey,
feita
em Abordaen, na Escócia, a 6 de Outu-
bro de 1923, com uma das obras de
(1) CHARLES LARRONDE — Theâtre Invisible — Paris. 1938.
(2) Problèmas De La Radiodiffusion — Publicação da
"Union Internatio-
nale De. Radiodiffusion" — Genebra, 1930.
RADIO 305
Walter Scott. Porque a verdade é que
•cada arte
possue a sua
"substância", in-
capaz de se transferir, sem prejuízos
e
deformações, a uma outra arte. Temos
inúmeros exemplos de peças
vitoriosas
no palco que,
levadas para
o microfo-
ne, constituem fracassos indiscutíveis.
O seu enrêdo, as suas situações, os seus
diálogos estão longe de ser "radiofôni-
cos", fugindo à "definição
auditiva" do
rádio-teatro, que
apenas sob um ponto
de vista físico e unidimensional.
Vale a pena,
a esta altura, abrirmos
um parêntesis para
uma questão
inte-
ressante, proposta,
há tempos, em um
livro de Rudolf Arnheim (3).
O aper-
feiçoamento da televisão terá, como uma
de suas conseqüências, a morte do atual
rádio-teatro? O conhecido técnico ger-
mânico acha que
o "broadscating"
e
o cinema caminham para
uma fusão.
E fala em um futuro "rádio-filme",
que
•serviria, pela
descoberta de John
L.
Baird, às salas dos cinemas, transforma-
das em receptoras de rádio-filme tele-
visado. Esta opinião não é, entretanto,
aceita por várias autoridades na maté-
ria, inclusive Enrico Rocca (4). O au-
tor de "Panorama
Dell'Ar te Radiofôni-
•ca" põe
em dúvida essa fusão total e
deixa de admitir a absorpção de uma
"arte autônoma" pela
simples aquisição
•de um melhoramento técnico. Concor-
da a tese de que,
certamente, o espe-
táculo radiofônico se modificará com a
televisão, mas observando que não
po-
demos antecipar em que
sentido e como
será levada a efeito essa alteraçao. E
parece-nos razoável esta
prudência, mui-
to mais de acôrdo com o espirito artís-
tico do "broadcasting"
do que
a hipó-
tese simplificadora do especialista ale-
mão, que
é a pura
submissão da arte
à técnica.
A derradeira afirmativa sôbre o as-
sunto pertence ao futuro. E, enquanto
os debates permanecem no terreno in-
seguro dos prognósticos,
o rádio-teatro
vai procurando
fortalecer-se em face do
cinema e da televisão, com o apareci-
mento de novos gêneros. Kurt Paqué
defende o princípio
de que,
se no ci-
nema sonoro a imagem não perdeu
o
:seu prestígio
completando-se com a pa-
lavra, a palavra
deve, 110 rádio, pro-
curar o complemento da imagem, sem
prejuízo de sua hegemonia
(5). O
"Horspiel" apresenta-se, nêste caso, co-
mo o "rádio-drama,
ideal" dos dias que
correm. E' mais ou menos uma efeti-
vação daquêle "television
panei", pre-
conizado, em 1930, por
Lane Sieveking
(6), à margem das realizações da
"Oes-
terreichische Rádio-Verkehrs A. G.".
De fato, nenhuma emprêsa de "broad-
casting" do mundo fez tanto, a favor da
criação de uma "cena
do rádio", como
aquela organização da antiga Áustria,
que apresentou três formas diferentes
de peças para
o microfone. A primei-
ra, denominada "Horspiel"
e a que
há
pouco nos referimos, é um
jôgo radio-
tônico em que
aí palavras predominam
sôbre a música e os ruídos, compreen-
dendo dramas inteiros. Vem, depois, a
"Hoerfolge",
que, um
pouco aparenta-
da à reportagem, consiste em variações
em tôrno de um grande
tema, apresen-
tando, dentro de uma expressão poé-
tica e musical, as curiosidades e os pro-
blemas de um país.
E temos, finalmen-
te, o "Querschintt",
uma espécie de di-
vagação através de um determinado as-
sunto, misto de verso e de prosa,
com
equilíbrio dos efeitos sonoros.
No Brasil, andámos, durante muito
tempo, completamente alheios às con-
quistas do rádio-teatro. Deixámos de
tomar conhecimento até dêsse popula-
ríssimo "So
and So" dos inglêses, que,
transmitido a uma hora fixa e composto
de uma história curta, corresponde ao
"desenho animado" do cinema. Mas,
nos últimos três anos, as coisas muda-
ram consideravelmente, verificando-se
mesmo um movimento renovador, com
o "radiato"
de Pedro Bloch. O autor
de Anhangá prega a
"especificidade"
do teatro pelos
ares, onde as "emoções
musicais", com o seu extraordinário vi-
gor, reforçam as frases do texto. E se
a sua técnica, que
tanto avançou entre
Marilena Ver sus Destino e E* Pr oi-
bido Fumar e Sonhar, ainda pode
ser
motivo de discussões, todos concordam
com os aplausos dispensados às realiza-
ções do nosso rádio-teatro policial
e às
peças que veem focalizando episódios
(9) RUDOLF ARNHEIM
- Rádio - Londres, 1936.
(4.) ENRICO ROCCA — Panorama Dell*Arte Radiofonica
— Milão, 1930.
/rO KURT PAQUÉ — Horspiel Und Schaupiel
— Breslau, 1936.
(6) LANCE SIEVEKING
— The Stuff of The Radio — Londres, 1934.
306 CULTURA POLÍTICA
culminantes da história pátria. Os
dramas que Jorací Camargo escreveu
paia a
"Hora do Brasil", em tôrno da
retirada da Laguna e dos cinquentená-
rios da Abolição e da República, pos-
súem as qualidades
suficientes para mos-
trar o quanto
o "broadcasting"
pode
servir à "educação
cívica" do povo (7).
Não é demais repetirmos que o civismo
não se aprende com lições, pois,
no
caso, temos como ponto
de partida
as
"vivências" do individuo experimenta-
das em uma "atmosfera
cívica". E ao
rádio cumpre um grande papel
na cria-
cão desse ambiente em que
se forma o
cidadão. As mesmas características reco-
mendáveis encontramos, no seu setor,
nas aventuras do detetive Roberto Ri-
cardo, cuidadosamente seriadas por
Aní-
bal Costa. O sensacionalismo fácil é
substituído, nessas peças, pelo
raciocí-
nio de um tipo reflexivo auxiliado pela
técnica (8).
Aníbal Costa procura,
de fato, es-
capar às influências nocivas dos "dra-
mas amarelos" no espírito dos ouvintes.
O seu objetivo, ao traçar os enrêdos, é
demonstrar que
não há "crime
perfei-
to". E, mais do que
isso, não deixa de
acentuar que
o delinqüente vai sempre
punido. Êste
princípio fortalece o
psi-
quismo do sintonizador na concepção
da vida justa,
aumentando, beneficamen-
te, o prazer
da correção integral da sua
conduta na sociedade. Mas temos, ain-
da, um outro aspecto das produções
do
autor de "Aventuras
de Roberto Ricar
do" que
merece ser registrado. Conan
Doíle, que
legou ao mundo a figura
que é o símbolo dos agentes da lei,
deu nos um Sherlock Holmes calmo e
frio, irônico por
vezes, por
vêzes exces-
sivamente sarcástico. O seu sarcasmo di
rige se à famosa "Scotland
Yard e apre-
senta-se, não raro, de uma crueldade ex-
trema. Roberto Ricardo é diferente.
Êle se distingue pela simpatia à
policia
brasileira. Colabora com as autoridades,
respeita-lhes as diligências, e, mesmo
quando aponta os seus erros, o faz com
tóda a conveniência. E isso — é claro
— transmite ao público
uma confiança
salutar na organização policial do nos-
so país.
Queremos, antes do
ponto final, fa-
zer uma observação que talvez expli-
que o insucesso cie alguns rádio-dramas
policiais. A
"unidade de lugar" e a
"unidade de tempo" mostram-se, atual-
mente, indispensáveis às histórias de cri-
mes e mistérios, que
devem ter um am-
biente onde nada possa
falsear o exer-
cício da inteligência (9). O leitor
já
reparou na tendência cada vez mais
acentuada para se situarem os fatos em
um mundo materialmente fechado, co-
mo um navio em alto mar, um trem
em marcha ou uma propriedade
blo-
queada pelo máu tempo ou
por deter-
minação das autoridades? As investiga-
ções dos detetives, apoiando-se apenas
no raciocínio, reclamam as mesmas con-
dições de isolamento de uma experiên-
cia química,
sem nenhuma intervenção
exterior. Esta verdade ainda não foi,
entretanto, compreendida, em toda a sua
extensão, por
determinados autores.
Uma peça pôde
ser movimentadíssima,
ter uma extraordinária sedução, pas
sando-se somente em uma sala, durante
duas ou três horas. As palavras,
a mú-
sica e os ruídos é que
emprestam, no
fim de contas, quatro
dimensões ao ri-
dio-teatro reduzindo o mundo ao ta-
manho de um microfone.
(7) T. H. REED
— Civic Education By Radio — Nova York, 1936.
(8) ANÍBAL COSTA
— Aventuras de Roberto Ricardo -*• Rio, 1940.
(9) REGIE MESSAC — Le Detective Novel Et L'Influence De La Pensée
Scientifique — Paris, 1939.