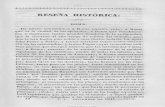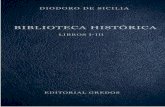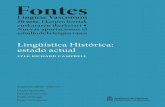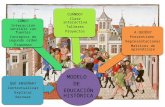APONTAMENTOS SOBRE A LEI DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE EMPRESAS
Apontamentos para uma iconografia histórica xinguana
-
Upload
eastanglia -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Apontamentos para uma iconografia histórica xinguana
CALDEIRA, Teresa P. do Rio. 2000. Ci-dade de Muros: Crime, Segregação eCidadania em São Paulo. São Paulo:Editora 34/Edusp. 399 pp.
Andréa Moraes AlvesDoutoranda, PPGAS-MN-UFRJ, Escola de Serviço Social/UFRJ
O tema da criminalidade e seus efeitosvem despertando o interesse de pes-quisadores brasileiros desde o iníciodos anos 80. Nessa mesma época, pas-sa a ser registrado, através de instru-mentos de medição estatística, um au-mento vertiginoso dos crimes violentosnas grandes cidades do país. Enquantovários trabalhos se concentraram emexplicar o porquê desse crescimento daviolência urbana, Teresa Caldeira es-colheu um caminho ousado: estudar arelação entre criminalidade, democra-cia e espaço urbano. Desse desafio nas-ceu o livro Cidade de Muros: Crime,Segregação e Cidadania em São Paulo.
Baseada em depoimentos de mora-dores de bairros diferentes da cidadede São Paulo, colhidos entre 1989 e1991, Teresa Caldeira analisa seus dis-cursos em relação à criminalidade, àsinstituições democráticas e aos direitoscivis. A tese central da autora é a deque se configura na sociedade brasilei-ra aquilo que ela e James Holston, emartigo de 1998 (“Democracy, Law, andViolence: Disjunctions of Brazilian Citi-
RESENHAS
MANA 8(1):213-240, 2002
zenship”), qualificam de “democraciadisjuntiva”. Este conceito, embora nãoseja exaustivamente trabalhado no li-vro, é a mola mestra da argumentaçãoda autora. Caldeira avalia que uma dasmaiores contradições do Brasil contem-porâneo reside no fato de que a expan-são da cidadania política, através doprocesso de transição democrática, sedesenvolveu pari passu com a deslegi-timação da cidadania civil e a emer-gência de uma noção de espaço públi-co fragmentado e segregado, daí o ca-ráter disjuntivo desse processo de de-mocratização. Os depoimentos dos en-trevistados sobre a criminalidade urba-na, a instituição policial, os direitos hu-manos e as práticas de privatização doespaço com o objetivo de manutençãoda segurança e afastamento da ameaçaà mesma revelam e reproduzem essadisjunção.
Na primeira parte do livro, Caldeiraapresenta narrativas sobre o crime e oscriminosos, mostrando como elas res-significam a experiência do crime e re-produzem estereótipos sobre a diferen-ça. O discurso sobre o crime é um dis-curso classificatório que estabelecefronteiras nítidas entre o bem e o mal.Ponto alto da pesquisa de Caldeira, es-sa parte do livro consegue, através dasentrevistas, mostrar esse princípio clas-sificatório em funcionamento. A fala dasenhora de classe média, imigrante daItália, que se refere a outros migrantesmais recentes, os nordestinos, como
responsáveis pelo aumento da crimina-lidade no seu bairro, é um bom exem-plo dessa dinâmica de criação de dis-tanciamentos. O princípio classificató-rio é capaz de transformar a categoriaque estaria mais próxima do narrador –pela condição de migrante –, mas queé diferente – de outra classe social –,em um outro distante e condenado.Ainda mais interessante no trabalho, éque essa criação de fronteiras não se li-mita a um universo social, Caldeiramostra como o mesmo mecanismo atuaentre moradores da periferia e de bair-ros de elite da cidade de São Paulo.
Nas partes II e III do livro, a autoraaborda dois aspectos ilustrativos da“democracia disjuntiva”: a instituiçãopolicial e os “enclaves fortificados”. Osenclaves “são propriedade privada pa-ra uso coletivo e enfatizam o valor doque é privado e restrito ao mesmo tem-po que desvalorizam o que é público eaberto na cidade. São fisicamente de-marcados e isolados por muros, grades,espaços vazios e detalhes arquitetôni-cos. São voltados para o interior e nãoem direção à rua, cuja vida pública re-jeitam explicitamente. São controladospor guardas armados e sistemas de se-gurança, que impõem regras de inclu-são e exclusão.” (:258) A polícia e osenclaves serão tomados, assim como osdiscursos sobre a criminalidade urba-na, como formas de expressão da lógi-ca de exclusão e segregação existentena sociedade brasileira contemporâ-nea, formas que convivem com carac-terísticas democráticas dessa mesmasociedade, por isso são exemplos do ca-ráter disjuntivo de nossa democracia.Aqui se apresentam os maiores proble-mas no argumento da autora.
No início da parte II, ela critica umavisão dicotômica da realidade social,argumentando que os limites entre pú-blico/privado, legal/ilegal não são rigi-
damente definidos como pares de opo-sição estanques. “Essas dicotomias for-çam distinções que não existem na vidasocial, onde freqüentemente ocorremsimultaneamente e sobrepõem-se umasàs outras. Essas dicotomias não captamo caráter essencialmente dinâmico ecom freqüência paradoxal das práticassociais” (:141-142). A autora afirma queanálises sobre a sociedade brasileiraque recorrem a essas dicotomias, comoas feitas por Roberto DaMatta, porexemplo, acabam por enfatizar a exis-tência de contradições entre relaçõessociais hierárquicas e espaço públicoimpessoal como algo não só peculiar àsociedade brasileira mas que caracteri-zaria nossa “modernidade incompleta”.Teresa Caldeira critica esta noção por-que, para ela, “a questão central não ése há formações sociais com princípiose práticas contraditórios, algo que po-deríamos provavelmente encontrar emqualquer sociedade, mas sim como de-vemos interpretar essas contradições.”(:141) No entanto, ao deter-se sobre aspráticas policiais e sobre a construçãode muros, grades e fortificações em re-sidências e áreas comerciais da cidade,a autora recorre a um raciocínio polari-zador, usando argumentos que contra-dizem sua crítica teórica. O fracasso dastentativas do governo de São Paulo emaplicar medidas de garantia dos direi-tos humanos é atribuído a uma “culturade violência” que imperaria na própriainstituição policial e na sociedade comoum todo, cultura esta que justifica práti-cas de tortura e de desrespeito aos di-reitos civis. Da mesma forma, os condo-mínios fechados e shoppings centerssão vistos como espaços segregadores ehomogeneizadores em oposição ao es-paço público moderno – heterogêneo eaberto. Tudo se passa como se duas ló-gicas opostas estivessem em confronto:de um lado, a lógica da democracia,
RESENHAS214
RESENHAS 215
dos direitos civis e de suas instituições;do outro, a lógica da violência e da se-gregação. Esta última estaria sempreameaçando o sucesso da primeira, tor-nando-se um entrave para o pleno de-senvolvimento da democracia no país.Voltamos ao paradigma da “moderni-dade incompleta”.
Um olhar mais aprofundado sobreas práticas policiais e sobre a vida coti-diana nos “enclaves fortificados” evi-dencia mais nuanças e contradições doque poderíamos esperar à primeira vis-ta. Nem sempre a segregação e a vio-lência são as marcas desses espaços.Da mesma forma, nem sempre o Esta-do de direito e os espaços públicos, co-mo as praças e ruas, são vistos comoarenas da diversidade. As situações econtextos onde essas fronteiras se mes-clam são essenciais para compreender-mos as interpretações que os indiví-duos fazem de sua própria sociedade.Apesar de estar consciente disso, a au-tora pouco explora esse raciocínio emseu trabalho.
Na parte final do livro, escrita maisrecentemente, ela volta a insistir nasduas lógicas opostas: “No contexto datransição para a democracia, o medodo crime e os desejos de vingança pri-vada e violenta vieram simbolizar a re-sistência à expansão da democracia pa-ra novas dimensões da cultura brasilei-ra, das relações sociais e da vida coti-diana.” (:375) Como base dessa resis-tência, Caldeira aponta a concepção decorpo que seria partilhada, segundoela, pela sociedade brasileira.
Referindo-se à prática da torturacomo ato tido como legítimo, à violên-cia doméstica, à prática indiscriminadada cesariana e até ao carnaval, TeresaCaldeira afirma que a sociedade brasi-leira construiu uma relação “incircuns-crita e manipulável” com o corpo. Essarelação flexível acaba por não permitir
o estabelecimento de regras mais cla-ras de respeito individual, o que teriasido o caso, por exemplo, da EuropaOcidental e dos Estados Unidos, paísesde tradição liberal. O que me pareceequivocado nessa argumentação é ouso de uma imagem civilizadora e de-mocrática da tradição liberal em oposi-ção a uma imagem de fragilidade dosdireitos individuais. Será que não seestaria, na verdade, reproduzindo este-reótipos sobre ambos os modelos? E,além disso, construindo uma visão desociedade brasileira baseada na nega-ção da “sociedade liberal e democráti-ca européia e norte-americana”?
A autora não classifica o Brasil eoutras sociedades de passado colonialcomo sociedades não modernas. Afi-nal, elas desenvolveram instituiçõesdemocráticas baseadas no direito polí-tico e social. No entanto, Caldeira en-tende que aqui se constituiu uma “mo-dernidade peculiar”, cuja marca distin-tiva está na fragilidade dos direitos ci-vis. O desafio, segundo a autora, seriaequilibrar os aspectos positivos da fle-xibilidade dos corpos, como a sensuali-dade – mais um estereótipo –, com umacircunscrição dos mesmos que evitasseos abusos contra os direitos indivi-duais, principalmente em um contextoonde a desigualdade social os tornamais freqüentes contra os dominados(pobres, mulheres, crianças). Tais abu-sos, porém, não seriam menos freqüen-tes em países de tradição liberal – bas-ta lembrarmos, por exemplo, dos casosrecorrentes de abuso sexual contra cri-anças em países europeus e nos Esta-dos Unidos. Lá, também, a circunscriçãodos corpos talvez não seja assim tãodefinida como faz parecer a análise deCaldeira.
O livro apresenta um grande esfor-ço para montar um quebra-cabeça: aviolência urbana, os direitos civis e a
democracia são as peças desse jogo. Atentativa de Caldeira é um primeiropasso que nos deixa pistas para avan-çar. Uma investigação sobre as práticasde segregação e de homogeneizaçãoda vida cotidiana talvez nos mostre umafluidez de significados muito maior doque aquela apresentada pelos discur-sos dos sujeitos. Além disso, pode nosguiar para encontrarmos outras peçasque podem estar faltando nesse jogo.
FRANCHETTO, Bruna e HECKENBER-GER, Michael (orgs.). 2001. Os Povosdo Alto Xingu: História e Cultura. Riode Janeiro: Editora UFRJ. 496 pp.
Julio Cezar MelattiProfessor, Universidade de Brasília
O volume tem por tema os alto-xingua-nos propriamente ditos, hoje reduzidosa três povos falantes de línguas aruak(Waurá, Mehinako e Yawalapiti), qua-tro de línguas karib (Kuikuro, Kalapa-lo, Matipu/Nahukwá e Bakairi), dois delínguas tupi (Kamayurá e Aweti) e umde língua isolada (Trumai), que pautamsua vida sobre um fundo cultural co-mum, mas se mantêm étnica e politica-mente distintos, ainda que vários delesreconheçam em seu seio a existênciade descendentes de povos desapareci-dos. À exceção dos Bakairi, que hojevivem nas cabeceiras de tributários dosrios Teles Pires e Arinos, todos estão nametade meridional do Parque Indígenado Xingu.
Os dezesseis autores dos textos ne-le reunidos são heterogêneos em suaformação. Há etnólogos (Robert Car-neiro, Gertrude Dole, Ellen Basso, Tho-mas Gregor, Emilienne Ireland, RafaelBastos, Edir Pina de Barros, AristótelesBarcelos Neto, Marcela Coelho de Sou-za), lingüistas (Aurore Monod-Becque-
lin, Bruna Franchetto, Raquel Guirar-dello), antropólogos biológicos (Rober-to Ventura Santos, Carlos Coimbra Jr.),um arqueólogo (Michael Heckenber-ger) e uma geógrafa (Maria Lúcia PiresMenezes), desde veteranos da décadade 50 até jovens recém-chegados aostemas xinguanos.
O propósito geral do volume é o deromper com a imagem de um Alto Xin-gu de passado totalmente desconheci-do antes da primeira expedição de Karlvon den Steinen em 1884 e, após a mes-ma, socialmente estático e cultural-mente homogêneo.
O leitor pode se valer dos dois arti-gos de Heckenberger, dado o períodode mais de mil anos que cobrem e amovimentação geográfica dos elemen-tos culturais que apresentam, como umesquema de pontos de referência aosquais relacionar as contribuições dosdemais autores. Mostra-nos Hecken-berger a viabilidade de reconstituir opassado dos alto-xinguanos com a aju-da da arqueologia, lingüística, docu-mentos escritos e memória indígena.Calcula datas de instalação dos repre-sentantes de cada família lingüística naárea e ensaia uma periodização. Os pri-meiros a chegar foram os Aruak. Al-deias circulares, caminhos radiais, va-letas e aterros estudados pela arqueo-logia atestam sua presença milenar.Também teriam sido os responsáveispor certas características que marcamos xinguanos até os dias de hoje: al-deias que nunca mudam para muitolonge, hierarquia, padrões de sociali-dade de dimensão supralocal e um ide-al de não-agressão. Depois chegaramos Karib, com outra forma de edificarseus núcleos habitacionais e outro esti-lo cerâmico, até virem a convergir paraum mesmo padrão. A chegada dos co-lonizadores à procura de ouro impôs asprimeiras grandes perdas populacio-
RESENHAS216
RESENHAS 217
nais com seus assaltos armados e a di-fusão de moléstias contagiosas. Os Tupie finalmente os Trumai ingressaram naárea. Chega então Steinen, que os en-contra organizados num padrão queainda é o de hoje: um conjunto de po-vos política e ritualmente articuladosenvolvidos por outros que considerambravios. Outros pesquisadores os visi-tam. A interferência, mais do que a as-sistência, governamental atua à distân-cia, de um posto ao sul, para onde aca-bam por se transferir todos os Bakairi.A comunicação aérea se estabelece emmeados do século XX, quando tambéma população xinguana chega a seu mí-nimo. Uma assistência mais eficiente aconduz à recuperação. O que fascinana arqueologia xinguana é a possibili-dade de relacionar os vestígios pré-his-tóricos aos povos que atualmente ali vi-vem e, mais ainda, permitir ao pesqui-sador conversar com os nativos sobre oque encontra.
É o que acontece também com otexto de Bruna Franchetto. Além da a-valiação do estado atual do conheci-mento lingüístico da região, de umadescrição mais demorada das caracte-rísticas das línguas karib, da qualifica-ção do multilingüismo xinguano, elaainda pode nos passar as opiniões dealguns falantes sobre as peculiaridadesdo vernáculo e como o contrastam comos dialetos ou línguas afins.
As contribuições ao volume foramdistribuídas em duas partes: “VisõesRegionais” e “Visões Locais”. Inspira-da talvez na alternância entre estudoscomparativos e monográficos que mar-cou o desenvolvimento da etnografiado Alto Xingu, essa distinção é muitodifícil de se manter, como sintomatica-mente o atesta o artigo de Thomas Gre-gor, incluído nas “Visões Regionais”.Embora focalizado a partir de um só po-vo, os Mehinako, entre os quais pesqui-
sou, o papel das mulheres nos casamen-tos interétnicos, como penhores da paze pregadoras da boa vontade, foi e é im-portante na formação, expansão e ma-nutenção de todo o sistema xinguano.
Gertrude Dole, que entre outrostrabalhos ensaiou até uma pesquisa ar-queológica pioneira junto aos Kuikurona década de 50, comparece ao volu-me com um artigo no qual, para con-trabalançar a ênfase dada desde Stei-nen à grande semelhança entre as cul-turas xinguanas, aponta suas diferen-ças em distintos domínios. Já Aristóte-les Barcelos Neto, focalizando as artesvisuais, mostra como seus motivos setransformam e transitam por esses do-mínios – o mítico, o ritual, o xamânico,o cotidiano da vida aldeã – e ainda pe-la rede intraxinguana e pelo mundodos brancos.
Tolhidos pela falta de dados recen-tes sobre índices igualmente disponí-veis para a maior parte dos povos xin-guanos e áreas vizinhas, Roberto Ven-tura Santos e Carlos Coimbra Jr. sele-cionam sete medidas antropométricastomadas por antigos pesquisadores, to-das elas, com exceção da estatura, re-ferentes à cabeça, e concluem que osxinguanos são morfologicamente maisafins entre si do que com outros gruposindígenas do Brasil Central, o que de-correria de um intenso fluxo gênico en-tre suas comunidades.
Maria Lúcia Pires Menezes recons-titui todo o jogo de interesses de dife-rentes agências, como o Estado de Ma-to Grosso, a Fundação Brasil Central, aForça Aérea Brasileira, o Serviço de Pro-teção aos Índios, envolvidas nos proce-dimentos que conduziram à criação,em 1961, do Parque Nacional do Xin-gu. Se esse artigo não reproduz nenhu-ma manifestação dos próprios xingua-nos, uma vez que, ignorados, não parti-ciparam de tais disputas, vale a pena
contrastá-lo com o de Edir Pina de Bar-ros, que mostra como os atuais Bakairiavaliam as conseqüências da expedi-ção de Steinen: concorreu para sua de-população em virtude do contágio, pa-ra a alteração de suas relações com osdemais xinguanos, para o abandonodos formadores do Xingu e sua trans-formação em trabalhadores de um pos-to do SPI que não se destinava a apoiá-los, mas sim à atração e assistência dospovos que lá ficaram.
Além do artigo de Edir Pina de Bar-ros, há outros seis na parte “Visões Lo-cais”. Por força mesmo da articulaçãoentre os grupos xinguanos, nenhumdos artigos se atém exclusivamente auma perspectiva local. O que mais dis-so se aproxima é talvez o do pesquisa-dor veterano Robert Carneiro, queapresenta um mito dos Kuikuro refe-rente à origem do lago Tahununu, jun-to ao qual viveram no passado. Este la-go, na margem direita do Culuene (oudo Xingu, que nos mapas do IBGE co-meça mais ao sul, na foz do Sete de Se-tembro), é rodeado por vestígios ar-queológicos de aldeias constituintes doque Heckenberger chama de Comple-xo Oriental, relacionado aos Karib.
Emilienne Ireland discute como osWaurá classificam os povos da região,em xinguanos, bravios e brancos, con-forme sua adesão aos padrões que de-vem orientar a conduta que têm comoa mais desejável para os seres huma-nos. Reconhecem, entretanto, os exem-plos esporádicos de comportamentosolidário dos bravios e sentem-se inco-modados com a lembrança de casosem que teriam incorrido em ações emdesacordo com seus ideais.
Os artigos de Ellen Basso, RafaelBastos e Marcela Coelho de Souza,que focalizam, respectivamente, osKalapalo, os Kamayurá e os Aweti, le-vam em conta a mesma classificação
de povos, porém são mais incisivos emacentuar a articulação entre eles, nãocomo um estado, mas como um proces-so que vem se desenvolvendo ao longodos últimos séculos: grupos que seagregam em novas unidades, sem quedeles se perca a memória; aderem aospadrões xinguanos, sem que estes sesobreponham inteiramente a elemen-tos culturais anteriores; continuam adifundir entre si novas contribuiçõesculturais, como o rito do Jawari, intro-duzido pelos Trumai, os últimos a seinserirem no conjunto xinguano.
Finalmente o texto referente aosTrumai, de Aurore Monod-Becquelin eRaquel Guirardello, tem mais o caráterde inventário de elementos que ve-nham a servir para a elaboração de umtrabalho com a mesma orientação dosdemais colaboradores.
Se não trata de questões inteira-mente novas, uma vez que boa partede seus autores já explorou os temasnele expostos em trabalhos de maiorfôlego, o volume tem o mérito de reu-nir essas contribuições para uma histó-ria do Alto Xingu, tornando mais evi-dente a convergência dos resultadosde suas pesquisas.
As principais marcas do padrão al-to-xinguano foram abordadas ao longodos textos; mas ficou ausente uma dis-cussão do porquê da dieta baseada noconsumo de peixes e na evitação dacarne de mamíferos. Dois dos atuaispovos alto-xinguanos, os Yawalapiti eos Matipu/Nahukwá, não foram focali-zados em artigos especiais, apesar dehaver pesquisa pelo menos sobre osprimeiros. Faltou também um mapageral do Alto Xingu especialmente ela-borado para o volume. É verdade queentre a primeira e a segunda parte apa-rece um, talvez recortado de outro maisamplo, do Instituto Socioambiental,mas quase ilegível. Se lhe fosse retira-
RESENHAS218
RESENHAS 219
da toda a parte que fica ao norte da al-deia alto-xinguana mais setentrional,dos Trumai, seria possível duplicar-lhea escala. Os limites das propriedadesrurais, que não têm interesse para osartigos que integram o volume, deveri-am ser apagados, assim como o emara-nhado das pequenas correntes d’água.Por outro lado, deveriam ser aumenta-dos, tornando-os legíveis, os nomes depovos e rios principais (medida estatambém recomendável para outros ma-pas do volume). E nas margens dever-se-ia indicar os graus dos meridianos eparalelos.
Por fim, ainda que não seja esse oseu propósito, esse volume parece pre-nunciar a retomada do estudo compa-rativo dos Aruak (mais de oitenta anosdepois do trabalho pioneiro de MaxSchmidt), fundadores que são do nódu-lo em torno do qual se formou o padrãoalto-xinguano. Tal como aconteceu, nasegunda metade do século XX, com osJê, depois os Karib, em seguida os Tupie até os Pano, os Aruak teriam agora asua vez.
HARRIS, Mark. 2000. Life on the Ama-zon. The Anthropology of a BrazilianPeasant Village. Oxford: Oxford Uni-versity Press/The British Academy.236 pp.
Marco Antonio GonçalvesProfessor, PPGSA-IFCS-UFRJ
O livro de Mark Harris é, em todos ossentidos, uma etnografia não convenci-onal: inova em sua abordagem críticada “construção da Amazônia” comoobjeto de estudo; questiona o uso dacategoria “identidade”, propondo umanova percepção para este conceito naantropologia; produz uma escrita cons-
ciente dos problemas epistemológicosimplicados no fazer etnográfico.
A pesquisa que deu origem ao livrofoi realizada como pré-requisito para atese de doutorado do autor, defendidana London School of Economics, a qual,reescrita a partir da obtenção de umabolsa de pós-doutorado junto à Acade-mia Britânica, ganhou nessa publica-ção nova forma e maior densidade.
O estudo baseia-se em um trabalhode campo realizado em Parú, vila ribei-rinha no município de Óbidos (Estadodo Pará), entre julho de 1992 e janeirode 1994. “Não é o tempo que muda masas pessoas” – a frase de uma informan-te, que serve de epígrafe, expressa sin-teticamente o problema central queHarris se propõe a resolver: as relaçõesentre identidade, temporalidade e mu-dança cultural.
Ao expor as representações corren-tes na literatura sobre a região amazô-nica, o autor fornece um pano de fundopara pensar sua complexidade. Ama-zônia é um emaranhado de diversida-des: ameríndios vários, campesinatosdiferenciados, seringueiros, madeirei-ros, grandes cidades com elites e classemédia. As identidades de “amazôni-co”, “indígena” ou “cidadão brasilei-ro” podem ocorrer simultaneamente e,nesse sentido, o problema é saber si-tuar ou localizar essas identidades nopanorama das mudanças históricas queafetam a prática da vida diária na Ama-zônia, produzindo, conseqüentemente,mais identidades, uma vez que estassão construídas nessa prática. Em talcenário, portanto, não há identidadedefinida, não há centro: o que existe sãomediações e transformações. O rio A-mazonas é a metonímia do “ser amazô-nico”, aquilo que, ao mesmo tempo,cria vínculos e isolamentos.
O desafio do livro é produzir, a par-tir da etnografia, uma nova reflexão so-
bre identidade e mudança. O esforço doautor é o de contribuir para pensar osmodos múltiplos e coexistentes de cria-ção e definição da identidade. Nessanova acepção, identidade é dada ou ex-pressa no que as pessoas fazem e emcomo fazem as coisas, e não preestabe-lecida na forma de um coletivo étnicoou de classe. Esta proposição me pare-ce fundamental. Nesse livro, o autorpersegue um outro tipo de identidadeque aquela que divide a humanidadeem culturas e comunidades, buscandoapreender o “outro lado da identidade[...] o relacional, o vivido, o conheci-mento incorporado de práticas e habili-dades e aquilo que é irrepresentável nodiscurso verbal.” (:7) Nessa aborda-gem, a identidade se constrói a partirde histórias “intersubjetivas e conecti-vas”. Vislumbra-se assim uma alterna-tiva para a conceituação da identidadeenquanto produto dialético da expe-riência histórica de pessoas pratica-mente engajadas em um mundo vivi-do. O valor da experiência para essaconceituação se faz sentir na proposi-ção do autor de uma ontologia da iden-tidade por definição antiintelectualista,ancorada na vida no mundo, em lugarde constituída como habilidade paratranscender esse mundo mediante acriação de abstrações da ordem da cul-tura e da política.
O livro está organizado em quinzecapítulos que procuram, a partir de umabem construída etnografia, visitar asquestões locais amazônicas e os pro-blemas teóricos propostos pela antro-pologia. A narrativa é bem-sucedida aoestabelecer uma vinculação entre o lo-cal e o global, fazendo mediações entreplanos próximos e distantes, entre omundo amazônico e a teoria antropoló-gica. Os capítulos são divididos em doistipos de narrativa complementares. Oscapítulos etnográficos mais convencio-
nais – “As Marés da História na Ama-zônia”, “Continuidade e Recursos”,“Nós Somos Todos Família Aqui”, “Rit-mos”, “Trabalho como Vida” e “Fron-teiras” – contrastam com aqueles emque o autor narra em primeira pessoasua experiência e o sentido teórico quequer imprimir a este conceito. São seterelatos mais subjetivos que comple-mentam e, às vezes, estruturam os ou-tros: “O Curso do Rio”, “Caboclo”, “Pes-cando com José Maria”, “Entre Dois Ir-mãos”, “Outra Maneira de Contar” (umensaio fotográfico), “Possessão”, “Fe-chando o Círculo”. Essa dupla estrutu-ra discursiva, que poderia parecer ex-cessiva e redundante, se prova umamaneira bem dosada de aproximar oleitor à expressão completa do mundoem que viveu o autor, ao mesmo tempoem que dá maior densidade às ques-tões propriamente etnográficas.
O livro contribui decisivamente pa-ra se repensar as representações cor-rentes sobre a Amazônia. A começarpor uma crítica contundente à aborda-gem de seus predecessores (Ross, Wa-gley, Galvão, Moran), no sentido demostrar que a vida dos ribeirinhos, suahistória, seu modo específico de socia-bilidade, não podem ser reduzidos aum resultado direto de processos de“acomodação” ou “adaptação”. O au-tor desestrutura a percepção que vê ocampesinato amazônico como produtode uma acomodação às forças externas;critica a idéia em voga de que a Ama-zônia é um ambiente inóspito e desfa-vorável à adaptação humana. Propõe,alternativamente, uma visão históricado campesinato na região e de suaconstituição no contexto das relaçõescom as políticas econômicas. Procuratratar também de questões específicasa uma vila de ribeirinhos amazônicos,dando conta de como se mantiveram notempo e de como construíram e cons-
RESENHAS220
RESENHAS 221
troem seu acesso aos recursos de quenecessitam. O parentesco parece umfator fundamental na continuidadedessas populações, e o autor revela asestratégias de casamento e suas rela-ções com o acesso aos recursos. Se-guindo o exemplo maussiano de abor-dagem da sazonalidade esquimó, Har-ris explora o modo como os ribeirinhosconstroem sua sociabilidade, e comoexperienciam as diferentes estações.Analisa, também, o conceito de traba-lho expresso pelos informantes no de-sempenho de suas diferentes ativida-des. Percebe que o “trabalho” não éconstruído em antagonismo ao vivermas, pelo contrário, “trabalho” está li-gado diretamente à agência e ao “fa-zer” no mundo. A partir desta perspec-tiva da experiência, do estar no mundo,propõe uma outra visão do campesina-to amazônico. Em vez de classificá-locomo “marginal” ao sistema abrangen-te das trocas, percebe-o enquanto for-mando comunidades que constroemespaços de liberdade e não apenas desubjugação ao sistema dominante. Sem-pre preocupado com o particular e evi-tando assumir uma perspectiva gene-ralizante, a narrativa “Entre Dois Ir-mãos” revela a riqueza das histórias devida para a construção de explicaçõessociológicas: dois irmãos, dois destinos,duas formas diferentes de obter acessoa recursos. Observa-se a preocupaçãodo autor em não hipostasiar a cultura, ahistória e o ambiente como produtoresde “tipos sociais” e procurar compreen-der processos complexos de diferencia-ção que se passam em um mesmo am-biente dado.
A contribuição decisiva de seu tra-balho reside também no empreendi-mento de uma reanálise da categoriaCaboclo. Procurando não reificá-la ain-da mais, prefere usar os termos “ribeiri-nho” ou “camponês”. O uso do termo
“camponês” recoloca a questão ama-zônica no campo da tradição de estu-dos de campesinato, tão cara à antro-pologia. A narrativa “Caboclo” contes-ta a natureza da categoria social, defi-nindo este termo em função daquelesque o usam, isto é, como um termo for-jado pelos estrangeiros ao mundo ruralamazônico. Desse modo, consegue di-namizar a discussão de uma categoriapetrificada como a de caboclo, dando-lhe novos contornos e maior rendimen-to e alcance teóricos.
No modo como constrói sua etno-grafia, Harris empreende uma crítica àantropologia e à forma como esta apre-senta seu conhecimento. A maioria dosantropólogos, segundo ele, continua se-guindo os modelos clássicos e, por isso,confia e se satisfaz com os relatos dosinformantes sobre suas experiências co-mo forma de acesso a essa dimensão dovivido. Constata que existem poucas eraras referências alternativas a essemodo de construção, e propõe uma es-crita capaz de expressar a unidade“ação/corpo/consciência”, apostandona importância da memória e na nãoseparação entre campo/casa/acade-mia. O livro assume assim uma estraté-gia de escrita explicitamente elaboradano sentido de fazer frente ao desafio dealcançar uma expressão mais completado mundo através da etnografia. A crí-tica aos métodos antropológicos e asestratégias propostas pelo autor não seresumem à simples retórica pós-moder-na ou à assunção de uma espécie de in-dividualismo extremado do tipo “Eu ve-jo o mundo, Eu o experiencio, logo, Euentendo o mundo”. Na verdade, sua es-tratégia de escrita repousa em uma for-ma específica de construção do objeto“identidade”: abordá-lo na materiali-dade da vida diária. Harris segue o ca-minho já trilhado por algumas expe-riências etnográficas que lhe servem de
modelo. É o caso de Pálsson, que defineo método antropológico como “discursovivo”, característico de um “diálogo de-mocrático” em que antropólogo e nati-vo (ou melhor, o pesquisador de campoe seu anfitrião) não estão submetidos àcultura, à história e às políticas econô-micas, persistindo um espaço para a in-venção e a amizade que escapam àsdeterminações gerais da situação depesquisa. Moore, com sua proposiçãode “anatomia vivida”, também inspirao autor no sentido de revelar a nature-za incorporada da identidade, decor-rente do fato de que as experiênciassurgem de interações sociais concreta-mente situadas no tempo e no espaço.Este ponto parece ser central para a su-peração de uma compreensão da expe-riência e identidade como fixas e indi-vidualizadas. O que o autor quer justa-mente explorar e chamar a atenção épara a capacidade das pessoas de seadaptarem com sucesso às mudançasdas circunstâncias históricas. As pes-soas podem continuar existindo porquereinventam a si próprias e reorientamseus objetivos para o presente. Dessemodo, o argumento central é o de queas características da mudança, da au-to-imagem, da recuperabilidade e dasoportunidades não são simples técnicasde sobrevivência, mas elementos cons-titutivos das identidades sociais.
KUSCHNIR, Karina. 2000. Eleições e Re-presentação no Rio de Janeiro. Rio deJaneiro: Relume-Dumará/NuAP-MN-UFRJ. 95 pp.
Fernando Alberto BalbiDoutorando, PPGAS-MN-UFRJ
Doutora em Antropologia Social peloPPGAS-MN-UFRJ, Karina Kuschnir re-
escreve para esse livro alguns artigosbaseados em sua dissertação de mestra-do, apresentada na mesma instituição.
O texto se insere no campo da “an-tropologia da política”, e procura anali-sar as práticas políticas em função dasconcepções e dos pontos de vista dospróprios atores. A autora centra sua a-tenção nos vereadores do Rio de Janei-ro e busca dar conta das regras e dosvalores que dão sentido à sua experi-ência política a partir da observaçãodas interações que mantêm com seuseleitores, pares, funcionários do PoderExecutivo municipal e jornalistas.
Nesses termos, Kuschnir consegueiluminar uma série de relações sutis en-tre os diversos aspectos da política lo-cal do Rio de Janeiro. As chaves dessaanálise são duas. Em primeiro lugar, aapreciação de que existe uma “culturainstitucional” própria da Câmara Mu-nicipal, isto é, valores e pontos de vistacompartilhados pelos vereadores no quediz respeito ao seu próprio papel comorepresentantes de seus eleitores, as re-gras da atividade parlamentar, o prestí-gio da Câmara Municipal etc. A análi-se dessa “cultura institucional” permi-te compreender as formas como os ve-readores atuam nos diversos âmbitosde interação em que devem operar. Pa-ra isso contribui também a observaçãode Kuschnir – e esta é a segunda chavede sua análise – de que“o papel socialdos vereadores está, em muitos casos,diretamente vinculado à sua capacida-de de mediar trocas entre diferentes ní-veis da sociedade que são também di-ferentes níveis de cultura, com códigose valores distintos” (:9). Tal papel é, defato, sancionado pela “cultura institu-cional” do Legislativo municipal, quetem como um de seus valores básicos opostulado de que a mediação entre oseleitores e o Executivo é um dos princi-pais deveres do cargo de vereador.
RESENHAS222
RESENHAS 223
Os quatro primeiros capítulos do li-vro exploram essas observações paraexaminar as diferentes facetas da atua-ção dos vereadores. No capítulo 1, Kus-chnir mostra que existe uma marcadacorrelação entre o tipo de campanha e-leitoral desenvolvido pelos candidatosa vereadores e a distribuição de seusvotos. Os diversos tipos de discurso decampanha expressam estratégias dis-tintas voltadas a propor a determinadoseleitorados certas classes de vínculos.Isso implica um esforço dos candidatospara construir seu pertencimento a umgrupo de referência de seus eleitoresatravés da proposição de um tipo espe-cífico de intercâmbio voto/mandato.Nesse sentido, a autora distingue entreuma estratégia “comunitária/assisten-cialista” e outra “ideológica/política”.O capítulo 1 culmina com a observaçãode que o intercâmbio voto/mandato nãoé senão “um momento dentro de umacadeia de relações que se processamem torno da atividade política, que nãoestá restrita ao período estritamenteeleitoral” (:32).
O capítulo 2 elabora esse ponto,concentrando-se na cotidianidade domandato legislativo. Seu maior méritoé mostrar a complexidade da perspec-tiva dos vereadores quanto ao seu pa-pel como mediadores. Assim, os verea-dores “assistencialistas” e os “ideológi-cos” se diferenciam na medida em queos primeiros se dedicam fundamental-mente a criar e reproduzir relações pes-soais com os eleitores, proporcionando-lhes bens e serviços, enquanto os se-gundos tendem a trabalhar em nomede causas representativas de gruposorganizados, ocupando-se de facilitarsua participação no “processo político”mais do que lhes oferecer recursos ma-teriais. Todavia, posto que ambos os ti-pos se encontram imersos em algumaforma de intercâmbio voto/mandato
que supõe dívidas para com seus elei-tores, “a vereança tem sempre umavertente de assistência à população”(:45). Mesmo assim, os vereadores – se-jam “ideológicos” ou “assistencialis-tas” – também agem como “mediado-res culturais”, ponto que é desenvolvi-do no último capítulo.
O capítulo 3 analisa a complexa di-nâmica das relações que os vereadoresmantêm entre si. Eles reconhecem suainterdependência como um fato funda-mental, conscientes de que “num certonível de atuação, o voto dado (a favorde um projeto ou proposição) deve sig-nificar voto retribuído” (:52). Isso se re-flete no valor que concedem ao fato deterem um “bom trânsito” e à capacida-de de fazerem acordos. Contudo, o“bom trânsito” se vê afetado pela ne-cessidade de tomarem posição em facedo jogo político. Com efeito, é impossí-vel para um vereador ser neutro, postoque “o êxito de seu mandato dependeda solidificação de alianças – tarefa quesó pode ser conseguida através da tro-ca de votos” (:58), e o voto só serve co-mo instrumento de intercâmbio desdeque o vereador faça parte de algum dosgrupos que operam na Câmara. Essatensão entre a necessidade de manterum “bom trânsito” e o imperativo de es-tabelecer alianças duráveis – que dáconta em certa medida da instabilida-de dos blocos de “situação” e “oposi-ção” – constitui um “conflito entre doistipos de comportamento valorizados eprescritos pelo grupo” (:58) que os ve-readores resolvem de maneira quaseteatral no plenário, justificando ambosem termos da defesa dos interesses deseus eleitores.
O capítulo 4 examina a forma comoos vereadores entendem e enfrentam odesprestígio da instituição. Enquantomediadores, os vereadores necessitampermanentemente de recursos que so-
mente o Executivo pode proporcionar-lhes. Kuschnir assinala que existe umaassimetria entre Executivo e Legislativoque “não está inscrita nas atribuiçõesdos dois Poderes e sim no processo detrocas promovido no exercício dos man-datos de seus ocupantes” (:68). Essa as-simetria habilita os vereadores enquan-to mediadores mas implica uma grandeinstabilidade e conflitos permanentes,sendo ressentida pelos legisladores. Poroutro lado, a mídia geralmente ofereceuma imagem negativa do Legislativo,desprestigiando-o diante da opinião pú-blica. Os vereadores reagem a essas si-tuações empreendendo coletivamenteuma “defesa institucional” da Câmara,com o intuito de reforçar seu prestígiovisando incrementar seu potencial detroca tanto com o Executivo como coma população. Um aspecto essencial des-se movimento é a tentativa de “elevaro status político do parlamento cariocana estrutura de distribuição de poder eprestígio nacional” (:78), reivindicandoa herança cultural e histórica da cida-de, sua “capitalidade”.
Escrito em colaboração com Gilber-to Velho, o capítulo 5 distancia-se do tometnográfico do restante do livro para si-tuar a figura dos vereadores no marcomais amplo do problema da “multipli-cidade e descontinuidade entre domí-nios e províncias de significado” (:83)que caracteriza as sociedades comple-xas. Nestas, adquire uma importânciacapital o “potencial de metamorfose”dos indivíduos, sua capacidade para al-terar suas atividades e sua própria a-presentação do self de modo a transitarpor essas províncias de significado. Es-se tipo de trajetória possibilita a algunsindivíduos atuar como mediadores en-tre categorias sociais, domínios e níveisde cultura. Tal seria o caso dos vereado-res e, de modo mais geral, dos políticos,que não apenas interpretam e tradu-
zem as lógicas dos diversos universossociais com as quais entram em contatocomo realizam um trabalho de bricola-gem, criando novas realidades a partirde seu trânsito por aqueles universosdíspares. O político seria, em última ins-tância, um “especialista em mudançade papéis” cuja identidade ilustraria“as características mais gerais de umasociedade complexa, heterogênea, mul-tifacetada, em permanente processo deconstrução” (:89).
Nos últimos trinta anos, a antropo-logia social e/ou cultural tendeu maci-çamente a um hermético acúmulo deconceitos cada vez mais obscuros e deutilidade crescentemente duvidosa. Es-sa febril criatividade teórica parece ter-se transformado em um fim em si mes-mo, quiçá como produto das crescentespressões em favor da diferenciação sim-bólica requerida pela concorrência in-tra-acadêmica. Esqueceu-se, dessa for-ma, que os conceitos carecem de umvalor intrínseco e que o aporte de umaanálise qualquer à inteligibilidade dosfenômenos sociais não depende tantode quais são os conceitos usados quan-to de como se os usa. O trabalho de Ka-rina Kuschnir tem o imenso mérito denão se ter entregue a essa lamentáveltendência contemporânea. Pelo contrá-rio, com uma arquitetura teórica de ins-piração tradicional e quantitativamen-te limitada consegue dar uma contri-buição valiosa à análise de uma insti-tuição complexa e de uma posição polí-tica pouco compreendida.
Também vale destacar o realismoque caracteriza seu tratamento dos ato-res. De fato, os vereadores de quem fa-la Kuschnir parecem “reais”: não háaqui estrategas improváveis sem inten-ção estratégica nem fazedores de dis-cursos capazes de manejar ao mesmotempo uma dezena de níveis de signifi-cação. Essa medida de realismo – que
RESENHAS224
RESENHAS 225
não tem nada a ver com as convençõesrealistas da etnografia clássica – é umavirtude pouco freqüentada que enri-quece o trabalho de Kuschnir. Se cabelamentar algo a respeito de seu livro éde ela não ter aproveitado a ocasião dereescrever artigos para acrescentarmaterial etnográfico, deixando assimalguns pontos pouco claros onde, toda-via, parece evidente que as dúvidas doleitor se devem não à qualidade da aná-lise mas à parcimônia do texto. Trata-se, ademais, de um bom exercício etno-gráfico – ao que essa resenha não fazjustiça – e de um livro particularmenterecomendável para leitores interessa-dos na análise das instituições legislati-vas e dos fenômenos correntementetratados sob os rótulos de “assistencia-lismo”, “clientelismo” e “corrupção”.
LEAL, João. 2000. Etnografias Portu-guesas (1870-1970). Cultura Popular eIdentidade Nacional. Lisboa: Publica-ções Dom Quixote. 274 pp.
Lorenzo MacagnoPesquisador, CEBRAP
Etnografias Portuguesas procura mos-trar que a antropologia portuguesa secaracterizou, entre 1870 e 1970, por umdiscurso comprometido com a elabora-ção de um modelo etnogenealógico daidentidade nacional e, portanto, com aconstrução de uma comunidade de des-cendência com qualidades específicas.A partir desta premissa, João Leal ten-ta dar conta de uma série de contribui-ções que fizeram da cultura popular dematriz rural um tema central da etno-grafia e da antropologia em seu país.Tal centralidade teria alimentado umconjunto de reflexões em torno da iden-tidade nacional. O título da primeira
parte é, nesse sentido, bastante explíci-to: “À procura do povo português”.
Para atenuar os efeitos provocadospelo termo antropologia portuguesa(usado no singular como substantivo eadjetivo, respectivamente), a aborda-gem é sensível a um enfoque discipli-nar amplo. Isto significa que tais refle-xões sobre a nacionalidade portuguesanão teriam correspondido somente àantropologia, mas sobretudo a outrosdiscursos que João Leal prefere deno-minar etnografias espontâneas.
Os oito capítulos apresentados, or-ganizados, por sua vez, em três partes,não convidam necessariamente a umaleitura diacrônica e linear, já que, comoo próprio autor adverte, cada um delespossui autonomia relativa. No entanto,a própria amplitude temporal do livroobriga o autor a expor, no primeiro ca-pítulo, as diferentes etapas que a an-tropologia portuguesa e seus “etnógra-fos espontâneos” teriam atravessado.A primeira fase coincide com as déca-das de 1870 e 1880. Neste período, acultura popular é vista como um uni-verso formado quase que exclusiva-mente pela literatura e pelas tradiçõespopulares. Um segundo grande perío-do corresponde à virada do século. É omomento em que se precipita a crise damonarquia e se aproxima a instalaçãoda I República. Além da literatura e dastradições populares, as tecnologias, acultura material, as formas de vida eco-nômica e social passam a integrar aagenda de pesquisa. Ao mesmo tempo,começam a ser esboçados contatos maissistemáticos com os protagonistas pro-dutores de tais tradições. Tal é o casode Rocha Peixoto, cujos artigos maisimportantes resultam de reconhecimen-tos in loco, que se estendem por todo onorte do país. Simultaneamente, essaampliação empírica coincide com umadominância do evolucionismo e uma
concepção historicista da cultura popu-lar. Por isso, o camponês é visto, sobre-tudo na concepção de Rocha Peixoto,como uma espécie de primitivo moder-no. Já no terceiro período, que vai de1910 a 1920, a cultura passa a ser vistacomo sinônimo de arte popular, com-preendendo um conjunto de objetos (aolaria, o traje tradicional, a casa) quedevem, antes de tudo, ser vistos e apre-ciados. A etnografia transforma-se, li-teralmente, em “etnografia artística”,expressão que, segundo João Leal, eracomum nos textos da época. Aquelaprimeira preocupação com o textual ce-de lugar a uma concepção eminente-mente visual da cultura popular. Oquarto período se desenvolve da déca-da de 30 até os anos 70, coincidindocom o Estado Novo em Portugal, e secaracteriza por uma diversidade maiorde atores, que o autor distribui em trêsgrupos: um grupo constituído pelos et-nógrafos mais ligados ao Estado Novo,cuja política teria reservado um lugarextremamente importante ao folclore;outro grupo vinculado a Jorge Dias,que seria sem dúvida a figura centralda antropologia portuguesa nessesanos; e um terceiro composto por umconjunto de intelectuais vinculados deforma menos sistemática à etnografia eà antropologia. Com formações muitovariadas (artistas, arquitetos, músicos)e com posicionamentos políticos relati-vamente diversificados, este últimogrupo procurou, segundo João Leal,construir um contradiscurso em face dodiscurso etnográfico do Estado Novo.
O capítulo 2 explora os argumentosque concederam aos lusitanos um lu-gar privilegiado na lista etnogenealó-gica da nação portuguesa. Um dos pro-tagonistas em levar adiante as teses lu-sitanistas foi o arqueólogo Joaquim Sar-mento que, entre 1876 e 1879, procedeua uma autêntica exumação dos lusita-
nos como antepassados étnicos de Por-tugal. No entanto, com o tempo, o ex-clusivismo das teses lusitanistas foi per-dendo força, sobretudo por meio do tra-balho de Jorge Dias, que valoriza cadavez mais um pluralismo etnogenealógi-co como modelo explicativo da singu-laridade portuguesa. Isto deixa, semdúvida, uma porta aberta para sua pos-terior adesão ao luso-tropicalismo.
O capítulo 3, encerrando a primeiraparte do livro, analisa alguns ensaiosque se empenharam na busca de umasuposta psicologia étnica para o imagi-nário nacional português. Nessas discus-sões aparece o tema quase onipresenteda decadência nacional. Assim, AdolfoCoelho (1847-1919), preocupado comos fatores de degenerescência do povoportuguês, sustentava que tal decadên-cia era uma espécie de doença étnicade Portugal. Esta visão será retomadapor Rocha Peixoto, sobretudo em seuensaio pioneiro O Cruel e Triste Fado(1897), cuja caracterização negativa daalma nacional chega ao ponto extremo.
Um dos temas estruturantes do ca-ráter nacional português teria sidoinaugurado, com êxito, por Teixeira dePascoaes. Trata-se do que João Leal de-fine como a invenção da saudade. Sen-do poeta, escritor e ensaísta, o saudo-sismo, concebido dessa vez como ummovimento literário específico, encon-trará eco em algumas derivações da et-nografia portuguesa, por meio de umconjunto de estudos sobre a literaturapopular entre 1910 e 1920. Essas análi-ses são o prelúdio para que, na décadade 50 (quando os estudos sobre o cará-ter nacional já estavam na agenda detrabalho da antropologia norte-ameri-cana), Jorge Dias realize sua contribui-ção mais sistemática e influente sobreo assunto.
O capítulo 4 inaugura a segundaparte do livro, dedicada às “Guerras
RESENHAS226
RESENHAS 227
culturais em torno da arquitetura popu-lar”. É centrado no protagonismo deRaul Lino como impulsionador do Mo-vimento da Casa Portuguesa e, portan-to, como formulador de um tipo portu-guês de habitação popular que teriacontribuído para o processo de refun-dação da nacionalidade. Esse movi-mento se envolveu em uma reciclagemerudita e estetizante de alguns compo-nentes da cultura popular rural.
O capítulo 5 descreve como, nosanos 30, o Movimento da Casa Portu-guesa foi contestado e questionado porum grupo de “etnógrafos espontâneos”:tratava-se dos engenheiros do InstitutoSuperior de Agronomia que, naquelaépoca, realizaram um amplo Inquéritoà Habitação Rural, cuja metodologiacentral consistia em estadas periódicasno campo: “Observada pelos engenhei-ros agrônomos, a casa popular deixa deser analisada através de qualidades co-mo a beleza, a harmonia da composi-ção, o vicejo da cor, para passar a servista a partir de categorias como a mi-séria, a sujidade, a falta de condiçõeshigiênicas, o cheiro nauseabundo, etc.”(:163). Por conta dessas discussões, oargumento de João Leal evoca proble-máticas mais amplas, cujas coordena-das oscilam entre dois extremos: de umlado, as tentações culturalistas (ampa-radas, muitas vezes, em uma fascina-ção estetizante); de outro, os apelos in-tervencionistas sob a boa consciênciade uma espécie de reformismo social.Em última instância, podem ser lidosaqui, quase nas entrelinhas, os desafiossempre recorrentes em torno do parcultura/desenvolvimento.
No capítulo 6, João Leal detém-seem outro grupo de “etnógrafos espon-tâneos”. Trata-se, desta vez, de um gru-po de arquitetos que depois de realiza-rem sucessivas viagens pelo interior ru-ral redigiu o Inquérito à Arquitetura
Popular em Portugal. O Inquérito bus-ca ir um pouco além das críticas refor-mistas dos engenheiros agrônomos.Busca-se agora fazer uma leitura da ar-quitetura popular sob o prisma do mo-dernismo, cada vez mais divulgado naEuropa dos anos 50. Esse grupo de ar-quitetos evidencia, além disso, umacrescente sensibilidade etnográfica pa-ra reconhecer a multiplicidade das ex-pressões da arquitetura ao longo de to-do o país. Em sua qualidade de críticosdo modelo unitário da “casa portugue-sa”, o autor coloca os arquitetos do In-quérito na mesma sintonia das contri-buições etnográficas de Veiga de Oli-veira, analisadas no capítulo 7.
O livro termina com um instiganteensaio, inspirado em James Fernandez,sobre as narrativas da identidade pro-vincial (que compõe a terceira e últimaparte do livro: “Nação e região: répli-cas, apropriações, resistências”). JoãoLeal toma o caso dos Açores, cuja sin-gularidade (atribuível, entre outras coi-sas, a seu caráter insular) opera em tor-no do seguinte dilema: são os Açoresuma espécie de Portugal diferente ou,pelo contrário, constituem um Portugalem escala reduzida e, portanto, um mo-delo identitário a ser seguido para a“grande pátria” portuguesa?
O fato de o autor ter optado, se-guindo a distinção de George Stocking,por considerar a antropologia portu-guesa como um discurso comprometi-do com a construção da nação (antesque com a construção de um Império)autoriza-o a privilegiar um repertóriode textos específicos. Não é problema-tizado, portanto, o fato contundente deque, em determinado momento da his-tória de Portugal, o labirinto da deca-dência nacional (sobre o qual refleti-ram vários dos autores analisados porJoão Leal) encontrou uma saída: o Im-pério. Vistas as coisas deste modo, a
antropologia portuguesa poderia serdepositária também de uma infinidadede “etnógrafos espontâneos”, dissemi-nados por todo o ultramar português.Este ultramar cobria um espaço trans-continental que, no imaginário nacio-nalista do Estado Novo (e nas própriasleis), foi representado como uma sim-ples extensão territorial (e muitas ve-zes cultural) de Portugal. Sob tal des-centramento, seria possível também re-direcionar a própria discussão em tornoda identidade nacional, a qual muitasvezes se nutriu dessa alardeada voca-ção ultramarina. O próprio Jorge Dias,que começou fazendo trabalho de cam-po no norte de Portugal e acabou nonorte de Moçambique, viu-se obriga-do, em virtude de seu itinerário etno-gráfico, a refletir em um tom lusotropi-calista sobre os supostos benefícios deuma identidade portuguesa desterrito-rializada e plural.
No mais, o trabalho de João Lealconstitui, sem dúvida, um esforço ana-lítico que nos adverte a todo momentosobre o caráter parcial e instável dosempreendimentos identitários. Com e-feito, através dos porta-vozes do “po-vo” e da “cultura popular”, é possívelvislumbrar que a identidade nacional éproduto de um campo de disputas sem-pre em movimento.
LOMNITZ, Claudio (org.). 2000. ViciosPúblicos, Virtudes Privadas: La Cor-rupción en México. México: CIESAS/Miguel Angel Porrua. 294 pp.
Marcos Otavio BezerraProfessor, Departamento de Sociologia da UFF
Ao assumir a presidência do México,Vicente Fox estabeleceu como uma dasprincipais prioridades de sua adminis-
tração o combate à corrupção. Sua dis-posição para enfrentar a questão e anecessidade, ao mesmo tempo, de ofe-recer uma resposta às expectativas dapopulação quanto às freqüentes de-núncias de irregularidades na adminis-tração pública conduziram o presiden-te a anunciar no primeiro dia de seu go-verno a implementação de um progra-ma anticorrupção. Estudos internacio-nais preocupados em quantificar o va-lor dos recursos públicos desviados pa-ra a corrupção no México estimam queeste corresponda a aproximadamente15% do total dos impostos (federais, es-taduais e municipais) recolhidos anual-mente. Trata-se de algo acima de US$30 bilhões que deixam de retornar paraa população sob a forma de investi-mentos e programas públicos. O livroorganizado por Claudio Lomnitz, doCentro de Estudos Latino-Americanosda Universidade de Chicago, constitui,por um lado, uma importante contribui-ção para o entendimento das razõespelas quais o combate à corrupção éapresentado como uma das principaispolíticas públicas no México e, por ou-tro, oferece um conjunto de estudosúteis para integrar uma análise compa-rativa do fenômeno.
Vicios Públicos, Virtudes Privadas:La Corrupción en México originou-sedo simpósio “Corrupção e Sociedadeno México”, realizado em fins de 1995na Universidade de Chicago. Além doprefácio e da introdução, que pode serlida como um programa de pesquisaonde são apresentadas hipóteses equestões que articulam os textos, am-bos elaborados pelo organizador, com-põem o livro doze artigos produzidospor historiadores, sociólogos, antropó-logos e cientistas políticos. Os textossão dispostos em três partes: “Corrup-ção no Antigo Regime. Do Mundo Co-lonial à (Des)Ordem Republicana”,
RESENHAS228
RESENHAS 229
“Corrupção e Formação de Classes So-ciais no Século XX” e “Corrupção, Ri-tual Político e Sacralização do Estado”.A cada uma das partes corresponde res-pectivamente uma questão a que ostrabalhos propõem oferecer uma con-tribuição mais direta: a transformaçãohistórica dos discursos da corrupção esua vinculação com mudanças políti-cas, econômicas e culturais; o lugar dacorrupção administrativa e política noprocesso de formação das classes so-ciais; a associação entre corrupção e re-presentação política. Pensado a partirde sua variação de sentido e diversida-de de formas de manifestação, o fenô-meno da corrupção é tomado, o que meparece uma perspectiva frutífera, comoum ponto de vista particular para aconstrução de reflexões sobre as socie-dades nacionais e, especialmente, nãoobstante a categoria corrupção lhe an-teceder, os princípios de ação e as rela-ções estabelecidas em torno dos Esta-dos nacionais.
Um dos maiores obstáculos para aelaboração de análises consistentes so-bre as condutas concebidas como cor-ruptas são as dificuldades encontradaspelos pesquisadores para reunir mate-rial empírico sobre a questão. Como sesabe, as práticas corruptas e corrupto-ras distinguem-se, particularmente, porsua invisibilidade social, até o momen-to em que aparecem sob a forma de de-núncias públicas. Essa dificuldade écontornada pelos autores através dautilização de materiais diversos e damobilização de estratégias de análisecriativas sobre o fenômeno. Assim, acorrupção é construída como objeto apartir, por exemplo, de processos inqui-sitoriais e jurídicos do período colonial,de cartas de religiosos e funcionáriosda administração colonial, de denún-cias de imprensa, de observação direta,entrevistas, estudos de caso, do exame
de trajetórias políticas e empresariais erituais políticos.
O exame desse material é efetuadode modo que aquilo que se tem por cor-rupção em cada momento e situação éinscrito no universo de representaçõese práticas sociais rotineiras. Essa preo-cupação pauta a maioria dos artigos, ea apreensão do fenômeno da corrupçãoa partir dessa perspectiva constitui oponto forte da coletânea. Assim, pode-mos acompanhar nos artigos como acorrupção se conecta com diferentesdimensões e atividades da sociedademexicana. Para não ir além de algunsexemplos pode-se remeter ao modo co-mo ela se associa à moral religiosa, àsações jurídicas, ao crescimento e ex-pansão de atividades financeiras (comobancos) e empresariais, ao sistema eações políticos e às atividades lúdicas(como as festas locais). Em todos essescasos, a corrupção não é descrita comoalgo que está à margem das atividadesou instituições; ao contrário, o que é res-saltado é o modo como estas e as práti-cas corruptas se fomentam mutuamen-te. A imagem que surge das descriçõesé a da existência de um conjunto de re-des pessoais (constituídas por relaçõesfundadas em múltiplos interesses) quevinculam órgãos e programas públicosa diferentes setores e grupos sociais. Aestes últimos, essas ligações proporcio-nam, entre outros aspectos, a não apli-cação ou aplicação em condições favo-ráveis dos regulamentos estatais e autilização e apropriação privada de re-cursos públicos (simbólicos e materiais).Assim, o que se designa como corrup-ção surge claramente como uma rela-ção social cuja interpretação se assentaem elementos históricos e culturais.
Se o estilo analítico garante umacerta unidade aos textos, os tópicos eargumentos apresentados apontampara uma ampla variação. S. Alberro
(“Control de la Iglesia y TransgresionesEclesiásticas durante el Periodo Colo-nial”) contribui para a discussão sobrea dimensão histórica da noção de cor-rupção ao estudar processos de trans-gressões de caráter civil e religioso co-metidas por ministros e auxiliares daIgreja nos séculos XVII e XVIII. L. Ar-nold (“Sociedad Corporativa, Corrup-ción Corporativa: La Resistencia a laSubordinación y al Abuso de Poder”)examina a utilização do “recurso defuerza”, um dispositivo jurídico, comomeio de proteção a abusos de poder noperíodo colonial. E. Semo (“De la Colo-nia a la Independencia: La Línea Ima-ginaria entre lo Público y lo Privado”)discute como a cobrança e comerciali-zação de um imposto público (“diez-mo”) por parte do Estado, Igreja e oli-garquias locais abre múltiplas possibi-lidades de fraude e corrupção. F. Katz(“La Corrupción y la Revolución Mexi-cana”), a partir do estudo das várias fa-ses da Revolução Mexicana, examina aquestão da percepção da corrupção esugere que o grau em que os líderescumpriam suas promessas e o seu enri-quecimento pessoal eram elementosimportantes no julgamento de suas con-dutas feito pelos revolucionários e a so-ciedade. G. de la Peña (“Corrupción eInformalidad”) examina, no contextourbano contemporâneo de Guadalaja-ra, as ações de quatro tipos de atoreseconômicos em situações de informali-dade e suas conexões com agentes go-vernamentais e políticos que, em trocado afrouxamento na aplicação das nor-mas oficiais, lhes asseguram ganhos pe-cuniários. D. Nugent (“La Corrupción aBajo Nivel: Las Zanjas y la Sucesión deum Puesto Político”) analisa a ascensãoe queda de um político municipal presoàs engrenagens do partido governantee visto pela população como envolvidoem irregularidades na elaboração de
obras públicas. L. A. Ramírez (“Cor-rupción, Empresariado y Desarrollo Re-gional en México. El Caso Yucateco”)argumenta que a corrupção não só fazparte da cultura empresarial mexicana,mas é algo inerente ao processo deacumulação de capital, e tem conse-qüências negativas para a estruturaeconômica regional e o crescimentoeconômico. L. Astorga (“Traficantes deDrogas, Políticos y Policías en el SigloXX Mexicano”) examina as mudançasnas relações mantidas ao longo do sé-culo XX entre traficantes e agentes ofi-ciais e conclui que o tráfico se desen-volve de modo articulado aos canaispolíticos e administrativos do Estado. F.V. Ugalde (“La Corrupción y las Trans-formaciones de la Burguesía en Méxi-co, 1940-1994”) sugere que a corrup-ção, além de ser um elemento constitu-tivo do sistema político mexicano cujascaracterísticas são definidas pelo presi-dencialismo, é também uma fonte derecursos para a burguesia nacional. S.D. Morris (“¿‘La Política Acostumbrada’o ‘Política Insólita’? El Problema de laCorrupción en el México Contemporá-neo“) se propõe a discutir os fundamen-tos da continuidade da corrupção noMéxico e as possíveis mudanças emseus padrões em decorrência do impac-to de mudanças sociais e políticas maisamplas. C. Lomnitz (“Ritual, Rumor yCorrupción en la Conformación de los‘Sentimientos de la Nación’”) centra-sena discussão da constituição de esferaspúblicas, no papel dos rituais na forma-ção de comunidades políticas e na arti-culação desses espaços através de ri-tuais políticos cuja realização supõe for-mas de corrupção. Finalmente, F. Esca-lante (“Piedra de Escándalo. Apuntessobre el Significado Político de la Cor-rupción”) sugere que as denúncias decorrupção surgem para preencher umvazio ideológico, decorrente da inexis-
RESENHAS230
RESENHAS 231
tência de grandes temas ou esperançaspara os políticos, isto é, para dar umnovo sentido moral à política.
Se a análise da corrupção a partirde sua inscrição nas representações epráticas cotidianas das entidades e ins-tituições públicas e privadas é respon-sável pelas contribuições mais signifi-cativas dos textos, essa maior atençãoconferida aos fenômenos aos quais acorrupção está relacionada acaba, porsua vez, sendo também responsávelpelos limites de alguns artigos. O queme parece ocorrer é uma espécie dedesequilíbrio da análise em favor dosfenômenos tidos como necessários aoentendimento da corrupção – como autilização do “recurso de fuerza”, o exa-me da Revolução Mexicana ou a cons-trução de espaços públicos e rituais –,fazendo com que esta última seja in-cluída na discussão de forma secundá-ria. Sente-se falta nesses casos de umaarticulação mais sistemática entre osaspectos examinados ao longo dos tex-tos e o fenômeno da corrupção.
No México, como no Brasil, à cen-tralidade do fenômeno da corrupção nasociedade e nos discursos públicos nãocorresponde um interesse dos cientis-tas sociais pelo tema. As razões quefundam essa espécie de silêncio – quecomeça a ser rompido em função so-bretudo de preocupações e questõescondicionadas pelos interesses de agên-cias e entidades internacionais (ONU,Banco Mundial e G-7) – ainda estão porser explicadas e não se resumem, cer-tamente, ao problema de acesso ao ma-terial empírico. Nesse contexto, os arti-gos reunidos no livro consistem emuma louvável contribuição para a intro-dução de um ponto de vista mais dis-tanciado e analítico em um universo dedebates em que predominam os discur-sos jornalísticos e as tomadas de posi-ções políticas.
MARGARIDO, Alfredo. 2000. A Luso-fonia e os Lusófonos: Novos MitosPortugueses. Lisboa: Edições Univer-sitárias Lusófonas. 89 pp.
Igor José de Renó MachadoDoutorando, Unicamp
O livro A Lusofonia e os Lusófonos éum libelo contra uma forma hegemôni-ca do pensamento social português, re-presentada por intelectuais, colunistasde importantes jornais e intelectuais or-gânicos do partido do governo (o PS) edo leque político que se estende até aextrema-direita. Sob uma ironia refina-da e uma crueza ácida, Margarido põeà mostra as entranhas nada gloriosasdessa forma de pensamento que domi-na a Comunidade dos Povos de LínguaPortuguesa (CPLP) e a diplomacia por-tuguesa e que, embora ignorada noBrasil (como, ademais, o próprio Portu-gal), é insidiosa e efetiva na relação dePortugal com os países africanos que selivraram do jugo português após san-grentas guerras coloniais. É insidiosatambém na organização interna da imi-gração para Portugal que, de acordocom as regras da União Européia, fe-cha as portas aos imigrantes das ex-co-lônias. Nesse sentido, a lusofonia afetadiretamente a vida dos cerca de 50 milbrasileiros imigrantes em Portugal, secontarmos apenas os números oficiais.
Margarido considera que a partirde 1960 se deu o rompimento de Portu-gal com o Atlântico, momento marcadopelas guerras coloniais, imigração epelo nacionalismo racista. A lusofoniasurge como ferramenta ideológica pararecuperar esse espaço atlântico, apa-gando a história colonial e as relaçõespolêmicas com os povos de língua por-tuguesa, mediante a tentativa de con-trole da língua “mãe”. A importância da
língua aumenta apenas quando desa-parece o controle direto das popula-ções e, após 1974, quando se lhe confe-re o papel que foi dos territórios coloni-zados: o de recuperar a grandeza por-tuguesa. Ao mesmo tempo, controlam-se cada vez mais as populações “resi-duais” dos tempos coloniais – os imi-grantes – em Portugal e no restante daEuropa. Exibe-se a contradição entre apretensão de um “espaço lusófono” e oexagero da submissão portuguesa àsleis de Schengen, que cria uma Europaracista, eugênica e desumanizada. Eessa violência racista é dirigida, em ca-da país, a grupos específicos (em Por-tugal, são os cabo-verdianos o alvo pre-ferencial do racismo, diz o autor, maspodemos acrescentar: os moçambica-nos, guineenses e brasileiros).
O discurso da lusofonia encampaum projeto missionário de “civilização”após as guerras coloniais (nesse senti-do, pós-colonial), agora focado na lín-gua. O primeiro sintoma dessa viradaacontece com a mudança de vocabulá-rio após as independências africanas,similar à francofonia, criando um su-posto “espaço lusófono” e uma históriacomum cor-de-rosa. A contradição apa-rente é que o atual europeísmo da Uni-ão Européia condena os particularis-mos nacionais (principalmente o dospaíses mais pobres da União), o queimpede a formação de espaços lusófo-nos, francófonos ou hispanófonos reais,como fica claro pelas políticas de con-trole de imigração cada vez mais durase desumanas na Europa. Só há e só po-de haver espaço lusófono em um dis-curso mítico.
Margarido critica a visão lusófonado passado, como se o “Outro” só exis-tisse após o encontro com algum nave-gador português, esquecendo-se a ou-tra face do encontro: a invasão. Alémdisso, faz digressões sobre o trauma
ocorrido com a independência do Bra-sil em 1822, que levou o discurso colo-nial português a reafirmar os “direitos”às demais colônias e populações. Essetrauma surge e ressurge de várias ma-neiras: ou escamoteando a indepen-dência brasileira como sendo um fatorportuguês, dado que foi proclamada porD. Pedro I, ou vendo no Brasil um Esta-do-filho ou Estado-irmão mais novo,implicando sempre laços que devemmanter tais países unidos (se o Brasilcontinuar sempre infantilizado).
A partir da década de 20, os nacio-nalistas brasileiros passam a se preocu-par com o povo, e Gilberto Freyre vaiderivar o Brasil do apetite sexual por-tuguês. Mas o luso-tropicalismo só exis-te em Portugal no pós-45, quando oque já era ruim é mutilado para servir àhegemonia colonial portuguesa, fe-chando os olhos a toda sorte de violên-cias (que culminaram nas malfadadasguerras coloniais), barrando inclusive apossibilidade de modernização do país.Aqui não se pode deixar de dizer queMargarido produz um “nacionalismoalternativo”, que luta contra a lusofo-nia para que Portugal chegue à moder-nidade. Como um exilado permanente,lecionando na França, e como um dosprincipais críticos do colonialismo por-tuguês, Margarido pode ser visto comoum intelectual “contra-hegemônico”.
Outra contradição da lusofonia é aatual preocupação com a língua, quenunca foi objeto de cuidados quandoda época colonial. No Brasil e nos paí-ses africanos (até 1961) não se criaramuniversidades e a política de não-edu-cação era uma forma de manter o esta-tuto de inferioridade do colonizado. Osafricanos sem escrita eram considera-dos “fora da história” e só “entram nahistória através das formas de domina-ção” (:51). A língua passa a ser, depoisde ignorada sistematicamente pelo co-
RESENHAS232
RESENHAS 233
lonialismo tardio português, o elemen-to de continuidade da dominação colo-nial, e “a exacerbação da ‘lusofonia’assenta nesse estrume teórico” (:57).Recorrendo a Saussure, o autor de-monstra como uma comunidade lin-güística é baseada na religião, convi-vência, defesa comum etc., o que é de-finido como etnismo. A relação desseetnismo com a língua é uma relação dereciprocidade, ou seja, é a relação so-cial que tende a criar a língua, portan-to, a língua não pode ser a pátria deninguém. Essa fórmula pessoana apa-ga o peso dos “costumes” nas conside-rações sobre a língua, fazendo com queos povos com outros costumes possamser lusófonos apenas por falarem por-tuguês (minha pátria é minha língua...mas quem é que manda nessa pátria?).A idéia de uma pátria lingüística é umahierarquia que apenas repõe aquela doImpério.
É interessante ver o papel da línguabrasileira em Portugal, através do avan-ço da mídia brasileira na Lusitânia. Naverdade, essa presença influenciadoraé profundamente incômoda para a in-telectualidade portuguesa, que acabapor reduzi-la a um sinal da “criativida-de” natural do brasileiro. Esse falar bra-sileiro “criativizado” pelos portuguesesrepõe o mesmo preconceito lusófono: acriatividade e a criação artística são ooutro lado da selvageria e, portanto, anatural criatividade do brasileiro é maisum sintoma de sua inferioridade inte-lectual, pois ao criativo é negada a ra-zão, como forma de tentar conter den-tro das estruturas de um lusofonismodetestável a presença da fala brasileira.
Aqui se pode questionar Margari-do, mesmo reconhecendo a irônica pro-vocação que é elevar a língua brasilei-ra ao status de “língua oficial” da su-posta lusofonia. Para tentar desmontare provocar a intelectualidade portu-
guesa, profundamente incomodadacom a presença do falar brasileiro, Mar-garido argumenta que é a língua brasi-leira a mais bonita, maleável e “eróti-ca” e, portanto, a única candidata auma suposta língua lusófona. É ques-tionável recorrer, para criticar a lusofo-nia, à imagem estereotipada que elaprópria reproduz, ao acentuar o caráter“erótico” do português falado no Bra-sil. Uma das características da lusofo-nia é a separação entre civilização eselvageria, na qual Portugal representao processo civilizatório e a língua equi-vale a “civilizar”. Se assim é, o apelo à“natureza erótica” da fala do brasileiroé mais um recurso, mesmo quando usa-do ironicamente, à lusofonia, pois obrasileiro erotizado é rebaixado ao pó-lo “selvagem” dessa divisão básica dodiscurso lusófono. De fato, não é a falado brasileiro que é erótica (afinal, o queé isso?), mas é porque ele é visto demodo erotizado que a fala é considera-da erótica. Isto por si só dá a entenderao leitor brasileiro a força desse discur-so lusófono em Portugal, pois nem mes-mo seu crítico mais ácido consegue sedesvencilhar dele completamente.
Ora, a lusofonia não passa de um“doce paraíso da dominação lingüísticaque constitui agora uma arma onde sepodem medir as pulsões neo-colonia-listas que caracterizam aqueles quenão conseguiram ainda renunciar à cer-teza de que os africanos [e brasileiros,acrescentaria] só podem ser inferiores”(:71). A lusofonia serve como ferramen-ta de manutenção das distâncias racis-tas em que se baseou o discurso colo-nial após seu fim sangrento, apagandoo passado e recuperando a antiga he-gemonia. O que Margarido não diz ex-plicitamente, mas que se pode derivarde seus argumentos, é como serve a lu-sofonia de estrutura da ordem hierár-quica que escalona os imigrantes, “re-
síduos” do Império que procuram emPortugal fugir ao desastre que em casafoi a herança portuguesa. É uma supre-ma (e dolorida) ironia que os imigran-tes sirvam como o campo preferencialde reordenação simbólica da ordemimperial.
Embora ao leitor brasileiro o temada lusofonia debatido por Margaridopraticamente não faça o menor sentido(o que é ótimo e dói nos ouvidos portu-gueses), para os países africanos recém-saídos do – e destruídos pelo – períodocolonial, a temática lusófona é, no mí-nimo, repugnante. Mas é preciso aler-tar ao potencial público objeto da ideo-logia “lusófona”, os falantes de portu-guês, a não jogar o jogo da lusofonia,seja por subordinação causada pela mi-séria (no caso de Moçambique, Ango-la, São Tomé, Cabo Verde e Guiné), se-ja por desprezo (no caso do Brasil). En-tre outras causas, é justamente por es-se grande desprezo da opinião públicabrasileira, que o mecanismo da CPLPpode curvar-se ao lusofonismo tacanhodo governo português. Para imigrantesbrasileiros e africanos das ex-colônias,entretanto, o discurso da lusofonia éuma armadilha terrível, pois o espaçolusófono, como mito que é, nunca serealizará na prática. A busca por direi-tos “especiais” baseados na lusofoniapor parte de associações imigrantes
oriundas do desastre colonial portu-guês, além de infecunda, apenas refor-ça essa “ideologia-estrume” (no dizerde Margarido).
OLIVEIRA, João Pacheco de. 1999. En-saios em Antropologia Histórica. Riode Janeiro: Editora UFRJ. 272 pp.
John M. MonteiroProfessor, Departamento de Antropologia, IFCH/Unicamp
Dividido em quatro partes, Ensaios emAntropologia Histórica reúne oito tex-tos de João Pacheco de Oliveira sobretemas variados, revelando a trajetóriaacadêmica de um dos mais destacadosetnólogos do país. Escritos em momen-tos diferentes com objetos e objetivosdiversos, os ensaios trazem uma cons-telação de observações perspicazes, per-cepções originais e lições pertinentesde antropologia. Sempre preocupadoem explicitar suas opções teóricas, suasposturas perante as políticas do Estadoe seu compromisso com a responsabili-dade social do antropólogo, João Pa-checo mostra-nos várias faces dos múl-tiplos dilemas que o antropólogo en-quanto etnógrafo, cientista social e ci-dadão enfrenta neste início de milênio.
O título do livro, antes de anunciarum recorte interdisciplinar específico,na verdade ganha vários sentidos aolongo dos oito capítulos. Já na apresen-tação, o autor estabelece que, “[n]estelivro, a dimensão histórica foi escolhidacomo estratégica para uma reflexão so-bre as sociedades e culturas indígenasdo Brasil”, pois, segundo ele, uma com-preensão dessas sociedades e culturas“não pode passar sem uma reflexão euma recuperação críticas de sua dimen-são histórica”. Por “dimensão históri-ca” ele entende os “eixos espaço-tem-porais” nos quais os indígenas atuamcomo “sujeitos históricos plenos” (:8).Se este caminho já vem sendo trilhadona etnologia brasileira há algum tem-po, ainda persiste no Brasil a imagem
RESENHAS234
RESENHAS 235
empedernida dos índios como eternosprisioneiros de uma idade da pedra. “Épreciso”, escreve João Pacheco, “reti-rar as coletividades indígenas de umamplo esquema dos estágios evolutivosda humanidade e passar a situá-las nacontemporaneidade e em um tempohistórico múltiplo e diferenciado” (:9).Na medida em que esta perspectivaanalítica é evocativa de uma termino-logia e de um conceituário da antropo-logia política de algumas décadasatrás, o autor busca atualizar o signifi-cado e o alcance de algumas noções-chave – como a de “situação” – para osdesafios da etnologia no Brasil hoje. Hásituação para tudo quanto é gosto: si-tuação colonial, situação histórica, si-tuação etnográfica, situação de pesqui-sa, situação de perícia. Destas, a queganha destaque especial é a situaçãoetnográfica. Assim, o olhar para a di-mensão histórica diz respeito não ape-nas à interação dos protagonistas quesão os objetos da antropologia, mastambém coloca em primeiro plano ascondições conjunturais que influencia-ram a produção antropológica, a come-çar pelo trabalho de Nimuendajú e de-sembocando na antropologia do pró-prio autor.
Esse exercício ganha força na pri-meira parte do livro, cujo título tão am-plo quanto vago (“Etnografia Amazô-nica”) esconde o caráter específico doobjeto: a história ticuna. No texto ini-cial, Oliveira coteja “uma narrativa his-tórica convencional”, isto é, baseadaem documentos escritos e guardadospelos agentes indigenistas, com uma“possível história indígena”, esta pre-dicada na “atualização, dentro de de-terminada conjuntura, de uma formanarrativa da tradição ticuna” (:55). Acomplementaridade da análise históri-co-antropológica é bem ilustrada noexemplo de Manuel Pereira Lima, Ma-
nuelão, chefe do Posto Indígena Ticunanos anos 40 que, ainda hoje, possui umaimagem favorável entre os índios (“Foipuro chefe bom!”, segundo um infor-mante). Criticando as limitações de uma“análise situacional” para explicar aimagem de Manuelão, o autor afere umpeso decisivo às “tradições culturais”ticuna: “[A] sua enorme capacidade demobilização e a autoridade de que a suapalavra estava investida são fatoresque só podem ser explicados com refe-rência às crenças e costumes tradicio-nais dos ticuna” (:40).
O segundo artigo desta parte trazum excelente ensaio sobre a presençade Curt Nimuendajú entre os Ticuna.Mais especificamente, aborda o lugarde Nimuendajú na história ticuna e,concomitantemente, o lugar da históriaticuna na etnologia de Nimuendajú. Aorealizar uma “etnografia da situação depesquisa”, João Pacheco refina o es-pectro de análise introduzido no pri-meiro capítulo, exemplificando atravésde Nimuendajú “como transformaçõeshistóricas e de maior envergadura sãopensadas pelos ticuna, indicando, in-clusive, o importante papel que, segun-do as tradições nativas, os brancos de-sempenham nesse processo” (:63).Nimuendajú, é claro, não constituía umbranco qualquer. Testemunha ocularde um movimento profético em plenaebulição, o etnólogo alemão explicitoua intencionalidade por trás de sua pes-quisa participante, em uma carta a He-loísa Alberto Torres: “Fiz uma romariaa esses lugares sagrados dos ticuna, oque aumentou enormemente a simpa-tia deles por mim” (:73). Mais uma vez,esse registro histórico-documental écotejado com uma versão nativa, estapautada pelo princípio da reciprocida-de. Segundo os informantes ouvidosem 1981 por João Pacheco, “os ticunagostavam muito dele [Nimuendajú] […]
porque ele gostava muito dos ticunatambém” (:77).
Mas o ponto central do ensaio resi-de na análise da “situação etnográfica”,uma conjuntura histórica específica es-truturada em torno da “tríade” forma-da pelo “pesquisador, os nativos e osbrancos que os dominavam”. Em virtu-de do controle que os patrões exerciamsobre os índios nessa tríade, o papel deNimuendajú foi rapidamente transfor-mado em uma postura de “contestaçãoe estímulo à resistência por parte dosindígenas”. Nesse sentido, argumentao autor, nota-se “o involuntário (e qua-se inevitável) envolvimento do etnó-grafo em processos sociais que afeta-ram a população estudada”, tornando-se, na verdade, “um agente de mudan-ça em escala local” (:86-87). O exem-plo de Nimuendajú entre os Ticuna – eisso certamente vale para a experiên-cia prévia do mesmo etnólogo entre osApapocúva-Guarani – aponta para a“singularidade” da etnologia brasilei-ra, na qual a pesquisa etnográfica en-tre sociedades indígenas necessaria-mente acompanha a “ação indigenis-ta”. Reatualizado de maneira dramáticaem anos recentes, esse “nexo latente”continua a se expressar “não somentenas intervenções públicas dos etnólo-gos (enquanto cidadãos), mas tambémnas suas relações com os índios e a so-ciedade, nas condições de pesquisa enos esforços interpretativos” (:90-91).
Essa incursão pela história da an-tropologia abre caminho para os outrosensaios de antropologia histórica quecompõem a segunda e terceira partesdo livro, nas quais o nexo entre etnolo-gia e indigenismo se torna bem menoslatente. A parte II (“Atravessando Fron-teiras Étnicas”) traz dois ensaios sobrea “mistura”, o que pode se referir tantoaos chamados “índios misturados”quanto à mestiçagem interdisciplinar.
O primeiro deles é uma versão do con-trovertido artigo que apareceu em Ma-na em 1998, no qual o autor critica osestudos “americanistas” por seu “des-conforto” diante das “populações indí-genas de baixa distintividade cultural”(:99). O texto gira em torno de três te-ses que o autor considera como obstá-culos teóricos para uma melhor com-preensão das sociedades indígenas noBrasil. As teses são, na verdade, strawmen, ou seja, construções do próprioautor buscando ilustrar a posição deoutros que não são claramente identifi-cados. A primeira tese diz respeito àsuposição de que “os índios (tal comofalamos deles hoje) sempre existiram”.Há, suponho, um consenso entre os an-tropólogos contemporâneos quanto aoequívoco da tese, porém é importantesublinhar suas implicações no contextoespecífico das “identidades emergen-tes”. À medida que os antropólogos lu-tam contra a reificação da cultura e dasunidades socioculturais, as identidadesemergentes freqüentemente se fixamem marcadores essencializados, taiscomo o etnônimo e um território “histó-rico”. O que leva, aliás, à segunda tese-problema: esta diz respeito à “conexãoentre uma etnia específica e um espaçogeográfico”. Nesse ponto, o autor con-sidera infrutíferos os esforços de antro-pólogos e historiadores em tentar esta-belecer tal conexão, sugerindo que amaior contribuição que pode surgir daspesquisas etnohistóricas reside na ne-cessidade de “repensar o processo defragmentação e reconstituição das uni-dades étnicas, recuperando os fluxosculturais e as interconexões existentesentre elas” (:120).
Essa idéia de “fluxos culturais”, em-prestada de Ulf Hannerz, também apa-rece na crítica à terceira e mais proble-mática tese. Neste caso, João Pachecoformula a tese entre aspas, sem citar o
RESENHAS236
RESENHAS 237
possível autor da frase: “[P]ara conhe-cer a verdadeira singularidade de umacultura indígena seria preciso perse-guir os elementos de sua cultura origi-nária ou autóctone, isentos da máculada presença de instituições coloniais”.Aqui o autor se refere ao paradoxo quetanto marcou as etnografias clássicasque, apesar de produzidas no contextodo avanço colonialista, apresentavamas sociedades primitivas como sistemasfechados e totalmente independentesda influência do contato com o Ociden-te. Também se refere à idealização dacultura indígena presente nos clássicosda etnologia brasileira, mesmo sob aégide da noção de aculturação e, por-tanto, do paradigma da mudança cul-tural. Mas a crítica parece se dirigir aoutro endereço: aos “estudos america-nistas”, ou seja, à área de estudos et-nológicos voltados para as terras bai-xas da América do Sul e centrados naAmazônia. Para o autor, entre as “prio-ridades e premissas” desses estudos fi-guram “uma idealização do passado ede uma pureza original, [uma] naturali-zação da situação colonial e ainda [uma]etnologia das perdas culturais”. Estasprioridades e premissas teriam de serdiscutidas, segundo o autor, “à luz deuma antropologia histórica” (:118, ên-fase do autor).
Mas qual antropologia histórica?Aqui as possibilidades de diálogo setornam difíceis, pois estamos falandode concepções distintas de história e deagendas diferentes para a etnologia.No capítulo que segue, sobre os índiosnos censos nacionais, o autor identificaem termos mais explícitos o que ele en-tende ser o uso limitado da noção dehistória nos estudos americanistas. Nes-tes, “a história é somente um veículotransportador dessas culturas, de suacondição passada de plenitude até omomento atual [...] ocasião em que mui-
tas vezes já estão despojadas de suaunidade e sistematicidade” (:124). Acrítica de João Pacheco pode fazer al-gum sentido, tendo em vista que umaparte expressiva dos estudos etnológi-cos dá relativamente pouca importân-cia ao contato e ao colonialismo na aná-lise e na explicação das estruturas so-ciais e simbólicas dos índios. Mas o au-tor parece exagerar na dose, deixandode levar em conta que uma problemati-zação da história vem sendo um doselementos mais importantes que carac-terizam os atuais estudos etnológicossobre as sociedades indígenas na Ama-zônia. Do mesmo modo, assistimos tam-bém nesses estudos a um progressivoabandono do enfoque sobre unidadesfechadas e à correspondente aberturapara sistemas regionais multissocietá-rios e multilingüísticos.
A terceira parte do livro, “Indige-nismo, Pluralismo e o Papel do Antro-pólogo”, apresenta três ensaios que,apesar de um pouco menos preocupa-dos com a antropologia histórica, repi-sam vários temas suscitados nos textosanteriores. No ensaio que aborda o lu-gar dos índios na formação histórica doEstado nacional, surge uma penúltimagradação da noção de antropologia his-tórica, à medida que o autor pincela amaneira pela qual os índios foram (esão, em muitos casos) caracterizadoscomo artefatos do passado, “fósseis vi-vos” nas palavras marcantes de um ser-tanista da Funai. Retomando alguns co-mentários sobre a demografia indíge-na, João Pacheco chama a atenção pa-ra a ambigüidade do binômio exclu-são/inclusão. O “senso comum” susten-ta que os índios são sempre “exterioresà sociedade nacional” (:130), o que le-vou os censos comuns a enfeixar popu-lações em categorias genéricas de clas-sificação social, freqüentemente refe-renciadas no ideal da mestiçagem (ca-
boclos, pardos). Do mesmo modo, a “re-presentação mais comum sobre o ín-dio” desloca-o para o passado, “seja aosprimórdios da humanidade, seja aosprimeiros capítulos da História do Bra-sil” (:196). Mas esse deslocamento é re-lativizado constantemente pela reno-vação do mito da avó índia caçada a la-ço ou a dente de cachorro, na verdadetão presente na Amazônia e no Nordes-te quanto no interior paulista ou catari-nense. A proximidade genealógica dosíndios às famílias brasileiras – semprepela linha materna, como observa o au-tor (algo “confirmado” recentementepor pesquisas de geneticistas em Mi-nas Gerais) – realça o caráter ambíguoda exclusão e levanta questões interes-santes sobre o laço entre o “senso co-mum”, o pensamento social e a políticaindigenista ao longo dos últimos doisséculos.
O autor encerra o livro com um lon-go depoimento – o antropólogo por elemesmo –, apresentando uma autobio-grafia intelectual na forma de um me-morial. Geralmente uma leitura reser-vada às bancas de concursos de provase títulos, o memorial constitui um gê-nero narrativo que, via de regra, é es-crito de maneira perfunctória. Vencidoo “peculiar desconforto” inicial do et-nógrafo ao se defrontar com a tarefa daauto-etnografia (desconforto, aliás, nãocompartilhado por todos os etnógrafoscontemporâneos), o autor trata da pró-pria carreira com a mesma sensibilida-de e estilo que marcam os primeirosensaios do livro. Encontramos, nestaseção final, uma última variante da“antropologia histórica”: trata-se dotempo e da trajetória do autor, subme-tidos a uma (auto)análise processual.Investindo no estilo, o autor conduz oleitor pelos meandros de sua formaçãoatravés da metáfora da viagem – metá-fora esta também utilizada por ele em
seus estudos sobre o fenômeno da“emergência étnica” (A Viagem de Vol-ta). Diferente do viajante onisciente dopassado, o etnógrafo contemporâneocai inevitavelmente nos blurred gen-res: é simultaneamente navegador eaprendiz, é tanto sujeito quanto objeto.Sensível à força das categorias colonia-listas, não as abandona mas as domes-tica, em uma nova rotação de perspec-tiva. É ele que é batizado, é ele que ex-perimenta a conversão. E é ele que sepropõe a realizar a viagem de volta:pensa em “utilizar a própria experiên-cia de trabalho de campo para refletirsobre a relação entre situação etnográ-fica e produção científica” (:259). Emseu conjunto, para fazer eco ao bomprefácio de Roberto Cardoso de Olivei-ra que apresenta o livro, Ensaios emAntropologia Histórica entra no roteirode leituras obrigatórias dos colegas deprofissão. É uma leitura importante tam-bém para os jovens estudantes de an-tropologia, que hoje dispõem de um le-que cada vez mais aberto de depoi-mentos e de diários de antropólogos,revelando aspectos da formação, daaventura do trabalho de campo, dos di-lemas políticos e, sobretudo, da respon-sabilidade social do pesquisador.
RICARDO, Carlos Alberto (ed.). 2000.Povos Indígenas no Brasil, 1996-2000.São Paulo: Instituto Socioambiental.832 pp. (mapas, ilustrações, gráficos,tabelas).
Francisco Silva NoelliProfessor, Universidade Estadual de Maringá
A publicação dessa obra de consultaobrigatória consolida e coroa o esforçode várias pessoas devotadas à autode-terminação dos 350 (ou 500) mil “indí-
RESENHAS238
RESENHAS 239
genas” no Brasil, dando continuidade àpublicação dos balanços/relatórios Po-vos Indígenas no Brasil 1987-1990 e Po-vos Indígenas no Brasil 1991-1995. Tra-ta-se de um sólido guia que traça o per-fil mais atual e completo das múltiplasfacetas do cotidiano vivido dentro e fo-ra das Terras Indígenas (TIs), fruto dapermanente atualização do banco dedados do Instituto Socioambiental (ISA)com as mais diversas informações dasua área de atuação.
O livro, cuja edição é a mais beladentre todas as edições de Povos Indí-genas no Brasil, está ricamente rechea-do com informações de primeira linha,iniciando com doze narrativas indíge-nas sobre a origem do mundo, a chega-da dos brancos e o descobrimento doBrasil, uma delas registrada no Mara-nhão do início do século XVII. É com-posto de 81 artigos assinados, inéditosem sua maioria, escritos por acadêmi-cos, indígenas, indigenistas, jornalistase políticos. Reproduz uma larga sériede 1.713 matérias/notícias anterior-mente publicadas, completas ou resu-midas, extraídas de periódicos e jor-nais, sintetizando os principais eventosque em todo o Brasil envolveram índiose não-índios. Estão incluídos quadroscom documentos avulsos, leis e proje-tos de lei que retratam a situação jurí-dica e as demandas pró e contra a au-todeterminação dos diversos povos. Osseus 27 mapas foram preparados a par-tir de imagens de satélite, propiciandoao leitor meios muito precisos paraidentificar locais e temas diversos, des-de a posição geográfica das TIs até as-pectos mais específicos como áreas dedesmatamento e a identificação de ja-zidas para mineração. Há muitas tabe-las, com destaque para a “lista dos po-vos indígenas no Brasil contemporâ-neo”, que apresenta dados sobre o no-me de cada povo, outros nomes ou gra-
fias, família/língua, UF (Brasil), paísesvizinhos, censo/estimativa populacio-nal, ano da informação. São importan-tes as tabelas que revelam detalhes re-gionais sobre as populações, a situaçãojurídica das suas terras e várias outrasobservações úteis para a compreensãode aspectos locais. Foram incluídas 270fotografias, diversos grafismos, algu-mas charges que embelezam a obra eampliam sua capacidade documental enarrativa.
Apresenta entrevista com o ex-pre-sidente da Funai, Carlos Marés, e co-mentários sobre a legislação atual, so-bre os projetos de lei em tramitação noCongresso e sobre aqueles em proces-so de elaboração. Foram realizadas aná-lises sóbrias, informativas, a respeitodo confronto de interesses em relaçãoàs riquezas das TIs e ao conhecimentobiológico tradicional, camuflados no bo-jo de complexos aparatos legais que fo-ram gerados visando a exploração deminerais, de biotecnologia, de madei-ras e das drogas vegetais.
Há a divulgação dos resultados daprimeira pesquisa nacional de opiniãoISA/IBOPE, em que 2 mil entrevistadosmanifestaram suas opiniões a respeitodos povos indígenas. A análise das res-postas revelou que os brasileiros urba-nos ou que vivem longe das áreas indí-genas possuem opiniões favoráveis aessas populações, com margens acimade 70%. Também revelou o interessepositivo pelo futuro dos povos indíge-nas, especialmente pela preservaçãodos seus territórios e manutenção dassuas culturas.
Os 81 artigos destacam os princi-pais temas em pauta ao longo dos cin-co anos abrangidos pela obra, tanto osassuntos mais antigos e recorrentes, co-mo o das demarcações, quanto as ques-tões mais recentes, a exemplo do direi-to autoral, do direito de imagem, do di-
reito de usufruto e o reconhecimentodo papel das comunidades indígenasna preservação da biodiversidade.Além desses, merecem destaque os ar-tigos que abordam os avanços da edu-cação indígena, a exploração e as pre-tensões para exploração do subsolo dasTIs, a questão das missões religiosas, odesenvolvimento sustentável na Ama-zônia, as manobras políticas contra aautodeterminação, a consolidação dasassociações indígenas e o estado emque se encontram os projetos governa-mentais de desenvolvimento regional.Também são enfocados temas como aquestão da saúde e das doenças, o avan-ço do conhecimento das línguas e oproblema da sobreposição de TIs comos diversos tipos de áreas de preserva-ção ambiental. Destaque para o aper-feiçoamento dos censos e dos estudosdemográficos, que revelam crescimen-to populacional, em que pesem as con-dições precárias em que vivem muitaspopulações, as altas taxas de mortali-dade infantil de alguns povos e o graveproblema das epidemias, com ênfase emum surto de catapora que ocorreu re-centemente, matando 3% dos Araweté.
As informações específicas sobre ospovos indígenas vêm distribuídas con-forme uma divisão geográfica preesta-belecida: 1) nordeste amazônico; 2) Ro-raima lavrado/Roraima mata; 3) Ama-pá/norte do Pará; 4) Solimões; 5) Java-ri; 6) Juruá/Jutaí/Purus; 7) Tapajós/Ma-deira; 8) sudeste do Pará; 9) Nordeste;10) Acre; 11) Rondônia; 12) oeste doMato Grosso; 13) Parque Indígena doXingu; 14) Goiás/Tocantins/Maranhão;15) leste do Mato Grosso; 16) Leste; 17)Mato Grosso do Sul; 18) Sul. Para todasas regiões foram incluídas notícias so-bre as TIs e alguns artigos que sinteti-zam as diversas questões e eventos queocorreram nos últimos anos e um resu-mo dos processos históricos mais signi-
ficativos que desembocam em aconte-cimentos que agora recebem grandedestaque.
O principal mérito do livro é a trans-parência do firme posicionamento polí-tico que sustenta a trama dos seus arti-gos e dados diversos, agindo franca-mente pelo estabelecimento da autode-terminação dos povos indígenas, basea-dos nos melhores valores éticos e cien-tíficos. Essa atuação não decorre ape-nas do cotidiano do grupo do ISA e dosseus colaboradores, mas do constanteexercício de aprendizagem em termospolíticos, científicos, jurídicos e huma-nitários. A construção contínua do ban-co de dados e a ampliação constante docampo de atuação do ISA, cabalmentemanifestadas nos três densos volumesdos Povos Indígenas no Brasil, são re-veladoras do alto nível profissional, damobilidade operacional ímpar em ter-mos de instituições brasileiras e da ca-pacidade de compor alianças produtivasem torno da causa indígena, diante delutas muito duras. Enfim, é um livro queresulta da soma de boas qualidades hu-manas e profissionais, tornando-se opainel mais completo sobre a situaçãoindígena no Brasil do fim do século XX.
RESENHAS240