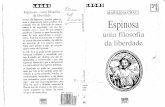Educação e liberdade: apontamentos para uma prática pedagógica não coercitiva.
Transcript of Educação e liberdade: apontamentos para uma prática pedagógica não coercitiva.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 1
ÍNDICE
Editorial Página 2
TEXTO INTRODUTÓRIO
Educação e liberdade: apontamentos para uma prática pedagógica não coercitiva.
Página 3
Filipe Rangel Celeti
ARTIGOS
A abordagem da escola austríaca sobre as formas de competição nos processos de
mercado. Página 10
Felipe Rosa da Silva
As mídias sociais na primavera árabe: Os desdobramentos do uso das redes sociais na
Tunísia. Página 32
Gabriela Bristot Boff
Disparidades regionais e concentração produtiva: possíveis políticas de
desconcentração de renda para solucionar a herança do desenvolvimentismo
intervencionista brasileiro. Página 48
João Victor Guedes
Capitalismo, liberdade e, por fim, democracia? Página 59
Anderson de Souza Oliveira
A Questão Ambiental pela Ótica dos Direitos de Propriedade. Página 71
Adriel Santos Santana e Tarcísio Magalhães Azevedo
Projeto Gráfico: Sophia Costa
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 2
EDITORIAL
É com grande satisfação que os Estudantes Pela Liberdade apresentam a segunda edição
da revista Estudos Pela Liberdade. O grande objetivo desta revista é ser um meio de divulgação
e compartilhamento de conhecimento entre estudantes liberais, e acreditamos que a segunda
edição é um passo adiante na consolidação deste projeto.
A revista Estudos Pela Liberdade tem como princípio divulgar artigos com temas
relacionados à liberdade em uma pluralidade de disciplinas, e tal feito foi especialmente
alcançado nesta revista. Agradecemos aos autores que enviaram os seus artigos à edição e
permitiram que tal feito fosse alcançado; são eles Felipe Rosa da Silva, Gabriela Bristot Boff,
João Victor Guedes Neto, Anderson de Souza Oliveira, Adriel Santos Santana e Tarcísio Magalhães
Azevedo.
Nesta segunda edição, inauguramos uma nova seção, o Texto Introdutório, escrito por um
professor convidado sobre um tema livre. O texto introdutório inaugural foi escrito por Filipe
Rangel Celeti, a quem a edição agradece especialmente por ter aceitado o convite e nos enviado
um excelente texto.
Por fim, esta edição é dedicada a todas as pessoas envolvidas na publicação da primeira
edição da revista Estudos Pela Liberdade. Elas foram essenciais ao darem os primeiros passos em
um novo caminho, armados com nada além da própria visão. Apenas seguimos esta trilha iniciada
por eles. Muito obrigado.
Matheus Assaf
Editor da Revista Estudos Pela Liberdade
Membro do Conselho Executivo do Estudantes Pela Liberdade
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 3
TEXTO INTRODUTÓRIO
EDUCAÇÃO E LIBERDADE: APONTAMENTOS PARA UMA PRÁTICA
PEDAGÓGICA NÃO COERCITIVA
Filipe Rangel Celeti1
Resumo: No debate sobre temas referentes à liberdade, a perspectiva abordada pela tradição
liberal vê a liberdade como liberdade negativa, isto é, como ausência de coação. O modo formal
de olhar para a liberdade pode ser negligente para com a liberdade que é vivenciada no corpo.
Numa perspectiva educacional, olhar apenas para a coação exercida por exigências legais retira
do debate a prática pedagógica. É preciso discutir as contribuições das diferentes tendências
pedagógicas para a construção de uma prática pedagógica livre. Neste sentido, os defensores do
ensino domiciliar (homeschooling) precisam pensar não apenas num ambiente sem coação
estatal, mas também numa prática pedagógica não coercitiva.
Palavras-chave: Educação, liberdade, coerção, homeschooling.
1 Filipe Rangel Celeti é mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
com graduação em Filosofia pela mesma instituição. Leciona disciplinas para graduações em Pedagogia na Faculdade
Diadema e na Faculdade Sumaré.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 4
INTRODUÇÃO
No debate sobre temas referentes à liberdade, a perspectiva abordada pela tradição
liberal é ver a liberdade como liberdade negativa. Neste ponto de vista a liberdade é um
conceito formal, sendo resumido à máxima “liberdade é ausência de coação”. Para uma
discussão política puramente teórica é importante que o termo esteja bem definido, porém há
outros pontos que podem enriquecer o debate acerca da liberdade.
O que a tradição – não apenas liberal, mas filosófica – negou durante muito tempo foi a
presença do corpo. A liberdade pode ser conceituada, mas a condição de estar livre é sentida no
corpo. Uma algema retirada do pulso não é simplesmente a ausência da coação para com a
mobilidade, há uma experimentação física. O metal gelado é retirado da pele, o sangue passa a
circular melhor e há o regozijo da troca da condição de preso para a condição de livre. Todo
regozijo é sentido no corpo, há alteração da frequência cardíaca, no ritmo da respiração e
diversas outras mudanças físicas e hormonais que vão do suor à tremedeira.
Com isto, não intento dizer que a liberdade resume-se às alterações físicas que
proporciona. Contudo, coação para com o indivíduo não pode ser resumida a uma coação apenas
formal, pois ela é também uma coação para com o corpo. É intuito abordar a liberdade num
contexto escolar-educacional levando em conta os processos de amarras físicas que a
escolarização produz e multiplica.
Uma abordagem apenas política e econômica é capaz de discutir temas referentes à
qualidade, à eficiência e ao direito, por exemplo. A perspectiva deste trabalho é discutir a
possibilidade de um ensino não coercitivo. Trata-se não apenas de abordar a coerção exercida
constitucionalmente ao obrigar os pais, pela força da lei, a enviarem seus filhos a uma
instituição de ensino, mas de observar que a realização política prussiana da obrigatoriedade
legal do envio dos infantes, reproduzida posteriormente pelas outras nações que se
consolidavam na modernidade, não é uma obrigatoriedade apenas conceitual. As consequências
físicas para este tipo de decisão constitucional são a retirada do tempo de vida, o confinamento
espacial, o condicionamento físico e motor, bem como todo tipo de conformismo social através
do domínio psicológico. Estas formas de controle e domínio poderiam ser facilmente abolidas
com a abolição do sistema educacional e das condições jurídico-criminais que obrigam os pais a
enviarem seus filhos para a escola.
Entretanto, seria ingenuidade imaginar que apenas a não obrigatoriedade educacional-
escolar construiria um ambiente de plena ausência de coação. Há diversos fatores que impedem
a plena realização da liberdade dentro deste tema. Um primeiro problema é a constatação de
que nem todos os pais possuem condições intelectuais e temporais para realizarem o ensino
domiciliar (homeschooling). É preciso frisar que uma defesa da liberdade é a defesa de que os
pais que desejarem aplicar esta modalidade de ensino devem estar livres para fazê-lo. Sem a
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 5
obrigatoriedade de enviar filhos para uma escola, alguns pais escolheriam ensiná-los em casa,
mas muitos outros pais, desejosos em educar seus filhos e sem tempo ou condições,
continuariam a enviá-los para uma escola. Por este motivo é preciso pensar não apenas num
ambiente sem coação estatal, mas também numa prática pedagógica não coercitiva. É
incompatível uma luta contra o poder coercitivo do Estado e a manutenção de uma prática
coercitiva.
Prática Pedagógica Livre
A primeira necessidade é discutir o modelo pedagógico desejado para a prática da
liberdade, tendo em vista que as escolas não deixarão de existir mesmo com o fim da
obrigatoriedade da escolarização.
Começando com a produção bibliográfica libertária1 há o livro Education: Free and
Compulsory de Murray Rothbard. Neste paper, o fundador do moderno libertarianismo aponta
que o melhor ensino é aquele realizado numa relação um para um (ROTHBARD, 1999). Significa
que vê no antigo modelo de tutoria, no qual o preceptor se dedicava exclusivamente ao
aprendiz, a melhor realização do processo de ensino-aprendizagem. Não é um mero detalhe o
fato de este modelo ter um alto custo. É preciso um preceptor que possua fluência em diversos
saberes. Seu tempo de dedicação é um bem e precisa ser justamente ressarcido, isto é, o valor
pago deve ser um acordo entre ele e a família de seu aprendiz. O custo elevado torna esta
modalidade inviável para todos os bolsos, além de sua inviabilidade devido à falta de
profissionais capacitados.
Na esfera do factível Rothbard (1999) retoma um antigo conceito. Defende um ensino de
conteúdos primários, isto é, ler, escrever e contar. A criança precisa tomar posse da leitura e
escrita para que possa usar tais ferramentas para conhecer a produção intelectual da
humanidade. A matemática é a ferramenta necessária para desenvolver o raciocínio lógico e é o
suporte para se relacionar com os números. Saber contar é saber viver no mundo, saber trocar,
medir, pesar.
É certo que um conteúdo basilar permite uma abertura de horizontes e possibilidades. A
discussão acerca do que ensinar é extensa. Contudo, faz-se mister comentar um pouco sobre um
ponto doravante esquecido ou deixado à margem nas discussões libertárias que priorizam os
aspectos políticos e econômicos, a saber, o como ensinar.
Conteúdos devem ser pensados conjuntamente com o método de ensino. Independente
de ser escolar, domiciliar ou tutorial, o ensino precisa ser dado de modo que não exista coação.
É preciso aliar um ensino eficaz com a liberdade e aqui é preciso pensar em alguns pontos.
1 A terminologia libertária é tratada aqui referente ao libertarianismo (libertarianism), corrente do pensamento que defende liberdades econômicas e individuais. Neste sentido pertence à tradição liberal por defender a livre associação e trocas econômicas sem mediação estatal, também pertencendo a uma tradição anárquica pela defesa da ausência do Estado na definição de bem e de moral.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 6
Referente ao ensino escolar, contexto no qual há uma estrutura hierárquica, um
colegiado e discentes das mais variadas culturas, a escola tradicional impõe uma excelência e
disciplina que necessita ser seguida. Neste sentido, trata os alunos da mesma forma que a
tradição liberal trata os cidadãos. Todos são formalmente iguais. Esta igualdade formal não leva
em conta a individualidade, a pessoalidade e o fato de indivíduos possuírem estruturas mentais e
psíquicas diferentes dos demais pares. Formalmente, o tratamento igual pode ser uma
característica interessante, mas pedagogicamente é preciso levar em conta o indivíduo, sem
lidar com uma sala de aula como se houvesse homogeneidade.
Se o melhor ensino é o individual, não o coletivo, como educar coletivamente sem que o
ritmo e os conteúdos sejam violentos para as crianças? No pensamento pedagógico há algumas
possibilidades.
Um modelo pedagógico que se preocupou, em parte, com esta problemática foi o
movimento da Escola Nova. Um dos pontos levados em conta por pensadores como John Dewey,
Maria Montessori e, salvo as devidas diferenças, Jean Piaget, é pensar em quem está sendo
ensinado. É preciso compreender o indivíduo que está aprendendo, seus interesses, anseios e
estrutura psicológica. Neste sentido, a escola precisa levar em conta o tempo de aprendizado da
criança, seu interesse em aprender e suas capacidades motoras, psicológicas e intelectuais.
Apesar de não serem totalmente não dirigistas, os escolanovistas pensaram elementos que
permitem uma liberdade de aprendizado e, em certo grau, levam em conta o momento e
interesse da própria criança. Tais princípios colaboram na elaboração de uma pedagogia não
coercitiva em comparação com a pedagogia tradicional.
Muito mais centrada na ideia de não direcionar a criança está a proposta não diretiva de
educação, da qual Carl Rogers é seu principal defensor. Para ele, o professor deve ser um
facilitador do desenvolvimento, mas este ocorre internamente na criança. A educação é
centrada na criança, que deve se autorrealizar como indivíduo. O centro deste modelo
educacional é o self (eu). A criança precisa valorizar e buscar constituir a si mesma. Currículos e
avaliações não possuem espaço, pois “toda intervenção é ameaçadora, inibidora da
aprendizagem” (LUCKESI, 2011, p. 79).
De encontro aos modos de pensar acima, há o pensamento progressista, que foca na
construção de um indivíduo crítico perante a realidade. Este projeto libertador, na concepção
freireana, é marcado por um engajamento político de transformação social. A transformação,
porém, é marcada por uma visão de mundo inerentemente marxista. Neste sentido, visa
influenciar não diretamente o contexto escolar, mas extraescolar, com o intuito de transformar
a sociedade conjuntamente com a escola.
Uma perspectiva mais “libertária”, no sentido mais anarquista e menos libertarista, ataca
a própria estrutura escolar. O ensino deve ter como base a autogestão e a autonomia. Nos
termos do pensamento do educador brasileiro Tragtenberg, esta autogestão e autonomia estão
relacionadas com o coletivo, no caso os alunos. Esta linha do pensamento, que também faz uma
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 7
ponte com a ideia de Rogers, tem muito a acrescentar quando se pensa numa educação não
coercitiva. Obviamente que numa perspectiva individualista a ideia da construção coletiva tende
a encaminhar a prática para determinada heteronomia. Entretanto, o convívio com outros não é
determinante para a construção do indivíduo, visto que este não é apenas fruto de interações
sociais. A vivência, a experiência e as trocas favorecem o desenvolvimento da individualidade e
da pessoalidade dos sujeitos. Por outro lado, numa perspectiva de gestão escolar, escolas
autogeridas e cooperativas de pais para proporcionar ensino aos seus filhos são soluções
inteligentes no sentido de dissolver custos e propiciar métodos pedagógicos alternativos que
estejam de acordo com o ideal de ensino defendido pela associação de pais.
A abertura de possibilidades para pensar uma prática pedagógica livre está feita.
Controles escolares como conteúdos, horários, uniformes, uso do espaço arquitetônico,
hierarquia e métodos são e devem ser criticados. Todos eles afetam diretamente a ideia de que
a criança é dona de si mesma, tratando-a como pertencente aos responsáveis por sua educação,
como os pais, professores, sociedade e Estado. O não cerceamento da prática escolar possibilita
invenções e reinvenções. Este é o papel dos pensadores, professores, educadores e pais que
desejam educar.
Certamente que num ambiente sem intervenções, como a do Ministério da Educação,
haveria uma “concorrência” de modelos escolares. Pais observariam resultados e colocariam
seus filhos em colégios que se adequassem àquilo que buscam para seus filhos. Nesta busca por
uma utilidade do ensino, pais que visam educar, no sentido amplo do termo, devem se ater aos
aspectos não apenas conteudistas, mas também a uma forma de ensino que leve em conta a
criança como um indivíduo único.
Homeschooling e Relação entre Pais e Filhos
Discutimos modelos e práticas pedagógicas escolares. Precisamos discutir um pouco outro
aspecto da educação, aquele que se dá no primeiro ambiente socializador, a família.
Não há ambiente mais contraditório do que a família. A relação pais-filhos é permeada
por problemáticas que envolvem responsabilidades e direitos individuais. O papel e a função dos
pais e seus limites de atuação constituem enorme debate. A criança ainda não está totalmente
constituída e por este motivo há o debate sobre até que ponto os pais devem direcionar seus
filhos.
Um bom resumo sobre a questão foi apresentado por Stephan Kinsella, baseando-se nos
escritos de Hoppe e Rothbard1, ao escrever “quem é o dono do corpo de uma criança?
Inicialmente, os pais o são, como um tipo de tutor temporário.” (2008).
1 C.F.: Hoppe. Uma teoria sobre socialismo e capitalismo. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2010, e
Rothbard, A ética da liberdade. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2010.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 8
Ao que se segue:
os pais têm mais direitos sobre a criança do que quaisquer estranhos, por causa de seu
elo natural com a criança. Entretanto, quando a criança se "apropriar" de seu corpo,
estabelecendo o necessário elo objetivo suficiente para estabelecer a auto-propriedade, a
criança se torna um adulto, por assim dizer, e agora passa a ter uma melhor reivindicação sobre
seu corpo em relação a seus pais. (Idem)
Esta abordagem nos leva a pensar que, enquanto tutores temporários, os pais não devem
interferir na propriedade (autopropriedade) de seus filhos, muito menos suprimir suas liberdades
tornando suas casas aprisionamentos. A criança deve ser livre para poder sair de casa e é este o
argumento de Rothbard para a realização da maioridade, a condição de poder se autossustentar.
Deixando de lado a discussão legal sobre direitos positivos, amplamente discutida por
Rothbard e Hoppe, os pais possuem geralmente um desejo moral em educar seus filhos. É neste
ponto que é preciso pensar a prática educacional em casa como possibilitador da compreensão
da liberdade.
O primeiro ponto é a agressão física. Por mais que ideologicamente pais defendam a
palmada, este recurso não é efetivamente bom. Uma punição física, pela não adequação a uma
regra ou ordem, ensina à criança que a agressão é um recurso válido socialmente para conduzir
terceiros no caminho esperado. Definições de regras claras, construídas com as crianças, são
formas mais eficazes. É preciso levar a criança a refletir sobre suas ações para que perceba a
violação da liberdade e propriedade de terceiros. Uma educação livre não é obviamente um
total deixar fazer. É deixar fazer tudo aquilo que não agrida a liberdade e propriedade de
terceiros.
É preciso ter cuidado para que o convívio doméstico não se torne um aprisionamento.
Este aprisionamento é uma das críticas feitas aos adeptos do homeschooling. Tendo em vista as
práticas pedagógicas centradas na liberdade, os pais precisam estudar e se apropriar das ideias
de não dirigismo. Uma das maiores diferenças entre um ensino em casa e um ensino escolar é a
possibilidade de a criança aprender o que deseja no tempo que deseja. A intencionalidade da
criança é o que a motivará a direcionar seus estudos para aquilo que considera de mais valia e
esteja de acordo com suas aptidões naturais.
A restrição de atividades, horários e conteúdos torna-se uma reprodução do ambiente
escolar tradicional. O aprisionamento corporal pode dar-se em casa, tendo resultados contrários
aos desejados pelos pais.
CONCLUSÃO
Desejando-se pensar sobre educação e liberdade também se precisa desejar uma
educação não coercitiva. Os controles e restrições escolares afetam diretamente o
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 9
desenvolvimento intelectual, psíquico e físico. É preciso não apenas pensar uma escola sem
determinantes políticos e econômicos e seus dirigismos estatais, mas pensar um ensino não
coercitivo.
Retirar o Estado das questões educacionais possibilita novas invenções pedagógicas, da
mesma forma que a retirada da coerção pedagógica leva a novas invenções individuais. A
realização da plenitude do indivíduo autônomo não ocorrerá sem um ambiente propício. Assim, é
preciso que os defensores de liberdades individuais e econômicas pensem sobre suas ações. Pais
e professores desejosos em ensinar a liberdade possuem esta tarefa moral para com suas
crianças.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
KINSELLA, Stephan. Como nos tornamos donos de nós mesmos. São Paulo: Instituto Ludwig Von
Mises Brasil, 18 de Ago de 2008. Disponível em: http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=136 .
Acesso em: 30 de Jul de 2012.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. 3ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011.
ROTHBARD, Murray Newton. Education: free and compulsory. Auburn: Ludwig von Mises
Institute, 1999. Original em 1972.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 10
ARTIGOS
A ABORDAGEM DA ESCOLA AUSTRÍACA SOBRE AS FORMAS DE
COMPETIÇÃO NOS PROCESSOS DE MERCADO CAPITALISTA
Felipe Rosa da Silva*
Resumo: O processo de mercado capitalista é composto por inúmeras peculiaridades
intrinsecamente únicas. Uma das características mais intrigantes e debatidas no nosso atual
modo de produção encontra-se nas formas e tipos de competição inerentes a este sistema. A
Escola Neoclássica possui vasta literatura que dispõe sobre o tema, sendo esta corrente de
pensamento a mais usualmente utilizada nos centros de formação superior. Por outro lado, a
Escola Austríaca possui também uma gama enorme que trata do assunto em questão, trazendo
uma abordagem totalmente distinta da convencionalmente utilizada. Os neoclássicos consideram
que o monopólio e suas derivações estão intimamente ligados às falhas de mercado, sendo
assim, torna-se necessária a intervenção estatal como requisito corretivo para a não formação
de monopólios e a manutenção da concorrência perfeita. Para a Escola Austríaca a formação
monopólica está justamente atrelada à intervenção nos mercados, logo – em contraposição ao
que julga a síntese neoclássica – não são as falhas de mercado que propiciam as condições para a
formação dos mesmos, tampouco os mercados possuem condições de alcançarem a concorrência
perfeita. Portanto, as discrepâncias analíticas observadas entre os processos de competição no
modo de produção capitalista, demonstram que os mesmos nem sempre apresentam as
características expostas pela teoria neoclássica, tampouco, garantem que o debate sobre as
características e causas para a formação dos mesmos esteja encerrado. O insight da Escola
Austríaca apresenta-se como uma solução teórica interessante sobre como o monopólio se forma
e como se pode combatê-lo.
Palavras-chave: Microeconomia. Intervencionismo. Livre Mercado. Monopólio. Escola Austríaca.
* Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 11
INTRODUÇÃO
Não existe perfeição quando se trata do conhecimento humano. A onisciência é negada aos
humanos. A ciência não garante uma certeza final e absoluta. Ela fornece bases sólidas dentro
dos limites de nossas habilidades mentais, mas a busca pelo conhecimento é um progresso
contínuo e infinito.1
Em nossa sociedade as preocupações econômicas são recorrentes. Desde um pequeno
comerciante que está preocupado com a queda nas vendas a uma dona de casa que percebe o
aumento dos preços no mercado, ou mesmo um grande empresário angustiado com a alta dos
juros que afetam seus níveis de investimento, todos, a qualquer instante e a todo o momento,
por inúmeras vezes, relacionam-se com a economia sem saber ou sequer desejar essa interação.
Atrelado a todo esse movimento econômico, está um componente onipresente em
inúmeras discussões nos mais irrestritos lugares. A atuação governamental, social e/ou
econômica, enraizou-se em nossa sociedade. Ao governo atribuem-se a causa e a solução de
todos os problemas. Estudar o papel deste na vida das pessoas não é um tema novo ou pouco
recorrente em economia; ao contrário, a discussão sobre o tamanho do Estado é latente e
extremamente instigante e, portanto, não está esgotada.
Após essa análise e admitindo a presença do Estado na economia, o motivador do estudo
passa a ser a dimensão do mesmo. É nesse contexto que está o objeto principal dessa pesquisa: o
estudo acerca das formas de competição no modo de produção capitalista. Desta forma, a
análise focal está em estudar as formas e possíveis causas para a formação de monopólios,
abordando as diferenças nos argumentos teóricos inseridos pela teoria neoclássica e pela teoria
austríaca.
O grande diferencial pretendido é primeiramente esclarecer a confusão cometida
incessantemente quando se julga o processo de formação de monopólios como algo atrelado ao
que se denomina como “falhas de mercado”. Busca-se, concomitantemente, demonstrar que tais
falhas (quando existem) são temporárias e que a intervenção do Estado não as atenuam, pelo
contrário, as amplificam.
Logo, se o processo de formação monopólica, não está vinculado a problemas nos
mercados, pode-se encontrar – nesse contexto – uma argumentação em defesa do livre mercado
genuíno2 e da eficiência do processo de produção capitalista. Dessa forma, aborda-se o princípio
de livre mercado e da concorrência baseado na teoria Austríaca de Economia, no intuito de
demonstrar a eficiência superior da livre concorrência genuinamente desestatizada e evidenciar
que, ao contrário do aceito pela maioria dos analíticos do tema proposto, a geração de
1 CONSTANTINO, 2009, p. 25. 2 Para fins explicativos, o termo “genuíno” e suas derivações serão usados aqui no sentido puro da palavra, ou seja, segundo o latim
legitimus = verdadeiro/natural. Ver PRIBERAM, 2011.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 12
ineficiência e porventura de monopólios, não está atrelada aos movimentos da iniciativa privada
e, sim, ao fato de o governo intervir nesses processos.
Dessa forma, objetiva-se generalizadamente determinar que o processo de mercado
capitalista só é eficiente e eficaz, quando apresenta características genuínas de desestatização
no seu modo de produção, conjuntamente, procura-se comprovar que o livre mercado, quando
realmente desregulamentado, não incorre em monopólios.
Para a consecução do objetivo apresentado, formulou-se uma série de elementos
específicos que auxiliam na elucidação do exposto até o momento, são eles: revisar a teoria
microeconômica convencional1 sob a ótica da Escola Austríaca de Economia, especificamente as
diferenças conceituais sobre os processos de mercado e as formas de competição e analisar, à
luz da mesma corrente de pensamento supracitada, o papel do governo quanto interventor da
economia e das liberdades individuais, como referencial teórico imprescindível para a
compreensão da eficiência do livre mercado.
A justificativa encontrada para a resolução desse paradoxo encontra-se na necessidade
de diferenciarmos o equivoco recorrente e comumente aceito de que os processos de mercado
necessariamente rumam em direção à concentração de mercado. É extremamente importante
essa abordagem, pois ao trazer argumentos que refutam tal ideia, os mesmos necessariamente
implicam em uma alternativa ao intervencionismo econômico.
No meio acadêmico, essa pesquisa é relevante por trazer uma abordagem distinta sobre o
conceito de processo de mercado e formação de monopólios, tornando o estudo fundamental
para uma análise acadêmica mais embasada e criteriosa.
No que tange a sociedade, o estudo é importante por oferecer uma alternativa
argumentativa ao intervencionismo econômico, ajudando a esclarecer o papel inerentemente
privado da maioria dos segmentos da economia (mesmo os considerados como monopólios
naturais), onde a intervenção estatal contribui apenas na formação de monopólios ou cartéis.
Para fins metodológicos e no intuito de demonstrar o objetivo geral proposto, a
metodologia utilizada no transcorrer desse trabalho utiliza como método científico analítico a
abordagem dedutiva. Portanto, todas as análises estão embasadas em referencial axiomático
como base comparativa que auxilie no encontro de uma verdade específica num ponto interior.
Logo, é fundamental ressaltar que a finalidade desse estudo é de cunho teórico. Não por
acaso, usar-se-á como pesquisa toda a abordagem subjetiva da Escola Austríaca de Economia,
utilizando para isso, a pesquisa bibliográfica para pautar teoricamente a análise no que tange ao
alcance dos objetivos propostos, usando-se de métodos qualitativos nas interpretações dos
resultados expostos.
1 Por convencional, entende-se aqui, a teoria microeconômica usualmente utilizada nos manuais de microeconomia de viés
essencialmente neoclássico.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 13
A composição argumentativa que virá a frente está disposta em três seções, a começar
por esta. A segunda seção compõe a delimitação teórica do trabalho, iniciando com a literatura
usualmente utilizada nos manuais de microeconomia sobre as formas de competição e,
posteriormente, evoluindo para a abordagem microeconômica da Escola Austríaca sobre o
mesmo arcabouço teórico. A última seção apresenta as considerações finais.
MARCO TEÓRICO
A seção a seguir está disposta, primeiramente, por uma revisão sobre os conceitos
microeconômicos convencionais de vertente neoclássica acerca das formas de mercado, tipos de
competição e suas características. Posteriormente, apresentam-se (para fins de comparação e
contra argumentação) a abordagem da Escola Austríaca sobre os mesmos aspectos, com o intuito
de diferenciá-los dentro da teoria econômica.
2.1 Os ambientes de mercado em concorrência perfeita.
Em uma definição introdutória, porém imprescindível para a continuidade do estudo
proposto até aqui, é importante abordarmos quais são os ambientes de mercado que um
empresário depara-se frente às decisões de investir.
Toda firma em concorrência perfeita, defronta-se com duas decisões importantes: a
escolha de quanto ela deverá produzir e a escolha do preço que ela deverá fixar. Se não
existirem restrições para uma firma que maximiza lucros, ela provavelmente fixará um preço
arbitrariamente alto e produzirá uma quantidade arbitrariamente grande de produto. Logo, esse
tipo de ambiente concorrencial não pode ser considerado vantajoso ao consumidor, seja do
ponto de vista social e/ou econômico. Todavia, não se pode afirmar o mesmo do ponto de vista
do empresário já que é facilmente lógico imaginar que todo empregador gostaria que sua firma
atingisse um nível de poder de mercado que lhe permitisse trabalhar com a maior margem de
lucro possível e com a maior quantidade de produtos ofertados que o consumidor deseja
demandar.
2.1.1 As restrições às ações empresariais.
Visto a dificuldade de se imaginar um ambiente concorrencial tão irrestrito, cabe aqui
ressaltar quais são os entraves que as firmas encontram ao definirem as suas ações
concorrenciais.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 14
Primeiro, elas enfrentam as restrições tecnológicas resumidas pela função de produção. Existem
apenas algumas combinações factíveis de insumos e produtos, e mesmo a firma mais faminta por
lucros tem que respeitar as realidades do mundo material.1
Em um segundo momento, as firmas enfrentam o que se denomina como restrição de
mercado, ou seja, uma firma pode produzir certa quantidade “q” a um preço “p” desde que a
mesma oferte a quantidade que as pessoas desejam comprar. Portanto, pode-se chamar essa
relação, segundo Varian (1994, p. 403), “de Curva de Demanda com a qual a firma se defronta”.
É sempre importante ressaltar que, até o momento, todas as nossas análises estão
baseadas na incapacidade das firmas de influenciar nos preços ofertados por suas concorrentes,
ou seja, elas encontram-se em um ambiente puramente competitivo,2onde os produtos são
homogêneos. Logo, as mesmas preocupam-se somente com as quantidades produzidas
individualmente dado o preço vigente no mercado.
Em suma, nesse ambiente concorrencial, as dificuldades das firmas encontram-se na
escassez dos recursos (premissa econômica elementar), e, principalmente, na concorrência
mútua entre as empresas, elemento fundamental na obtenção de ganhos de eficiência e eficácia
na produção e consumo.
2.2 Concorrência perfeita x monopólio
A teoria microeconômica oferece uma variedade imensa de situações e comportamentos
distintos. Essa gama de flutuações torna o estudo da mesma fascinante e extremamente
complexo, afinal, a análise das relações microeconômicas (por não estar atrelado a agregados)
salienta ainda mais o alto grau de complexidade da ação humana. Ainda de forma bastante
tênue, pode-se dizer que essas relações estão estreitamente associadas ao estudo da praxeologia
e do conhecimento epistemológico da Escola Austríaca de Economia (elementos que serão
estudados à frente com maior rigor).
Contudo, é interessante abordar primeiramente o conceito clássico da literatura
microeconômica acerca do funcionamento dos mercados. Após descrever cada um, poder-se-á
aprofundar o estudo com o intuito de almejar o objetivo geral proposto.
1 VARIAN, 1994, p. 403. 2 Como o objetivo desse trabalho não é ater-se especificamente aos tipos de competição de mercado e sim ao estudo
dos ambientes concorrenciais inerentemente atrelados a essa pesquisa, recomenda-se ao leitor interessado em
aprofundar-se no assunto, a leitura de VARIAN, 1994, p. 404.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 15
2.2.1 O modelo de concorrência perfeita, suas condições e implicações.
Dentre as formas de concorrência estudadas, provavelmente o modelo de competição
perfeita seja o menos tangível em termos reais de mercados. Isso ocorre devido a inúmeros
fatores inerentemente complexos que estão presentes hoje nos mercados, características essas
que impedem que as premissas do modelo sejam atendidas, tornando-o quase impraticável nos
dias atuais.
Feito esse adendo empírico1, o que se pode dizer então sobre a concorrência perfeita?
Qual a relevância do seu estudo para a ciência econômica? O primeiro argumento que se deve
ressaltar é a diferença de abordagem do economista sobre mercados perfeitos, ou seja,
[...] os estudantes às vezes acham difícil compreender a princípio, porque a visão do economista
é bem diferente do conceito de concorrência usado por seus parentes e amigos no mundo
empresarial. Quando executivos empresariais falam de um mercado altamente competitivo, eles
em geral estão se referindo a um mercado em que cada firma está bastante ciente de sua
rivalidade em relação a alguns outros e em que publicidade, embalagem, modelo e outras armas
competitivas são usadas para atrair negócios. A característica básica da definição de
concorrência perfeita do economista é, em nítido contraste, sua impessoalidade. Nenhuma firma
vê outra como um concorrente na visão do economista, porque há um número muito grande de
fornecedores na indústria.2
Feita essa distinção conceitual, os mercados perfeitamente competitivos são definidos
em quatro premissas específicas. A primeira delas trata especificamente da homogeneidade dos
produtos, ou seja, em concorrência perfeita o produto de um ofertante é, necessariamente,
igual ao dos outros vendedores desse setor; sendo assim, o comprador não os diferencia entre o
vendedor “A” ou “B” desde que o preço seja o mesmo.
A segunda condição segundo Mansfield e Yohe (2006, p. 254) exige “que cada
participante do mercado seja um comprador ou um vendedor, e seja tão pequeno em relação ao
mercado inteiro que não possa afetar o preço do produto”. Essa premissa oferece uma relação
forte, dado que um produtor ou comprador não têm poder de mercado para influenciar nos
preços. A única forma de alteração dos mesmos, nessas condições, é se os produtores se
unissem. Contudo, isso só é possível em um mercado altamente concentrado, sendo que, essa
1 É importante ressaltar que um modelo não se torna inútil por não ser realista, a maioria dos manuais de microeconomia ratifica a
importância do estudo do modelo de concorrência perfeita mesmo que alguns de seus pressupostos não sejam aplicados ao mundo
real. Ver MANSFIELD; YOHE, 2006, p. 254.
2 MANSFIELD; YOHE, 2006, p. 253-254.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 16
cartelização do mercado rompe com o modelo de concorrência perfeita e os determinantes que
estimulam tal situação serão abordados a frente.1
Ainda em relação à segunda premissa, é interessante diferenciar o que é um mercado
muito ou pouco competitivo. É recorrente o pensamento de que um setor só é competitivo
quando nele encontra-se um número grande de empresas, assim como um setor seria pouco
competitivo por conter poucas empresas, esclarecendo:
Os termos muito e pouco referem-se não tanto ao número de firmas que existem num mercado,
mas à interação competitiva entre elas. Existem “muitos” vendedores de um produto quando
nenhuma firma possui um volume tão grande de vendas ou desfruta de uma posição de liderança
do mercado capaz de ameaçar as demais firmas por suas ações e decisões. Cada firma é pequena
o suficiente em comparação com o mercado como um todo, tornando-se quase uma entidade
anônima inserida num ajuntamento de outras firmas similares. Em contrapartida, dizemos que
existem “poucos” vendedores de um produto toda vez que as ações de uma firma influenciarem
as ações e decisões das firmas rivais. O termo “pouco” significa apenas que o número de firmas
existentes é pequeno o suficiente para que cada firma considere de suma importância prestar
atenção nas ações e decisões tomadas pelas firmas rivais.2
A terceira premissa que incide sobre o modelo de competição perfeita, pode ser
considerada como sendo a principal determinante para o que a literatura clássica julga como
“falhas de mercado”. A livre entrada e saída de empresas, bem como a completa e irrestrita
mobilidade dos fatores de produção (mão de obra, matérias primas, capital...) faz essa condição
ser considerada inerentemente utópica.
O que se pressupõe aqui é que as empresas migram de um setor para o outro sem grandes
custos e consequências, bem como os trabalhadores mudam-se entre regiões empregatícias com
facilidade e sem burocracia, e, por último, o acesso a matérias primas não está monopolizado.3
Tais características são dificilmente viáveis, pois essa premissa
[...] não é satisfeita com frequência em um mundo onde é preciso um considerável
retreinamento para permitir que um trabalhador se mova de um emprego para o outro e onde
patentes, grandes exigências de investimentos e economias de escala tornam difícil a entrada de
novas empresas.4
1 Aqui não abordaremos a visão austríaca sobre o surgimento de cartéis no livre mercado puro (genuíno). Porém, esse estudo
pretende identificar que os estímulos para formação de cartéis estão atrelados a ação governamental e, portanto, não se deve
atribuir o surgimento dos mesmos às falhas de mercado. Ver IORIO; 1997, p. 74-87 passim.
2 THOMPSON JR.; FORMBY, 2003, p. 175, grifo do autor.
3Kirzner contrapõe essa teoria, demonstrando que o acesso a matérias primas e recursos – por sua escassez – pode ser
monopolizado no livre mercado puro e que essa composição competitiva é justa e auto coordenativa. Ver KIRZNER, 1986, p. 77.
4 MANSFIELD; YOHE, 2006, p. 254.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 17
Por último, é necessário que os proprietários de recursos, consumidores e firmas, tenham
conhecimento perfeito dos dados econômicos e tecnológicos relevantes. Portanto, os preços são
completamente conhecidos pelos consumidores, os detentores de capital e de mão-de-obra
sabem qual é a melhor forma de uso e de alocação dos seus recursos, assim como qual é a
melhor rentabilidade para os mesmos, e as empresas devem conhecer todos os valores dos
insumos ofertados e identificar todas as tecnologias presentes e relevantes ao seu mercado1.
Ou seja, segundo Mansfield e Yohe (2006, p. 254) “em seu sentido mais puro, a
concorrência perfeita requer que todas essas unidades tomadoras de decisão econômica tenham
um conhecimento preciso do passado, do presente e do futuro”.
2.2.2 O conceito de monopólio e monopólio natural
Pode-se afirmar, sem equívocos, que o principal motivador dessa pesquisa está
inerentemente atrelado ao estudo desse tipo de mercado. Afinal, porque se formam monopólios?
Como eles funcionam? Quem os incentiva? É a busca dessas respostas e de tantas outras que essa
pesquisa se propõe.
Estudar esse tipo de “competição” é essencial para encontrar as respostas à problemática
apresentada até aqui e alcançar os objetivos pretendidos com essa investigação. Logo, é
necessário abordar todas as características desses mercados – afim de – pautar melhor os
argumentos que virão à frente.
As características de um mercado “monopolizado” são claras e facilmente
compreendidas. Em uma definição bem simples, pode-se dizer que o monopólio é, segundo
Varian (1994), o extremo oposto à concorrência perfeita, ou seja, é uma estrutura industrial
onde há apenas uma firma – um monopólio. Mansfield e Yohe (2006, p. 310) nos oferecem uma
definição alternativa interessante e paralela: “um monopólio existe sempre que há uma única
fonte de oferta”.
Contudo, até aqui apenas foi definido o monopólio. É imprescindível também ao presente
estudo entender as condições de formação dos mesmos. Pode-se dizer que quatro fatores
influenciam diretamente no fomento a essa estrutura competitiva. São eles:
O domínio ou pioneirismo tecnológico por parte de uma firma, de um insumo ou de uma
matéria prima, essencial na fabricação de um determinado produto;
Quando uma empresa consegue trabalhar com uma estrutura de custos médios que
alcança um valor mínimo para um determinado nível de produto, sendo esse suficiente para
1 À frente veremos que Hayek desmistifica esse paradigma, demonstrando justamente o contrário, ou seja, que o conhecimento
está disperso na sociedade e que cada individuo que a compõe possui uma pequena parcela do mesmo, tornando essa premissa de
completo e perfeito conhecimento falaciosa. Ver HAYEK; 1990, p. 69-79 passim.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 18
atender a demanda de mercado a um preço lucrativo para a firma, a mesma pode tornar-se
monopolista;
Um terceiro fator é a obtenção, por parte de uma firma, de patentes sobre determinados
insumos, ocasionando uma eminente posição monopolista da firma perante o mercado que a
mesma produz;
E, finalmente, uma empresa pode adquirir uma posição privilegiada (monopolista) frente
a um setor, através de uma concessão governamental do mesmo, desde que esta conceda a
autonomia na formação de preços e/ou retornos do capital investido, ao crivo governamental.1
Cada fator mencionado acima tem um alto grau de importância e auxilia na explicação
dos diferentes casos de monopólio. Contudo, o trabalho se deterá na análise primordial do
segundo caso2.
Por estar localizado neste caso específico de monopólio o principal argumento a favor da
intervenção do Estado nos mercados, a análise de um setor considerado como natural é o
principal objeto da teoria microeconômica que se pretende refutar nessa pesquisa. Considera-se
como um ambiente propício ao monopólio natural quando,
[...] os custos unitários de produção associados à produção em pequena ou média escala são tão
altos a ponto de impedir a entrada de novas firmas no mercado, os consumidores estarão mais
bem servidos se um único produtor for o responsável por toda a produção. Portanto, embora seja
tecnologicamente factível a existência de duas, três ou mais firmas no mercado em
consideração, é ineficiente do ponto de vista econômico ter mais de uma única firma nesse
mercado. As indústrias em que tais situações ocorrem são definidas como monopólios naturais.
Quando as condições de mercado favorecem a existência de um monopólio natural, geralmente o
governo concede a única firma os direitos exclusivos para a exploração de um mercado em
particular ou de uma determinada área geográfica; em contrapartida, o monopolista concorda
em se submeter à regulação do governo para proteger os consumidores contra o uso abusivo do
poder de monopólio. As firmas de serviços públicos são um exemplo típico de empresas de
monopólio natural.3
Fica evidente, dado esse cenário econômico, que a hipótese mais contestável e,
portanto, digna de um estudo maior é a afirmação de que, em tese, quando um setor
caracteriza-se como monopólio natural é mais eficiente para o consumidor que a concorrência
1 Os riscos inerentes desse arranjo monopolístico estão atrelados a “captura” da agência reguladora por parte da empresa que
possui a concessão. Ao leitor interessado nos aspectos perniciosos dessa situação recomenda-se a leitura de ROQUE, 2010.
2 O que não implica que a lei de patentes e o sistema de concessão de setores a iniciativa privada (terceiro e quarto fatores
respectivamente) estejam à mercê da intervenção governamental na formação de monopólios. Ver MANSFIELD; YOHE, 2006, p.
311-312.
3 THOMPSON JR. FORMBY, 1993, p. 191, grifo do autor.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 19
neste seja suprimida. Essa condição eficiente de Pareto1 é obtida através da concessão do
monopólio por parte do governo a uma empresa privada ou quando o próprio governo assume
esses setores econômicos de maiores externalidades2. Mansfield e Yohe (2006, p. 311) endossam
essa ideia afirmando que “o público com frequência insiste que o comportamento de monopólios
naturais seja regulamentado pelo governo”.
Existem ainda diversas abordagens acerca do monopólio (seja ele natural ou não). Em
uma definição complementar final a essa seção, é interessante destacar que a literatura usual
também admite essa forma de competição de mercados como ineficiente, visto que,
[...] uma indústria competitiva opera num ponto onde o preço se iguala ao custo marginal. Uma
indústria monopolizada opera num ponto onde o preço é maior que o custo marginal. Portanto,
em geral, o preço será mais alto e o produto menor se uma firma se comportar como um
monopólio do que se comportar competitivamente. Por essa razão, os consumidores estarão em
pior situação numa indústria organizada como monopólio do que numa indústria organizada
competitivamente.3
2.3 Falhas de mercado ou falhas de governo: a abordagem da Escola Austríaca de Economia.
Na ciência econômica alguns paradigmas enraízam-se como as grandes árvores fazem
junto ao solo. Estabelecidos, são difíceis de serem arrancados em sua origem. As recorrentes
falhas de mercado, tão usualmente usadas como subterfúgios para explicar os mais diversos
movimentos concorrenciais no sistema de produção capitalista, normalmente gozam de enorme
aceitação no chamado mainstream econômico.
Uma das poucas escolas de pensamento econômico que não converge para essa ideia é a
Escola Austríaca de Economia. Advinda do país que a denomina, a teoria austríaca de economia
surge no século XIX com Carl Menger e a teoria da utilidade marginal do valor. Com seus estudos,
Menger preconizou uma das escolas de caráter mais subjetivo da teoria econômica,
influenciando diretamente na continuidade e aprofundamento dos aspectos iniciados com a
chamada revolução marginalista.
Os austríacos consideram os mercados como processos dinâmicos em que as trocas
voluntárias entre um demandante (consumidor) e um ofertante (vendedor) são inerentemente
imprevisíveis, dada à impossibilidade de conhecer os rumos da ação humana. Considerando-se
que os mercados são compostos por indivíduos que trocam suas preferências a todo o instante e
1 Para uma definição detalhada do ótimo de Pareto, recomenda-se a explicação dada por VARIAN, 1994, p. 455.
2 Ao leitor que deseja conhecer o conceito de externalidades com maior rigor, recomenda-se a leitura de RIANI, 2002,
p. 34-38.
3 VARIAN, 1994, p. 451.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 20
de forma desordenada. Como imaginar que ao tirarmos uma foto de um determinado instante,
encontraremos na imagem desse momento estático todas as informações necessárias para saber
o que a precedeu e o que acontecerá em uma suposta continuação da imagem fotografada?
A Escola Austríaca afirma que é (metaforicamente falando) exatamente assim que a
maioria das escolas de pensamento econômico procedem em suas análises. Calculam e tentam
prever, por exemplo, a competitividade de algum setor produtivo, considerando-o como um
processo estático ou na melhor das hipóteses uniformemente variável. Em suma, o que a teoria
austríaca afirma é que tais processos são intrinsecamente imprevisíveis, logo, se os são,
evidentemente não estão em equilíbrio e, portanto, estão sujeitos a distorções e falhas.
É admitindo essas imperfeições que a Escola Austríaca diferencia-se das demais em sua
abordagem acerca das formas de competição (perfeita e monopolista).1 Ao aceitar que os
mercados, na melhor das situações, tendem ao equilíbrio sem nunca alcançá-lo, a teoria
austríaca considera como normal às imperfeições ocorridas nesse dinamismo econômico em que
os consumidores e empresários estão inseridos. Logo, se os critérios para a tomada de decisões
são integralmente compostos pela ausência de certeza, a economia está sujeita a inúmeros e
incalculáveis equívocos por parte dos agentes que a compõem. Esse movimento de tentativa e
erro/acerto é o principal estímulo à atividade empresarial e ao fomento da competição em uma
economia de mercado.
Portanto, aceitar e estudar as imperfeições ou distorções do mercado, rejeitando o
modelo de concorrência perfeita é um grande pressuposto da teoria austríaca, no intuito de
esclarecer o
[...] grave equivoco na afirmativa de que a Escola Austríaca “baseia” seus estudos de mercado
no modelo de concorrência perfeita. Foram os austríacos os primeiros a afirmar que esse modelo
não corresponde ao mundo real, em decorrência do irrealismo de suas hipóteses. De fato, nem a
absoluta homogeneidade dos produtos, nem a informação perfeita por parte dos consumidores
são hipóteses plausíveis, se desejamos explicar o mundo real. Tampouco o é a suposição de que,
existindo um grande número de vendedores, cada um deles não tem capacidade de influir nos
preços, pois isto equivale a afirmar que o preço é formado sem a sua participação, o que é
falso.2
Logo, o alicerce argumentativo que pauta as teses austríacas acerca dos mercados
concorrenciais estão deduzidas da teoria da utilidade marginal do valor do produto.
1 Outras formas de competição como o oligopólio e o duopólio não serão aprofundadas, visto que, a análise teórica e empírica
proposta nesse trabalho não ficará distorcida e incompleta, afinal, para a Escola Austríaca essas duas formas de competição “não
são tipos especiais de monopólio, mas, meramente, variantes para estabelecimento de preços monopolísticos.” (MISES, 1990, p.
426.)
2 IORIO, 1997, p. 82.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 21
Originalmente criada por Carl Menger1(1840-1921) em consonância com William Stanley
Jevons (1835-1882) e Léon Walras (1834-1910), em períodos quase idênticos porém em países
diferentes, essa teoria apresenta a exata relação de interação entre os agentes que
parcimoniosamente tendem ao equilíbrio entre a oferta e a demanda, tornando desnecessária,
segundo os austríacos, a utilização de modelos de concorrência convencionais (monopólio,
oligopólio, concorrência monopolística e concorrência perfeita) utilizados nos manuais de
microeconomia.
Portanto, para a Escola Austríaca o intervencionismo do Estado na produção e/ou
consumo, como suposto agente provedor das necessárias correções às imperfeições, distorções e
falhas apresentadas pela economia de livre mercado é contraproducente ao modo de produção
capitalista. O corolário austríaco entende as “falhas de mercado” primeiramente, como
processos resultantes de distorções extra mercados, ou seja, de natureza institucional e,
posteriormente, verificada realmente alguma falha de mercado, as mesmas tendem a ser
amplificadas (e não eliminadas) com a intervenção governamental.
2.4 Hayek e a inevitabilidade da planificação: o progresso técnico e a formação de
monopólios
Dentre o corpo acadêmico que compõe a Escola Austríaca de Economia, Friedrich August
Von Hayek (1889 – 1992) não está em posição de destaque apenas como referência a esta
corrente de pensamento, e sim, ao que concerne toda a ciência econômica. Laureado com o
Prêmio Nobel de Economia (1974) sua contribuição permeia os mais diferentes campos de
conhecimento: da filosofia, a sociologia, do direito, a economia. Suas obras atravessaram o
século XX alertando para as contradições e inverdades que campeavam as ideias acerca da
necessidade do planejamento central.
No que tange a essa pesquisa, Hayek (1990) procurou desmistificar (analisando
profundamente a questão do conhecimento na composição dos processos de mercado) as ideias
que circulavam no debate econômico atrelando a formação de monopólios ao progresso técnico.
Segundo Hayek (1990), a ausência de completo conhecimento é característica inerente
dos seres humanos. Sendo assim, a sociedade é composta por indivíduos que possuem uma
pequena parcela (que não pode ser mensurada) de conhecimento. Logo, além de ser
desproporcionalmente distribuído entre as pessoas, o mesmo está disperso em nosso meio, e por
ser infinito, designa aos agentes a incumbência de buscá-lo incessantemente.
1 No intuito de não tangenciarmos o tema proposto nessa pesquisa, não abordaremos a fundo a teoria da utilidade marginal do
valor, ao leitor interessado em aprofundar-se no assunto, recomenda-se a leitura de MENGER, 1983, p. 283-316.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 22
Pois bem, se estas características estão presentes em nosso ambiente, pode-se afirmar
que a formação dos mercados é apenas um produto desse meio social – tal qual um espelho –
reflete apenas as movimentações individuais na busca por conhecimento.
Hayek (1990) denominou essas ações como “processos de descoberta” dos meios de
produção capitalista. Portanto, é exatamente a busca por conhecimento e a discrepância no
montante que cada indivíduo possui de informação, que ocasionam as descobertas tecnológicas
do mercado. Cada componente, seja demandante ou ofertante, deve estar alerta ao surgimento
de novas oportunidades a fim de obter ganhos na alocação mais exata de suas ações, seja no
momento de empreender ou de consumir.
Portanto, já se pode observar (dado a diferenças de conhecimento de cada indivíduo) que
é exatamente esse componente que suscita a falta de equilíbrio nos processos de mercado (algo
indesejável pelos neoclássicos, marxistas e keynesianos) e que geram, segundo a visão austríaca,
os avanços tecnológicos presentes na sociedade. Partindo desse pressuposto, encontra-se
exatamente nessa evolução o principal argumento em defesa do intervencionismo, como suposto
fator de proteção a não formação de monopólios tecnológicos.
Hayek expõe o cerne desse pensamento.
Dos vários argumentos empregados para demonstrar a inevitabilidade da planificação, o mais
usado é aquele segundo o qual as transformações tecnológicas foram tornando impossível a
concorrência em campos cada vez mais numerosos, só nos restando escolher entre o controle da
produção por monopólios privados ou o controle pelo governo. Esta ideia provém, sobretudo,
da doutrina marxista da "concentração da indústria", [...]: a causa de natureza tecnológica a que
se atribui o surgimento do monopólio seria a superioridade das grandes firmas em relação às
pequenas, devido à maior eficiência dos modernos métodos de produção em massa. Afirma-se
que os métodos modernos criaram, na maior parte dos setores da economia, condições que
permitem à grande empresa aumentar sua produção a custos unitários decrescentes, fazendo
com que, em todos os países, ela possa oferecer preços mais baixos e expulsar a pequena
empresa do mercado. Esse processo continuaria até que em cada setor só restasse uma ou, no
máximo, um número restrito de empresas gigantes. Tal argumento ressalta apenas um dos
efeitos que às vezes acompanha o progresso tecnológico, menosprezando outros que atuam no
sentido contrário, e não é confirmado por um exame cuidadoso dos fatos.1
As contestações a esse argumento advêm exatamente do mesmo princípio
(exposto acima) a favor do planejamento. Hayek (1990) resgata e aplica o problema
epistemológico de ausência do conhecimento por parte dos agentes (explicados no inicio dessa
seção) e questiona: como garantir que os “planejadores” da defesa econômica contra o
monopólio tecnológico, possuam o conhecimento necessário para dirigir essa tão numerosa e
complexa sociedade? Logo, um controle central eficiente nessas condições de mercado torna-se
1 HAYEK, 1990. p. 64-65 passim, grifo nosso.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 23
inviável, visto a incapacidade do planejador de possuir conhecimento suficiente para gerir um
ambiente onde a divisão do trabalho, cada vez mais intensa, faz da sociedade um arranjo ainda
mais complexo.
Portanto, a suposta solução de conceder a uma empresa o monopólio de um setor ou
mesmo estatizá-lo por completo, suprime a concorrência e consequentemente, exclui o único
mecanismo de informação que os agentes dispõem para melhor alocar os fatores de produção e
consumo, o “sistema de preços”. Hayek explica a sua importância no processo de mercado.
[...] a descentralização tornou-se necessária porque ninguém pode equilibrar de maneira
intencional todos os elementos que influenciam as decisões de tantos indivíduos, a coordenação
não pode, é claro, ser efetuada por "controle consciente", mas apenas por meio de uma
estrutura que proporcione a cada agente as informações de que precisa para um ajuste efetivo
de suas decisões às dos demais. E como nunca se podem conhecer todos os pormenores das
modificações que influem constantemente nas condições da oferta e da procura das diferentes
mercadorias, e nenhum órgão tem a possibilidade de reuni-los e divulgá-los com suficiente
rapidez, torna-se necessário algum sistema de registro que assinale de forma automática todos
os efeitos relevantes das ações individuais – sistema cujas indicações serão ao mesmo tempo o
resultado das decisões individuais e a orientação para estas. É justamente essa a função que o
sistema de preços desempenha no regime de concorrência, e que nenhum outro sistema sequer
promete realizar.1
Logo, segundo o conceito hayekiano, em um livre mercado é a própria concorrência que
assegura aos consumidores que esse hipotético monopólio tecnológico não seja invulnerável.
Mesmo sendo admissível que economias de escala são formadas em vista de inovações
tecnológicas e que essa situação possa induzir a concentração industrial de um determinado
setor, não se pode concluir que isso seja um fator de barreiras à entrada de novos concorrentes.
Em um livre mercado todos os empresários estão expostos a competição e qualquer ação
deliberada, ou não, pode demovê-los de uma suposta condição privilegiada no mercado.2
Sendo assim, a ideia de que é função do governo estimular a concorrência ou
regulamentá-la, em nome de uma melhor oferta de recursos de um setor em prol do “bem estar
social”, é equivocada. Hayek é enfático ao afirmar, o governo não é empresário.1
1 Ibid., p. 68, grifo nosso.
2Hayek reitera as benesses características desse conceito de competição, baseado no estudo feito pela Comissão
Provisória de Economia Nacional norte-americana – ao qual o autor classifica como imparcial frente ao liberalismo. A
pesquisa minuciosa realizada por essa Comissão relata a não ocorrência de desaparecimento da concorrência em
função da maior eficiência dos métodos de produção em larga escala. A mesma instituição, ainda observa que os
principais componentes na formação de monopólios são resultados de conluios promovidos pelas políticas
governamentais e recomenda a abolição das mesmas, como requisito fundamental para o restabelecimento da
concorrência. O relatório completo encontra-se em: Final Report and Recommendations of the Temporary National
Economic Committee. 77» Legislatura, 1' Sessão, Documento n' 35 do Senado, 1941, p. 89. (apud HAYEK, 1990, p. 65-
66)
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 24
2.5 A competição cataláctica de Mises
Ludwig von Mises (1881-1973) foi um dos maiores economistas do século XX. Seu legado
para a ciência, assim como para a Escola Austríaca é imensurável e felizmente perpétuo. Em sua
obra magna, “Ação Humana: um tratado de economia”, ele disseca os sistemas capitalista,
socialista e intervencionista, através do estudo da ação humana ao qual ele denominou como
praxeologia, com uma clareza e limpidez literária superior.
Estritamente no que tange essa pesquisa, Mises, no começo do século, já alertava para as
inúmeras distorções etimológicas e teóricas que se alastravam nos meios acadêmicos e na
sociedade acerca dos monopólios. Essas ideais atravessaram o século e hoje continuam
campeando livremente nos debates econômicos, nas salas de aula e nos manuais tradicionais de
economia.
Mises inicia o debate econômico acerca do monopólio e da suposta necessidade da
intervenção estatal no combate ao mesmo, introduzindo o conceito de competição cataláctica a
qual, segundo ele, advêm da eterna luta (no sentido metafórico) entre os agentes que compõem
a economia de mercado. Ou seja, a competição cataláctica é um estado de ação entre pessoas
que querem superar umas às outras. Sendo assim, a mesma não aniquila aqueles que perdem
espaço para os que vencem, mas os realoca ou direciona a um local mais modesto e condizente
com as suas realizações e capacidades dentro do sistema social.
Com bem explicou Mises,
[...] na economia de mercado, a competição se manifesta no fato de que os vendedores devem
superar uns aos outros pela oferta de bens e serviços melhores e mais baratos, enquanto que os
compradores devem superar uns aos outros pela oferta de preços mais altos.2
Portanto, no campo cataláctico a competição nunca será uniforme. Sempre existirá
escassez de bens, de fatores de produção e de serviços econômicos. Isso inexoravelmente
restringe a disputa tornando-a um exercício de busca por conhecimento infinito por parte dos
empresários no processo dinâmico de mercado.
1 Kirzner complementa essa análise hayekiana, admitindo que um produtor pode alcançar uma posição monopolista de
um determinado insumo, tecnológico ou não, no curto prazo. Porém, isso não lhe garante imunidade competitiva, pois
mesmo que este possua exclusividade na oferta do produto, outros bens substitutos podem surgir competindo
indiretamente com o produto ofertado pelo monopolista. Evidentemente, que esse arranjo não é pernicioso aos
consumidores, visto que, o mercado dessa forma se expande e a gama de produtos e serviços torna-se maior.
Tornando desnecessária qualquer intervenção governamental no livre mercado. Ao leitor interessado em aprofundar-
se nesse aspecto especifico do monopólio, recomenda-se a leitura de KIRZNER, 1986, p. 36-96, passim.
2 MISES, 1990. p. 382.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 25
Logo, seria falacioso pensar que desse conceito cataláctico de competição emergem as
barreiras à entrada e saída, assim como qualquer outro entrave competitivo. Mises evidenciava
isso, enfatizando que,
[...] a competição cataláctica, um dos traços característicos da economia de mercado, é um
fenômeno social. Não é um direito, garantido pelo Estado e pelas leis, que torne possível a cada
indivíduo escolher, à sua vontade, o lugar na estrutura da divisão do trabalho que mais lhe
agrade. Atribuir a cada um o seu lugar próprio na sociedade é tarefa dos consumidores que ao
comprar ou abster-se de comprar estão determinando a posição social de cada indivíduo. A
soberania do consumidor não diminui quando são concedidos privilégios a indivíduos na
qualidade de produtores. A entrada num determinado setor industrial é virtualmente livre aos
recém-chegados, somente na medida em que os consumidores aprovem a expansão desse setor,
ou na medida em que os recém-chegados superem, por um atendimento melhor aos desejos do
consumidor, os já estabelecidos. Investimento adicional só se justifica na medida em que
satisfaça às mais urgentes necessidades dos consumidores, entre aquelas que ainda não foram
atendidas. Se as instalações existentes são suficientes, seria desperdício investir mais capital na
mesma indústria. A estrutura de preços do mercado induz os novos investidores a outros
setores.1
Mises ainda complementa, explicando que o suposto poder econômico das empresas
estabelecidas a mais tempo em um setor não é um fator que impede a entrada de novas firmas,
assim como não diminui a competição inerentemente latente que o livre mercado proporciona
pela ameaça de concorrentes potenciais. Uma empresa solitária sempre terá a ameaça
concorrencial, seja em seu setor, seja na oferta de produtos substitutos de outras empresas.
Do contrário, as companhias de estradas de ferro dado o seu tamanho e o seu alto
“poder” econômico, inibiriam a entrada e a oferta de novos produtos como, por exemplo, o
avião e o automóvel. No entanto, não foi isso que se verificou. Tais meios de transporte não só
surgiram como suas indústrias prosperaram indefinidamente.
Porém, esses conceitos de limitação competitiva continuam presentes em nossa
sociedade. Mises na época já os observava.
Hoje as pessoas afirmam o mesmo em relação a vários setores dominados por grandes empresas:
ninguém pode concorrer com elas; são muito grandes e muito poderosas. Competição,
entretanto, não significa que qualquer um possa prosperar simplesmente pela imitação do que
outras pessoas fazem. Significa a possibilidade de servir os consumidores através da oferta de
algo melhor e mais barato, sem que haja restrição acarretada pelos privilégios concedidos
àqueles cujos interesses estabelecidos são afetados pela inovação. Um recém-chegado que
quiser desafiar os interesses estabelecidos das firmas existentes precisa sobretudo de massa
cinzenta e de ideias. Se o seu projeto é capaz de satisfazer os mais urgentes entre os desejos
ainda não atendidos dos consumidores, ou de fornecer bens por um preço mais barato do que os
1 Ibid., p. 383.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 26
fornecedores existentes oferecem, será bem sucedido, apesar do tão falado tamanho e poder
das firmas mais antigas.1
Essa característica competitiva da economia de mercado geralmente é pouco
compreendida e consequentemente pouco aceita pelos socialistas, neoclássicos e keynesianos. E
contra isso nada se tem a fazer. Um diagnóstico mal feito necessariamente implica em uma
receita equivocada e, nesses casos, a economia é caprichosamente cruel com aqueles que
tentam burlar suas leis.
2.6 Monopólios e preços monopolísticos: o legado de Mises.
A teoria econômica que discorre sobre o monopólio é vasta e possui inúmeras
interpretações nas mais diversas escolas de pensamento econômico acerca de sua formação,
incentivo e definição.
Um dos insights mais interessantes sobre monopólios é o da Escola Austríaca,
especificamente o introduzido por Mises diversas vezes em suas obras. Os conceitos diferem
evidentemente do setor e de como o analisamos. Como distinção fundamental, é necessário
abordar os diferentes tipos de organização econômica que pode ser considerado como um
monopólio. A primeira definição é a mais perversa social e economicamente falando. Mises a
define como,
[...] um estado de coisas no qual o monopolista, seja ele um indivíduo ou um conjunto de
indivíduos, tem o controle exclusivo de algo que é vital para as condições de sobrevivência do
homem. Este monopolista tem o poder de matar de fome todos àqueles que não obedeçam às
suas ordens. Determina, e os outros não têm alternativa: ou se submetem ou morrem. Em tal
situação de monopólio, não há nem mercado nem competição cataláctica. O monopolista é o
senhor e os outros são escravos inteiramente dependentes das suas boas graças. Não há
necessidade de se estender sobre este tipo de monopólio. Ele não tem nenhuma relação com
uma economia de mercado. Basta dar um exemplo: um estado socialista universal exerceria esse
monopólio absoluto e total; teria o poder de arrasar seus oponentes, fazendo-os morrer de
fome.2
Como bem salientou Mises, por não se tratar de algo factível, o presente trabalho não
discorrerá em demasia sobre essa situação monopólica.
A segunda hipótese de organização monopolística é a que observa um monopólio em
função da diversidade de produtos. Ou seja, na economia de mercado, em quase todas as
situações, encontramos uma não homogeneidade dos produtos. Microeconomicamente falando,
1 MISES, 1990, p. 384. 2 MISES, 1990, p. 386.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 27
em sua grande maioria, não se encontram no mercado substitutos perfeitos entre os produtos
ofertados, logo, a rigor, todo o produtor detém sobre o seu produto uma relação de monopólio,
visto que os produtos de cada indústria são mais ou menos diferentes1.
Porém, mesmo que essa hipótese seja plausível, nesse contexto teríamos monopolistas
por toda a parte e em grande número. Essa condição monopólica não os garante privilégios ou
vantagens no funcionamento do mercado e na formação de preços, visto que a diferenciação dos
produtos viria por neutralizar essa suposta condição monopólica.
O conceito mais relevante sobre monopólios, por ser extremamente viável do ponto de
vista teórico e uma alternativa interessante à teoria microeconômica convencional é o aplicado
por Mises. Segundo ele,
[...] o monopólio, nessa segunda acepção da palavra, torna-se um fator para a determinação dos
preços, somente se a curva da demanda do produto monopolizado tiver uma forma específica. Se
as condições são de tal ordem que o monopolista possa assegurar para si mesmo maiores receitas
líquidas, ao vender uma quantidade menor de seu produto por um preço mais elevado em vez de
vender uma quantidade maior por um preço mais baixo, estamos diante de um preço
monopolístico maior do que o preço que o produto alcançaria no mercado, se não houvesse o
monopólio. Os preços monopolísticos são um importante fenômeno do mercado, enquanto que o
monopólio em si só tem importância se puder resultar na formação de preços monopolísticos.2
Logo, para os adeptos desse conceito misesiano, o princípio gerador de ineficiência social
e econômica não está no fato de uma empresa ofertar sozinho um determinado produto. O
monopólio só onera a economia se a empresa conceber uma curva de demanda que lhe permita
ofertar quantidades menores a preços maiores do que os considerados competitivos, sem atrair
concorrentes ao setor.3
Pois bem, mas o que faz desse monopolista um proibidor da entrada de novas empresas?
A conclusão da Escola Austríaca é veemente. O governo é o principal gerador dos monopólios e
de todos os privilégios concorrenciais que os mesmos concedem as empresas, portanto, não cabe
a ele (governo) combatê-los. Em síntese,
1 Outros economistas austríacos complementam essa definição de monopólio, ao leitor interessado em aprofundá-la, recomenda-se a leitura de ROTHBARD, 1970, p. 590. 2 MISES, op. cit., p. 387, grifo do autor.
3 Os críticos dessa teoria defendida por Mises argumentam sobre qual é a definição correta de “preços competitivos” e “preços
monopolísticos”. Mises admite problemas de cunho teórico subjetivo sobre essas terminologias citadas. Porem, explica que dada à
aceitação dos mesmos é extremamente difícil que se substituam essas terminologias. O que não dá o direito de que sejam feitas
interpretações errôneas, entrelaçando à formação de preços competitivos a ausência de competição. Mises ressalta que todas as
mercadorias competem com as outras mercadorias e, portanto, o monopolista não esta imune a competição cataláctica, ou seja,
quanto mais alto esse fixa o preço, maior será a quantidade de consumidores potencias que comprará outros bens. Ver MISES,
1990, p. 387-389 passim.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 28
[...] só se pode dizer que existem monopólios em decorrência da concessão de privilégios,
diretos ou indiretos: o criador dos monopólios é o Estado e, sendo assim, é absurdo que ele
pratique “políticas antimonopolistas”; na realidade, o que ele deve fazer é, simplesmente,
abolir as leis – ou melhor, as legislações (Thesis) – que estabeleceram os monopólios. O ponto
crucial, então, é que não existem monopólios invulneráveis, a menos que eles sejam protegidos
pelo Estado. As causas comumente apontadas como geradoras de monopólios têm a
característica comum de serem temporárias; o que gera os monopólios não é o capitalismo, nem
a competição, mas o Estado.1
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A humanidade precisa, antes de tudo, se libertar da submissão a slogans absurdos e voltar a confiar na
sensatez da razão.2
A pretensão e o intuito ao denominar esse último capítulo de “considerações
finais” é torná-lo coerente com o cerne dessa pesquisa. O presente trabalho procurou
trazer à tona, primeiramente, a retomada do debate em relação ao papel do Estado
como interventor das relações econômicas promovidas através das ações humanas na
sociedade. Em um segundo momento, a tentativa de diferenciar os conceitos acerca da
formação de monopólios e da avaliação e interpretação sobre as formas de competição
entre a teoria microeconômica convencional e a Escola Austríaca, fez-se necessária para
que os equívocos econômicos envoltos a essas teorias específicas deixassem de ser
observados.
De forma geral a investigação alcançou o objetivo proposto. Ainda que essa
pesquisa não obtenha uma conclusão enfática e irrefutável sobre o tamanho e as funções
do Estado. Ao trazer elementos teóricos que suscitem as discussões e debates
econômicos acerca do tema sugerido, pretende-se que este volte a ser refletido e
repensado nos centros de formação superior.
Se tal reavaliação em algum momento no tempo for alcançada, esse trabalho já
terá colhido os frutos desejados quando foi formulado.
As análises acerca das formas de competição, desde suas definições e
interpretações sobre como se formam os monopólios, passando pelos efeitos econômicos
do mesmo, estão estáticas no debate econômico como se todos os argumentos teóricos
rumassem para um consenso em nossa ciência quando falamos de monopólios,
1 IORIO, 1997, p. 83-84, grifo do autor.
2 MISES (1990 apud CONSTANTINO, 2009, p. 42)
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 29
oligopólios e concorrência perfeita. Esse avanço do ideário positivista dominou corações
e mentes no século passado e segue campeando de forma predominante nos debates
acadêmicos e políticos das últimas décadas. Ainda que se entenda a conveniência
política da teoria do Estado provedor de tudo é lastimável que estas ideias sejam aceitas
quase integralmente nas academias de formação superior.
A falta de questionamento e discriminação sobre temas por vezes controversos é
constante no debate econômico atual. A contextualização teórica que acompanha essa
investigação demonstra que existem alternativas teoricamente plausíveis sobre como se
formam os monopólios e como, de fato, estes podem ser repelidos. Além disso, os
malefícios da excessiva intervenção estatal na economia e nos mercados foram
evidenciados pela argumentação austríaca de que o Estado não está imune de cometer
erros ao intervir na economia, afinal, este é composto de seres humanos falíveis e
propícios ao erro.
Logo, se a onisciência (também) é negada ao Estado, a sua intervenção provoca
maiores descoordenações que a de outros agentes econômicos, pois qualquer ação
governamental possui inexoravelmente maiores externalidades, sendo, portanto,
segundo os preceitos austríacos – indesejável.
Isso evidencia, sem exageros, que o aprofundamento na leitura do que está
exposto na delimitação teórica desse trabalho, deveria ser recomendação básica a
qualquer postulante a formular regras e determinações no âmbito governamental. A
solidez e a clareza da Escola Austríaca na análise racional das formas de competição que
o livre mercado desregulado pode causar leva-nos a romper com paradigmas e axiomas
até então inquestionáveis.
Assim, pode-se afirmar que o objetivo principal desse trabalho foi inserir tais
ideias no debate acadêmico e profissional da ciência econômica, para que essas mesmas
ideias avancem a sociedade. Logo, a intenção aqui foi propositiva e não conclusiva. Não
se procurou uma verdade absoluta e inquebrantável, esse é um axioma básico dos
austríacos, a humildade e o reconhecimento de que somos (seres humanos) falíveis e de
que a onisciência nos é negada. Logo, como bem cita Mises na abertura desse derradeiro
capítulo, somente a razão pode nos trazer explicações e soluções aos intrínsecos e
incessantes problemas envoltos em nossa sociedade. E isso se dá através do debate de
ideias. Afinal é com ideias e, unicamente, com elas que se pode iluminar a escuridão.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 30
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BASTIAT, F. A lei. 3. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.
_________. Ensaios. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1989.
CONSTANTINO, R. Economia do individuo: o legado da Escola Austríaca. São Paulo: Instituto
Ludwig Von Mises Brasil, 2009.
HAYEK, F. A. O caminho da servidão. 5. ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990.
_________. Os fundamentos da liberdade. São Paulo: Visão, 1983.
IORIO, U. J. Economia e liberdade: a Escola Austríaca e a economia brasileira. 2. ed. Rio de
janeiro: Forense Universitária, 1997.
KIRZNER, I. M. Competição e atividade empresarial. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1986.
LAL, D.A pobreza das teorias desenvolvimentistas, Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1987.
LEGÍTIMO. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Brasil: Priberam Informática, 2011. Disponível
em: <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=leg%C3%ADtimo>. Acesso em: 18 jun.
2011.
MANSFIELD, E.; YOHE, G. Microeconomia: teoria e aplicações. São Paulo, SP: Saraiva, 2006.
MENGER, C. Princípios de economia política. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1986.
MISES, L. V. Ação humana: um tratado de economia. 3. ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal.
1990.
_________. As seis lições; 7. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2009.
_________. Intervencionismo: uma análise econômica. 3. ed. Rio de Janeiro: Expressão e
Cultura, 1999.
_________. Liberalismo – segundo a tradição clássica. 2. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von
Mises Brasil, 2010.
PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.
RIANI, F. Economia do setor público: uma abordagem introdutória. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2002.
ROQUE, L. Sobre as privatizações brasileiras (parte 1). In: ARTIGOS. São Paulo: Instituto Ludwig
von Mises Brasil, 2010. Disponível em: <http://www.mises.org.br/Article.aspx?
id=637>. Acesso em: 18 maio. 2011.
_________. Sobre as privatizações brasileiras (final). In: ARTIGOS. São Paulo: Instituto Ludwig
von Mises Brasil, 2010. Disponível em: <http://www.mises.org.br/Article. aspx?id=646>. Acesso
em: 18 maio. 2011.
ROTHBARD, M. Man, economy and State. 2. ed. Los Angeles: Nasch, 1970.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 31
_________. O essencial von Mises. 3. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.
THOMPSON JR, A. A.; FORMBY, J. P. Microeconomia da firma: teoria e pratica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Prentice-Hall, 2003.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Estrutura e
apresentação de monografias, dissertações e teses – MDT. 7. Ed. Santa Maria: UFSM, 2010.
VARIAN, H. R. Microeconomia: princípios básicos. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 32
AS MÍDIAS SOCIAIS NA PRIMAVERA ÁRABE:
Os desdobramentos do uso das redes sociais na Tunísia
Gabriela Bristot Boff1
Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM-Sul
Graduação em Relações Internacionais com ênfase em marketing e negócios
Resumo: O presente artigo visa analisar quais foram os principais desdobramentos do uso das redes sociais na Tunísia para a Primavera Árabe. Nos últimos anos a importância
de redes sociais – como Facebook e Twitter – vem crescendo constantemente e é natural
que tenha se transformado num recurso para a população em todas as partes do mundo. Levando isso em conta, o trabalho busca apontar quais os principais benefícios
proporcionados por essas ferramentas, assim como o que seu uso representa para a
população envolvida na Primavera Árabe.
Palavras-chave: Redes Sociais. Primavera Árabe. Facebook. Twitter. Tunísia. Egito.
1 Graduanda do curso de Relações Internacionais. E-mail: [email protected]
Agradecimentos especiais à Marcio Dolzan e Matheus Tietbohl.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 33
INTRODUÇÃO
A tecnologia vem se transformando, ao longo dos últimos anos, numa das maiores armas
da sociedade civil. O movimento popular na Tunísia que causou nada menos do que a queda do
ditador Ben Ali, em 14 de janeiro de 2011, desenvolveu-se e ganhou forças por meio,
principalmente, da presença dos jovens nas redes sociais. Em pouco tempo os movimentos
revolucionários chegaram a outros países árabes e o movimento, como um todo, ficou conhecido
como Primavera Árabe.
Atualmente 25% dos tunisianos estão cadastrados no Facebook (STIVANIN, 2011) e foi a
atitude polêmica tomada pelo jovem tunisiano Mohamed Bouazizi – que ateou fogo ao próprio
corpo – a responsável por desencadear por meio das redes sociais a reação do povo. Uma imagem
que atravessou o mundo causando revolta em diversos países. Esse fato há alguns anos, muito
provavelmente, teria passado em branco e devido à manipulação governamental talvez nunca
chegasse à mídia ou ao conhecimento do resto da população. Atualmente o cenário é outro, e
mesmo nos regimes mais fechados ao seu uso, a internet sempre está presente, em todos os
cantos há pessoas que tentam burlar os limites governamentais para acessar a grande rede
global.
Sendo assim, este artigo pretende abordar os principais desdobramentos da utilização das
redes sociais, como Twitter, Facebook e Youtube, no Despertar Árabe, e de que forma esses se
sucederam. Manuel Castells (1999) define as redes sociais como a lógica de organização social
contemporânea, uma série de nós sociais interconectados e hábeis à expansão. Nesse estudo
serão trabalhadas as redes sociais na internet, onde os seus usuários compartilham informações
e interesses semelhantes (G1, 2008). Esse tema é relevante por causa da crescente utilização
dessas redes no dia a dia das pessoas e da maneira com a qual elas influenciam os
acontecimentos recentes, espalhando informações instantaneamente para o mundo todo.
Para a realização do estudo primeiramente serão analisados os principais trabalhos de
Manuel Castells sobre a sociedade em rede e que mudanças a internet trouxe para a população
mundial. Em seguida o artigo trará uma análise da utilização do Facebook – taxa de crescimento,
idioma, etc. – no mundo árabe, assim como gráficos que quantificam a utilização das redes
sociais e seu impacto nos movimentos da Primavera Árabe. Por fim, um balanço da Primavera
Árabe e as considerações finais.
Estratégia Metodológica
Estudo exploratório com base em revisão bibliográfica, análise de conteúdo virtual – como dados
estatísticos e informações disponíveis na internet e nas redes sociais – considerando,
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 34
principalmente, os estudos de Manuel Castells, sociólogo espanhol que tem como foco de
pesquisa a importância das novas tecnologias de informação nas transformações das estruturas
econômicas e sociais.
O Mundo Árabe e o Facebook
É crescente a relação dos países de origem árabe com as redes sociais, em especial o
Facebook. Desde o seu lançamento em 2009, dos cerca de 30 milhões de árabes que utilizam o
Facebook um terço optou por utilizar o idioma árabe na rede social. A expectativa é de que o
árabe supere o inglês nessa região até o final de 2012 (LINGUAMÓN, 2011).
O Facebook é atualmente a rede social que possui mais usuários, contando com 800
milhões de pessoas – 11% da população mundial – aproximadamente o mesmo número de pessoas
que utilizavam internet em 2004 (PINGDOM, 2011) Todavia, levando em conta a grandeza de tal
ferramenta, muito provavelmente os criadores não só do Facebook, mas também como os de
outras redes sociais relevantes como o Youtube e o Twitter, jamais imaginaram que suas
criações poderiam proporcionar tamanho impacto interferindo na queda de regimes anacrônicos
(PEREIRA, 2011).
O uso da língua árabe no Facebook cresceu 175% em 2010, o dobro da taxa global de
proliferação de usuários da rede social no mundo, chegando a 400% na Argélia. A crescente
popularização dessa rede é um dos fatores que explicam seu papel na organização dos protestos
e revoluções do ano que passou e do ano que segue, dando voz a oposição dos regimes
autocráticos. Dez por cento dos usuários do Facebook – aproximadamente 80 milhões de pessoas
– vivem no Oriente Médio e na África, sendo que dezenove milhões aderiram à rede em 2010.
No Egito, um dos centros de conflito e o país árabe com o maior número de usuários do
Facebook, a metade desses – 3,8 milhões – faz opção pela versão de língua árabe. Na Arábia
Saudita 61% dos usuários optam por essa versão, número bastante relevante se comparada a
países como Marrocos e Emirados Árabes Unidos, onde apenas 17% e 10% dos usuários,
respectivamente, fazem essa opção (LINGUAMÓN, 2011).
Essa crescente adesão a rede revela não só o desejo que as pessoas têm de interagir umas
com as outras, mas também a procura de uma alternativa a outras mídias que por terem sido
historicamente dominadas por elites políticas e se tornado tão parciais, já não são do agrado de
uma população cansada da repressão.
A Revolução Tecnológica, a reestruturação econômica e os movimentos sociais
Manuel Castells, um dos principais pesquisadores da web da atualidade, tem muito a nos
dizer sobre a interferência das redes sociais em nossas vidas. Renomado sociólogo espanhol tem
estudado a maneira com que as novas tecnologias geram impacto nas estruturas sociais. Com
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 35
base em suas teorias é possível analisar mais a fundo como a crescente utilização das redes
sociais impactaram no Despertar Árabe.
Sendo um dos maiores pesquisadores da web, Castells está dando atenção especial ao que
se passa nas redes sociais atualmente, já que o número de usuário, 1,6 bilhão, é extremamente
relevante (DUARTE, 2010). Para Castells (2010) as redes sociais surgiram de forma mais
impactante a partir de 2002 com o Friendster, “a pré-história tem menos de dez anos. Essa é a
velocidade com a qual estamos trabalhando” (CASTELLS, 2010).
Mas as transformações sociais originadas pelas novas tecnologias tomaram forma ainda no
final do último milênio, segundo afirma o autor em seu livro Fim do Milênio (1999). Por volta das
décadas de 1960 e 1970 três processos históricos independentes se encontraram por
coincidência: revolução da tecnologia e da informação, crise do capitalismo e do estatismo (e a
reestruturação de ambos), e por fim, o crescimento dos movimentos sociais e culturais, como
liberalismo, direitos humanos, feminismo e ambientalismo (CASTELLS, 1999). Esses processos
deram origem a uma nova forma de estruturação social, a da sociedade em rede, à uma nova
economia e a nova cultura da virtualidade real.
Outro sociólogo bastante conhecido, o britânico Anthony Giddens, conclui que as
transformações ocorridas na Modernidade são mais profundas do que a maior parte das
mudanças que antecederam esse período. Para ele, apesar da continuidade existente entre os
períodos, as descontinuidades foram decisivas (GIDDENS, 1991). O autor menciona ainda um
cisma radical que separou as vidas atuais das gerações precedentes, e destaca o capitalismo e o
industrialismo como importantes dimensões-chave na emergência do mundo moderno. Nesse
caso a modernidade seria o resultado do processo iniciado no século XVII, caracterizada pela
diminuição das fronteiras, não só geográficas, mas também culturais e mentais. Seguindo essa
linha e de volta à Castells, o surgimento da internet ampliou o espaço e reduziu o tempo, o que
o autor chama de “espaço de fluxos”; o tempo é dissolvido, os acontecimentos são cada vez
mais simultâneos, os lugares não deixam de existir, mas seus significados e lógica estão
presentes na Rede (CASTELLS, 2002).
Segundo Castells (1999), a revolução tecnológica teria dado origem ao informacionalismo,
a nova base material da sociedade. A partir disso, tanto a geração de riqueza, como o exercício
do poder dependeriam da capacidade tecnológica das sociedades e indivíduos. A tecnologia da
informação foi essencial para a formação dinâmica da organização da atividade humana, as
novas redes transformaram a vida social e econômica.
A crise do capitalismo levou a reestruturação do mesmo, seguida por diversas medidas
políticas estabelecidas pelos governos. As principais atividades econômicas foram globalizadas, e
mais uma vez, a tecnologia da informação desempenhou importante papel no surgimento do
atual capitalismo flexível. Com ele chegaram também a comunicação a distância, o
armazenamento/processamento de informações e a descentralização do poder decisório.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 36
Nessa nova economia de base multicultural e interdependência, ao mesmo tempo em que
funções, pessoas e locais valiosos ao longo do globo foram unidos, houve também a desconexão
de territórios desinteressantes para o capitalismo global. Daí surgem a exclusão social, a não-
pertinência econômica, os marginalizados, aos quais Castells (1999) se refere como “o Quarto
Mundo”.
Para o autor, todavia, as mudanças sociais não são apenas resultado das transformações
tecnológicas e econômicas pelas quais o mundo vem passando. Junto com essas transformações
explodiram os movimentos sociais, pessoas querendo mudar suas realidades. Por mais
fracassados que alguns tenham sido por não visarem à vitória política, contribuíram com as
ideias fontes para movimentos como ambientalismo, feminismo, da liberdade sexual, da
igualdade étnica, da defesa dos direitos humanos e principalmente da democracia popular.
Revolução da tecnologia, reestruturação econômica e movimentos sociais. São esses três
fatores que deram origem ao novo mundo em que estamos vivendo. A partir de agora, o estudo
será focado no papel da tecnologia, enquanto transformadora da realidade das estruturas sociais
humanas, em especial, seu papel na Primavera Árabe.
As redes sociais não são uma virtualidade em nossa vida: é nossa realidade que se fez virtual
(CASTELLS, 2011)
Em grande parte de suas obras, como em A Galáxia da Internet (2001), Castells aborda a
relação Sociedade versus Tecnologia, trazendo uma análise sobre a internet em cenários
políticos, econômicos e sociais.
Para ele, a tecnologia é a sociedade em si, sendo que sem a tecnologia e suas
ferramentas não há como compreender a sociedade em que vivemos (CASTELLS, 1999).
Castells (1999) afirma que se trata de uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que as tecnologias alteram o modo de vida dos homens, o modo como os homens as vivenciam, também as moldam. [...] a inovação tecnológica condiciona – e não determina - os modos de viver e pensar da sociedade; da mesma maneira que a sociedade condiciona o desenvolvimento da tecnologia, dependendo das aplicações e usos que faz dela. (PORTO, 2007, p. 3).
No caso da Primavera Árabe, a chegada das redes sociais criou novas relações sociais,
novas formas de organizar a sociedade. Em lugares onde a liberdade é limitada, como nos países
árabes envolvidos no despertar, essa nova forma de organizar a sociedade, essa nova realidade,
trouxe algo diferente. Podemos ver a internet, desse modo, como um condicionador das
revoluções que ocorreram no mundo árabe. Embora tenha tornado possível que as pessoas se
juntassem, a internet não foi um fator determinante. Indo mais a fundo no que Castells diz, é
possível entender que a Internet não é importante meramente pela sua existência e
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 37
disponibilidade, mas sim pelo uso que se faz dela. Ao usar as redes sociais para se organizar, o
povo árabe moldou essa tecnologia e a tornou útil para o fim que queria que ela tivesse, e ao
mesmo tempo a tecnologia acabou por alterar o modo de vida da sociedade em questão.
Castells afirma ainda que nesse mundo de redes sociais as pessoas misturam vida física
com virtual, imergem na rede, tornando sua realidade cada vez mais virtual.
Estamos em um mundo de redes sociais. Hoje as pessoas relacionam sua vida física com sua realidade na rede. Estão integradas. Não é uma virtualidade em nossa vida, é nossa realidade que se fez virtual. Essa é uma mudança fundamental. O que a internet permitiu é a autoconstrução das redes de relação, da organização social e das redes de pensamento. É a primeira vez na história que se produz uma autoconstrução da sociedade nessa escala. (CASTELLS, 2010).
Para Castells (2010) praticamente qualquer jovem que entenda o mínimo sobre utilização
de computadores e tenha uma pequena parcela de capital tem ao seu alcance as redes sociais. A
partir disso pode-se deduzir que um fator aglutinador do uso das redes sociais na Primavera
Árabe foi a facilidade para participar delas, já que não é exigido muito conhecimento e a pessoa
não necessita ter grande capital, facilitando assim a sua utilização durante os movimentos.
A tecnologia mudando as estruturas de poder
A tecnologia da comunicação e informação, principalmente se tratando das redes sociais,
trouxe mudanças para as estruturas sociais, como citado anteriormente. Dolors Reig (apud
ROSSI, 2011), contudo, analisa as mudanças ocorridas no exercício do poder em função da
tecnologia.
Seguindo a linha de pensamento da psicóloga social Dolors Reig (apud ROSSI, 2011) é
possível destacar seis mudanças principais proporcionadas pela tecnologia: (1) Reais
possibilidades de participação, as redes sociais tem em abundância possibilidades de
participação e dão poder ao cidadão; (2) nem todos foram educados na cultura de participação e
por isso muitos ainda consideram ser responsabilidade do Estado tornar a inclusão digital
possível, ou inserir seus cidadãos na sociedade-rede; (3) as redes permitem a organização e a
demonstração de descontentamento; (4) a criação de um novo imaginário coletivo, apolítico,
que é derivado do excedente criativo e cognitivo das pessoas que vem sendo menosprezadas
durante anos; (5) a possibilidade de democracia direta e o desaparecimento dos intermediários –
as redes sociais não servem mais somente para a promoção dos políticos em época de campanha,
mas sim para que esses possam descobrir a vontade do povo e atender suas demandas. Por fim
(6) as redes globalizam a mensagem, promovem a autocomunicação entre as massas, por
usufruírem de um alcance quantitativo considerável e um alcance geográfico que jamais poderia
ter sido imaginado há alguns anos.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 38
A partir da análise dessas mudanças é possível concluir, como disse Castells em meio a
revolução do Egito, que “não somos mais os mesmos desde que estamos nas redes sociais”
(CASTELLS apud ROSSI, 2011). A inteligência coletiva, quando organizada de forma devida, pode
substituir os políticos em seu papel decisório (SEY apud ROSSI, 2011) e isso de fato se manifestou
ao longo da Primavera Árabe. Essas mudanças causadas pela tecnologia da informação e da
comunicação nas estruturas de poder contribuíram para que as manifestações, quando bem
organizadas, obtivessem grandes resultados.
O impacto quantificado do uso das redes sociais na Primavera Árabe
Nessa seção será feita a análise de dados da primeira pesquisa quantificada sobre o
impacto do uso das redes sociais no Despertar Árabe. Opening Closed Regimes: What was the
role of social media during the Arab Spring (HOWARD et al. 2011) é um trabalho de alunos da
Washington University e American University.
Segundo os autores (2011) sua pesquisa possibilitou três descobertas: (1) as mídias sociais
tiveram um papel central moldando os debates políticos na Primavera Árabe. Foram usadas por
pessoas jovens, urbanas, bem educadas e em grande parte mulheres, para conduzir as conversas
políticas. Essas pessoas usaram as redes sociais para pressionar os governos. Na Tunísia, por
exemplo, um vídeo da esposa de Ben Ali usando um jato do governo para fazer compras na
Europa foi altamente divulgado. A partir do uso da tecnologia criou-se uma bandeira de
liberdade, espalhando ideais revolucionários para um grande número de pessoas.
A segunda descoberta foi que (2) as pequenas conversas revolucionárias online
geralmente foram seguidas de eventos maiores em terra. Vinte por cento dos blogs estavam
avaliando o regime de Ben Ali no dia de sua queda (HOWARD et al. 2011) e os governos do Egito
e da Tunísia tentaram constantemente bloquear o acesso as redes sociais para impedir a
organização dos movimentos (HECKE, 2011).
A última descoberta foi que (3) as redes sociais ajudaram a espalhar ideais democráticos
e revolucionários para além das fronteiras internacionais (HOWARD et al. 2011). Os defensores
da democracia no Egito e na Tunísia usaram as redes sociais para se conectar com pessoas de
fora de seus países. Isso ajudou a levar esses ideais para outros países onde vieram a acontecer
protestos mais tarde, como países do norte da África e do Oriente Médio.
Os autores constataram que um dos motivos para a eficiência do uso das redes sociais no
Despertar Árabe é que são os jovens, principalmente, que usam essa tecnologia. A idade média
na Tunísia e no Egito é respectivamente 30 e 24 anos, e, além disso, o uso de aparelhos celulares
é bem difundido nos dois países, 93 celulares para cada 100 habitantes na Tunísia e 67 para cada
100 no Egito. O fato de o governo ter censurado as redes sociais só deu mais incentivo para que
os habitantes procurassem na internet conteúdos de confiança. Sessenta e seis por cento das
pessoas que já acessaram a internet na Tunísia tinham menos de 34 anos, enquanto que no Egito
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 39
esse índice é de 70%, o que explicaria o fato de a maior parte dos manifestantes serem jovens
(HOWARD, et al. 2011).
Outro dado importante da pesquisa aponta que 41% dos usuários de Facebook na Tunísia e
36% dos usuários do Egito são mulheres. Essas também participaram fortemente dos debates
políticos no Twitter e marcaram presença nas ruas. Duas delas ficaram famosas documentando
suas experiências nas redes sociais, Esraa Abdel Fattah, da Academia Democrática do Egito, e
Leil-Zahra Mortada que documentou a participação feminina em um álbum do Facebook.
O uso das ferramentas online, contudo, começou anos antes da Primavera Árabe. Essas
serviam para denunciar os abusos do governo, e o faziam mais do que a mídia em geral. Desde a
divulgação do vídeo da mulher de Ben Ali fazendo compras na Europa, em 2007, o governo sofreu
várias outras denúncias não só no Youtube, mas também no Facebook.
A cidade do Cairo não é só um centro cultural, é um centro de mídia também, com uma
vasta infra-estrutura de comunicação. Isso contribuiu para que se criasse uma esfera de
comunicação online entre os jovens, ao longo dos anos. Partidos políticos e movimentos sociais
vem usando a internet para obter vantagem, a Irmandade Muçulmana1, por exemplo, usou a
internet para distribuir informação, organizar os simpatizantes e conduzir outras atividades em
desafio às autoridades seculares.
O uso para fins de oposição, porém, não foi bem aceito pelos governos até então,
havendo ocorrido muitas prisões, como o caso do blogueiro Abdolkarim Nabil Seliman, que ficou
preso por quatro anos por criticar o presidente Mubarak e as instituições religiosas do Egito em
2005. Todavia, os ativistas continuaram utilizando a internet e procurando saídas para
manifestar suas críticas. A Irmandade Muçulmana do Egito, banida, tem ligações com blogueiros
que mantém servidores fora do Egito e assim não puderam ser tirados do ar pelo governo.
A imolação do jovem tunisiano, Bouazizi, em 17 de dezembro de 2010 repercutiu por
meio do Youtube, fazendo com que muitos tunisianos acompanhassem sua história de perto, até
a sua morte em janeiro de 2011. Nesse momento os protestos já haviam se espalhado pelo país,
fotos do jovem no hospital circulavam pelo mundo. O governo tentou banir algumas redes
sociais, porém, organizações hackers importantes como Anonymous2 e Telecomix3 ajudaram a
derrubar as ações do governo e a criar softwares usados pelos ativistas para se juntarem; a
operação ficou conhecida como Operação Tunísia.
1 Irmandade Muçulmana – ou Irmãos Muçulmanos – é conhecida como fundamentalismo político islâmico. Foi criada em 1928 e
sua principal base doutrinária é a rejeição ao colonialismo e aos valores ocidentais e retorno aos princípios do Islã (LOBO, 2012).
2 Anonymous é uma organização descentralizada de indivíduos que visa promover o acesso a informação, liberdade de expressão e
transparência (ANONANALYTICS, 2012).
3 Telecomix é uma organização sociocibernética de pessoas que visa proteger e desenvolver a internet e defende o fluxo livre de
informação e dados (TELECOMIX, 2012).
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 40
A falta de uma liderança nas revoluções dificultou a prisão de um articulador por parte
do governo tunisiano. Não houve um líder, uma figura revolucionária, uma oposição em
destaque, ou alguma pessoa carismática demais para ser presa. Contudo, a organização dos
cidadãos permitiu que o movimento se espalhasse rapidamente para outros países. Quando Ben
Ali fugiu, vídeos dos tunisianos pedindo ajuda já tinham chegado à Argélia e a outros países do
norte da África, onde se iniciaram novos protestos. Esses, apesar de pequenos, eram inspirados
na experiência tunisiana, e logo os líderes da oposição aprenderam como pegar as elites
desprevenidas.
Em questão de poucos meses o que aconteceu na Tunísia inspirou os maiores protestos de
Cairo nos últimos trinta anos. Como que em um efeito cascata mensagens sobre liberdade e
democracia levantaram as expectativas de sucesso das revoltas políticas. Sobre isso os autores
destacam duas evidências principais: o ritmo de crescimento de tweets sobre mudanças políticas
e a evolução dos tópicos principais dos blogs, que passaram a ser sobre revolução. A análise dos
tweets se mostrou bem importante para os autores, já que é uma verdadeira janela para
conversas alheias, diferente das mensagens de celular que são mais difíceis de serem rastreadas.
Os autores consideram o Twitter como uma ferramenta chave, já que além de ter sido utilizada
para coordenar estratégias, também ajudou a fortalecer as expectativas de que o movimento
teria sucesso e a transmitir notícias de mudanças políticas de país a país na região.
Gráfico 1 – Tweets com a hashtag #sidibouzid Fonte: Howard et al. Opening Closed Regimes (2011)
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 41
O Gráfico 1 mostra a localização de 13.262 tweets com a hashtag1 #sidibouzid, a mais
associada com a revolução tunisiana, do dia 14 de Janeiro ao dia 16 de Março de 2011. Apesar de
uma grande parte dos tweets não poderem ser localizadas (No Location), outra grande parte se
deu em países da região (In Region) onde ocorreu a Primavera Árabe e principalmente na Tunísia
(In Country), sendo o restante proveniente de países fora da região (Outside). É importante
destacar a elevação de tweets ocorrida no momento em que Ben Ali renunciou, e a queda
abrupta logo em seguida, que, segundo relataram os ativistas aos autores de OCR, deveu-se a
forças de segurança que começaram a intervir nas redes de comunicação. Logo que os serviços
de comunicação voltaram ao ar ocorreu outro pico de tweets que foi aos poucos se
normalizando, conforme iam restando apenas vestígios da antiga ditadura.
Para ilustrar como as redes sociais auxiliaram a revolução tunisiana a transcender a
fronteira será feito uso de mais um gráfico elaborado durante o trabalho OCR. O Gráfico 2
mostra a onda de tweets ocasionada pela renuncia de Ben Ali, e posteriormente de Mubarak, em
outros países, que esperavam também obter ganhos democráticos.
Gráfico 2 – Número de tweets na região usando hashtags de outros países Fonte: Howard et al. Opening Closed Regimes (2011)
Vários egípcios, ao tomarem conhecimento da queda de Ben Ali, publicaram mensagens
apoiando as revoluções e estimulando movimentos parecidos no Egito. Durante um dos protestos
nesse país um blogueiro e ativista chamado Mahmoud Salem (apud HOWARD et al. 2011) lembrou
1 Hashtag, segundo o serviço de suporte do Twitter, é um símbolo utilizado para “marcar palavras-chave ou tópicos relacionados a
uma discussão ou conversa em um tweet (2012).
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 42
aos seus seguidores no Twitter que “levou um mês de protestos para a revolução tunisiana ter
sucesso. Persistência é tudo”.
O Egito se mostrou um país importante para a Primavera Árabe. Assim como a Tunísia, o
país tem uma vasta esfera pública ativa virtualmente, onde se reúnem não só os partidos
banidos ou ilegais do Egito, mas também jornalistas e cidadãos (HOWARD et al. 2011). Uma
campanha para homenagear o blogueiro Khaled Said – que foi assassinado pela polícia por expor
a corrupção – mobilizou o país. O executivo regional do Google, Wael Ghonim, criou um grupo no
Facebook chamado “Todos somos Khaled Said” e assim como as imagens da imolação de
Bouazizi, a imagem do blogueiro passou por vários celulares. O grupo se tornou,
temporariamente, uma ferramenta logística para organizar os defensores da democracia. O
perfil de Wael no Twitter ficou muito famoso por fazer a ponte entre os egípcios que escreviam
em árabe e os ocidentais, ou falantes da língua inglesa, que acompanhavam os acontecimentos
online.
Os egípcios compartilhavam praticamente as mesmas esperanças dos tunisianos. Os
primeiros ocupantes da Praça Tahrir, na cidade do Cairo, eram pessoas parecidas,
subempregadas, educadas, em busca de uma chance, mas sem compromisso com alguma religião
específica ou uma ideologia política. Encontraram-se primeiramente nas redes sociais e então
recrutaram amigos para saírem às ruas. As tentativas incansáveis de Mubarak para derrubar as
redes sociais só contribuíram para aqueles que ainda não tinham se juntado ao movimento se
juntassem pelo simples desejo de entender o que estava acontecendo.
Para Castells (2011) a revolução é difícil de ser derrubada porque é baseada na liberdade
de comunicação. Para o autor a comunicação por meio da internet teve um papel muito
importante na formação do fenômeno que ficou conhecido como Despertar Árabe, onde várias
pessoas se reuniram em prol de um mesmo objetivo, o fim da ditadura. Os protestos mostram o
poder dos movimentos sociais espontâneos originados por meio da comunicação digital.
Conforme o protesto se difunde se ativam as redes móveis, os sms, os tweets e as páginas no Facebook e outras redes, até que se construa um sistema de comunicação e organização sem centro e sem líderes, que funciona de forma eficaz, transbordando a censura e a repressão (CASTELLS, 2011).
Ao mesmo tempo em que o Facebook serviu para organizar as massas, o Twitter serviu
para imergir a sociedade global dentro do que ocorria nos países. Trazendo dessa forma o debate
para realidade mundial e ultrapassando fronteiras, os eventos no Egito trouxeram o mundo de
volta à discussão sobre a liberdade.
Um balanço da Primavera Árabe: desafios a serem enfrentados
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 43
Após a queda dos regimes há um longo processo de transição para a nova ordem, que
ainda é incerta, levantando diversas expectativas sobre qual será o modelo que vigorará no
mundo árabe.
Os eventos no Egito e Tunísia em 2011 baixaram as cortinas e tiraram de cena uma velha ordem cambaleante, trazendo boa parte do mundo árabe a uma nova era, há muito aguardada. Como será essa nova era continua sendo uma questão em aberto, levando em conta os muitos desafios ainda enfrentados pelos países da região (KHANFAR, 2012).
Tomando como base o que Castells escreveu em seu livro A Galáxia da Internet (2001)
pode-se deduzir que após o papel que assumiu no Despertar Árabe a internet deve agora ser
deixada em segundo plano, para que ocorra um processo de reestruturação política.
[...] ainda precisamos de instituições, ainda precisamos de representação política, democracia participativa, processos de formação consenso e política pública eficientes. Isso começa com governos responsáveis, verdadeiramente democráticos. [...] Esse é o elo fraco na sociedade de rede. Até que reconstruamos, de baixo para cima e de cima para baixo nossas instituições de governo e democracia, não seremos capazes de enfrentar os desafios fundamentais com que nos confrontamos. E se instituições políticas democráticas não puderem fazer isso, ninguém mais o fará ou poderá fazê-lo (CASTELLS, 2001, p. 230).
É importante frisar então que independente da influência que a internet e as redes
sociais tenham exercido na Primavera Árabe, é fundamental basear a mudança estrutural na
política, construir lideranças, reestruturar o poder, para que assim a sociedade possa ser
inserida de fato na grande rede global.
O Despertar Árabe careceu de liderança, o povo não tinha intenção de tomar o poder,
mas de simplesmente derrubar os que o detinham (CELSO, 2011). Os tunisianos estavam
cansados da ordem vigente e de sua falta de perspectiva, do desemprego e da miséria. Ao
derrubarem Ben Ali provaram que o governo de totalitário nada tinha, podia ser autoritário, e
cedeu logo as reivindicações do povo. Após a ditadura sair de cena se percebe uma quase total
falta de referência, o movimento não tinha base política, não tinha liderança.
Levando tudo isso em conta, constata-se que o maior desafio para esses países será
adaptar sua realidade política atual à moderna. Apesar de o movimento ter assumido uma
característica secular, muitos acreditam que os países árabes em fase de transição adotariam
características da religião islâmica no novo modelo (CELSO, 2011). Os temores dos ocidentais de
que um partido islâmico de orientação fundamentalista assumisse o poder ainda não se
concretizaram por completo. Nas eleições históricas realizadas em outubro de 2011 na Tunísia o
partido Islâmico formado por membros da Irmandade Muçulmana obteve 41% dos votos,
assegurando 90 das 217 cadeiras do Parlamento. No Egito Mohamed Mursi, da mesma irmandade,
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 44
foi o candidato que obteve mais votos (25%) no primeiro turno das eleições que ocorreram em
Maio de 2012 (JN, 2012).
No início de 2011, o professor espanhol José Luis Orihuela em seu discurso de
encerramento do I Congresso iRedes declarou:
Na Espanha, os partidos políticos ganharão ou perderão as eleições com as mídias sociais (não graças a elas, nem por culpa delas, e sim com elas). Além disso, os que ganharem terão de governar com as redes sociais. Os partidos que usarem bem essas mídias terão de abrir espaço em seus programas eleitorais e acolher os projetos e demandas da população (ORIHUELA apud ROSSI, 2011).
O que aconteceu em seguida foi que as pessoas que já estavam fazendo protestos nas
redes foram às ruas, durante as campanhas para as eleições espanholas, espontaneamente
(ROSSI, 2011). De caráter reformista as manifestações ficaram conhecidas como 15-M. Foram as
primeiras manifestações que seguindo os padrões da Primavera Árabe – indignação, protestos e
ocupação de praças – exploraram a capacidade de organização proporcionada pelas redes sociais
e aconteceram em um país democrático, fazendo com que houvesse contestações do modelo
democrático ocidental corrente.
Por fim, independente do modelo político de administração estatal que emergir nesses
Estados que participaram da Primavera Árabe, o fato de o povo se fazer audível por meio das
redes sociais, sugere que é necessária uma transformação na arte de governar (REIG apud ROSSI,
2011). O poder de administração dos Estados se tornará cada vez menor se esses não
aprenderem a se alimentar das ideias dos administrados, o povo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os eventos e dados analisados ao longo desse trabalho permitem tirar algumas conclusões
concretas sobre o uso das redes sociais na Primavera Árabe. No início a real utilidade dessas
tecnologias era contestada e menosprezada por falta de dados, porém, cerca de um ano depois
do início das revoluções o material disponível e as pesquisas quantificadas já permitem uma
mensuração mais exata.
Primeiramente é importante ressaltar que os movimentos ligados a ideais de liberdade e
democracia já existiam antes do início das revoluções, e principalmente antes da introdução das
redes sociais (HOWARD et al. 2011). Porém, as novas tecnologias, entre elas as redes sociais,
permitiram que pessoas com interesse em comum se encontrassem, e organizassem ações
políticas, por meio da criação de extensas redes sociais online. Essas redes que se
materializaram nas ruas foram fundamentais para tirar do poder as ditaduras de longa data.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 45
Os blogs na Tunísia deram espaço a livres e profundos debates políticos, tanto sobre
corrupção quanto sobre o potencial de uma mudança política. O Twitter possibilitou que aqueles
que viviam a história a contassem instantaneamente ao mundo e inspirassem pessoas em toda a
região. No Egito o Facebook foi fundamental para expor o descontentamento político. O Youtube
permitiu que todos virassem jornalistas e transmitissem suas histórias quando a mídia local não
pode, ou não quis, relatar os acontecimentos.
As mídias sociais sozinhas não derrubaram os ditadores, mas a tecnologia da informação,
incluindo celulares e internet, alteraram profundamente a capacidade de os cidadãos
interferirem na política de seus países. Essas novas ferramentas se constituíram em verdadeiras
novas oportunidades para a organização dessas sociedades reprimidas e dos movimentos sociais.
A habilidade desses povos de absorver conteúdo político provou que a opinião pública pode
desenvolver cada vez mais rápido o potencial necessário para promover mudanças (HOWARD et
al. 2011).
As conexões criadas por meio das redes sociais permitiram que vídeos, histórias e
mensagens curtas circulassem pela região e transcendessem as barreiras internacionais. O
sucesso dos movimentos tunisianos foi uma inspiração para movimentos contagiantes que se
espalharam pelo mundo árabe, ensinando os povos dos países vizinhos a se organizarem de forma
mais eficiente por meio das redes sociais.
Constantemente, em noticiários e na internet, compara-se a Primavera Árabe à queda do
Muro de Berlim. Nos dois eventos pessoas se uniram em torno de um objetivo comum que
poderia ser proporcionado pela abertura política (PEREIRA, 2011). Também compartilham o
efeito dominó provocado por eles. Apesar de algumas diferenças básicas, como a natureza das
elites opressoras, pode-se dizer que a principal delas é o uso das redes sociais na Primavera
Árabe e os impactos que as mesmas tiveram sobre o movimento, os quais foram discutidos ao
longo do trabalho.
Por fim, gostaria de trazer as redes sociais para a realidade brasileira. A utilização da
internet para discussões políticas ainda é pequena no Brasil (CAMPOS, 2010). Por seguir uma
dinâmica assistencialista onde o povo espera mais favores do que políticas, criou-se certa
estabilidade no país. Renovar o sistema político requer – como ocorreu na Primavera Árabe – que
a população queira mudanças, o que ocorre num momento de crise. Sobre o Brasil atualmente,
Castells (2010) propõe que “quando há estabilidade não se pode esperar que a internet produza
uma mudança que as pessoas não querem”
Tão sólidas quanto o muro invisível que foi derrubado parcialmente ao longo do Despertar
Árabe as redes sociais foram importantes, sim, para que os movimentos revolucionários
transbordassem para além das fronteiras tunisianas. O uso das redes sociais não mudou o
objetivo dos movimentos sociais. Na Primavera Árabe, a população demonstrou seu desejo de
liberdade e as redes sociais se tornaram uma ferramenta importante para alcançar essa
liberdade.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 46
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANONANALYTICS. About us. Disponível em: <http://www.anonanalytics.com/>. Acesso em: 15 maio 2012.
CAMPOS, Daniel. Manuel Castells e as Redes Sociais. Luis Nassif Online, 21 set. 2010. Disponível em: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/manuel-castells-e-as-redes-sociais>. Acesso em: 10 maio 2012.
CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra,
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2002. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v. 1).
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v. 2).
CASTELLS, Manuel. Fim de milênio. São Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v. 3).
CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
CASTELLS, Manuel. La wikirrevolución del jazmín. La Vanguarda, 29 jan. 2011. Disponível em: <http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110129/54107291983/la-wikirrevolucion-del-jazmin.html> Acesso em: 29 maio 2012.
CASTELLS, Manuel. Castells: ‘As redes sociais não são uma virtualidade em nossa vida: é nossa realidade que se fez virtual’. Webmanario, 2010. Entrevista concedida a Alec Duarte. Disponível em: <http://webmanario.com/2010/09/26/castells-a-rede-social-nao-e-uma-virtualidade-em-nossa-vida-e-nossa-realidade-que-se-fez-virtual/>. Acesso em: 02 abril 2012.
CASTELLS, Manuel. 'Se um país não quer mudar, não é a internet que irá mudá-lo', diz sociólogo espanhol. Folha.com, 21 set. 2010. Entrevista concedida à Folha. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/801906-se-um-pais-nao-quer-mudar-nao-e-a-internet-que-ira-muda-lo-diz-sociologo-espanhol.shtml> Acesso em: 1º maio 2012.
CELSO, Affonso. Movimentos contra o autoritarismo. Política Externa, v. 20, ju./jul./ago. 2011.
G1. O que é: Rede Social. g1 definições, São Paulo, 09 de abril de 2008. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/0,MUL394839-15524,00.html>. Acesso em: 04 maio 2012.
GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991.
HECKE, Caroline. Como o governo do Egito derrubou a internet de todo o país. Tecmundo, 31 jan. 2011. Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/internet/8119-como-o-governo-do-egito-derrubou-a-internet-de-todo-o-pais.htm>. Acesso em: 10 maio 2012.
HOWARD, Philip et al. Opening Closed Regimes, What was the role of social media during the Arab Spring? [pdf], pITPI, 2011.
JN. Primeiros resultados da eleição do Egito indicam que haverá 2º turno. Jornal Nacional, 25 maio 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/05/primeiros-resultados-da-eleicao-do-egito-indicam-que-havera-2-turno.html> Acesso em: 29 maio 2012.
KHANFAR, Wadah. Um balanço da Primavera Árabe. Valor Econômico, 20 jan. 2012. Disponível em: <https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/1/20/um-balanco-da-primavera-arabe>. Acesso em: 05 maio 2012.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 47
LINGUAMÓN. El árabe gana fuerza em Facebook en Oriente Medio. 2011. Disponível em: <http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=386&idioma=6>. Acesso em: 1º abril 2012.
LOBO, Teresa. Irmandade muçulmana. Ocidente Subjectivo, 2012. Disponível em: <http://ocidentesubjectivo.blogspot.com.br/2012/01/irmandade-muculmana.html>. Acesso em: 24 maio 2012.
PEREIRA, Izabela. Facebook e Twitter: o papel da mídia no despertar Árabe. Mundo RI, 15 ago. 2011. Disponível em: <http://www.mundori.com/home/view.asp?paNoticia=2240>. Acesso em: 05 abril 2012.
PINGDOM. Facebook now as big as the entire Internet was in 2004. Disponível em: <http://royal.pingdom.com/2011/10/05/facebook-now-as-big-as-the-entire-internet-was-in-2004/>. Acesso em: 15 abril 2012.
PINTO, Alexandre. Nova fase da Primavera Árabe: o crescente sobe. Professor Alexadre Pinto, 17 abril 2012. Disponível em: <http://professoralexandrepinto.com/concursos/nova-fase-da-primavera-arabe-o-crescente-sobe/>. Acesso em: 13 maio 2012.
PORTO, Luisa de Melo. Tecnologia determina ou condiciona? Disponível em: <http://www.faac.unesp.br/publicacoes/anais-comunicacao/textos/27.pdf>. Acesso em: 04 abril 2012.
ROSSI, Claudia. Mídias sociais: rumo à democracia participativa? Sociologia, 2011. Disponível em: <http://sociologiacienciaevida.uol.com.br/ESSO/Edicoes/37/artigo238948-1.asp>. Acesso em: 05 maio 2012.
STIVANIN, Taíssa. Facebook emerge como ferramenta de mobilização nas revoluções do mundo árabe. Disponível em: <http://www.portugues.rfi.fr/node/50495>. Acesso em: 29 mar. 2012.
TELECOMIX. About. Disponível em: <http://telecomix.org/>. Acesso em: 15 maio 2012.
TWITTER. What Are Hashtags (“#” Symbols)? Disponível em: <https://support.twitter.com/articles/49309-what-are-hashtags-symbols>. Acesso em: 20 maio 2012.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 48
DISPARIDADES REGIONAIS E CONCENTRAÇÃO PRODUTIVA:
possíveis políticas de desconcentração de renda para
solucionar a herança do desenvolvimentismo
intervencionista brasileiro.
João Victor Guedes Neto1
Resumo: Durante a história econômica brasileira, o intervencionismo estatal gerou um grande
número de disparidades sociais no país uma vez que a maior parte dos governos possuía como
entendimento o modelo de desenvolvimento baseado em setores específicos de produção. Neste
sentido, este trabalho descreve a evolução da economia brasileira desde sua colonização até os
programas atuais e aponta, então, para possibilidades de políticas de desenvolvimento pautadas
por uma visão diferente daquelas já comuns orientadas pelo planejamento dentro de um modelo
intervencionista.
1 10º período de Ciências Econômicas, Universidade Federal de São João del-Rei. E-mail: [email protected]
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 49
INTRODUÇÃO
A elaboração deste trabalho, que parte dos conceitos das ciências econômicas voltados
para a questão do desenvolvimento regional e urbano, segue no sentido de, sob a luz da
evolução histórica do cenário econômico brasileiro, propor alternativas para a desconcentração
produtiva levantando não só as ações vigentes mas ideias teóricas ou já praticadas com relativo
sucesso.
Parte-se inicialmente do conceito de Cavalcante (2008) que trata das abordagens mais
recentes desta ciência onde a análise sobre o desenvolvimento do meio empresarial visa não
apenas “relações puramente mercantis mas também aquelas sociais e tecnológicas que se
estabelecem entre empresas situadas em um mesmo espaço geográfico e entre as empresas e a
comunidade local”.
Assim sendo, este trabalho analisará a formação econômica brasileira a partir do inicio do
século passado, revisitando a bibliografia referente ao desenvolvimento da economia
agroexportadora que fundamentou, junto aos investimentos governamentais, todo o processo de
industrialização e que, ao passar do século, acabou por criar um cenário de concentração de
renda ainda maior do que já era no período colonial brasileiro.
Bem como relata Cano (2000) ao citar as pesquisas de Celso Furtado, a economia
brasileira foi formada a partir de uma série de diferentes culturas que resultaram “das
articulações e da crise da mineração (século XVIII), da cafeicultura (séculos XIX e XX), das
economias de pequena propriedade do Espírito Santo e do Sul e da agricultura capitalista
diversificada de São Paulo”.
Entendendo que a grande quantidade de terras no território nacional permitiram não só a
ampla exploração das monoculturas latifundiárias exportadoras da plantation escravista mas
também de culturas de subsistência e assistência a mão de obra nativa – incluindo aí não só os
agroexportadores mas também a comunidade mineira – percebe-se que tais atividades iniciais
acabaram por gerar, por si só, um mercado consumidor local e, para demandas emergenciais
como a da alimentação, também um mercado produtivo secundário.
Esta ótica produtiva, bem como continua a descrever Cano (2000), gerou a acumulação
de capital por parte das elites fundiárias e já a partir daí um cenário de dependência que
envolvia não só os então escravos – e, logo após, trabalhadores rurais – mas também todo aquele
setor produtivo agregado à suas fazendas, descritas como produções complementares para a
satisfação do mercado consumidor local.
A partir da evolução deste cenário, este trabalho se propõe a tratar de todo o seu
desdobramento desde o início do período republicano e, por fim, a abordar projetos
governamentais, ações não programadas da sociedade civil e teorias de desenvolvimento
voltadas para a correção dos problemas gerados pela má distribuição dos recursos produtivos e
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 50
de renda no país para que se apresente, desde todo o cenário descrito, soluções para o problema
da má distribuição de renda brasileira.
O Marco De 1930 E Seus Desdobramentos Desenvolvimentistas
Levando-se em conta todo o cenário inicial descrito a partir da introdução deste trabalho,
atingimos o ano de 1930, seguinte à eclosão da crise mundial dos mercados financeiros e que
marcou ainda o inicio do Governo Vargas, “um ponto de inflexão decisivo no que tange ao
processo de modernização da sociedade brasileira” (MARTINE et al, 1990).
Tal afirmação se baseia na quebra da hegemonia da economia agrícola como força motriz
do desenvolvimento nacional, fato que gerou, a partir do primeiro ciclo de investimentos
pesados na indústria, um imenso êxodo rural, desencadeando, assim, a urgência da urbanização
das metrópoles emergentes.
Estas mudanças de ordem econômica que culminaram na década de 1930 foram geradas,
como citado, pela necessidade de uma renovação de mercados uma vez que eclodia no mundo
uma crise que acabou por renovar não só os modelos produtivos mas toda a ordem econômica
mundial – que se consolidaria a partir do término da segunda Guerra Mundial.
Tal cenário degenerativo fora descrito por Pinheiro (1995) como motivador para o
“encarecimento das importações e da diminuição do valor e quantidade das exportações,
impossibilitando a viabilidade” do modelo agroexportador vigente.
Ao perceber o novo cenário e suas tendências, os latifundiários agroexportadores
localizados principalmente no território paulista, beneficiados pela acumulação de capital
gerada por sua supremacia financeira, iniciaram a promoção de investimentos na agregação de
valores à sua produção, gerando, a partir daí, um tímido processo de industrialização que
contribuiu ainda mais para a composição do cenário já existente da concentração exacerbada de
renda por conta desta minoria.
Ainda com vantagens políticas pela dominação que exerciam sobre as articulações das
primeiras décadas da política nacional, acabaram por ser beneficiados também pelos
investimentos governamentais que, com Vargas, dava os seus primeiros passos para um processo
de substituições de importações. Seu período presidencial “de 15 anos que se desdobra entre
1930 e 1945” acabou por ser, a partir daí, “um momento histórico decisivo na trajetória do país,
que, através das reformas introduzidas, ingressa numa nova etapa” (DINIZ, 1978).
Serra (1982), por sua vez, faz um exame detalhado sobre os “ciclos e mudanças
estruturais na economia brasileira no após-guerra” onde levanta dados, por exemplo, dos
avanços da indústria manufatureira da ordem de 20,2% para 27,3% na Renda Interna em preços
correntes entre 1949 e 1970 em paralelo ao desenvolvimento do setor industrial (citado como
“indústria de transformação, construção civil, mineração e serviços industriais de utilidade
pública”) que obteve um salto de 26,0% para 33,4%.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 51
Tais dados, mesmo sem sua discriminação específica de onde representaram maiores ou
menores ganhos em termos regionais, são importantes para discriminar, em um primeiro
momento, o papel que a mudança das atividades econômicas exerceu no país e justificar, bem
como dito anteriormente, a importância que a acumulação de capital das elites fundiárias teve
neste cenário – já que sem esta não se teriam os recursos iniciais necessários para se
implementar mudanças também de ordem de indústria nacional em paralelo aos recursos
externos ingressantes no Brasil.
Especificidades Do Desenvolvimento Regional
Passando das explanações gerais para as especificidades regionais, é importante explicar
localmente o que fora levantado como o desenvolvimento inicial paulista não acompanhado
pelas demais regionais brasileiras.
Cano (1988) faz isso de forma brilhante ao relatar o caso da quebra do mercado da (1)
borracha na região norte, que teve seu período áureo entre 1870 e 1912; (2) do açúcar no
nordeste que durou entre o século XVI e XVII, seguido então também pela cultura do algodão,
ambos sofrendo forte concorrência com os produtores das Américas Central e do Norte; e (3) do
cenário sulista onde a agricultura, com propriedades de pequeno e médio porte, impedia o
acúmulo de capital necessário para o investimento na agregação de valores industriais a
produção.
O diferencial, ainda segundo o autor, se deu na região sudeste – como já explanado de
maneira superficial anteriormente – onde (1) o Rio de Janeiro que, mesmo não tendo obtido
grande destaque na produção cafeeira, acabou por se tornar o principal centro comercial e
financeiro nacional a partir de sua zona portuária, permitindo a implantação de um vasto parque
industrial em seu território; (2) Minas Gerais e Espírito Santo, também estados cafeeiros,
acabaram perdendo seu potencial exportador ao promover a passagem do escravismo para o
livre trabalho com base no regime de parceria e pequenas propriedades – colocando-os assim,
com ênfase para o primeiro estado, em um cenário de produção agropecuária alimentar voltado
para os mercados nacionais; e (3) São Paulo, onde a cafeicultura teria sido implantada com as
bases capitalistas mais avançadas que permitiram sua grande acumulação de capital seguida de
investimentos na agregação de valores e conter a partir daí, em 1929, 37% do parque industrial
do país.
O cenário avançou no sentido do desenvolvimento paulista de tal maneira que na década
de 1950 esta porcentagem de concentração já estava no nível de 55%, aumentando ainda mais a
dependência já existe criando internamente no Brasil uma relação semelhante a da ótica
internacional do comércio centro-periferia, onde São Paulo e Rio de Janeiro se desenvolveram
como estados manufatureiros compradores da produção alimentar das demais regiões do país
enquanto fornecedores de bens manufaturados.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 52
A Urbanização Nacional
De acordo com CANO (1988),
“Embora em 1960 a população rural ainda representasse 55% do total, no período de
1950-60, o crescimento da população urbana respondeu por 2/3 da expansão demográfica
nacional. Pelo ângulo exclusivamente demográfico, foram seus principais fatores o êxodo rural e
as migrações inter-regionais (estas, notadamente para o Rio, SP e PR)”.
A partir desta afirmação, Cano (1988) desenvolve em sua obra a orientação de que,
embora o processo de industrialização tivesse sido iniciado formalmente no inicio da década de
1930, foi apenas na década de 1960 que a industrialização brasileira começou a se dar como
aparente também frente aos dados populacionais existentes, mantendo, como é perceptível
pelos dados apresentados, a ótica do eixo central como Rio-SP.
Ainda no tocante a estes avanços no período de 1960, São Paulo acabou por ser também o
primeiro estado a desenvolver a periferização dos assentamentos industriais de sua metrópole,
desafogando sua capital e direcionando para suas cidades vizinhas novos parques industriais e
parte considerável de sua população trabalhadora – em sua maioria de baixa renda.
É importante citar, ainda sobre a década de 1960, que foi nesta em que foi
implementado o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), entre os anos de 1964-67,
tratando-se de reformas que alteraram toda a base do sistema econômico brasileiro e guiaram o
país, segundo Simonsen e Campos (1974), para consolidar sua estrutura de desenvolvimento que
garantiu um dos pilares para o milagre econômico, Era iniciada na subsequente década de 1970,
e do grande aporte de capitais estrangeiros das décadas posteriores.
Com estas bases, a realidade da descentralização periférica viria a acontecer também nas
demais metrópoles nas próximas décadas e servir de exemplo para a redução das disparidades de
concentração de renda da relação periferia-centro dos estados brasileiros, promovendo um certo
êxodo industrial, mesmo que em pequena escala, para as regiões menos urbanamente
desenvolvidas do país.
Isto foi possível, segundo o mesmo trabalho de Cano (1988) devido à políticas de
incentivo ao desenvolvimento regional na década de 1970 que, no já citado milagre econômico,
levou recursos à periferia nacional motivados tanto por sua força política junto ao Governo
Federal como por sua base de recursos naturais – como é o exemplo do pólo petroquímico de
Camaçari na Bahia – e a saturação espacial da região paulista e carioca.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 53
É importante salientar, ainda sob esta temática, que “a industrialização resultante na
periferia nacional (...) é de caráter complementar à do centro dominante, e sua grande
dependência dos mercados compra esta assertiva” (CANO, 1988).
A Estagnação Do Setor Agrícola
Desenvolvendo tal cenário do inicio da desconcentração industrial brasileira, é
importante citar também que após o começo dos programas desenvolvimentistas embrionados
ainda na Era Vargas, o setor agrícola acabou sendo deixado de lado pelos governos sob a ótica da
generalização da deteriorização dos termos de trocas de Prebisch que colocava o setor como
secundário aos interesses comerciais dos países periféricos.
Isto aconteceu principalmente no período pós-PAEG durando quase três décadas, como
desenvolve Melles (2008) em seu projeto orçamentário que prevê apenas para a atualidade, final
da década de 2000, o contorno deste cenário não só no Brasil mas em todas as demais nações em
desenvolvimento com fortes discursos do Ministério da Agricultura (STEPHANES, 2007) e da Food
and Agriculture Organization (DIOUF, 2008).
Tais dados são importantes mesmo entendendo a redução drástica da participação do
setor na renda dos estados – para a qual Cano (1988) levanta os dados de 16% no Norte,
Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e apenas 4% em São
Paulo.
O embasamento disto é dado por CANO (1988) na seguinte citação:
“Entretanto – e principalmente nas periferias mais atrasadas – o avanço não foi capaz de
superar as forças econômicas e políticas regionais que sobrevivem à custa da manutenção do
atraso. A despeito de uma certa modernização agrícola (...) o capital mercantil regional
somente sofreu abalos marginais em sua dominação”.
Assim, coloca que tal falta de atenção não só o fez estagnar mas provocou a continuação
do cenário econômico inicial de dominância a partir dos recursos acumulados unicamente por
estes, incentivando, de certa maneira, a ótica da agregação de valores – como fez a elite
cafeeira paulista – e a contínua dependência exercida pelos grandes produtores sobre os
trabalhadores rurais.
A atenção governamental neste período poderia, além de ter facilitado a agregação de
valores industriais ao setor, permitir o desenvolvimento de pequenas e médias estruturas
fundiárias para gerar não unicamente uma desconcentração de renda intra-regional, mas
também entre os próprios produtores rurais locais permitindo cenários de desenvolvimento da
qualidade de vida também fora dos eixos urbanos.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 54
Disputas Regionais Pelo Autodesenvolvimento
Entendendo as generalidades do desenvolvimento espacial brasileiro, é possível iniciar
uma explanação sobre o cenário atual – que se desenvolve timidamente desde meados da década
de 1960 – sobre a Guerra Fiscal entre os estados da federação.
Esta, explicada detalhadamente por Prado (1999), se dá pelas ofertas de isenção fiscal –
principalmente em torno do ICMS – por conta dos Governos Estaduais – e em muitos casos
também municipais – para atrair investimentos de empresas principalmente de capital externo
que optariam por localidades com facilidades fiscais para promover a instalação de suas plantas
industriais.
Tal atração de investimentos industriais, segundo Varsano (apud PRADO, 1999) justifica,
sob a ótica da teoria das finanças públicas, “a concessão de incentivos e demonstra que, do
ponto de vista da economia e sociedade locais, a maioria dos incentivos atende a estas
condições”, dando validade aos gestores públicos que as promovem.
O autor argumenta ainda que este tipo de política é o pior método existente para o setor
público promover o seu desenvolvimento regional dada à alta inelasticidade das empresas a este
tipo de mecanismo e à falsa condição privilegiada frente à concorrência que acaba por gerar –
prejudicando o entendimento sobre o mercado em um cenário futuro não subsidiado. Ainda
assim, o autor julga ser válida dados aos benefícios em comparação às perdas, como citado, e a
ser uma das únicas alternativas à cidades historicamente prejudicadas pelo desenvolvimento de
suas regiões.
Ainda em tempo, os mecanismos de guerra fiscal acabam sendo complementares às
situações de exaustão espacial das metrópoles que, saturadas fisicamente, acabam por
apresentar uma valorização imobiliária tal que incentiva a descentralização de seus complexos
industriais, mantendo abrigados, em muitos dos casos, unicamente a central de suas operações
enquanto os setores produtivos se espalham pelas diversas regiões periféricas do país.
Assim sendo, um exemplo clássico de como a ausência de impostos ajudou no
desenvolvimento de uma região – mesmo que este caso particular tenha sido motivado por uma
política também federal – é o caso da Zona Franca de Manaus levantado por Ferreira (2008).
Ele aborda isso sob a ótica da baixa atratividade da região para as indústrias que engloba
praticamente todos os fatores negativos para o desenvolvimento incluindo (1) alto custo para
transportes, (2) demanda local irrelevante e (3) força de trabalho composta majoritariamente
por imigrantes. Assim sendo, fosse pela racionalidade econômica, não haveria motivos para a
alocação de plantas industriais por lá não fosse a isenção total dos impostos bem como é
praticada.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 55
Programas Nacionais De Desenvolvimento Regional
O caso citado, abordado por Ferreira (2008), por mais que tenha sido uma política
conjunta ao Governo Federal, acabou por se concentrar em um único pólo de desenvolvimento.
No entanto, é possível perceber ainda no mesmo trabalho, políticas regionais que, na
intenção de reduzir a concentração produtiva do país se deram no sentido de se criar
superintendências regionais de ação para o desenvolvimento. Foram os casos da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Amazônia (SUDAM) criadas
para distribuir recursos – em parte oriundos do BNDES – a fim de desenvolver a agregação de
valores à produção local.
Sobre estas, segundo o resultado de seu estudo, Ferreira (2008) coloca que não obtiveram
os resultados esperados mas que sem a sua existência as regiões trabalhadas estariam em
situação bem pior do que a atual.
Dando continuidade aos projetos de nível nacional vale citar o recente Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) promulgado em 2006 pelo Governo Federal no sentido de
realizar obras de infraestrutura para permitir o desenvolvimento não só das empresas já
instaladas, mas também aumentar o volume dos investimentos externos em todas as regiões
brasileiras.
Bem como afirma Kasznar (2008), o programa se divide em cinco blocos sendo eles (1) os
já citados investimentos em infraestrutura com foco na produção de energia direcionada ao
petróleo, para onde iriam a maior parte dos recursos; (2) o estímulo ao crédito e ao
financiamento; (3) a melhoria do marco regulatório e das leis ambientais; (4) a redução e
aperfeiçoamento tributário; e (5) as medidas fiscais de longo prazo para dar consistência
macroeconômica ao programa.
Assim sendo, além do fato levantado pelo autor ao narrar a omissão do programa em
relação ao cuidado que se deve ter com o tamanho inflado que já possui o Estado brasileiro,
deve-se ter em mente, sob a luz deste trabalho, a importância de se saber direcioná-lo para
desenvolver não só as metrópoles já saturadas – como fora feito, de maneira involuntária, nos
processos de substituição de importações elaborados no Brasil.
É urgente que tais ações sejam voltadas também para sanar as problemáticas dos grandes
centros mas, prioritariamente, devem ser direcionados no sentido de dar à todas as regiões do
país condições iguais de se desenvolver – reduzindo as deficiências atuais advindas da herança
maldita do desenvolvimentismo.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 56
CONCLUSÃO
A partir deste trabalho foi possível perceber que o problema da concentração exacerbada
da renda e da produção brasileira foi gerado por um conjunto de fatores que envolveram tanto o
desenvolvimento do setor privado como políticas públicas mal planejadas pelo Governo Federal.
No primeiro caso, beneficiou-se a elite cafeeira paulista, único grupo capitalista
brasileiro capaz de acumular recursos suficientes para promover a agregação de valores à sua
produção e transformá-la, mesmo que de forma tímida, em um modelo industrial. Entende-se tal
desenvolvimento inicial, em um primeiro momento, como mérito empresarial e, de certa forma,
a inserção da produção em um cenário econômico internacional totalmente favorável.
Para o segundo caso é possível citar o conjunto de ações que compuseram todos os
processos internos de substituição de importações que acabaram por gerar um endividamento
governamental exacerbado e o seu direcionamento para o desenvolvimento imediatista de uma
indústria subsidiada – e assim despreparada para a concorrência internacional – principalmente
dentro dos cinturões já economicamente favorecidos, agravando ainda mais as disparidades
regionais do país.
Por fim, ainda dentro do segundo caso, houve o total esquecimento do setor rural, antes
considerado a força motriz da economia, o que fez com que sua ótica fundiária permanecesse
desfavorável para o pequeno produtor e trabalhador campesino, incapazes de se desenvolver
sem políticas de extensão rural e reforma agrária, agravando ainda mais a concentração de
renda no campo.
Ambos os cenários estimularam não só a concentração regional da produção mas também
o crescente desequilíbrio na distribuição da renda tanto no setor rural como nas metrópoles,
gerando, de forma totalmente desorganizada, cenários de péssima qualidade de vida em ambos
os espaços nacionais.
A resposta, no entanto, tem sido dada pela integração do público com o privado, com
medidas que demandam uma gestão governamental eficiente em todos os níveis – federal,
estadual e municipal – para que, além de proporcionar a infraestrutura básica para o
desenvolvimento empresarial apresentem confiabilidade em programas governamentais também
para que, no longo prazo, o crescimento esperado possa acontecer e se tornar estável.
É importante, assim, que os governos tenham em mente que (1) a opção acelerada nem
sempre é a mais sustentável; que (2) a proteção exacerbada em um primeiro momento pode
gerar despreparo futuro; e que (3) não existem setores mais ou menos importantes dentro de um
país com a dimensão continental e a diversificação produtiva existentes no Brasil.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 57
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAMPOS, Roberto de Oliveira; SIMONSEN, Mario Henrique. Nova Economia Brasileira, 1ª edição.
Rio de Janeiro: APEC, 1974.
CANO, Wilson. Celso Furtado e a questão regional no Brasil. Celso Furtado e o Brasil, 1ª edição,
p. 93-119. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2000.
CANO, Wilson. Questão regional e urbanização no desenvolvimento econômico brasileiro pós
1930. In: Anais do VI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, vol. 2., p. 67-99. Caxambu:
ABEP, 1988.
CAVALCANTE, Luiz Ricardo Mattos Teixeira: Produção Teórica em Economia Regional: Uma
proposta de sistematização. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, Vol. 2, No 1.
Pará: ANPUR, 2008.
DIOUF, Jacques. The current food crisis: Challenges and opportunities for agricultural
development. Havana, 21 de julho de 2008.
DINIZ, Eli. Empresário, Estado e Capitalismo no Brasil: 1930-1945. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1978.
FERREIRA, Pedro Cavalcanti. Regional Policy in Brazil: a Review. Rio de Janeiro: FGV, 2008.
Disponível em <http://www.fgv.br/professor/ferreira/RegionalPolicyFerreira.pdf>. Acessado em
3 de dezembro de 2009.
KASZNAR, Istvan Karoly. O Programa de Aceleração do Crescimento. In: Política de gestão
pública integrada, p. 30-34. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2008.
MARTINE, George et al – A Urbanização no Brasil: Retrospectiva, Componentes e Perspectiva. In:
Para a Década de 1990: Prioridades e Perspectivas de Políticas Públicas, v. 3, p. 99-159. Brasília:
IPEA/IPLAN, 1990.
MELLES, Carlos. Relatório apresentado sobre o Projeto de Lei n° 30/2007-CN: Área temática IX –
Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Brasília: Congresso Nacional, 2007.
PINHEIRO, Vinicius. Modelos de Desenvolvimento e Políticas Sociais na América Latina em uma
Perspectiva Histórica. Planejamento e Políticas Públicas, n° 12, junho/dezembro, p.63-88.
Brasília: IPEA, 1995
PRADO, Sergio. Guerra fiscal e políticas de desenvolvimento estadual no Brasil. Economia e
Sociedade, vol. 13, dezembro, p. 1-40. São Paulo: UNICAMP, 1999.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 58
SERRA, José. Ciclos e mudanças estruturais na economia brasileira do após-guerra. Revista de
Economia Política, vol. 2/2, n° 6, abril/junho, p. 5-45. São Paulo: FGV, 1982.
STEPHANES, Reinhold. Discurso do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no
lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2007/2008. Palácio do Planalto, 28 de agosto de 2007.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 59
CAPITALISMO, LIBERDADE E, POR FIM, DEMOCRACIA?
Anderson de Souza Oliveira1
RESUMO: Em que medida a liberdade e o capitalismo possibilitam a conquista e o progresso da
democracia? O capitalismo, caracterizado como o sistema de trocas e transações econômicas,
tem relevância no processo de conquista de mais liberdade? Há relação, enfim, entre liberdade,
capitalismo e democracia? É isto que este trabalho busca refletir à luz de revisão teórica e
analisando, ainda, o panorama a respeito da liberdade e da democracia no mundo
contemporâneo.
Palavras chave: capitalismo, liberdade, democracia
1 Bacharel em Jornalismo pela Universidade de Sorocaba. Pós-graduando em Globalização e Cultura pela Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP. E-mail: [email protected].
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 60
INTRODUÇÃO
Este trabalho investiga as relações entre capitalismo, liberdade e democracia, discutindo
teoricamente se há correlação entre os três. O estudo não tem como objetivo comprovar e está
longe de esgotar a relação causal entre os fatores observados, porém denota que a democracia –
considerada o estágio mais elevado e desejado de governo pelo Ocidente – traz em si e fortalece
ainda mais o capitalismo e a liberdade. Nesse sentido, a discussão teórica desenvolvida neste
artigo busca refletir se a democracia pode ser fruto de sistemas liberais capitalistas. Os autores
abordados levam a crer que sim.
O capitalismo moldou o homem moderno, incutindo-lhe o raciocínio lógico e banindo de
sua mente o misticismo inerente às sociedades primitivas. A busca pelo lucro despertou no
homem seu anseio por liberdade, levando-o a questionar antigos mitos, como a subordinação aos
reis, à Igreja, etc. O capitalismo, assim, tornou possível a moderna ciência, trazendo consigo a
crença no progresso do homem.
Desse modo, a liberdade moderna é oriunda da busca do homem por alimentar seus
anseios, sejam econômicos ou políticos. A liberdade econômica – caracterizada pela troca e
transação com vistas ao lucro – leva, conforme resgate histórico, à liberdade política.
Das sociedades capitalistas, portanto, emergiram os Estados liberais, ao passo que a
moderna democracia também surgiu desse ambiente.
O presente trabalho, nesse sentido, denota que há uma possível relação causal entre
liberdade econômica – tratada como capitalismo – e democracia. Como se verifica na parte final
deste artigo, as nações classificadas como as mais democráticas também são caracterizadas
como de notória liberdade econômica.
O Capitalismo E O Novo Homem
O capitalismo sempre foi um indutor do progresso da humanidade. E foi sua emergência
que deu outro sentido à vida do homem. Como afirma Schumpeter (1984, p. 165), o capitalismo
foi “a força propulsora da racionalização do comportamento humano”. O misticismo e o
autoritarismo que caracterizavam as sociedades pré-capitalistas, onde ciclos recorrentes
denotavam o surgimento e o desaparecimento de impérios e civilizações, como revela Lobão
(1998, p. 1), foram solapados pela crença na possibilidade do progresso humano. Isto porque,
revela este autor, “em algum momento da existência do Homem sobre a terra, esse paradigma
[a ideia da decadência histórica, do fim natural de homens, reis, civilizações, etc] começou a
ser questionado”.
Do fim deste paradigma, que advém da racionalização, acrescenta Lobão, consolidou-se a
crença no progresso. Isto porque, segundo Schumpeter (1984, p. 161), o “processo capitalista
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 61
racionaliza o comportamento e as ideias e, ao fazê-lo, expulsa da nossa mente, juntamente com
as crenças metafísicas, as ideias românticas e místicas”.
Tudo isso pode ser descrito, afirma Weber (2002), como um “desencantamento do
mundo”. A intelectualização e a racionalização, denota o autor, demonstra que todas as coisas
podem ser dominadas através do cálculo. E desse racionalismo, revela ainda Weber (1967),
notadamente Ocidental, emergiu o moderno capitalismo.
Dando sequência, nota-se que a possibilidade do progresso se origina da própria
racionalização do comportamento do homem e do fim das antigas especulações metafísicas.
Trata-se, como descreve Schumpeter,
de uma lenta, embora incessante, ampliação do setor da vida social em cujo interior indivíduos ou grupos vão tratando de uma dada situação, tentando, em primeiro lugar, obter os melhores resultados possíveis [...] – de acordo com suas luzes; em segundo lugar, fazendo-o de acordo com aquelas regras de coerência que chamamos lógica. (SCHUMPETER, 1984, p. 161)
Desse modo, ao passo que “o hábito da análise e do comportamento racionais nas tarefas
diárias atinge determinado ponto”, o homem racionaliza sua crítica, indagando-se: “por que
haver reis e papas ou subordinação, ou dízimos, ou propriedade?”1. Assim, tem-se o fim do
misticismo e do autoritarismo como inerentes às sociedades.
Para Schumpeter, esta atitude racional, com base lógica, “presumivelmente” se forjou na
mente humana em virtude das necessidades econômicas: “é à tarefa econômica cotidiana que
devemos nosso treinamento elementar em pensamento e comportamento racionais”, afirma o
economista2. Não obstante, o capitalismo, e não apenas a atividade econômica, legou ao homem
duas coisas – imprescindíveis para o desenvolvimento do próprio capitalismo e do mundo
moderno.
A primeira, demonstra Schumpeter3, é a exaltação da unidade monetária como unidade
de controle. Isto porque “a prática capitalista transforma a unidade moeda em ferramenta de
cálculos racionais custos/lucro”. Após essa evolução, que possibilitou a definição numérica, a
mesma lógica inicia – findado o setor econômico – “sua carreira de conquistador, subjugando –
racionalizando – os instrumentos e as filosofias do homem, sua prática médica, sua descrição do
cosmo, sua visão da vida, inclusive seus conceitos de beleza e justiça e suas ambições
espirituais”4.
Para Schumpeter, o capitalismo cuidou não apenas de produzir a atitude mental da
ciência moderna, consistida no ato de fazer perguntas e buscar respondê-las, “mas também os
homens e os meios”. “Ao subverter o mundo feudal e perturbar a paz intelectual da casa
1 Idem, Ibidem. 2 Idem, p. 162. 3 Idem, p. 163. 4 Idem, ibidem.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 62
senhorial”, explica o autor, além de criar um espaço social para uma nova classe, fundamentada
no êxito econômico, o capitalismo atraiu para si os melhores intelectos1.
Capitalismo e Liberdade
A primeira necessidade que se erige ao se investigar a liberdade é a de defini-la. Para
isso, utiliza-se aqui a definição de Bobbio (2002). Seguindo a definição do autor, há dois tipos
básicos de liberdade: negativa e positiva.
A primeira caracteriza-se pela possibilidade que um indivíduo tem de agir sem qualquer
impedimento ou sem ter sido obrigado a isso. A liberdade negativa pode também ser chamada,
segundo Bobbio, de “liberdade como ausência de impedimento ou constrangimento: se, por
impedir, entende-se não permitir que os outros façam algo, e se, por constranger, entende-se
que outros sejam obrigados a fazer algo” (BOBBIO, 2002, p. 48). Desta forma, considera-se que o
indivíduo tenha liberdade se puder expressar suas opiniões sem que seja censurado, e que,
denota o autor, também não seja obrigado a exercer o serviço militar2.
A segunda liberdade citada por Bobbio3, a positiva, aposta na autonomia dos indivíduos.
Entende-se esta liberdade como a “situação na qual um sujeito tem a possibilidade de orientar
seu próprio querer no sentido de uma finalidade, de tomar decisões, sem ser determinado pelo
querer dos outros”. Assim, se a liberdade negativa constitui-se da “ausência de algo”, a segunda
indica o contrário: a “presença de algo” – aqui, um atributo do querer de cada indivíduo, que é a
capacidade de se mover para uma finalidade4.
Essa definição comentada por Bobbio, não obstante, pode ser melhor distinguida. Nesse
sentido, o autor prefere utilizar liberdade de agir (negativa) e liberdade de querer (positiva).
Espalhadas em meio a estas duas liberdades, Merquior (1982) detalha outras:
1. A liberdade-segurança, vivenciada como ausência de opressão ou de interferência arbitrária, se resume no gozo de direitos estabelecidos e no senso de dignidade, 2. A liberdade-expressão, ou liberdade de consciência ou de opinião; 3. A liberdade política, ou seja, o direito de participar das decisões que afetam a vida coletiva (nas sociedades modernas costuma concretizar-se na democracia); 4. A liberdade em perseguir aspirações ditadas tão-somente pelo propósito individual ou grupal de viver como a cada um lhe apraz; é a liberdade de perseguir oportunidades. (MERQUIOR, 1982, p. 121)
Aqui é preciso relacionar o capitalismo à liberdade. Há um costume de atribuir àquele a
ausência desta, isto é, costuma-se enfatizar que o capitalismo exclui a liberdade. Mas a resposta
para isso é relativa e demanda uma investigação ampla. Ao se inverter a questão, não obstante,
1 Idem, ibidem. 2 Idem, p. 49. 3 Idem, p. 51. 4 Idem, ibidem.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 63
a resposta é mais acessível. Há liberdade sem capitalismo? Ao citar Adam Smith, Amartya Sen
(2000) responde: “a liberdade de troca e transação é ela própria uma parte essencial das
liberdades básicas que as pessoas têm razão de valorizar” (SEN, 2000, p. 21). E acrescenta Sen:
Ser genericamente contra os mercados seria quase tão estapafúrdio quanto ser genericamente contra a conversa entre as pessoas (ainda que certas conversas sejam claramente infames e causem problemas a terceiros – ou até mesmo aos próprios interlocutores). A liberdade de trocar palavras, bens ou presentes não necessita de justificação defensiva com relação a seus efeitos favoráveis mas distantes; essas trocas fazem parte do modo como os seres humanos vivem e interagem na sociedade (a menos que sejam impedidos por regulamentação ou decreto). A contribuição do mecanismo de mercado para o crescimento econômico é obviamente importante, mas vem depois do reconhecimento da importância direta da liberdade de troca – de palavras, bens, presentes.1
Em outras palavras – interpretando-se, obviamente, mercado e troca como capitalismo –
o capitalismo é em si fruto das liberdades. A liberdade econômica insere-se em todas as
definições de liberdade.
Nesse sentido, Sen2 vai além e aborda a importância de os indivíduos não carecerem da
liberdade econômica. De acordo com o autor, a privação desta liberdade pode gerar outras,
como a ausência de liberdade social, que por sua vez gera a política, que, do mesmo modo,
volta a enfatizar a privação da liberdade econômica.
A ênfase na necessidade de um “mercado livre” para a liberdade é recorrente para Milton
Friedman (1985). Segundo ele, a história comprova de modo unânime a correlação entre ambos.
Além disso, corrobora, “é evidente que a liberdade econômica, nela própria e por si própria, é
parte extremamente importante da liberdade total” (FRIEDMAN, 1985, p. 18).
Para Friedman, além de ser um meio para a obtenção da liberdade política, “a
organização econômica é importante devido a seu efeito na concentração ou dispersão do
poder”. Isto ocorre porque, no capitalismo competitivo – ou liberdade econômica -, este poder
está desvinculado do poder político. Esta separação, afirma o autor, “permite que um controle o
outro”3.
Segundo Friedman, “a história somente sugere que o capitalismo é uma condição
necessária para a liberdade política”, liberdade que, neste artigo, defendemos como
fundamental para a emergência da democracia – sobre o que falaremos adiante. Nesse sentido,
para o autor, o capitalismo pode não ser uma condição suficiente4. Denota Friedman que a Itália
e a Espanha fascistas, a Alemanha em algumas ocasiões, o Japão durante as duas Guerras
Mundiais, além da Rússia czarista são exemplos de sociedades que não eram politicamente
livres. Contudo, existiam nelas empresas privadas, o que comprova que pode haver organização
econômica capitalista e uma organização política que não seja livre. Ainda assim, afirma
1 Idem, ibidem. 2 Idem, p. 23. 3 Idem, ibidem. 4 Idem, p. 19.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 64
Friedman, os indivíduos nessas sociedades dispunham de mais liberdades que os cidadãos de
Estados onde haviam totalitarismos econômico e político.
A liberdade política, para Friedman, resulta da ausência de coerção sobre um homem por
parte de seus semelhantes. Nesse sentido, a maior ameaça à liberdade consiste no poder de
coagir. A única forma de se eliminar este problema consiste na busca por dispersar todo tipo de
concentração do poder. É assim que, ressalta Friedman, a organização da atividade econômica
deve estar desvinculada do poder político, de modo que um possa controlar o outro1.
Essa desvinculação relaciona-se ao estudo de Guy Sorman (2007) em relação às diferenças
entre Índia e China. Se neste país o poder econômico está concentrado nas mãos do poder
político, naquele ambos estão desunidos. A democracia, para Sorman2, é o que faz a diferença.
Desse modo, evidencia o autor, a liberdade política – no caso, a possibilidade de votar – propicia
maior liberdade econômica. “Se o camponês indiano tem chances de ter no seu vilarejo
eletricidade, estradas, escola, postos de saúde que o camponês chinês nunca terá, é porque o
primeiro vota, o outro não”, enfatiza.
Este fator tem a ver com a afirmação de Amartya Sen (2000). As liberdades se
complementam umas às outras. Quais liberdades? O autor responde: liberdade política,
econômica, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora3. Todas
estas liberdades fortalecem-se a si mesmas. A liberdade econômica suscita a liberdade política.
E a liberdade política é imprescindível para a democracia.
Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se entender o capitalismo como um meio
necessário para se chegar à liberdade e – embora não seja suficiente – à democracia. Sobre isso,
diz Sorman (2008, p. 164), que “a longo prazo, constata-se que o capitalismo tende para a
democracia, sem que a passagem de um para o outro seja necessária ou mecânica”. Esta relação
não simétrica, contudo, deve-se ao nível de liberdade que determinados países atingiram ou
não. O que se nota é que nos lugares onde há maior liberdade econômica, verifica-se mais
liberdade política e, como consequência, mais democracia. Todavia, isto será abordado mais
detidamente adiante. Por agora, este trabalho se detém na relação entre liberalismo – ideologia
da liberdade – e democracia.
Liberdade e Democracia
Antes de se abordar a liberdade como fator essencial ao surgimento da democracia, é
possível, porém, retomar rapidamente a discussão sobre o capitalismo. Schumpeter (1984)
revela que “as democracias evoluíram historicamente no rastro do capitalismo antigo e
1 Idem, p. 24. 2idem, p. 145. 3 Idem, p. 25.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 65
moderno”. Surgiram de revoluções, pode-se argumentar. Não obstante, não fora assim. A essas
alegações, o próprio Schumpeter responde que
se decidirmos adotar uma dissertação histórica, verificaremos que, até mesmo muitos dos fatos que parecem os mais convenientes aos críticos radicais para seus objetivos, muitas vezes se apresentam de maneira diferente se examinados à luz de uma comparação com os fatos correspondentes da experiência pré-capitalista. E não podemos alegar que aqueles tempos eram diferentes, pois foi precisamente o processo capitalista que produziu essa diferença.1
Isso se vincula ao que Schumpeter demonstra em relação ao novo homem advindo com a
emergência do capitalismo. As conquistas sociais, afirma, não foram elementos impostos à
sociedade capitalista, mas derivam exatamente de seu surgimento. Desse modo, Schumpeter
denota que “o pensamento livre, no sentido do materialismo monista, o laicismo e a aceitação
pragmática do mundo, do lado de cá da sepultura, derivam-se do capitalismo, não realmente por
necessidade lógica, mas como coisa natural”2.Schumpeter3 parece ter certeza de que a
democracia deriva do capitalismo. Para ele, “a História confirma sem discrepância esse fato:
historicamente, a democracia moderna cresceu passo a passo com o capitalismo e foi dele
consequência”. Nesse sentido, como defende este artigo, a democracia é fruto das sociedades
capitalistas e liberais.
Não obstante, o liberalismo – isto é, o sistema político-econômico defensor da liberdade
dos indivíduos - e a democracia não nasceram unidos e permaneceram um longo período
separados. Como demonstra Bobbio (2002, p. 65), pensadores liberais e democratas faziam
defesas diferentes. Se os liberais viam a democracia como a emergência de uma nova corrente
do despotismo, os democratas viam no liberalismo uma falsa defesa da liberdade, uma liberdade
para poucos. Nesse sentido, questiona Bobbio (2005, p. 42), como a democracia pode ser
considerada o estágio posterior de desenvolvimento do Estado liberal4, de modo que se passe a
utilizar o termo “liberal-democracia” para determinados regimes contemporâneos?
A resposta é dada pelo próprio Bobbio. Segundo ele, é porque “não só o liberalismo é
compatível com a democracia, mas a democracia pode ser considerada o natural
desenvolvimento do Estado liberal”5. Assim, apesar da não correlação entre liberalismo e
democracia no princípio, no mundo contemporâneo tornou-se inconcebível a existência de
Estados liberais não-democráticos e Estados democráticos não-liberais. E isto se deve, de acordo
com Bobbio6, por duas razões complementares: “a) que hoje o método democrático seja
1 Idem, p. 161. 2 Idem, p. 166. 3 Idem, p. 353. 4 Estado com poderes limitados, cuja ação deve ser mínima e incapaz de infrigir a liberdade dos cidadãos 5 Idem, ibidem. 6 Idem, p. 43.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 66
necessário para a salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa, que estão na base do Estado
liberal” e “b) que a salvaguarda desses direitos seja necessária para o correto funcionamento do
método democrático”.
Esta articulação se fundamenta em dois aspectos, que também se complementam. O
primeiro é que os Estados liberais – ou seja, Estados com constituição, logo, com poderes
limitados - resguardam a tendência dos governantes ao abuso de poder. A garantia contra isso
jaz na liberdade política, na possibilidade de os cidadãos participarem direta ou indiretamente
na formação das leis. O segundo aspecto refere-se à participação por meio do voto, onde o
indivíduo concretiza seu poder político – que, por si, delimita o poder do governante. Para
Bobbio1, “apenas se o indivíduo se dirige às urnas para expressar o próprio voto goza das
liberdades de opinião, de imprensa, de reunião, de associação, de todas as liberdades”.
Deste modo, denotamos em Bobbio a defesa do raciocínio que nos dispõe a crer que a
democracia moderna advém dos estados liberais. Conforme ele aponta, no mundo
contemporâneo “apenas os estados nascidos de revoluções liberais são democráticos”. Em
contrapartida, pode-se acrescentar aqui de maneira enfática, também “apenas os Estados
democráticos protegem os direitos do homem”2.
Não obstante, é preciso definir democracia. Como ilustra Schumpeter, o método
democrático não é um fim em si mesmo. A democracia, por si própria, seria exatamente o que
os liberais atribuíam a ela: uma nova tirania. A tirania da maioria terminaria por solapar todas as
minorias pelo mundo. De forma democrática, através do voto, a própria liberdade política, além
da liberdade religiosa, da justiça, entre outras coisas, esvair-se-iam. Exatamente por isso, cabe
a definição do próprio Schumpeter para democracia:
A democracia é um método político, isto é, um certo tipo de arranjo institucional para chegar a uma decisão política (legislativa ou administrativa) e, por isso mesmo, incapaz de ser um fim em si mesmo, sem relação com as decisões que produzirá em determinadas condições históricas. (SCHUMPETER, 1984, p. 291)
Mas não apenas isso, “o método democrático é o arranjo institucional para se chegar a
certas decisões políticas que realizam o bem comum, cabendo ao próprio povo decidir, através
da eleição de indivíduos que se reúnem para cumprir-lhe a vontade.” (SCHUMPETER, 1984, p.
300)
Talvez derive dessa indeterminação da democracia, da necessidade de um objetivo – para
que se restrinja a possibilidade de que a maioria faça valer alguns direitos que atentam contra
liberdades de minorias – que Merquior (1983, p. 88) aponta que em uma ordem liberal moderna é
imprescindível a conjunção de constitucionalismo – limitação e regulação do poder pela lei – e
1 Idem, p. 44. 2 Idem, ibidem.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 67
democratização da cidadania. Isto porque, aponta o autor, no mundo atual “não há legitimidade
fora do ideal democrático, o que supõe a universalidade de cidadania, dos direitos políticos, e
não apenas [...] a dos direitos civis”1. A democracia, nesta forma, e como se viu em Bobbio
(2005) há pouco, caracteriza-se como um meio para a obtenção e manutenção das liberdades do
homem.
Saindo do âmbito teórico, o objetivo este artigo requer uma breve análise do panorama
mundial em relação aos três fatores aqui destacados: capitalismo, liberdade e democracia.
Capitalismo, Liberdade e Democracia Pelo Mundo
Nesta parte do trabalho, faz-se necessário abordar as relações entre capitalismo,
liberdade e democracia. Para tanto, buscam-se dados a respeito destes três fatores pelo mundo.
Estes dados derivam de dois índices: de liberdade econômica e de democracia. Não obstante,
antes de se debruçar nesta avaliação, é preciso justificar este método e definir o que se busca
em cada uma dessas pesquisas.
Este trabalho não pretende esgotar a correlação encontrada entre capitalismo, liberdade
e democracia, visto que se trata de um objetivo complexo e que necessita de maior rigidez
científica.
Serão abordados neste trabalho, ao todo, os 15 países onde mais se verificam liberdade
democrática. O objetivo é verificar se o elevado índice de democracia destes países encontra
resposta na liberdade econômica. Parte-se do índice de democracia em virtude deste ser o
estágio mais avançado da correlação entre o capitalismo e as liberdades. Como se viu, podem
haver países capitalistas ou Estados liberais não-democráticos.
É preciso, neste momento, justificar as definições utilizadas. Isto se deve em virtude das
diferenças de conceito. Desse modo, nesta parte da pesquisa utilizamos o termo liberdade
econômica para designar o que chamamos de capitalismo. Mesmo que liberdade econômica não
seja um sistema propriamente dito, ela é o fundamento sobre o qual se ancora o capitalismo.
Isto é, não há capitalismo sem liberdade econômica. Nesse sentido, dados acerca desta
liberdade determinarão a potencialidade do sistema capitalista. Quanto a liberdade
democrática, outro índice será utilizado para a comparação. E é ele o primeiro.
Democracia
Para se analisar o nível de democracia dos países pelo mundo este trabalho traz o
Economist Intelligence Unit Democracy Index 2010 (Índice de Democracia 2010), um estudo feito
1 Idem, p. 87.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 68
pela revista britânica The Economist. Essa pesquisa avalia a democracia em 165 países e mais
dois territórios.
Os critérios levados em consideração no índice são: processo eleitoral e pluralismo;
liberdades civis; o funcionamento do governo; a participação política; e, por fim, a cultura
política. Após avaliação, os países são divididos em quatro categorias: democracias plenas,
democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários. As notas variam de 0 a 10
(quanto mais alta, maior o nível democrático).
O Índice de Democracia de 2010 aponta que dos 167 países analisados, apenas 26 contam
com uma “democracia plena”, contra 53 “democracias imperfeitas” e 33 “regimes híbridos” –
que são também considerados democráticos. O estudo denota, no entanto, que são 55 o número
de países considerados ditatoriais.
Aqui, trazemos os 15 países cujo sistema democrático pode ser considerado o mais
elevado. A seguir, verificamos a classificação destes países no índice de liberdade econômica.
Classificação País Índice
1 Noruega 9,80
2 Islândia 9,65
3 Dinamarca 9,52
4 Suécia 9,50
5 Nova Zelândia 9,26
6 Austrália 9,22
7 Finlândia 9,19
8 Suíça 9,09
9 Canadá 9,08
10 Holanda 8,99
11 Luxemburgo 8,88
12 Irlanda 8,79
13 Áustria 8,49
14 Alemanha 8,38
15 Malta 8,28
Tabela 1 – Classificação do Índice de Democracia
Liberdade Econômica
A avaliação acerca da liberdade econômica pelo mundo se vale do índice publicado pela
Heritage Foundation, o Index of Economic Freedom. A pesquisa se fundamenta nos seguintes
critérios: liberdade nos negócios, no comércio e liberdade fiscal, tamanho do governo, liberdade
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 69
monetária, de investimentos e financeira, além dos direitos de propriedade, corrupção e
liberdade de trabalho.
O índice divide os países entre as seguintes categorias: livre (índice de 100-80), bastante
livre (79.9-70), moderadamente livre (69.9-60), não muito livre (59.9-50) e repressor (49.9-0).
Ao todo, 179 países foram abarcados pelo índice.
Ao se verificar os 15 países considerados acima como os de democracia mais avançada,
obtém-se o seguinte panorama, de acordo com a ordem de classificação deste índice de
liberdade econômica:
Classificação1 País Índice
3 Austrália 82.5
4 Nova Zelândia 82.3 5 Suiça 81.9
6 Canadá 80.8
7 Irlanda 78.7
8 Dinamarca 78.6
13 Luxemburgo 76.2
15 Holanda 74.7
17 Finlândia 74.0
21 Áustria 71.9 22 Suécia 71.9
23 Alemanha 71.8
30 Noruega 70.3
44 Islândia 68.2
57 Malta 65.7
Tabela 2 – Classificação do Índice de Liberdade Econômica
Na tabela acima, verifica-se o seguinte aspecto em relação à liberdade econômica pelo
mundo. Nos quatro primeiros países, constata-se uma plena liberdade econômica – que, como
vimos, é a liberdade essencial ao capitalismo. As demais nações, com exceção a Malta e Islândia,
encontram-se em elevado grau desta liberdade. Porém, mesmo nos dois últimos países –
considerados democráticos – não se verificou grande restrição econômica, de modo que ambos
acham-se em moderada liberdade econômica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo acerca da possível correlação entre capitalismo, liberdade e democracia é
ambicioso e requer maior aprofundamento e rigidez científica. Contudo, este trabalho não
ambicionou comprovar que a democracia somente é possível através do sistema capitalista,
apesar de que na história não se concretizou uma democracia em sociedades não-capitalistas.
Também, e mais importante, não se busca dizer que o capitalismo só é possível com a
1 Classificação no Índice de Liberdade Econômica 2011
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 70
democracia. Quanto a isso, nota-se que há países onde a liberdade econômica – essencial ao
sistema de capital – é abrangente sem que, todavia, suas formas de governo sejam
democráticas. Mas isso não derruba a defesa de que, afinal, foi do capitalismo que emergiu até
hoje a democracia, não que o capitalismo inexista sem democracia.
A prova em contrário fornece elementos pertinentes a essa tese. Em todos os países onde
se verificam os mais elevados níveis de democracia há liberdade econômica. Não se verifica
ausência desta liberdade nas democracias ao redor do mundo, o que denota que as democracias
foram atingidas sem que se restringisse o capitalismo.
Este trabalho, portanto, denota que capitalismo, liberdade e democracia coexistem nas
sociedades mais avançadas.
Resta observar, no entanto, se das nações onde na atualidade se verificam elevado grau
de liberdade econômica emergirão novas democracias-liberais. Mas isso somente a história
poderá dizer.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. . Liberdade e democracia. São Paulo: Brasiliense, 2005. Economist Intelligence Unit Democracy Index 2010. Disponível em:<http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf> . Acesso em 28 de jun. 2011. FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. São Paulo: Abril Cultural, 1985. Index ofEconomicFreedom. <http://www.heritage.org/index/ranking>. Acesso em 28 de jun. 2011. LOBÃO, Antonio Carlos Azevedo. Progresso e Capitalismo. Dissertação de mestrado em Política Científica e Tecnológica. IG – Unicamp. 1998. MERQUIOR, José Guilherme. A Natureza do Processo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982. . O argumento liberal. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1983. SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000 SORMAN, Guy. O Ano do Galo – Verdades sobre a China. São Paulo: É realizações, 2007. . A economia não mente. São Paulo: É realizações, 2008. WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira. 1967. . Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Editora Cultrix, 2002.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 71
A QUESTÃO AMBIENTAL PELA ÓTICA DOS DIREITOS DE
PROPRIEDADE
Adriel Santos Santana1
Tarcísio Magalhães Azevedo2
Resumo: O presente trabalho apresenta os principais desafios relacionados ao meio ambiente,
como a devastação dos biomas e o crescimento sem precedentes da população humana,
analisando, por conseguinte, os fundamentos teóricos e a eficiência das atuais políticas públicas
ambientais. Compara também, para efeitos da questão ambiental, os benefícios e malefícios da
implementação da propriedade pública e propriedade privada, visando apontar o modelo mais
competente na busca por um sistema ecologicamente equilibrado. Por fim, é mostrado como a
“privatização da natureza” torna a preservação das florestas, animais, da água, do solo e do ar
mais eficaz do que a contemporânea alternativa estatal.
Palavras chave: Meio Ambiente. Preservação. Propriedade Privada. Danos. Responsabilização.
1 UESC. Departamento de Ciências Jurídicas. Estudante do 8º Semestre, turma 2008, do Curso de Direito. E-mail:
2 UESC. Departamento de Ciências Jurídicas. Estudante do 8º Semestre, turma 2008, do Curso de Direito. E-mail:
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 72
INTRODUÇÃO
A evolução das leis de defesa do meio ambiente vem aparecendo cada vez com mais
intensidade entre os debates sobre desenvolvimento econômico sustentável das nações. Como
forma de amenizar os efeitos devastadores que a exploração da natureza gera ao próprio ser
humano e toda a vida na Terra, tem se imposto sanções estatais das mais variadas naturezas aos
infratores das leis de proteção ecológica.
A política ambiental está em constante reforma com a adoção de penalidades cada vez
mais severas contra aqueles que poluem e põem em risco a saúde das pessoas e da própria
natureza, tratada como um bem jurídico em si. Um bom exemplo disso é o novo Código Florestal
Brasileiro, que surge no cenário da legislação nacional numa fase em que o país busca conciliar
suas principais atividades produtivas com a busca constante pela preservação ambiental.
É possível notar que o Brasil optou pela aplicação de um modelo de planejamento
central, organizado pelo Estado, visando à conservação do meio ambiente nacional, que é um
dos mais diversificados e ricos do mundo. Essa política tem sofrido críticas por parte tanto dos
movimentos ambientalistas, que defendem leis mais duras contra aqueles que destroem a
natureza, como também por parte dos setores mais produtivos do país (agricultura, pecuária e
indústria), que reclamam dos altos custos para operar seus negócios legalmente, oriundos de
uma infinidade de leis, normas e resoluções ambientalistas.
Portanto, faz-se de suma importância apontar as falhas inerentes ao típico sistema de
planejamento central, o qual está calcado em uma mentalidade coletivista e no apoio ao
fortalecimento da propriedade pública em detrimento da privada. Para tanto será utilizado o
vasto arcabouço teórico fornecido pela Escola Austríaca de Economia sobre o funcionamento dos
mercados, da sociedade e do Estado. Pretende-se dessa forma demonstrar aqui uma alternativa
viável ao atual modelo de preservação ambiental, firmada sobre o respeito à propriedade
privada e a responsabilização individual sobre os danos cometidos pelos poluidores e
destruidores dos recursos naturais.
2. A Problemática Ambiental
2.1. Crescimento Populacional
A história do homem moderno na Terra pode ser datada entre o período de 200 mil a 100
mil anos atrás, momento este em que após uma longa linhagem evolutiva, esta qual remonta há
cerca de 2,5 milhões de anos nas savanas da África Oriental, a espécie humana atingiu a sua
atual forma, o Homo sapiens sapiens.1
1 Reader’s Digest. Grandes Acontecimentos que Transformaram o Mundo (Rio de Janeiro: Reader’s Digest Brasil, 2002), Pág. 10.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 73
Inicialmente, até aquela ocasião, as comunidades humanas estavam organizadas de forma
tal que subsistiam exclusivamente da caça de animais e da coleta de frutos e legumes. Esse
estilo de vida ficou conhecido como caçador-coletor. O sistema baseado no simples consumo dos
recursos naturais, este qual é a principal característica dos grupos caçadores/coletores,
funcionou razoavelmente bem durante milhares de anos graças especialmente ao tamanho
relativamente pequeno dessas aglomerações, que permitiam que tais recursos não se exaurissem
rapidamente, o que colocaria em dificuldade a sobrevivência de todos. De fato, estima-se que
até por volta de 50 mil anos atrás, o número total de Homo sapiens sapiens não passava de 5
mil.1
O principal problema relativo a esse modo de vida até então predominante reside no
exaurimento dos recursos naturais a disposição do grupo, posto que nada era acrescentado a
natureza, o que consequentemente diminuía gradualmente a quantidade de alimentos. Assim
sendo, se fazia de suma importância ter sobre controle a taxa de natalidade dos indivíduos que
compunham os agrupamentos, para não agravar a oferta de bens disponíveis e não comprometer
o estilo de vida predominante.
Contudo, mesmo após as mais variadas tentativas de manter baixa a densidade
populacional, a quantidade de humanos continuava a aumentar. Restaram, por fim, apenas três
opções aos seres humanos: a migração, guerrear em torno dos bens escassos ainda existentes, e
a alteração significativa do modo de vida vigente. A primeira dessas alternativas levou a
conquista pelo homem moderno de todos os continentes do globo terrestre; a segunda gerou os
primeiros Estados, estes quais ficaram responsáveis pela manutenção da paz social e da proteção
contra inimigos externos; e a terceira, que foi a mais revolucionária de todas, levou o homem a
adotar uma organização social baseada no sedentarismo, esta qual teria sua base na agricultura
e pecuária2. Foi essa última alternativa que propiciou que a espécie humana pudesse a partir de
então não apenas viver adequadamente bem, como expandir sem grandes receios a sua prole,
pelo menos até então. Foi inclusive esse processo de sedentarismo que permitiu à sociedade se
tornar mais complexa, adotando novas técnicas e materiais não apenas na produção de
alimentos, como no comércio, artesanato e nos cultos religiosos, o que envolvia também a
questão fúnebre3.
Em outubro de 2011, a população mundial atingiu o marco inédito de 7 bilhões de
pessoas. Um número tão elevado de indivíduos reacendeu na mídia e na academia o antigo
debate sobre a capacidade do planeta de suportar a demanda por alimentos necessária a
1 Instituto Ludwig von Mises Brasil. A Origem da Propriedade Privada e da Família. Disponível em: http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1037 Acesso em: 13 de dezembro 2011. 2 Instituto Ludwig von Mises Brasil. A Origem da Propriedade Privada e da Família. Disponível em:
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1037 Acesso em: 13 de dezembro 2011.
3 Reader’s Digest. Grandes Acontecimentos que Transformaram o Mundo (Rio de Janeiro: Reader’s Digest Brasil, 2002), Pág. 11-13.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 74
manutenção de uma vida razoavelmente satisfatória para todos. Esse medo é comumente
denominado de a questão da superpopulação.
Thomas Malthus, um matemático inglês, é considerado o pioneiro no alerta do problema
demográfico. Ele propôs, em meados de 1798, que a produção de alimentos aumentava
aritmeticamente, enquanto que a população humana crescia em um ritmo geométrico1. O
problema malthusiano relaciona-se com a lei econômica dos rendimentos, a qual afirma que
para qualquer combinação dos fatores de produção, existe uma combinação ótima. Se esta
combinação ótima não for seguida, isto é, se apenas um fator de produção for aumentado
enquanto o outro for mantido constante, então a quantidade de bens físicos produzida não
aumentará em nada2. Em cima de tal premissa, Malthus declarou que o planeta teria suas fontes
de alimentos esgotadas até o fim do século XIX, previsão que acabou não se confirmando.
Em 1968, na Universidade de Stanford, o biólogo Paul Ehrlich, um neomalthusiano,
reviveu as previsões catastróficas de Malthus por meio do seu livro The Population Bomb (A
Bomba Populacional), no qual afirmava que a reprodução descontrolada dos seres humanos
resultaria em uma enorme escassez de alimentos. Segundo ele, até o fim daquela década, pelo
menos um quinto da humanidade morreria em razão da fome. As afirmações de Ehrlich levaram
a recém-criada agência da ONU, UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas) a alertar
constantemente por meio dos seus relatórios, nas décadas seguintes, os seus países membros
sobre os perigos da superpopulação.3
Contrariamente às previsões apocalípticas citadas acima, o problema da superpopulação
é visto na contemporaneidade com maior cautela e sem grandes alardes públicos. Isso se deve
em muito a dois fatores: primeiramente a de que se sabe atualmente que, segundo a ONU, o
crescimento populacional alcançará um nível de estabilidade por volta do ano de 2050, tendo
início logo em seguida um fenômeno de decréscimo da população como um todo. Isso se deve a
baixa taxa de nascimentos e ao aumento da longevidade a nível global4. É importante destacar
também a revolução empreendida no ramo da agropecuária nas últimas décadas, esta qual
permitiu que alimentos fossem produzidos sobre uma quantidade cada vez menor de terras sem
1 Portal Libertarianismo. Superpopulação: A Criação de um Mito. Disponível em:
http://libertarianismo.org/index.php/videos/72-population-institute/230-superpopulacao-a-criacao-de-um-mito
Acesso em: 14 de dezembro 2011.
2 Mises, Ludwig von. Ação Humana (Rio de Janeiro: Instituto Liberal. 1990), Pág. 177-182.
3 Portal Libertarianismo. Superpopulação: A Criação de um Mito. Disponível em:
http://libertarianismo.org/index.php/videos/72-population-institute/230-superpopulacao-a-criacao-de-um-mito
Acesso em: 14 de dezembro 2011.
4 UNFPA - BRASIL. UNFPA lança Relatório sobre a Situação da População Mundial. Disponível em:
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/caderno_populacao6.pdf Acesso em: 14 de dezembro 2011.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 75
contudo alterar a quantidade ofertada. Não se pode ignorar também a possibilidade que existe
de, via emprego de tecnologia específica, tornar cultiváveis terrenos antes pobres ou inóspitos1.
As razões para o problema da fome em vários países não se deve a grande quantidade de
pessoas existentes no mundo, como alegam os proponentes da tese da superpopulação, mas há
fatores bastante específicos e localizados. Os conflitos armados, a pobreza em larga escala, a
não utilização de tecnologias que preservem a qualidade do solo e que garantam a quantidade
da produção nos países subdesenvolvidos, além da falta de infra-estrutura adequada em certos
lugares, esta qual impede o transporte e o comércio de alimentos, são as reais causas da fome
que afeta milhões de pessoas pelo mundo.
2.2. Impactos Ecológicos
De acordo com a Resolução CONAMA 01/86, “qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, afetando o bioma, as condições estéticas e a qualidade
dos recursos ambientais devem ser consideradas impacto ambiental”. A preocupação legislativa
com esse tipo de dano deve-se em parte a adoção dos ordenamentos nacionais e nas
organizações internacionais de novos princípios visando à proteção ambiental e a preservação da
qualidade vida das populações2. Ressalta-se, contudo, que essa visão protetivas dos recursos
naturais remonta a eras bem anteriores a nossa, havendo variações somente no grau de proteção
aplicada.
O homem, desde os seus primórdios na Terra, buscou alterar o meio ambiente no qual se
instala visando torná-lo mais agradável e favorável a sua permanência e sustentação em longo
prazo numa determinada região. Essas transformações se deram no decorrer dos séculos com
intensidades e graus variados. No período do descobrimento do continente americano no século
XIV pelos europeus, por exemplo, uma vasta área das florestas nativas foi explorada com uma
finalidade essencialmente comercial. Mesmo assim, antes mesmo dos europeus chegarem nestas
novas terras, os nativos já eram responsáveis por uma destruição bastante relevante da flora e
fauna3. Contudo, foi somente a partir do período conhecido como Revolução Industrial, que vai
desde o século XVIII até o XIX, que as mudanças no meio ambiente tornaram-se cada vez mais
visíveis, o que não implicou necessariamente em uma preocupação quanto às consequências a
médio e longo prazo daqueles impactos.
1 Portal Libertarianismo. Alimento: Temos em Grande Quantidade. Disponível em:
http://libertarianismo.org/index.php/videos/72-population-institute/229-alimento-temos-em-grande-quantidade
Acesso em: 14 de dezembro 2011.
2 Machado, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro (São Paulo: Malheiros Editores, 2004), Pág. 47-48.
3 Narloch, Leandro. Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil (São Paulo: LeYa, 2009), Pág. 29-33
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 76
Importante salientar que a Revolução Industrial, como aponta o historiador americano
Stephen Davies, permitiu que a população do Reino Unido se tornasse mais rica de maneira geral
no século XIX do que era um século antes. De fato, durante vários séculos o nível de crescimento
da qualidade de vida das pessoas permaneceu bastante baixo, ocorrendo poucas melhoras
significativas a cada geração. Somente com mudanças básicas na forma como a sociedade, em
especial a britânica e a holandesa, lidava com as questões comerciais, aliado a uma intersecção
entre empreendedorismo e avanços científicos, que tornaram possível esse aumento substancial
do nível de vida dos indivíduos de maneira geral.1
A fusão entre progresso tecnológico e a capacidade empreendedora foi denominada de
“cultura da engenharia”, termo cunhado pelo historiador americano George Dyson. Essa mescla
entre meios intelectuais e científicos com os meios econômicos levou a sociedade a níveis de
inovação técnica jamais vistas anteriormente. Dessa maneira, toda nova tecnologia é
constantemente aperfeiçoada, e esse fenômeno, ao contrário do que muitos imaginam, remonta
justamente ao período da Revolução Industrial.
Assim sendo, se no período Pré-Revolução Industrial existia uma dependência de madeira
para alimentar tanto as residências como as fábricas, após a sua eclosão o carvão tornou-se uma
fonte mais barata e menos impactante ao meio ambiente, pelo menos neste estágio, do que a
alternativa a época, que acarretava na destruição das florestas nativas. Esse mesmo processo
pode ser presenciado atualmente no que tange a busca por fontes alternativas ao petróleo como
principal matriz energética.
Contudo, há situações em que os danos causados ou com potencialidade para tanto são
demasiadamente grandes ou podem acarretar em grave ameaça a própria sobrevivência dos
seres humanos em determinado ambiente; e essa preocupação exige uma análise mais
explanativa do problema em questão.
2.3. A Tragédia dos Comuns
Não obstante a todo o reconhecido progresso na qualidade de vida dos indivíduos
propiciado pelo capitalismo moderno, há duas questões que chamam a atenção no processo
característico dos mercados econômicos citados no tópico anterior. A primeira delas envolve o
problema dos recursos considerados não-renováveis, ou seja, aqueles cuja reposição natural
necessita de um tempo demasiadamente enorme. A segunda questão aborda a situação do solo,
da água, do ar, das florestas e dos animais em face das atividades econômicas cuja atuação põe
em risco a manutenção e preservação desses recursos e do ecossistema local. Essas duas
questões, quando foram postas em conjunto pelo professor de ecologia Garrett Hardin, serviram
1 Portal Libertarianismo. Uma Introdução a Revolução Industrial. Disponível em: Acesso em: 14 de dezembro 2011.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 77
de fundamento para a sua teoria de comportamento humano, a qual foi alcunhada de A Tragédia
dos Comuns.
The Tragedy of the Commons é o nome do artigo científico do professor Garrett
publicado na revista Science em 1968. Neste trabalho, ele afirmou que sempre que um usuário
de um determinado recurso recebe um benefício direto desta utilização, mas arca somente com
uma parcela pequena do custo de explorá-lo, haverá um incentivo significante para extrair o
máximo possível dele e fazer o mínimo possível em prol da sua preservação1. Esse problema
também pode ser denominado de o problema dos recursos de acesso aberto.
Em seu artigo, Garrett utilizou um exemplo de um terreno apto para a pastagem de gado,
o qual possuía uma livre entrada de usuários. Dessa maneira, todos que assim desejarem
poderiam colocar seu gado para pastar nesse terreno. A consequência dessa situação que é
destacada pelo professor é que como cada usuário buscará usufruir ao máximo do pasto trazendo
cada vez mais gado para o local, pois assim eles obterão mais benefícios, o terreno terminará
sendo superexplorado e, no fim, ficará completamente degradado. O problema identificado
nesse exemplo é justamente a ausência da possibilidade de restringir ou excluir o acesso de
outros. Ao extrair essa conclusão, Garrett propôs duas soluções possíveis ao problema da
Tragédia dos Comuns: ou se privatizava o terreno, convertendo-o assim em uma propriedade
privada ou se convertia a área em propriedade pública, a qual ficaria sobre controle do Estado.2
A atual política nacional para o meio ambiente defende que os recursos que o integram,
como solo, água e ar, devem satisfazer as necessidades básicas de todos os cidadãos, sendo que
cabe ao Estado garantir esse direito. Vê-se que foi adotada assim justamente a segunda solução
fornecida por Garrett em seu artigo. Dessa forma, fica evidente que para os legisladores
nacionais deve-se pensar no meio ambiente como se este fosse um bem de uso comum do povo,
recursos aos quais todos devem ter acesso3. Entretanto, ainda de acordo com a alternativa
proposta pelo professor, o Poder Público estabelece normas bastante rígidas que devem ser
observadas, estas quais determinam uma série de requisitos necessários para uma utilização que
não comprometa a existência do recurso, nem ocasione danos as demais pessoas e a natureza,
além de punições específicas aos infratores.
Conforme o jurista Paulo Affonso Machado:
O Direito Ambiental tem a tarefa de estabelecer normas que indiquem como verificar as
necessidades de uso dos recursos ambientais. Não basta a vontade de usar esses bens ou a
possibilidade tecnológica de explorá-los. É preciso estabelecer a razoabilidade dessa utilização,
devendo-se, quando a utilização não seja razoável ou necessária, negar o uso, mesmo que os
bens não sejam atualmente escassos.
1 Die Off. The Tragedy of the Commons. Disponível em: http://dieoff.org/page95.htm Acesso em: 14 de dezembro 2011. 2 Portal Libertarianismo. A Tragédia dos Comuns. Disponível em: http://libertarianismo.org/index.php/videos/68-learn-liberty/137-a-tragedia-dos-comuns Acesso em: 14 de dezembro 2011. 3 Machado, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro (São Paulo: Malheiros Editores, 2004), Pág. 49.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 78
(...) O homem não é a única preocupação do desenvolvimento sustentável. A
preocupação com a natureza deve também integrar o desenvolvimento sustentável. Nem sempre
o homem há de ocupar o centro da política ambiental, ainda que comumente ele busque um
lugar prioritário. Haverá casos em que para se conservar a vida humana ou para colocar em
prática a "harmonia com a natureza" será preciso conservar a vida dos animais e das plantas em
áreas declaradas inacessíveis ao próprio homem. Parece paradoxal chegar-se a essa solução do
impedimento do acesso humano, que, a final de contas, deve ser decidida pelo próprio homem.1
Seguindo o mesmo entendimento principiológico, a Declaração de Estocolmo, em 1972,
apregoava que "os recursos não renováveis do Globo devem ser explorados de tal modo que não
haja risco de serem exauridos e que as vantagens extraídas de sua utilização sejam partilhadas a
toda a humanidade".2
A base desse raciocínio legal está em consonância com o pensamento comunitário sobre a
disposição dos recursos naturais, o qual por sua vez recai sobre a forma como a sociedade se
organiza socialmente quanto ao seu modelo de propriedade considerado legítimo. Portanto, se
faz necessário averiguar, antes de prosseguirmos com este trabalho, quais das duas alternativas
propostas por Garrett realmente produz uma resposta satisfatória ao problema da Tragédia dos
Comuns.
3. Direitos de Propriedade
3.1. Propriedade Pública
A Terra é um planeta abundante em recursos naturais, estes quais possibilitaram o
surgimento e a sobrevivência das mais variadas formas de vida ao longo de milhões de anos.
Esses bens, quando em estado natural, ou seja, quando ainda não foram apossados
legitimamente e exclusivamente por um indivíduo ou um grupo, pertencem a todos, no sentido
de que seu uso é até aquele instante de trato comunitário.
Importante notar que o conceito de propriedade só faz sentido quando há uma escassez
de determinados bens, posto que o objetivo do instituto da propriedade é de justamente definir
quais as regras relativas ao uso destes bens em questão, a fim de dirimir possíveis conflitos entre
os usuários.
Conforme o filósofo Hans-Hermann Hoppe:
Se não houvesse nenhuma escassez e todos os bens passassem a serem chamados de “bens
livres”, cujo uso por qualquer pessoa e para qualquer finalidade de modo nenhum excluísse (ou
interferisse ou restringisse) seu uso por qualquer outra pessoa para qualquer outra finalidade,
então não haveria necessidade da propriedade.3
1 Machado, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro (São Paulo: Malheiros Editores, 2004), Pág. 49-50. 2 Machado, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro (São Paulo: Malheiros Editores, 2004), Pág. 50 3 Hoppe, Hans-Hermann. Uma Teoria sobre Socialismo e Capitalismo (São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2009), Pág. 9.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 79
Esses conflitos existentes em torno dos bens naturais devem-se ao fato de que os
indivíduos possuem objetivos diferentes, valorizando de maneira distinta esta ou aquela
finalidade e, por conseguinte, adotam medidas particularizadas sobre o propósito a qual deve
ser destinados estes bens e como se deve buscar esse fim pretendido.
O modelo de propriedade pública é uma das formas existentes para se solucionar os
conflitos humanos por bens. Nessa instituição, a propriedade é controlada por organismos
políticos, como autarquias, agências e departamentos, os quais serão responsáveis por aplicar as
finalidades estipuladas pelo Poder Público aquele bem. A maneira pela qual a propriedade
pública busca dirimir as divergências sobre um determinado bem é reduzindo as diversas
finalidades possíveis a um grupo relativamente claro de fins comuns, ou seja, aqueles que
atenderiam, em tese, aos interesses da maioria ou, se possível, da coletividade.1
O argumento utilizado em favor da preponderância da propriedade pública sobre privada
reside basicamente no problema econômico das externalidades. Estas decorrem dos atos dos
indivíduos que, em suas propriedades, geram efeitos que não estavam em seus cálculos iniciais
de custo/benefício, afetando assim, positivamente ou negativamente, os proprietários
circunvizinhos da propriedade deste. Estas consequências são também denominadas de “efeitos
de vizinhança”.2
Não interessa para está análise as externalidades positivas, mas exclusivamente as
negativas, pois são estas que impõe custos a terceiros. Em matéria ambiental, a poluição do ar,
a contaminação do solo e da água, além de outros danos ecológicos, são os principais efeitos
negativos advindos das ações de alguns proprietários.
Além das questões da externalidades, outro argumento a favor da instituição da
propriedade pública ou da intervenção estatal na propriedade é no caso dos intitulados bens
públicos. Em termos econômicos, um bem público seria um bem com duas características
básicas: não rivalidade e não exclusividade. Não rivalidade significa que, uma vez produzido, o
consumo do bem por um agente, não interfere, não impede o consumo do mesmo bem por outro
agente. Não exclusividade significa que, uma vez produzido, não há como excluir alguém do seu
consumo.
Um dos objetivos do Poder Público é dirimir as consequências advindas das
externalidades negativas determinando a cobrança de tributos sobre determinadas atividades e
de indenizações aos atingidos, além de estipular regulações para a exploração de um bem
especificamente. A instituição da propriedade pública é, dessa maneira, a forma definitiva pela
1 Friedman, David D. As Engrenagens da Liberdade. (Rio Grande do Sul: Estudantes pela Liberdade, 2006), Pág. 13.
2 Hayek, Friedrich A.. Direito, Legislação e Liberdade - Vol. III (São Paulo: Visão, 1985), Pág. 47.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 80
qual o Estado busca coibir as externalidades negativas e evitar a situação da tragédia dos
comuns.
3.2. Propriedade Privada
O conceito de propriedade privada adotado neste trabalho encontra guarita na definição
fornecida pelo filósofo John Locke em sua obra Segundo Tratado Sobre o Governo Civil e Outros
Escritos. Nela, afirma Locke:
Podemos dizer que o trabalho de seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade
sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em que a natureza o colocou e deixou, mistura
nisso o seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, por isso o tornando sua
propriedade. Ao remover este objeto do estado comum em que a natureza o colocou, através do
seu trabalho adiciona-lhe algo que excluiu o direito comum dos outros homens.1
É dessa afirmação de Locke que se extrai o principio do homesteading. Este termo é
utilizado para ilustrar o procedimento pelo qual se dá uma apropriação, ou seja, a forma como
um indivíduo apropriar de alguma coisa, misturando o próprio trabalho àquele bem. É também
conhecido como princípio da apropriação original. Assim, para Locke, operando segundo esse
princípio, não só não se subtrai nada dos outros, já que se evitaria que as pessoas roubem ou se
proclamem donas de bens sem de fato utilizar-se deste, mas se cria riqueza com o trabalho
empregado novos bens antes não existentes.
A característica principal da propriedade privada é que nela seu proprietário (ou quem
ele autorizar) usa seus recursos naturais para seus próprios fins. São justamente a busca por
finalidade distintas que incentivará a adoção da cooperação, dado que como nem todos possuem
tudo, se faz necessário utilizar-se da troca de bens. Desta maneira, cada indivíduo irá auxiliar
outros de maneira não intencional a atingirem seus objetivos em troca do mesmo auxílio para
atingir os seus.2
O objetivo do direito de propriedade não consiste apenas em conferir ao proprietário o
direito de desfrutar de todos os benefícios que o bem possuído pode fornecer, mas também
onerá-lo com todos os inconvenientes resultantes da utilização indevida ou destrutiva deste
bem. Portanto, com o instituto da propriedade privada, os efeitos do uso daquele bem seriam de
exclusiva responsabilidade do proprietário, que assim precisaria levar em consideração todos os
resultados esperados dos seus atos, sejam estes positivos ou negativos. Contudo, se alguns dos
benefícios de sua ação não podem ser recebidos e alguns dos inconvenientes não lhe são
1 Locke, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil e Outros Escritos (Rio Janeiro: Vozes, 1994), Pág. 98. 2 Friedman, David D. As Engrenagens da Liberdade. (Rio Grande do Sul: Estudantes pela Liberdade, 2006), Pág. 13.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 81
debitados, o proprietário, ao elaborar seu planejamento, não se incomodará com todos os
efeitos resultantes dos seus atos. Esta situação é denominada de custos externos.1
De acordo com o economista Ludwig von Mises (1990):
O exemplo extremo nos é proporcionado pelo caso, já referido anteriormente, das terras sem
dono. Se a terra não tem dono, embora o formalismo jurídico possa qualificá-la de propriedade
pública, as pessoas utilizam-na sem se importar com os inconvenientes de uma exploração
predatória. Quem tiver condições de usufruir de suas vantagens - a madeira e a caça dos
bosques, os peixes das extensões aquáticas e os depósitos minerais do subsolo – não se
preocupará com os efeitos posteriores decorrentes do modo de exploração. Para essas pessoas, a
erosão do solo, o esgotamento dos recursos exauríveis e qualquer outra redução da possibilidade
de utilização futura são custos externos, não considerados nos cálculos pessoais de receita e
despesa. Cortarão as árvores sem qualquer consideração para com as que ainda estão verdes ou
para com o reflorestamento. Ao caçar e pescar não hesitarão em empregar métodos contrários à
preservação das reservas de caça e pesca.2
Pode-se extrair dessa posição que a única maneira da instituição da propriedade privada
funcionar em sua plenitude é quando todos os custos dos atos de seus proprietários forem
arcados por este, e não serem aliviados pelo poder público, que pode ter criado inclusive o
incentivo inicial para aquela atividade por meio de subsídios, isenções fiscais ou concessões
monopolísticas. Ou seja, é preciso assim reformar o sistema legal para evitar justamente esse
tipo de situação onde o indivíduo não é responsabilizado inteiramente pelos danos cometidos.3
Quanto ao argumento estatizante em torno dos bens públicos, cabe notar dois pontos:
Primeiramente tais bens são muito difíceis de existirem na prática, já que a regra em torno de
bens é sempre a da escassez; Em segundo lugar, não motivo para que este mesmo bem, se
existir, não venha a ser gerido ou administrado pela iniciativa privada, a qual terá um forte
incentivo para manter e preservar aquele bem evitando assim, de maneira muito mais direta e
eficaz, a situação típica da tragédia dos comuns.
4. Livre Mercado e o Meio Ambiente
4.1. Progresso Econômico e Eficiência “Verde”
Um dos principais mitos econômicos contemporâneos é o de que a humanidade está
esgotando os recursos naturais. Esse temor está presente desde o início da industrialização, onde
as pessoas acreditavam que, com o uso dos recursos naturais pela indústria, eles eventualmente
1 Mises, Ludwig von. Ação Humana (Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990), Pág. 914-916. 2 Mises, Ludwig von. Ação Humana (Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990), Pág. 914-916.
3 Mises, Ludwig von. Ação Humana (Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990), Pág. 914-916.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 82
se extinguiriam. No entanto, isto é em grande parte um mito, dado que o que homem está
fazendo com o tempo é aprendendo a usar os recursos naturais de maneira mais eficiente, e
procurando substitutos viáveis para os mesmos a medida em que a oferta daqueles diminuam.
Como ressalta o economista George Reisman:
Existe um fato fundamental sobre o mundo e que possui implicações profundas sobre, de
um lado, a oferta de recursos naturais e a relação entre produção e atividade econômica e, de
outro, o ambiente que cerca o homem. Essa enorme quantidade de elementos químicos
representa a oferta de recursos naturais fornecida pela natureza. É óbvio que, intrinsecamente,
essa oferta de recursos naturais é amplamente inútil. O que é importante — da perspectiva da
atividade econômica e da produção — é o subsistema de recursos naturais que o homem
identificou como possuidor de propriedades capazes de servir às necessidades e desejos
humanos, e sobre os quais os seres humanos adquiriram um real poder, de modo que
aprenderam a dirigi-los à satisfação de seus desejos e necessidades, e a fazê-lo sem despender
quantias exageradas de trabalho. Esta é a oferta de recursos naturais economicamente
utilizáveis. A oferta de recursos naturais economicamente utilizáveis se expande à medida que o
homem aumenta seu conhecimento em relação à natureza e seu poder físico sobre ela. A oferta
se expande à medida que o homem obtém avanços na ciência e na tecnologia e aprimora e
amplia sua oferta de equipamentos (bens de capital).1
Considere, por exemplo, a história do cobre nos EUA. No início da década de 60, o uso do
telefone se expandiu enormemente. Naquele tempo a única maneira de interligar os telefones
era utilizando cabos de cobre, e assim, com o sistema telefônico se expandindo para novas
partes dos Estados Unidos, a demanda por cobre começou a aumentar, como também o seu
preço aumentou. O resultado disto é que as pessoas começaram a se preocupar que não haveria
cobre o suficiente para interligar o sistema telefônico de todo o país, contudo este problema
terminou sendo contornado. Duas coisas aconteceram para que isto ocorresse: Primeiro, com o
preço do cobre aumentando, os produtores de cobre encontraram novas fontes, que
anteriormente tinham custos de exploração proibitivos. Mais importante ainda, é que houve o
incentivo ao desenvolvimento de substitutos, como o cabo de fibra óptica, que é feito de areia,
é mais barato e eficaz.2
Outro exemplo clássico é o do petróleo. Desde que o petróleo bruto foi refinado pela
primeira vez no século XIX, existe a preocupação de que eventualmente ele se esgotará. Está
tornou-se uma preocupação maior ainda no século XX com o desenvolvimento do automóvel e o
1 Instituto Ludwig von Mises Brasil. Uma Cartilha Sobre Recursos Naturais e o Meio Ambiente. Disponível em:
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=833 Acessado em: 25 de dezembro 2011.
2 Portal Libertarianismo. Estão Acabando os Recursos Naturais? Disponível em:
http://libertarianismo.org/index.php/videos/68-learn-liberty/144-estao-acabando-os-recursos-naturais Acessado em:
25 de dezembro 2011.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 83
crescimento da demanda do petróleo por causa disto, mas, apesar das preocupações de que o
petróleo estaria esgotando, a realidade é que reservas concretas aparecem ano após ano,
mesmo sob as preocupações de que ele estaria acabando.1
Segundo os dados fornecidos pelas próprias entidades exploradoras de petróleo ao longo
do século XX, é possível notar uma disparidade entre as estimativas e a real capacidade de
fornecimento deste material. Em 1882, as estimativas eram de que apenas 95 milhões de barris
de petróleo bruto restavam em todo o mundo. Tendo em conta que se consumia 25 milhões de
barris de petróleo por ano, as reservas não iriam durar muito tempo. Mas em 1919, o petróleo
ainda estava presente e a Scientific American relatava existir reservas para apenas 20 anos. Indo
para 1950, mais de 30 anos após, ainda havia petróleo, e então o Instituto de Petróleo
Americano estimou que 100 bilhões de barris de petróleo ainda estavam disponíveis2. Contudo,
em 1980, já tinha se achado reservas num total de 648 bilhões de barris. Em 1993, esse número
cresceu para 999 bilhões de barris. Já no ano 2000, as reservas eram estimadas de mais de um 1
trilhão, sendo que oito anos depois elas já eram de 1,3 trilhões de barris de petróleo
disponíveis.3
Quando se reúne estas informações, o que se descobre é que a humanidade não está
ficando sem petróleo. Na realidade, com o aumento do preço do petróleo, o que os produtores
fazem é começar a procurar por novas fontes. Isso ocorre dado que é com o aumento do preço
que se torna lucrativo procurar pelo petróleo em lugares que anteriormente não o eram, e como
resultado acabasse achando petróleo que não se sabia existir antes dos preços começarem a
aumentar.
A conclusão que se retira desta análise é a de que se realmente há uma preocupação com
o esgotamento destes recursos, a solução não é a de restringir o uso deles, mas dar ao sistema
de preços a máxima competição possível na economia de mercado, para criar preços que
forneçam aos produtores o conhecimento e incentivo para achar substitutos aos recursos atuais.
1 Portal Libertarianismo. Estão Acabando os Recursos Naturais? Disponível em:
http://libertarianismo.org/index.php/videos/68-learn-liberty/144-estao-acabando-os-recursos-naturais Acessado em:
25 de dezembro 2011.
2 Note que esse número é dez vezes a quantidade até então disponível em 1882.
3 Portal Libertarianismo. Estão Acabando os Recursos Naturais? Disponível em:
http://libertarianismo.org/index.php/videos/68-learn-liberty/144-estao-acabando-os-recursos-naturais Acessado em:
25 de dezembro 2011.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 84
4.2. Preservação Privada da Natureza
4.2.1. Animais
Desde a metade do século XX, quando o movimento ambientalista floresceu (ao menos
nos moldes atuais) e iniciou sua expansão pelo mundo, a sociedade vem se reorganizando sobre
determinados hábitos e costumes e repensando a forma como se dá a relação dos indivíduos com
o meio ambiente, o que inclui a fauna, a flora e os demais recursos naturais. Um desses temas
sobre revisão gira em torno do polêmico debate da existência ou não dos “direitos” dos animais.
O economista Murray Rothbard (2010) trabalhou especificamente sobre essa questão em
seu livro A Ética da Liberdade. Nele, o autor defende que o homem é o único ser realmente
dotado de direitos, isso porque as demais espécies não compartilham das características básicas
do ser humano, quais são a racionalidade e a sociabilidade, não possuindo assim direitos. “A
capacidade individual do homem de escolha consciente, a necessidade que ele tem de usar sua
mente e sua energia para adotar objetivos e valores, para decifrar o mundo, para buscar seus
fins para sobreviver e prosperar, sua capacidade e necessidade de se comunicar e interagir com
outros seres humanos e de participar da divisão do trabalho”1 o tornam a única espécie
merecedora de portá-los de fato, conclui Rothbard.
Que o conceito de uma ética de espécie é parte da natureza do mundo pode ser
verificado, além disso, ao se contemplar as atividades das outras espécies na natureza. Chama a
atenção o fato de que animais, no fim das contas, não respeitam os "direitos" dos outros animais,
dado ser está a condição do mundo, e de todas as espécies naturais, que eles vivem de se
alimentar de outras espécies. Qualquer conceito de direitos, de criminalidade, de
agressão, só pode se aplicar a ações de um homem ou grupo de homens contra outros seres
humanos, pois só estes são dotados de uma moralidade.
O fato de que animais obviamente não podem requerer seus "direitos" é parte de suas
naturezas, e parte da razão pela qual eles claramente não são equivalentes aos, e não possuem
os direitos dos, seres humanos. E se for objetado que bebês também não podem requerer, a
resposta logicamente é que bebês são futuros adultos humanos, enquanto que animais
obviamente não são.2
Sobre a questão da extinção dos animais, se considerarmos todas as espécies que
existiram desde o surgimento da vida na Terra, a maioria delas está hoje completamente
extinta. Esse é um processo absolutamente normal. Assim, se para propósitos científicos ou de
entretenimento (como são os casos das universidades e dos zoológicos ou santuários), alguns
indivíduos quiserem preservar essa ou aquela espécie em sua própria terra e às suas próprias
1 Rothbard, Murray. A Ética da Liberdade (São Paulo: Instituto Mises Brasil, 2010), Pág. 225-227. 2 Rothbard, Murray. A Ética da Liberdade (São Paulo: Instituto Mises Brasil, 2010), Pág. 225-227.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 85
custas, isso será bom. Contudo não faz sentido repassar a toda a população os custos dessa
preservação, por meio de tributos e regulações, para que todas as espécies sejam salvas1. O
problema nesse caso reside justamente na ausência de direitos de propriedade, pois assim o
valor de espécies em extinção é efetivamente zero. Como o Estado reivindicou o direito de ser o
proprietário de certos animais terminou-se banindo o comércio dos mesmos. O mesmo ocorre
com os animais em extinção. Se, por outro lado, houvesse um mercado para espécies em
extinção imediatamente haveria incentivos para protegê-los. Isso sem levar em conta a
introdução de novas espécies em determinados habitats2.
Um exemplo nítido e lógico da eficiência do mercado em proteger as espécies, é o caso
dos frangos. Mesmo que milhões de frangos sejam mortos diariamente para alimentar a
população mundial, eles não correm riscos de extinção. Isso ocorre porque eles têm valor e é de
grande interesse dos produtores manterem a população de frangos ao nível da demanda.3
4.2.2. Água
A água é um bem essencial a vida humana. As primeiras civilizações surgiram inclusive ao
lado de grandes reservatórios hídricos, pois somente com uma grande oferta d’água o homem
poderia se estabelecer em um determinado local por bastante tempo. Portanto, não surpreende
que este tenha sido um bem causador de enormes conflitos pelo seu controle ao longo da
história humana.
Imaginar a privatização das águas pode causar estranheza a primeira vista, mas sendo
este um bem escasso e para o qual há uma grande demanda, as regras de mercado também são
válidas para este recurso. Assim como no caso da terra, a água provavelmente iria servir para
uma variedade de propósitos. Destarte, não parece haver nenhuma boa razão para supor que o
mesmo princípio não seria aplicado à água privada. Em qualquer caso, em um ambiente de
liberdade de mercado, toda a terra e toda a água tenderiam a ser utilizadas de maneira a
maximizar os lucros; isto é, de modo a produzir o maior valor para todos os membros da
sociedade. Se assim não o fosse, isto é, se a terra ou a água não fossem utilizadas de modo a se
obter delas o maior valor, essa omissão iria criar oportunidades de lucro para outros
empreendedores.4
1 Instituto Ludwig von Mises Brasil. O Manifesto Ambiental Libertário. Disponível em:
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=677 Acessado em: 25 de dezembro 2011.
2 Ordem Livre. Invasão das espécies invasoras! Disponível em: Acessado em: 26 de dezembro 2011.
3 Instituto Ludwig von Mises Brasil. Se você gosta da natureza, privatize-a? http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=89
Acessado em: 25 de dezembro 2011.
4 Instituto Ludwig von Mises Brasil. A Privatização dos Rios. Disponível em: http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=424
Acessado em: 25 de dezembro 2011.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 86
As forças de mercado trabalham, dada sua própria essência, contínua e persistentemente
na direção da eficiência, fazendo com que os limitados recursos disponíveis sejam utilizados de
modo cada vez menos dispendioso. Assim, não faz sentindo supor que a disponibilidade de água
para a população seria diminuída em um ambiente de livre mercado, posto que se um indivíduo
é proprietário de um bem, ele tende a cuidar dele melhor do que se esse fosse alugado ou não
tivesse dono. Para ficar em um exemplo, nos oceanos sem donos, há o problema da pesca
excessiva; já os viveiros de peixes, onde são praticados os pesque-pagues, jamais enfrentaram
esse problema.
Quanto àqueles que poluírem seus reservatórios de água, causando prejuízos a outros
proprietários, cabe nessa situação o devido processo legal e, comprovada a culpa, a indenização
correspondente. O fato de ser uma grande companhia a poluidora também não torna essa regra
menos válida, dado que quanto maior for uma empresa, mais espetacular e lucrativa será a sua
falência. Assim, uma empresa não vai deixar de ser processada só porque ela é grande, mas se
tornará um alvo preferencial de qualquer dano que porventura venha a provocar, o que
incentivará uma maior responsabilidade ambiental da sua parte. Se essa norma se aplicará com
eficiência aos potencialmente grandes poluidores, mais ainda será com os pequenos.1
Compete ressaltar que já existem métodos e tecnologias com a finalidade de tornar
consumíveis reservatórios de águas até então impróprios para consumo humano, como é o caso
da água dos mares e das contaminadas com dejetos e produtos químicos. Em um ambiente de
mercado, haveria mais incentivos ainda para o financiamento e exploração desses recursos até
então inviáveis, o que aumentaria a oferta de água para além da existente atualmente,
suprimindo assim os terríveis racionamentos impostos pelo poder público.
4.2.3. Ar
Qualquer pessoa que seja responsável por qualquer tipo de dano a outros tem de ser
objetivamente responsável por estes, ainda que sua ação seja "razoável" ou acidental. Esses
danos podem sem nenhuma dúvida tomar a forma de poluição do ar de outrem, inclusive do
efetivo espaço aéreo possuído por ele, de danos contra sua pessoa ou de uma turbação
interferindo na posse ou no uso de sua terra.
A prevalência de múltiplas fontes de emissões de poluição é um problema factível.
Afinal, é complicado culpar o emissor A se há outros emissores ou se há fontes naturais de
emissão. Outra situação problemática consiste em querer punir o fabricante pelo o que é feito
pelo atual proprietário com o produto gerado pelo primeiro.
1 Instituto Ludwig von Mises Brasil. A Privatização dos Rios. Disponível em: http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=424
Acessado em: 25 de dezembro 2011.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 87
O importante em qualquer uma dessas situações consiste em seguir regras claras para
determinar a punição. Quais são a de que o poluidor não tenha estabelecido antes uma servidão
apropriada originalmente; embora poluentes visíveis e odores nocivos sejam uma agressão per
se, no caso de poluentes invisíveis e insensíveis, o demandante tem de provar o dano real; o
ônus da prova de tal agressão recai sobre o demandante; o demandante tem de provar a
causalidade objetiva entre as ações do réu e seu prejuízo; o demandante tem de provar tal
causalidade e agressão para além de qualquer dúvida razoável; e não há responsabilidade por
atos de terceiros, mas apenas responsabilidade daqueles que efetivamente realizam o ato.1
4.2.4. Solo
A poluição ou degradação do solo é outra grande preocupação ambiental em nossos dias,
afinal é nele que é produzida a maior parte dos alimentos que garante a sustentação e
sobrevivência da espécie humana e de todas aquelas sobre o seu cuidado.
Para além da questão da agricultura, a qual os problemas decorrentes do clima e da
qualidade do solo sempre terminaram historicamente contornados pelo desenvolvimento e
emprego de novas tecnologias, como é o caso dos transgênicos, faz importante ressaltar outro
tipo de exploração do solo: a de minerais. Esse tipo de atividade comercial costuma causar
prejuízos não apenas ao terreno em si, como costuma afetar profundamente os circunvizinhos e,
se houver porventura, lençóis freáticos.2
A questão referente à responsabilidade pelos danos causados por indivíduos, conforme a
tese aqui defendida seria resolvida pela adoção do modelo de propriedade privada em sua
plenitude. Se for considerada a poluição em si, é possível notar que mesmo existindo está como
resultado da extração de petróleo e do processo de mineração essa relação não se faz
necessária.
Segundo o economista Walter Block (2010):
O que atualmente é feito durante a mineração do carvão a céu aberto, é empilhar em
altos montes a terra que é retirada, para se chegar ao carvão. Esses montes costumam ser
colocados perto de correntes de água. Quantidades substanciais são carregadas pelas correntes,
contaminando os lagos e cursos d'água que alimentam. Além disso, o terreno desnudado
transforma-se numa fonte de escoamentos de lama; assim, como um dos resultados da atividade
do minerador, o ambiente todo fica prejudicado.
Mas esses não são elementos necessários do processo de mineração de superfície. Embora
uma pessoa possa fazer o que desejar com o terreno que possuir, se o que faz causa danos a
áreas pertencentes a outras pessoas, tem-se de fazê-lo arcar com os custos dos danos. Se, por
exemplo, a atividade do minerador de superfície resulta em correntes de lama e destruição de
1 Instituto Ludwig von Mises Brasil. Justiça, Poluição do Ar e Direitos de Propriedade. Disponível em:
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1177 Acessado em: 25 de dezembro 2011.
2 Block, Walter. Defendendo o Indefensável (São Paulo: Instituto Mises Brasil, 2010), Pág. 139-141.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 88
terras e bens de terceiros, ele é o responsável. Parte de sua responsabilidade pode ser replantar
ou, de alguma outra forma, reabilitar o terreno, para eliminar a possibilidade de futuros
escoamentos de lama. Se os mineradores fossem obrigados a arcar com todos os custos de sua
atividade, e se aos donos de propriedades no curso inferior da mina fossem concedidas medidas
legais de prevenção, caso não estivessem dispostos a serem indenizados por danos, a poluição
cessaria.1
O fundamental a observar aqui é que a atual ligação entre a poluição e a exploração de
recursos no subsolo não é, de modo algum, uma condição inerente, mas, antes, deve-se
inteiramente ao fato de não serem aplicadas a estes empreendedores leis de violação de
propriedade. E é somente por não terem sido rigorosamente aplicadas tai leis, que existe uma
ligação entre essa atividade econômica e a poluição. É só essas leis serem plenamente
observadas, e esse problema desaparecerá gradualmente.
CONCLUSÃO
Desde as teorias de Thomas Malthus que revelava uma explosão da população mundial e
uma regressão dos alimentos e qualidade de vida, vivíamos com o medo de um futuro
desconhecido, pois sabíamos que a exploração dos meios naturais era devastadora e irracional. O
homem agressor da natureza se torna cada vez uma vítima do que produziu; a reação do planeta
aparece cada fez com mais frequência; seja pelos constantes terremotos acontecendo em
lugares inesperados, fenômenos climáticos alterados, aquecimento global, enchentes, secas,
tsunamis, chuvas ácidas, etc. Porém, contrariamente as previsões abordadas, aparece uma nova
teoria, mais moderna e completa, que revela uma nova realidade, a superpopulação não é mais
vista como o problema gravíssimo antes imaginado.
A evolução da vida do homem no planeta é uma questão cada vez mais voltada para a
adaptação. E um dos fatores que poderíamos relacionar a essa adaptação e o convívio em
sociedades democráticas. A democracia veio implantar no seio da sociedade moderna uma
política de defesa da propriedade, afim de através dos direitos de posse e propriedade
defendidos pelo Estado, pudesse desenvolver cada vez mais o bom convívio e paz social. A
liberdade do homem passa a ser limitada, o respeito aos bens alheios passa ser uma obrigação,
nascem as leis para garantir ao homem direito aos seus recursos particulares, a segurança da
posse em sua propriedade. Podemos assim dizer com veracidade que a conquista dos direitos de
propriedade está condizente com o desenvolvimento da qualidade de vida de uma nação.
Ressalta-se também que uma consciência de sustentabilidade, juntamente com idéias de
preservação da natureza vem ajudando a reverter os problemas ambientais ou pelo menos
interrompê-los. Fatores como o reflorestamento, fontes de energia renováveis, reciclagem e
1 Block, Walter. Defendendo o Indefensável (São Paulo: Instituto Mises Brasil, 2010), Pág. 139-141.
Estudos Pela Liberdade, Setembro 2012, nº2 Página | 89
reconstrução de áreas poluídas ao estado natural, vem assim nos educando para uma realidade
voltada para o bem estar e longevidade da espécie humana.
Adotando um modelo de proteção da natureza coerente com a própria história da
humanidade e eficaz tanto do ponto de vista econômico como da preservação dos recursos, é
possível preservamos a Natureza não apenas para está geração, como também para as próximas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BLOCK, Walter. Defendendo o Indefensável. São Paulo: Instituto Mises Brasil, 2010.
DIGEST, Reader’s. Grandes Acontecimentos que Transformaram o Mundo. Rio de Janeiro:
Reader’s Digest Brasil, 2002.
FRIEDMAN, David D. As Engrenagens da Liberdade. Rio Grande do Sul: Estudantes pela
Liberdade, 2006.
HAYEK. Friedrich A. Direito, Legislação e Liberdade - Vol. III. São Paulo: Visão, 1985.
HOPPE. Hans-Hermann, Uma Teoria sobre Socialismo e Capitalismo. São Paulo: Instituto Ludwig
von Mises Brasil, 2009.
LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil e Outros Escritos. Rio Janeiro: Vozes,
1994.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores,
2004.
MISES. Ludwig von, Ação Humana. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990.
NARLOCH, Leandro. Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. São Paulo: LeYa, 2009.
ROTHBARD. Murray N., A Ética da Liberdade. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.



























































































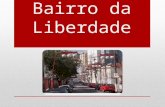
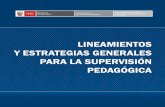
![Alguns apontamentos teóricos sobre a cidade industrial [XIII SHCU]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322fe4c63847156ac06df14/alguns-apontamentos-teoricos-sobre-a-cidade-industrial-xiii-shcu.jpg)