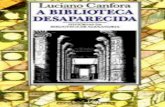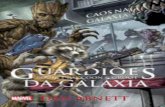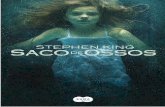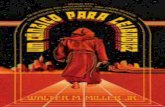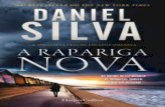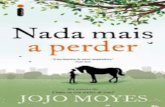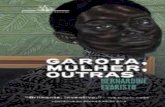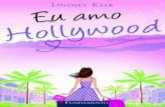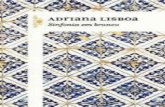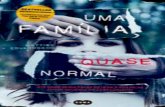A Decolagem De Um Grande Sonho - VISIONVOX
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of A Decolagem De Um Grande Sonho - VISIONVOX
A decolagem
de um grande sonho
Ozires Silva
Índice
Prefácio - 5
Preâmbulo da Edição Original - 7
Introdução - 13
1. O Ponto de Partida - 14
Os Primeiros Anos - 14
O Foguete - 22
O Brevê “C” - 25
O Sonho Impossível da Engenharia Aeronáutica - 30
A Alternativa Militar - 31
Os Cadetes do Ar - 36
A Especialização como Aviador Militar - 42
Os Primeiros Passos na Carreira Militar – 50
2. Amazônia - 53
A Mudança para Belém do Pará - 53
A Vida na Amazônia- 59
O Retorno ao Sul - 71
O Correio Aéreo Nacional – 77
3. São José dos Campos - 81
A Guinada para o ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica - 81
Um Voo que Mudou uma Vida - 84
O ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica - 90
O Curso de Engenheiro Aeronáutico - 93
O Trabalho no Departamento de Aeronaves - PAR - 101
2
A Contratação do Max Holste – 110
4. Nasce o IPD 6504 - 116
O Ataque pode ser uma Defesa - 116
O Difícil Processo de Aprovação - 122
As Formas de Trabalho - 131
O Curso na CALTECH – Instituto de Tecnologia da Califórnia - 135
Um Gigante chamado Paulo Victor - 140
Os Desafios para Configurar o Produto Final - 142
5. O Primeiro Voo - 159
Os Insuficientes Meios de Produção - 159
A Chegada da Data do Primeiro Voo - 165
O Bandeirante no Ar - 169
O Alto Preço Pago - 178
Uma Coincidência Inexplicável - 182
6. A EMBRAER - 186
A Partida de Max Holste - 186
A Busca de Caminhos para a Industrialização - 199
A Ideia de um Avião Agrícola - 205
As Alternativas para a Empresa a ser Criada - 209
7. O Início de uma Empresa - 234
As Primeiras Ideias - 234
A Segurança dos Voos - 236
Os Amplos Problemas do Treinamento - 238
As Primeiras Operações Administrativas - 240
3
Os Primeiros Contratos com a FAB - 244
Dois Grandes Contratos - 254
O Terceiro Protótipo do BANDEIRANTE para a CNAE - 256
A Organização Operacional - 259
8. As Primeiras Vendas - 269
O Difícil Problema das Condições de Venda - 269
A Homologação Internacional dos Produtos da EMBRAER - 273
Os Mecanismos da Comercialização - 275
O Choque do Fornecimento para o Mercado Internacional - 279
9. O Esforço Internacional - 284
As Incertezas dos Momentos Iniciais - 284
As Alternativas para “aparecer” no Mercado Internacional - 293
Os Processos Internacionais de Homologação - 296
As Vendas para o Uruguai e Chile - 300
A Busca de Oportunidades no Mercado do Exterior -• 303
A Aero Industries, Inc. - 308
10. O Final de uma Etapa - 314
Um Novo Desafio - 314
Os Discos Voadores Existem? - 320
A Ampliação da Concorrência - 323
O que uma Fábrica de Aviões Poderia Ver no Futuro - 326
Afinal, o que é a Construção Aeronáutica? - 339
11. Epílogo - 344
4
Prefácio
Em meados de 1969, o então Ministro da Aeronáutica, Brig. Márcio de Souzae Mello, convidou-me para participar de uma reunião onde seria apresentadoe discutido um programa para o desenvolvimento da indústria aeronáutica.
O Presidente da República, Arthur da Costa e Silva, informou-me que numapassagem por São José dos Campos tinha visto o protótipo de um avião depequeno porte, tendo se impressionado com a ideia de sua produção.
A economia brasileira já estava se recuperando do processo de estabilizaçãoeconômica, ganhando uma nova dinâmica em função do programa deabertura para o exterior, com a ampliação substancial de suas exportações.Diversos setores de ponta estavam se desenvolvendo, ganhandocompetitividade no mercado internacional, e um projeto tendo como base oCTA – Centro Técnico de Aeronáutica –, incluindo o ITA, que já se impunhacomo uma das melhores instituições de formação de profissionais de elevadopadrão, merecia a melhor das atenções.
Os anos que se seguiram foram caracterizados por um elevadodesenvolvimento econômico, com estabilidade interna, ou seja, inflaçãodeclinante e equilíbrio fiscal, e externo, em outras palavras, superávitcomercial e redução da dívida externa.
O setor aeronáutico, de elevada tecnologia, ainda era totalmente dependenteda importação, mas as necessidades internas já tinham uma expressão,justificando o desenvolvimento de ideias como as que estavam sendoapresentadas. O Governo tinha uma clara noção de que tais projetos poderiampropagar elevada tecnologia para outros setores.
Designei o Secretário Geral do Ministério da Fazenda, José Flávio Pécora,para acompanhar de perto o projeto. Cheguei a participar, pessoalmente, dealgumas reuniões, e a orientação governamental estabelecida foi no sentidoda mais ampla cobertura com recursos não inflacionários para esteempreendimento, que contava com uma equipe entusiasmada e competentepara a sua implantação. O Governo estava consciente de que esses programasseriam de longa maturação e só poderiam ser bem-sucedidos à medida que asua continuidade estivesse assegurada.
Hoje é possível ter uma ideia de como foi toda esta epopeia, que também teveperíodos difíceis que foram superados com arte e engenho. A feliz iniciativado Coronel Ozires Silva, que deve ser considerado o principal líder queimplantou, com seu entusiasmo, este projeto que honra a todos os brasileiros,de compilar num 5
livro toda esta rica experiência, é outra de suas valiosas e inestimáveiscontribuições.
Ozires Silva e seus companheiros também foram pioneiros na abertura denovos mercados externos para produtos manufaturados brasileiros, de altatecnologia.
Não trabalhavam somente para a EMBRAER, mas viabilizando missõesempresariais para variados países, até os mais remotos, tendo sido osprecursores do atual processo de globalização, no que ele tem de positivo.
Hoje, dentro das mais recentes tendências da economia, a EMBRAER estáprivatizada. A equipe técnica formada nos tempos pioneiros foi capaz dedesenvolver produtos altamente competitivos no mercado mundial, ocupandoum nicho dos mais promissores para a empresa, que é um orgulho daindústria nacional. Com o reconhecimento de sua importância o Governovem proporcionando o indispensável suporte financeiro e sustentando asdemandas que ocorrem, naturalmente, nos foros internacionais.
Os novos controladores e administradores, continuando com a tradiçãohistórica consolidada na EMBRAER, dão mostras de sua elevada capacidadetécnica e empresarial, e certamente continuarão traçando o seu futuro. Muitasoutras empresas brasileiras serão beneficiadas pelos caminhos que estãosendo abertos.
Este livro ajudará muito a partilhar de sua inestimável experiência.
O desenvolvimento brasileiro depende dessas empresas para superar asrestrições impostas pelo setor externo de sua economia. À medida que oGoverno está ganhando maior consciência de que a exportação é de crucialimportância para o desenvolvimento econômico sadio, e que deve dar aosempresários e trabalhadores as condições isonômicas com os seusconcorrentes externos, todo o trabalho que veio sendo desenvolvido pelaEMBRAER destaca-se ainda mais pelo seu pioneirismo.
Demonstra, também, a qualidade da mão-de-obra de que se dispõe no Brasil,que nada tem a dever às economias desenvolvidas. Tudo isso é motivo pararecobrar a confiança de que este país tem todas as condições de firmar-se, no
atual processo de globalização, como um global-player desenvolvido,equilibrado e livre.
Antônio Delfim Netto
6
Preâmbulo da Edição Original
No final de 1994 fui surpreendido pela minha eleição como membro da RealAcademia Sueca de Engenharia (IVA), instituição que então atingia 75 anos eera conhecida pela sua respeitável folha de serviços à tecnologia sueca emundial. Fui a Estocolmo para receber meu novo título. A cerimônia foipomposa e minhas credenciais foram recebidas na presença do Rei Gustaf eda Rainha Sílvia.
Na época era o Diretor Superintendente da EMBRAER, que vivia as últimasfases do seu longo processo de privatização. Os dirigentes da SAAB estavampresentes e, aproveitando-me da oportunidade, perguntei-lhes se poderia fazeruma visita à empresa. Recordei-lhes que, em 1969, ainda como Oficial daForça Aérea Brasileira, tinha visto a linha de produção dos aviões de caça,Draken e Viggen, os quais tinham sido criados sob encomenda da ForçaAérea Sueca. Eram bons aviões, complexos e bem representavam atecnologia aeronáutica sueca. Realmente estava desejoso de rever suasinstalações.
Embora a EMBRAER, desde aquela oportunidade inicial tenha conquistadoreputação mundial e se tornado uma das principais concorrentes da SAAB, oPresidente da empresa sueca gostou do meu interesse. Tudo foi acertado e, nodia seguinte, domingo no período da tarde, após o término das solenidades decomemoração dos 75 anos da IVA, Kurt Ahlborg, Diretor de Marketing eVendas da SAAB
– velho conhecido de S hows Aéreos e Convenções Internacionais –,apanhou-me no hotel.
Passamos duas horas no automóvel que nos levou a Linköping, sede e fábricados aviões militares e civis, entre os quais o SAAB 340 e o também SAAB
2000, que eram, naquele final dos anos 1990, competidores dos aviões EMB120 – Brasília, transporte aéreo regional para 30 lugares que a EMBRAERtinha lançado em 1983.
E do novo jato ERJ 145, o qual no mercado internacional, em poucos anosdeveria experimentar suas primeiras vendas. Em qualquer concorrência, emque estava a EMBRAER tentando vender seus aviões, lá certamente estariatambém a SAAB.
Durante a viagem Kurt falou-me que tinha ouvido muitas histórias sobre aEMBRAER, manifestando seu respeito pela capacidade técnica de seusengenheiros, projetistas e equipe de marketing, acentuando sua surpresa eadmiração de ver uma empresa do terceiro mundo dominar uma tecnologiatão complicada, criar produtos competitivos e conquistar importanteparticipação no mercado mundial. Pediu-me para lhe contar um pouco decomo a empresa tinha 7
surgido e de como tinha sido a luta para erguer uma fábrica de aviões quecompetia com as melhores nos seus segmentos de atuação.
Era uma bela tarde de domingo, a estrada estava com pouco movimento e,embora estivéssemos em novembro, a temperatura era surpreendentementeagradável. O inverno sueco ainda não tinha mostrado sua cara. O carro corriavelozmente e comecei a contar, procurando resumir bastante, os principaisepisódios que tinham determinado o destino e permitido construir aEMBRAER.
O tempo passou depressa e, quando chegamos à porta do hotel em Linköping,Kurt olhou-me nos olhos e disse:
“É uma fascinante história! Você deveria escrevê-la. Mais gente precisaconhecer o que uma ideia, ao lado de determinação, persistência e trabalhopode fazer”.
Muitas pessoas já tinham me colocado o desafio de escrever um livro. Nuncatinha imaginado seriamente que seria capaz de fazê-lo. Mas, naquela vez, aspalavras soavam-me diferentes. Talvez o ambiente, o meu ouvinte – Kurtescutou-me por duas horas sem interrupção – e o fato de que, na época,
lutávamos pela privatização da EMBRAER, a qual, devido às oposições queencontrava, parecia me-ta difícil, convenceram-me. A partir daquele instantecomecei a pensar com seriedade na hipótese de colocar no papel tudo o quefoi vivido, para tornar realidade um sonho de jovem.
Aí surgiram as dúvidas. Como começar para que o relato fosse interessante, enão um desfiar de argumentos e feitos técnicos que, embora importantes,poderiam não interessar ou captar o leitor? Durante a viagem de volta aoBrasil, tive quase doze horas para pensar, no voo de Londres ao Brasil.Quando aterrissava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, parecia-meque as coisas começavam se encaixar e, após o pouso, estava decidido aescrever, já tendo esboçadas as ideias principais.
Assim começou este livro que busca contar uma história vista por mim, desdeminhas primeiras tentativas para crescer num mundo competitivo e semgrandes entradas para um jovem, como eu, vindo de família modesta enascido na Bauru de 1930, no interior do Estado de São Paulo, num paíschamado Brasil. Muitos dos meus amigos e companheiros de trabalho queviveram os 9.068 dias desde o início do projeto do IPD 6504 – que setransformou no BANDEIRANTE - até quando deixei definitivamente aEMBRAER, em fevereiro de 1995, podem entender diferentemente grandeparte dos fatos que aqui descrevo. Se isto acontecer, peço que sejamindulgentes comigo. O que narro obedece a uma visão pessoal. Serão poucasas passagens que contarão com informações vindas de terceiros, os quaisforam consultados apenas para completar acontecimentos. Se discordarem,perdoem-me, pois poderei estar sinceramente enganado.
8
No texto da edição inicial do livro decidi terminá-lo no início de 1986,embora a empresa não tenha nenhuma razão para considerar essa data comodiferente de outra qualquer. Creio que esta foi uma etapa, possivelmente útil,que caracteriza realmente o período histórico e de maior interesse para osleitores que tiverem paciência para ler o meu relato. Em maio daquele ano,deixei a EMBRAER para dirigir a PETOBRAS, nossa grande empresa depetróleo e gás.
Todavia, esta Edição Comemorativa termina antes, nos primeiros anos da
década dos 1970, quando ainda a EMBRAER dava seus primeiros passos eprocurando os caminhos para vender seus produtos tanto no mercado internobrasileiro como procurando saltar para a área internacional. Creio ser este operíodo significativo para consagrar o sonho de construir aviões no Brasil,que, desde os primeiros dias do SéculoXX, impregnou Alberto SantosDumont e uma quantidade de entusiastas, pioneiros e sonhadores, até acriação da EMBRAER.
O sonho não terminou em qualquer data que se tenha escolhido. Todossabemos que um início sempre representa uma esperança, a qual somentepode ser materializada por crenças permanentes, por fé e na capacidade de semanter permanente um espírito realizador, tudo adicionado à coragem parafazer as coisas acontecerem.
Em 1886 deixei o comando da EMBRAER para presidir a PETROBRAS. Noentanto, o futuro mostrou que a saída não tinha sido definitiva. Mais tarde,em 1991 voltei à direção da EMBRAER a convite – talvez imposição – domeu amigo e colega de turma, Ten. Brig. Sócrates da Costa Monteiro,Ministro da Aeronáutica, e lá permaneci até a sua privatização, no final de1994. Quanto ao período subsequente, tudo foi tratado num outro livro, nomercado sob o título NAS ASAS
DA EDUCAÇÃO, também escrito por mim.
Em tudo o que produzi até agora, procurei fazer um relato sobre fatospessoais, na maioria das vezes envolvendo pessoas muito queridas eimportantes, grandes chefes e outros, colaboradores, que vejo com meusolhos. Cito alguns porque viveram centralmente os acontecimentos, mas istoem nada os faz mais importantes que outros. Não tive, em nenhum momento,intenção de valorizar uns e diminuir outros. Os 25 anos vividos, desde o diaem que o projeto de um avião de transporte aéreo regional pela primeira vezveio-me à cabeça até quando saí da EMBRAER, colocaram-me em contatocom muitas e muitas pessoas importantes, no país e no exterior. Seria difícilnomeá-las todas, e àqueles que me julgarem injusto mais uma vez peçoperdão. Sempre serei grato a todos e confesso: sem eles, nada teria sido feito.
O mesmo ocorre agora, no momento em que quero agradecer a todos os quecolaboraram para escrever, compor, diagramar, corrigir e imprimir este livro.
Muitos contribuíram e, entre todos, quero salientar o Dr. Ivan da SilvaTeixeira, 9
que, oferecendo sua coleção primorosamente conservada do primeiroperiódico empresarial da EMBRAER, “O BANDEIRANTE”, me permitiureconstituir e corrigir erros. Sou igualmente grato para com Michel Cury,amigo de tantos anos que, logo no início recebeu um primeiro capítulo paradar uma olhada, o transformou em enorme contribuição. Infelizmente, ambosnão mais estão conosco, mas certamente estarão torcendo pelo êxito dogrande projeto aeronáutico brasileiro que ajudaram construir.
Ao Juarez de Brito Siqueira Wanderley que, exercendo a Presidência daEMBRAER por um curto período, muito me ajudou, encorajando-me efornecendo dados pessoais ou da empresa, garantindo-me as autorizações queprecisaria para usar os dados disponíveis.
Muitas contribuições vieram do Denir Lima de Camargo, que, com grandeesforço e estoicismo, publica a Revista do Manche, a qual se revelou umafonte inesgotável de dados sobre toda a frota dos Bandeirantes que voa emtodo o mundo.
Fico muito contente por citar Walter Bartels e Marilda Bastos, ambosdisponibilizando para mim elementos fundamentais sobre uma série deeventos que, sem eles, não poderiam estar completos.
Ao Mário Vinagre, competente jornalista aeronáutico – um verdadeiropesquisador que me permitiu os benefícios de sua coleção de press releasesescritos durante todos os anos em que trabalhou na EMBRAER. Emparticular foram excepcionalmente úteis as fotografias cuidadosamenteconservadas por Mário, as quais, e os leitores concordarão comigo, foramessenciais para completar os relatos.
Aos Diretores Presidentes da EMBRAER, Maurício Novis Botelho e agoraFrederico Fleury Curado, pela autorização que me deram para coletar dadosdo setor de Comunicação Social, onde encontrei elementos fundamentaispara completar histórias que, de outra forma, teriam estado perdidas.
É importante assinalar a entusiástica colaboração do Roberto Duaillibi, da
DPZ, que atribuiu ao Daniel Kondo à responsabilidade de criar a capa dolivro inicial.
Daniel jogou com seu inegável talento e produziu inúmeras sugestões. Tenhocerteza de que a escolhida agradará aos leitores, dando a “A DECOLAGEMDE UM
SONHO” um visual mais atrativo. Fico muito grato por essa bonita eimportante contribuição.
Enfim, a lista é longa, e quero agradecer a todos que, durante muito tempo ecom cuidado, leram, releram e corrigiram os textos, transformando-os emalgo que, esperamos, o leitor gostará. Se isto ocorrer teremos todos muitasrazões para ficar reconhecidos.
10
Ao meu querido filho Sérgio, que com paciência e desvelo encarregou-se dasrevisões finais, antes de me submeter ao massacre dos meus amigos dasEditoras, aos quais também estendo meus agradecimentos mais sinceros pelaatenção e apreço que dedicaram a este aprendiz de escritor que, sem intenção,de repente se transformou em autor. Eles tiveram o mérito dessatransformação.
Muito obrigado a todos. Foi bom viver tantos anos na EMBRAER, com umaenorme quantidade de pessoas boas e generosas que tudo deram de si, poucoou nada pedindo em troca. Embora a nossa querida empresa, por nóscarinhosamente criada, tenha vivido períodos difíceis (infelizmente tãocomuns na indústria aeronáutica), isto em nada diminuiu a enormecontribuição que ela deu, e certamente dará, aos brasileiros e ao país.
Muitos anos de luta nos separam, desde a primeira tentativa de DemétreSensaud de Lavaud – o francês que em 1910 fez voar em Osasco, no Estadode São Paulo, o primeiro avião projetado e construído no Brasil –, dos aviõesbrasileiros que voam nos céus de todo o mundo. São intensamente vistos naAmérica, na Europa, na Ásia e até nas longínquas Austrália e Nova Zelândia,onde temos tantas unidades em operação e tantos amigos.
O meu muito obrigado a todos aqueles que pensam generosamente sobre aimportância de empresas como a EMBRAER, dona de uma marca própria ecapaz de gerar sua tecnologia. Espero que o que procuro contar possa ajudarmeus conterrâneos a meditar sobre a importância da educação e daspesquisas, científica ou aplicada, como ferramentas do desenvolvimento. Naatualidade, está mais do que entendido que o mais simples dos produtos nãomais pode ser fabricado sem uma soma de técnicas e de conhecimentosadequados. Novamente, insisto, a Educação aparece como condiçãofundamental para que qualquer iniciativa, neste mundo moderno globalmentecompetitivo, possa alcançar o sucesso.
O processo de geração e de aplicação do conhecimento nunca é fácil, emparticular para países em desenvolvimento. No entanto, guardo comigo adeterminação de que isto precisa mudar. Não retiraremos o pobre e sofridopovo brasileiro da sua posição secundária no mundo competitivo se nãoinvestirmos em educação e no desenvolvimento tecnológico. Sempre haverálugar no planeta Terra para aqueles que, com suas habilidades e inteligência,lutem e vençam, capazes que serão de transformar recursos naturais emprodutos acabados, sobretudo os de alto valor e intensivos em sistemas eequipamentos.
Todavia e muito infelizmente no Brasil, ainda vivemos sob contrastes, e anação mostra-se injusta com uma imensa parcela de pessoas pobres, poucoeducadas e, consequentemente, marginalizadas. Raramente e muito semconvicção pensa-se na educação e na tecnologia como sérias e poderosasalavancas para eliminar a miséria. Com a experiência que ganhei ao longo davida, e nos contatos com a 11
produção mundial, fiquei convencido de que sem marcas próprias, semprodutos competitivos, passando por processos produtivos eficientes e de altaqualidade, dificilmente nos livraremos do terrível circuito fechado dapobreza.
A vida na sociedade moderna é extremamente complexa. Formulo votos edeixo minhas expectativas de que se possa pensar e tentar extrair da históriada EMBRAER – mesmo aquilo que neste livro não estará escrito – fórmulase conceitos que nos levem a encontrar solução para os problemas que afetama vida deste enorme contingente de marginalizados que vivem neste ainda
pobre Brasil.
Uma palavra final à minha querida esposa, Therezinha, amiga de muitasdécadas e comandante da minha família, que em nenhum momento falhoucom seu apoio, mesmo nos momentos difíceis quando eu, involuntária ecertamente, errei. Eu lhe agradeço pelos maravilhosos filhos que nos deu,Arnaldo, Ana Maria e Sérgio, agora agregados a minha nora Selma, meugenro Hélio e nossas lindas sete netas; juntos formamos uma família a qualtenho orgulho de pertencer.
Enfim, sou muito grato por tudo, em particular ao meu país que, através daescola pública, deu-me a educação necessária e permitiu-me crescer. SomenteDeus sabe quanto desejaria que todos os brasileiros tivessem as mesmasoportunidades que me foram oferecidas. Estou certo de que, se isto puderacontecer, teremos um país somente de vencedores.
Desejo a todos uma boa leitura e perdoem-me pelas falhas que certamenteencontrarão e existirão.
12
Introdução
Era um dia como qualquer outro, em 1946. Estava fisicamente cansado,embora fossem ainda 8h00 da manhã. Todos os dias, corria ruas acima, deminha casa ao Ginásio do Estado em Bauru, para assistir as aulas. Não eradiferente dos meninos da época; deixávamos tudo para a última hora esaíamos de casa não mais de uns quinze minutos antes da hora para percorrera distância até a escola.
Ao chegar, como sempre esbaforido, o sinal já estava tocando quandoconsegui cruzar a porta da sala de aula, pouco antes do professor de química,Dr. Sérgio Castro. Logo de início o professor perguntou à classe se alguémsabia o que se comemorava naquele dia. Ninguém ainda estava acordado osuficiente, naquela quarta-feira, e todos precisariam de um pouco de tempopara se concentrar nos assuntos que seriam objeto das aulas do dia.
Após algum silêncio, resolvi arriscar:
“Não seria hoje que se comemoram os 40 anos do primeiro voo de umaparelho mais pesado do que o ar?”
“Certo!”
Surpreendi-me com a resposta do Professor. E ele continuou:
“Em 23 de outubro de 1906, há exatamente 40 anos, Alberto Santos Dumont,um grande pioneiro brasileiro, voou em Paris, com o 14-Bis, decolando pelaprimeira vez um avião, utilizando meios próprios.”
E assim foi explicando o que teria acontecido naquele dia que deveríamosestar comemorando como data histórica, procurando enriquecer seu relatocom informações técnicas sobre o avião de Santos Dumont, o 14-Bis, e sobrecomo tudo teria ocorrido em Paris.
Ao final, quando o professor já estava terminando seu relato e preparando-separa iniciar sua aula, levantei o braço e perguntei:
“Por que, se tivemos um Santos Dumont e também temos um país tão grande,o Brasil não fabrica aviões?”
Um tanto surpreendido, Dr. Sérgio procurou dar algumas explicações, quecertamente não foram satisfatórias.
Estava nos meus quase 16 anos de idade; já me envolvia com aeromodelos ecom planadores, sempre observando que lidava somente com produtosimportados. Quando precisávamos de algo a origem eram invariavelmente osEstados Unidos. Minha pergunta tinha razão de ser.
13
Aquela primeira manifestação não poderia indicar que, a partir de um dia nofuturo, estaria envolvido na fabricação de aviões brasileiros. No entanto, aliestava a raiz de um sonho de menino que se materializaria décadas após. Nãosabia como ou se ocorreria, mas assim são as histórias. Nascem de fatossimples e percorrem caminhos sempre inusitados.
Neste livro procuro contar o que ocorreu. Como aquele quase moço saiu do
interior e, mais tarde, vivendo inúmeras coincidências proporcionadas pelavida, acabou por se envolver num grande desafio e contribuir para o Brasilvencer no mercado internacional, vendendo em todo o mundo um tipo deproduto que, olhado sob qualquer ângulo, se situa entre os mais sofisticados ecomplexos que uma indústria pode fabricar.
Foi uma experiência dramática que mostrou que um sonho, por vezes, podese transformar em realidade e “A DECOLAGEM DE UM SONHO” procuracontar como aconteceu.
1. O Ponto de Partida
Os Primeiros Anos
Creio que foi ali que tudo começou. Numa manhã de maio de 1943.Estávamos na escola e excitados; naquela tarde iríamos experimentar o nossopequeno modelo de avião-foguete. Éramos dois, Zico e eu.
Na realidade o grupo era maior. Composto de jovens estudantes, notadamentedo Ginásio do Estado de Bauru. Zico, ou melhor, Benedicto Cesar, era omentor do grupo e exercia certa liderança. Estávamos na faixa dos 13 e 14anos de idade. Com sua arguta inteligência e grande criatividade, Zicosempre se colocava à frente quando se tratava de produzir respostas para asquestões que os jovens tanto levantam. Não gostava muito de seu nome,Benedicto, mas acentuava que o “c”
antes do “t” dava-lhe um diferencial de nobreza. Nascido em 1929, era umano mais velho. Aprendi muito com ele, no amor comum que nos unia, aaviação.
Nossos pais trabalhavam na área de eletricidade, na Companhia Paulista deForça e Luz, responsável pela distribuição de energia elétrica na região.Talvez tenha sido aí a origem do impulso que ambos tivemos na direção dasmatérias técnicas que nos entusiasmaram no futuro.
14
Juntos, nós nos preparamos e enfrentamos o concurso para o Ginásio do
Estado que, oferecendo os cursos de segundo grau, foi nosso real ponto departida. Bauru, na época, já era uma cidade importante, com suas atividadesmais centradas no comércio. Situada no interior, praticamente no centrogeográfico do Estado de São Paulo, dispunha de um ensino público comcerteza acima da média. Em particular, o Ginásio do Estado era um dosorgulhos da cidade e, administrado pelo Governo Estadual, tinha sofridoimportante remodelação a partir dos meados de 1942.
A melhoria da qualidade do ensino foi evidente, e o curso de 2º grau quefrequentávamos gerava uma boa carga de estudo e tomava bastante do nossotempo. Bons professores, recentemente admitidos, tinham vindo de São Pauloe trouxeram um novo alento à escola, contribuindo de forma significativapara despertar vocações e mais disposição para o estudo à maioria dos alunos.Graças à habilidade e à dedicação de mestres, entre outros o Argino, naMatemática, o Clemente II Pinho, no Português – deste eu não gostava muito,mas reconhecia sua competência –, sentíamos que estávamos recebendo umaeducação diferenciada.
A figura central da escola era o Prof. Antônio Christino Cabral, Diretor doGinásio –
dinâmico e empreendedor, tinha conseguido trazer para a nossa cidade osnovos professores e sua administração austera e séria provocou grandesdiferenças em relação a um passado recente.
Levávamos uma vida normal para moços da nossa idade. Nossa adolescênciaocorreu numa época caracterizada por intensas mudanças no cenáriointernacional; começamos a nos entender como gente em plena SegundaGuerra Mundial, que colocou os Aliados (Estados Unidos, Rússia, Inglaterrae França) em luta contra o Eixo (Alemanha e Itália – na Europa e Japão – naÁsia). A Alemanha, liderada por Adolf Hitler, criador do partido e daideologia do nazismo, tinha avançado e ocupado militarmente vários paísesda Europa Oriental a partir de 1939
e mais tarde invadiu a Rússia. No setor ocidental ocupou a França, avançandoe conquistando vários países nórdicos. Contando com o apoio da Itália,liderada por Mussolini, ocupou o norte da África, buscando a hegemonia doque chamava de a raça superior dos arianos. No Oriente, a guerra foi liderada
pelo Japão, que avan-
çou rapidamente por sobre os países da Ásia e da Polinésia, conquistandoposições que levaram anos para ser recuperadas.
Os jornais dedicavam grandes espaços às evoluções da guerra e descreviamcom detalhes as máquinas usadas nos combates, enfatizando suascaracterísticas técnicas, a performance dos aviões, dos navios, das armasterrestres, suas táticas de utilização, e assim por diante. Era uma constante osmoços, acompanhando tudo pelos meios de comunicação – na época somenteo rádio e os jornais, serem fortemente influenciados pelas evoluções dastécnicas e dos produtos, permanentemente noticiadas. Todos sentiam que, acada momento, as inovações com clareza produziam alterações no equilíbriodas forças em combate. A superioridade 15
de uns ou de outros países envolvidos no conflito (entendíamos claramente)dependia do esforço que colocavam na indústria bélica, geranCadete doArmas e mecanismos que lhes permitiriam vantagens ou desvantagens.
Na época havia apenas a imprensa escrita e o rádio. As notícias forneciam umaprendizado amplo e desafiante. Aquela cultura gerada pela leitura dosjornais era suficiente para nos engajarmos em discussões intermináveis nosbancos de cimento da Avenida Rodrigues Alves, ou junto ao balcão do Cafédo Centro –
ambos na parte central da cidade, então com cerca de 40 mil habitantes. Aténa Sorveteria do Jorge, famosa pela qualidade de seus sorvetes, temas sobre aguerra eram iniciados, em conversas que jamais acabavam. Falávamos sobrea vitória ou o fracasso dos litigantes, sobre a participação de outros países e,já no final da luta, em 1944, sobre a entrada do Brasil no conflito.
Foi um choque para todos. A guerra que acompanhávamos era distante eparecia acontecer no “terreno do vizinho”. No entanto, no momento em quese iniciou o recrutamento de pessoas que conhecíamos, nós – os meninos –
olhávamos para eles imaginando se morreriam e como. No dia em que osnossos convocados partiram de Bauru para se juntar à tropa que seguiria paraa Itália houve até desfile. Havia um orgulho no rosto de todos, embora
aqueles mais ligados a cada um dos soldados bauruenses sentissem-sepreocupados. Afinal eles não estavam deixando a cidade para uma simplesviagem. Iam para uma guerra que, parecia, seria vencida pelos aliados, maslonge de deixar de requerer um razoável saldo de mortos. Sabíamos quemuitos não voltariam jamais.
Zico conseguiu emprestado um receptor de rádio, um dos melhores da época;era um Zenith Transoceanic, de fabricação norte-americana, com faixas deondas curtas expandidas. Com ele ouvíamos o mundo e, com enormeorgulho, antecipávamos para nossos amigos as notícias que os jornaispublicariam no dia seguinte.
Era uma época de real desenvolvimento de técnicas cada vez mais ousadas,embora tudo voltado para as armas ou para qualquer coisa que fosse útil àguerra.
Não me lembro de ter usado a palavra “tecnologia”. Pelo menos novocabulário com o qual tínhamos contato, ela não existia. O compasso dodesenvolvimento para descobrir ou inventar novas técnicas e produtos eranotável e efetivamente intenso. Gostávamos do tema e dedicávamo-nos atentar retirar das notícias, frequentemente resumidas, o que estaria por trásdaquelas poucas características publicadas.
Ora eram os alemães que, no desenvolvimento de novas técnicas debombardeio, criaram os famosos aviões “Stuka” – capazes de melhorar aprecisão de suas bombas mergulhando praticamente na vertical dos alvos.Ora os aliados, liderados pelos norte-americanos, lançavam aparelhos decombate leves e ágeis, 16
capazes de, nos confrontos diretos, derrubar os célebres Messerschmidt Me109, os quais, nos primeiros anos de guerra, deram a superioridade aérea aosalemães.
Era muito claro que levariam vantagem na guerra mecânica àqueles paísesem luta que fossem capazes de equipar seus soldados com artefatos maismodernos do que os empregados pelos inimigos. O que acontecia nos camposde batalha certamente influenciou nossa formação, despertando interesse pelatécnica. Come-
çamos a sentir o gosto pelas discussões sobre os mais modernos armamentoscrescentemente empregados. Embora não nos parecesse claro na época, atecnologia e as modernas técnicas de gerenciamento, das quais tanto se falaagora, já se destacavam, mostrando que venceria o conflito quem melhor asdominasse.
Diariamente as notícias traziam novidades e os jornais eram esperados cominteresse e mesmo ansiedade. A impressão que tenho, em que pese o volumedo esforço da época, é que nos dias de hoje a humanidade está caminhandomais rapidamente, em particular os países mais desenvolvidos. Não sei comoisto poderia ser bem medido, mas diz-se que o conhecimento do homem estácrescendo segundo uma exponencial. E acho que é uma verdade!
Dessa forma, mesmo que na época não tenhamos entendido dessa forma,fomos impregnados pela importância da inovação. Ficaram marcadasclaramente nas nossas cabeças a dura luta contra o tempo e a busca incessantede inteligentes táticas e de novos artefatos bélicos para serem aplicados noscampos de batalha.
Debatíamos a clara ideia de que era importante inovar – em ambos os ladosentre os combatentes. A todos parecia que o vencedor seria aquele quesuperasse o inimigo, graças a uma nova arma ou a um novo modo deconduzir a guerra ou uma batalha. Era um esforço frenético, tanto no teatrode operações como na retaguarda. Entre as nações aliadas, vivendo no centrodos acontecimentos, a imensa maioria das novas invenções vinha dos EstadosUnidos. Os outros países tinham guerra nos seus territórios e sofriamescassez de tudo, com racionamentos pesados descritos com detalhes pelosjornais.
Se tudo isso influiu para que nos interessássemos cada vez mais pelaAeronáutica, o importante naquela fase de nossas vidas foi à designação doCoronel Américo Marinho Lutz para dirigir a Estrada de Ferro Noroeste doBrasil, uma empresa Federal, cuja sede era em Bauru. Embora sendo doExército, Lutz tinha um fascínio pela aviação. Homem de visão, investiu noAeroclube local, adquirindo aviões de treinamento e planadores que foram ostrampolins para o desabrochar de inúmeras carreiras. Os jovens eram atraídospela nova atividade que despontava. Nossa cidade ficou famosa pelas festasaviatórias que o Aeroclube promovia, com a participação de aviões,
aeromodelos, paraquedistas, tudo constituindo atrações para as cidadesvizinhas, que levavam populações inteiras para ver as novidades em Bauru.
17
Na atualidade vemos, em muitas cidades brasileiras, os Aeroclubes e outrasorganizações que poderiam estimular os meninos e os jovens, perdendoespaço sem material ou equipamento, enfim, sem apoio e sem recursos. Aomesmo tempo, também vemos e ouvimos a sociedade reclamar da falta desegurança e do aumento da violência, gastando muito mais em correção,esquecendo-se de que a prevenção teria sido mais barata. O que ocorreuconosco foi um exemplo vivo de que o investimento feito no Aeroclube deBauru não somente nos afastou dos perigosos hábitos gerados pelo ócio comodeu-nos uma profissão e uma vontade.
Foto 1 Aeroclube de Bauru na década de 1940.
O ritmo de atividades era marcante. Havia espaço para todos. No entanto,somente os maiores de idade e mais capazes eram selecionados para o voo
em aviões. Os meninos eram orientados para o aeromodelismo e, à medidaque cresciam, começavam a voar planadores, na prática do voo-a-vela, sob aliderança, ou melhor, sob a “ditadura” de Kurt Hendrick, suíço residente noBrasil, aonde chegou em 1939, logo após o início da guerra. Aquele homemsimples, duro e de compleição robusta, forte, com um coração maior do queseu próprio corpo, criou um dos mais competentes centros de formação depilotos volovelistas do país, atraindo legiões de jovens que, mais tarde,participaram e viveram verdadeiras histórias épicas no rápido progresso daaviação no Brasil que se seguiu após o término da guerra.
18
O grupo de pioneiros com a mentalidade de visionários e voltados para ofuturo não se completava com Lutz e Kurt. Tínhamos conosco o LuizGonzaga Bevilacqua –
o grande e sempre presente Presidente do Aeroclube de Bauru, que lutoumuito e foi capaz de manter a chama daquele contagiante entusiasmo pelaaviação sempre acesa. Eles formavam um grupo de pessoas diferenciadas eque foram capazes de viver além do seu tempo, influenciando toda umageração, dando-lhes a mais importante condição para vencer na vida, umavocação e uma formação profissional competente, suficiente paraproporcionar oportunidades a jovens que, sem isto, não teriam disponíveis asferramentas do sucesso pessoal.
Para os meninos, Lutz conseguiu uma pequena área com o Superintendentelocal da empresa distribuidora de energia elétrica – a Companhia Paulista deForça e Luz – bem no centro da cidade, e lá instalou máquinas debeneficiamento de madeira capazes de fazer peças de precisão, compatíveiscom pequenos modelos.
Nascia a Escola de Aeromodelismo. Zico, eu e tantos outros fomosbeneficiários de tudo. Com muita frequência, lá estávamos nós, após as aulasdo Ginásio do Estado, construindo pequenos modelos em escala dos aviõesque lutavam nas frentes de combate. Por um caminho que jamais chegamos acompreender, o fato era que sempre tínhamos desenhos e plantas dasaeronaves, entre as mais modernas que estavam em operação no teatro daguerra, tanto as dos Aliados como as do Eixo.
Eram permanentemente as mãos criativas do Cel. Marinho Lutz queconseguiam tudo, graças talvez ao seu prestígio junto ao então Presidente daRepública, Getúlio Vargas. Lutz era hábil e deveria obter o que queria nossegundos escalões do Governo. Para nós aquilo era impossível. Nadasabíamos do que ocorria nos diversos níveis do poder, na capital do Brasil,naquele tempo o Rio de Janeiro.
19
Foto 2 Coronel Américo Marinho Lutz e o piloto-chefe do Aeroclube
de Bauru em 1942.
Foto 3 Ozires Silva entre Luiz Gonzaga Bevilacqua (à esquerda) e KurtHendrick (à direita).
Foto 4 Escola de Aeromodelismo, com Zico sentado à direita, aos 12 anos.
21
O Foguete
O clima era estimulante e as ideias desabrochavam. Fazíamos pequenosmodelos de aviões, na maioria baseados em plantas que procediam quase quesempre dos Estados Unidos. Eram bem feitas e minuciosas, permitindoreproduzir em madeira, nosso material fundamental, os inúmeros detalhesque cada avião apresentava em sua aparência externa. À medida que nosdesenvolvíamos passou a ser comum que introduzíssemos modificações,mesmo naqueles modelos produzidos para o voo.
Naquela tarde de maio estávamos fazendo uma tentativa. Zico tinhaimaginado que, se utilizássemos pólvora obtida dos foguetes juninos,
poderíamos conseguir empuxos muito mais potentes do que aqueles que eramproduzidos pelos pequenos motores a explosão equipados com hélices, comosempre conseguidos por Marinho Lutz. Usando madeira fizemos um modelopequeno do nosso avião-foguete; suas asas tinham uns 30 centímetros deenvergadura. Na seção posterior da fuselagem abrimos um furo ondecolocamos o “motor” (na realidade era um cilindro de pólvora socada,misturada com serragem, esta usada como retardadora da combustão,buscando evitar uma explosão). Aquilo era o que chamávamos de avião-foguete e, naquela tarde, pretendíamos tentar o primeiro voo, apóspromovermos algumas experiências queimando o cilindro de pólvora que eradenominado “motor”.
Tudo foi feito nas instalações do “Aeromodelismo”, como chamávamos assalas da Rua Baptista de Carvalho, onde Lutz tinha instalado as pequenasmáquinas para a molecada trabalhar. Após concluirmos o trabalho quenecessitava dos equipamentos que tínhamos na sala de aeromodelismo,preparamos tudo para a operação “lançamento”. Caminhamos para a esquinada Rua Rio Branco com a Avenida Rodrigues Alves. Lá era o local deestacionamento da camioneta do aeroclube, usualmente utilizada para otransporte entre a cidade e o campo de aviação. Os meninos não tinhamnenhuma prioridade. Se sobrassem assentos poderíamos usar. Quando nãohavia espaço, o remédio era caminhar Rua Rio Branco acima, ao longo dos3.800 metros de distância, os quais medimos muitas vezes através dos nossospassos de 50 centímetros. O Sr. Bica, motorista da camioneta, semprepaciente com os meninos, era duro no momento de lotar o veículo e, paraquem sobrasse, o jeito era andar.
Era uma tarde bonita de céu azul, felizmente muito comum no interior doplanalto brasileiro. Instalamo-nos ao lado da cabeceira da pista e lá pelasquatro horas da tarde estava tudo pronto. Naquela época o movimento doaeroporto era pequeno, somente sacudido pelos próprios alunos da Escola dePlanadores. Com a nossa idade ainda não pertencíamos àquele time.
22
Preparamos uma rampa feita de madeira que foi instalada na direção contra ovento e com um ângulo de subida da ordem de 30 graus. Não pense que istoera calculado. Após mexermos tanto com os aeromodelos, tendo feito voar
inúmeros deles nas mais diferentes condições, intuitivamente colocávamos ascoisas da forma que nos parecessem mais razoáveis. Em geral funcionavam.
A área era suficientemente livre e estávamos seguros de que permitiria o voodo nosso pequeno engenho sem problemas. O vento não era forte e sopravafavoravelmente. A direção de decolagem estava livre e numa orientação quenão oferecia riscos. Desejávamos testar, naquela primeira vez, ofuncionamento do “motor foguete” e sua posição no pequeno modelo.Antecipávamos que a geometria da instalação era importante pois, emboranão soubéssemos qual seria o empuxo conseguido, imaginávamos que eleseria bem maior do que aqueles fornecidos pelas hélices. Assim, qualquerpequena variação angular do motor poderia desviar o “veículo” da trajetóriaesperada.
Um outro aspecto que tínhamos aprendido era a importância da localizaçãodo centro de gravidade do conjunto, que precisava estar numa posiçãodeterminada em relação à linha de tração da propulsão, durante a fase defuncionamento do motor. Na fase de tração zero, isto é, motor já apagado, asforças aerodinâmicas precisavam estar atrás da resultante do peso. A regraempírica era que o modelo deveria
estar
equilibrado,
quando
sustentado
num
ponto
situado
aproximadamente a 1/3 da corda da asa. Isto era determinado simplesmentecom os dedos das mãos apoiando as asas, obtendo-se o equilíbrio do modelo.
Construímos nosso pequeno avião-foguete respeitando esses princípios
fundamentais. Não esperávamos grande sucesso no voo após a queima dapólvora.
A asa era pequena, determinando uma carga-alar* elevada; em consequência,a velocidade em voo planado seria alta. Tínhamos discutido muito estedetalhe e pela experiência que obtivemos com outros modelos sabíamos que apropulsão seria muito forte e o pequeno motor certamente deveria impor aosistema uma grande aceleração.
*Carga-alar é o quociente da divisão do peso máximo do avião dividido pelaárea da asa. É um importante parâmetro para fixar uma série importante decaracterísticas de voo de um avião.
As instalações do Aeroclube eram muito boas, também construídas porMarinho Lutz. O prédio central era grande, com dois andares, constituindouma torre de controle de voo e um hangar bastante amplo, capaz de acomodaruma apreciável quantidade dos pequenos aviões, que faziam parte dosequipamentos para formação e treinamento dos pilotos. Eu gostava muito dever a estrutura de 23
cobertura do hangar. Era composta de vigas em arco e construídas cominúmeras pequenas peças de madeira, sob a forma de treliça. No período daconstrução era bom ver os operários montando as vigas com uma quantidadede tacos (e tudo era feito com muito capricho). Em frente ao hangar havia umgrande pátio pavimentado com lajotas de pedra. Ali se estacionavam aviões,faziam-se pequenas manutenções e testes de motor.
O hangar possuía na área lateral da torre de controle oficinas para reparos deequipamentos instalados nos aviões. A essas oficinas nós, os moleques doaeromodelismo, não tínhamos acesso. Afinal, o conjunto era bonito.Gostávamos muito da arquitetura e, ao estilo de muitos pequenos aeroportosque mais tarde vi nos Estados Unidos, havia uma área destinada ao bar queoferecia sanduíches e refrigerantes. No fundo, lembro-me bem, tinham sidopintadas na parede figuras mostrando que todos eram bem-vindos à nossa“cocheira”, como se chamavam as pequenas instalações destinadas a abrigaros poucos passageiros que utilizavam os aviões Stinson da STAR (Serviçosde Transporte Aéreo Regionais).
A STAR era uma empresa de táxi-aéreo que, dotada de um bom número deaviões, fazia o transporte de pessoas e de pequenas cargas em base defretamento.
Ela contribuía para uma boa movimentação ao aeroclube, mas havia umproblema.
Os dirigentes e os pilotos da STAR não nos tinham em boa conta. Afinal,éramos um contingente de meninos a atrapalhar suas atividades com voos deaeromodelos e de planadores, os quais por vezes interditavam a pista edisputavam espaço para as movimentações de pouso e decolagem dos aviões.
O local, que tínhamos escolhido para a instalação da rampa de lançamento donosso pequeno avião-foguete, estava orientado para livrar qualquer obstáculo.
Com tudo preparado, o pensamento primeiro dirigiu-se para a forma pelaqual asseguraríamos a ignição do motor. Não sabíamos se funcionaria bem.Buscamos testar o conceito fabricando alguns exemplares de prova compólvora removida de busca-pés, mas com a precariedade de nossa manufaturaos resultados não eram muito consistentes. Instalamos no modelo o melhorque conseguimos.
Foi então que vimos o Sampieri, um colega de escola que sempre se mostravadesejoso de participar de nossas experiências. Ele era o que chamávamos umchato, uma injustiça dos tempos de jovens. Na realidade um bomcompanheiro que participou muito de nossas vidas. Com um pouco demaldade usamos o seu entusiasmo e rapidamente concordamos que ele seria onosso corajoso acendedor do “motor”. Não foi preciso esforço paraconvencê-lo; ele estava louco para se juntar a nós, mesmo que para issocorresse algum risco.
Munido do nosso necessário incentivo, acendeu um fósforo, enquanto nós,corajosamente prudentes, nos escondemos por trás de um pequeno monte deareia. Sampieri, ainda não sabendo exatamente do que se tratava e impelidopelos 24
nossos argumentos encorajadores, acendeu o engenho. O motor funcionoupoucos segundos, imprimindo uma aceleração tão grande que o modelo partiu
somente com a fuselagem, ficando as asas na rampa. Entreolhamo-nosespantados, com o Sampieri estatelado no chão, mal sabendo o que tinhaacontecido. Constatamos que a fixação das asas na fuselagem estava fraca; osistema típico que estávamos habituados a usar para os aeromodelosconvencionais não servia. A solução, entendemos, teria que ser umengastamento na fuselagem.
Da fuselagem, acelerada e atirada para o céu pelo motor-foguete, nunca maistivemos notícias. Ela deve estar até hoje em algum lugar nas vizinhanças doaeroclube, quem sabe, rindo daqueles fedelhos que se aventuravam porcaminhos do saber pouco conhecidos. Aprendemos, na prática, a importânciadas forças de inércia. Nas grandes acelerações as forças geradas pelas massasconcentradas podem ser muito grandes. Foi o nosso caso. O suficiente paradestruir o pequeno avião-foguete, deixando-nos, todavia, algo de novo quepoderíamos utilizar mais tarde. O Sampieri sobreviveu bem e, somente após oestouro em que se converteu aquela decolagem, entendeu que o tínhamosusado. Bronca dada, explicações tentadas e, no fim, tudo bem.
O Brevê “C”
Assim o tempo passava. Experimentávamos, aprendíamos e buscávamosnovas experiências. Zico e eu, sempre juntos, conversávamos sobre tudo,tentando enxergar o futuro e escolher os caminhos a percorrer paraconseguirmos voar. É bem verdade que o Kurt, com sólidos conhecimentosaeronáuticos, era uma fonte permanente de aprendizado. Na época ele estavaconstruindo, nos próprios hangares do aeroclube, um novo planador, oFlamingo. Era um planador de alta performance projetado pelo seu cunhado,Hans Widmer, que, como ele, também tinha se transferido para o Brasil. Naconstrução do Flamingo todos participávamos cada qual fazendo uma dasmilhares de peças que finalmente constituiriam o aparelho, tudo sob acuidadosa supervisão do Kurt.
Paralelamente ele dirigia a Escola de Planadores, que oferecia o ensino e otreinamento para formar pilotos. Aulas teóricas eram dadas e o voo erapossível através do uso de um guincho que puxava os planadores,inicialmente em corridas no solo e, mais tarde, para lançá-los ao ar. Era umaoperação, com um ritual pouco variado, mas muito trabalhoso. Todas astardes, o esquema era o de retirar dos hangares os planadores GRUNAU – de
fabricação alemã –, alinhá-los na pista e enganchar o cabo do guincho. Esteera na realidade uma camioneta Ford, com o seu tradicional motor de quatrocilindros adaptado a uma bobina de cabo de aço.
Acionando o motor, o cabo era enrolado rapidamente, tracionando o planadoraté as velocidades convenientes para assegurar o voo.
25
Era um esquema para suadores. Animados, ou forçados, por Kurtcomeçávamos logo após o almoço – pela manhã estávamos em aula noGinásio – e era uma agitação. Em geral, os planadores eram colocados nogramado, próximo da pista do Aeroclube aguardando sua vez de “voar”. Apista, ainda sem pavimentação, foi construída como um rasgo na vegetação,deixando à mostra o solo avermelhado, de quando em quando, por ação dovento, coberto pela areia, tão característica de Bauru. Naquela época já
chamávamos a cidade de “A Capital da Terra Branca”, lembrando a areia quecobre a maior parte do município, aliás, um problema para a agricultura.
Kurt comandava tudo e sempre estava feliz quando cercado pelos meninosque, todo o tempo preparados para fazer uma bobagem qualquer, precisavamser supervisionados de perto. Afinal estávamos falando de aviação elembrando sempre o que estava escrito na parede da “cocheira”: “Na aviaçãosomente o perfeito é aceitável”.
Foto 5 Kurt Hendrick num planador Kangaroo.
Naquele ambiente sempre existem “pessoas” importantes. E uma delas era amascote do Kurt, um vira-lata, o Gasolina! Um cão pequeno que, um dia 26
atropelado, exibia uma das patas dianteiras mal recuperada. Quando a pressãoatmosférica caía ou começava a soprar um vento mais frio, provavelmentealguma dor ele sentia na articulação e o Gasolina simplesmente a recolhia,
evitando-a pousar no solo. Kurt via aquilo e gritava no seu conhecido sotaqueforte: “Famos recolherr os planadorres! Fai choverr!”. Não havia ninguémque o dissuadisse. O
remédio era parar tudo e esperar a chuva que poderia não vir.
Como regra, sempre existe a hierarquia das qualificações e a competiçãoentre os participantes. Ela vinha basicamente do grau de suficiência que cadaum conquistava na escala crescente de habilidade como pilotos deplanadores. Eram os ambicionados “Brevês”. O primeiro grau era o Brevê A,após o B e em seguida o C.
No nível C, crescendo na direção da distinção havia o “C de Prata” seguidopelo de Ouro e, finalmente, Diamante.
Zico foi uma exceção. Há tempos, desde muito pequeno ele frequentava oClube de Voo a Vela, e bastante insistente – competente, embora aindamenino – foi
“autorizado” a voar planadores, em idade bem abaixo da regulamentar. O
resultado foi surpreendente e ele, com apenas 12 anos, conseguiu o seuBrevê, transformando-se no mais jovem piloto do Brasil. De algum modohouve até um respaldo oficial. Numa visita a Bauru, o Dr. Joaquim PedroSalgado Filho, o primeiro Ministro da Aeronáutica, após a unificação dasForças Aéreas do Exército e da Marinha – criando a Força Aérea Brasileira(FAB) –, entregou-lhe em solenidade o seu Brevê.
Nunca entendemos bem como isso aconteceu. A idade mínima de voo era 18
anos de idade e o Ministro entrega um Brevê a um garoto de 12! Mais tardecreio que vim a compreender. Realmente Salgado Filho tinha sido umhomem Foto 6 Zico recebendo o brevê das mãos do ministro Salgado Filho.
27
Também diferenciado e sabia promover o seu recém-criado ministério.
Eu, no entanto, tive de seguir as regras. Como todos, comecei a obter o Brevê
A, quando já tinha 16 anos e estava cursando o 2º ano do curso Científico(hoje 6ª
série). O nível do Brevê A, para aqueles que iniciavam o curso utilizando-sedos guinchos, exigia simplesmente que o aluno demonstrasse a habilidadepara equilibrar o planador numa corrida no solo e chegar a efetuar um voocontrolado, em linha reta e sobre a pista, sempre puxadas pelo “guincho”. OBrevê B requeria a execução de um “oito” sobre a pista, que conseguimerecer após meses de treinamento, já que a escala de voo era apertada enem sempre se conseguia voar todos os dias ou semanas.
Todavia, a minha conquista do Brevê C, que previa um voo com ganho dealtitude e sustentado por certo período, não foi tão tranquila. Naquela época oAeroclube de Bauru tinha recebido do Departamento de Aviação Civil umrebocador, um biplano Stinson – equipado com gancho de reboque deplanadores.
O Stinson era antigo e fabricado nos Estados Unidos. Era dotado de ummotor a pistão radial e hélice metálica de passo fixo. Aprovado paraacrobacias, tivera muito sucesso no mundo devido às suas característicasseguras de voo, além de facilidade para pilotar.
Com a chegada do Stinson, Kurt imediatamente instalou o gancho de reboquee, a partir de então, podia-se fazer voos com altitudes de partida para osplanadores muito maiores do que aquelas permitidas pelo velho guincho doKurt, instalado no Fordinho. O problema era o custo – a hora de voo era carae o dinheiro, curto. Toda a gasolina queimada pelos aviões, especialmentefabricada para a aviação, era importada. Novamente os Estados Unidos emcena!!!
No dia previsto para disputar o Brevê C, decolei puxado pelo Stinson em umatarde carregada de nuvens “cumulus”, de desenvolvimento vertical, eprometedoras de muitas térmicas. Estas térmicas são bolhas de ar quente que,subindo no ar mais frio da atmosfera, permitem carregar os planadoresalgumas vezes para significativas altitudes. Tracionado pelo Stinson subi até600 metros, que era a altura prevista para largar o avião-rebocador eprosseguir em voo livre.
Realmente as nuvens estavam cumprindo o prometido, a sustentação era boae consegui ganhar altura, subindo a mais de 3.000 metros sobre o campo. Amarca do ganho de altitude estava superada – por aquele requisito já tinha oBrevê C no bolso; estava feliz mesmo. Faltava voar pelo menos, creio, maisuma hora.
28
O dia estava realmente magnífico. As nuvens, formando seus desenhosestranhos, apresentavam diferentes tonalidades refletindo a luz do sol forte.Meu planador, um GRUNAU Baby de fabricação alemã, era relativamentelento, e o silêncio envolvia-me, somente quebrado pelo chiado Cadete do Arno para-brisas.
Embaixo via a terra, ora vermelha, ora verde – com a vegetação já escura dofinal do outono. Sentia a tranquilidade como uma dádiva e olhava tudo aminha volta, sentindo-me como pertencente àquele meio. O ar era meu e alieu deveria viver.
Após quase três horas no ar, já eufórico por ter conquistado o desejado BrevêC, tinha atingido uma marca muito maior do que há uma hora requerida –estava realmente cansado. Começava a sentir uma acentuada dor nas costas,comprimido que estava ao incômodo paraquedas. Era tempo de descer,mesmo porque a atividade das térmicas já estava bem mais reduzida, emfunção da queda do sol no horizonte; já não era tão fácil manter altura. Adescida lenta foi agradável. À
medida que descia, era possível ouvir o som das buzinas dos automóveis e olatido dos cães. O dia continuava lindo e os raios do sol tornavam-sealaranjados, com a aproximação do final do dia. A visibilidade ia dehorizonte a horizonte. A sensação de tranquilidade não me abandonava. Valiaa pena voar, quase com o mesmo silêncio dos pássaros.
No entanto, exagerei o otimismo; com tantas térmicas favoráveis não cuideicorretamente da distância da pista. Olhei para o sol, já baixo no horizonte; asnuvens tinham perdido os seus contornos vivos e começavam a se achatar. Asustentação caía com rapidez e subitamente me surpreendi, quando constateique estava longe demais do campo de pouso, provavelmente sem altura
suficiente para alcançá-lo. Procurei a minha volta uma nuvem que pudesseme ajudar, sem resultados. Com crescente preocupação voava para pousar,numa real torcida para conseguir atingir a pista. No entanto o campo depouso parecia ficar mais e mais inacessível. A sensação era invertida; aoinvés de o planador descer, parecia que a pista subia. Cedo percebi que nãochegaria. A expressão que me veio à cabeça foi a mais simples: “que merda”!
Circulei os olhos em volta, buscando uma alternativa. Estava sobre a cidade etinha o vento vindo do sul, frio e contra o meu sentido de voo, o quecomplicava mais a situação. Não vi outra saída. Teria que pousar numa árealivre, que encontrei no meu desesperado caminho para a pista, agoraabsolutamente fora do meu alcance. Meu local de pouso estava na frente deuma engarrafadora de Coca-Cola, ao sul da cidade. Suas dimensões erampequenas para uma aterrissagem segura, mas não tinha jeito, o tempo seescoava e uma decisão teria que ser tomada. Em poucos minutos o planadorestaria no solo. A ironia era que eu estava a apenas um quilômetro, em linhareta, da pista. Enfim, para reclamar não era mais a hora.
29
Procurei circular e aproximar-me o mais baixo possível por sobre a copa dasárvores e alguns segundos depois a roda central do GRUNAU, sob afuselagem, sobressaindo alguns centímetros do esqui, tocou no solo duro.Comecei a frear com cuidado e, meu Deus, um susto! Havia vacas pastandoexatamente na direção que desejava seguir e reduzindo o espaço quenecessitava para amortecer a velocidade. Fui me aproximando com rapidezdas vacas que, tranquilamente, sem saber do meu pavor, continuavam quietase ruminando. No último instante não tive outra coisa a fazer senão comandarum cavalo-de-pau, isto é, uma guinada brusca para a esquerda, fazendo comque o planador parasse abruptamente, no meio da poeira.
Passou tempo antes que as pernas retornassem à condição de sustentar meucorpo. O pessoal do Aeroclube, meus companheiros, em breve chegaram aoFordinho, dirigido pelo próprio Kurt, visivelmente agastado.
“Sua burra!” , disse-me ele, no seu consistente sotaque alemão, no qual nãovalia a concordância gramatical.
“Agorra focê tem que carregar este porra de folta” .
E se foi, deixando-nos com o problema de arrastar o planador pela estrada atéo aeroclube. Era noite quando cheguei em casa, atrasado para o meu encontrocom a minha namorada, Therezinha, que não aceitava nada bem minhasaventuras aeronáuticas. Enfim, explicações foram dadas e não aceitas.
De algum modo o Kurt me perdoou, pois ganhei o sonhado Brevê C. Agorapoderia voar livre e procurar ampliar minha experiência. A limitação eraarranjar dinheiro para o custo do avião-rebocador, mas esta é outra história.
O Sonho Impossível da Engenharia Aeronáutica
Nossa vontade de voar, de fabricar aviões, tudo se confundia. Líamos o quecaía em nossas mãos, desde que abordasse aeronáutica. Numa tarde chega oZico tendo nas mãos um exemplar da revista aeronáutica norte-americanaFLYING e chamou-me a atenção para uma publicidade do CAL-AEROTECHNICAL INSTITUTE, de Burbank (Califórnia, Estados Unidos),oferecendo oportunidade para jovens estudarem engenharia aeronáutica.
Nossa admiração pelos Estados Unidos crescia à medida que víamos asnovidades que chegavam, mostrando sempre criatividade e qualidade deprodução. Tudo era de fabricação americana, as máquinas, as ferramentas, acola, as telas dos revestimentos, enfim, aquele país era a Meca dos produtosaeronáuticos. Os aviões que voavam na guerra, no lado dos Aliados, eram emsua maioria projetados e fabricados pelos americanos. As revistas sempredestacavam notícias sobre as técnicas desenvolvidas para aviação. Quandovimos o anúncio da escola, o pensamento direto foi: se quisermos serengenheiros aeronáuticos temos 30
de arranjar um jeito de ir para lá. Ponto final! Não perdemos tempo.Preparamos uma carta, selamos o envelope e, na corrida, a colocamos noCorreio, já ansiosos pela resposta.
É claro que, com a vida que levávamos em Bauru, ser engenheiro era o nossosonho. Mas como? Dinheiro, simplesmente nossos pais não o tinham. Nãohavia escolas superiores em nossa cidade; estudar em São Paulo? De queforma? E, mais, ao que sabíamos não havia curso de engenharia aeronáutica
no Brasil. Os engenheiros aeronáuticos, sobre os quais raramente víamos algona imprensa, eram militares e formados na França ou nos Estados Unidos.Tudo isto nos levou a escrever para o instituto americano.
Em poucas semanas chegou a resposta, que foi convenientemente“devorada”.
Sentados ambos no costumeiro banco da Avenida Rodrigues Alves – era onosso
“escritório” -, abrimos cuidadosamente o envelope que, ao melhor estilo dosamericanos, era grande e cheio de folhetos coloridos, aumentando ainda maisa nossa ansiedade, que durou pouco. O curso era pago e o preço alto, mais demil dólares por ano, além das despesas de estada. Céus! Não tínhamos amenor ideia de como conseguir tal fortuna.
Guardamos, por meses e com muito carinho, o precioso envelope. Olhávamospara ele com frequência, mas como dois moleques do interior, nada sabendosobre cursos universitários, poderiam encontrar alguma alternativa? Nadafeito e, embora sempre esperançosos de que algo acontecesse, o remédio erafazer os deveres de casa – passados pelos professores – e, no dia seguinte,logo às sete horas da manhã, sair correndo de casa para subir a rua e cobrir osdois quilômetros que separavam nossas casas do Ginásio do Estado. Fiztantas vezes o percurso que acabei por calcular em quantos segundos eracapaz de percorrer cada quadra, determinando o tempo máximo que poderiaficar na cama pela manhã. Esses cálculos demonstraram ser úteisprincipalmente nos frios dias de inverno quando, ainda noite e antes donascimento do sol, saía correndo de casa para enfrentar as aulas de ginástica,dadas pelo Prof. Basileu. Já naquele tempo fazia somente os exercíciosobrigatórios. Meus futuros colegas da Escola de Aeronáutica dos Afonsos, noRio de Janeiro, quando com olhar de mofa miravam meus desajeitadosmovimentos nos exercícios físicos, poderiam ter encontrado ali a origem detudo.
Diziam eles que eu não era realmente vocacionado para qualquer esporte,mesmo andar.
A alternativa Militar
Em outubro, daquele 1946, surgiu a oportunidade. Lendo por acaso umpequeno anúncio no jornal vimos que a Força Aérea Brasileira (FAB) estavaabrindo concurso nacional para a admissão ao curso de Oficiais Aviadores,na Escola de Aeronáutica.
31
O curso era a maneira regular que a Força Aérea Brasileira utilizava parapreparar seus oficiais e formar pilotos militares. Era uma alternativa,pensamos de imediato.
E provavelmente a única, pois como militares de carreira teríamos bolsaintegral, desde que preenchêssemos os requisitos estabelecidos. Voaríamos osaviões que já conhecíamos através das discussões sobre os equipamentos decombate da Segunda Guerra. E, finalmente, teríamos pela frente uma carreira,dentro do campo que parecia ser nossa inexorável vocação – o voo.
O prazo de inscrição para participar do concurso de admissão encerrava-seem 31 de outubro. Com rapidez escrevemos para as autoridades, pedindo asinstruções, que nos chegaram às mãos com presteza e, lembro-me, numasexta-feira. Uma série de documentos eram exigidos, entre os quais umaautorização dos pais – éramos menores de idade. Do lado do Zico, não houveproblemas, mas, do meu lado, minha mãe não aceitou e o veto foi mantido.
“Meu filho não será aviador. E ponto final!”, disse ela.
Foi à sexta-feira – o dia do “não”.
Mas, a surpresa estava por vir. Sem sabermos o porquê, as autoridadesdilataram o prazo de inscrição para o concurso de admissão para 30 denovembro, dando-me mais tempo para tentar convencer meus pais.Finalmente, consegui a relutante concordância dada pela minha mãe. Com amaior velocidade que pude, pus-me a correr atrás dos papéis que, prontos,deram entrada em tempo na unidade da Região Militar que tinha sede emBauru.
As tarefas seguintes eram estudar muito, completar o ano letivo do Ginásio,obter a aprovação no 1º científico e ficar preparado para o exame de
admissão, que seria realizado em janeiro de 1947.
Na véspera da data do grande dia, tomamos o trem para São Paulo, excitadose cheios de entusiasmo. Durante a viagem fomos chamando atenção peloruído e pelo número de livros que espalhamos a nossa volta. Nunca meesqueço daquele exame. Foi um vexame. Não estava efetivamente preparado.Enrolei-me todo na busca de soluções para as questões propostas e fiz umbom número de erros, fruto da pouca e rápida preparação. Fomos os dois,Zico e eu, reprovados!
Regressamos a Bauru, determinados a estudar mais e aplicarmo-nosprofundamente nas matérias específicas para obter um bom resultado na novatentativa, no início de 1948. E assim foi que, em 1947, dividíamos o nossotempo entre o aeromodelismo e os planadores, o Ginásio do Estado e osestudos para passar no concurso para a Escola de Aeronáutica. Os nossosesforços centravam-se nas matérias básicas requeridas, especificamenteMatemática e Português.
A motivação é algo extraordinário. Creio que naquele ano enfrentamos umdos mais importantes pontos de inflexão de nossas vidas, embora fôssemostão jovens.
32
O estudo era uma constante e não falávamos de outra coisa. Estávamosdeterminados a vencer e conseguir a aprovação. As nossas conversas, nosbancos da Avenida Rodrigues Alves – que anteriormente eram o palco paraas discussões sobre as notícias e os combates aéreos da guerra –, agora secentravam em problemas de Aritmética, Álgebra, Geometria e Português,matérias que seriam avaliadas na primeira fase dos exames de admissão paraa Escola de Aeronáutica.
Naquele ano, entrou para nosso grupo o “Consultor Militar” Edísio Gomes deMatos, sobrinho do Sargento Sobreira, Comandante em Bauru do Tiro deGuerra.
Edísio tinha vindo de Fortaleza, com seu irmão Edmir, para morar com o tio.Eles tinham perdido os pais e cedo entusiasmaram-se por viver em Bauru,
tornando-se nossos grandes amigos. Edísio merecia o título de ConsultorMilitar, pois conhecendo mais sobre a carreira cobria nossas clarasdeficiências a respeito do assunto. Prontamente interessou-se pelo possívelingresso na Escola de Aeronáutica e propôs a ideia para o tio, SargentoSobreira, que, entusiasmado por sua profissão, prontamente concordou.Então, enriquecidos com a presença influente e esfuziante do Edísio,passamos a estudar para o concurso tentando estabelecer metas e técnicasmais eficientes para cobrir as matérias previstas, em particular a matemática,cujo programa parecia o mais complicado. Conseguimos bons livros, quedevoramos, e passamos a fazer os exercícios de resolução de problemas deAritmética ou Álgebra, mesmo caminhando nas ruas. Sentíamos que, àmedida que o tempo se escoava, estávamos mais e mais capazes de resolverquestões, mesmo mentalmente.
Finalmente, chegou o dia do concurso, em 5 de janeiro de 1948. Como noano anterior viajamos para São Paulo e duas semanas depois chegou a boanotícia.
Tínhamos sido aprovados no exame de seleção, a primeira etapa, e recebemosuma correspondência informando que estávamos convocados para ir ao Riode Janeiro para nos apresentarmos para a segunda e última seleção, esta a serealizar no Campo dos Afonsos, em Marechal Hermes.
Embora a segunda fase dos exames estivesse marcada para dias depois, aansiedade obrigou-nos a viajar com antecedência, o que mais tardecompreendemos como muito temerário, apesar de tudo ter saído bem. Edísio,o
“Consultor Militar”, foi o mais insistente, assegurando que o nosso destinodeveria ser o Rio de Janeiro e que era na Escola de Aeronáutica quedeveríamos fazer a última e definitiva fase do concurso. Embora as famílias eas namoradas manifestassem preocupações, decidimos ir.
Estávamos preocupados e sabíamos que, de São Paulo para frente, oproblema seria outro. Não conhecíamos o Rio, as comunicações telefônicaseram quase inexistentes, nem nós, quase crianças, nada sabíamos sobrereservas de hotel. Era um caminho para o desconhecido. Realmente coisa dejovens sem experiência. A 33
disposição que temos na juventude é realmente surpreendente; sequer passoupela cabeça que não estávamos ainda chamados para a apresentação e nãosabíamos como nos alojar na cidade do Rio de Janeiro. Tudo com dinheirobastante curto!
Partimos de Bauru, os três, numa sexta-feira, 30 de janeiro de 1948, no tremda Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que, na época, era consideradauma empresa modelo – operava muito bem, observando os horários e com opessoal bem preparado e cortês; o vagão era confortável e saímos no horáriopontualmente.
A segunda etapa era para o Rio. Compramos as passagens de segunda classena Central do Brasil para viajar na mesma noite. Depois de uma noite naquelevagão, até mal cheiroso, mais do que cansados, já eram 9 horas da manhã dosábado quando Edísio, Zico e eu conseguimos chegar ao Rio.
Olhando em volta, saímos pela porta da estação e perguntamos a umtranseunte, ao estilo do interior do Estado de São Paulo, “Aonde é o centro dacidade?”. O homem não entendeu e deu de ombros; não sabíamos que jáestávamos na área central da cidade. Foi uma falta de observação, pois onúmero de ônibus e de automóveis deveria ser suficiente para sabermos quenão estávamos em nenhum outro lugar.
Com pouco dinheiro, precisávamos encontrar algo barato; atravessamos a ruae acabamos por encontrar um pequeno hotel, logo atrás do Ministério daGuerra, cuja diária cabia nos nossos bolsos. Durante a noite descobrimos quea diária incluía pulgas, talvez como brinde. A expectativa era seguirmos, nodia seguinte, para Marechal Hermes, onde sabíamos estar a Escola deAeronáutica. De qualquer forma teríamos um domingo inteiro para queimar.
Lembro-me muito bem do nosso primeiro dia na cidade, passeando de bondeelétrico e fazendo perguntas ao condutor, o qual com muita graça foiapontando aspectos do caminho, mencionando nomes como Flamengo,Botafogo, Copacabana, todos familiares e sobre os quais sempre ouvíamosfalar em Bauru.
No dia seguinte resolvemos usar a opção do trem suburbano, partindo daCentral do Brasil, para chegar à Escola de Aeronáutica e desembarcar na
estação de Marechal Hermes. Para chegarmos à escola, tomamos um velho ecomprido ônibus, todo torto; ele estava fletido e era difícil compreender comoos para-choques dianteiro e traseiro não tocavam no solo. O cheiro do dieselera quase insuportável, aliado a um calor típico do Rio, em pleno verão, comtemperatura e umidade altas.
À medida que nos aproximávamos da Escola aumentavam nossa ansiedade enervosismo. Tínhamos imaginado as instalações e como seriam elas. OCampo dos Afonsos e o contorno das construções começaram a surgir nohorizonte e nossas 34
expectativas cresceram. Já estavam no máximo quando conseguimos falarcom o Oficial de Dia que, surpreendentemente, e com grande alívio paraaqueles matutos, foi bastante ágil e mandou-nos para um prédio apelidadocom o nome diferente de
“Pombal”, dizendo que lá poderíamos ficar; realmente a arquitetura daconstrução
– que observava um pouco o estilo colonial – lembrava um real pombal, comuma torre de formato quadrado com múltiplas pequenas janelas, tudo pintadode branco. Uma espécie de alojamento estava instalado num salão, logo apósa porta larga, com muitos beliches duplos que, felizmente, não estavam todosocupados.
Encontramos outros candidatos, vindos de vários Estados, cada qual comsuas histórias pessoais vividas para chegar ao Rio. Lembro-me de muitos,entre os quais o Lélio Viana Lobo (mais tarde seria Ministro da Aeronáutica),vindo de Goiás.
Ganhamos os títulos de “Laranjeiras”, nome carioca para quem não tinhafamília nas proximidades e era forçado a morar na Escola. As acomodaçõesdo Pombal eram as típicas de quartel; dormíamos em catres, sempre com osjanelões abertos
– as noites eram acentuadamente quentes –, todos recebendo dose suficientede pernilongos, alguns de grandes dimensões físicas e bem barulhentos.
Nervosos e competindo com mais de dois mil candidatos, fizemos asprimeiras provas e estávamos felizes. Nós três comentando as soluções dasdiferentes questões vimos que seríamos aprovados. Mas a surpresa! Nãosabemos por que, ainda antes da publicação dos resultados, um jornalpublicou que fraudes teriam sido detectadas na realização do concurso.Constava que alguns candidatos tiveram conhecimento prévio das questõesdas provas. O resultado foi frustrante. As provas para a admissão na Escolaforam canceladas!
A consequência seria esperar pelo que iria acontecer. O que fizemos foi ficarlá mesmo, no Campo dos Afonsos. Achamos que regressar a Bauru, além decustoso, obrigar-nos-ia a enfrentar os colegas de novo, com montes deexplicações. Não, dizíamos a nós mesmos. Ninguém vai acreditar e dirão que,mais uma vez, fomos reprovados.
Não encontramos problemas para obter autorização para continuarmos a nosalojar no Pombal, onde passamos quase três meses, à espera da fase principaldo concurso, o qual, com muita tristeza para Zico e eu, cortou o Edísio, noúltimo exame, o de Português. Foi um choque, pois ele, Edísio, para nós era oliterato do grupo. Um desconhecido professor, que corrigiu sua prova,reprovou-o por uma suposta figura gramatical que chamou de “periodismo”.Não é que o nosso literato tinha decidido fazer sua composição escrita numúnico parágrafo? Não houve jeito; embora tendo recorrido às autoridades, oresultado foi mantido e o Edísio partiu para outro caminho, tornando-se nofuturo advogado, jornalista e escritor, com sucesso. Coisas da vida!
35
Os Cadetes do Ar
Após vencidas as fases do concurso, dos mais de dois mil candidatosinscritos, um grupo de 169 aprovados foi incorporado em 28 de abril de 1948e, pela primeira vez, vimo-nos bastante desengonçados dentro de umuniforme de Cadete do Ar, matriculados no chamado Curso Prévio,programado para durar um ano. Foi um período muito árduo, com a maiorparte do tempo tomada pelo treinamento militar, com muitos exercícios demarcha que, confessamos – para quem somente pensava em aviação –, nãoera extamente o que queríamos. No ano seguinte, caso aprovados, seríamos
definitivamente incorporados ao Corpo de Cadetes. Foi o que ocorreu! Tendoà frente, como primeiro colocado, o Lélio Viana Lobo – nosso futuroMinistro, 46 anos mais tarde –, transformamo-nos realmente em Cadetes doAr no início do ano letivo de 1949.
Começamos a consolidar amizades, nem todas fáceis, pois nós, do interior deSão Paulo, ainda não tínhamos nos habituado ao estilo da vida carioca.Ligamo-nos muito ao Sócrates da Costa Monteiro, morador de Santa Tereza eque futuramente também seria Ministro da Aeronáutica. Não sabíamos muitoa respeito do futuro a não ser que tínhamos abraçado uma carreira militar – eque estaríamos sempre envolvidos com aviões, o que era muito bom. O fatode que muitos dos nossos colegas chegariam a ser oficiais-generais, na épocaem que sentávamos nos bancos da Escola de Aeronáutica, absolutamente nãocontava. Vivíamos o presente com a crescente expectativa de que, em breve,começaria o treinamento de voo.
Foi assim que, ao final do Curso Prévio, e com algumas defecções, a turma sereduziu, recebeu alunos de outras áreas e fomos matriculados no cursoregular da escola. Tínhamos então pela frente mais três anos até chegarmosao oficialato.
No ano seguinte começaram os voos, inicialmente utilizando o Fairchild T-19, de fabricação norte-americana, logo substituído pelos exemplaresproduzidos pela fábrica do Galeão, sob licença da própria Fairchild.
Na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, havia um grupo de pioneiros, logono início dos anos 40 – ainda sob a jurisdição da Marinha Brasileira –, lançoua fabricação dos aviões Stieglitz 44-J e mais tarde dos Focke Wulf 58-B, estedestinado ao transporte de passageiros. Todavia, em 1939, com a eclosão daguerra, os planos tiveram de ser modificados, pois a Alemanha não maispodia fornecer as peças e os componentes complementares destinados àprodução brasileira.
A consequência foi negociar com os americanos, quando surgiu a oferta daFairchild Company para produzir o seu M-62 (designação militar PT-19 –sigla de Primary Trainer). O Governo Federal concedeu um crédito para afabricação de 50
unidades que começaram a chegar à Escola de Aeronáutica, em 1949, ano emque nossa turma de Cadetes começou a primeira fase de seus voos.
36
Zico e eu gostávamos de examinar os exemplares do Fairchild, fabricados aliperto dos Afonsos, na Ilha do Governador. Encomendas subsequentespermitiram atingir 232 exemplares produzidos, a partir de ferramental,gabaritos e alguns componentes trazidos dos Estados Unidos. Bem cedocresceu em nossas cabeças o desejo de visitar a linha de fabricação.Estávamos impressionados pela qualidade e pelo acabamento conseguidos. Odesejo de visita nunca pôde ser concretizado.
Afinal, qual seria a justificativa que apresentaríamos aos nossosComandantes?
Os aviões produzidos no Brasil receberam a designação simplificada de T-19e pareciam melhores do que os exemplares americanos em que voávamos atéentão.
É claro, descartando que se tratava de aparelhos novos, notávamos que amão-de-obra de fabricação parecia mais cuidada e, em voo – se bem quenossa aptidão para julgá-los profissionalmente fosse precária –,comportavam-se bem.
Discutimos muito sobre o assunto e perguntávamo-nos sobre qual poderia sera modalidade de negociação que permitia fabricar um produto estrangeiro noBrasil.
Zico, perspicaz como sempre, levantou logo que o projeto não era nosso e,com um pouco de humor, disse que era um avião copiado. Julgamento muitoduro, pelo que pudemos aprender mais tarde.
Nossa admiração era grande pelo que os Estados Unidos tinham conseguidorealizar na Segunda Guerra Mundial, terminada três anos antes. Através danossa participação no Clube de Aeromodelos de Bauru, e da convivência noAeroclube, tínhamos nos habituado a discutir sobre os enormes avançostécnicos obtidos pelos americanos no campo da aeronáutica. Conhecíamos
praticamente todos os modelos de aviões militares que tinham entrado emcombate, no lado dos Aliados e dos países do Eixo. Mesmo no nosso curtohorizonte do Aeroclube de Bauru sentíamos a influência da indústria norte-americana: as matérias-primas, os componentes, os equipamentos, todos eramde fabricação dos Estados Unidos. Era um caso de absoluta liderançaindustrial.
O mesmo acontecia então no Campo dos Afonsos. Os T-19 que vinham doGaleão estavam equipados com tudo de procedência norte-americana,inclusive aquilo que não podíamos ver do “lado de fora” dos aviões:instrumentos, componentes e, claro, também as matérias-primas. Do mesmomodo ficamos muito surpreendidos por notar que os processos de fabricaçãoeram os mesmos que aplicávamos em Bauru, nos aviões e na fabricação doplanador Flamingo.
Enfim, tudo parecia vir dos Estados Unidos. E nós nos perguntávamos: e oBrasil?
Seria possível darmos um passo para frente? Isto aguçava a nossa curiosidadee continuávamos a nos perguntar que espécie de negociação teria sidoconseguida entre a fábrica do Galeão e o dono do projeto americano, aFairchild. Como, por outro lado, os americanos conseguiam montar uma tãosólida base industrial?
37
Algumas vezes aproximávamo-nos dos nossos instrutores, todos os tenentesaviadores, muitos dos quais formados recentemente, mas, interessados emoutros assuntos, não tinham respostas para nossas perguntas. Não havia muitagente ligada à fabricação dos aviões. Todos se preocupavam com o aviãopronto, se era bom ou ruim, se a performance era adequada, e assim pordiante. Discutia-se o desempenho dos equipamentos e como elesfuncionavam. Ninguém se preocupava em como eram concebidos,projetados, desenvolvidos e fabricados.
Por brincadeira identificávamos os “pilotos de alojamento”. Eles passavamhoras a discutir manobras e acrobacias que se poderiam fazer em voo. Poucaou nenhuma atenção era dada para as limitações estruturais dos aparelhos. Os
nossos colegas inventores de novas manobras eram criativos e cada umprocurava superar o outro, mesmo que fosse às intermináveis conversas. Noentanto, sobre o avião em si, as geniais soluções técnicas conseguidas parasuas estruturas ou sistemas, isto não atraía a atenção de ninguém, exceto asdo Zico e minhas.
No entanto, nós, a par de nossas concessões aos sonhos de fabricação deaviões, também nos preocupávamos com as dificuldades que tínhamos pelafrente para vencer e conseguir a adaptação aos métodos e requisitos militares,buscando fórmulas para satisfazer as metas colocadas. Afinal, estávamos emum curso que era pesado, medido sob todos os aspectos. Cada fase doprograma teórico e dos treinamentos práticos era definitiva. A falha emqualquer uma delas era motivo para o desligamento, sempre temido, poissignificava interrupção definitiva do curso.
Aprendemos bem cedo que, entre os desafios sérios a enfrentar, o voo “solo”
era um dos importantes. Ele consistia em conseguir independência e pilotarum avião sozinho pela primeira vez. Para Zico e eu o problema não eragrande, em face de nossa experiência prévia no Aeroclube de Bauru; contudo,tínhamos de reconhecer que o treinamento era diferente daquele quetivéramos com os planadores do Kurt. Coincidentemente, o nosso primeiroinstrutor de voo, nas primeiras fases com o Fairchild T-19, foi o TenenteAdemar Lyrio. Era curioso observar que as coincidências prevaleciam otempo todo, embora aparentemente não houvesse razões para isso. Zico e eutínhamos sido designados para ser treinados pelo mesmo instrutor.
Infelizmente, devido à falta de oficiais aviadores nos quadros da escola, oTen.
Lyrio foi sobrecarregado, recebendo um número muito alto de alunos. Oresultado foi que o ritmo do treinamento não estava sofrendo os progressosesperados e, logicamente, começamos a nos preocupar, em particular pelonervosismo e falta paciência do Lyrio, cujos gritos em voo – por um tuboacústico utilizado para a comunicação instrutor-aluno (os T-19 nãodispunham de sistema elétrico) – não ajudavam em nada o progresso dos seusalunos. Contudo, tivemos sorte, pois, 38
pouco tempo depois, chegou à Escola de Aeronáutica, transferido de Natal, oTen.
José Esteves Costa. Isto pôde aliviar a carga sobre o Ten. Lyrio, e nós, outravez a coincidência, fomos designados para o novo instrutor, que numareviravolta conseguiu aprovar todos os seus seis alunos, menos um.
A fase de pré-solo foi nervosa, com muita instrução teórica. Creio que, detanto ser martelado pelos monitores, o T-19 foi o avião que mais conheci emdetalhes. É
bem verdade que era um aparelho muito simples, não dispondo de nenhumsistema mais complexo, não dispunha nem de um sistema deradiocomunicação.
Procuramos aprender, tão profundamente quanto possível, a estrutura doavião, seus sistemas e equipamentos, que, apesar de despido de maiorescomplexidades, eram bem concebidos e, surpreendentemente, lógicos.
Zico e eu ficávamos por vezes debruçados sobre um componente ou umsistema e surpreendíamo-nos com a engenhosidade e a inteligência com quetinham sido concebidos. Esses eram momentos de entusiasmo e,contraditoriamente, de pouco ânimo. Será que um dia no Brasil seria possívelfazer o mesmo? O Fairchild era um avião de treinamento primário. Seusequipamentos eram mínimos, mas por trás de cada solução de projetonotavam-se perspicácia e inteligência criativa.
O motor do T-19 era um RANGER (claro, de fabricação norte-americana)designado L-440. Ele dispunha de seis cilindros, montados invertidos (ascabeças dos cilindros eram montada voltadas para baixo) em linha ao longodo eixo de acionamento da hélice. A partida do motor era mecânica, devido àausência do sistema elétrico, através de uma manivela acionada manualmentedo lado esquerdo externo do avião. O piloto, quando pronto para ligar omotor, selecionava o magneto esquerdo (dispositivo mecânico que, giradopelo motor, produz energia elétrica de alta tensão capaz de produzir igniçãoda vela no interior do cilindro do motor). Neste instante o piloto autorizava omecânico a girar a manivela, o que era feito com certo esforço, pois o sistemade engrenagens tornava a operação pesada. O motor era girado até que
“pegasse”. Um engenhoso dispositivo, consistindo de uma mola (quefuncionava como capacitor mecânico), armazenava energia rotativa e, derepente, girava o magneto esquerdo com maior velocidade, garantindocentelhas mais potentes. Isto gerava maior tensão elétrica para as velas nointerior dos cilindros, facilitando o início da combustão, dando partida para ofuncionamento do motor. Uma explicação dessa maneira pode não ser muitoclara, mas sem dúvida a solução técnica encontrada pelos projetistas dosistema era brilhantemente simples e eficaz. Isto nos maravilhava.
39
Foto 7 Fairchild T-19 produzido pela fábrica do Galeão, no Rio de Janeiro.
O que nos impressionava é que aquele avião simples, embora não gozando decotação alta entre os pilotos, apresentava soluções para o seu funcionamentocomo máquina aérea que, nós, desejosos de projetar e fabricar aviõestínhamos dúvidas se um dia conseguiríamos fazer algo semelhante.
A instrução de voo começou do zero. Pacientemente os instrutores nosdemonstravam ações simples, como o controle do avião no solo, as primeiras
corridas na pista. Nos estágios iniciais da instrução voávamos na cabinetraseira, com o instrutor de voo ocupando a dianteira. Consegui vencer asetapas preliminares e, com pouco mais de 8 horas de instrução em voo, Ten.Costa apresentou-me para o chefe do estágio de voo como pronto para efetuarsozinho o primeiro “solo”. Antes de ser autorizado a voar sozinho o Cap.Zedir – Chefe dos Instrutores – deveria voar comigo e dar seu veredicto.
Fiquei nervoso pelo “voo de cheque”. Nunca tinha voado com o Chefe doEstágio, que hierarquicamente era superior aos tenentes instrutores. O voocom ele foi tranquilo e apenas num momento reduziu o motor, e pelo tuboacústico falou-me: “Você acaba de ter o motor parado. O que faria numasituação deste tipo?”. Fiquei tranquilo. O T-19 era agora um planador. Volteià experiência de Bauru e deveria somente encontrar uma área relativamentelimpa para pousar.
Tinha conseguido experiência em muitos pousos, inclusive aquele em frente àengarrafadora da Coca-Cola.
40
Foi fácil. Estávamos sobre o campo de treinamento do Exército, em Gericinó.Em poucos minutos de voo planado consegui alinhar em uma direção quepermitiria a aterrissagem com relativa segurança e, ainda, contra o vento –uma coluna de fumaça indicava o sentido. Satisfeito o Cap. Zedir pediu quevoltássemos para os Afonsos e, após o pouso, desceu do Fairchild e disse-me:“Vá em frente, faça o voo
‘solo’!” A adrenalina tomou conta do meu corpo.
Iniciei o táxi em direção à pista. Com todo o cuidado coloquei o aviãoalinhado para a decolagem. A torre de controle deu-me a luz verde. Acelereio motor e, à medida que o avião ganhava velocidade, crescia a minha alegria.Estava vencendo uma etapa importante. Uma quantidade de colegas foramdesligados da Escola de Aeronáutica por não terem conseguido condições derealizar o que eu estava fazendo agora. Parecia simples. Mas o primeiro voosozinho dá ao piloto uma sensação diferente de liberdade que, muitoprovavelmente, não ocorre em muitas outras atividades profissionais.
Mais tarde, consultando minha caderneta de voo, descobri que era o dia 19 deagosto de 1949 e o número daquele T-19 era 0508, fabricado no Galeão, oqual se encontra hoje exposto no Museu de Aeronáutica da Fundação SantosDumont, de São Paulo. Este foi um dos muitos acasos do destino. Fiz meuvoo “solo” num produto feito no Brasil, um Fairchild T-19.
Foi um voo curto, mas a cada momento sabia que estava vencendo, um a um,os obstáculos na direção do sonho de menino: a fabricação de aviões noBrasil.
Naqueles instantes de inesquecível emoção, não poderia sequer imaginar queexatamente 20 anos mais tarde, em 19 de agosto de 1969, estaria conseguindomaterializar a criação de uma empresa brasileira de construção aeronáutica –a EMBRAER. Isto foi caracterizado por um Decreto-Lei assinado peloPresidente da República, criando a empresa. Não poderia mesmo saber, nemhavia razões para isso, e seria impossível imaginar que estava vivendo talveza etapa mais importante para a concretização do sonho de criança. Mais tarde,junto com uma equipe extraordinária, estaríamos fabricando aviões no Brasil.
Vim para o pouso, que ocorreu sem incidentes. Mal tinha acabado de cortar omotor e fui literalmente retirado da cabine do avião, para o tradicionalbatismo. A cena após cada primeiro voo era sempre alegre e de correrias,com nossos colegas tratando de nos alcançar para o banho no chafariz e paraa surra, rica em pancadas e algumas vezes rudes, cujas marcas no corpopoderiam ficar vivas por alguns dias.
Somente me salvei do banho de óleo, por falta de matéria-prima e porque jáestava passando do horário de almoço – sempre rigidamente mantido emorganizações militares.
Quanto ao resto o ritual foi completo. Embora tímido, no meio dos colegas doRio, sofri com compreensão as vergastadas fortes, sobretudo as do FlavioPacheco 41
Kaufmann, colega de turma e temido pelo seu porte de homem formado eforte.
Na realidade e no fundo senti aquela surra como uma primeira manifestação
de reconhecimento que recebia de minha turma. Tendo vindo do interior deSão Paulo, ainda não conseguia acompanhar os jargões e as conversas dosmeus colegas cariocas que, de longe, dominavam e lideravam as iniciativas.Creio que era considerado por eles como um “matuto”, e hoje, na perspectivado tempo passado, compreendo que eles tinham razão. Mesmo machucadopelas vigorosas pancadas recebidas sentia então que começava a fazer partede um grupo, do qual jamais me esqueceria. Ainda agora, após mais dequatro décadas, sinto-me entre eles e considero-os efetivamente amigos.
A Especialização como Piloto Militar
Nas fases do voo, posteriores ao “solo”, o papo comum continuava a ser odas manobras que progressivamente íamos aprendendo e praticando.Posteriormente em cada etapa do aprendizado vinham as intermináveisconversas dos “ases de alojamento”. Era sempre o mesmo em cada noite,após as horas de estudo; cada um procurava superar o companheiro, contandosuas últimas invenções aéreas conseguidas, montando com as mãos manobrascapazes de colocar os aviões nas posições mais esquisitas. Ainda bem quenão sabíamos projetar aviões. Estou seguro de que se os homens queconceberam, calcularam e desenvolveram os velhos Fairchild vissem aquelasloucuras, deixariam de responder pelo que tinham fabricado. É incrível saberque nenhum dos aviões, ao que eu saiba, tenha perdido em voo qualquerelemento ou componente da estrutura em qualquer daqueles voos malucos.
O terceiro ano do curso foi feito em 1950. Nessa fase os voos acompanhavamas aulas teóricas e marcavam o início do estágio básico, que se iniciava aindacom os Fairchild T-19, o qual progressivamente mais dominávamos, e cadavez melhor. No entanto, no segundo semestre nossa excitação aumentou.Começávamos a instrução teórica de familiarização com um novoequipamento: o NORTH
AMERICAN T-6, o sonho dos Cadetes. Dono de um motor mais potente,desenvolvia 600 HP, que, para o peso típico de operação dos T-6, permitiauma performance bem superior aos então nossos conhecidos Fairchild.Aquele era um produto bem mais complexo para os padrões da época.Dispunha de sistema elétrico e de radiocomunicação.
Na primeira partida do motor, vendo a hélice metálica, de passo variável e de
velocidade constante, girando a frente do nariz, sentia-me bem. Os setecilindros, montados de forma radial, transmitiam à cabine do piloto uma“batida” de força e de segurança. Era o meu primeiro contato com a Pratt &Whitney, fabricante 42
norte-americana de motores aeronáuticos, com a qual desenvolveria no futuroextremo e aproximado relacionamento.
O T-6, ou “N.A.”, como muitos o chamavam, enchia-nos de grande orgulho.Ele mostrava uma configuração moderna, com asas baixas, montadas sob afuselagem, e acabava por ser muito parecido com os aviões de caça quetinham feito enorme sucesso na Segunda Guerra Mundial. Meu instrutorainda continuou sendo o Ten.
José Esteves Costa; gostava dele e era ótimo como pessoa e profissional.Amigo, sereno e tranquilo, inspirava confiança e o nosso progresso com eleera rápido.
Tivemos sorte, pois o Zico também foi designado para ser seu aluno e, assim,ao lado dos nossos papos normais sobre aviação, podíamos mais facilmentetrocar ideias sobre o estágio da instrução em que estávamos e discutíamosproblemas.
Os T-6 eram bastante mais sofisticados do que os T-19, que tínhamosutilizado no estágio primário. Era um avião bonito, nos termos da época,robusto e bem construído. Contrariamente aos T-19, que tinham comoestrutura básica da fuselagem uma treliça constituída por tubos de aço erevestidas de tela, os T-6 já apresentavam uma concepção de semi-monocoque, com as cargas distribuídas por todo o revestimento metálicoexterno, moldado em alumínio.
As treliças, concebidas nos primeiros aviões que começaram a voar a partirde 1910, consagraram as grandes soluções para a construção das estruturasaeronáuticas. No entanto, embora a concepção fosse relativamente leve, oscomponentes teriam de ser revestidos, em geral com tela de algodão,reforçada por pintura externa. A partir de 1930 começou a surgir noslaboratórios e nos institutos de pesquisa uma ideia de um resistente sistemadiferente que usava o revestimento, reforçado internamente por “cavernas” e
“perfis estrudados”, tudo em alumínio de liga. A vantagem da novaconcepção era grande. Permitia, pelo menos teoricamente, fabricar grandeselementos estruturais, muito resistentes e oferecendo um volume útil internobem maior do que aqueles obtidos com as velhas treliças. A esse novoconceito de fabricação de elementos estruturais aeronáuticos chamou-se demonocoque.
Os T-6 usavam extensivamente os novos conceitos, inclusive nas asas queeram metálicas, contrariamente àquelas de madeira que equipavam osFairchild. O avião já apresentava sistemas elétricos e hidráulicosrazoavelmente sofisticados, sendo este último responsável pela retração dostrens-de-pouso e atuação dos flapes.
Novamente os sistemas internos surpreendiam pela concepção inteligente efuncional. Zico e eu não nos cansávamos de admirar tudo aquilo que nos eraensinado pelos instrutores, o que aprendíamos não somente no sentido depoder dominar e voar a máquina, mas também de entender como é que elasfuncionavam.
43
Muitas vezes, durante os longos papos de alojamento, ficávamos a pensar noscérebros das pessoas que tinham produzido tudo aquilo. Seriam pessoas comonós ou eles tinham outros pontos de partida? Como seriam as estruturasorganizacionais que os apoiavam? Quem pagava aqueles estudos e pesquisasque certamente eram necessários? Seriam eles pilotos ou teriam outros tiposde formação? Sempre nos lembrávamos de que no Brasil da época não haviaescolas de engenharia que ensinavam projeto de aviões. Às vezes,entusiasmados com o que víamos, esquecíamos as dificuldades. Porém, aoentrar no âmago das coisas, sentíamos as ameaças do desânimo.
Eram muitas as ocorrências durante a instrução de voo. Logicamente, com aquantidade de pousos e decolagens que, por vezes, colocavam vários aviõesdecolando ou pousando simultaneamente, muitas coisas podiam acontecer. Aconvivência entre os T-19 – sem sistema elétrico e, portanto, semcomunicação via rádio – e os T-6 mais velozes e modernos não era tranquilacomo se poderia desejar, embora os requisitos e regras claramenteestabelecidos tivessem sido elaborados para prever qualquer situação. Mas,
independente da vontade, acidentes e incidentes aconteciam.
Foi num desses casos que, provavelmente por falha do motor na decolagem –
quando se usava a pista 017 (proa sul), a mais curta do Campo dos Afonsos ecom os obstáculos mais perigosos na sua cabeceira –, perdemos o primeirocolega de turma, Sérgio Scharbel, pilotando um T-6. Scharbel morreuinstantaneamente com o choque do avião contra o solo, numa tentativadesesperada de retornar à pista. O
motor teria parado quando ele estava já no ar, logo após abandonar o solo.Ele tentou, mas nada pôde fazer para se salvar. Todos ficamos chocados. Nãotínhamos ainda tido a experiência de tomar café-da-manhã com uma pessoa e,na tarde, vê-
la morta. Sentimos a falta dele, de sua alegria e de sua presença constante emtodos os papos de alojamento.
44
Foto 8 North American: Treinador Básico e Avançado.
A despeito dos riscos era claro que todos adoravam voar. Era muito melhor irpara os hangares de voo do que assistir as intermináveis aulas teóricas quebuscavam cobrir todos os assuntos necessários à formação técnica, além deoutras matérias ditas sociais. Mas havia alguns que pareciam gostar de voarmais do que os outros. A eles reservamos o apelido de “fominhas”. E haviafominhas em todas as turmas.
Na nossa turma de 1948 (caracterizada pelo ano de matrícula na escola) onosso
“fominha” não era exatamente de voo. Geraldo Lopes, um bom colega,realmente era dono de um avantajado apetite, comia bastante e sempre estavano começo das filas dos self-services do rancho (nosso restaurante).Brincava-se que ele vivia com fome, tanto que, quando pousava, tocava como avião bem no início da pista para “comer” a pista toda.
Muitos, entre outros Cadetes, mesmo de outras classes, já nos conheciam,Zico e eu, e chamavam-nos de “Bauru’s”, numa alusão à cidade de ondevínhamos. Nós também não nos esquecíamos da terra onde começamos tudoe tínhamos saudades de casa. Para visitar Bauru havia dois problemas aresolver: um era o do dinheiro (a viagem era cara) e o outro a disponibilidadede tempo. Somente nas férias era que podíamos estar mais tempo em casa,revendo as namoradas e os 45
amigos. Zico, embora se importasse muito com as mulheres, não parecia estarinteressado em se vincular a alguma. Namoro firme não era absolutamenteseu caso; insistia que casamento não estava, pelo menos naquela época, entresuas opções. Mas era o meu. Antes de deixar Bauru, apesar de Therezinhanão estar muito entusiasmada com a ideia de se casar com um aviador,correspondíamo-nos muito, e à volta, durante cada período de férias, era umafelicidade vermo-nos de novo.
As ideias de fabricação de aviões no Brasil prosperaram. A biblioteca daEscola de Aeronáutica estava repleta de livros sobre a Aeronáutica e seudesenvolvimento
– a maioria de origem norte-americana. Líamos tudo o que podíamos, desdeas histórias dos aviadores galantes que faziam da aviação mais um esporte eum meio de se mostrar do que um instrumento de prestação de serviços. Afase heroica da velha aviação da Primeira Guerra Mundial, como o BarãoVermelho e outros ases do passado, ainda encontrava adeptos, sempreprontos a se diferenciar dentro dos seus grupos. Passamos a conhecer a vidados pioneiros, suas ideias, suas lutas e, também, seus fracassos.
Quando voávamos os Fairchild, produzidos na velha fábrica do Galeão,examinávamos cada centímetro da estrutura, o que não era difícil, pois eleseram mantidos nos mesmos hangares, onde às vezes passávamos horasesperando pelo próximo voo de instrução. Conhecemos os mecânicos quesempre procuravam nos atender explicando aspectos da montagem e dacorreção de defeitos dos aparelhos. Felizmente não tínhamos dificuldadespara entender as diferentes concepções mecânicas, pois os cursos teóricossobre aeronaves e seus sistemas, proporcionados pelos instrutores da escola,eram bons e detalhados.
No entanto, o sonho dos meninos de Bauru, de fabricar aviões, estava distantee, na coragem natural dos nossos 19 anos, achávamos que tudo se resolveria.É
curioso relembrar que, apesar de vidrados nos nossos sonhos, tínhamosalguma noção das dificuldades, mas mantínhamos a crença de que um diapoderíamos participar dos esforços para torná-los realidade. Estranho ou não,parece que já sabíamos o que iria acontecer no futuro, embora nãodispuséssemos de nenhum dado concreto de como seria possível saltar àfrente e conseguir construir a realidade que imaginávamos. Enfim, salvoalguns momentos de depressão, isto parecia não nos preocupar em demasia, ea confiança não nos abandonava. Era como se dispuséssemos pela frente detodo o tempo do mundo.
Ignorávamos inteiramente fechados que estávamos em nosso curso deformação de oficial aviador, que, exatamente naquele período do final dadécada de 40, uma solução que nos ajudaria estava sendo colocada emprática. Um grande brasileiro, visionário e empreendedor, formado emEngenharia Aeronáutica no exterior, o Brigadeiro Casemiro MontenegroFilho, estava lutando para criar o 46
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em São José dos Campos, escolaque eu, devido a uma incrível série de coincidências, pude cursar, abrindo ohorizonte para a concretização das ideias que se consolidavam, à medida queos anos avançavam.
Nós não o sabíamos, mas a escola da qual precisaríamos estava sendo criadano Brasil.
Em 1951, iniciamos o terceiro ano profissional que, completado, nos daria asqualificações de piloto militar e o posto de Aspirante a Oficial Aviador –porta para o oficialato da Força Aérea Brasileira. Continuávamos a voar osNORTH AMERICAN
T-6 e aumentar os nossos conhecimentos sobre Aeronáutica. As aulas sesucediam, com estudos sobre navegação aérea, controle de tráfego, operaçãoe manutenção de aeronaves, etc. Para aumentar nossa proficiência comopilotos militares, aprendemos técnicas de combate e utilização dosarmamentos aéreos, que, na época, já apresentavam grande variedade ecomplexidade, em função, sobretudo do que se tinha aprendido durante aSegunda Guerra Mundial.
Foi essencial, naquele período, contarmos com um dos melhores instrutoresde voo que tivemos. Era o Tenente Mário Sobrinho Domenech, cujo nível detreinamento como piloto era muito alto e fazia esforços, através de umadedicação fora do comum, para nos proporcionar um nível de treinamentoentre os melhores.
Facilmente, tornamo-nos amigos, em que pese a normal rígida hierarquiaentre o Cadete e o Tenente.
Outra coincidência, Zico e eu novamente tínhamos o mesmo instrutor. Foium período de intenso aprendizado, e Domenech ia muito longe nos padrõesque nos levava a alcançar. Com muito entusiasmo, num determinado dia,fizemos um voo de formatura, com quatro aviões, pilotados por Zico, eu epor dois outros também seus alunos: Sylvio Francisco Di Stephano e WaldyrCastro de Abreu, quando em certo momento Domenech fez o sinalconvencionado para acrobacia. Todos responderam afirmativamente e elecomeçou a abaixar o nariz do seu T-6, acompanhado por todos nós,
aumentando lentamente a velocidade. Logo após, com a indicação de 160mph (260 km/h), levantou o nariz e iniciou um looping com os quatro aviõesem formatura.
Eu estava arrepiado. Não acreditava que nós, ainda Cadetes, pudéssemosfazer aquilo. Num momento estávamos todos de dorso, com os olhosgrudados no líder.
Num instante olhei e vi-me mergulhando contra o solo. Na recuperaçãoDomenech continuou e começou um tonneau barril, que acompanhamos semdificuldade.
Aprendi depressa que manteria minha posição mais firmemente na formaturase olhasse somente para o líder, não me importando com o horizonte da Terraque era possível ver ao longe.
47
Foto 9 Tenente Domenech: instrutor de voo, com seus alunos em 1950.
O looping é uma manobra na qual o avião descreve no espaço um círculovertical, e o tonneau barril é uma espécie de parafuso na horizontal no qual oavião circula em torno de um eixo alinhado com a direção do voo.
Creio que era isso que nos apaixonava pelo voo. Todos os dias tínhamos algodiferente, e ao voar, embora o ronco dos motores nos afastasse da sensaçãofa-ntástica dos planadores, era impressionante ver a natureza à distância e doalto.
Como é bonita a Terra, realmente um planeta privilegiado (que merece serconservado pensávamos nós!).
O entusiasmo era dominante. É difícil imaginar que em outras circunstânciasseria possível alcançar a carga permanente de entusiasmo que tínhamos pelovoo.
Além do desejo pessoal de voar sempre, a equipe formada pelos nossosinstrutores era diferente. Fantástica, eu diria hoje, quando olho, depois detantos anos.
Sempre fascinados com as inovações possíveis, ficamos realmente cheios deorgulho quando vimos quatro dos nossos melhores instrutores começarem atreinar juntos para fazer acrobacias em formação, usando quatro T-6. Eram osprecursores da hoje famosa Esquadrilha da Fumaça que tem sede naAcademia da Força Aérea em Pirassununga (São Paulo). Eles eram muitobons de pilotagem e começaram a fazer manobras que nós, alunos, nãopoderíamos nem sonhar. A 48
primeira equipe que voava em conjunto era constituída pelos Tenentes MárioDomenech (instrutor do Zico e meu), Cândido Martins da Rosa (que anosapós trabalhou comigo na EMBRAER), Paulo Cezar Roza e Haroldo RibeiroFraga. Todos eles marcaram muito a minha turma e, cada um de nós naatualidade, nos lembramos deles com carinho e enorme apreço. Foi um bomtempo aquele.
Era naquele ambiente que vivíamos o último ano da Escola de Aeronáutica.
Embora pressionados pela carga de trabalho, que se iniciava com uma
alvorada às 5h30 da manhã, seguida de uma hora de educação física, todos osdias, nosso entusiasmo crescia. É claro que estávamos ansiosos pelaformatura, já marcada para dezembro de 1951. Ela seria um marco e o iníciode uma etapa de nossas vidas, mas ambos, Zico e eu, sabíamos que aindateríamos muito a aprender, comentávamos sempre.
De qualquer forma dedicávamo-nos muito a todas as especialidades queestavam ligadas diretamente aos aviões. O Zico, em particular, já gozava degrande respeito dentro de nossa turma e era, no campo da Aeronáutica, quasecomo um consultor interno. Quem tinha dúvidas sobre algo ia diretamente aele. Todos tinham certeza do seu enorme sucesso profissional.
Naquele ano também completamos o treinamento de voo por instrumentos,para o qual usamos o T-6, e nosso instrutor, meu e do Zico, passou a ser oTenente Renato Vale Castro que, pacientemente, nos ensinava a forma pelaqual poderíamos voar em condições sem visibilidade externa. Era um voototalmente diferente para o qual precisávamos treinar para não experimentaras sensações do corpo e confiar unicamente nos instrumentos. Novamenteficamos surpreendidos pela criatividade dos projetistas que puderamconceber instrumentos precisos e capazes de indicar ao piloto a atitude etodos os outros parâmetros necessários ao voo cego. Embora, na atualidade,sejam considerados dispositivos antigos, eles eram muito bem concebidos efabricados. O T-6 era um avião de pilotagem sensível e, como aprendi maistarde no curso de Engenharia, tinha sido projetado para operar sob umamargem pequena de estabilidade horizontal, o que o fazia um pouco“nervoso”. Mesmo assim os instrumentos eram razoavelmente precisos,permitindo que naquele avião, considerado não o mais adequado, pudéssemosvoar com precisão.
Quando aprendi sobre o horizonte artificial, que é um instrumento que indicao ângulo de subida ou de descida e a inclinação do avião, comentei com oZico indagando qual seria o tipo de pessoa que teria concebido algo tãocriativo. Era um pequeno mecanismo colocado no centro do painel e quefuncionava tendo por base um giroscópio girando a alta rotação e acionadopor um sistema de vácuo, produzido por uma bomba instalada no motor doavião. Incrível como funcionava.
Embora girando a uma rotação muito alta, era confiável e tinha tudo montado
49
sobre rolamentos fabricados com precisão de joalheria. Ele era uma espéciede pequeno avião na frente do piloto que indicava a posição relativa da nossaaeronave em relação ao horizonte natural da Terra. Incrível – era realmenteuma maravilha de concepção. Ainda hoje os sistemas são basicamente osmesmos, muito mais sofisticados, incorporando centrais giroscópicasacopladas com a bússola e muitas utilizando laser. Mas o princípio é omesmo que foi criado na década de 30.
Os Primeiros Passos na Carreira Militar
À medida que o final de ano se aproximava a nossa excitação crescia.Ficávamos imaginando a cerimônia de recebimento das espadas. O grandedia, quando chegou, para a alegria de todos era bonito e quente, em plenoverão do Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1951. As famílias vieram detodas as partes do Brasil.
Therezinha e minha mãe entregaram-me a espada, e meu bom amigo, oTenente Esteves Costa – o querido instrutor dos tempos do Fairchild T-19,que jamais esqueci –, colocou em meu peito, carregado de entusiasmo, oBrevê de piloto militar. Estava vencida uma etapa. Anos antes, tínhamosdeixado Bauru, naqueles momentos estávamos conquistando uma primeiravitória. A nossa turma, que era de 169 Cadetes, quando começamos o cursoquatro anos antes, tinha-se reduzido para apenas 69 aviadores, com LélioViana Lobo na posição de primeiro colocado.
No cômputo geral o primeiro classificado foi Ottomar de Souza Pinto, futuroGovernador do Estado de Roraima.
Coincidência novamente. Eu me formei classificado no 11º lugar e o Zico,inseparável amigo e conterrâneo, logo à minha frente, na décima colocação.Em consequência, ganhamos a possibilidade de escolher a Base Aérea ondecomeçaríamos a nossa carreira militar na Aeronáutica. Nessa decisão, creioque pela primeira vez pensamos diferentemente. Para o Zico não haviadúvida: a aviação de caça era a sua opção e a escolha não foi difícil. Optoupelo Rio de Janeiro, sendo designado para a Base Aérea de Santa Cruz – sededo tradicional e respeitado 1º Grupo de Aviação de Caça –, logo em seguida
matriculado no curso de Seleção de Piloto de Caça (SPC). Após o durotreinamento inicial para o combate aéreo, utilizando o mesmo NORTHAMERICAN T-6, que tínhamos voado nos estágios finais de voo na Escolade Aeronáutica, a meta para os “caçadores” era voar o famoso Republic“Thunderbolt” da Segunda Guerra, denominado pela FAB
como P-47 e alcunhado de “tijolo-quente”. Zico teve sucesso e classificou-seentre os melhores alunos do curso. Dois anos depois, estava voando osprimeiros jatos de combate da Força Aérea, os Gloster Meteor Mk IV.
50
Eu, por minha vez, embora gostasse de acrobacias, não me sentia bemsubmetido às altas acelerações que os aviões de caça impõem. Por outro ladoqueria viajar e tinha grande fascínio para conhecer o Brasil. Impressionava-me a unidade nacional, caracterizada pela língua comum e grande parte doscostumes, apesar da insuficiência reconhecida dos nossos sistemas decomunicações da época. Enfim, a aviação de transporte oferecia alternativaspara as minhas aspirações e abria imensas oportunidades para cobrir asdiferentes regiões do nosso imenso país. No entanto, havia um problema. Asunidades aéreas, cujas missões estavam centradas no transporte depassageiros e de cargas – talvez devido à enorme influência do BrigadeiroEduardo Gomes, cujo amor pelo setor era uma lenda na FAB –, eramconsideradas de elite e não estavam ao alcance dos jovens Aspirantes recém-formados (classificados, na escala dos animais, um pouco acima dos“manicacas”, definidos pelo dicionário Aurélio como “palermas”).
A vontade era servir nos Grupos de Transporte com sede na Base Aérea doGaleão, Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, mas logo cedo ficou claroque isso não seria possível. Foi aí que ocorreu uma alternativa. Um dia, noinício de dezembro de 1951, tinha estado na nossa Escola um grupo deoficiais da Base Aérea de Belém, liderado pelo Tenente Aviador FlávioEdmundo Gomes de Oliveira.
O objetivo da visita era um contato com os Cadetes e mostrar-nos o trabalhoque eles desejavam desenvolver, criando um novo programa de atividades naAmazônia. O projeto consistia na preparação de Pilotos de Patrulha e nacriação de um correio aéreo, que chamaram “da fronteira”. O mais
interessante de tudo, para o espírito aventureiro dos jovens, era que os aviõesa serem utilizados seriam os PBY-5 e 5A “CATALINA”, fabricados pelaempresa norte-americana Consolidated Vultee, muito conhecidos como“Patas Chocas”, em face de sua extraordinariamente baixa velocidade decruzeiro. O melhor de tudo, sob nosso ponto de vista de novos entrantes naaviação, era que os “CATALINA” eram hidroaviões, capazes de pousar naterra e na água.
Após a palestra que Gomes de Oliveira fez no cinema da Escola – usadofrequentemente como auditório – as brincadeiras sobre os CATALINA’scomeçaram a crescer. Sobretudo os “caçadores” (aqueles, como o Zico, queestavam decididos a pleitear a aviação de caça) diziam que, em voo, seríamosultrapassados pelos pássaros e que, na realidade, aquilo que os lentos aviõesfaziam não era na verdade aviação – era operação ferroviária. O exagero daargumentação era flagrante, mas tínhamos de admitir que os pesadosCATALINA’s eram tidos como capazes de decolar a uma velocidade de 80nós (o nó corresponde a uma milha marítima por hora, ou seja, 1,85quilômetro por hora), voar em nível de cruzeiro a 80 e pousar a 80. Issodemonstrava um desempenho muito abaixo dos aviões que poderíamosclassificar como normais, e, muito menos do que qualquer caça de combate.
51
Mais tarde descobrimos que isso não era verdade. Na realidade elesdecolavam a 75 nós, voavam a 105 e pousavam a 65. Todos concordamosque a diferença não era tão grande mas... era diferente “um pouco” –dizíamos, numa inútil busca para justificar nossa opção.
Foto 10 Catalina: avião anfíbio muito útil na Amazônia.
Efetivamente, os velhos CATALINA eram objeto de frequentes piadas, masaprendemos a gostar deles e, o que é mais importante, mostraram-se capazesde prestar um grande serviço na vasta e pouco assistida Amazônia da décadade 50.
Com a ausência de infraestrutura na área, os rios eram transformados emimensas pistas de pouso e decolagem para aviões como eles, capazes dedecolar e aterrissar em condições bastante razoáveis de águas agitadas.
Depois de argumentações e discussões, que somente os jovens sabemestender até um nunca acabar, decidimos aceitar o desafio, e aconteceu osurpreendente: Flávio Gomes de Oliveira e seus companheiros conseguiram
preencher as dez vagas disponíveis. O mais interessante foi que a escolha deBelém, como opção para começo de vida, recaiu sobre os Aspirantes melhorclassificados da turma de 1951.
52
E, entre eles, eu! Zico seguiu seu outro caminho e muito cedo já secomportava como piloto de caça. Depois de tantos anos de convívio era aprimeira vez que nos separávamos.
A minha escolha – com toda a inexperiência da juventude – provou no futuroter sido correta. Hoje, olhando para trás, foi importante e muito bom terpertencido àquele pequeno grupo que decidiu iniciar sua carreira em Belém.Embora com tristeza, por já termos perdido muitos deles em acidentesaeronáuticos, creio que esta foi também a percepção de todos aqueles dezcompanheiros que decidiram enfrentar o trabalho numa Base Aérea, distantede onde vivíamos e considerada por uma grande parte da FAB como um“desterro”. Nossa vida lá, afinal, provou que isto não era verdade. Foramanos felizes, de realização e de inesquecíveis dias numa região do Brasil,forte e voluntariosa, que se chama Amazônia.
2. Amazônia
A Mudança para Belém do Pará
Efetivamente o grupo do Ten. Gomes de Oliveira fez um bom trabalho deconvencimento. Ele e seus colegas da Turma de Aspirantes a Oficial da FAB,formados em 1946, José de Carvalho, João do Val, Armando Vargas, juntocom o Ten. Gasolla – anteriormente convocado como oficial da reserva –,além de outros, conseguiram transmitir ao Primeiro Esquadrão do SegundoGrupo de Aviação (1º/2º G Av), com sede na Base Aérea de Val-de-Cãs, emBelém, um espírito de luta e de corpo que foram, por anos, determinantespara o sucesso daquela Unidade Militar da Força Aérea. Souberam criar umamotivação que se tornou imensa, transformando-nos de inexperientesAspirantes da Força Aérea numa equipe de pilotos de CATALINA que, noperíodo em que vivemos na Amazônia, aprendeu bastante e mudou a razão deviver de cada um.
A Amazônia sempre conseguiu criar em torno de si um ambiente de mistérioe de aventura. Ela é uma atração natural pela sua imensidão, pelas enormesáreas desconhecidas. Sua interminável floresta, seus rios imensosserpenteando na gigantesca planície mostram, a cada ângulo, a diversificaçãoe a surpresa – tônicas permanentes das águas e da floresta. Na harmoniadesconcertante de um sistema natural estabelecido há milhões de anos, ohomem enfrenta simultaneamente aspectos contraditórios de fartura para oadaptado e de escassez para o inexperiente. O curumim (homem amazônicoque habita as margens dos rios e que vive, em geral, da pescaria) usa suamontaria (pequeno barco de transporte) com argúcia e inteligência e engaja-se numa batalha infindável. A despeito da inclemência do calor, dosmosquitos e da pesada chuva tropical, segue sua 53
resignada vida, construindo sua família e assegurando sua sobrevivência edos descendentes.
Realmente o homem da Amazônia é diferente; sem recursos, sem cultura,longe de tudo que a civilização moderna pode oferecer, mesmo assim vence eleva sua vida praticamente sem saber o que ocorre no outro Brasil, tãodistante que nem sabe onde fica. A diversificação é uma constante naAmazônia que, com a característica típica das florestas tropicais, oferece aointeressado um quadro de diferentes espécies de árvores e vegetação, bemmais variado do que aquele com que os povos dos climas temperados estãohabituados a ter contato. Isto faz da Amazônia um paradoxo.
Antes de conhecermos o resultado de nosso pedido de transferência paraBelém, capital do estado do Pará, que dependeria de decisão do Diretor dePessoal da Aeronáutica, e terminadas as cerimônias de formatura, pudemoster algumas semanas de descanso. Afinal, estas provavelmente seriam nossasúltimas férias escolares. Cada qual seguiu seu destino, na expectativa de umanova vida.
Fui para São Paulo, para onde a família da Therezinha, minha namoradadesde os tempos do Ginásio do Estado, tinha se mudado. Durante todo ocurso correspondemo-nos com muita frequência e já estávamos praticamentenoivos. Era necessário explicar-lhe minha decisão de começar a carreiraprofissional pela longínqua Belém. Casando-nos, lá iniciaríamos vida, a2.600 quilômetros da nossa Bauru, onde ambos nascemos.
Conversamos e ficamos de marcar o casamento. Munindo-me de coragem,numa noite dei o salto à frente e pedi Therezinha em casamento ao meusogro, que se mostrou aparentemente perplexo. Ele insistia em não entender oque aquele constrangido quase oficial da FAB queria fazer com sua enteada.Finalmente, sorrindo e consciente do meu desespero, facilitou minha tarefa econcordou.
Tenho certeza de que ele “esticou” a conversa de propósito, alongando-a comespírito e argúcia, explicitando minha desajeitada forma de dizer que queriame casar. Afinal, nesses assuntos, poucos adquirem experiência. A partir daí,começou a retro contagem para o casamento, fixando-nos, inicialmente, numadata durante o mês de agosto de 1952.
Terminadas as férias, Zico, vindo de Bauru, e eu, de São Paulo, regressamosjuntos ao Rio. Foi logo na chegada que soubemos da aprovação dos nossospedidos. Ele iria para a Base Aérea de Santa Cruz, classificado, como tinhasolicitado, no 1º Grupo de Aviação de Caça, e lá iniciaria seu treinamento.Naquela época os “caçadores” – como os chamávamos – estavam com aperspectiva de utilizar os mais velozes aviões da Força Aérea, os GlosterMeteor, de fabricação inglesa. Eu, classificado no 1º/2º Grupo de Aviação,sediado na Base Aérea de 54
Belém, em contrapartida voaria numa real antítese, os “CATALINA”,certamente os mais lentos aviões da FAB.
O Brasil é reconhecidamente imenso e a Amazônia ocupa cerca de 55% detodo o território nacional. Os índices de desenvolvimento da região são maisbaixos do que aqueles encontrados no Centro-Sul e a densidade demográficaé bastante menor. Todos esses fatores criaram na cabeça dos brasileiros que,na região Norte, tudo estava por fazer. Na FAB não era diferente.Agregavam-se aos problemas normais das bases militares aqueles ligados aobaixo nível de desenvolvimento, como os programas insuficientes deeducação e de apoio social. O resultado era pobreza quase endêmica naregião.
Na época, a ideia de servir em Belém, ou em qualquer outra cidade da regiãoAmazônica, era considerada equivalente a desterro. Por essa razão produziu-se uma enorme surpresa – e a decisão não foi compreendida – quando os
praticamente dez primeiros colocados da turma de Aspirantes, formados em1951, tinham optado por começar sua vida profissional exatamente na BaseAérea de Belém.
É difícil explicar o que passou pelas nossas cabeças e o que nos levou a tomaraquela decisão. Sem nenhuma dúvida as colocações dos desafios a seremenfrentados, colocados pelo Tenente Gomes de Oliveira e sua equipe, tinhamjogado importante papel. Mas havia algo mais que, creio, nenhum de nóssaberia exatamente explicar. Provavelmente o desafio criativo foi um dosaspectos importantes.
Foi assim que, integrados aos dez “selecionados” (ninguém acreditava queaquele grupo iria voluntariamente para a Amazônia), viajamos para Belém,na sexta-feira, 1º de fevereiro de 1952.
Decolamos do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Às 5h30 damanhã, os pilotos do Douglas C-47 do Correio Aéreo Nacional (CAN)aplicaram potência nos motores e o avião começou a correr na pista, com asluzes da manhã anunciando o novo dia. Para nós ele deveria ser longo evivido sob o forte ruído dos motores reverberando no interior da fuselagem.O C-47 era então a espinha dorsal do nosso CAN e quase uma centena delesestava voando nos mais variados recantos do território brasileiro.
A decisão estava tomada e, olhando pela pequena janela do FAB nº 2044, vios primeiros raios de sol começarem a banhar a cidade do Rio de Janeiro quecomeça-va a ficar para trás. À frente, uma nova fase da vida!
Aproveitando-se dos aparelhos residuais da Segunda Guerra, as ForçasAéreas e também as empresas de transporte aéreo puderam contar commuitas unidades do Douglas DC-3, as quais foram fabricadas aos milharesdurante a conflagração. O
C-47 era na realidade uma versão civil do DC-3.
55
Havia muitos deles no tráfego civil comercial que ofereciam umaconfiguração para passageiros, razoavelmente confortáveis com assentos
duplos e forrados. Não era o caso dos aviões militares, todos dispondo delongos bancos de alumínio que se estendiam nos dois lados, ao longo da parteinterna da fuselagem. Esses bancos podiam ser rebatidos para cimapermitindo transformar todo o volume interno disponível para o transporte decarga.
Para jovens como nós o desconforto não era um problema. O que nosempolgava era a excitação por estarmos dando um passo tão grande. Aindanão o sabíamos, mas cada um estava sendo iniciado num ponto de partida quenos marcaria para sempre. Seria um duro período de contínuo aprendizado,um processo de formação que nos ajudaria a enfrentar a luta numa regiãoque, medida por qualquer parâmetro, ainda era considerada inóspita. E, mais,contribuiria decisivamente para toda a vida que teríamos pela frente.
O C-47, ou DC-3, era um bom avião. Projetado em suas versões básicas apartir de 1932, inovou e tornou-se um marco na aviação. Ele foi uma reallição de tecnologia. Os conceitos de projeto da sua estrutura e sistemas foramadotados em outros aviões, predominaram por longo período, em diferentesaparelhos até o aparecimento dos jatos, na década de 50. A Segunda GuerraMundial fez com que os C-47 fossem lançados em fabricação em diferenteslocalidades nos Estados Unidos, tornando-o um dos mais comuns dos aviõesda época. Eles eram vistos em todos os lugares e foram protagonistasimportantes em todas as batalhas. Seus feitos têm sido contados por váriosautores e deixaram inúmeros exemplos de coragem e de denodo para asgerações do futuro.
56
Foto 11 O Douglas DC-3 (C-47, na versão militar) que equipava o CAN(Correio Aéreo Nacional).
Seu criador foi Donald Wills Douglas, nascido em 1892 no Brooklyn (NovaYork, EUA), formou-se em Engenharia Aeronáutica em 1914 e decidiuformar sua companhia, a Douglas Aircraft Company. Teve sucesso graças asua capacidade de inovar num campo que sofria, em sua época, umaextraordinária evolução. Desde o seu primeiro voo, em 17 de dezembro de1935, o DC-3 tornou-se um símbolo de criatividade e de soluções práticasque, por décadas, impregnaria todo o progresso da aviação de transporte.
Após o término do conflito foram vendidos aos milhares, pela Força Aéreados Estados Unidos, como saldos de guerra. O Governo norte-americanoclassificava-os como resíduos e, disponíveis como excesso de inventário,chegaram a ser vendidos por não mais do que 400 mil dólares cada exemplar.Em razão dessa condição contribuíram para que se tornassem uma verdadeirabase para a formação de praticamente todas as empresas de transporte aéreodo mundo. Muitos pilotos nasceram e nele fizeram suas vidas profissionais,
conseguindo conquistar o necessário treinamento.
Efetivamente os DC-3’s foram o impulso que o mundo necessitava para darum extraordinário salto no desenvolvimento de uma nova alternativa nodeslocamento de passageiros e de cargas, o transporte aéreo. A grandedisponibilidade desses 57
aviões foi certamente o mais fundamental dos estímulos que se poderiaconceder às novas empresas de transporte que se formaram. As naturaisdificuldades, após um conflito das dimensões da guerra de 1939 a 1945,daquela forma puderam ser superadas e os empreendimentos ganharam umótimo pontapé inicial para o início de suas operações. A consequência foiimediata: poucos anos após, viam-se por todo o mundo grandes quantidadesde empresas devotadas ao transporte aéreo, todas usando o venerável DC-3.
Devido à simplicidade e à precariedade como começaram a operar asempresas pioneiras do transporte aéreo, passaram a ser conhecidas como“papai-mamãe”
(em razão de o gerenciamento e as operações serem garantidas quase que pelaprópria família). Muitas delas desapareceram, porém outras prosperaram,sobrevivendo com grandes nomes e reputação até hoje.
Era um bimotor de asa baixa. Foi um dos primeiros aviões a utilizar astécnicas da construção semi-monocoque (alguns componentes ainda usavamuma estrutura revestida de tela), isto é, estrutura reforçada onde, além do“esqueleto” resistente, também o revestimento faz parte dos elementostrabalhantes. O material, como hoje, era basicamente o alumínio de liga.
Graças às pesquisas patrocinadas pelas Forças Armadas norte-americanas ametalurgia trabalhou muito em prol do desenvolvimento dos materiaisaeronáuticos. Os C-47 beneficiaram-se das novas descobertas e promoveramo uso pioneiro das novas ligas especiais. Uma delas, classificada comoalumínio 2024, tornou-se a mais comum nas aeronaves da época.
O Governo norte-americano tem tradição de colocar nos orçamentos militaresexpressivos recursos anualmente destinados às pesquisas e aodesenvolvimento de projetos de interesse militar. Essas dotações acabam
gerando contratos específicos cujos resultados usualmente são difundidosentre todos os contratados para a fabricação de produtos encomendados pelasForças Armadas. É claro que muitos desses resultados, sigilosos e criadospara responder a requisitos militares, podem tardar, mas, após algum tempo,acabam chegando ao mercado civil. Dessa forma, transformam-se emdiferentes produtos, dando a oportunidade de aumentar, significativamente, acompetitividade das empresas.
Essa forma de agir beneficiou acentuadamente a indústria americana. Aofinal da guerra havia um enorme estoque de tecnologia militar que foirapidamente apropriada e aproveitada pela indústria civil. Entre osbeligerantes diretos, os Estados Unidos foi o único país que não sentiu emseu território os horrores da guerra. Embora tendo pagado um preço alto peloseu engajamento na conflagração e perdido milhões de seus jovens, queficaram nos campos de batalha, teve ao final um benefício. Suas indústriasemergiram muito competitivamente e transformaram os produtos norte-americanos em paradigmas 58
mundiais de inovação e de conteúdo tecnológico, consagrando uma trajetóriacomo uma forte nação industrial, até a atualidade.
A Vida na Amazônia
Os dez recém-promovidos Aspirantes-a-Oficial da Aeronáutica, na média dosseus 21 anos de idade, naquele dia de fevereiro voavam em direção a umanova vida, dentro da ruidosa cabine do C-47 2044, devendo chegar ao destinono final do dia. A rota era velha conhecida pelo Correio Aéreo, emborainteiramente nova para nós. Em face da baixa velocidade do C-47 e doalcance limitado pela carga a bordo, pousos intermediários eram necessáriospara o reabastecimento e também realizados para deixar ou pegarpassageiros. Pousamos em Belo Horizonte, Barreiras (Bahia), Carolina(Maranhão) e, finalmente, cansados, avistamos a pista do aeroporto de Val-de-Cãs em Belém, às 18 horas.
Quando a porta do avião foi aberta, sentimos no rosto o quente e úmiCadetedo Ar da região onde moraríamos nos próximos anos. Período marcante demuito trabalho e dedicação. Lá realmente aprendemos e lutamos, tornamo-nos homens e vivemos lições imensas de amor e de dedicação, de sofrimento
e de tenacidade.
Sentimos, desde quando chegamos, a grandeza deste país chamado Brasil.
Fomos alojados numa espécie de pequeno hotel que no jargão militar ganha onome de Cassino dos Oficiais. A construção, ainda dos tempos da SegundaGuerra, toda de madeira e revestida de tela, como proteção contra osmosquitos, era conhecida como T-1. Cada qual foi alojado em seu quarto e,após um frugal jantar, fomos para a cama fatigados, porém ansiosos paraconhecer o que teríamos pela frente.
Já na segunda-feira, 4 de fevereiro, o Tenente Flavio Gomes de Oliveira e suaequipe colocaram-nos nos bancos de uma sala para, a partir daquele instante,nos ensinar tudo que seria necessário para transformar os “selecionados” empilotos de patrulha.
Ao longo dos meses seguintes, assistimos aulas e debruçamo-nos sobre dadose manuais, em intermináveis sessões, cobrindo tudo sobre os CATALINA,sobre navegação aérea (visual, eletrônica e astronômica), padrões de procurae busca na terra e no mar, etc. Tudo isso sob o abrasador calor úmido daregião que, sobretudo no período da tarde, nos permitia um razoável banho desuor.
Novamente repetíamos uma experiência que já tivéramos na Escola deAeronáutica do Campo dos Afonsos. Vivíamos o mesmo conceito deaprender tudo sobre um novo avião, o CATALINA. A diferença era queagora nos dedicávamos a 59
uma aeronave maior em dimensões e, com uma grande diferença, que podiapousar em terra e na água.
Embora os CATALINA fossem anfíbios, novamente foi possível notar que astécnicas de construção eram razoavelmente as mesmas que eu já tinha vistonos outros poucos aviões da FAB, com os quais tive contato. No entanto, noque se referia aos equipamentos, havia diferenças sensíveis entre os modelosoriginalmente fabricados para o uso da Força Aérea e aqueles destinados àMarinha norte-americana.
Esse era resultante quanto à forma de como os orçamentos militares eramdistribuídos entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e aplicadosindependentemente por cada Ministério. Isso gerava equipamentos diversos eadaptados a empregos diferenciados. No entanto, as estruturas básicas dosaviões, as tecnologias que se podiam identificar eram muito semelhantes. Emmuitos casos as analogias também podiam se aplicar aos sistemas.
No nosso Esquadrão dispúnhamos de dois modelos do CATALINA, os OA-10
(vindos da Força Aérea dos Estados Unidos) e os PBY-5 (vindos daMarinha). O
resultado determinava que, embora executássemos as mesmas missões emambos os modelos, precisávamos aprender a operar as duas versões, uma vezque éramos escalados para o voo indistintamente.
As aulas se sucediam dentro de uma disciplina muito acentuada, com respeitoa currículos e a horários. Aprendemos muito sobre a operação normal emaeroportos terrestres e aquelas conduzidas na água, que guardavamsemelhança com os barcos, utilizando as mesmas palavras e expressões.
Finalmente, um mês após a enxurrada de aulas, começou o treinamento emvoo.
Nosso conhecimento dos aparelhos e de seus sistemas era já acentuado.Também pouco a pouco íamos adaptando-nos ao calor úmido. Já tinha seconstituído em hábito estarmos na pequena sala de aula do esquadrão esempre que possível aproximarmo-nos dos aviões para ver um ou outrodetalhe da construção ou de seus sistemas.
Em cada voo era usual embarcar vários alunos Aspirantes com um instrutor erevezarmo-nos na pilotagem. Como as sessões eram longas, em geral dequatro horas de duração, éramos submetidos a permanecer a bordo assistindoo progresso de cada companheiro e colega.
Foram muitas horas de voo de instrução, as quais sempre nos causavamimenso cansaço. Os CATALINA’s eram aviões pesados para pilotar, seus
motores de 1.800
HP não desenvolviam potência suficiente para grandes números deperformance.
Do mesmo modo, graças a sua enorme margem de estabilidade, mostravacontroles muito pesados para os pilotos, determinando dificuldades para ocontrole e manejo do avião. As manobras eram lentas e requeriam esforços60
maiores do que os encontrados nos aviões equivalentes. Na sucessão depousos e decolagens, o cansaço físico era retratado por suadouros em bica. Aquando uma sessão de instrução terminava era comum ver o nosso macacãode voo literalmente molhado, como se tivéssemos tomado um banho.
Finalmente, em maio de 1952 fui aprovado como piloto da “máquina”
CATALINA. Meu primeiro voo “solo” foi feito com Evônio Arouca, colegade turma, também aprovado comigo. Gostamos da experiência; já, então,dominávamos as técnicas para pousos em terra e na água. Estes semprerepresentavam uma experiência nova, sobretudo quando ventava mais eondas se formavam na baía de Guajará, junção do rio Tocantins com a foz doAmazonas, onde sempre fazíamos os nossos treinamentos. Erafrequentemente uma novela, nessas condições mais adversas, aproximarmo-nos de uma boia e “amarrar” o avião.
Com a finalização do período de treinamento básico, logo estaríamos prontospara as viagens e aí, então, conhecer verdadeiramente os mais variados edistantes lugares da grande Amazônia.
Em julho de 1952, o nosso primeiro ano na região, todos os dez pioneiros deBelém foram promovidos ao posto de Segundo Tenente Aviador. Naquelaépoca, 1º/2º G Av (1º Esquadrão do Segundo Grupo de Aviação) já era onome oficial do Esquadrão. Foi quando assumiu o comando da Unidade oCel. Edívio Caldas Sanctos, que permaneceu no cargo por dois anos. Maistarde, em 1954, foi substituído pelo Cel. Luiz Portilho Anthony, natural deManaus, um fascinado pela Amazônia. Ele era um entusiasmado pelotrabalho que se fazia e sempre procurou dar o melhor de si, não somente para
manter o pessoal em alto nível de treinamento, como para planejar sempremissões que pudessem dar melhor eficácia ao emprego dos aviões, tão úteispara a região.
Ambos deram expressiva contribuição para a consolidação e odesenvolvimento do Correio da Fronteira, finalmente autorizado peloMinistério da Aeronáutica em 1953. Os esforços para conseguir oficializar amissão que procurávamos cumprir funcionaram e permitiram institucionalizaras viagens que já fazíamos, introduzindo o conceito de frequência e dehorários amarrados a compromissos prévios. Isto passou a ajudar muito aspopulações que pretendíamos atender. É óbvio dizer que os resultadosexcederam as expectativas. A autorização que recebíamos das autoridadesaeronáuticas era um prêmio ao esforço da equipe que se empenhava todo otempo, a prestar melhores serviços. O resultado era que o 1º/2º G Av tinha semodificado e já se mostrava muito diferente.
O Esquadrão que dispunha de somente três CATALINA em voo, dois dosquais eram hidroaviões, agora ostentava 16 unidades – graças aos esforços doParque de Aeronáutica de Belém, revisando e recuperando os aparelhosvelhos que lá estavam, há anos, nos pátios de espera de reparos.
61
O Correio da Fronteira passou a ser uma obrigação que estabelecia umcircuito a cada 15 dias. Saíamos de Belém para cumprir missões junto àspopulações carentes das mais remotas regiões amazônicas e, comoestabelecido, transportávamos médicos, dentistas, assistentes sociais, juízes,pessoal de cartórios, enfermeiros e especialistas em diversos outros campos;era comum termos conosco padres que, normalmente quando chegávamos,batizavam crianças e casavam grande número de casais, em geralacompanhados dos próprios filhos. As cerimônias matrimoniais eramrealizadas ao ar livre e coletivamente, seguidas de festas, cada qual ao estilodo local.
Nem tudo, porém, era festa. Os médicos, dentistas e enfermeirosdesdobravam-se durante todo o tempo em que permanecíamos nos locais,atendendo a população para consultas ou mesmo intervenções cirúrgicas noscasos mais graves.
Era frequente transportarmos produtos em falta nas diferentes regiões,especialmente aqueles requeridos pelos postos longínquos do ExércitoBrasileiro, os chamados Pelotões de Fronteira. Era curiosa a ausência de alhoe cebola naquelas regiões, por falta de uma agricultura mais desenvolvida ede técnicas adequadas. Esses eram produtos que normalmentetransportávamos, inclusive –
embora não permitido – a indefectível cachaça, cujas caixas eram sempretratadas com o maior cuidado.
A visão de Brasil que conseguimos naquele período foi inesquecível. Erammissões das quais todos nós gostávamos, e as disputas para delas participareram acirradas. O treinamento profissional em todas as atividades de voo oude
“marinharia”, quando nossos aviões estavam na água, era grande, já quedificilmente encontrávamos duas situações iguais. Sempre era necessária umaboa dose de criatividade para decidir com rapidez e evitar riscos para o aviãoe para as pessoas que ele transportava.
Os CATALINA’s eram máquinas extraordinariamente versáteis e úteis, emparticular na Amazônia, local perfeito para estarem sediadas. Com suas asasimensas era um avião lento, porém com uma apreciável capacidade de cargae de combustível. Com o total de gasolina nos seus tanques era capaz de voarmais de 18 horas, sem reabastecimento. Infelizmente, nessa condiçãofavorável de autonomia, sua disponibilidade de carga era reduzida e quasenunca poderia ser utilizada.
O Esquadrão era equipado com dois tipos de aviões. Duas unidades deleseram hidros (aptos a operar somente na água) e os demais anfíbios, tambémhabilitados a usar as pistas convencionais. Em Belém, operávamosindistintamente ambos. O
conjunto de trem-de-pouso pesava perto de 1.500 kg, razão pela qual asversões hidro tinham uma capacidade de carga maior que a dos anfíbios.Numa das operações de ajuda à população de Manaus, castigada por umainundação, entre as mais 62
severas – ocorrida em 1954 –, cheguei a decolar com um hidro, carregadocom 72
pessoas a bordo. Provavelmente um recorde e uma temeridade. Mas, como sesabe, a necessidade nas emergências obriga-nos a sobre-esforços que muitasvezes não sabemos mesmo se seríamos ou não capazes.
Uma facilidade que ajudava a operação normal dos CATALINA eraconstituída pelos seus motores Pratt & Whitney, R-1830, os mesmosinstalados nos C-47
(modelo militar do conhecido DC-3, da década dos 1940/50). Essa condiçãoajudava muito na manutenção, sobretudo fora da Base de Belém, pois, devidoà grande quantidade de C-47’s em operação, encontravam-se peças ecapacidade de reparo praticamente em todos os aeroportos brasileiros.
Embora dotado de uma estrutura diferente, devido ao seu casco semelhanteao de um barco, o CATALINA novamente mostrava uma série de conceitosde projeto que já tínhamos visto em outros aviões. Isso fortalecia o conceitoracional, usado pelas Forças Armadas norte-americanas, de usar técnicascomuns para os aviões projetados, desenvolvidos e fabricados nos EstadosUnidos. Uma diferença marcante, em relação àquilo que conhecíamos comoconvencional, era devida ao casco, o qual, em frequente contato com a água,precisava ser selado e mostrar-se pontualmente mais resistente. Isto implicavano uso de ligas de alumínio diversas daquelas que estávamos habituados aencontrar nos outros aviões. Do mesmo modo, como consequência direta, osrebites eram também especiais, dependendo de um tratamento térmico muitopreciso, quando de sua utilização. Tais processos eram bem mais sofisticadose a prevenção da corrosão, em face da água, bastante mais elaborada.
No mais, embora bem menos velozes, os CATALINA’s assemelhavam-sesignificativamente com os demais aparelhos que a FAB comprava dosEstados Unidos.
Os “patas chocas”, apesar de sua aparência um pouco diferente dos aviõesconvencionais, eram ideais para as missões na Amazônia. Eles, pouco apouco, foram construindo um acentuado prestígio junto às populaçõesribeirinhas. Em cada viagem do Correio da Fronteira visitávamos muitas
cidades, sempre fazendo centro em Manaus ou em outra importantecomunidade da região. O objetivo principal era a prestação de serviços, levaras malas postais, oferecer assistência às populações.
É mesmo difícil listar tudo o que se fazia e ocorria nessas viagensnormalmente programadas para durar duas semanas. Cada um de nós queviveu lá, e outros companheiros em diferentes épocas, puderam catalogardiferentes e fascinantes histórias que, por vezes, se contadas chegam aoinacreditável. Muitos dos momentos e passagens de que participamos oupresenciamos foram marcantes e tornaram aquele período inesquecível,influenciando acentuadamente nossa 63
formação profissional. A Amazônia foi uma escola, deu-nos uma nova ediversificada dimensão mental e lições de vida das mais importantes paranosso futuro.
Muitas vezes permanecíamos entre a realidade e a ficção, dando-nos asensação de que as pessoas e o mundo lá deveriam ser diferentes. Por vezessurpreendíamo-nos quando, saindo do imaginário, constatávamos queestávamos no Brasil. Entre muitos dos eventos que presenciei, recordo-me deum, quando o Manfredo Sottomano e eu, com nosso CATALINA lotado –como era de hábito –, pousamos no Rio Negro, exatamente no ponto em queconvergem as fronteiras dos três países, Brasil, Colômbia e Venezuela. Erarealmente o que se poderia chamar de uma região distante. A cidade próximachamava-se Cucuí. Dispunha apenas de uma pequena guarnição do ExércitoBrasileiro e, como comunidade, um punhado de famílias. Longe de tudo, erabastante ausente das linhas de comunicações do Brasil.
Preciso falar um pouco sobre o Manfredo, colega de turma e um do grupo dosdez que tinha escolhido Belém para iniciar a vida profissional. Era um tiporealmente inesquecível; ainda bebê tinha sido levado para a Alemanha e láeducado. Voltou ao Brasil pouco antes do concurso de admissão para aEscola de Aeronáutica e falava um português com forte sotaque alemão,frequentemente objeto de piadas, o que ele achava natural e não se aborrecia.Efetivamente um bom sujeito, o Manfredo; simples, direto, poderia ser atéconsiderado um pouco bisonho. Era sempre um prazer viajar com ele, tão boaera a sua companhia, sempre alegre e prestativa.
Compreendendo a figura daquele brasileiro ruivo, com sardas espalhadas portodo o corpo, de cara redonda e sorriso aberto, pode-se imaginar a cena.Tínhamos acabado de parar os motores, o nosso avião flutuava nas águas dorio e já estava amarrado a uma boia. A temperatura estava alta e nenhumvento soprava. Abrimos as janelas sobre a cabine de pilotagem e, em pé sobreos assentos dos pilotos, sentíamos o abrasador calor das duas horas da tarde,ajudado pelos ataques dos
“piuns” – pequenos mosquitos capazes de causar grande incômodo com suasminúsculas mordidas. Costumávamos brincar, quando nos referíamos aosmosquitos da região. Usando o jargão militar dizíamos que quem “davaserviço”
durante o dia eram os “piuns” e à noite, os “carapanãs” – uma espécie depernilongo. Carapanã é a palavra que os índios tupi usam para designarmosquito.
Tentando nos defender dos piuns, subitamente surge um caboclo na margemdo rio. Estávamos próximos e Manfredo, no seu melhor sotaque, grita: “Olácompanheirro, é aqui que terrmina o Brrasil?” A resposta veio clara e direta,em português fluente:
“Não, senhor! Aqui começa o Brasil!”
64
“Meu Deus”, pensei eu, “recebem-se lições todo o tempo e nos instantes maisinesperados.” Acabávamos de testemunhar um perfeito exemplo da unidadedo país. Estávamos longe de qualquer centro. Naquele local, qualquercomunicação com o resto do país era mais do que difícil. O Brasil, emboragrande territorialmente, acabava de nos mostrar que era sem dúvida umanação e que poderia ser escrita com letras maiúsculas. Uma incríveldemonstração de como, de uma forma que nos parecia difícil decompreender, alguém vivendo tão distante das cidades brasileiras civilizadaspertencia à mesma comunidade. Ele poderia estar falando no centro de SãoPaulo ou numa praia do Rio de Janeiro. Manfredo olhou-me, tambémsurpreso, deu de ombros e abriu os braços dizendo: “Olalá!
Realmente eu estar errado. Aqui começa o Brrasil!”
Passagens como aquela vivemos muitas e tenho certeza de que outrospoderão invocar diferentes exemplos de que realmente estávamos em um paísprivilegiado, infelizmente pobre.
Poucos meses depois Manfredo estava morto. Ocorreu em missão de voo quefazia com outro colega de turma, do grupo dos dez, Carlos Alberto Malcher.
Estavam chegando a Marabá, situada às margens do rio Tocantins, no estadodo Pará, com o objetivo de transportar carne para Belém, onde havia umaescassez do produto. Nunca se saberá realmente o que ocorreu, mas conta-seque antes do pouso eles teriam resolvido fazer um voo rasante sobre o rio e,por uma razão qualquer, chocaram-se com a água, ocorrendo a destruiçãoimediata do avião. Não houve sobreviventes, e nós, graduados da turma deoficiais de 1951, num único acidente perdíamos dois colegas e dois amigos.
O acaso por vezes altera o curso dos acontecimentos. O escalado para voarpara Marabá, tripulando o avião com o Manfredo Sottomano, era eu. Noúltimo momento fui chamado pelo Comandante da Base para ir à cidade deBelém, em missão de representação da Base Aérea. Malcher substituiu-me.Não acreditei quando colegas disseram que eu teria escapado daqueleacidente. Muito certamente as coisas deveriam ter ocorrido diferentemente seeu estivesse pilotando o avião, e provavelmente a minha história poderia seroutra. Enfim, nunca se sabe quando chega a hora de alguém.
O choque foi grande para todos nós. Nunca é fácil perder amigos emcircunstâncias tão repentinas e quando atinge pessoas jovens, com muito paraoferecer ao país e à comunidade. Até hoje lembro-me da cara redonda doSottomano e dos argutos olhos azuis do Malcher. Perdemos ambos. Sinto-metriste até hoje! Eles, cheios de vida, mereciam viver mais!
Não podíamos nos queixar por vivermos numa rotina. Sempre acontecia algoque valia a pena relatar ou lembrar. Numa outra oportunidade, lembro-me dequando estávamos em Tabatinga, a primeira cidade que o rio Solimões,futuro 65
Amazonas, banha quando entra em território brasileiro e faz fronteira com
Leticia, na Colômbia. Naquele tempo, meados da década de 50, Leticia eramuito mais desenvolvida do que a nossa Tabatinga e, em geral, servia comofonte de suprimento para a população local. Dispunha de pista de pousopavimentada, o que era para nós uma boa alternativa para as invariáveisemergências que encontrávamos.
No dia da partida, carregamos o nosso CATALINA bem cedo pela manhã e,como sempre, nos limites operacionais – muitas vezes excedidos com o pesode cada volume calculado “no olho” – preparamo-nos para a decolagem; apartir da água era sempre mais difícil. Tínhamos de escolher áreas maiscalmas, mas não espelhadas, – a decolagem em mar agitado com oCATALINA é classificada como emergência – e procurar a direção contra ovento, o que por vezes não nos dava suficiente distância para a corrida atéalçar o voo.
Naquele dia não seria difícil, eu imaginava. O vento estava calmo e não haviaondas significativas. O Solimões, na região, é um grande rio. Todavia, emtermos amazônicos não ganha significado, sendo, entretanto extremamentelargo, para qualquer padrão de cursos d’água no mundo. Na Amazônia,distâncias e tamanhos avantajados são comuns. O que para o homem local ésomente um rio, em qualquer outra área pode ser considerado um “mar”.
Demos partida nos motores, largamos as amarras e iniciamos o deslocamentopara o local que escolheríamos, se fosse adequado, para iniciar a decolagem.Tudo pronto, com motores testados, apliquei potência máxima. O aviãosentindo o peso começou a se mover vagarosamente e ganhou um pouco develocidade, suficiente para começar a ceder o manche* e tentar “subir nodegrau”, isto é, baixar o nariz de modo a deixá-lo deslizando sobre a água,apoiado somente na quilha do casco.
Com isso a resistência ao avanço diminui e, então, se ganha velocidade maisrapidamente. De qualquer forma, na água as decolagens são bem mais longasdo que as que normalmente se observam na terra, algumas vezes requerendoa interrupção para evitar o sobreaquecimento dos velhos motores a pistão.
Algum tempo depois tínhamos conseguido galgar o degrau. O nariz do aviãocomeçou a baixar com suavidade à medida que a velocidade crescia.Subitamente espantei-me e, atônito, vi, poucos metros à frente, a parte
superior do que parecia ser um enorme tronco de árvore, semi-submerso, malvisível nas águas barrentas.
Não havia mais como desviar, nem distância suficiente para interromper acorrida.
A uns 50 nós (90 quilômetros por hora), estávamos em uma situaçãoclaramente difícil. A velocidade ainda era baixa para alçar o voo. A decisãodo que fazer tinha que ser rápida. Se tocássemos naquela massa dura, o cascoseria rompido como papel e afundaríamos nas águas barrentas do Solimões.Jamais seríamos encontrados com vida e, provavelmente, nem mesmomortos.
66
Sem que meu co-piloto entendesse, não havia tempo para explicar, e,considerando o enorme nível de ruído na cabine de pilotagem (os motoresroncavam sobre nossas cabeças), dei uma brusca forçada do nariz para baixo,tentando reduzir o ângulo de ataque* ao máximo possível e aproveitar orecuo do efeito semelhante ao de mola, causado pela água. A intenção eraforçar um salto do avião. A coordenação deveria ser correta e ajustada demodo que, se conseguido o salto, transporíamos o tronco. Não tinha tempopara pensar; fiz tudo automaticamente. A manobra funcionou e fiquei vivopara contar a história.
Quando os demais entenderam o que se passara, o perigo tinha sidoultrapassado.
Aí então não havia mais razões para nervosismos. Se bem que nervoso euestava mesmo!
Tudo corria aceleradamente e, em agosto de 1952, consegui autorização paravir a São Paulo. Tinha marcado casamento com Therezinha. Depois de tantosanos de namoro e de separação pela distância, entraríamos juntos numa novafase da vida.
Foi uma cerimônia simples e bonita. Todo o planejamento foi feito por elaprópria, que cuidou de tudo em São Paulo, pois eu poderia chegar somente à
última hora para aproveitar ao máximo o curto espaço de uma semana que mefoi dado.
Após o casamento, no final do mês, foi a vez de Therezinha receber, na portado avião, desembarcando em Belém, o bafo quente e úmido do pesado climaamazônico. Após umas cinco semanas vivendo em um quarto do Cassino dosOficiais, pudemos conseguir uma casa dentro da base, em área cercada dasfrondosas árvores. Era uma construção antiga de madeira, toda revestida detela e praticamente sem paredes, mesmo externamente. Era o que se poderiachamar uma casa de campanha. Lá vivemos por três anos dentro de uma novaetapa de vida, da qual jamais nos esqueceríamos.
Voltei à pesada rotina do treinamento e de voos a serviço. Voar na Amazôniana época era bem mais difícil do que hoje. As únicas referências quetínhamos eram os grandes rios e alguns auxílios rádio eletrônicos para anavegação aérea, bastante dispersos. Por vezes socorríamo-nos das estaçõesde radiodifusão locais, as quais, sempre de potência transmissora baixa, eramouvidas apenas a pequena distância.
A maioria dos voos eram feitos em baixa altitude, de 2.000 a 5.000 pés (600 a1.500 metros), e em grande parte das vezes acompanhando os rios. Emboraisto aumentasse os trajetos, considerávamos muito mais seguro para não seperder na imensa floresta que se estendia de horizonte a horizonte. Fora daAmazônia voávamos mais alto, algumas vezes a oito ou dez mil pés (2.400ou 3.000 metros), sobretudo em viagens para o Centro-sul do país. OCATALINA não era pressurizado e, assim, voos em altitude não erambasicamente confortáveis. Nessas altitudes os controles do avião, que eramnormalmente pesados, tornavam-se menos eficazes, 67
fazendo com que o piloto tivesse que se manter mais atento para manter aproa desejada e as asas equilibradas. Piloto automático? Nem pensar!
Todas as viagens eram consideradas de instrução. Isto era feito para manter otreinamento das tripulações e ao mesmo tempo prestar os serviços de que aregião tanto necessitava. Entretanto, em algumas ocasiões organizavam-semissões com finalidades específicas. Uma delas ocorreu em novembro de1953. Cercada de grande preparação e excitação, foi organizada uma grandeviagem de instrução. A ideia, embora sempre nos revezássemos na pilotagem,
ao lado de um instrutor, era treinarmos navegação astronômica, que tínhamosaprendido intensamente com o Cap. Gomes de Oliveira. O destino era Recife(Pernambuco), com escala em Fortaleza (Ceará), incluindo uma ida e volta àilha de Fernando de Noronha, para treinamento de navegação estimada*sobre o mar.
* navegação estimada é aquela que se baseia em dados dos instrumentos queresulta em determinação da posição do avião através dos cálculos realizadospelo próprio navegador Aquele voo foi realmente pesado, quando, deixandoo Pará e o Maranhão para trás, no Nordeste já anoitecia e então passamospara o voo noturno, iniciando a prática da trabalhosa técnica da navegaçãoastronômica. Com o sextante de bordo, obtínhamos a altura angular de trêsastros selecionados e, em função de um laborioso processo de cálculo(consumia não menos do que uns 40 minutos), chegávamos a plotar umaposição geográfica. Como o nosso CATALINA atingia em nível de cruzeiroapenas 200 quilômetros por hora, conseguíamos a posição de um pontosobrevoado há cerca de 180 quilômetros. Era realmente um sufoco, exigindoum bocado de concentração para cada fixo de posição que se tinha decalcular.
Na atualidade, quando se veem equipamentos eletrônicos dos mais variadosresolvendo esses problemas em tempo real, com instrumentos queinstantaneamente mostram aos pilotos, com incrível precisão, onde está oavião, calculando tudo simultaneamente, velocidade, hora de chegada aodestino, ficamos surpresos pelo muito que aconteceu em tão pouco tempo.
Ao longo da permanência em Belém, não se vivia rotina. Era normal sermosacordados a altas horas da noite para executar uma missão qualquer de buscade desaparecidos, transportar feridos, procurar aviões acidentados, enfim,uma quantidade delas. Cada missão era peculiar e, graças ao nosso nível detreinamento, tínhamos nos tornado capazes de encontrar soluções e desuperar problemas os mais variados.
As viagens do Correio da Fronteira eram programadas para durar 15 dias e astripulações se revezavam. Por vezes, o período era estendido por váriasrazões. As mais comuns eram os reparos nos aviões, bastante menosconfiáveis e mais precários do que os aparelhos atuais, portanto bem maissujeitos a panes 68
(defeitos). Várias vezes tínhamos paradas dos motores em voo, forçandopousos de emergência, que, sobre os rios, não eram demasiadamente difíceis,desde que neles se pudéssemos pousar.
Os problemas realmente apareciam após o pouso. Onde atracar, na por vezesforte correnteza dos rios, e como reparar qualquer equipamento na água.Nossos mecânicos já estavam habituados a amarrar tudo com barbantes, emparticular às ferramentas. Se algo caísse no rio, jamais seria encontrado.
Numa das vezes em que viajávamos para Manaus pousamos, como de hábito,no Aeroporto de Santarém – que na época já dispunha de uma boainfraestrutura. A pista, embora não longa, tinha sido recentemente construídae oferecia um apoio adequado. Era uma das poucas localidades da região queoferecia um radiofarol, isto é, podia ser localizada pelo rádio goniômetro*instalado a bordo do avião.
* rádio goniômetro é um equipamento rádio que, recebendo um sinal de umaestação de transmissão em terra, indica a sua direção em relação ao avião.
Após o reabastecimento decolamos e iniciamos a subida, aproando paraoeste.
Tínhamos pela frente umas três horas de voo para atingir Manaus,considerando a velocidade típica do nosso “pata choca”. A subida transcorreunormalmente e resolvemos voar a 2.000 pés (600 m) de altitude, o que erarelativamente baixo para os nossos hábitos na região. O dia estava bonito equeríamos desfrutar um pouco da paisagem sobre o grande rio Amazonas.
De repente, enfrentamos a explosão de um dos cilindros do motor esquerdo.
Imediatamente todo o grupo motopropulsor ficou coberto de óleo, requerendoimediato corte do motor para evitar um possível incêndio. O mecânico, quetinha o controle do sistema de combustível, imediatamente fechou a válvulade gasolina, e nós, na cabine de pilotagem, embandeiramos* a hélice parada.Com isso visávamos reduzir o arrasto e controlar a continuação do voo.
* Embandeiramento é a ação para colocar as pás da hélice de um motorparado alinhadas com a direção do voo para se conseguir uma redução
significativa Cadete do Arrasto O CATALINA, não se podia nunca esquecer,era um avião pesado, e o nosso carregamento, naquele momento embora nãoexcessivo, causava preocupação.
Procuramos equilibrar o avião para voar com um único motor emfuncionamento, mas estávamos perdendo um pouco de altitude para manter avelocidade em torno de 80 nós (150 km/h), indicada no velocímetro. Nãoseria conveniente passar abaixo disso para não se prejudicar acontrolabilidade. Devido a sua baixa velocidade o controle de direção das“patas chocas” era pouco eficaz, e uma coisa que não poderíamos deixaracontecer seria passar abaixo da velocidade de mínimo controle.
69
O ideal naquelas circunstâncias seria retornar a Santarém, onde a pistapavimentada ajudaria em tudo e a troca do motor poderia se processarnormalmente. No entanto, a perda de altitude era progressiva e não nos davaa certeza de conseguir chegar. As preocupações não eram grandes. Sempreseria possível pousar em qualquer ponto do Amazonas, mas isso não era tudo.Como deslocar o avião na água, por longas distâncias?
Os projetistas do CATALINA previram essa possibilidade e o avião eraequipado com um cone de pano que, preso ao avião e mergulhado na água,do lado do motor bom, assegurava um certo arrasto. De qualquer modoaquele equipamento simples compensava a assimetria da tração e permitia odeslocamento sobre a superfície da água, mais ou menos em linha reta. Mas,para nós, era impensável pousar longe de qualquer cidade e ficar sem apoionavegando no rio, como se fôssemos um barco normal.
Com tudo isso na cabeça, aproamos para Óbidos, a localidade mais próxima.Na época, Óbidos era uma pequena cidade, um centro de comércio na região,sobretudo habitada por pescadores. Perdendo altura a cada instante chegamosà cidade já em posição de pouso, que conseguimos executar sem problemas.
Daí para diante foi uma sequência de dificuldades. Em frente à Óbidos o rioAmazonas percorre a região mais estreita de todo o seu percurso e, portanto,a correnteza é relativamente elevada (dizem que da ordem de 6 nós – o que éalto para o pachorrento rio). O vento na região vem sempre de leste, o que o
coloca soprando numa direção oposta à da correnteza. Nós tínhamos apenasum motor funcionando. Para se aproximar da boia e amarrar o avião, nessascondições todas desfavoráveis, foi um real problema de “marinharia”, poisquando vínhamos de leste o vento soprava pela cauda – era difícil orientar oavião. Do oeste, a velocidade era grande, devido à correnteza, chegando àboia em condições críticas para uma atracação. A aproximação pelo norte eraperigosa em face de obstáculos na terra e, pelo sul, impossível. Seria difícildescrever como conseguimos a atracação após meia hora de tentativas evárias passagens infrutíferas junto a uma das boias construídas próximo àmargem.
Os pescadores, e grande parte da população, observando nossas manobras,algo surpresos por verem um avião fora do seu meio normal, afeitos às coisasdo rio e não conhecendo como se opera um avião na água, não entendiam adificuldade.
Quando chegamos à terra, olhavam-nos com uma expressão de mofa,certamente imaginando: “este pessoal é realmente ruim de manobra! Levaramum tempão para amarrar o avião na boia! Coisa que qualquer pescador fazcom um pé nas costas”.
A troca do motor foi na realidade demorada. Dois dias depois um outro aviãotrouxe-o de Belém e, a partir daí, começou o lento trabalho de substituição.Cada 70
peça removida era cuidadosamente monitorada para não ser perdida. Tudoera amarrado com barbante. Sentíamo-nos como astronautas, com apopulação cercando-nos todo o tempo e acompanhando cada passo dado.Afinal, não era todo o dia que se tinha um carnaval daquela qualidade!
O trabalho que se realizava pelo esquadrão dos CATALINA rapidamente setornou conhecido na FAB. Isto foi se refletindo no nosso dia-a-dia e, cada vezmais, recebiam-se recursos para nossas operações. E assim fomos vivendoem Belém, com seguidas incursões pelo interior amazônico ampliando asações e executando as mais variadas missões de caráter humanitário,procurando assistir uma região onde tudo falta.
De forma nenhuma se poderia dizer que vida profissional era uma rotina.
Trabalhava-se muito, mas a satisfação, claramente devida aos tipos de tarefapermanentemente nos solicitada, dava-nos uma gratificante sensação dealegria por podermos participar da vida de populações que precisavam dequase tudo.
As famílias, em nossas casas dentro da Base Aérea, procuravam cumprir seuspapéis, e as esposas, frequentemente longe dos maridos, foram forçadas aviver com independência.
Para nós, Therezinha e eu, 1954 foi um ano diferenciado. Numa noite,praticamente dentro de um tanque de gasolina de um CATALINA – queestava sendo vedado para eliminar vazamentos – já tínhamos ido além dameia-noite, quando um soldado chega acenando-me com um telegramaWestern vindo de São Paulo, o único tipo de comunicação rápida quetínhamos com o Centro-sul. A mensagem era simples:
“Nasceu nosso filho, Arnaldo. 3.180 gramas. Tudo bem. Beijos. Therezinha”.
Foi uma alegria. Sentia-me diferente. Agora era pai de um garoto, o primeiro.
Nossa família começava a tomar forma. Therezinha e eu tínhamos decididoque Arnaldo nasceria em São Paulo, onde, próxima da mãe, ela poderia tertoda a assistência necessária. Minha vida no Esquadrão pouco ou nada deajuda me permitiria.
O Retorno ao Sul
Em março de 1955, o Ministro Eduardo Gomes, entusiasmado com osresultados conseguidos em uma região tão inóspita, resolveu dar-nos umprêmio e abriu vagas no CAN (Correio Aéreo Nacional), com sede no Rio deJaneiro. A decisão do Ministro foi uma alegria geral. O Correio Aéreo erauma unidade prestigiada e com uma missão igualmente muito meritória, queoferecia desafios muito semelhantes àqueles que desempenhávamos emBelém. A variação era que o Correio operava nacionalmente, mantendo aindaalgumas viagens aos países limítrofes na América 71
do Sul. Gostávamos daquela sensação que experimentávamos na Amazônia,após cumprirmos qualquer missão, e antecipávamos que seria desafiador
ampliar aquilo atingindo os mais variados recantos do Brasil.
A transferência concretizou-se no início de 1955. O grupo todo veio deBelém, salvo alguns, que preferiram ir para uma nova Base Aérea criada emManaus. Eu, em particular, fui designado para prestar serviço no Campo dosAfonsos, em Marechal Hermes, de onde tínhamos saído em dezembro de1951. O 2º Grupo de Transporte acabara de ser constituído, sendoinicialmente equipado com os Douglas C-47, os velhos DC-3. Seu objetivoera prestar serviço ao Correio Aéreo.
Embora o Comando do COMTA (Comando do Transporte Aéreo) estivessesediado no Galeão, e de lá usualmente partissem praticamente todas as linhasde rotinas cobertas pelo CAN, o Ministério da Aeronáutica preferiu colocar onosso Esquadrão nos Afonsos, visando concentrar meios e dar mais eficiênciaà operação do 1º
Grupo de Transporte de Tropas, o qual operava em conjunto com o Exército.
Começava uma nova fase. Sabia que a transferência, vindo de Belém,provocaria mudanças nas nossas vidas. Cheguei ao Rio, para iniciar oprocesso de instalação, deixando minha família em São Paulo (agora jáéramos três, Therezinha, eu e nosso filho Arnaldo, então chegando apenas aoprimeiro ano de idade). Era minha intenção fazer os arranjos para conseguiruma casa em Marechal Hermes que, embora longe do centro do Rio deJaneiro, seria próxima ao local onde trabalharia, o Campo dos Afonsos.
Voltei a ver o Zico que, então, já voava entusiasmadamente os novos jatos decombate, recentemente adquiridos da Inglaterra, os Gloster Meteor. Eramjatos considerados modernos. Equipados com dois motores Rolls-Royce Dart– ainda de primeira geração –, eram ruidosos, pouco potentes, difíceis deoperar, de manter e de pequena eficiência. No entanto, era o que havia demelhor na época. Os pilotos do 1º Grupo de Aviação de Caça estavamentusiasmados. Era uma das raras vezes que a FAB podia contar com umavião compatível com o estado da arte. Os Glosters eram velozes, mas poucomanobráveis, em função de um peso muito alto por unidade de área da asadisponível. Devido a isso aproximava-se para o pouso com velocidade bemmais alta do que o aviões com os quais estávamos habituados.
72
Foto 12 Gloster Meteor: avião de caça de fabricação inglesa, os primeirosjatos do 1o Grupo de Caça da FAB.
As diferenças de pressão, geradas pela velocidade, entre a superfície superiorda asa e a inferior é que permitem o voo. Isto se aplica aos pássaros e aosaviões.
Assim, decorre que asas de pequenas áreas (altas cargas alares) exigemgrandes pressões para sustentar os aviões. E isso somente pode serconseguido com altas velocidades (note que o fator velocidade afeta afórmula segundo a potência ao quadrado). Por isso em geral aviões de altavelocidade têm asas relativamente menores. E vice-versa, asas de maioresáreas permitem voos a velocidades mais baixas.
Essas características determinam os diferentes tipos de avião. Velocidadesbaixas e distâncias de decolagem/pouso reduzidas são conseguidas comgrandes asas; em compensação as velocidades de cruzeiro são baixas. Em
contrapartida velocidades de cruzeiro altas são obtidas a partir de asas depequenas áreas que, contudo, requererão pistas mais longas. Em resumo, oprojeto de um avião – aliás, como de qualquer outra máquina – é o resultadode um engenhoso processo de otimização, buscando-se compensar asdesvantagens com soluções alternativas.
Era o que ocorria com os Gloster Meteor. Tinham asas de áreas muitoreduzidas, permitindo que fossem velozes, e o preço pago por essa vantagemera a exigência de pistas longas para os pousos e decolagens. Isto não era umproblema para a 73
Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde estavam lotados, cujapista era suficientemente extensa. Todavia, as velocidades de decolagem epouso do Gloster levavam os pilotos a ter muito cuidado nas operações abaixas velocidades.
Zico, desde a formatura, tinha decidido morar em Copacabana.Inveteradamente solteiro acomodava-se num apartamento de apenas umquarto, que o Edísio tinha alugado, em 1951. Foi lá que, durante os últimosanos que passamos na Escola de Aeronáutica dos Afonsos, passávamosnossos fins-de-semana. Telefonei-lhe e decidimos que me instalaria lá,durante o período que precisaria tratar dos problemas de transferência noMinistério, dividindo entre nós o pequeno espaço disponível. Foi muito bom!Relembramo-nos dos duros períodos da Escola de Aeronáutica, quandotambém disputávamos, no Rio, minúsculos espaços para gozar os fins-de-semana na cidade, fugindo da longínqua Marechal Hermes.
Aproveitamos cada momento para colocar a conversa em dia. Contávamosum ao outro as experiências vividas. Não tivéramos outras oportunidadespara cobrir meus anos de Amazônia e os dele no Esquadrão de Caça. Ele,cheio de energia, contando os passos que trilhou para conseguir ser piloto decaça, o melhor dos galardões que a FAB poderia oferecer a um profissionalde voo. Falava dos instrutores, dos colegas, dos novos amigos e certamentedos Gloster Meteor, jatos que lhe davam grandes alegrias e entusiasmo. Aideia, que tanto acalentávamos no passado de tentar construir aviões noBrasil, parecia estar adormecida. Ambos estávamos contentes com os êxitosprofissionais conseguidos.
Numa das noites, sempre ouvindo a programação musical da Rádio Jornal doBrasil (a música era outro nosso amor comum, em particular as clássicas), aconversa caminhou para o número realmente anormal de colegas que tinhamfalecido em decorrência de acidentes aéreos. Lembrávamos de cada um ebuscávamos entender o que teria acontecido para perdermos, em tão poucotempo, tantos amigos, dos quais tínhamos tão boas e queridas recordações.
Neste ponto Zico falou algo que me assustou. Disse ele: “Lembra-se denossas conversas sobre acidentes fatais? Sempre acreditávamos que elesaconteceriam com os ‘outros’. Não conosco!”. E continuou: “Pois é,recentemente sonhei, com espantosa clareza, que um de nós estaria levando ooutro para Bauru, morto”.
Surpreendido, e assustado, procurei desconversar, mas fiquei claramentepreocupado.
Embora claro, o fantástico desenvolvimento da tecnologia, proporcionandoaviões cada vez mais rápidos, seguros e confiáveis, ainda não dava mostrasde estar contribuindo significativamente para decrescer o enorme preço, emvidas humanas e em material de voo, que estávamos pagando, em particularentre os aviões militares. As célebres panes permanentes dos motores e dosequipamentos progressivamente estavam ficando para trás, à medida que asForças Aéreas 74
pudessem dispor de maiores recursos orçamentários. No caso brasileiro esteponto era crônico em exemplos. Era conhecida a permanente exiguidade dosorçamentos financeiros destinados ao reequipamento das Forças Armadas epara sua manutenção. Em face da ausência de uma infraestrutura industrialavançada, dependíamos totalmente da importação para a compra de nossosaviões e para obter peças de reposição ou assistência técnica. Isto nos eraapresentado com frequência todas as vezes que as discussões levavam-nosaos problemas de suprimento de peças.
A ideia predominante é que dificilmente sairíamos da dependência ao produtoimportado. O Brasil não tinha dimensão financeira, nem capacidadetecnológica, para ombrear-se com as nações desenvolvidas e lançar projetospróprios de aviões e de equipamentos de defesa. Em suma, aviões eramprodutos que se compravam, e não algo que se fabricasse dentro de nossas
fronteiras. Zico e eu reagíamos e, sonhadoramente, insistíamos que se alguémnão começasse nunca chegaríamos a mudar o quadro. De tempos em temposrenascia nos nossos pensamentos mais íntimos a ideia de que o Brasil deveriafabricar aviões. Tinha dimensões geográficas imensas e somente o aviãopoderia transpor as grandes distâncias com eficiência e rapidez. Lembrava-me sempre de que uma pista de pousos e de decolagens nada mais é do queum pequeno segmento de uma rodovia e, portanto, mais barata e rápida paraconstruir.
De qualquer forma as palavras do Zico, lembrando-se do seu sonho,martelaram-me durante o sono naquela noite. Era claro que um de nóspoderia estar morto a qualquer momento! Recusava-me a aceitar a ideia etentei convencer-me de que isto não aconteceria. Eu próprio, embora nuncatenha tido receio de morrer, considerava a hipótese distante, mas sabia noíntimo que o risco era grande.
No dia seguinte pela manhã esqueci-me de tudo e dediquei-me a resolver osproblemas materiais da transferência, enfrentando os corredores daburocracia nos escritórios do Ministério da Aeronáutica, então no Rio deJaneiro. Numa primeira folga, voei para São Paulo para ver a família.
Estiquei um pouco a estada lá. Logo em seguida, lembro-me bem, 18 demarço de 1955, vindo da rua e regressando para a casa do meu sogro, ondeestávamos, vi Therezinha no portão esperando, ansiosa. Deu-me a notícia,que foi um choque!
Zico tinha morrido!
Não acreditei! Poderia meu amigo ter desaparecido? Não, definitivamentenão podia acreditar. Para mim ele era indestrutível, à prova de acidentes.Aquela sua vivacidade típica, seu sorriso afável e, sobretudo, os sonhos.Sonhos que não eram somente dele eram também os meus; teriamdesaparecido? Queria sentir que eles ainda se concretizariam, mas, no fundo ecom muita sinceridade, acreditava fortemente que eles apenas seriampossíveis se os construíssemos juntos. Isso 75
agora não era mais verdade. Tudo parecia ter se desmoronado. Eu estava semo meu amigo. Estava só. Algo tinha morrido em mim, junto com Zico.
Vi desfilar em minha cabeça quanto tínhamos vivido e pensado juntos. Enossos planos, como ficariam? Ele era o próprio talento de que tantoprecisávamos. Estava atônito e chocado. Não sabia realmente o queaconteceria no futuro. A confiança foi assaltada pela dúvida. Não conseguiame conter e, com as lágrimas, nada mais via!
Colei-me ao telefone, muito precário naqueles tempos. Falar com Santa Cruz,no Rio, nem pensar! Estava freneticamente preocupado e queria notícias. Oque teria acontecido? Zico era infalível; nunca acreditei que a máquina ovenceria. Ele estava muito acima dela. Mas a realidade contrastava, e eleestava morto.
Pouco a pouco fui me informando do que teria acontecido. Num voo deinstrução, em um TF-7, a versão biplace do Gloster Meteor, o canopy* dacabine dos pilotos, que se articulava lateralmente, destravou por razõesdesconhecidas e abriu em voo, na reta final para o pouso.
*Canopy é a capota de plástico reforçado que usualmente é projetada paracobrir os pilotos dos aviões de caça, permitindo a mais ampla visibilidadeexterna.
Lembrava-me de que o Zico sempre reclamava da elevada carga alar do jato.
Com asas reduzidas, a velocidade na aproximação para a aterrissagem era alta–
perto de 140 nós. Comentava ele que, se algo de anormal ocorresse nessa fasedo voo, seria impossível controlar o avião. Parece que foi isso o queaconteceu. Aberto o canopy, justamente nos instantes críticos daaproximação, o avião teria entrado instantaneamente em parafuso e, na baixaaltitude em que se encontrava, chocou-se com o solo.
Semanas mais tarde fui à Base Aérea de Santa Cruz para ver os destroços, osquais, devido ao ataque da água do mar, rapidamente se desfaziam porcorrosão do alumínio, não deixando à vista qualquer traço da estrutura. Porconsequência tornou-se difícil qualquer conclusão mais sólida. Olhandoaqueles restos metálicos retorcidos não pude controlar-me e conter aslágrimas. Eles tinham levado parte de minha vida que, naqueles momentos
difíceis, não sabia como reconstruir.
Nossas ligações e amizade eram conhecidas por toda a FAB. Quem falavanos Bauruzinhos, falava indistintamente dos dois. E esta foi a razão por quefui avisado de que o avião, transportando seu corpo para ser enterrado emnossa terra natal –
Bauru –, pousaria em São Paulo para me apanhar. Fiquei grato por essaconsideração muito humana de amigos anônimos, que espontaneamente mederam a oportunidade de cumprir a profecia do Zico: “um de nós levaria ooutro para sua última morada”.
76
O enterro foi um sacrifício insuportável. Não me acostumava com a ideia deperdê-lo. Naqueles instantes via insistentemente desmoronarem os sonhos demenino; ideias que acalentávamos tão intensamente estavam agoraimpossíveis, distantes. Não tinha nenhuma convicção de que poderia tentaralgo sem ele.
O Correio Aéreo Nacional
Voltei ao Rio e, então, como reação, dediquei-me fundo ao trabalho. Era acompensação que buscava, após um choque tão grande.
O meu trabalho agora, no novo posto, era no CAN (Correio Aéreo Nacional).Fui destacado para a Divisão de Operações, cuja missão fundamental eraprogramar os aviões, de acordo com suas condições de disponibilidade paracumprir as rotas previstas para o Correio Aéreo.
Todos tínhamos a consciência da importância daqueles voos. Visitando osmais variados pontos do Brasil distante, através de linhas regulares de grandeextensão, o correio aéreo – criado por Eduardo Gomes – chegou a seconstituir em necessidade fundamental para as populações que, nas maisremotas regiões, acorriam ao campo de aviação para ver o avião semanalchegar. Carregados com malas postais e as mais variadas cargas, os C-47 doCorreio Aéreo sempre eram sinônimos de boas notícias. Em grande parte dasvezes, eram o único meio de deslocamento para as populações.
Nos Afonsos e no Correio Aéreo pude fazer amizades que seriam importantesno futuro, para o trabalho de construir os aviões brasileiros. As ligaçõestornavam-se sólidas por longos períodos de convívio nas incertezas que aaviação proporcionava. Liguei-me a homens notáveis, como profissionais ecomo seres humanos. Lembro-me com carinho do então Major Délio Jardimde Mattos, futuro Ministro da Aeronáutica e um autêntico líder, que noscomandou no 2º GT, tendo com ele viajado – nas linhas regulares quesemanalmente deixavam o Rio – várias vezes. Lembro-me do seu humor e desuas criativas tiradas que eram capazes de transformar as longas viagens emdivertidas passagens.
Lembro-me de uma que nos surpreendeu, quando uma senhora o abordou, nomomento em que os passageiros desciam do avião em Aragarças (Goiás) –após um voo com muita turbulência – procedente de Goiânia, e disse-lhe: “Osenhor é o pior piloto que jamais conheci. Nunca vi um avião jogar tanto!”.
Délio, sem se perturbar, perguntou polidamente: “A senhora sabe por que ococô do cabrito é redondo?” E, sem esperar pela resposta, perante o rostoestupefato da mulher, acrescentou: “A senhora não entende de cocô decabritos, como é que tem intenção de entender de aviação!!!”. E afastou-se.
77
Esta outra me contaram. Num dado momento, em uma de suas viagens noCAN, Délio levantou-se do posto de pilotagem e caminhou entre ospassageiros pedindo uma moeda de dois cruzeiros. Evidentemente todos seinteressaram e procuraram atender ao pedido do comandante do avião. Empouco tempo, uma moeda foi encontrada e dada a ele. Com o rosto maiscândido do mundo, Délio olhou para a moeda e disse: “Que bom! Agoratemos um mapa para a nossa viagem!”, deixando para trás os olharesaturdidos dos nessa hora muito preocupados passageiros. Os que se lembramsabem que aquelas moedas tinham estampado, numa das faces, o mapa doBrasil.
E as passagens com Délio continuavam, como uma que me parece lapidar.Fazia ele uma viagem que chamávamos de Belém Noturno. Era uma daslinhas do CAN
que, com uma tripulação dupla, realizava a viagem, transportandoexclusivamente carga, do Rio de Janeiro a Belém (Pará), voando pelo litoraldo Brasil. Fazia inúmeras escalas, pousando em Vitória (Espírito Santo),Caravelas (Bahia), Salvador (Bahia), Recife (Pernambuco), Natal (RioGrande do Norte), Fortaleza (Ceará), São Luís (Maranhão) e, finalmente,Belém. O retorno seguia o roteiro inverso. Era uma viagem cansativa, pois oavião mantinha-se no solo o tempo estritamente necessário para oreabastecimento de combustível e para a movimentação da carga. Embora osC-47 fossem lentos, a viagem toda durava apenas dois dias e meio.
Voltemos, porém, ao nosso relato do caso. Num dado momento Délio vai aoslanches e deles retira duas bananas que amassa completamente e colocadentro de um saco de enjoo. Discretamente coloca o saco ao lado de suacadeira de co-piloto, sem que o piloto, sentado à esquerda – seu velho amigoCel. Aquino –, pudesse ver. Progressiva, e cada vez mais intensamente, foisimulando um crescente enjoo, reclamando que teria comido algoinconveniente que não estava digerindo bem.
Algum tempo depois, forçando a aparência de que não mais resistiria,aparentou uma formidável vomitada no saco de enjoo, que continha asbananas amassadas.
Uns quinze minutos levou para dizer que, agora sim, sentia-se bem. Acentuouque expelir o provável alimento estragado tinha ajudado. Conforme o tempoavançava foi fazendo elogios crescentes ao seu bem-estar. Subitamentedeclarou-se com fome e, ato contínuo, pegou o saco de enjoo e começou acomer as bananas amassadas – e com as mãos, deixando de propósitoescorrer entre os dedos os detritos. Aquino não resistiu: imaginando que oDélio estava comendo seu próprio vômito, ele, honestamente, foi quemvomitou.
Voei pelo menos umas três mil horas no Correio Aéreo. Comecei a percorreroutras áreas do país, que ainda não conhecia, tendo voado ainda para La Paz(Bolívia), Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires (Argentina) e Assunção(Paraguai), que também eram linhas regulares, embora internacionais. Acabeipor conseguir 78
um bom nível de adestramento, tornar-me Comandante e posteriormenteInstrutor do C-47. Foi um período de grande trabalho, preparando eprogramando os aviões do ponto de vista de manutenção e de suprimento, afim de garantir a disponibilidade de aparelhos em tempo e hora para cumprira intensa programação regular do correio aéreo e, ainda, as demandas extras,que não eram poucas.
No final de 1955 assumiu o comando do 2º Grupo de Transporte o Cel.Roberto Faria Lima, muito conhecido na FAB por sua reputação de homemduro e trabalhador. Efetivamente encontramos nele um Comandante bastantediferente do Délio, a quem ficamos muito ligados. Faria Lima eracentralizador e procurava estar em todos os lugares ao mesmo tempo,enfrentando períodos de trabalho bastante intensos, acompanhando os“serões” (horas de trabalho fora dos expedientes normais), tão comuns nanossa manutenção. A falta de peças e de equipamentos, e o elevado ciclo dotempo requerido para o reparo dos itens removidos dos aviões, levavamnossos mecânicos a verdadeiras ginásticas de criatividade para superar as“panes” e colocar os aviões na pista disponíveis e em tempo para as viagens.
Era comum que nós, os pilotos – e eu em particular, que era da Divisão deOperações –, sempre estivéssemos muito envolvidos com as programações devoo e com os trabalhos de manutenção. Com frequência, tínhamos dedeslocar aviões dos Afonsos para o Galeão tarde da noite, e mesmo de
madrugada. Todas as linhas do Correio Aéreo iniciavam-se no Galeão e lá eraque os aviões deveriam estar, para cumprir os horários de decolagem. Istoobrigava que muitos dos oficiais aviadores devessem permanecer no Campodos Afonsos, até altas horas, para fazer os voos de translado. Com a prática ea crescente experiência que ganhamos, tornou-se comum voar sozinhos, semos copilotos, e acompanhados unicamente pelos mecânicos.
Em meados de 1956, foram adquiridos e distribuídos para o nosso grupoaviões Fairchild C-82, conhecidos pela Força Aérea americana como Boxcar.Capazes de transportar mais carga do que os C-47, representaram umaagregação de capacidade para a FAB. Os primeiros exemplares chegaramusados, após passarem por uma renovação nos Estados Unidos executadapela própria fábrica antes das entregas aqui no Brasil. Este trabalho foifiscalizado por uma equipe de oficiais aviadores e especialistas, Chefiadospelo Cap. Edgar do Nascimento Araújo. A equipe Chefiada pelo Araújorealizou um bom trabalho, resultando que os C-82
voaram por muitos anos no Brasil, sem registrar nenhum acidente fatal.
Após a chegada dos C-82, o COMTA (Comando de Transporte Aéreo), re-denominação do CAN, ganhou envergadura e passou a apoiar maisintensamente os projetos nacionais do Governo Federal, entre os quais oconsiderado mais 79
importante foi o da construção da nova capital do Brasil, Brasília, entãolançada pelo Presidente Juscelino Kubitschek.
Foi montada uma ponte aérea entre o Rio de Janeiro e o Planalto Central,onde estava se iniciando a construção da nova cidade. Então os C-82mostraram com vigor sua capacidade de carga, e muito se voou na nova rota.Os meios de navegação e orientação eram precários e, normalmente,conseguia-se localizar o gigantesco canteiro de obras, na vegetação rasteirada região, pela imensa nuvem de poeira vermelha que se desprendia do solo,por ação das grandes máquinas de movimentação de terra empregadas.Fizemos inúmeras viagens transportando as mais variadas cargas.
O Governo Juscelino foi realmente democrático, demonstrado por algumasinsurreições de caráter político – e que contaram com a participação de
colegas da Aeronáutica, posteriormente anistiados. Um dos participantes nachamada
“Aragarças” foi o então Major Paulo Victor da Silva que, no futuro, seria apeça fundamental para o trabalho de lançamento do programa deestabelecimento da moderna indústria aeronáutica no Brasil.
Em agosto de 1956 nascia minha filha Ana Maria, no Hospital do Galeão, noRio de Janeiro. Nossa família, agora com 4 membros, estava crescendo enossa vida continuava sempre com novos desafios. Gostava do que estavafazendo e o voo no Correio era sempre diferente, trazendo surpresas eparticipando intensamente da vida da nação. Talvez por tudo isso é que aclassificação de um oficial no COMTA era considerada um privilégio. Era aunidade aérea da FAB onde mais se voava.
Mais do que isso, a natureza dos voos, sempre voltados a favorecer acomunidade, oferecia uma contínua motivação. Isto foi verdade, emparticular para mim, pois cinco anos após a formatura eu já tinha atingidomais de cinco mil horas de voo, considerando o período em que vivi emBelém, e voando os CATALINA e depois nos Afonsos com os C-47 e C-82.
No final de 1957, o Coronel Roberto Faria Lima foi designado para comandara Base Aérea de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Na base funcionavam aEscola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica (EAOAER) e o 1ºEsquadrão do 10º
Grupo de Aviação, equipado com os aviões NORTH AMERICAN B-25,também de fabricação norte-americana. O novo Comandante da Baseconvidou-me para ir com ele a São Paulo, oferecendo-me a oportunidade paratrabalhar num novo esquadrão já aprovado para funcionar. Era o início do2º/10º GAV cuja missão básica seria ligada à prestação de serviços de busca esalvamento (SAR). Aceitei e, pela primeira vez, a serviço da FAB voltava aSão Paulo.
80
3. São José dos Campos
A Guinada para o ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica
O retorno a São Paulo foi uma experiência nova. O Esquadrão de Busca eSalvamento, embora criado de forma oficial, efetivamente ainda não existiaquando me apresentei na Base Aérea de São Paulo. De acordo com a missãoque era prevista p novo Esquadrão seria equipado com aeronaves adequadasao tipo de trabalho que deveria ser executado e com pessoal treinado paraoperá-los.
A seleção dos tipos e modelos de equipamentos a serem operados porqualquer unidade aérea era uma responsabilidade do Estado-Maior daAeronáutica. A decisão recaiu sobre os Grumann SA-16 Albatross – aviõesanfíbios – e helicópteros Sikorsky H-19, ambos adquiridos da Força Aéreaamericana, portanto com alguns anos de uso. Isso requereu a contratação deempresas para inspecionar cada exemplar e efetuar revisões gerais nosaparelhos comprados.
Como consequência direta, os primeiros oficiais designados para o novoesquadrão operacional foram imediatamente enviados para os Estados Unidosa fim de receber os equipamentos e acompanhar a revisão geral.
Assim, em 22 de janeiro de 1958, ao chegar em São Paulo nada encontrei donovo 2º/10º Grupo de Aviação. Quando me apresentei ao Cel. Roberto FariaLima, Comandante da Base, recebi a incumbência de cuidar de tudo o quefosse necessário para instalar a nova unidade aérea, estabelecendo asprimeiras providências
administrativas. O hangar e as instalações operacionais e administrativasestavam absolutamente vazias, com tudo a fazer, e eu estava sozinho.
81
Foto 13 Grumann AS-16 Albatross: de fabricação norte-americana, aparelhoque inicialmente equipou o 2o/10o Grupo de Aviação, sediado na Base Aéreade Cumbica, em São Paulo.
De qualquer forma a construção civil era ampla e bem construída. Ao lado dohangar havia outras pequenas construções e todo o conjunto estava bemsituado, com a pista bem próxima e com bom acesso. O pátio de manobrasera amplo, podendo acomodar aviões e helicópteros sem nenhum problema.Assim, em termos de infraestrutura estávamos com sorte. Olhando para tudoentendi que, em primeiro lugar, precisaria conhecer a Base e saber comofuncionava para começar a coletar os meios necessários para uma operaçãopreliminar, em particular encontrar alguém que me ajudasse a conseguir umefetivo mínimo de pessoal.
Através de todos os contatos que realizava, embora já o soubesse, recebiaconfirmações de que efetivamente tinha sido a primeira pessoa a seapresentar para trabalhar no esquadrão recém-criado. Uma grande parte dosmilitares classificados na nova unidade deveria permanecer ainda algum
tempo nos Estados Unidos e somente estaria disponível após o traslado dosaparelhos para o Brasil.
No dia seguinte apresentou-se o segundo oficial designado. Era o Ten. MauroJosé de Miranda Gandra, excelente amigo e pessoa. Já tínhamos trabalhadojuntos e gostava muito do seu jeito ameno e dedicado de fazer as coisas. Omundo dá muitas voltas, e Gandra, no futuro como Tenente BrigadeiroCadete do Ar, último e 82
mais alto posto da carreira – quase 40 anos mais tarde –, transformou-se emMinistro da Aeronáutica, a partir de 1995.
Nos dias subsequentes começaram a chegar os outros oficiais designados,Major Osório Cavalcanti e o Capitão Josué Rubens Mil-Homens Costa, estevelho amigo ainda dos tempos da Escola de Aeronáutica, do Campo dosAfonsos. Gastávamos o nosso tempo a imaginar como seria a nova unidadeoperacional que recebia uma missão realmente atrativa, a de localizar aviõesacidentados e proceder ao salvamento dos tripulantes e passageiros.
Isso justificava o tipo de avião que tinha sido selecionado para o esquadrão, oAlbatross. Ele era classificado como aerobote, de asa alta e bimotor, capaz deoperar tanto na água como no solo. Tinha uma capacidade de cargaequivalente à do CATALINA e um casco mais alto, afirmando o fabricanteque poderia operar em águas mais agitadas. Era assegurado que poderiapousar em mar aberto, coisa que para o nosso velho CATALINA somenteseria autorizado em emergências muito sérias.
Esse é um aspecto da operação dos hidroaviões não muito conhecido: o seuemprego em mar aberto é sempre muito perigoso e somente deve ser tentadoem situações de emergência, mesmo em condições de mar calmo. Dequalquer modo a impressão que tínhamos desse novo avião, embora suageometria fosse mais avançada do ponto-de-vista aerodinâmico, era que aconfiabilidade de seus sistemas, de motor e de equipamentos não deveria sertão boa como os do CATALINA – a velha “pata choca”.
Os helicópteros H-19, fabricados pela Sikorsky americana, eram na épocaconsiderados aparelhos pesados. Seus motores eram ainda convencionais, istoé, utilizavam-se de pistões funcionando nos famosos ciclos alternativos.
Naquela época as turbinas estavam dando seus primeiros passos, e o númerode opções de tipos e de modelos disponíveis no mercado era, todavia,escasso.
Em termos simples, a concepção operacional para o novo esquadrão era a deque os aviões, os Albatross, nos casos de acidentes seriam encarregados dasbuscas e os helicópteros, do resgate dos sobreviventes. Era um binômio típicopara unidades de apoio ao tráfego aéreo e à proteção ao voo.
Os SA-16 e os H-19, em maio de 1995, ainda não tinham sido entregues àFAB
nos Estados Unidos. Assim, o nosso trabalho continuava sendo o dapreparação da infraestrutura de manutenção e de operação. Isso requeriamuito trabalho e havia dificuldades adicionais, pois a documentaçãodisponível não era suficiente e o contingente humano, reduzido. Nãopodíamos nos esquecer de que a missão de localizar aeronaves acidentadas eresgatar sobreviventes dificilmente poderia ter regras preestabelecidas.Infelizmente a grande maioria dos acidentes aeronáuticos ocorrem, em geral,em regiões inóspitas e de acesso comumente complicado.
83
Tornava-se importante identificar e estabelecer padrões operacionais deemprego dos meios aéreos e, ao mesmo tempo, os esquemas de treinamentopara preparar o pessoal ao desempenho das missões previstas. Através delivros e de publicações de outras forças aéreas, e também das organizaçõesinternacionais de aviação civil, era possível levantar-se um bom acervo dedados. Contudo, não nos iludíamos. Por maior que fosse o esforço naqueleperíodo, sabíamos que com o regresso da equipe, que estava acompanhando arevisão geral dos aviões adquiridos, muita coisa iria mudar.
De qualquer forma sentíamos que não se poderia perder tempo. Assim que osaviões chegassem, o trabalho aplicativo seria exigido e todos estavam bemconscientes de que, infelizmente, acidentes aéreos ocorrem a qualquermomento e em qualquer lugar.
Usava-se documentação de caráter geral, mas a sua aplicação nas condições
do Brasil, com condições meteorológicas e topográficas peculiares, precisavaser adaptada. À medida que o tempo passava, outros oficiais e sargentosforam chegando e, pouco a pouco, a nova unidade aérea começava a tomarforma. A missão era apaixonante pois tinha objetivos extremamente nobres,embora ninguém desejasse que a infraestrutura que estava sendo preparadadeveria ser obrigatoriamente usada. Procuramos, a fim de constituir aestrutura fundamental da cultura do esquadrão, conscientizar a todos e abrirque sempre trabalharíamos num horizonte caracterizado por condiçõesdifíceis. Nunca se poderia precisar o que seria necessário para localizaraeronaves acidentadas e procurar prestar socorro. Parece fácil mas, num paísde território tão extenso e acidentado como o Brasil, tudo se torna maiscomplexo, requerendo habilidade, treinamento e um paciente trabalho deplanejamento ordenado.
Um Voo que Mudou uma Vida
Embora ainda não tivéssemos atividade aérea operacional, até a chegada dosaviões em reparos nos Estados Unidos, eu continuava voando ocasionalmenteem missões da Base e mantendo minha qualificação, concorrendo à escala devoo do Correio Aéreo. A regulamentação permitia que pilotos servindo emoutras Unidades Aéreas da FAB permanecessem inscritos no COMTA –Comando do Transporte Aéreo, responsável pela operação do Correio,sediado no Rio de Janeiro. Havia requisitos fixando que, de tempos emtempos, conforme especifi-casse a escala de voo, o piloto poderia serchamado para viagens a serviço. Era uma forma de manter o treinamento e acontinuação da qualificação de Comandante e Instrutor nos Douglas C-47.
84
Foi exatamente àquela regra que mudou minha vida e definitivamente melevou ao cenário da construção aeronáutica, para aquele destino que tinhasido à base dos sonhos de menino, acalentados durante tanto tempo. Era bemverdade que, na época, tudo isso estava acomodado no fundo da cabeça. Coma perda do Zico em 1955 eu levava a vida profissional normal para os oficiaisda FAB. Gostava do que fazia e, como a maioria, tinha enorme fascínio pelovoo e pelos desafios que ele impunha, sobretudo o da aviação militar. Nãohavia perspectiva de que aquela situação e condições poderiam mudar. Euestava entusiasmado com as oportunidades que a FAB oferecia: o contato
com os aviões, os desafios técnicos e a carreira profissional, que sempre seapresentava diferente, impondo um permanente engajamento.
O tempo que passei voando CATALINA na Amazônia, no Correio daFronteira, e posteriormente a enorme experiência do Correio Aéreo Nacional,visitando praticamente todos os cantos do imenso território brasileiro,abriram amplas perspectivas; sentíamo-nos, os Oficiais Aviadores – pilotosdo Correio Aéreo –, como protagonistas importantes, contribuindo para odesenvolvimento nacional. O
trabalho que se executava, dando apoio às populações carentes, era realmentede enorme motivação. Enfim, sentíamo-nos úteis a um país, como o Brasil,cheio de carências e de contrastes sociais.
Tudo isso serviu de base para a construção de um episódio que, embora nãoprogramado, fez com que a madrugada de 20 de maio de 1958 tivesse sidomarcante e iniciado um processo de mudança, abrindo um caminho ealterando tudo o que estava fazendo até então. Hoje, olhando trás e sempreque penso no assunto, fico empolgado, sem contudo entender como uma vidaé subitamente modificada por fatores externos, por mais que se planeje e setente fazer com que as coisas pensadas possam se materializar. Seria o Zicome ajudando?
Os regulamentos do Correio Aéreo determinavam que todos os pilotos,considerados Comandantes, deveriam sempre estar qualificados para voar porinstrumentos e deveriam portar uma licença válida que os qualificasse para asoperações em condições de visibilidade restrita. Era conhecida como cartãode IFR
( Instrument Flight Rules). Aqueles autorizados a operar no Correio, comoera o meu caso, deveriam tê-la e, mais, necessitavam a cada seis mesesrenová-la, mediante exames teóricos e de voo.
O meu próximo limite para a renovação venceria em alguns dias e, paraconseguir a revalidação, haviam requisitos a serem cumpridos antes que umnovo documento de habilitação pudesse ser expedido. A estrutura autorizadaa emitir as revalidações estava baseada no Aeroporto do Galeão do Rio deJaneiro, na sede do Comando do Transporte Aéreo. Basicamente as provas
deveriam cobrir dois aspectos principais: uma prova teórica deconhecimentos do avião (no meu caso 85
particular, o avião era o Douglas C-47) e ainda conhecimentos gerais dasregras de tráfego aéreo.
O teste teórico, embora longo e extenso, podia normalmente ser realizadodurante um período de duas horas. Depois, era requerida uma prova práticaque consistia num voo com instrutor qualificado.
Procurei marcar tudo com antecedência numa tentativa de completar todos osrequisitos num único dia. Assim, na véspera, 19 de maio, decolei de SãoPaulo, no meu velho conhecido NORTH AMERICAN T6, avião no qualtinha feito meu treinamento na Escola de Aeronáutica. O tempo estava bom efoi um bom voo.
Uma hora mais tarde pude avistar o Aeroporto do Galeão a minha frente,deixando ao lado o Campo dos Afonsos, meu conhecido dos tempos deCadete.
Pousei na longa pista e estacionei junto à Sala de Tráfego. Nutria a esperançade terminar tudo naquele dia e, assim, sem perda de tempo, dirigi-me aoCOMTA para conseguir fazer os registros necessários e cumprir todos osrequisitos. Tudo arranjado, completei a prova teórica de rotina e, no períodoapós o meio-dia, consegui um avião disponível para realizar o chamado “voode recheque” que, terminando mais tarde do que tinha antecipado, levou-me apernoitar na própria Base do Galeão.
Para Oficiais de fora do Rio estavam disponíveis quartos individuais noCassino dos Oficiais. Estava realmente cansado e fui para a cama mais cedodo que o usual, com intenção de levantar voo logo após o nascer do sol,regressando de volta a São Paulo. Dormia profundamente quando,aproximadamente às 2 horas da manhã, fui acordado pelo Maj. AntenorGustavo Coelho de Souza.
Coelho era mais velho do que eu e, na época, detinha um posto na carreiramilitar mais elevado do que o meu. Gostava dele. Era um sujeito sério, poucodado a grandes explosões de humor, mas considerado inteligente e
competente. Enfim, um bom e respeitado amigo, desde quando juntosservimos em Belém. Nossas famílias tiveram a oportunidade de ser bemrelacionadas e, casualmente, tínhamos morado muito próximos um do outrona Base Aérea de Val-de-Cans. Eu tinha uma enorme admiração pelo seugrande trabalho nas áreas das telecomunicações e nutria-lhe grande amizade.Os trabalhos executados pelo Coelho, em particular na infraestruturabrasileira de proteção ao voo, eram conhecidos e respeitados.
Pedindo desculpas, e algo constrangido, Coelho disse-me que seu cartão IFR
também estava vencendo e precisaria ser rechecado com presteza para quepudesse voltar para São José dos Campos, onde cursava o InstitutoTecnológico da Aeronáutica (ITA), do qual era aluno. Ele estava matriculadono curso que o levaria a se qualificar como Engenheiro Eletrônico. Seudesejo era que eu, mesmo àquela hora da madrugada, fizesse o seu voo derecheque. Tinha conseguido um avião e as 86
fichas de voo. Somente lhe faltava o instrutor, colocando-me imediatamentecomo peça essencial no seu esquema.
Prontamente concordei e vesti-me. Decolamos lá pelas 3 horas da manhã, efoi um voo tranquilo. O tráfego aéreo naquele momento era praticamentenulo.
Seguimos os padrões fixados pela rotina e, em cerca de duas horas de voo,todos os procedimentos previstos foram cumpridos. Durante aquele períodode tempo, fiquei curioso e procurei saber mais sobre o curso no qual Coelhoestava matriculado. Fiz uma quantidade de perguntas, crivando meu amigocom uma série de questionamentos sobre o ITA, a respeito do qual sabiamuito pouco. Aproveitei-me da oportunidade para conseguir respostas.Aquilo que era inicialmente uma mera curiosidade começou a se modificar etomar a forma de um sério interesse.
Fiz todas as perguntas possíveis: o que era a instituição, como era o curso,carga de estudo, número de anos para a graduação, por que ele estava lámatriculado, etc. Como podia ocorrer que um oficial de carreira, com suasobrigações profissionais, podia sair dos quartéis e permanecer por cinco anosestudando, e assim por diante. Conforme ouvia, meu entusiasmo crescia.
Queria saber tudo e Coelho, pacientemente, foi me dando às respostas àmedida que cumpria meus pedidos de execução das manobras requeridas parao seu voo de renovação da licença de piloto do Correio Aéreo.
Subitamente ele me surpreendeu. Olhando para mim disse apenas que,naquele momento de minha vida profissional na FAB, eu preenchia todas ascondições para requerer ao Ministro da Aeronáutica a autorização paraconcorrer a uma vaga no Instituto. Se aprovado no concurso de admissãopoderia ter direito a uma bolsa integral, fazendo todo o curso de 5 anos,formando-me Engenheiro Aeronáutico, sem perder minha condição deOficial Aviador.
Quase não acreditei no que ouvi. Depois de tantos anos, de repente imaginei-me graduado engenheiro. Aquilo martelou-me a cabeça. Sim, era verdade.Desde os momentos nos quais Zico e eu tínhamos buscado escrever para oCal-Aero Technical Institute da Califórnia, nos idos anos de 1947, a ideia deque eu pudesse graduar-me como Engenheiro Aeronáutico, embora jamaisdescartada, parecia distante. Mas aquilo que o Coelho estava dizendo, dezanos depois, abria a porta para uma possível alternativa, até entãoinsuspeitada para mim.
O que ocorreu naquele momento é difícil descrever. Talvez pudessesimplesmente dizer que, naquela madrugada de maio de 1958, estavaacontecendo algo comigo que tornaria possível materializar sonhos easpirações acalentados desde os meus anos de juventude de Bauru. Quandoterminamos o voo, sentia-me diferente. A carreira de aviador militar que metinha trazido até aquele momento soava-me diferente na cabeça. O que tinhaouvido naquele voo martelava-me e construía a convicção de que aquilo nãopoderia ter ocorrido por acaso. Será que 87
Zico estaria, de onde estivesse, interferindo para que eu voltasse aos sonhosde menino? Fiquei com a forte impressão de que tinha embarcado naqueleavião como piloto e descido como engenheiro.
Era real. A minha vida tinha mudado naqueles instantes, naquelas poucasduas horas. Sentia-me outra pessoa.
Despedi-me do Coelho e, voltando para o Cassino, não consegui mais dormir.
Com o nascer do sol, tudo o que tinha ouvido começou a amadurecer. Osonho de poder qualificar-me como Engenheiro Aeronáutico tomou forma ecomeçou a ser possível. Mais do que isso, poderia ser real. O processo deprocurar ser admitido no ITA e ganhar a graduação de engenheiro de umaintenção passou a ser uma vontade que me impelia. Logo cedo estavaacordado e já não mais dominava minha ansiedade para retornar a São Paulo.Fui para a pista e, assim que as condições meteorológicas permitiram, decoleicom o meu T6 de volta a São Paulo.
Durante o transcorrer da viagem às ideias que me levariam a transformar-meem engenheiro já me dominavam. A excitação era quase incontrolável e era-me difícil passar para o terreno racional. Fazendo um grande esforço passei aexaminar quais as alternativas que teria. Precisava construir os argumentos aserem usados para abordar o assunto com o Cel. Roberto Faria Lima,Comandante da Base de São Paulo. É claro, precisaria falar com ele. Afinal oCoelho de Souza tinha deixado muito claro que um requerimento deveria serfeito para o Ministro da Aeronáutica e... aprovado por ele!
Antecipava que não seria fácil. Afinal, tinha ido à Base Aérea de São Paulo aseu convite e ele, certamente, tinha todo o direito de esperar que eu cumprisseum trabalho. Detestava a ideia de me sentir um desertor potencial, e meuComandante poderia reagir, negando a autorização para eu requerer amatrícula no curso. Para complicar, conhecia bem o seu ponto de vista sobreos “engenheiros”, aos quais não dedicava grande apreço. Creio que suasexperiências anteriores com a engenharia, e seus executores, poderiam não tersido felizes, daí sua crítica em relação a eles.
Teria também de falar em casa, embora estivesse certo de que Therezinha,minha mulher, daria todo o apoio. Morávamos na cidade de São Paulo, emuma casa recém-alugada, com nossos dois filhos, Arnaldo e Ana Maria, aindabem pequenos.
Quando avistei o aeródromo, iniciei a circulação da pista, na aproximaçãofinal, pensei comigo: “Quando as rodas do avião tocassem o solo eu deveriafazer tudo o que me fosse possível para conseguir o ingresso no InstitutoTecnológico de Aeronáutica”. Na minha cabeça em torvelinho, com umnúmero imenso de variáveis, algumas ideias começavam a se assentar, esentia que, a cada momento, a vontade consolidava-se. Taxiei para o
estacionamento e cortei o motor, vendo a 88
hélice parar vagarosamente. Demorei a saltar do avião como se estivessedifícil abandonar tudo aquilo que tinha feito até então.
Daquele instante em diante, procurei me preparar, imaginando que,possivelmente, poderia tentar falar com o Cel. Faria Lima, já no dia seguinte.Passei a viver em permanente estado de ansiedade. Fui para casa muitoanimado, preparei meus melhores argumentos, que, como imaginava, nãoprecisei usar. A possibilidade de parar de voar, ou de pelo menos reduzir aminha atividade aérea, era muito bem recebida por Therezinha. Portanto,naquela noite ganhei seu apoio e, logicamente, dos meus pequenos filhos, quepouco entendiam da minha guinada profissional. Minha outra filha, AnaMaria, tinha nascido em 1956, quando estávamos no Rio de Janeiro. Eles nãopoderiam fazer ideia do que estava acontecendo e como estávamos vivendoum momento importante para nossa pequena família. Nossas vidas seriamacentuadamente modificadas.
No dia seguinte pedi uma entrevista ao Cel. Faria Lima. A conversa, comoesperava, não foi fácil. Não errei minha previsão. Ele tentou convencer-me deque teria uma brilhante carreira pela frente como Oficial Aviador e que nãodeveria cortar esse futuro. Contra argumentei mencionando meu sonho e que,se não aproveitasse aquele momento, jamais poderia ter outra oportunidade.A regulamentação para pleitear o curso no ITA era precisa e contemplavaoficiais exatamente no ponto da carreira em que estava.
Muito a seu contragosto, com grande felicidade minha, vi-o ceder,prometendo encaminhar e apoiar meu requerimento ao Ministro, dando seuparecer favorável.
Fiquei muito grato e, com uma sensação de alívio, mas ainda nervoso, deixeiseu gabinete. Afinal era uma decisão de grande responsabilidade para umTenente Aviador da Força Aérea Brasileira.
Ao sair do gabinete do Comandante, ainda excitado, encontrei-me com oCap.
Lauro Ney Menezes, velho amigo. Ele percebeu que eu estava diferente e,
inteligente, esticou a conversa para saber mais e o que estaria acontecendo.
Menezes sempre foi realmente um sujeito competente. Tudo o que fazia,fazia bem. Sério, coerente e correto, construía rapidamente uma sólidareputação entre seus colegas de trabalho. Eu em particular sempre o admireipela sua capacidade de estudar os assuntos e sempre dar alguma ideia quefizesse sentido.
Adicionalmente a tudo isso, ele era um grande e convincente argumentador.Isto, naqueles momentos, era perigoso para minhas intenções. Quando contei-lhe sobre minha decisão de cursar o ITA e transformar-me em engenheiro,novamente ouvi a mesma peroração do Comandante, num outro esforço parame convencer de permanecer na FAB como aviador. Embora compreendendoa posição do Menezes, ele, como real amigo, não desejava que eu fizesse umabobagem, cortando meu 89
futuro profissional. Falei com muito entusiasmo e pude conseguir, pelomenos, que ele aceitasse minha guinada em relação ao futuro, mesmo quenão a aprovasse.
Na época, Menezes era o chefe da biblioteca da Escola de Aperfeiçoamentode Oficiais e, resignado, propôs ajudar-me. Prometeu comprar os livros queeu precisaria para a preparação teórica e habilitar-me a enfrentar os examesde admissão, marcados para quatro meses adiante. Efetivamente ele o fez ecolocou-os à disposição na biblioteca. Decisão tomada, agora era hora decomeçar a agir, e lembrando-me de que estávamos em maio, minhas contas jáindicavam que o tempo para estudar era curto. Consegui informar-me que oconcurso para os oficiais seria em torno de setembro – isto me dava somenteum pouco mais de três meses. Realmente um período reduzido.
Do ponto de vista dos conhecimentos teóricos eu estava necessariamente
“enferrujado”. Tinha terminado a Escola de Aeronáutica em 1951. Fazia seteanos que somente estudava operação de aeronaves. Poucas matériasfundamentais tinham sido vistas nos cursos militares que caracterizarammeus primeiros anos de Força Aérea. Teria que me dedicar a fundo, voltandoa aprender coisas que me tinham sido ensinadas no passado. O tempo eraefetivamente escasso.
Os meses seguintes foram de muito trabalho. Durante o dia na Base, e à noite,aos sábados e domingos, em casa, lançava-me no estudo das matériasprevistas no concurso de admissão que, antecipava, seria difícil. Por outrolado tinha atingido meus 28 anos, que, embora não afetassem ainda a normalcapacidade de aprender, eu sentia que não seria a mesma coisa. Iria competircom jovens bem preparados, ainda quentes dos bancos escolares e treinadospelos cursos especializados de admissão às universidades.
O ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica
A autorização do Ministério da Aeronáutica foi tranquila e chegou em julhode 1958. A excitação cresceu e o novo desafio estava lançado. Pela primeiravez na vida, depois de tantos sonhos planejados, eu poderia ser umengenheiro aeronáutico. Meus pensamentos voavam e sempre voltavam aoZico, imaginando que, se estivesse vivo, estaríamos novamente juntos. Ameta que nós tínhamos traçado, quando crianças, de construir aviões noBrasil poderia se materializar, pelo menos naqueles momentos em queimaginava começar a corrida para obter as ferramentas mentais, osconhecimentos necessários para a grande tarefa e, importante, a qualificaçãoformal. Se algo pudesse ser tentado no futuro, o título de engenheiroaeronáutico certamente pesaria fundamentalmente.
Para conseguir mais informações decidi visitar o ITA. Na realidade ele é umdos institutos que constituem a organização maior, o Centro Técnico deAeronáutica 90
(hoje, o nome foi mudado para Centro Técnico Aeroespacial). O plano, noperíodo em que o Centro foi concebido, era assegurar a operação de umainstituição ampla e baseada num tripé considerado fundamental para odesenvolvimento de uma indústria aeronáutica: ensino, pesquisa e indústria.Os idealizadores acreditavam, e estavam certos, que seria necessária para acriação de um núcleo de atividade industrial no país, nos campos de interesseda aviação, uma escola – e que teria de ser de alto nível. Foi esta a razão pelaqual o Centro Técnico começou exatamente pelo ITA e através de umconvênio firmado com o MIT – Massachusetts Institute of Technology, dosEstados Unidos. O objetivo era muito claro: formar engenheiros aeronáuticos.
Foto 14 Brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, o grande idealizador erealiza dor do ITA.
91
Posteriormente, e ao longo do tempo, outros institutos foram agregados àsinstalações iniciais: o IPD – Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento, IFI –Instituto de Fomento e Desenvolvimento Industrial, IAE – Instituto deAtividades Espaciais e IAV – Instituto de Estudos Avançados.
A chegada a São José dos Campos, que ainda não conhecia, emocionou-me.Ao entrar no CTA, encontrei um campus com ar universitário que agradava, àprimeira vista. Gostei das instalações, que me pareceram estar situadas naregião correta, amplas e no bonito vale do Paraíba.
Embora pertencente e subordinado a um ministério militar, o da Aeronáutica,o Centro Técnico gozava de uma certa autonomia. O seu Diretor era umoficial general da Força Aérea e o Reitor do ITA, um civil e de nacionalidadeamericana, indicado pelo MIT, Dr. Samuel S. Steinberg.
Seguindo os padrões da disciplina militar, logo ao chegar procurei o DiretorGeral do CTA, que era nada mais nada menos que o Cel. CasimiroMontenegro Filho, o próprio fundador do Centro e do ITA. O prédio dadireção era pequeno e acanhado – visivelmente o resultado de umaconstrução provisória. Contava-se que o Cel. Montenegro dizia que os bonsprédios deveriam ser destinados à escola, e não à administração. Assim,recusava todas as propostas para gastar dinheiro e melhorar o seu gabinete detrabalho.
Fui levado a ele assim que cheguei à sua secretária. O Cel. Montenegro erauma figura impressionante. Embora magro e de aparência frágil, seus olhosazuis e muito penetrantes colocavam o interlocutor em posição de respeito.Gostei dele no primeiro momento. Senti-me na presença de um líder.
As reações pessoais do Cel. Montenegro eram conhecidas na FAB e sabia-seque ele, em geral, era crítico em relação aos militares. Por alguma razãoguardava a impressão de que a maioria desejava ser classificada no CTA parafugir de outras atribuições menos agradáveis. No mesmo momento em que oTen. Ozires apresentou-se, o Coronel retrucou diretamente: “Você tambémestá vindo para o Centro para evitar uma transferência para Belém?”.
Surpreendido e com o respeito requerido perante um oficial superior,respondi tão polidamente quanto possível: “Não senhor, Coronel, eu estou
vindo de Belém”.
Não me pareceu que ele tivesse prestado muita atenção à minha resposta,porém aceitou minha apresentação. Qualquer coisa, ou atitude, indicou-meque ainda nos veríamos muitas vezes. Creio que se convenceu de querealmente eu estava determinado a cursar o ITA. Chamou a secretária, donaElsie – com quem no futuro teria muitos contatos – e pediu-lhe para chamar oProf. Pompéia. Algumas 92
palavras ao telefone, despediu-se instruindo-me para procurar o professor emseu escritório no ITA – ele estaria me esperando.
Um pouco frustrado pela opinião precipitada do Coronel, fui ao ITA. Adespeito da sua recepção fria eu mantive o meu alto respeito e grandeadmiração pelo espírito empreendedor e pela coragem demonstrados naconstrução daquele grande Centro. O CTA era então um enorme passo àfrente num país como o Brasil dos anos 50. Afinal, a criação de instituiçõescomo aquelas não poderia ser resultado do trabalho de pessoas comuns.
Aqueles meus pensamentos iniciais provaram, no futuro, ser verdadeiros. Nodesenvolver dos anos tornei-me amigo do Cel. Montenegro e nunca medecepcionei com ele. Justamente ao contrário, à medida que os anos seescoaram, meu respeito pela enorme figura humana de grande patriota e debrasileiro sempre cresceram.
Olhando para todos os lados, entrei por um corredor lateral, procurando peloDepartamento de Física. Naquele momento realmente fiquei outra vezsurpreendido. O Cel. Montenegro tinha me mandado falar com umimportante e um dos melhores professores entre os que conheci, Paulus AulusPompéia. Mais tarde compreendi que fora sorteado. Sem dizer nada o Cel.Montenegro tinha votado em mim; fiquei muito grato.
O Prof. Pompéia era um desses homens predestinados e vocacionados para oensino, ao qual se dedicava com enorme obstinação. Baixo, meio gordo, deolhos azuis extremamente inquisidores, era muito agradável e simpático.Preparado para receber candidatos como eu, fez alguns testes de caráterprático, usando fenômenos da Física Elementar, pedindo respostas. E deu seuveredicto: eu deveria fazer o curso. A seu ver, a análise demonstrou
características que justificariam minha decisão de prestar o concurso egraduar-me em engenharia aeronáutica.
Encorajou-me, portanto.
O Curso de Engenheiro Aeronáutico
Transferi-me para São José no final de agosto, inscrito no concurso que serealizaria em setembro. O planejamento da escola sempre previu dividir ocurso em dois períodos de ensino a cada ano-calendário. Esses períodoscompreendiam quatro meses de curso intensivo e eram sempre colocados umpor semestre. Desse modo, nos cinco anos necessários à graduação o alunotinha de completar com sucesso 10 períodos, dois por ano. No nosso caso,isto é, do pessoal militar selecionado dentro do interesse do Ministério daAeronáutica, seria um pouco diferente naquele ano, explicaram-me. OMinistério tinha retardado a decisão a 93
respeito daquela turma e, em consequência, tornava-se necessário condensaros dois primeiros períodos num único de quatro meses.
Para o nosso curso, portanto, estava fixado um período de trabalhoconcentrado que se estenderia de outubro de 1958 (logo após o concurso deadmissão) até fevereiro do ano seguinte. Isto asseguraria que aqueles oficiaisaprovados poderiam ser integrados na turma regular de alunos matriculadaem março de 1959. Com isso ganharíamos um semestre e, tudo correndobem, deveríamos nos formar na classe regular de dezembro de 1962.
Como eu previa, o concurso de admissão foi difícil. Pessoalmente estava comum misto de excitação e nervosismo. Sentia que jogava uma cartadaimportante. Tinha de vencer! Afinal, depois de tantos anos via umapossibilidade de poder percorrer um caminho almejado desde os tempos demenino.
Foto 15 Vista geral do ITA, 2007.
Foi um período de sofrimento, a semana de exames classificatórios. Por vezesavalio e não sei se os exames foram realmente difíceis. Eu estava combastante
“ferrugem”, apesar do estudo intensificado nos últimos meses, e minhavontade de não falhar era tão grande que mal conseguia respirar. O desgastefoi imenso. O
primeiro dos exames foi o de Física. Fiquei tão nervoso que, ao seu final, tiveque 94
caminhar para voltar ao normal. E fui longe, andando até a cidade, cerca detrês quilômetros distante, para chegar à praça principal – por brincadeiraconhecida como “Praça da Preguiça” – ainda ofegante e de coração oprimido.As questões da prova, para mim, não tinham sido fáceis e minha convicçãoera a de que não tinha conseguido respondê-las com o nível de correçãonecessário. Realmente suava frio.
Logo à saída da sala de provas, um colega tinha observado que o resultado deuma das questões, talvez a mais importante, era diferente daquele ao qual eutinha chegado. Minha adrenalina chegou ao máximo.
Toda a semana foi de sufoco. Cada prova era uma nova e real provação.
Finalmente veio a notícia: fui aprovado com outros nove colegas.
Corri para o telefone que, naquele tempo, somente era disponível numapequena sala das telefonistas, no mesmo precário prédio da direção geral doCTA.
Procurei chamar Therezinha para lhe dar a notícia. Tranquilamente, e nãoacompanhando minha alegria e pressa, a telefonista simplesmente disse –como estava acostumada desde há longo tempo –: “Duas horas de demora!”
Resultado: o jeito era sentar e esperar.
Em face da exiguidade de tempo, a matrícula foi imediata e iniciamosmaratona do curso concentrado que, não sem solavancos, terminamos emfevereiro de 1959.
Foi um bom massacre, com os professores seguindo o hábito da escola,colocando sobre nós uma quantidade imensa de trabalho escolar. Aquelesaprovados após a primeira maratona foram matriculados como alunosregulares do Instituto. Daí para diante juntamo-nos aos alunos civis, que nosreceberam com um pouco de desconfiança, mas a integração não demoroumuito e, em pouco, já tínhamos consolidado um círculo de amizades que semanteria por todo o futuro.
O curso de engenharia proporcionado pelo ITA é realmente pesado com umaapreciável carga de trabalho, com muitas aulas práticas. À medida que seprogride nos diferentes semestres, as matérias obrigatórias vão sendoreduzidas e substituídas por opcionais, que buscam configurar aespecialização do formando.
No meu caso particular, quase não participava das dúvidas dos alunos paraescolher o próximo passo. Todas as minhas decisões caminhavam na direçãoda especialidade aeronáutica. Minhas metas estavam traçadas e tinha certezado que desejava.
Por artimanhas do destino, progressivamente e até o final do segundo ano docurso, os 10 oficiais da aeronáutica que tinham começado comigo foramobrigados por vários motivos a sair do instituto ou trancar a matrícula. O
resultado é que acabei por ser o único militar a participar com os demaisalunos dos últimos três anos profissionais do curso. Acabei sendo o único“milico” da turma. Isto permitiu aproximar-me muito dos meus amigos ecolegas. Embora casado e com uma idade 95
bem maior do que a média dos demais, não foi difícil desenvolver grandesamizades.
Tradicionalmente, no final do segundo ano profissional, isto é, penúltimo anoantes da formatura, a turma montava uma viagem à Europa com o objetivo devisitar fábricas e aprender um pouco mais sobre as especialidades que cadaum estava tentando conquistar. A nossa viagem ocorreu no inverno europeude 1961.
Fui eleito coordenador pelos alunos e convidamos para nos liderar dois dosnossos professores: no lado da Aeronáutica, Jacek Gorecki, e na Eletrônica,Richard Wallauschek. Eles foram ótimos e fizeram um grande trabalho.Nunca mais os esquecemos, e mereceram uma grande gratidão dos alunos.
A viagem tornou-se possível graças ao patrocínio das empresas brasileiras,em geral subsidiárias das companhias estrangeiras a serem visitadas. Coletardinheiro não era fácil; assim, um pouco de autofinanciamento (difícil em facedos recursos reduzidos da maioria dos alunos) tornou-se necessário. Do meulado, muito ajudado pelo Coronel Montenegro, conseguimos uma expressivacolaboração do próprio Ministério da Aeronáutica. Foi cedido um aviãoDouglas DC-4, então equipando o Correio Aéreo Nacional, para nostransportar do Rio até Lisboa. Nossa viagem teve, portanto, de começar porPortugal.
A viagem foi um sucesso. Serviu muito para consolidar amizades e aaproximação entre os alunos, além de nos dar uma excelente exposição nasmelhores empresas industriais europeias. Somente o que aconteceu naviagem daria material para um livro. Até hoje todos nos lembramos dela e depassagens que vivemos que se tornaram inesquecíveis.
Após dois meses na gelada Europa de janeiro e fevereiro retornamos paraentrar na reta final do curso, que implicava na realização de um denominadotrabalho individual (TI, como o chamávamos). O tema que escolhi foi
considerado difícil, mesmo pelo professor que seria o orientador. Veio-me àcabeça a ideia de instalar tanques de combustível nas pontas das asas doNORTH AMERICAN T-6 (meu velho conhecido dos tempos do estágioavançado da Escola de Aeronáutica), buscando dar ao avião uma autonomiaextra de voo. Todos os pilotos, embora gostassem do avião, reclamavam dapequena quantidade de combustível que seus tanques armazenavam. Aquantidade disponível permitia-lhes voar um pouco mais de 3
horas. Se essa quantidade pudesse satisfazer nos voos de treinamento, que eraa especialidade básica do avião, certamente era mais do que insuficiente paraviagens de deslocamento, especialmente num país das dimensões do Brasil.
Meu orientador, Prof. Octavio Gaspar Ricardo – um dos mais competentesprofessores com quem tive a oportunidade de conviver, especialista emestruturas aeronáuticas e com uma facilidade invulgar para a solução deproblemas que envolviam estruturas complexas –, disse-me que talvez nãopudesse completar o 96
TI. Argumentava ele que, além do projeto que eu seria obrigado a executar,teria que fabricar os dois tanques para instalá-los nas pontas das asas doavião. O meu TI teria que oferecer demonstração prática.
As preocupações do professor procediam. Ele, como experiente engenheiroda antiga Companhia Aeronáutica Paulista (CAP), tinha participado doprojeto e da fabricação dos famosos CAP-4 “Paulistinha” e estava bemconsciente de que o CTA não conseguiria oferecer as matérias-primas e asmáquinas necessárias para a fabricação das peças. De qualquer modoestimulou-me a prosseguir com a recomendação de que seria necessáriocompletar o trabalho, para não perturbar o processo de graduação e daformatura.
Animei-me com o desafio e comecei a trabalhar. Em pouco tempo o projetoestava pronto. Foi uma boa experiência, onde coloquei em prática grandeparte dos conhecimentos auferidos nos cursos de estrutura. Para os trabalhostécnicos consegui a colaboração de uma pessoa extraordinária, dedicada epolivalente, o Sargento Eugênio Dillemburg. No futuro voltei a contar comele no engajamento do pessoal necessário para a fabricação dos protótiposque precederam a criação da EMBRAER.
Com um pouco de pesquisa, descobri que talvez pudesse conseguir ajuda noParque Aeronáutico do Galeão, onde no passado os Fairchild T-19 tinhamsido fabricados. Na época do Campo dos Afonsos, quando no CAN (CorreioAéreo Nacional, no período de 1955 a 1958, vez por outra pude desenvolveralgum contato com o pessoal do Parque e, aproveitando-me de algumasdessas conexões do passado, fui ao Rio conversar com o Diretor). Lá foipossível selecionar o material, chapas de alumínio de uma liga facilmentemoldável e típica para a fabricação de tanques, além de rebites, tubos, etc.
O Diretor e os próprios funcionários interessaram-se e dispuseram-se aajudar, sem custo, é claro. Os Trabalhos Individuais (TI) do ITA não previamo dispêndio de recursos pelo Instituto. Assim, os alunos deveriam mostrariniciativa e conseguir os apoios materiais ou financeiros necessários. Oobjetivo, além de não comprometer o Instituto com despesas era estimular oespírito criativo e empreendedor dos alunos.
Vasculhando nos depósitos antigos, descobrimos alguns moldes de madeira,apropriados para serem utilizados numa antiga prensa hidráulica existente. O
trabalho de adaptação do meu projeto aos moldes encontrados foi fácil e valiaa pena o aproveitamento. Não é notoriamente simples prensar chapas dealumínio para conseguir as formas de dupla curvatura, que era do que eunecessitava. Fiquei entusiasmado quando descobrimos a existência daquelesmoldes, os quais permitiriam conformar o revestimento externo na formaelíptica que eu tinha selecionado. Os técnicos do Galeão foram prestativos e,seguindo meus desenhos, 97
fabricaram as peças internas de reforço estrutural e os componentes dosdiferentes sistemas de circulação do combustível. Com o material nas mãos,voltei ao CTA e consegui que um bom artífice do Departamento deAeronaves fizesse as soldas necessárias. Era o Celeste, considerado um dosmelhores soldadores de alumínio da área. Dillemburg completou o trabalhode preparação dos tubos e, já quase no final do ano, consegui terminar ostanques.
O que muito me ajudou foi a amizade com o Major Hugo de Oliveira Piva,velho amigo da Escola de Aeronáutica e formado oficial aviador dois anosantes da minha Turma. Ele tinha seguido o caminho que agora eu percorria e
já era graduado como Engenheiro Aeronáutico, graduação que eu desejava.Conseguiu seu diploma em 1958 e recebeu do ITA a mais destacada mençãohonrosa: Suma cum Lauda, tal o diferencial de sua performance como aluno.Na época em que fazia meu trabalho individual, Piva era o Chefe doDepartamento de Aeronaves e também professor de ensaios em voo da nossaturma de alunos. Falei com ele e prontamente fui autorizado a instalar no T-6da Divisão de Voo do CTA os meus tanques de asa. Cabe observar queatitudes deste tipo não são normais num Brasil burocratizado e preso arestrições e normas escritas. Assim, é possível imaginar minha alegriaquando, preocupado com as postulações que fazia (consideradas fora doregulamento), encontrava ressonância entre os responsáveis que secolocavam em posição de ajuda e de contribuição.
O trabalho de instalação foi completado com presteza e o avião ficou pronto,e, diria eu, mais bonito. Era clara a apreciação e a admiração pelos NORTHAMERICAN
T6 do pessoal da FAB, por aquele avião que, embora sua configuração detreinamento, tinha um “jeito” de avião de caça da II Guerra Mundial.
Após os testes de terra, muito preliminares e de caráter direto, eu própriodecidi fazer o primeiro voo na nova configuração que, de pronto, me pareceuum sucesso.
As qualidades de voo do avião melhoraram um pouco, graças às novas“cercas”
aerodinâmicas, instaladas sob a forma de tanques nas pontas das asas. Isto eraesperado, conforme entendia eu do ponto de vista técnico. A estabilidade e ocontrole do avião foram um pouco alterados, mas para melhor. O bom detudo era que o sistema de combustível funcionava perfeitamente. Devido aodiedro* das asas e à pressão dinâmica que eu tinha decidido introduzir nointerior dos tanques, a gasolina fluía com perfeição, ficando claro que opiloto poderia selecionar, com segurança, todas as alternativas possíveis paraalimentar o motor – os tanques principais ou os de ponta-de-asa.
*Diedro é um ângulo aplicado nas asas dos aviões, hoje de formageneralizada, que as defletem para cima (da ordem de uns 10 a 15 graus
para cima) e que muito ajuda ao avião se 98
manter equilibrado lateralmente e melhora sua estabilidade longitudinal
Foto 16 North American T-6: equipado com tanques de combustível deponta-de-asa, como trabalho de formatura no ITA, em 1962.
Os potenciais problemas no funcionamento no sistema de alimentação dessemodo não se consumaram. A única modificação requerida, após os primeirostestes, foi a instalação de uma válvula montada na cabine do piloto. Essaválvula permitiria selecionar um tanque de cada vez, e caberia ao pilotomonitorar o consumo de cada lado, e assim para manter os pesos docombustível equilibrados durante o voo.
Fiquei feliz quando Piva desejou fazer ele próprio um voo no T-6modificado.
Todavia, logo na decolagem assustei-me. Observando do solo, com enorme
preocupação vi o Piva subir rapidamente e começar a fazer todas as manobrase acrobacias que desejava, não se importando absolutamente com os novostanques de ponta-de-asa. Ele voava sobre o aeródromo, como se estivessefazendo a coisa mais corriqueira do mundo, puxando loopings e manobrandoa altas velocidades.
Eu do meu lado nem respirava. Os testes estruturais sempre requeridos nãotinham sido feitos e, se um dos tanques desprendesse, a assimetria resultantenão 99
permitiria o voo do avião. Piva confirmava sua enorme coragem pessoal e seugosto pelos desafios.
Enfim, ele pousou, terminando meu sufoco. Nada aconteceu e meu amigoretornou ao solo, feliz da vida. Disse ele, com a maior tranquilidade: “osnovos tanques estão uma joia”. Meu coração voltou ao normal.
Naquela época o nosso querido Diretor, o Cel. Montenegro, foi promovido echegou ao generalato. Nada mais justo, dizíamos, há muito é que ele deveriaser Brigadeiro. No novo posto o Brigadeiro escolheu para ajudante de ordenso Cap.
José Bérgamo, seu auxiliar de longa data. Foi então que tive umademonstração do funcionamento dos meus tanques instalados nas pontas dasasas do T6. Contou-me Bérgamo que, numa tarde, tinha decolado deFlorianópolis em voo direto para São José dos Campos. Assegurou que ficouperdido por mais de uma hora em consequência do mau tempo e, se não fossea autonomia extra conseguida pela capacidade adicional de combustível, eleteria caído no mar. Assim, embora eu não concordasse, pois estou seguro deque ele não teria programado o voo sem escalas com o T6 em suaconfiguração de fábrica, ele estava feliz e muito grato. Fiquei contente, osistema tinha funcionado a contento, e o Bérgamo pôde continuar a contarseus casos para todos nós.
O meu TI foi aprovado e consegui completar as marcas requeridas peloInstituto.
Foi meu primeiro projeto na recém-iniciada carreira de engenheiro
aeronáutico.
Parei um pouco e pensei. Como são estranhos os caminhos. Nos meus 15anos de idade, sonhava ser engenheiro e não conseguia vislumbrar como oconseguiria.
Agora estava eu, após percorrer durante 17 anos outros caminhos, chegando àminha meta. Era curioso. Mas não experimentava a sensação de vitória. Aocontrário, tinha uma forte convicção de que não estava chegando a um fim.Para mim era apenas o início de uma nova jornada e muitos outros passosdeveriam ser dados.
O dia 12 de dezembro de 1962 foi muito quente. Acabávamos de participarda cerimônia de formatura. Fiquei surpreendido. A congregação do ITAconcedeu-me um prêmio importante, a medalha Osvaldo Nascimento Leal.Era um reconhecimento pelo esforço realizado no campo da EngenhariaAeronáutica. Era o primeiro reconhecimento que recebia na minha novacarreira.
Com muito cuidado ainda carregava o diploma, confesso, todo arrepiado deentusiasmo, abraçava Therezinha, minha esposa, e meus dois filhos, Arnaldoe Ana Maria, meus permanentes aliados, sentindo-me realmente feliz. Meupensamento voltou-se rapidamente para o Zico. Ele fazia falta naquelemomento que poderia ser não somente meu, mas nosso! Tinha a sensação deque ele estaria me acompanhando e dando-me a força necessária nos passosque deveríamos vencer juntos! Naqueles momentos tinha a certeza de que,dali para diante, seria possível 100
encontrar os caminhos para me envolver com a construção aeronáutica.
Dependeria somente do que faria em seguida.
Estava perdido nos sonhos e, subitamente fui acordado. Com o colorido dacerimônia ainda vivo na minha mente, meu amigo Piva aproximou-se econvidou-me para trabalhar com ele no Departamento de Aeronaves doInstituto de Pesquisas e Desenvolvimento, ou seja, no PAR. É claro queaceitei. O CTA estava nos meus planos. Se alguém quisesse, naquela época,fabricar algo no campo aeronáutico, certamente deveria estar vinculado ao
Centro. E começava no lugar certo o PAR – Departamento de Aeronaves doInstituto de Pesquisas e Desenvolvimento.
O trabalho no Departamento de Aeronaves - PAR
Três semanas depois, já em janeiro de 1963, apresentei-me ao PAR comoEngenheiro Aeronáutico do ITA. Quem dirigia o departamento era o CoronelLuiz Carlos dos Santos Vieira, tendo o Piva como vice chefe.
O Cel. Luiz Carlos era naturalmente um homem dinâmico. Não sei se ele osabia, mas seu apelido era “Maçarico”, tal a dinâmica que procurava colocarno seu trabalho. Já o conhecia anteriormente, através do cargo que exercia nocampo da manutenção no Parque de Aeronáutica de São Paulo, comosegundo homem abaixo do então Cel. José Vicente Faria Lima – futuroPrefeito de São Paulo. Era razoavelmente comum que eu viesse de Belém,compondo tripulações que trasladavam aviões para reparos maiores noParque. Acabamos fazendo amizade.
Assim, quando me apresentei no PAR, na realidade vinha para trabalhar comdois amigos, ele e Piva. Ambos dedicavam-se a buscar novos caminhos etentar diversificar a missão da organização. Isso era necessário, uma vez queprojetos em curso, iniciados com um grupo de alemães liderados pelo Prof.Henrich Focke –
renomada e reconhecida autoridade alemã no campo dos projetosaeronáuticos –, tinham sido interrompidos, em face da ausência de recursospara prosseguir nos objetivos que se tinha traçado no começo da década de50. Frustrados com a situação reinante e sem visibilidade de alternativas, agrande maioria dos alemães acabou por retornar à Europa, onde os Governosdos países, emergindo das dificuldades geradas pela Segunda GuerraMundial, buscavam especialistas para retomar as atividades econômicas,colocando em ação programas enérgicos e criativos de incentivo aodesenvolvimento científico e tecnológico.
Portanto, chegando ao PAR naquele janeiro de 1963 encontrei um períodoem que tudo estava aberto para mudanças. Sempre ligado ao pensamento defabricar aviões, aceitei de bom grado todas as incumbências de me envolvercom os pioneiros que gravitavam em torno do CTA. Paralelamente, do ponto
de vista 101
funcional, fiquei diretamente subordinado ao Piva. Ele, aproveitando asoportunidades geradas pelas ideias de diversificação, a mim atribuiu otrabalho de organizar e dirigir uma Divisão de Ensaios em Voo, na qualdeveríamos procurar desenvolver técnicas para testar aviões, coletar dados,processá-los e estabelecer bases comparativas entre os diferentes métodos deavaliação das características de voo das aeronaves. O trabalho prometia serinteressante, pois envolveria pesquisa e desenvolvimento de metodologias demedida e processos de análise, já que a autoridade brasileira para homologarou certificar aeronaves cabia ao CTA.
Estávamos dando os passos fundamentais para o estabelecimento de umsistema de certificação e de homologação, de aviões, equipamentos ecomponentes, algo de caráter fundamental para a aprovação oficial de novosprodutos aeronáuticos.
Foi nessa época que conheci Michel Cury, também Engenheiro Aeronáuticopelo ITA, formado um anos antes da minha turma. O amor comum pelaaviação nos uniu e nossas vidas, dali para diante, sempre estariam de ummodo ou de outro ligadas.
Trabalhamos muito no período, e os contatos que mantínhamos com outrasorganizações do exterior ajudaram muito. Em consequência de um acordofirmado entre o Brasil e a França, o CTA pôde mandar vários engenheiros afazer cursos ou estágios de aperfeiçoamento em entidades francesasdedicadas ao mesmo tipo de trabalho que o PAR procurava desenvolver.Muitos desses engenheiros, ao regressar, ou ficavam trabalhando conosco noCTA ou saíam para a criação dos seus próprios empreendimentos que, comose poderia desejar, eram para trabalhar no campo aeronáutico.
Este também foi o caso do Eng. Ozílio Carlos da Silva, da mesma turma doMichel
- diplomada em 1961, que regressou da França cerca de 6 meses após minhaapresentação no PAR. Do mesmo modo, assim que chegou começamos atrabalhar juntos, sempre com o mesmo objetivo de contribuir para ospropósitos da construção aeronáutica brasileira.
Anos antes, ainda durante o período do curso, Ozílio e eu fizemos um contatocasual em face da similaridade dos dois nomes: Ozílio e Ozires, e, ainda, osdois Silva. Estávamos no célebre reduto das telefonistas do CTA, pedindoligações telefônicas, eu para São Paulo, para minha esposa, e ele paraUberlândia, desejando falar com a namorada. Num momento a telefonista,com o sotaque do vale do Paraíba, chama um Ozi... qualquer coisa. Eleatendeu. Não era a sua ligação, era a minha. Nunca nos esquecemos daqueleprimeiro contato e não sabíamos que voltaríamos a nos encontrar. Mais doque isso, não poderíamos antecipar que durante décadas dividiríamos asresponsabilidades na direção de uma futura fábrica de aviões.
Era nítida a capacidade de irradiação do CTA para a fixação de tecnologiasnacionais no campo da aeronáutica. Quando o Brig. Montenegro e sua equipe102
elaboraram o plano diretor do Centro tinham isso em mente, mas creio quenão imaginavam que aquela semente germinaria em tantas árvores. Estava aliviva e claramente demonstrada a tese do valor da educação, modificandohomens e seus futuros, com um poder de progresso e de alavancagem dasociedade, para o seu desenvolvimento, realmente inimagináveis.
Nossas discussões eram sempre centradas nas ideias de fabricação de aviões,as quais estavam sendo polidas. Apoiávamos, no que nos era possível, todasas pequenas empresas empreendedoras, em geral criadas por Iteanos* e quesempre dependiam do CTA para defender seus interesses. Contudo, aslimitações de recursos financeiros eram grandes e, por mais que nosempenhássemos, não conseguíamos todas as soluções que perseguíamos. Naminha cabeça foi ficando claro que estávamos sendo incapazes de gerar umamotivação nacional adequada que pudesse acionar o que os políticos semprerotularam de “vontade política”.
Por outro lado, todos os aviões em desenvolvimento – que não eram poucos –
eram pequenos e visavam a segmentos de mercado que não provocavamrepercussões nos centros de decisão.
* Iteano é a marca de graduado pelo ITA. Criada pelos primeiros alunos quefrequentaram o Instituto ainda é comumente usada.
Havia outro aspecto que me parecia fundamental. Era claro que todos osesforços para a criação de um novo avião estavam baseados numa possíveldemanda, isto é, os engenheiros dedicados à tarefa imaginavam que seusprodutos, uma vez prontos, poderiam ser fabricados e comprados porinteressados que, acreditavam, existiam. Pouco a pouco fui entendendo queesse era um ponto importante a ser analisado, e muitas vezes o que sepensava poderia não ser realidade. Isso explicava, de algum modo, o fatoconhecido de que, dentre as centenas de protótipos de novas aeronavesprojetadas e desenvolvidas no Brasil, apenas cerca de uma dúzia tinha sidofabricada em série e, mesmo assim, para atender contratos conseguidos com oGoverno. Essa linha de pensamento acabou por se constituir numa semente,dentre todas as ideias que precisariam materializar-se para que projetosviáveis tomassem corpo. Assim, seria essencial imaginar que, se um diaviéssemos a fazer aviões, teríamos de escolher um modelo que interessassefortemente ao setor privado. Seria possível? Ainda não o sabia.
Em 1961, São José dos Campos já ensaiava os primeiros passos no rumo desua vocação aeroespacial e naquele ano nascia a AVIBRÁS, por iniciativa deum grupo de engenheiros formados pelo ITA, Aloysio Figueiredo, João Verdide Carvalho Leite, José Carlos de Souza Reis e Olimpio Sambatti. JoãoVerdi, antecipando seu talento como empresário e empreendedor, logoassumiu as funções de gerente da empresa, tornando-se não somente seucriador, também seu primeiro empregado.
103
O primeiro projeto da recém-criada empresa foi um avião de treinamento epara as ligações operacionais da FAB. O projeto foi denominado“ALVORADA” e acabou por ser formalmente contratado pelo CTA, sob asigla IPD 6101.
Um ano depois, movida pelo espírito da conquista e pela vontade de crescer,a AVIBRÁS começou a trabalhar em um projeto inovador para o seu tempo –o
“FALCÃO”. Era um pequeno avião de treinamento, de dois lugares,fabricado com materiais compostos (madeira e resina epóxi). Foi um projetomuito interessante e que dava ênfase a formas aerodinâmicas cuidadosas,usando de modo acentuado placas formadas em dupla curvatura. Osresultados levaram a um avião bastante eficiente, capaz de uma performancediferenciada, em particular nas distâncias de decolagem, razões de subida evelocidade de cruzeiro, embora equipado com um motor de apenas 65 HP.
O primeiro protótipo do “FALCÃO” voou pela primeira vez no dia 23 deoutubro de 1962, numa homenagem ao Dia do Aviador. Justamente os
avanços aerodinâmicos incorporados deram ao avião alguns tipos decomportamento dinâmico que requereram engenhosas soluções. O MajorPiva ficou entusiasmado com a natureza dos problemas a resolver. Elepróprio engajou-se nas discussões com os engenheiros envolvidos, na buscade soluções.
Foto 17 Avião Falcão, da Avibrás.
104
Pouco mais tarde, o Eng. Carlos Gonçalves, iteano da turma de 1960,seguindo a mesma linha de procurar espaço na construção aeronáutica, que seiniciava, e como fruto do espírito do ITA, criou em 1962 a AEROTEC. Aempresa começou suas atividades em São José dos Campos, projetando oA.122 “UIRAPURU”, o qual mais tarde transformou-se no T-23 que operoupor muitos anos como avião primário de treinamento na academia da FABem Pirassununga. Gonçalves foi um real lutador.
Perdemo-lo muito cedo, pois morreu antes de conseguir fazer com que suaAEROTEC tivesse o sucesso que desejava.
Um trabalho de destaque na época era o da Sociedade ConstrutoraAeronáutica Neiva Ltda., que, após produzir mais de 250 aviões“Paulistinha”, tinha lançado o desenvolvimento de um monomotor de asa altapara o transporte de até quatro passageiros, sob contrato do Ministério daAeronáutica. Esse projeto, apoiado pelo CTA, recebeu a designação de IPD5901. Quando entrou em produção seriada – na época em que me engajei noPAR –, tinha sido designado REGENTE N-360 e havia intenção de lançá-lono mercado civil. Engajamo-nos todos no trabalho de convencer o Ministérioda Aeronáutica a fazer uma encomenda e colocá-lo em serviço na FAB. Nãofoi um processo fácil, mas em 1963 foi autorizada a assinatura de umcontrato para a fabricação de 120 unidades do avião.
Foto 18 Avião Aerotec A.122: Uirapuru, mais tarde T-23 na FAB.
105
Naquela época, o Diretor da Neiva, José Carlos de Barros Neiva, decidiuinstalar seu escritório de projetos em São José dos Campos, para ficar ao ladodo CTA. A Chefia do grupo de projetos foi entregue a um entusiasmado ecompetente húngaro de nascimento, mas radicado inteiramente no Brasil,Joseph Kovacz. Um dos primeiros trabalhos do novo escritório foi o deprojetar o “UNIVERSAL”, o qual, sob encomenda do Ministério daAeronáutica, estava destinado a ser incorporado na Academia da Força Aéreacomo treinador básico para a formação de pilotos militares.
Foto 19 Avião Regente de projeto da Neiva.
No nosso país nunca faltaram pioneiros no campo da aviação, não somente naconstrução como também na operação. O projetista Willibald Weber foi umbom exemplo de empreendedor. Em 1955 tinha deixado a empresa Omareale, por iniciativa própria, desenvolveu o W.141, que era um monomotor de asaalta, de construção metálica com excelente acabamento, bom desempenho ecapaz de transportar quatro passageiros, confortavelmente sentados. “Willy”tentou muito lançar sua produção seriada e investiu bastante no processo dehomologação.
Infelizmente, como comentei com ele várias vezes, o avião estava maispesado do que os potenciais concorrentes, embora apresentasse condiçõesoperativas, em muitos casos, superiores aos aparelhos que o Brasil importavana época.
106
Foto 20 Treinador Básico Universal desenvolvido pela Neiva.
Quando nos sentávamos para discutir, ou melhor, para “filosofar” sobre ofuturo, analisando o quadro insistentemente eu voltava sempre à minha tesede que o problema poderia estar na nossa capacidade de apenas criar projetosque
“não sacudiam a poeira”.
Procurei envolver-me com tudo o que era apresentado ao Centro Técnico.Não era difícil “puxar a brasa para a nossa sardinha”, afinal estávamos noDepartamento de Aeronaves. Era lógico que, sempre que se falava de avião,tinha que ser conosco. Estava realmente disposto a tentar ajudar mas, naépoca, faltavam-me dimensão hierárquica e recursos. Afinal era apenas umCapitão da Força Aérea, recém-formado em Engenharia Aeronáutica. Eramuito pouco para mexer com a “poeira”. De qualquer forma, o processo deenvolvimento deu-nos a responsabilidade de atuar como organização que
gerenciaria todos os contratos de desenvolvimento de aeronaves ou deequipamentos, firmados pelo Governo, acompanhando e fiscalizando a suaevolução e as diferentes fases de fabricação.
107
Por outro lado, em função das responsabilidades legais do próprio CTA,também trabalhávamos, em conjunto com as empresas, nos processos formaisde homologação dos produtos, que no Brasil ainda ensaiava os primeirospassos.
Todavia, estávamos conscientes de que ela era um fator determinante para aaprovação de tudo que fosse considerado aeronáutico. Tínhamos a convicçãoque aquele seria um dos primeiros passos e que tudo teria de evoluir umbocado para o futuro. O processo de aprovação de produtos aeronáuticossempre dependeria de pesados e extensos testes, ensaios e verificações quepossam garantir a segurança operacional, o funcionamento e a integridadefísica do produto final produzido. O
conceito tem origem na natural necessidade de garantir que os aparelhos e aspessoas ligadas à operação sejam permanentemente protegidos quanto ariscos.
Era claro para todos que este programa seria caro, demorado para serinstituído e profundamente dependente de investimentos que, antecipávamos,não seriam nada baratos. Precisávamos sonhar um bocado e pensar que umdia chegaríamos a um final possível e necessário.
A experiência adquirida pela equipe do PAR, para elaborar e fiscalizar oscontratos governamentais de desenvolvimento de novos aviões, foi valiosa,como os eventos futuros vieram demonstrar. Tendo compreendido asdificuldades encontradas pelas empresas em suas atividades pioneiras, foipossível entender os mecanismos essenciais para formular soluções e buscarnovos caminhos. O mais importante era como antecipar e superar problemasque apareciam abundantemente. É claro que sobrava vontade para queconseguíssemos produzir aviões no país. O que impedia era a escassez demeios financeiros, que sempre funcionaram como um freio nos objetivoscrescentemente maiores que desejávamos atingir.
Uma das grandes dificuldades era encontrar espaço no próprio mercadobrasileiro, inteiramente dominado pelos produtos importados. Por outro lado,os mecanismos legais, tributários e financeiros para o funcionamento dasempresas nacionais eram, no mínimo, hostis. Assim, quem decidisse lançar-se no negócio de fazer aviões no Brasil deveria ser muito mais do queempresário: deveria ser idealista e absolutamente desprendido dos valoresterrenos. As condições, comentávamos, colocavam-se mais ou menos como ocachorro a tentar morder o próprio rabo. Sem recursos, bons aviões nãopoderiam ser fabricados, e bons aviões não eram produzidos porque nãohavia recursos. A pergunta permanente: como romper aquele círculo vicioso?
Na área técnica, os trabalhos do PAR cobriam análises de relatórios,verificações de sistemas, medidas de desempenho e de qualidades de voo,além dos ensaios estruturais requeridos como critério de aprovação final. Asempresas eram muitas, todas com intenção de crescer e exercer algumaatividade na área da Aeronáutica.
108
Como era óbvio, os engenheiros graduados pelo ITA, ocupavam as posiçõesmais importantes. Era a velha aspiração (inspiração) do Brig. Montenegrofuncionando.
Paralelamente, Piva e eu atuávamos como professores do ITA na cadeira deEnsaios em Voo. Esses cursos habilitaram-nos a conhecer novos alunos quemais tarde viriam a colaborar com nossos programas. Enfim, a experiênciaque fui acumulando naquele período foi variada e requeria uma quantidade deações criativas para manter tudo em atividade.
Em 1964, o Cel. Luiz Carlos deixou a Chefia do PAR, com planos de passarpara a reserva da FAB, deixando o serviço ativo. Ele era um extraordinário edinâmico chefe, sempre carregado de boas ideias, as quais serviram dealicerce para os passos que daríamos no futuro. Como era natural, Piva foidesignado para substituí-lo.
Após poucos meses materializou-se uma pretensão que o Piva acalentava hámuito tempo. Ele desejava prosseguir com seus estudos e trabalhar para obtero seu doutorado que, em face das circunstâncias e do nível da Engenharia
Aeronáutica no Brasil – ainda insuficiente, teria de ser feito no exterior. Aoportunidade que surgiu era ótima e iria levá-lo a cursar uma das melhores ereputadas escolas do mundo no campo da aeronáutica – o CALTECH(California Institute of Technology) de Pasadena, nos Estados Unidos. Dentroda permanente política do Ministério da Aeronáutica de formar recursoshumanos – que sempre rendeu grandes dividendos, como o próprio ITA, porexemplo – ele teve sua viagem aprovada, com provisão de recursos parapermanecer quatro anos nos Estados Unidos até o doutoramento. Arrumadasas malas, Piva partiu em setembro de 1964, cabendo-me continuar sua tarefae dirigir o PAR, já promovido a Major Aviador Engenheiro.
Quando coube a mim a responsabilidade de assumir a Chefia doDepartamento de Aeronaves devo confessar que vi, pela frente, a estradaaberta para a materialização do sonho do avião brasileiro. É bem verdade queo trabalho que executávamos já estava nessa trilha. Com auxílio do CTA,estavam em curso os projetos de muitos outros aviões. Na época, a Neiva jáproduzia REGENTE em cadência normal, graças à encomenda da FAB, naaprovação da qual tínhamos trabalhado intensamente. As entregas estavamsendo efetuadas, embora um pouco atrasadas no cronograma contratado. OMinistério da Aeronáutica tinha solicitado ao CTA, em adição, quecontratasse com a própria Neiva o projeto do
“UNIVERSAL”. Este avião a FAB realmente precisava dele. Era um produtoque deveria ser colocado em serviço para o treinamento básico aeronáuticodo Cadete, futuro Piloto Militar.
Nossa equipe do PAR trabalhou intensamente na preparação do contrato e,posteriormente, como Chefe do Departamento, fui designado representantedo 109
Governo perante a empresa. Naquela época intensificaram os meus contatoscom o Joseph Kovacz, projetista-chefe da Neiva, o qual foi o responsávelpela criação do
“UNIVERSAL”.
No entanto, do ponto de vista profissional, embora estivéssemos exercendo onosso papel de autoridade aeronáutica homologadora, embora não se
comentasse entre nós, não estávamos contentes com o nosso desempenho eparecia que faltava algo. O Departamento de Aeronaves vivia o drama dabusca de pelo menos um programa, com um plano permanente de trabalho,financeiramente viável e contido dentro das programações nos orçamentosfederais.
Por outro lado, o Brasil ainda vivia com intensidade o traumatismo políticogerado após a revolução de março de 1964. O General Castelo Branco, comorepresentante dos militares, exercia o poder como Presidente da República epromovia reformas que marcariam o país por, pelo menos, duas décadasfuturas.
Era tempo de construir e buscavam-se investimentos para conseguir odesenvolvimento e a paz por todos almejada.
A Contratação de Max Holste
Estávamos em março de 1965. A busca de novos caminhos estavapermanentemente povoando nossas cabeças. Não se poderia justificar nossotrabalho, embora importante, sem algo que pudesse ser de impacto na opiniãopública, sobretudo a da nossa Aeronáutica Militar.
Um dia, sem que antecipássemos algo, aconteceu um ponto de inflexão quemudaria tudo. Era noite e já estava em casa, quase preparado para encerrar asatividades do dia, quando o Presidente da Neiva, José Carlos de BarrosNeiva, telefonou-me perguntando se poderia receber e conversar com o MaxHolste, conhecido construtor francês de aviões, mesmo em casa. Tenteiargumentar, levando em conta a hora e propondo um encontro logo cedo noPAR. Contudo, não se encontrou alternativa: Max iria partir no dia seguintepara a França, não se abrindo, portanto, nenhum outro modo paraconversarmos, e José Carlos considerava nosso encontro importante.Concordei, e eles chegaram quase uma hora depois. Vinham juntos DouglasArcuri, um colega formado pelo ITA na Turma de 1957 e Joseph Kovacz,projetista da NEIVA.
A intensidade com que estávamos trabalhando já nos ajudava a conquistarespaços com as autoridades da FAB, embora tudo o que estava sendo feito,nós considerávamos insuficiente. Os próprios contratos, que o Ministério da
Aeronáutica nos passava, eram prova de que o trabalho começava a serreconhecido. Havia poucas semanas que, em consequência direta de umasucessão de acidentes ocorridos no transporte aéreo – nos quais significativonúmero de 110
vidas tinha sido perdido –, nossa equipe estava participando, noDepartamento de Aviação Civil (DAC) e sob coordenação do Estado-Maiorda Aeronáutica, de uma comissão para estudar mecanismos para melhorar asegurança operativa das empresas e das aeronaves de transporte aéreo. Nofuturo, o que se fez naquele período foi muito útil para estabelecer as basesdo programa que tínhamos em mente para consolidar uma indústriaaeronáutica no país. Entretanto, ainda não nos ocorria que programa seriaeste.
Era bem verdade que no passado o PAR tinha tentado ser fiel à sua vocaçãoinstitucional de projetar e construir aviões, como tinha sido o caso dos doisprojetos, iniciados pelo grupo do Prof. Focke. Infelizmente nenhum dos doisteve condições de prosperar, em face do arrojo das concepções, em flagrantedesacordo com nosso incipiente desenvolvimento aeronáutico.
Piva tinha tentado prosseguir, sem conseguir resultados.
Todavia, para mim, agora com a responsabilidade de dirigir o Departamento,compreendi que não viveria um período fácil naqueles momentos queconvencionei chamar “pós-Grupo Focke”. Com o término das atividades emtorno dos dois projetos, novas perspectivas, embora não eram fáceis deidentificar, precisavam ser criadas. Esse era o quadro quando Neiva, MaxHolste, Douglas e Kovacz, chegaram a minha casa, no CTA. Era tarde danoite, cerca de 22 horas. Max era um homem baixo, atarracado, de peleavermelhada, com bastos cabelos começando a se tornarem brancos. Parecia,desde o primeiro contato, um homem determinado e, embora transmitissecompetência, não parecia ser simpático. Sem nenhuma conotação negativa,era tipicamente francês, pouco se importando com o tipo de impressão quedaria ao interlocutor. Enfim, sabia o que queria e vendia-se pelo preço quetinha fixado a si próprio.
Iniciando a conversa, contaram-me que o Max tinha deixado a França, doisanos antes, devido a complicações financeiras geradas pela transferência de
sua empresa Avions Max Holste para o Governo francês. Seu destino tinhasido Marrocos onde, segundo uma promessa do Rei, seria instituída umaempresa dedicada ao desenvolvimento de uma indústria aeronáutica local.Após dois anos de frustradas tentativas, absoluta ausência de infraestrutura efalta de vontade política, o projeto não se desenvolveu e Max passou a olharpara a América do Sul, como uma alternativa para colocar à disposição suainegável experiência de construtor de aviões. Entre os países possíveis nestecontinente, devido às dimensões geográficas e econômicas, pensava noBrasil.
Max Holste tinha boa reputação profissional. Era o autor do projeto doBROUSSARD, um monomotor de asa alta com boa capacidade de carga ebom volume de cabine. O Governo da França decidiu comprar uma centenade unidades que foram usadas intensamente na Guerra da Argélia, quando nopaís começaram 111
as insurreições na busca da libertação, isto é, término do colonialismofrancês. Essa compra deu oportunidade ao Max para desenvolver sua empresae lançar um projeto mais ambicioso, o MH 262 SUPER-BROUSSARD,bimotor turboélice de transporte de passageiros. Ele visava um mercado comdemanda mais estável do que os eventuais fornecimentos à Força AéreaFrancesa. Mais tarde, com a venda da Max Holste Aviation para o Governo,seu projeto foi transformado no NORD 262
“FREGATE”.
Foto 21 Max Holste com Ozires.
A reputação de Max, aprendi mais tarde, era a de homem de difícil trato.
Logo no primeiro instante do nosso encontro, o que sabia sobre Max, lido nasrevistas aeronáuticas, estava se confirmando. Contudo, mesmo sendo umhomem duro, foi capaz de inspirar confiança.
112
Douglas Arcuri tinha conhecido Max na sua fábrica francesa em 1959,AVIONS
MAX HOLSTE de Reims – França, onde estagiou por certo tempo. Naquelestempos, Max estava fabricando o protótipo de um avião para 23 passageirosque denominava SUPER BROUSSARD. Max lembrou-se do antigoestagiário e decidiu procura-lo no Brasil. Douglas o apresentou ao Neiva,buscando contar com seu auxílio para lançar qualquer projeto potencial quefizesse sentido. A Neiva, na época, dispunha de instalações industriais emBotucatu, SP, e estava no início da produção do REGENTE, encomendadopelo Ministério da Aeronáutica em diversas versões. Paralelamente, estavaem curso o projeto do “UNIVERSAL”, sob o comando do Kovacz que, comoMax Holste, tinha grande reputação de experiente construtor de aviões.
Era claro que Max passou a olhar a NEIVA como a solução para suas ideiasde participar do desenvolvimento de uma indústria aeronáutica no Brasil que,apesar dos problemas que a empresa enfrentava, oferecia perspectivaspromissoras. No entanto, José Carlos Neiva já era veterano de muitasbatalhas, tinha perfeita noção que capitais privados não viam o setor cominteresse e não parecia estar disposto a enfrentar mais uma série de programasque, para ter sucesso, precisaria conquistar o interesse e o apoio do Governo.Ele tinha experiência suficiente para compreender que era quase como umnovo começo, o que não o animava, seguramente. Dizia, em todos osmomentos, que seu engajamento era na direção de manter a produção doREGENTE, embora, naqueles instantes, ainda tentava conseguir espaço parao projeto do UNIVERSAL, avião de treinamento militar.
Foi claro e acentuou enfaticamente que não estaria disposto a se engajar emalgo mais, pelo menos naquele momento. Explicou que, em se falando deajuda oficial, entendia que o CTA exercia uma liderança básica e que, sem aajuda do Centro Técnico, nada seria conseguido. Foi esta a razão pela qualJosé Carlos Neiva decidiu procurar-me, como o atual chefe do PAR.
A conversa iniciou-se por ouvir o Max. Ele trazia no bolso o esboço de umprojeto para desenvolver um bimotor de asa alta, equipado com motores apistão Lycoming de 350 HP, capaz de voar a cerca de 250 km/h e transportarum máximo de seis passageiros mais dois pilotos. Tinha uma ampla cabine,com porta adequada para transportar carga de volumes relativamente grandes.Era um avião que denominava BROUSSARD MAJOR e ele imaginava queencontraria muito bom mercado de demanda no lado civil.
Imediatamente procurei desviar Max da sua concepção de participar nodesenvolvimento de uma atividade de construção aeronáutica no Brasil, tendocomo produto inicial o seu BROUSSARD MAJOR. Sabíamos, porobservação de todas as experiências anteriores, que seria difícil a venda dealguma ideia a partir produção de um avião de projeto estrangeiro, emboracom planos de fabricação 113
prontos, que ainda não tinha sido fabricado em série. Por outro lado, o nossoPAR
tinha acabado de concluir um relatório sobre o sistema brasileiro detransporte aéreo regular.
A participação do PAR no grupo que executou aquele trabalho, deu-nosoportunidade de aprender muito sobre o mercado civil do transporte aéreo e,de pronto, as características do modelo apresentado pelo Max, mesmo quenaquela noite ainda primariamente analisado, pareciam não se enquadrar como que se tinha aprendido. Embora o nosso relatório final estivesse para seraprovado e publicado, já sabíamos que as empresas buscavam aviõesmaiores, para maior quantidade de passageiros e crescentemente maisvelozes. Centravam-se, portanto, naqueles produtos que satisfizessem essesrequisitos e, ao mesmo tempo, que oferecessem condições operacionaiscapazes de produzir menores custos operacionais e maiores retornoseconômicos.
Ficou claro às equipes do PAR, através daqueles estudos realizados, é queaqueles parâmetros acabaram por determinar uma dramática fuga das grandesoperadoras de linhas aéreas daquelas cidades que geravam pequeno tráfego edos aeroportos de infraestrutura precária, isto é, pistas curtas e não-pavimentadas.
Assim, entendíamos que o mercado poderia se abrir para aviões de menorporte, porém concebidos como mini-airliners*, era potencialmentesignificativo. Havia toda uma demanda a satisfazer, visando responder àscrescentes reclamações que chegavam ao nosso Departamento de AviaçãoCivil. O que verificamos mais tarde é que a fuga do serviço de transporteaéreo das cidades menores, originalmente constatado no Brasil, tambémocorria em outros países, notadamente os Estados Unidos.
*Mini-airliners eram aviões, como entendíamos, menores dos que os entãoem fabricação pelas empresas líderes mundiais, os quais, preenchendo osmais recentes regulamentos para a fabricação de aeronaves comerciais,poderiam preencher o vácuo identificado como ausência do transporte aéreonas pequenas comunidades.
Compreendi que o BROUSSARD MAJOR poderia satisfazer essesrequisitos, mas apresentava obstáculos que seriam dificilmente superados,como, por exemplo, motores a pistão que consumiam gasolina e nãoquerosene. O querosene de aviação, um combustível mais denso do que agasolina e prometia rapidamente superar o consumo da convencionalgasolina. Havia muitas outras questões sobre o avião que ele apresentara enão relutei em colocar minhas dúvidas, olhando diretamente para o MaxHolste. Surpreendi-me com sua rápida concordância, aceitando de prontoque, se tivéssemos sucesso de lançar um programa de construção aeronáutica,um novo avião teria de ser concebido, projetado e 114
desenvolvido, o qual deveria ser equipado, no mínimo, com motores turbohélices.
Max foi muito sincero e disse: “Aceito esse desafio, mas reservo-me o direitode analisar a especificação básica do avião a ser projetado, de modo que eleesteja dentro daquilo que eu julgue ser capaz. De nenhum modo procurareisaltar acima do que sei ser minha competência e meus limites”. Acrescentoucom ênfase: “Não irei além disso”.
Procurei tranquilizá-lo, acentuando que nossa ideia era chegar a um avião de9 a 12 passageiros, possivelmente maior (mas não muito!) concebido deforma a poder crescer e capaz de substituir, na maioria das áreas, o venerávelDC-3, naqueles tempos, aparentemente insubstituível. O futuro viria
demonstrar que isso não sucederia. Realmente a direta substituição do DC-3provou que o que se pretendia era uma falácia. O sistema de transporte aéreomodificou-se e espaços para o venerável avião, ou seus eventuais substitutos,deixaram de existir.
Vencido esse ponto, continuamos a buscar alternativas. José Carlos Neiva, depronto e insistentemente descartou a participação da sua empresa, a NEIVA,para atuar como empresa condutora do projeto. Todos juntos, contribuímos apensar em outras várias iniciativas, prendendo-nos às empresas existentes eem operação no Brasil, naqueles anos da década dos 1960. Passamos emrevista praticamente todas as iniciativas em operação, com as quais tínhamosintenso contato.
Em resumo, víamos claramente que todas as alternativas que contemplassemempresas aeronáuticas instaladas no nosso país, as quais contavam comprecárias instalações e não dispunham de recursos financeiros nem motivaçãopara um desafio, dificilmente as qualificariam para o novo programa detrabalho que discutíamos.
Naquela noite, o que se tentou foi aproveitar o interesse do francês vir ou seinstalar ou trabalhar no Brasil. Pessoalmente, tinha meus pontos de vista, masdurante longo tempo hesitei em apresentá-los. Lembro-me de ter pensado noforte nome “Max Holste”. Aquele nome tinha dimensão e soava como o deum real fabricante de avião. Embora desde menino eu próprio ambicionasseconstruir aviões, sentia que sempre seria um “Silva”, bem amarrado na fortedescendência portuguesa e sem tradição aeronáutica. Era necessário serprático: Silva não era um nome adequado para aviões. Mas Max Holste...!!!Este sim era algo que poderia impressionar.
Ao final de tantas conversas, tentando esgotar o assunto e já cansados detanto trocar ideias, mencionei uma última possibilidade de colocar o Maxtrabalhando no próprio Departamento de Aeronaves (PAR), o meuDepartamento, procurando, dentro daquele órgão diretamente ligado aoGoverno Federal, desenvolver o trabalho e as ideias, visando concretizar umprojeto possível. Fiz isso com um enorme receio. Realmente não era fácilpara qualquer integrante do CTA daquela 115
época esquecer-se dos ambiciosos projetos do CONVERTIPLANO e do
BEIJA-FLOR, que afinal, como a crítica tinha consagrado, deram em nada.
No entanto Max imediatamente entusiasmou-se com a perspectiva de sematerializar essa alternativa. Passou a argumentar com real ênfase seus êxitose experiência em tratar com o Governo. Afinal, na França, partindo do zero,tinha conseguido acumular sucessos e construir centenas de aviões de projetopróprio.
Eram, dizia ele, aparelhos que ainda voavam nas cores da Força AéreaFrancesa, com grande confiabilidade e fama de máquinas robustas eeficientes.
Em evidente estado de grande fadiga, Max, Neiva, Douglas, Kovacz e euterminamos a reunião, cerca de 3 horas da madrugada, combinando que donosso lado buscaríamos contato com as autoridades brasileiras explorando aideia de contratar o Max Holste para trabalhar no PAR, implicando naabertura de um novo projeto de construção aeronáutica, com todos os riscosde credibilidade que se teria de vencer. É claro que as explicações dadas e asdificuldades levantadas durante a reunião dificilmente poderiam fazer sentidona cabeça do técnico francês; nós, contudo, do lado brasileiro, sabíamos doque estávamos falando.
Max anunciou que poderia retornar ao Brasil no próximo mês de junho,dando-nos, portanto, pouco mais de dois meses para desenvolver as ideias,conseguir as autorizações necessárias e, claro, os recursos financeiros que, nomomento, tínhamos pouca ou nenhuma condição de avaliar. Era fácilantecipar que, para qualquer das alternativas, o caminho a percorrer seriaárduo.
Quando saíram de casa fiquei pensando no que tinha feito. De algum modohavia no ar um clima de compromisso, o qual ainda não sabia como cuidar,nem como resolver. Foi uma noite de reflexões. Não sabia, naquele momento,mas o futuro BANDEIRANTE e a EMBRAER estavam sendo germinados.Todos estavam visivelmente cansados e, eu, em particular, teria muito quefazer no dia seguinte e precisava saltar cedo da cama..
4. Nasce o IPD 6504
O Ataque Pode ser Uma Defesa
O Brigadeiro Casemiro Montenegro Filho, Diretor Geral do Centro Técnicode Aeronáutica (CTA), no início de 1965 estava em sua segunda gestão.Todos 116
gostavam dele e era, por todos os méritos, considerado o nosso velhoComandante e respeitado como o criador do CTA, tendo lutado durante todasua vida para consolidá-lo.
À frente do Ministério da Aeronáutica estava o Brig. Eduardo Gomes,bastante conhecido pela sua forte liderança na FAB. Foi em março, logo noinício do ano, que o Ministro decidiu substituir o Brig. Montenegro,designando para o cargo de diretor o Brig. Henrique Castro Neves, que, vindoda Diretoria do Material do Ministério da Aeronáutica, parecia contrapor-se àadministração anterior. Isto ficou claro desde os primeiros dias, pois, em suascolocações, havia sempre comentários sobre seu objetivo de orientar o centropara outros objetivos estratégicos.
Do meu lado, ao longo dos anos, cada vez mais tinha me aproximado doBrig.
Montenegro. Aprendia muito com ele, com suas decisões calmas eponderadas, com o seu sentido de vida e de respeito para com as pessoas. Acada momento era capaz de mostrar o seu amor pelo que carinhosamentechamava de “Centro Técnico” e, mais ainda, pelo trabalho que sentia aindater pela frente. Todos sabiam quanto significava para o Brigadeiro tudoaquilo que o cercava em São José dos Campos, notadamente o ITA.
Foi por isso que o Coronel Oscar Spindola, Vice-Diretor do CTA, num diapela manhã chamou-me ao seu gabinete e me pediu que fosse a Salvador(Bahia) –
onde o Brigadeiro e família estavam desfrutando férias – para pessoalmentetransmitir-lhe a decisão do Ministro Eduardo Gomes. Todos entendiam quenão seria justo o Brigadeiro tomar conhecimento da notícia através dosjornais.
Fui à Divisão de Voo, aonde havia um NORTH AMERICAN T6, nossovelho avião de treinamento da Escola de Aeronáutica. Decolei e me coloqueia caminho. Cheguei a Salvador e fui para a Ilha de Itaparica. Durante aviagem os pensamentos concentravam-se tudo o que aquilo significava. Umhomem visionário, enxergando o futuro com clareza e certo do que fazia,estava sendo afastado da missão de sua vida, e nós perdíamos o chefe eorientador dos nossos dias.
No meu posto de Major Aviador da Força Aérea, o que poderia pensar? Nãotinha a menor ideia de como se passavam os fatos e eventos na longínquaCapital Federal que, com apenas cinco anos de idade, ainda estava seconsolidando.
Perguntava-me: como diria ao Brigadeiro Montenegro que ele se afastaria doseu querido Centro Técnico? Desembarquei na ilha, ainda sem saber comoentrar no assunto. Fui caminhando. O dia era bonito e fui informado de que olocal procurado não era distante.
Embora estivéssemos no pleno verão de fevereiro, a praia estavarazoavelmente deserta e ao longe vi alguém sentado numa cadeira voltadapara o mar. À medida que me aproximava começou a se destacar a cabeleirabranca, tão conhecida, do nosso grande amigo. Nada do que imagineiaconteceu. Aproximei-me e 117
curiosamente o Brigadeiro viu-me, de pé em sua frente, e parece-me que nãoficou nada surpreso. Creio ter achado natural que aquele Major estivesse ali,embora distante mais de mil quilômetros de São José dos Campos. Comgrande constrangimento, sem saber como começar, procurei cumprir minhaparte.
Subestimei a experiência do Brigadeiro. Sua reação foi tranquila eextremamente delicada. Disse que compreendia a decisão do Ministro eexplicou que desde há muito a esperava. Não deixou escapar nenhumaobservação ou comentário que pudesse dar-me a entender o que estaria portrás da sua substituição. Eu, em particular, estou certo de que também outrosno CTA da época não desejavam o afastamento do Brigadeiro. Em quepesasse a tristeza de deixar o Centro, sua reação foi construtiva dizendo queregressaria, dentro do mais breve período, para efetuar a transmissão do
cargo. Eu realmente gostava daquele homem e admirava-o, lembrando-me demuitas de suas atitudes, por vezes surpreendentes, mas invariavelmentesensatas e sábias. Por antecipação comecei a sentir a falta dele.
Foi durante aquela época, logo após essa viagem difícil a Salvador, que oJosé Carlos Neiva levou à minha casa o Max Holste. Durante toda a conversalonga que tivemos naquela noite eu sabia que qualquer proposta àquela alturateria que ser discutida com o novo Diretor Geral já designado, o Brig. CastroNeves, que ainda não conhecia. Seria difícil antecipar qual seria sua reação.
Castro Neves era alto, de esqueleto avantajado, denotando ter sido, em suajuventude, um esportista. Logo cedo, através de suas declarações diretas eincisivas, ficaram claras suas concepções de colocar o Centro Técnico e seusinstitutos mais voltados para uma conexão mais intensa com a Força Aérea,incluindo-se nisso as atividades ligadas à manutenção de aeronaves ebuscando oferecer mais apoio aos Parques de Aeronáutica.
Ainda hoje os Parques constituem a espinha dorsal das grandes inspeções,manutenção e reparos pesados realizados em aviões militares. Os problemastécnicos que o pessoal dessas organizações enfrenta são grandes, pois,chamados a manter os mais diferentes tipos de aviões e equipamentos, nemsempre contam com peças, material, ferramentas, pessoal treinado einstalações básicas para apoiar os trabalhos que têm a responsabilidade deexecutar. No esforço para superar as dificuldades, na maioria das vezesincidentes sobre produtos importados
– portanto, não fabricados e sem estrutura de assistência técnica no Brasil –os especialistas dos Parques têm que manter alta a taxa de criatividade.Assim, muito esforço precisava ser colocado para encontrar soluções, atempo e hora, conseguindo recolocar em funcionamento os complexossistemas operativos dos aviões modernos. Dentro desse quadro uma ajudaexterna sempre era bem-vinda.
A pergunta era: poderia o CTA cobrir esta lacuna? Eu achava que sim.Todavia, 118
entendia que o CTA paralelamente não deveria abandonar sua política deinstituição científica de alto nível, mas concordava que era importante buscar
fórmulas para apoiar a FAB em tudo o que fosse possível.
As colocações do Brig. Castro Neves faziam sentido, pois o Centro gozava deum conceito de competência técnica comprovada. Dotado de pessoalpreparado e contando com bem equipados laboratórios, seria corretoestabelecer conexões práticas de modo que os Parques pudessem contar como seu auxílio. Embora tudo parecesse estar conectado, as ideias do novoDiretor jogavam no ar um clima de apreensão. O Centro era uma instituiçãocientífica, voltada para a pesquisa. Se seu pessoal passasse a se dedicarexclusivamente a tarefas de apoio à operação da Força Aérea, sempreabrangentes, absorventes e urgentes – em função de suas característicaseminentemente técnicas e práticas –, era bem possível que a missãofundamental do CTA passasse a não mais ser atendida. No entanto, o novoDiretor Geral foi firme e com este espírito de mudanças em mente programouvisitas a todos os Institutos e Departamentos, logo após tomar posse no seunovo cargo.
Os trabalhos sobre o avião de decolagem vertical (CONVERTIPLANO)tinham cessado por inteiro. Os poucos alemães que decidiram fixar residênciano Brasil buscaram outras atividades e não mais tinham motivação oucondições materiais de continuar o projeto. Do mesmo modo, emboraprocurassem manter alguma atividade no helicóptero BEIJA-FLOR, ninguémvia futuro naquele projeto, e as poucas pessoas que a ele se dedicavamtambém estavam convencidas de que tudo pararia muito em breve. O clima,nos escritórios pouco ocupados e quase sem trabalho, era de visíveldesânimo.
Creio que o Brig. Castro Neves, em suas visitas aos diferentes órgãos doCentro Técnico, foi coletando essas informações e, quando chegou ao nossoPAR, de imediato pude perceber sua atitude hostil, causando-nos grandedesconforto. Veio acompanhado pelo Cel. Sérgio Sobral de Oliveira, queestava assumindo a direção do IPD (Instituto de Pesquisas eDesenvolvimento), ao qual éramos subordinados.
Sérgio Sobral era um homem diferenciado. Realmente aberto a novas ideiase, embora ainda não o soubéssemos, teria uma participação fundamental naconcepção do novo futuro da nossa equipe. Eu gostava do Sobral. Comotodos os homens criativos e determinados, era considerado polêmico, mas
granjeou fama de bom administrador e de grande realizador. Ao longo de suacarreira recebeu muitas missões, algumas difíceis, sempre se saindo bem.Exigente e sério no cumprimento do seu dever, criou ao seu redor umaimagem de pessoa capaz de fazer as coisas acontecerem. Estávamoscontentes com sua designação para ser o nosso Diretor e sabíamos quecontaríamos com ele.
O resultado da visita confirmou nossas previsões. Muito cético o Brig. CastroNeves concluiu com um comentário e uma decisão, ambos pesados e além doque 119
esperávamos como reação. Não pudemos deixar de sentir um enorme choquequando disparou:
“- Este Departamento não presta para nada! Vamos fechá-lo!”
Embora tivéssemos um programa de trabalho pouco convincente aos olhos deterceiros, a perspectiva de desaparecermos era pouco aceitável. Enfim,desativar um Departamento de Aeronaves num Centro Técnico deAeronáutica, entendíamos, não resistia a qualquer análise. Considerávamosque os trabalhos de desenvolvimento de aviões, por parte do setor privado, eo serviço de homologação eram áreas essenciais; todavia muitos diziamacreditar que o próprio Departamento de Aviação Civil (DAC) e outrosórgãos poderiam assumir as tarefas que realizávamos. Isto não era bemverdade. O DAC era uma organização apenas burocrática e não dispunha delaboratórios de ensaios, capazes de comprovar experimentalmentemodificações estruturais e de sistemas.
Como ainda hoje, era muito claro o conceito fundamental de que somente ostestes práticos, buscando refletir as reais condições de operação, garantem aaprovação da concepção de uma estrutura ou de um sistema aeronáutico. Ora,como bem o compreendíamos, naquele momento não era isso que contava. Adecisão do Diretor Geral estava tomada. O nosso problema cresceu.Tínhamos de encontrar meios para revertê-la, se é que isto seria possível.
Imediatamente chamei meu pessoal e começamos a discutir o problema quetinha sido criado. Aquele tipo de conversa não poderia envolver muitaspessoas, pois em nenhum momento poderíamos deixar transparecer nossa
discordância e que, aparentemente ou não, estaríamos pretendendo discutirordens claramente recebidas. Afinal isto contrariaria um dos axiomasfundamentais da carreira militar.
Naquele momento entraram em cena as sempre ponderadas observações doEng. Antonio Garcia da Silveira, que, deixando a Chefia do Departamento deMotores do IPD, tinha sido convidado por Sobral para assumir a Vice-Direção Técnica do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (IPD). Foi umaliado de grande valor. Procurei falar com Garcia, que entendeu de imediatoas ideias que procurávamos desenvolver e, de pronto, lançou-se nasconversas, colocando os essenciais elementos de sua permanente ponderação.Sua ajuda, o futuro o demonstrou, foi da maior importância, muitocontribuindo para formular os passos que acabamos por seguir.
Começamos a pensar sobre a visita de Max Holste e o que tinha sidodiscutido.
Parecia que ela teria acontecido em boa hora. A conversa com o construtorfrancês martelava-me a cabeça. Teria ela produzido os argumentos de quenecessitávamos? Era importante montar o quebra-cabeças e encaminhar asolução.
O tempo era necessariamente curto e muita coisa teria de ser feita antes que atarefa de desmontagem do PAR pudesse se iniciar.
120
Na época, o Diretor do Material do Ministério da Aeronáutica era o TenenteBrigadeiro Osvaldo Balloussier, Engenheiro Aeronáutico formado na Françae fluente na língua francesa. Era notória a apreciação que ele nutria pelo seupaís de formação superior. Balloussier tinha grande prestígio na FAB e, nasposições administrativas que exercia, com grande parte do orçamento doMinistério da Aeronáutica sob seu controle, tudo fluiria mais facilmente, seconseguíssemos conquistar seu apoio.
Sabia-se de seus comentários e do seu interesse de fazer instalar nos velhosNORTH AMERICAN T-6, aviões ainda utilizados na instrução avançada dosCadetes Cadete do Ar da Academia da Força Aérea, um novo motor turbo
hélice, substituindo os antigos Pratt & Whitney R-1340 de sete cilindros. Eleacreditava que a estrutura básica dos aviões ainda resistiriam por muitos anosde utilização e o avião, re-motorizado, poderia proporcionar umarevitalização e maior período de continuidade na instrução dos futuros pilotosmilitares.
Num instante vimos que esses dados poderiam se conectar. “Quem sabe estaseria uma saída”, comentei com Garcia. Acabávamos de conhecer o MaxHolste que, inequivocamente, estava precisando – este era o termo –encontrar uma oportunidade no Brasil. Max era francês e o Brigadeiro tinhauma inclinação muito especial por tudo o que vinha da França. Um bommotor disponível na época era o BASTAN, turbo hélice fabricado pelaTURBOMECA, instalada na região de Toulouse
– mais um item francês que poderia ajudar numa aproximação! O Brig.Balloussier possivelmente poderia ser convencido a aceitar a contratação doMax para o projeto de remotorização do T-6, pagando-o com fundos daDiretoria do Material, determinando sua realização no lugar mais lógico: oCTA. Dentro do CTA teríamos de trabalhar para que o destino de talempreendimento fosse o PAR e contar com a participação do Max. Caso issofosse possível, paralelamente estaríamos em condições de desenvolver oprograma do avião de transporte de pequeno porte, esboçado na noite em quenós, Max, Neiva, Kovacz e eu, tínhamos nos encontrado.
Com um plano de trabalho desse tipo, apoiado na prestigiada decisão do Brig.
Balloussier, a determinação do Brig. Castro Neves de encerrar as atividadesdo Departamento de Aeronaves eventualmente poderia ser revertida. Enfim,não seria a primeira vez que alguém usava o ataque como melhor defesa. Istoé, teríamos de reagir, e o melhor sentido poderia ser na direção de se lançarum novo projeto que aos olhos do nosso novo Diretor Geral poderia justificaro trabalho que desenvolvíamos. Tudo era muito bonito, mas a conquista doapoio da Diretoria do Material, cujo titular era o Brigadeiro Balloussier, tinhade ser conseguido.
121
O Difícil Processo de Aprovação
A ideia, pensávamos, fazia sentido, mas era de execução complicada. Eu,como Major Aviador Engenheiro, não tinha nível suficiente para meaproximar do Brig.
Balloussier, que era extremamente formal. Ideias desse tipo, na suaconcepção, não poderiam ser tratadas por um oficial de hierarquia tão baixa.Numa rápida entrevista que tivera com ele, algum tempo antes, mal merespondeu, sequer me encarando. Aquilo me convenceu de que uma tentativade diálogo direto, e sobretudo por mim, não seria de nenhum modo ocaminho aconselhável.
As coisas no CTA estavam acontecendo rapidamente. Assim, também nósteríamos de atuar com presteza. As substituições dos comandos internossucediam-se e já estava marcada a cerimônia de posse do novo Diretor doIPD, o Cel. Sérgio Sobral. Chegamos ao dia da cerimônia de transmissão decargo e, logo após os discursos de praxe, procurei me aproximar do novoDiretor e falar com ele durante um curto momento. Assumi o risco, emborapreocupado com a possível inconveniência do momento. Entretanto, aresposta de Sobral foi entusiasmada e direta. Confiando no seu bomrelacionamento com o Brig. Balloussier, desenvolvido em trabalhosanteriores, de imediato, tomou a causa em suas mãos, não negando a famaque tinha.
No dia seguinte, tomando assento na sua nova mesa de trabalho, dedicou-seao assunto e poucos dias depois já pôde conseguir uma autorização deprincípio do Brig. Balloussier, que se dispôs a receber em entrevista o MaxHolste, tão logo ele retornasse ao Brasil. O Brig. Castro Neves recebeu umachamada telefônica de Balloussier informando que estava interessado emcontratar Max Holste para, no PAR, realizar o projeto de remotorização doNORTH AMERICAN T-6. Insistiu que o empreendimento era essencial naestratégia da FAB. O projeto, acentuou, era alternativa fundamental para asubstituição dos velhos motores que equipavam os aviões de treinamento emserviço na Academia da Força Aérea. Evidentemente, Castro Neves deimediato concordou!
Viva! A precisa interferência do Sobral tinha funcionado e, é claro, quebrouqualquer resistência por parte do nosso Diretor Geral. Graças ao Sobral,portanto, o primeiro passo estava dado. Por enquanto o PAR estaria a salvo
do encerramento de suas atividades.
Contudo, havia ainda um senão, e importante. Balloussier poderia fazerrestrições ao projeto e ao desenvolvimento de um novo avião pelo CTA,embora aprovasse inteiramente o programa de instalação do motor turbohélice TURBOMECA BASTAN nos T-6. Sua opinião sobre a capacidadetécnica das equipes do Centro Técnico era de crítica. Para mais complicar oquadro, uma conversa com o Max Holste tinha nos deixado clara sua recusade trabalhar num projeto que teria 122
como objetivo substituir o motor de um velho avião de treinamento. Suaexpressão direta e franca foi:
“- Je dit non! Je suis un avioneur!” (“Eu digo não! Sou um fabricante deaviões.”) Max desde o início estava demonstrando ser um homem calculista,determinado e, ao mesmo tempo, passional e cheio de autoadmiração. Assim,aprendemos muito rapidamente que o francês era, no mínimo, genioso, epreparamo-nos para enfrentar um provavelmente difícil relacionamentofuturo com ele.
É fácil imaginar que, lidando com pessoas sensíveis, em relação às suasconvicções pessoais – e nisso Max comparava-se bastante bem ao Brig.Balloussier, ambos competentes, mas de difícil trato, colocávamo-nos peranteum impasse que não poderia ser subestimado. A solução envolveu pesadorisco. No auge das argumentações tivemos de assegurar ao Max que, emboracontratado pela Diretoria do Material para desenvolver um novo grupomotopropulsor para o T-6, ele na realidade trabalharia no projeto do aviãosobre o qual tínhamos discutido.
Designaríamos para o trabalho solicitado pelo Brig. Balloussier uma outraequipe que, vez por outra, o consultaria, graças a sua experiência nainstalação do BASTAN
no seu avião SUPER-BROUSSARD. Colocado o problema nesses termosMax teve seu ego acariciado e concordou.
O esquema de execução do projeto, com a participação indireta do Max,dependeria da aprovação do Diretor do Material, a fim de que não sedesviasse da decisão emitida por um respeitado oficial general. O acordo finalfirmado entre o Brig. Balloussier e o Max não se fixou nesse ponto e,felizmente, ambos os lados consideraram-no satisfatório.
Ficamos mais tranquilos, pois pelo menos inicialmente, tínhamos encontradouma fórmula para superar os impasses. O Brig. Castro Neves não mais falavado fechamento do PAR e já se mostrava bem mais ameno em relação àequipe que lá trabalhava. Todavia, ainda havia muito que fazer, e um aspectoem particular preocupava-nos. Era necessário conseguir a aprovação formaldo programa que nos permitiria desenvolver o pequeno avião de transporte,mencionado nas discussões com o Max Holste. Tínhamos trabalhado em suasespecificações e combinamos que ele seria um projeto enquadrado entreaqueles que seriam implementados pelo IPD – agora sob direção do Cel.Sobral.
Segundo a documentação produzida pelo Garcia, na Vice Direção do IPD, oprojeto era descrito como destinado a criar e desenvolver um novo aviãobimotor turbo hélice, capaz de transportar até 9 passageiros, dentro deespecificações a serem detalhadas. O pulo que almejávamos era grande eclaramente muito acima daquilo que um Major e um Vice-Diretor do IPDpoderiam pleitear. No entanto, a aprovação oficial pelo Ministro daAeronáutica, com parecer favorável do Estado-Maior, eram passos essenciais.Sem ela o CTA não poderia se engajar. O caminho 123
de aprovação era longo e não poderia chegar ao Ministro, sem transitarinicialmente pelo próprio Diretor do CTA e por uma quantidade de escalõesintermediários.
No caso do novo motor a ser instalado nos NORTH AMERICAN T-6 asolução foi bem mais fácil. O próprio Brigadeiro Balloussier encarregou-se eo processo administrativo não enfrentou qualquer oposição.
Com o entusiasmo do Cel. Sobral e com uma genial proposta preparada pelanão menos genial caneta do Garcia, foi possível, com grande rapidez,produzir um circunstanciado documento do Diretor do IPD ao Brig. Castro
Neves. No documento foi sugerido o seu encaminhamento à apreciação doEstado-Maior da Aeronáutica, órgão do ministério com autoridade paraestudar e encaminhar ao Ministro novos projetos para serem aprovados.
Na sua exposição Garcia propunha uma diferente estruturação de todos osprojetos em curso no IPD, numerando-os e oferecendo uma ordenação muitoao estilo da burocracia utilizada pela FAB. Assim, entre outros, apresentou oIPD-6504
(projeto nº 4 do IPD, de 1965) o qual, como anexo, incluía a especificação donovo avião, que foi produzida quase em tempo recorde. Isso foi possívelporque já tínhamos, há tempos, pensado no assunto, muito especialmente,durante os trabalhos que executamos na comissão de investigação doDepartamento de Aviação Civil (DAC), que analisou a segurança de voo daaviação de transporte no Brasil.
A forma que o Garcia usou para montar o documento procurava nãoexplicitar com clareza que estávamos propondo o desenvolvimento de umnovo avião. A ideia não era colocá-lo em destaque, entre os outrosapresentados, embora ele tivesse características essencialmente diferentes dosoutros encaminhados ao mesmo tempo. Esperava-se que a aprovaçãopretendida passasse no meio do
“bolo”. Isso afinal não aconteceu. Mas vejamos como as coisas ocorreram.
Sabíamos que seria importante demonstrar que a iniciativa fazia sentido eestava baseada na geração de uma demanda que poderia justificar a criaçãode um novo produto. Dito de uma outra forma, desejávamos fabricar umnovo tipo de avião para o qual deveriam existir compradores e,provavelmente, poucos competidores.
Era importante imaginar que, quando o novo avião estivesse nas linhas deprodução, haveria um número de compradores que pudesse garantir aviabilidade técnica e econômica do empreendimento. Nos estudos efetuadospor nossas equipes foi estabelecido com muita clareza que o futuro sistemaprodutivo não deveria depender unicamente de encomendas governamentais.Isso era evidente, em função dos resultados verificados de empreendimentosdo passado. Já discutíamos abertamente, e com grande grau de concordância
de todos, que a 124
condição de dependência das compras oficiais tinha limitado odesenvolvimento da construção aeronáutica no Brasil, ao longo de muitos emuitos projetos ótimos. Era claro que seria essencial contar com o Governocomo um primeiro comprador. Se isso pudesse ser conseguido seria ótimo.Mas os planejamentos, desde o início, deveriam concentrar-se em selecionartipos e modelos de aviões capazes de interessar o setor privado.
O “filme” do nascimento, da vida e da morte de inúmeras empresas deconstrução aeronáutica já tinha sido visto várias vezes no Brasil. Issoaconteceu seguidamente, desde a década dos 1920. Muitos empreendimentosidealizados para fabricar aviões desapareceram após, ou mesmo antes,cumprir os contratos iniciais celebrados com o Governo.
Era evidente que naqueles estágios iniciais seria difícil imaginar o tipo deestrutura industrial que deveria ser estabelecida e que fosse capaz de fabricaros produtos que estavam em processo de criação. Mesmo nós, que lutávamospela continuidade do projeto, ainda não sabíamos o que fazer.
O importante e que não saía de nossas cabeças, no entanto, era que toda aviabilização do projeto dependeria do sucesso de um avião que encontrasseinteresse no mercado civil, dentro das regras do jogo empresarial. Denenhuma forma, no entanto, desprezávamos o auxílio caracterizado porcontratos governamentais. Ao contrário, tudo indicava que uma ordem decompra, por parte do Governo Federal, seria item absolutamente essencialpara a partida de um empreendimento sólido.
Baseados nos exemplos do passado sabíamos que após uma primeiraencomenda do Governo, deveria ser possível manter a continuidade daprodução explorando alternativas proporcionadas por outros compradores,Governos estrangeiros ou setores privados, nacional ou internacional.
Nossos estudos iniciais voltaram-se para uma aeronave capaz de transportaraté nove passageiros, oferecendo uma performance de decolagem e de pousorazoáveis, bem compatibilizada com a infraestrutura típica encontrada noslimitados, e em geral mal equipados aeroportos das pequenas cidadesnacionais ou do exterior. Mais tarde, as ideias evoluíram e compreendemos
que esse número de assentos deveria ser aumentado. O avião acabouchegando aos 19 passageiros. Isso ocorreu na fase da industrialização, cincoanos depois.
Sobral não perdeu tempo e levou o documento que tínhamos preparado aoCastro Neves. Surpreendentemente conseguiu sua aprovação com rapidez e,nós, excitados, levamo-lo para o Estado-Maior da Aeronáutica, poucos diasdepois. Lá, ao lado do texto escrito, iniciou-se o processo de conversas e deconvencimento.
Tivemos apoio imediato dos Coronéis Flávio de Souza Castro e AugustoCesar Veiga Filho, este último ex-aluno do ITA da primeira turma de 1952.Ambos trabalhavam 125
na 4ª Seção do Estado-Maior da Aeronáutica, a qual ficou famosa pelaquantidade de propostas nossas que por lá passaram e que foramencaminhadas, muitas finalmente aprovadas oficialmente pelo Ministério.
O Cel. Flávio era o chefe da seção e autoridade-chave para submeter àspropostas ao Chefe do Estado-Maior. Lembrava-me bem dele como Chefe doEstágio Avançado de instrução de voo, da Escola de Aeronáutica dosAfonsos, quando eu era Cadete do 3º ano. Eu lembra-lo seria normal, mas onotável é que ele se recordava do Silva O. (meu nome de guerra)... eprometeu ajudar!!!
Graças ao esforço de ambos foi feita uma análise cuidadosa, a qual foiremetida ao escalão superior, recomendando aprovação. A essa altura duascoisas aconteceram. O papel preparado pelo Garcia já circulava comodocumento oficial e ganhou um tratamento de “processo” – muito a gosto daburocracia pública, com número e tudo. Como esperávamos, o nosso IPD-6504 não passou no “bolo”. O Cel.
Flávio, que tinha gostado da ideia, achou que seria melhor explicar tudocorretamente. Assim, novos dados foram acrescentados e colocados dentrodas reais dimensões de um projeto que, afinal, previa o projeto e odesenvolvimento de um avião. Não era efetivamente um projetinho qualquer.
Foi surpreendente a rapidez com que nossos amigos do Estado-Maior
trabalharam. Numa entrevista que o Cel. Flávio teve com o Chefe do Estado-Maior, Ten. Brig. Armando Serra de Menezes, saiu à aprovação paraencaminhar o assunto à apreciação do Ministro Eduardo Gomes.
Entusiasmado pela velocidade com que a proposição estava caminhando,continuei o trabalho de acompanhamento e, no Gabinete do Ministro,também fui atrás de ajuda. Tive a sorte de encontrar, nas funções de Assessorpara Assuntos de Logística, o Major Hélio de Brito Cavalcanti, meu colega econtemporâneo da Escola de Aeronáutica. A meu pedido Cavalcanti preparouo parecer oficial a ser assinado pelo Ministro.
Nesta etapa não tivemos a mesma correnteza a favor! Veio o revés! Asreações do Brigadeiro Eduardo Gomes em relação ao CTA eram fortes e, naprimeira tentativa, a autorização pedida foi recusada. A justificativa da recusafoi alegada como falta de recursos financeiros. Cavalcanti falou-mefrancamente e confidenciou que o Ministro não acreditava no CTA. Ele teriadito que o Centro era um exemplo de uma sucessão de fracassos, referindo-seduramente aos projetos do CONVERTIPLANO e BEIJA-FLOR. De formaincisiva disse que não conseguiria aceitar que o proposto teria umapossibilidade de ser realizado.
Já estávamos em junho de 1965 e Max em breve estaria retornando ao Brasil.Ao mesmo tempo em que trabalhávamos em Brasília para conseguir aautorização para o nosso programa, em São José dos Campos enfrentávamosos problemas de preparação para a chegada do projetista francês. A seleção eo recrutamento do 126
pessoal adicional necessário, segundo o que martelava continuamente MaxHolste, era condição essencial para o início dos trabalhos. As alternativaseram restritas e as soluções difíceis. Não contando com recursos financeiros,era necessário buscar especialistas dentro dos recursos humanos internos doCTA, por duas razões. A primeira, era claro, sem previsões orçamentáriasnão avançávamos com as soluções – sobretudo para um programa ainda nãoaprovado – e outra, a permanente defasagem dos salários possíveis de serempagos por uma repartição pública, muito distantes daquilo que o mercado detrabalho considerava usual.
Como sempre, a administração governamental não conseguia competir com o
setor privado.
Nossas discussões iam até altas horas da noite, dançando entre os muitostemas que tínhamos de enfrentar. Contando com o Garcia e, agora, com oOzílio Carlos da Silva, o time recebia um substancial reforço.
Depois de um ano de estágio de treinamento na França, Ozílio vinhaChefiando o serviço de homologação do PAR. Não havia dúvida de queestava qualificado para o trabalho e a ele se dedicava com entusiasmo. Logoque começamos a tentar encontrar alternativa para sair do impasse criadopelo Brig. Castro Neves, achava que a solução de lançar um projeto dedesenvolvimento de um avião no PAR não era positivamente uma ideiasensata. Não se escusava, em nenhum momento, de mostrar seu cepticismo.
Eu sentia que precisava dele, mas convencê-lo sempre foi difícil. Ozílio,inteligente e competente, era um duro e lógico argumentador. Cada vez queconversava com ele eu mesmo saía com dúvidas, tão lógicos e procedenteseram os argumentos que coletava. Todavia, um dia, trocando impressões commuita clareza, ficou absolutamente estabelecido que o momento não era paraencontrar argumentos sobre os riscos da estratégia imaginada. Tínhamos detrabalhar com rapidez para encontrar e aplicar soluções. Foi assim que, poucoa pouco, passamos a contar com ele.
Mais uma vez, a virulência das colocações do Brig. Castro Neves ajudou-nose Ozílio passou para o nosso lado, tornando-se, mais do que um aliado, umverdadeiro líder nas discussões difíceis que enfrentávamos. Foi o trabalhocriativo e dedicado de Ozílio que nos permitiu identificar soluções e, ainda,buscar os talentos entre os especialistas e técnicos do CTA que poderiam sertransferidos para o PAR e ajudar-nos nos projetos e na fabricação dosprotótipos que pretenderíamos fabricar. Mais do que isso, ele mostrou grandehabilidade e dedicação para convencer os respectivos chefes a concordar coma transferência dos selecionados.
Vivíamos num clima febril de mudanças. Eu em particular viajava comfrequência para Brasília buscando acompanhar o processo de aprovação donosso processo 127
pelo Ministro Eduardo Gomes. Cavalcanti, que tinha se transformado em
importante assessor, mostrou-se extraordinário. Estava realmente disposto anos ajudar, embora não se cansasse de explicar as dificuldades para conversarcom o Ministro sobre a aprovação necessária para o desenvolvimento doIPD-6504.
Tentando reunir todos os argumentos possíveis procurávamos insistir que o
“processo” do Garcia precisava ser levado de novo ao “Chefe” – comoCavalcanti se referia ao Brigadeiro Eduardo.
Finalmente, decidimos apresentar uma proposta heroica. O Projeto IPD-6504
não pleitearia recursos adicionais para o Ministério da Aeronáutica. Ele seriafeito dentro das verbas existentes e serviria apenas para o treinamento eformação de pessoal. Estes dois itens eram os prediletos do BrigadeiroEduardo Gomes, que nutria uma forte crença no valor de recursos humanosbem preparados. Após muitos ensaios de como e quando falar, usando asmelhores argumentações, finalmente em 26 de junho de 1965 chegou-nos ainformação de que o Ministro da Aeronáutica acabara de autorizar o CTA aabrir o Projeto IPD-6504. Foi uma alegria generalizada; enfim conseguíamosa meta tão buscada.
As manifestações de júbilo foram tantas que ninguém prestou atenção ao fatode que estávamos assumindo um empreendimento que deveria serdesenvolvido
“sem custos”, ou sem dinheiro. Uma frase nesse sentido estavaexplicitamente escrita no documento oficial. Eu, em particular, embora nãoextravasasse meus pensamentos para quem quer que fosse, tinha a maior dasconvicções de que isto poderia ser superado. Afinal, até aquele instanteestávamos convencidos de que o Max Holste seria contratado pela Diretoriado Material, embora para fazer um projeto “um pouco diferente”. Assim nãoteríamos problemas com aquela despesa.
Com relação às demais necessidades de recursos financeiros era possívelimaginar que mais tarde, de algum modo, seria possível inserir no orçamentoprovisões específicas, usando alguns outros projetos que poderiam enquadrar-se dentro da autorização emitida pelo Ministro. Na cabeça de qualquer leitor,
esses tipos de colocações podem soar como distorções de fatos. Não entendiaassim, embora tenha passado muitas e muitas noites sem dormir, preocupadosobre o que fazer no dia seguinte, sentia-me no meio de uma guerra que,começada, não mais poderia ser interrompida.
Nossos recursos eram limitados, como limitada era a experiência de todos osque estavam sendo recrutados para o empreendimento, com exceção do MaxHolste. Era fácil antecipar como os problemas seriam gerados e resolvidos.Eu, em particular, maximizava tudo isso – e preocupava-me. Contudo,mantinha a convicção de que aquela era nossa única alternativa possível.
O momento do “vamos ver” tinha chegado. Agora, o trabalho teria de serorganizado: iniciar o projeto, criar e desenvolver um avião nacional para o128
transporte de passageiros e de carga. Olhava para os lados e pensava: nãopoderia ser verdade. Era incrível. Tinha sonhado com esse momentopraticamente durante a vida inteira, começando com a imaginação do meninode Bauru, passando pelo esforço de conseguir a graduação como engenheiroaeronáutico e, finalmente, a nossa frente havia uma realidade que, paramaterializar-se, dependeria de nós – e por muitos anos.
Refleti muito sobre o que ocorre com a natureza e com a vida. Os caminhossão tortuosos e por vezes parecem não ser coerentes; mas, num dadomomento, tudo parece se encaixar. Sentia-me diferente; provavelmenteesmagado pela responsabilidade. Tinha medo do desafio que nos autoimpúnhamos, embora bem no íntimo algo me dissesse que aquele avião umdia voaria. Pensava no Zico. Tinha certeza de que ele, onde quer que seencontrasse, me ajudaria.
Não era essa a visão da comunidade de São José dos Campos e mesmo doCTA.
Poucos, ou ninguém, realmente acreditavam que o novo projeto pudesse tersucesso. Relembravam as experiências do passado e comentavam que “estavanascendo um novo CONVERTIPLANO”, lembrando a inconclusa tentativado avião de decolagem vertical. Afinal, traduziam aquilo que já sabíamos. Atecnologia da construção aeronáutica era difícil, o Brasil não possuía uma
infraestrutura técnica de apoio suficientemente desenvolvida para sustentartal aventura. No entanto, nós, do outro lado, éramos somente entusiasmo ecom denodo dedicávamo-nos à tarefa de preparar cada detalhe para que otrabalho de concepção e de desenvolvimento pudesse ser iniciado, visando auma progressão com a velocidade que nos fosse possível antecipar.
Nesse aspecto um episódio foi muito significativo. Era normal que os alunosdas escolas militares visitassem o CTA durante seus cursos. Uma delas era aEscola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica (EAOAer), queobrigatoriamente era frequentada pelos Capitães da Força Aérea, comocondição básica para serem incluídos no quadro de acesso para a promoção aMajor.
Durante a visita da EAOAer de 1965 o grupo foi levado ao PAR, ondeestávamos produzindo os primeiros desenhos do IPD-6504, preparandoalguma informação técnica que ajudaria o Garcia a escrever e propor oprojeto para ser aprovado pelo nosso diretor geral, Brigadeiro Castro Neves.
Alguns minutos antes da chegada dos oficiais-alunos, sobre o nosso velhoprédio de madeira do PAR, herdado do antigo grupo Focke, desabou umachuva das mais pesadas, com raios, trovões e muito vento. Naquele dia nãotivemos sorte. Uma das árvores caiu sobre o teto da sala de desenhos, abrindoum enorme furo no telhado por onde entrou quase toda a água do mundo,molhando tudo, inclusive os primeiros desenhos que já estavam praticamenteprontos.
129
A chuva cessou pouco antes da chegada do grupo. Seguindo o ritual previstofiz uma exposição sobre o nosso trabalho, mencionando os contratos com asempresas brasileiras fabricantes de aviões, sobre o desenvolvimento de novastécnicas de ensaios-em-voo, sobre o trabalho de institucionalização dosprocessos de homologação de aeronaves e, claro, sobre o nosso novoempreendimento – o Projeto IPD-6504. Durante a visita às instalaçõespassamos pelo escritório de projetos, ainda encharcado e com os própriostécnicos enxugando desenhos e as salas. Até aí tudo bem. Todos entenderamo que tinha acontecido.
Terminada a visita, acompanhei os colegas da FAB até a porta e, no instanteem que me despedia, um deles voltou-se a mim e, referindo-se ao projeto deconstrução do IPD-6504, que estávamos justamente começando e ao qual mereferi com tanto entusiasmo, disse:
“Até breve, Santos Dumont!”
Fiquei parado e pensando. Vai ser difícil contagiar a todos que podemosfabricar aviões desse porte no Brasil.
De qualquer forma, nada poderia amortecer nossa crença, e o trabalhoprosseguiu de forma dura e obstinada. Em agosto de 1965, a equipe estavapraticamente montada dispondo de uns cem técnicos do próprio PAR,extraídos dos projetos do CONVERTIPLANO e do BEIJA-FLOR, comadições conseguidas nos outros departamentos do CTA. O ITA, por exemplo,cedeu-nos os engenheiros Guido Fontegalant Pessotti e Plínio Junqueira.Ambos, além de aficionados pela aeronáutica, estavam entre os especialistasmais competentes que poderíamos obter. Eles foram elementos-chave noprocesso que se seguiu, vivendo conosco e com a equipe por muitos anos,dando expressivas contribuições não somente no plano técnico como tambémno estratégico.
Logo em seguida, Max Holste chegou ao Brasil. Trouxe grandedocumentação, toda ela acumulada durante seus muitos anos de atividade. Apapelada, vinda da França, deu-nos muito trabalho para liberar na alfândegabrasileira. Ainda do lado das complicações o construtor francês de aviões(como gostava de ser chamado) cumulou-nos de exigências. Discutiu emdetalhes onde moraria, impondo condições especiais. Entretanto, o maiscomplicado veio com o seu desejo inarredável de importar seu carro, umMercedes vermelho que, depois de uma grande maratona junto à burocracia,acabou chegando a São José dos Campos e rapidamente tornou-se muitoconhecido na área. Afinal, na época o Brasil era um país de economiafechada e, de repente, surge um francês baixo, atarracado e de grande cabeça,dentro do CTA, dirigindo um carro vermelho, importado. Era um statusespecial, agregado a muitas outras exigências, como por exemplo a de disporde uma vaga de estacionamento exclusivo, bem na frente da entrada do nossohangar, o X-10*.
130
* O X-10 foi o hangar que nos abrigou durante todo o tempo do Projeto IPD6504 e assistiu a montagem dos três protótipos que foram usados para ademonstração da viabilidade do que se propunha.
Enfim, tudo isso não passou de um folclore que ajuda a identificar um poucomelhor a personalidade não muito fácil do Max Holste. Entretanto, suacompetência técnica, seu espírito prático e seu conhecimento dos mecanismosde projeto e da produção eram inquestionáveis. Com rapidez o IPD-6504organizou-se e começou a marchar.
Naqueles dias chegou-nos, oficialmente, o texto da carta-acordo que Maxtinha assinado com o Brig. Balloussier e um item preocupou-nos de imediato.Ele tinha conseguido inserir uma cláusula estabelecendo que, nos contratosfuturos de vendas dos aviões, produzidos a partir do seu concurso, lhe seriafacultado, mediante acordo futuro, o recebimento de royalties, calculadossobre cada unidade fabricada. Eu tinha a certeza de que, na cabeça do Brig.Balloussier, estava apenas a substituição dos motores dos T-6. E, nesse caso,a cláusula era inócua.
Mas para nós, que objetivávamos a fabricação em série de um novo avião, adisposição representava um ônus potencial para a futura fábrica que, emboradistante e incerta, não poderia ser iniciada com um custo desse tipo.
Era muito evidente que não éramos experientes em práticas empresariais, masaquilo soava perigoso. Através das publicações especializadas era comumvermos balanços publicados pelas principais empresas aeronáuticas mundiaise as dificuldades das pequenas companhias nacionais que conduziamprogramas contratados pelo CTA. As margens líquidas de rentabilidade,calculadas sobre as vendas, eram em geral baixas. Aquela cláusula docontrato, que não nos parecia lógica, representava um obstáculo para umafutura fabricação seriada do avião que pudéssemos criar, se viesse a seraplicada. Durante muito tempo aquilo se manteve como uma preocupação edeterminamo-nos que, em qualquer oportunidade futura, deveria ser tentada aeliminação da condição desvantajosa.
As Formas de Trabalho
Colocando de lado as faces do complicado caráter de Max, seu gênioinquisitivo e suas constantes explosões, era inegável a constatação de quetínhamos conosco alguém que sabia o que fazer. Montou um bom escritóriotécnico no X-10 e lá distribuía as tarefas, dando ao Guido Pessotti umaposição ligeiramente destacada para conduzir frações do projeto. Isto foimuito bom pois Guido sempre esteve nas nossas cogitações para ser umfuturo homem-chave na engenharia da fábrica que pretendíamos implantar.
131
Naqueles momentos iniciais, tomamos muito do nosso tempo para rediscutiras especificações básicas do avião, a seleção dos equipamentos e dossistemas significativos. Os pontos mais importantes centravam-se no númerode passageiros
– fixados em nove e a consequente carga-paga – e no envelope de operação,cobrindo a performance desejada para as diferentes fases do voo. Esses itensfundamentais determinaram o peso máximo de decolagem, a potênciarequerida para o motor, além das dimensões e geometria do avião.
Max, com sua experiência, influenciou muito na seleção dos motores, dosequipamentos em geral e dos diversos sistemas. Desenvolveu grandes linhasde argumentação em relação aos tipos de soluções técnicas a serem adotadas,a indicação dos possíveis supridores do sistema hidráulico, incluindo ostrens-de-pouso, e do sistema elétrico. Após longas análises e discussões,ambos os sistemas foram contratados com as empresas francesas queanteriormente tinham trabalhado no BROUSSARD e no SUPER-BROUSSARD. Ainda não sabíamos, mas naquele momento, de uma maneiranão claramente estabelecida, estávamos fixando-nos num conceito detrabalho que no futuro veio muito nos ajudar.
Sempre sabendo que um avião é um complexo conjunto de equipamentos ede sistemas, ficou-nos muito claro que muitas de nossas necessidades nãopoderiam ser supridas ou produzidas no país e, necessariamente, teriam decontar com supridores externos, portanto importadas. Era o início de ummodo de proceder que evitava a verticalização, isto é, fabricar tudo nósmesmos, ou no país. A sofrida e longa história da construção aeronáuticabrasileira estava viva em nossas cabeças para nos provar que uma visão de
autossuficiência dos meios de produção poderia ter contribuído para fracasso,ou pelo menos para a maioria das dificuldades encontradas pelosempreendimentos pioneiros que nos precederam.
É preciso entender o clima que se vivia no Brasil, desde o final da década de50, em particular na área industrial. A economia seguia um caminho derestrição às importações, determinando um contexto econômico muitofechado ao mercado internacional. O Governo Federal aplicava uma políticade estreito controle das iniciativas para os investimentos e colocava-se naposição de promotor principal, seguindo um complexo esquema de controledas ações através de decisões centralizadas. No ápice da execução dessapolítica estava o CDI – Conselho de Desenvolvimento Industrial,subordinado ao Ministério da Indústria e do Comércio, com autoridade deaprovar projetos, conceder subsídios ou incentivos, restringir ou liberar asimportações, etc.
Aquele quadro influenciou muito no processo que pudemos utilizar para nosadaptar às circunstâncias. A compreensão do contexto em que vivíamos foimuito facilitada por uma indicação do Ministro da Aeronáutica,transformando-me em representante do Ministério no próprio CDI. Conhecios demais membros do 132
Conselho, entendi a forma de trabalhar e, é claro, fui informando-os do nossoprojeto, contagiando-os com o entusiasmo que se tinha gerado em São Josédos Campos. Levei-os a visitar o CTA e o IPD-6504. Pouco a pouco fomosformando uma opinião pública favorável. A imprensa, de tempos em tempos,divulgava alguma coisa sobre o que estávamos tentando fazer e, embora aatitude fosse de dúvida, acreditávamos que, com o tempo, isto poderia mudartransformando-se em apoio.
À medida que o projeto se desenvolvia buscávamos reunir argumentos,procurando demonstrar que aviões não eram produtos, como de hábitoacentuávamos, que somente se comprava. Eles também poderiam serfabricados aqui; e aqueles países que os produziam, embora pudessem contarcom uma infraestrutura mais desenvolvida, não faziam nada diferente do queestávamos tentando fazer.
A diferença básica do nosso programa, em relação àqueles que o CDI estava
habituado a aprovar, é que estávamos partindo para o desenvolvimento de umprojeto próprio e com a intenção de criar uma marca comercial brasileira. Osprojetos analisados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, na suaesmagadora maioria, vinham de empresas multinacionais, que para o Brasiltraziam seu capital, suas marcas, seus especialistas e seu know-howconsolidado. Este ponto era o que suscitava mais dúvidas, o dodesenvolvimento de tecnologia própria.
Muitos técnicos e especialistas, tanto do setor privado como dogovernamental, perguntavam sempre se não seria mais fácil e prático compraruma licença de fabricação ou, então, trazer uma empresa do exterior paraoperar no Brasil. A resposta a essas indagações não era simples, mastínhamos a convicção de que o mercado brasileiro que demandava aviões,embora grande, quando comparado com outros países, era diversificado e,por consequência, não geraria demandas economicamente adequadas para afabricação de apenas um produto. O resultado disso é que, qualquer que fosseo tipo de aeronave produzida, ela teria de ser também exportada. E, nistotodos concordavam, seria muito difícil atrair qualquer fábrica internacional deaviões para se instalar no Brasil visando a uma produção tão-somentedestinada ao mercado interno. A exportação também seria necessária. Ora,seria difícil encontrar um investidor que estivesse disposto a correr riscos deempreender num país como o Brasil, pobre de infraestrutura industrialsofisticada – como requer a fabricação aeronáutica –, oferecendo um mercadoprovavelmente insuficiente e ainda fazer com que o resultado da produçãolocal fosse competir com seus produtos no mercado internacional.
E, com essas provocações e debates acalorados que se sucediam, íamosaprendendo a argumentar e discutir os aspectos mais delicados e mais frágeisdo nosso projeto. Mesmo quando não conseguíamos a concordânciatentávamos não 133
gerar antipatia em relação ao empreendimento. Nesse aspecto a forte imagemde excelência do ITA foi de grande ajuda. A escola, única formadora deengenheiros aeronáuticos no Brasil, logrou – pelos bons resultadosconquistados pelos seus alunos no trabalho profissional e nos mais diversoscampos – ganhar uma reputação diferenciada que minimizava muitas dasdúvidas levantadas pelos críticos ao programa.
Max Holste, nesses aspectos, confirmou sua importância para nós. Elepróprio como estrangeiro e com uma reputação estabelecida ajudava,claramente, a dar seriedade aos nossos esforços. Ele tinha iniciado afabricação de aviões na França, através de uma empresa própria, iniciadaquase sem capital. Isto lhe conferiu uma habilidade especial para trabalharcom poucos recursos, embora fosse sempre determinado e firme em suaspostulações. É certo que tinha razão. Vindo da França, reclamava muito aausência de infraestrutura industrial aeronáutica do país e as dificuldades paraa importação dos itens essenciais.
Insistíamos que seu contrato somente poderia existir em função dessainsuficiência nacional. Afinal, conseguimos vender a ideia ao Governo deque era necessário ao Brasil contar com uma indústria aeronáutica,claramente porque o país não contava com iniciativas suficientes no setor. Eleacabou por conhecer todas as empresas que estavam operando na época econcordou que a infraestrutura colocada à disposição delas era insuficiente.Ele próprio, Max, estava convicto de que as nossas iniciativas e os nossosobjetivos eram justos, embora fosse um crítico de primeira grandeza da formapela qual tentávamos prosseguir. O
problema, acentuávamos com frequência, é que ele não conhecia nosso paíse, muitas vezes, em tom de brincadeira, eu lhe dizia: “No Brasil, o caminhomais curto entre dois pontos jamais é a linha reta”. E insistia: “Se tivéssemossignificativo desenvolvimento no setor, não haveria razões para a intervençãogovernamental direta. Nem para o seu contrato”.
Nossas conversas sobre as bases do empreendimento com o Max nuncaterminavam a contento. Era para ele difícil compreender por que nãoencontrava os componentes e os equipamentos de que precisava no mercadodoméstico nacional. E, se estávamos envolvidos no processo – como umórgão governamental
–, qual a razão das imensas dificuldades enfrentadas para as importaçõesdaquilo que aqui não existia? Chegou a ficar irritado quando, uma vez,durante nossas difíceis conversas, mencionei que, se tivéssemos um parquede empresas fornecedoras suficientemente montado no Brasil, muitocertamente não o teríamos chamado.
134
O Curso no CALTECH – Instituto de Tecnologia da Califórnia
O hangar do X-10, onde trabalhávamos, era uma boa construção. Amplo,com um vão interno da ordem de uns 40 metros, coberto com chapas dezinco, formando a típica superfície em arco, extremamente ruidosa durante aspesadas chuvas de verão, apresentando as costumeiras goteiras, como sempreacontece.
Nas áreas laterais, ao longo de ambos os lados, foram construídos doisandares de salas para escritórios, com um corredor no segundo piso, voltadopara o interior do vão interno. Desse corredor tinha-se uma completa visão daárea de trabalho do hangar. Toda a frente do X-10 era voltada para a pista depousos e decolagens –
separada por um pátio que acabávamos de pavimentar. Uma enorme e pesadaporta corrediça fechava o conjunto. Na parte traseira do prédio três andaresamplos abriam-se em salões internos, nos quais instalamos os escritórios deprojeto.
Foi lá, no X-10, que nos instalamos e começamos o trabalho no IPD-6504. Aconstrução ocupava uma parte da região mais alta dos terrenos do CTA, nosetor sul da cidade, uma São José dos Campos bem distante do que é hoje,uma grande cidade do velho Vale do Paraíba. Naquela época, próximo ao X-10, além das antigas instalações de madeira do PAR e de uma pequenaconstrução destinada à estação-rádio de controle do escasso tráfego aéreo,nada mais se via. Mais recentemente, embora outras construções tenham sidolevantadas, o X-10 ainda está lá prestando bons serviços e certamenteguardando para si as recordações dos desafios daqueles tempos, vividas porcerca de uma centena de visionários que fortemente acreditavam ser capazesde criar aviões e fabricá-los.
Em meados de 1965, quando as tarefas se iniciaram, em paralelo aoplanejamento do projeto de nosso novo avião, pensávamos também emengenharia civil. Fora do pátio, logo à frente do X-10, todo o entorno era deterra batida, de forte cor vermelha, típica da região. Poeira e buracos na secae lama na estação das chuvas. Aquilo precisava ser corrigido. Mas algo
diferente estava por acontecer.
Num dia de julho de 1965, o Brigadeiro Castro Neves chamou-me ao seuescritório e, de chofre, interpelou-me sobre a necessidade de que eu fizesseum curso de Pós-graduação em Aeronáutica nos Estados Unidos. Disse quetinha falado com o Ministro da Aeronáutica e estava decidido a dar ao CTA aoportunidade para que vários engenheiros pudessem buscar melhores níveisde formação. Fez um discurso sobre a importância da educação, com o qualevidentemente concordei, e que em continuação ao excelente curso que tinhafeito no ITA eu deveria buscar a graduação como Doutor em Filosofia (PhD),completando assim minha formação profissional.
135
Surpreso pelas colocações, e à medida que o Brigadeiro falava, passavam-mepela cabeça todos os problemas ligados ao desenvolvimento do IPD-6504,recém-iniciado. Conhecia bastante bem o processo que foi utilizado paraconseguir a aprovação do projeto. Procurei, ansiosamente, argumentos paracancelar minha cogitação ou adiar uma potencial matrícula em universidadeamericana. Nunca tinha pensado no assunto e tentei, como pude, dissuadi-lo epedir-lhe que removesse meu nome de sua lista. Os argumentos colocadosforam imediata e fortemente recusados. O Brig. Castro Neves era firme nassuas posições. Tinha decidido que o Ozires deveria ser Doutor emAeronáutica. Ponto final!
As providências deveriam começar imediatamente, a fim de me ser permitidaa matrícula numa Universidade norte-americana e iniciar o curso no anoletivo, no princípio do mês de setembro, dois meses após. Pensei comigo, oBrigadeiro parece não saber quanto é difícil postular uma vaga em escolasdos Estados Unidos. No entanto, como militar, tinha recebido minhas ordens.
Voltei desolado ao PAR e imediatamente recebi uma chamada telefônica doDiretor do IPD, Coronel Sobral cumprimentando-me pela escolha acertada doDiretor Geral. Como sempre, ele não falhava no seu espírito realizador eempreendedor. Do meu lado, claramente percebi que as coisas começavam aficar difíceis. Poucos dias depois, mesmo antes de qualquer resposta minha –não pedida – o Ministério da Aeronáutica publicava a autorização para eu sairdo país, a fim de me matricular no curso de pós-graduação no exterior.
Chamei o Ozílio e telefonei ao Garcia, que já sabiam da decisão doComandante.
Como sempre, prático ao extremo, Ozílio perguntou-me quem iria mesubstituir.
Não sabia. Max ficou inseguro e manifestou a intenção de procurar oBrigadeiro Castro Neves. Nunca soube se ele tentou, mas sei o resultado.Acabei tendo de sair do PAR e ir para os Estados Unidos, tudo em menos deuma semana.
A autorização do Ministério não dizia para que escola estava indo e eraabsolutamente lacônico. Decidi ligar ao Piva, que, desde o ano anteriorcursava o Instituto de Tecnologia da Califórnia (CALTECH), e consultá-lo.Sua reação foi de enorme entusiasmo dizendo:
“Venha para cá. O Instituto é uma das melhores escolas, se não é a melhor,para a pós-graduação de especialistas em aeronáutica. Muitos dos professoresque aqui estão são os autores dos livros que nós estudamos no ITA”.
E foi mais longe. Informou-me que, no dia seguinte, procuraria o Prof. ErnestSechler, que era seu Orientador, e proporia eu ser recebido no Instituto. Domeu lado, lembrava-me bem da importância do Prof. Sechler. Ele era o autordo livro de Estruturas Aeronáuticas que tinha sido o texto fundamental donosso curso e a bibliografia, da qual mais me utilizei para o projeto do tanquede ponta de asa que 136
instalei no NORTH AMERICAN T-6, objeto do trabalho individual de minhaformatura no ITA.
O tempo era curto. Se tudo corresse como programado eu deveria estar naCalifórnia, no máximo, na semana que antecedia o 4 de setembro de 1965, afim de montar meu curso e iniciar as aulas no dia 6. Para conseguir issodeveria deixar o Projeto IPD-6504, passá-lo ao meu sucessor, desmontarminha casa e mudar-me com a família para um outro país. Não poderia meesquecer de que, novamente, teria que me “desenferrujar”, isto é, relembraras matérias teóricas que garantiriam o curso que fizesse. As universidadesnorte-americanas são muito conhecidas pelo forte embasamento teórico a que
submetem os seus alunos. Eu não poderia chegar lá bastante “verde” e, muitocertamente, depois que o curso começasse deveria esperar um real massacre –não haveria tempo para rever mais nada.
Discuti muito as opções disponíveis para selecionar o meu sucessor com oCel.
Sobral, Diretor do IPD. Sobral sempre foi um entusiasmado defensor dapreparação do seu pessoal e não escondia sua alegria pela minha designaçãopara a minha pós-graduação em aeronáutica. Infelizmente, eu não partilhavadessa alegria.
Preocupava-me com o 6504. Não desejava ser presunçoso e imaginar quetudo somente funcionaria comigo ou com minha equipe. Mas não meesquecia de que a Chefia do PAR era um cargo militar e, portanto, um oficialdo Centro Técnico deveria substituir-me e as opções não eram muitas.Finalmente foi decidida a designação do Major Álvaro Brandão Soares Dutra,oficial engenheiro e amigo não somente meu, mas também de todos os quetrabalhavam no projeto, notadamente o Ozílio e o Guido – já na época aspessoas mais importantes para o êxito do que se fazia.
Com essa parte resolvida, dediquei-me a resolver os problemas que afetariama viagem e explicar ao Max Holste o que tinha acontecido. Ele não entendeu,mas surpreendentemente aceitou a situação de forma mais fácil do queimaginava.
No final de agosto 1965 voamos para Los Angeles, minha família e eu,alojando-nos em Pasadena, na casa do Piva, até acharmos um local paraalugar um pequeno apartamento que nos abrigaria no período que deveriapassar estudando e obter minha pós-graduação inicial como Mestre emCiências Aeronáuticas (MSc). Não tinha a menor intenção de passar quatroanos estudando para ser Doutor. O
projeto do nosso avião de transporte empolgava-me. Queria regressar assimque possível. Condicionei-me a dar tempo ao tempo, imaginando que, aofinal da primeira etapa, poderia conseguir junto à Aeronáutica, umaautorização para retornar ao Brasil.
Logo no dia seguinte Piva levou-me ao CALTECH para minha primeiraentrevista com o Prof. Sechler, que tinha decidido também ser meuOrientador, como era o 137
do Piva. Fiquei surpreendido. Nossa entrevista durou apenas uns 40 minutos,quando lhe apresentei minhas credenciais, o currículo dos meus cursosanteriores, o diploma do ITA, etc. Tudo em português e nada pedido para sertraduzido por tradutor juramentado ou notarizado, sem firma reconhecida.Enfim, completamente diferente do que se observa nesta Terra de Santa Cruz.
O Prof. Sechler deu uma olhada e disse:
“Bem, qual é a carga horária que deseja? Se sua intenção é permanecer naescola somente um ano, pelos requisitos será necessário selecionar matériastécnicas para serem cursadas por, no mínimo, 45 horas semanais. Tenhoreceio de que isso lhe seja demasiado, pois você acaba de chegar, não estáadaptado ao país, vai estudar em língua estrangeira, etc. Por outro lado oCALTECH exige que adicionalmente estude, pelo menos 9 horas porsemana, alguma cadeira social. Isto lhe dará uma carga de trabalhocorrespondente a 54 horas. Puxa, digo eu, é demais!”
Voltei a argumentar: “Insisto que preciso voltar dentro de um ano. Tenhoescolha?”
Resposta direta: “Não!”
Assim o negócio foi fechado. Nenhum papel até ali. Nada se assinou e oimpressionante é que tudo aconteceu como nos falamos naqueles curtos ediretos momentos.
Dia 6 de setembro de 1965, às oito horas da manhã, lá estava eu, numa turmade 44 alunos, muitos estrangeiros – sobretudo indianos e canadenses –,tentando
“perseguir” o inglês do meu novo professor de Aerodinâmica. Senti o peso doporrete! O que ele deixou para fazer em casa deu-me a impressão de quelevaria um mês.
A corrida contra o tempo começou e, a partir daquele primeiro dia, passei aconhecer todos os pássaros noturnos da Califórnia, vistos e ouvidos atravésda janela da cozinha do nosso pequeno apartamento, onde estudava.
O curso foi extremamente útil. Aprendi muito não somente nos cursostécnicos.
As chamadas disciplinas sociais, mencionadas pelo Professor Sechlermostraram-me um mundo novo, entrando pelos mecanismos de construçãodas forças competitivas para os produtos a serem fabricados, desde suachegada até vencerem nos mercados sofisticados dos consumidores. Poroutro lado, foi uma experiência ampla viver numa sociedade organizada,respeitosa para com os cidadãos, com vocações nitidamente deempreendedores e, sobretudo, fazer novas amizades. Algumas delas mostrar-se-iam importantes para o próprio trabalho do projeto IPD-6504. É claro queo Brasil era um ilustre desconhecido e dediquei-me muito a explicá-lo –como se isso fosse fácil – para meus colegas de sala de aula.
138
Falei que estávamos tentando criar um novo avião de transporte aéreoregional – a maioria nem sabia o que seria isso.
Um dos colegas, Michael M. Griffin, interessou-se, graças à sua veiamercadológica, e perguntou quem nos Estados Unidos já produzia um aviãosemelhante. Ele nunca chegou a acreditar que nenhuma empresa americanaestava tentando aproveitar aquele segmento de mercado aberto pela demandapotencial das pequenas comunidades. Ele concordava com meus argumentos,contudo achava estranho que ninguém mais, mesmo na ampla e competenteindústria norte-americana, pensava daquela forma.
Um dia, cruzando um dos bonitos jardins da CALTECH, um dos meusprofessores pegou-me pelo braço e disse:
“Venha comigo! Vamos assistir a uma palestra sobre a luz!”
Não entendi o que eu teria a ver com aquilo. Afinal o meu curso era deAeronáutica. Dei de ombros e acompanhei-o. O auditório não era dos maiores
e acomodava umas cem pessoas. O expositor estava falando com entusiasmosobre umas pesquisas que estava fazendo sobre a luz, descrevendo eapresentando uma série de equações – que não entendi – e acentuando quetudo estava dando certo e que o projeto estava quase pronto.
Terminada a conferência alguém perguntou para o que servia aquilo. Aresposta foi surpreendente:
“Ainda não o sabemos! Na realidade temos uma solução em busca de umproblema!”
Pouco mais tarde soube que a conferência que tinha ouvido era sobre LightAmplification by Stimulated Emission of Radiation: “LASER”!!! Éimpressionante a lembrança de que o inventor dessa maravilhosa descoberta,não ter, naqueles primeiros momentos, ideia das amplas aplicações datecnologia no mundo de hoje!
Em junho de 1966 enfrentei a cerimônia de graduação. Tinha conseguidoaprovação após um ano de extenuante esforço. O Prof. Sechler tivera razão.A carga de trabalho de 54 horas semanais tinha sido quase impossível. Vivimomentos de sufoco e de virtual exaustão, mas cheguei ao final.
Piva, que estava decidido a obter o seu PhD (Doutor em Filosofia), aindapermaneceria para concluir seu trabalho. Realmente eu invejava suacapacidade imensa de fazer as coisas ordenada e aparentemente com calma emétodo. As minhas 54 horas impunham um regime forçado e não me davamtempo para quase mais nada. Os momentos de lazer eram raros, sempreaproveitados com sofreguidão, numa tentativa de dar alguma atenção à minhafamília – da qual eu era um grande ausente. Felizmente, minha mulher,Therezinha, e meus filhos, 139
Arnaldo e Ana Maria, – ambos na escola elementar – já tinham feito seusamigos e ocupavam o tempo como qualquer outra família americana.
Pouco antes de terminar a primeira etapa do curso de pós-graduação comeceia mexer, através de minhas ligações com o Ministério da Aeronáutica, paraconseguir a autorização de regresso, interrompendo o curso e contentando-mecom o título de Mestre em Ciências (MSc). Nunca cheguei a compreendercomo fui autorizado a regressar ao Brasil. O certo é que fiquei muitocontente, embora, voltando, não sabia se poderia reassumir meu antigo cargoe continuar ligado ao projeto do nosso avião.
Um Gigante Chamado Paulo Victor
Chegando ao Brasil, fiquei feliz por voltar a ser designado para o CTA e
encontrei um novo Diretor Geral, o Coronel Paulo Victor da Silva.
Ozílio, durante minha ausência, procurou manter-me informado sobre oandamento do projeto e sentia que ele não estava munido do mesmoentusiasmo com que o tinha deixado. Posteriormente confessou-me que asdificuldades, como já antecipávamos, eram enormes. Algo precisava ser feitopara que se ganhasse credibilidade. Todos sabem quanto é longo um períodopara se projetar e fabricar um avião – a média internacional levava-nos há unscinco anos. E isto é muito tempo. Desde os episódios, nunca esquecidos doCONVERTIPLANO e do BEIJA-FLOR, o ceticismo no CTA era imenso, eesperar tanto tempo para que um novo avião voasse e submetidos às sombrasdo passado, reconhecia-se que era difícil.
Foto 22 Brigadeiro Paulo Victor da Silva, diretor-geral do CTA em 1966.
140
Quando regressei acalentava a ideia de voltar ao PAR e retomar o IPD-6504,mas, pensava eu, tínhamos um novo Diretor. O Cel. Sobral já tinha decididodeixar a direção do IPD e, a pedido do Brigadeiro Balloussier, estava maisdedicado às atividades espaciais, no recém-criado Grupo Executivo deTrabalhos e Estudos de Projetos Especiais – GETEPE. No PAR a equipeestava intacta, com o Max trabalhando e, como dizia Ozílio, criando todos oscasos do mundo, pouco satisfeito e desmotivado.
Quando soube que meu regresso seria para o CTA, fiquei contente.Apresentei-me ao Brigadeiro Paulo Victor, que já conhecia dos nossos voosno CAN. Ele me recebeu de braços abertos e de antemão estava preparado(imaginei pelo Garcia –
ainda no IPD – e pelo Ozílio). Formalmente convidou-me para reassumir oPAR.
Aceitei de imediato e, já no dia seguinte, voltei ao X-10 revendo os amigos eo projeto do nosso avião, que me pareceu um pouco atrasado. Tínhamos umgrande trabalho à nossa frente.
O Brigadeiro Paulo Victor era realmente uma impressionante figura forte,
com o vigor e a iniciativa que nosso projeto precisava. Senti que não tinhasido absolutamente difícil vender a ele a ideia de projetar um avião detransporte aéreo regional. Formado pelo ITA em 1953, ele foi o primeiroentre os engenheiros do Instituto a assumir o Comando do CTA. Dotado deum entusiasmo contagiante, era dono de uma férrea vontade e umadeterminação impressionante.
Ele trabalhava em todas as frentes, tinha uma disposição invulgar e umadedicação a todas as provas. Atacou todos os problemas do CTA e muitosconseguiu resolver, ao mesmo tempo em que nos dava um apoio diferenciadono projeto do IPD-6504. Determinou-se a conseguir e convencer a Diretoriade Engenharia do Ministério da Aeronáutica a iniciar a construção de umapista pavimentada para a operação dos aviões em São José dos Campos. Elacomeçou a ser construída, mesmo em 1966, com o objetivo de que estivessepronta quando do primeiro voo do nosso protótipo.
A empreiteira que ganhou a concorrência pública designou para Chefiar aobra e construir a pista o Eng. Delamare, que rapidamente deixou-seconquistar pelo nosso projeto. Ao nosso lado, suportava o imenso ruídocausado pelo martelar sobre chapas de alumínio para formar a estruturabásica do avião que teimávamos em construir.
Enquanto nós, do nosso lado, colocávamos carinho no processo criativo quenos empolgava, ele tocava com entusiasmo a construção da pista, convicto decumprir todos os prazos. Suas visitas às peças e equipamentos que íamosprojetando e fabricando eram constantes, contagiado que estava pelo desafiode colocar no ar o avião brasileiro. A tarefa do Delamare não era simples. Oobjetivo do Brig. Paulo 141
Victor era construir uma pista ambiciosa, de 2.400 metros de comprimento,com base e sub-base suficientemente capazes de receber aviões, entre os maispesados da época. Nunca tivemos dúvida de que o Delamare era o homempara a tarefa.
Estávamos certos de que ele realizaria a obra.
Para o trabalho técnico sobre o Projeto do IPD 6504, tínhamos de reconhecerque, partindo de um grupo inicialmente bem preparado, mas inexperiente,
acabamos por reunir um bom time. Obviamente, tínhamos conseguido ganhospelo aproveitamento dos técnicos e especialistas que vinham dos projetosBEIJA-FLOR e CONVERTIPLANO, do ITA e de outros departamentos doIPD. Todos, de uma forma ou outra, eram ligados ao CTA. Da seleção dopessoal, análise e entrevistas, o Ozílio tomava conta. Como sempre muitodiligente em colocar no papel e em organização tudo aquilo que, tornando-sereais avalanches de problemas, tinha de ser resolvido e colocado em prática.
Os passos iniciais não foram fáceis. Todo o material necessário aos trabalhosde projeto, pranchetas, equipamentos para desenho, papel especial,copiadoras, etc., foi conseguido no próprio CTA. As matérias-primas para osprotótipos, de aplicação direta nos aviões e espécimes de ensaios, pudemosobter junto aos Parques de Aeronáutica da FAB, notadamente os do Rio deJaneiro – no Campo dos Afonsos –
e em São Paulo, este situado no Campo de Marte. Era uma romaria contínuapara pedir coisas que não constavam dos catálogos de peças. Claro que onosso avião não estava associado, nem se baseava em nenhum dos modelosdentre aqueles existentes e em operação na Força Aérea.
A reação geral, nesses órgãos técnicos de suprimento de peças e deequipamentos do Ministério da Aeronáutica, era curiosa; quando chegávamosaos dirigentes ou mesmo ao pessoal dos armazéns e pedíamos material pornome ou tipo, e não por número de parte ( part number), eles coçavam acabeça e ficavam a pensar na maneira de encontrar, entre os milhares de itensnas prateleiras, aquilo que queríamos. Boa vontade não faltava, o que faltavamesmo eram os materiais de que necessitávamos e uma metodologia de comoencontrá-los nos imensos armazéns.
Os desafios para configurar o produto final
Enquanto fazíamos essas peregrinações, Max Holste ia trabalhando com seutime de projetos que, progressiva e muito naturalmente, passou a ser lideradopelo Guido, que, graças a sua formação e real talento, desde o iníciomostraria valor e uma vocação muito nítida para o trabalho que se iniciava.Ele era professor no ITA e desde sua formatura como EngenheiroAeronáutico, em 1960, dedicava-se ao projeto de um planador de altaperformance, o URUPEMA, que se destacava pela 142
harmoniosa beleza de sua concepção. Guido, com uma tenacidade incomum,conseguiu fabricar um exemplar, enfrentando todas as dificuldades quenormalmente se antepõem a projetos dessa natureza, em uma escola deengenharia. Esse trabalho credenciava-o, diferencialmente em relação aosoutros candidatos, para exercer tarefas de liderança dentro do nosso projeto.Era um projetista inato e o futuro iria provar o acerto da escolha que entãofizemos.
Combinamos com o Guido que deixaria o ITA, mas nós tentaríamosconseguir apoio para fabricar em série o seu planador o qual, justificávamos,poderia constituir-se em fonte de treinamento para nossos técnicos eengenheiros. É claro que, nas circunstâncias em que vivíamos, era muitodifícil prometer algo, mas precisávamos do Guido. Tínhamos certeza que eleviria compor nossa equipe com bastante entusiasmo e por essa razãoprocuramos não forçar que abandonasse o projeto do planador ao qual sededicava, desde os tempos do seu curso de Engenheiro Aeronáutico no ITA.
Entre os desenhistas especializados o grupo dispunha de gente capaz, comanos de experiência obtida em projetos anteriores do próprio CTA. Nesseaspecto os velhos projetos do CONVERTIPLANO e do helicóptero BEIJA-FLOR ajudaram. Muitos nomes foram vitais para o trabalho queprocurávamos realizar: Itacaramby, Swoboda, Kurt, Bueno, Charles Dreuz,Liebgott e tantos outros.
Paralelamente trabalhávamos para detalhar a especificação do IPD-6504. Nãopoderíamos errar na determinação do mercado que o nosso avião deveriaatender.
Este sempre foi um problema permanente e sério na criação de qualquer novoavião. Compreendíamos que, para projetar e lançar a fabricação de uma novaaeronave, leva-se um bocado de tempo, em geral cinco anos, e durante esseperíodo as características do mercado podem mudar. Diríamos que o processopode ser estudado com técnica, mas certamente a “bola de cristal” e muito desentimento ou percepção funcionam.
Sempre será muito importante que o lançamento de uma ideia, de um novoproduto sempre precisará ser ajustado aos requisitos de demanda cinco anosdepois. Assim, a especificação do avião tem de ser abrangente e bem
discutida com todos, tentando ajustá-lo às prováveis necessidades dosconsumidores potenciais, não somente os domésticos, mas também e sepossível, do mundo. Não fugiam da nossa cabeça os inúmeros exemplos depioneiros que, com obstinação e lucidez, tinham conseguido fabricar aviõesno Brasil. Muitos tiveram sucesso e colocaram no ar seus aparelhos, masfalharam num ponto que sempre trazíamos para a mesa de discussões eidentificávamos como fundamental: as vendas! Ou seja, para quem os nossosaviões seriam vendidos? A busca de resposta a essa pergunta era o centro dasdiscussões. O que basicamente se levantava era que o avião produzido teriade ser, no seu tempo de produção, o produto certo. E ao custo certo!
143
Nesses tipos de considerações procurávamos expandir as ideias e abrangertodos os tipos possíveis de utilizadores, o Governo, não somente o nosso, mastambém os dos outros países. As diferentes Forças Aéreas e, no caso dosaviões civis de transportes, as empresas com suas conexões aéreas detransporte de passageiros e de carga. Caso versões diferentes dos produtosassim o permitissem, teríamos que incluir os operadores privados, com seusmúltiplos usos, se estendendo até operações especializadas, e assim pordiante.
No Brasil as líderes em vendas de aviões, em termos de quantidade, eram asempresas norte-americanas, em particular CESSNA, PIPER e BEECH, asquais tinham criado uma boa estrutura de comercialização e ofereciam osmais variados aviões –
desde os pequenos para treinamento até os maiores, capazes de transportarquatro ou mais pessoas. Nas linhas aéreas regulares de grande porte, comoVARIG, TRANSBRASIL e VASP, a operação era diversificada. Dentre asaeronaves utilizadas destacavam-se os BOEING e os DOUGLAS, dosEstados Unidos, os franceses da AEROSPATIALE e alguns ingleses daBRITISH AEROSPACE e holandeses da FOKKER.
Estudávamos com atenção e cuidado as características desses aviões,construindo tabelas comparativas e selecionando alguns dos seus parâmetrosbásicos tentando compreender em que lugar o nosso avião se enquadraria ecomo deveria ser criado para ser melhor. É claro que seu tamanho e seu
motor turbo hélice, não o colocava entre os grandes jatos necessários aotransporte aéreo nacional, mas as comparações podiam certamente nos ajudara ajustá-lo melhor a potencial demanda do transporte aéreo.
À medida que os estudos evoluíam ficávamos mais e mais convencidos deque o IPD-6504 tinha um lugar destinado no contexto das atividadesmodernas, transformando-se num real instrumento de pequeno porte para otransporte de passageiros e de cargas. As dimensões geográficas do Brasilclamavam por uma rede bem pulverizada de linhas aéreas. No entanto tudoestava acontecendo ao contrário, tudo era mais concentrado nos centrosgeradores de tráfego, em face do crescente uso dos novos, maiores e velozesjatos, progressivamente colocados em serviço pelas grandes empresasnacionais. Estávamos certos de que, tais grandes aviões, requerendo pesadase sofisticadas infraestruturas de solo, jamais atenderiam as cidades menores,com aeroportos insuficientemente equipados e pistas demasiadamente curtas.Assim, o espaço do tráfego aéreo periférico não estava preenchido, fazendocom que o nosso projeto tivesse o maior sentido.
Alguns pregavam que o remédio, para que os grandes aviões chegassem àspequenas cidades, seria a execução de pesados investimentos eminfraestrutura, melhorando os aeroportos. No entanto, todos reconheciam quea soma de recursos financeiros disponível não era suficiente. Aí ficava oargumento: se os 144
aeroportos e as pistas eram insuficientemente preparados, os aviões queestavam nos nossos pensamentos poderiam a resposta.
A tendência global de demanda para se contar com serviços adequados detransporte aéreo se acentuava. O cenário no Brasil, e mesmo no exterior,continuava a apresentar a clara feição de ser dominado por aviões de grandeporte, em face de serem capazes de oferecer custos operacionais, porpassageiro, mais reduzidos, permitindo, portanto, melhores margens deretorno às empresas.
Todavia, enquanto o custo para o operador pode ser menor, através dautilização de aeronaves pesadas, apenas um número cada vez menor decidades ganhava o privilégio de dispor do serviço. O resultado era que opoder público ficava sob a pressão das pequenas comunidades, que
reclamavam contra os privilégios injustos decorrentes dessa situação. Aspopulações são bem conscientes nos momentos de exigir que eles estejamdisponíveis, embora pouco compreendendo os mecanismos necessários para aadequação dos serviços que lhes são prestados, Assim, estávamosconvencidos de que o espaço para os aviões de menor porte, como o 6504,crescia. Os problemas da vida moderna e a necessidade de maior eficiênciano uso do tempo mais e mais consagravam o uso intensivo do transporteaéreo, e ele não poderia ser elitista, atendendo unicamente às importantesmetrópoles. Sabíamos que estávamos no caminho de criar um potencialvencedor.
Mais um argumento nos apoiava. Apenas 40 destinos, em todo o territórionacional brasileiro, eram atendidos disponibilizando o serviço de transporteaéreo.
Poucas cidades, além das capitais, contavam com as facilidades do voocomercial.
Era claro que aquele quadro pintava uma grande necessidade para um tipo deavião de transporte, de pequeno porte e capaz de operar na parcela maissignificativa dos 4.500 municípios existentes no Brasil. Esses dados básicosdavam as indicações para a definição de que tipo de avião seria o 6504.
Essa linha ampla de ideias foi, pouco a pouco, melhor entendida e teve umpeso significativo para influenciar a montagem da especificação detalhada doprojeto.
Na hipótese de sucesso do conceito que tínhamos escolhido, poderíamosencontrar espaço para oferecer ao mercado comprador o nosso produto,preenchendo uma necessidade e oferecendo serviços cuja demanda estavaesboçada com razoável clareza.
As discussões e os estudos, balanceados todos os argumentos, levaram àsseguintes características, que foram observadas durante todo o tempoutilizado para a fabricação dos três primeiros protótipos:
Peso máximo de decolagem
4.500 kg
Capacidade máxima
7/9 passageiros
145
Carga paga máxima
900 kg
Alcance máximo
1.850 km
Velocidade máxima de cruzeiro
450 km/h
Distância de decolagem
460 m
Distância de pouso
530 m
Para esse tipo de missão que se imaginava – todos sempre concordaram quese falava de um bimotor – era importante chegar-se a um avião moderno,seguro e eficiente. Era muito comentada, em tom de mofa, a afirmativa deque “somente há dois tipos de passageiros: os que têm medo de voar e osmentirosos”. Assim, é notório que os passageiros sempre se sentem melhorquando veem, pelo menos, dois motores, embora os mais espirituosos digamque na realidade são duas possibilidades de falha. Essas colocações não são lámuito justas, afinal os motores modernos, em particular os jatos, já erammuito confiáveis.
Foto 23 O primeiro protótipo do IPD-6504, em 1968.
146
É curioso assinalar como o avião ainda impõe respeito aos viajantes. Istotalvez seja devido ao fato de que ele usa uma terceira dimensão, a altura, nãomuito familiar à raça humana que se habituou, ao longo de milhões de anos,ao deslocamento bidimensional sobre a superfície da Terra. Não são muitoconvincentes os argumentos que se pode produzir, baseados em fatos, quantoaos extraordinariamente elevados índices de segurança dos modernos aviões.Isto parece não contar muito, pois a cada acidente que ocorre – e não importaquão distante seja – as notícias são sempre tratadas com destaques especiais.No entanto, voltando aos fatos, pode-se afirmar que na atualidade o avião ésem dúvida um dos mais, senão o mais seguro entre os meios de transportedisponíveis.
Considerações à parte, os estudos técnicos indicaram que o nosso IPD-6504
deveria, portanto, ser equipado com dois motores.
A consequência direta de tal decisão influenciou a formação dos custos danossa empreitada. O impacto foi claro. Os volumes de recursos de queprecisaríamos para o projeto e, posteriormente, para os de industrialização ede produção dos aviões apresentariam significativo acréscimo. No entanto, asdificuldades que antevíamos para convencer as autoridades não foram demonta, pois todos tinham no subconsciente que o avião teria mesmo de serum bimotor.
O transporte de passageiros é uma atividade comercial e ligada ao serviçopúblico. Não haveria nenhuma dúvida de que seria claramente essencialtentar identificar os fatores que influenciariam a formação do preço final do6504. Tudo teria de ser considerado, desde a quantidade de dinheiro que sedeveria aplicar no projeto, na homologação, na produção até, finalmente, nacomercialização. Mais do que tudo era fundamental que o avião pudesse servendido a um preço compatível com os concorrentes internacional eproduzisse um custo direto de operação competitivo em relação a aparelhosequivalentes. Estas considerações se justificavam, embora não tivéssemosdetectado existir no mercado nenhum outro produto similar que respondesseàs características do nosso projeto.
Para as primeiras estimativas, usando técnicas e manuais de origem francesa,obtivemos parâmetros que indicavam que, somente para conceber e projetar oavião, os custos seriam da ordem de US$ 3 milhões por tonelada do pesomáximo de decolagem. Assim, para os nossos 4.500 kg, seria necessárioconseguirmos algo perto de US$ 13,5 milhões, número este demasiadogrande para os costumeiros orçamentos minguados da estruturagovernamental de pesquisas e desenvolvimento, sob a qual vivíamos. É claroque, trabalhando dentro de uma estrutura governamental, o número poderiaser menor. Mas quanto? Não o sabíamos.
A redução dos custos do trabalho era um argumento adicional para limitar otamanho do nosso projeto. Assim, não poderíamos partir para fabricar umavião 147
pesado, independente das limitações técnicas, se os problemas de comofinanciar o empreendimento não pudessem ser satisfatoriamente
equacionados. Por outro lado o próprio Max Holste, tendo produzido naFrança aviões de pequeno porte, acentuava claramente que não aceitaria aincumbência de projetar, com a equipe que pudéssemos dispor, algo quefosse maior do que tinha feito até então.
A partir de uma variedade de premissas iniciais os passos seguintescomeçaram a se apresentar com maior clareza. Por exemplo, se o IPD-6504se configurasse como um meio de atingir as comunidades menores, eleprecisaria ser robusto, uma vez que teria de operar em pistas não-pavimentadas e não poderia depender de pesada infraestrutura aeroportuária.Logicamente deveria ter uma escada para a entrada e saída dos passageiros,embutida na porta.
Seus motores teriam que proporcionar grande tração nos primeiros metros dacorrida de decolagem, para assegurar o voo após curta corrida no solo e,quando para o pouso, boa capacidade de frenagem deveria ser conseguida.Estas considerações, além de outros parâmetros de ordem geral, levaram-nosa pensar em equipar nosso pequeno bimotor com hélices, uma vez que apropulsão a jato puro não cobria as duras especificações de trabalho impostaspela precária infraestrutura das pequenas cidades. Por outro lado os reatores ajato puro eram mais caros e consumiam mais combustível.
Desde sua chegada ao Brasil Max Holste, tentando reduzir os custos deprojeto, pensava na utilização de motores convencionais a pistão, ideia estaque descartamos em face do elevado custo da gasolina de aviação no Brasil,bastante superior ao preço de venda do querosene para motores a reação. Poroutro lado tínhamos um argumento subjetivo a superar: o nosso avião nãopoderia ser considerado pela opinião pública antigo; ao contrário, deveriamostrar modernismo, se possível, nos menores detalhes.
Max não era favorável aos jatos, confessadamente por falta de experiência.Eles permitem velocidades maiores do que os aparelhos propelidos porhélices que tinham na época, e ainda têm, uma limitação máxima develocidade que se situa entre 500 e 600 km/h. Já o jato convencional voa bematé 800/900 km/h, mas opera no chamado “escoamento compressível”, querequer considerações aerodinâmicas diferentes daquelas utilizadas nos aviõesa hélices. Em 1965, quando estudávamos o assunto, os “turbo-fans” – oumotores a jato com altas taxas de diluição ( by-pass) – estavam dando seus
primeiros passos e, absolutamente, não eram disponíveis para a faixa detração que precisávamos (da ordem de 1.500 libras – 700 kg – de empuxoestático).
Os turbo-fans, que tecnicamente podem ser considerados um meio caminhoentre os motores turbo hélice e os chamados jatos puros, poderiam ser umasolução, se disponíveis. Esses tipos de motores são capazes de proporcionartração 148
mais elevada nas baixas velocidades, permitindo aviões bons para decolar depistas curtas, em altitudes mais elevadas e com temperaturas altas, típicas doverão brasileiro, aliando alta velocidade de cruzeiro.
Para se estudar a performance dos aviões, a densidade do ar é um fatorprimordial. A Física ensina-nos que quanto mais alta a temperatura do ar emaior a altitude, menor é a densidade. E, quanto menor ela seja, mais pobrefica o desempenho dos aviões. Baixando a densidade, a corrida de decolagemfica mais longa, a potência obtida dos motores cai, o consumo de combustívelcresce.
Por essas colocações simplificadas pode-se compreender quanto eraimportante fazer considerações sérias sobre esse tema. O Brasil, cuja maiorparte do território está na faixa tropical da Terra, oferece, quasepermanentemente, três inimigos que atuam contra uma boa performance paraos aviões: temperaturas relativamente mais altas, em alguns casos a altitudedas localidades em relação ao nível do mar e valores normalmente elevadospara a umidade relativa.
A referência técnica para os trabalhos de projeto e para as operações dosaviões é a atmosfera-padrão (do inglês: ISA – International StandardAtmosphere), que define a temperatura do nível do mar em 15o C e a pressãoigual a uma atmosfera (14,7 lb/pol2). Com base nos valores médios que seencontram na atmosfera natural foram estabelecidos os dados para asdiferentes altitudes. Assim, foram tabelados os parâmetros que o ar podeoferecer em diferentes situações de altura das localidades e as respectivastemperaturas, daí resultando as densidades correspondentes. Esta sim, adensidade, é o dado mais essencial para determinar uma condição de voo,pois o desempenho do avião e dos motores dela dependem diretamente.
No Rio de Janeiro, e em muitas outras capitais ou cidades do interiorbrasileiro, durante o verão – bastante longo no país – facilmente chega à casados 40o C. Isto representa uma formidável diferença trabalhando contra aeficiência e o custo da operação. Com essa característica do nosso mercado, atemperatura continua sendo um parâmetro que não poderia ser minimizado.Quando fazíamos essas considerações imaginávamos somente o Brasil. Noentanto quando, no futuro, iniciamos nossas exportações e enfrentamos osmercados externos vimos que não estávamos errados. Mesmo nos países dazona temperada do globo a temperatura é também importante para eles.Afinal, todos os países têm um período de verão a cada ano!
Tudo isso reforçava a ideia de que deveríamos usar hélices, embora fossepreocupante a atitude do passageiro aeronáutico de dar preferência clara aosjatos. Todavia, no nível tecnológico em que se encontrava o desenvolvimentodos grupos moto-propulsores dos aviões, as trações que se conseguiam paraas hélices eram muito maiores do que aquelas proporcionadas pelos motoresa jato. Embora 149
os argumentos do lado dos passageiros, com os jatos oferecendo maisvelocidade, sensação maior de segurança e menores níveis de ruído e devibração, não tivemos alternativas e cedemos aos argumentos técnicos econfiguramos nosso pequeno avião para receber motores a reação equipadoscom hélices.
Mais tarde, em 1973 e 1979, com o chamado “choque do petróleo”,provocado pela OPEP (Organização dos Produtores de Petróleo) – forçando aelevação dos preços do produto, o alto consumo dos motores a reação tornou-se um problema para os operadores. No caso do nosso IPD-6504 a vantagemcomparativa ainda persistiu, pois os turbo hélices também são maiseconômicos do que os jatos puros e a gasolina de aviação continuou a sermais cara do que o querosene.
Um dia Max entrou pelo meu escritório adentro e, visivelmente malhumorado, disse que não poderíamos esperar mais para selecionar os motoresdo IPD-6504. A essa altura estávamos sendo atacados pelos representantesdos fabricantes internacionais de motores e a nossa escolha já estava reduzidaa dois deles: a Pratt
& Whitney do Canadá (subsidiária da empresa americana de mesmo nome) ea Turbomeca francesa. Chegou-se a pensar nos motores de fabricação russamas, em plena intensidade das disputas causadas pela Guerra Fria e em facede nossa determinação para conquistar uma fatia do mercado comercialmundial, a ideia não foi avante.
No caso da Pratt & Whitney, fabricante canadense cuja posição crescia pelaqualidade e preços que oferecia, além de variada gama de produtos, eraapresentado um novo motor, o PT6-A20, de 550 HP. Ele operava segundouma concepção curiosa e diferente dos demais em uso normal no mundo; ofluxo de ar, internamente nos motores, era invertido em relação à direção dovoo. O ar, logo após entrar no motor, fluía para frente, o que fazia com que oescapamento ficasse mais ou menos na mesma seção da entrada Cadete doAr. Apesar de parecer diferente entre os motores convencionais em operação,a ideia era boa e, ao que tudo indicava, era eficiente, sendo que a turbinamotriz, isto é, aquela que acionava a hélice, era livre, ou seja, não erasolidariamente ligada à turbina de potência do gerador de gases.
A outra alternativa competitiva, de origem francesa, era o AZTAZOU,fabricado pela TURBOMECA. Efetivamente era um motor leve e de reduzidaseção transversal
– ótimo ponto positivo que muito contribuía para a redução do arrastoaerodinâmico. Como sempre, enfrentávamos o velho problema da engenharia– o da otimização. Cada um dos tipos de motores tinha vantagens que o outronão cumpria. Finalmente, com todos os dados na mão, fomos ao Brig. PauloVictor e propusemos-lhe decidir em favor da PT6 canadense. Ele aprovou!
Anos mais tarde pudemos constatar o acerto da decisão que nos deu acesso aomercado norte-americano, o que dificilmente teríamos conseguido se o nosso150
bimotor fosse equipado com turbinas francesas. Vale assinalar também que omotor canadense acabou provando ser extremamente resistente paraoperações em áreas carentes de apoio técnico, muito tolerante em relação àsqualidades dos combustíveis e resistente na operação em campos de pouso,dotados de pistas nem sempre das melhores, sobretudo nas comunidades maislongínquas. Na realidade, eram essas cidades os locais possíveis, aonde
aviões como o nosso viriam a operar.
Para atingir os níveis necessários de segurança de operação as autoridadesreguladoras internacionais, naqueles anos da década de 60, já estavamentrando em acordo para estabelecer regras muito claras e específicas paraprojetos de aeronaves. Essas regras foram progredindo e sofisticando-se aolongo do tempo, em função da experiência estabelecida (principalmenteaquelas colhidas em incidentes e acidentes aéreos), e hoje constituem umconjunto de regulamentos que são básicos para qualquer projetista oufabricante de aeronaves. O nosso debate sobre o tema, considerado de enormeimportância – pois dele dependia uma sequência de custos significativos –,consagrou o uso dos regulamentos norte-americanos, emitidos pelo FAA(Federal Aviation Administration), cuja aceitação mundial ajudar-nos-ia ahomologar o nosso avião em diferentes países.
Levamos em consideração que os acordos diplomáticos internacionais, queregulam a matéria aeronáutica, em grande medida ainda são estabelecidoscom base na bilateralidade, isto é, entre dois países. Em que pese o esforçointernacional para se conseguir uma multilateralidade, os problemas desegurança, que sofrem enorme influência dos ambientes locais, aindadificultam a aceitação de acordos mundiais de certificação aeronáutica.
De qualquer forma a decisão de seguir os padrões dos Estados Unidos acaboutambém por se revelar bastante sábia. O sucesso conseguido nas exportaçõesdos aviões brasileiros foi muito facilitado por essa concepção de carátertécnico. Havia outro fator que não poderia ser subestimado. O inglês ganhouextraordinária importância no mundo, mas na área da aeronáutica tornou-seessencial.
No projeto de aeronaves alguns aspectos ganham destaque especial. Emboradistantes dos grandes fabricantes e certamente sem a experiência deles, nossaequipe envolveu-se com uma série de considerações que seriamdeterminantes para o sucesso do nosso projeto. Um deles foi o relativo aoscritérios de segurança da estrutura e dos sistemas instalados no IPD-6504.Seguindo a tendência consagrada na indústria foi decidido o emprego de doisconceitos fundamentais, o da redundância e o da duplicação. Cada um delesseria aplicado no item de projeto, conforme seu desempenho e função.
Os regulamentos conceituam a redundância como a característica de umsistema ou de um conjunto de sistemas de, na hipótese de falha de um dosseus 151
componentes, proporcionar uma alternativa que permita a operação seminterrupção, mesmo que precária. Por outro lado, a duplicação é aplicadanaqueles sistemas essenciais cuja falha de um equipamento, de componenteou do próprio sistema terá como opção a operação de outro igual ou similar,capaz de operar de modo completamente independente do primeiro. Estescritérios foram fundamentais para uma quantidade de opções que surgiram aolongo do projeto.
Por exemplo, confirmando o que já tínhamos na cabeça anteriormente, ficoumais claro que o nosso novo avião deveria ser bimotor, isto é, o seu sistemade propulsão seria duplicado. Já tínhamos concluído, a partir deconsiderações de cunho mercadológico, que uma aeronave de transporte depassageiros, objetivando o seu uso em linhas aéreas de transporte regular,precisaria oferecer uma configuração de dois motores.
Daí para diante concentrou-se no trabalho de definição da geometria do nossoavião, que fixou para o IPD-6504 a instalação de asas baixas instaladas nabase da fuselagem. As razões eram lógicas e fáceis de argumentar, pois, comessa configuração, poder-se-ia obter redução na distância do piso da cabineaté o solo, ganhando, como consequência, nas dimensões e no peso dosistema de trem-de-pouso. Isso também permitiu embutir a escada dospassageiros na porta da cabine, dando ao avião a possibilidade de operarisolado em campos remotos.
Lembro-me de que, na época, alguns mencionavam a possibilidade de seutilizar uma configuração de asa alta. Argumentavam eles que os aeroportosbrasileiros, com pistas muitas vezes estreitas e precárias, eram maisadequados a aparelhos com asas montadas sobre as fuselagens, aliás como ospássaros. Isso me faz recordar uma colocação curiosa do presidente daCESSNA dos Estados Unidos, Russ Meyer, que, uma vez, nos disse: “Se asasbaixas fossem uma coisa boa a natureza não teria optado pelas asas altas nospássaros!”
Quando o ouvi pela primeira vez, dei boas risadas. Ele tinha encontrado uma
forma simpática para justificar a escolha de asas altas na maioria dos aviõesda CESSNA. Como provocação valeu a observação do Russ, com quemmantivemos inúmeras conversas e discussões para projetos conjuntos. Eleapenas não comentou que todos os modelos jatos e bimotores da própriaCESSNA saíram com a configuração de asas baixas.
Com relação às crenças relativas às asas montadas sob as fuselagens, aaerodinâmica não indica problemas maiores, salvo algumas observaçõessobre os valores observados para os chamados coeficientes de arrasto porinterferência. O
que modernamente ocorre é que, devido a condições mais práticas de projeto,esse tipo de configuração acabou por ser a mais comum e mais consagradapela imensa maioria dos fabricantes. Parece ser fácil induzir que a mãenatureza 152
provavelmente escolheu asas altas para os pássaros por razões estruturais,solução melhor ajustada aos esqueletos das aves.
No entanto, para os aviões já se consagrou uma ideia entre os projetistas deque as asas baixas permitem colocar um máximo de estrutura sob ospassageiros, permitindo concentrar melhor os centros resistentes de cargaestrutural, dando como resultado uma distribuição mais conveniente dosesforços. Adicionalmente ajuda, na mesma direção da distribuição dosesforços, nos casos de carregamento concentrado dos trens-de-pouso e dosmotores, quando estes estão instalados nas asas. Fica igualmente óbvio,também, aceitar que as asas baixas funcionam melhor nos casos de acidentes,notadamente as aterrissagens forçadas, mostrando maior capacidade daestrutura de absorver as cargas anormais desenvolvidas nessas circunstâncias.
Ainda no estudo da geometria do IPD-6504 cuidado muito grande foi dadopara a forma e as dimensões do corte transversal da zona central dafuselagem que abrigaria os passageiros. É notória a relutância dos viajantesem aceitar espaços internos acanhados. Infelizmente, quanto mais ampla acabine tanto maior arrasto aerodinâmico e também maior a potência requeridapara os motores, daí derivando mais custos iniciais e de operação. O esforçoda equipe foi na direção de buscar o melhor equilíbrio.
No nosso caso optamos pela forma retangular com cantos bem arredondadospara a secção transversal da fuselagem. Este formado permitiu conseguir-seuma altura interna, do piso ao teto, de 1,66 m. Muitos acharam pouco, mastínhamos de nos lembrar de que o avião estava sendo concebido paratransportar apenas 9
passageiros. O futuro veio demonstrar que talvez a fuselagem pudesse sermais ampla, sobretudo quando alongamos os últimos modelos do IPD-6504,já capaz de transportar até 19 pessoas. Afinal, este é o trabalho do engenheiroprojetista: compatibilizar sempre. Outras alternativas poderiam obrigar oprojeto, e o próprio avião, a palmilhar o arriscado caminho de custos maiores,que pretendíamos evitar.
Para o conjunto da cauda, ou empenagem, preferiu-se uma soluçãoconvencional, isto é, deriva e estabilizador fazendo a forma da letra “T”invertida.
Max Holste tinha grande preocupação com os problemas de vibração,sobretudo as oriundas dos motores. Sabe-se que a rotação das hélicesprovocam vibrações na estrutura do avião em frequências correspondentes àrotação dos motores. Os PT6’s, embora internamente operassem na faixa das30.000 RPM, transmitiam às hélices cerca de 2.000 RPM. Aprendemos maistarde que a frequência consequente dessa rotação das hélices era muitocrítica. Foi necessário muito cuidado para se projetar a empenagem do IPD-6504, para que não situasse sua frequência natural de vibração ao redor de 30ciclos por segundo, para evitar a ocorrência de ressonância* capaz de levá-laa condições de ruptura estrutural.
153
* A ressonância é um fenômeno físico que aparece quando dois elementosquaisquer vibram na mesma frequência, podendo ocorrer coincidências dasintensidades máximas, com isso maximizando os esforços estruturais dequalquer dos conjuntos do avião.
Para as asas buscou-se adotar uma forma afilada da raiz até a ponta, com umperfil aerodinâmico convencional, capaz de dar ao avião condições de vooseguro e controlado, em altos ângulos de ataque e baixa velocidade. Toda a
estrutura foi concebida em alumínio de liga, de uso típico em aeronáuticapara facilitar as condições de manutenção.
Os controles dos ailerons e lemes, também metálicos, receberamacionamentos mecânicos convencionais, atuados por cabos de açoduplicados. Graças aos inúmeros cuidados que tivemos, nessas concepçõesiniciais, nunca o IPD-6504
apresentou problemas sérios com sua estrutura ao longo de toda a sua vidaoperacional, nem com os sistemas de comando de voo. Chegamos a fabricar500
unidades do BANDEIRANTE, derivado do antigo IPD-6504, as quaischegaram a operar em mais de 40 países, operando por mais de 30 anos.
Creio que é o momento de contar a história do nome que iríamos atribuir aonosso projeto. Todos concordavam que “IPD-6504” não poderia ser adesignação comercial de um avião de transporte, mesmo porque nadasignificaria para os futuros operadores ou usuários. Recebíamos dosempregados um sem-número de sugestões, algumas lembrando pássarosbrasileiros e mesmo certos modismos da época. Chegamos a fazer umconcurso e, um dia, o próprio Brig. Paulo Victor sugeriu o nome“BANDEIRANTE”, como alusão ao trabalho pioneiro que desenvolvíamos.Afinal, em um país com estrutura educacional pouco suficiente e em estágiode desenvolvimento inicial – em relação às nações do mundo que fabricavamaviões –, projetar, construir e fazer voar um aparelho complexo, como umavião, que seria de concepção inteiramente nacional, representava um esforçosemelhante ao dos nossos predecessores, os Bandeirantes, que foramfundamentais para penetrar no interior do Brasil, ganhando espaçosterritoriais generosos e garantindo as dimensões continentais do país de hoje.
Assim, o IPD-6504 ganhou um nome e, daí para diante, seria chamado de
“BANDEIRANTE”. Nem pensamos na época que esta é uma palavra difícilde ser pronunciada por americanos ou mesmo por outros estrangeiros.Embora sempre pensássemos que nosso avião seria exportado, o sonho eradistante e o fato foi que, no instante que vivíamos, a ninguém ocorreu queprecisaríamos de um nome mais curto e melhor pronunciável
internacionalmente.
Já com a denominação nova, buscamos colocar muito cuidado e atenção naconcepção dos sistemas em geral que seriam instalados no nosso avião. Haviamuitos deles a considerar para responder às necessidades das instalações de154
eletrônica, eletricidade, hidráulica e pneumática, etc. Cada qual tinharequisitos e problemas particulares.
Para a eletrônica, suprindo as funções de comunicação, navegação e pilotoautomático, adotou-se uma moderna solução, já no estado da arte, dostransceptores do estado sólido. Sabíamos que esta era uma escolha sensível,uma vez que se trata de equipamentos com os quais os pilotos têm contatopermanente. Seguimos a tendência em geral e procuramos a Collins dosEstados Unidos, tradicional e prestigiado fabricante que nos ajudou muito aselecionar um conjunto relativamente barato e que estivesse à altura deresponder aos requisitos modernos da época. Especificamente para anavegação escolhemos um receptor de rádio goniômetro (ADF – AutomaticDirection Finder) e VOR ( Visual Omni Range) que funcionaram por muitosanos, instalados nos protótipos sem nos dar trabalho de manutenção. Doponto de vista do momento em que o IPD-6504, agora BANDEIRANTE,voou pela primeira vez, esses equipamentos eram considerados atualizados edentro do que de mais moderno existia.
O sistema hidráulico dos aviões mereceu muitos cuidados. Afinal ele seria oresponsável pelas vitais funções de retração dos trens-de-pouso eacionamento dos freios. Considerações particulares foram dadas à suaespecificação, em particular à pressão de trabalho que, obedecendo aosmodernos padrões aeronáuticos, foi fixada em 3 mil libras por polegadaquadrada (cerca de 200 atmosferas). Essa pressão permitia equipamentosreduzidos em tamanho e em peso, o que representava grandes vantagens. Ocontrole de peso, da estrutura e do avião vazio, era essencial para assegurar amelhor margem possível para a carga útil dos futuros aviões de fabricaçãoseriada.
O trem retrátil era acionado pelo sistema que foi concebido com duas bombashidráulicas de pressão constante, acionadas pelos motores do avião,
alimentando o conjunto durante todos os períodos de voo. Essas bombashidráulicas eram reais maravilhas da mecânica que, dispondo de pequenospistões em uma plataforma articulada, mantinha a pressão autorregulada,dentro dos valores especificados com incrível precisão. Quando a vi pelaprimeira vez fiquei encantado com a mecânica de relojoaria dos seuscomponentes e com a engenhosa inteligência daqueles que as conceberam.Eram realmente peças mecânicas que poderiam orgulhar qualquer fabricantemundial.
Acoplado ao sistema hidráulico, que por razões de segurança seria duplicado,tínhamos os freios a discos, operados pela pressão oriunda do sistemaprincipal do sistema do avião. Era um bom sistema de frenagem que tambémnão nos deu trabalho. O Max Holste indicou para os fornecimentos de taisitens e equipamentos a empresa francesa ERAM, cujo proprietário, JeanVaray, acabou por se tornar nosso amigo, convivendo conosco por muitos emuitos anos.
155
Os primeiros pneumáticos a serem instalados construíram uma curiosahistória.
Desejávamos pneus de baixa pressão por razões ligadas ao tipo de operaçãoque o BANDEIRANTE iria enfrentar: campos de pouso mal preparados,certamente de pisos irregulares (de quando em quando esburacados). Fomosprocurados por entusiasmados engenheiros da GOOD YEAR do Brasil,dispostos a desenvolver para nós pneus robustos, flexíveis e capazes de seralojados no pequeno espaço que poderíamos dispor dentro das naceles quealojavam os motores. Tudo combinado, eles se lançaram ao trabalho,mantendo-nos informados, de tempos em tempos, do progresso do trabalho.
No entanto, tanto eles como nós – que como projetistas éramos marinheiros(ou aviadores) de primeira viagem – não nos cercamos dos cuidadosnecessários para discutir e fixar as dimensões das rodas que iriam equipar osaviões. Soa estranho?
Sim! Mas foi a inteira verdade. Um dia fui chamado ao pátio para ver aapresentação orgulhosa do primeiro pneumático brasileiro, desenvolvido no
país, para o BANDEIRANTE. Gostei do que vi. Uma peça aparentementerobusta, com frisos antiderrapantes profundos e sólidos. Era um pneu semcâmara, realmente atrativo. Entretanto, pareceu-me um pouco grande: o seudiâmetro parecia maior do que as rodas que tínhamos previsto para instalarno avião. Pedi para vir uma roda e, surpresa, susto, frustração – de tudo umpouco –, o pneumático realmente não servia. Era grande demais!!!
Estávamos atônitos e envergonhados. Como poderia acontecer de, projetistasde aviões que pretendíamos ser, cometermos um erro tão banal? Alguémespecificou as dimensões incorretamente levando os nossos amigos,engenheiros da GOOD YEAR – sempre tão entusiasmados – a cometer umerro assim banal. Não lembro qual foi a cara que fizemos e a reunião, tão bemcomeçada, acabou por um novo começo. Meses mais tarde – dentro do prazofixado para o primeiro voo – a Good Year retornou com os pneumáticoscorretos que acabaram fazendo uma bela história de sucessos. Com eleschegamos a pousar com o BANDEIRANTE em La Paz, na Bolívia, oaeroporto mais alto do mundo, requerendo, portanto, em face da velocidadeno solo que lá se atinge numa corrida para a decolagem, pneus extremamentesólidos.
O sistema elétrico é mesmo um sistema nervoso nos aviões. Ele se distribuipor todos os locais, mesmo os mais remotos dentro da estrutura de umaaeronave moderna, atendendo aos passageiros, aos pilotos e ao próprio avião,ramificando-se pelos seus diferentes subsistemas. A ideia era conseguir algosimples e eficaz.
Buscou-se adotar os princípios básicos consagrados na aeronáutica da épocaque, aliás, não variaram muito até agora. Partimos para geradores de correntecontínua de 28 volts, acoplados aos motores do avião, alimentando umabateria alcalina de 24 volts. Como fonte de corrente alternada optou-se poruma frequência alta de 400 ciclos por segundo para reduzir o peso e otamanho dos diferentes itens que 156
compunham o sistema. A fonte de energia elétrica alternada eram doisconversores estáticos, alimentados pela barra de corrente contínua de 28volts, produzindo uma tensão de trabalho de 115 volts. Os conversores erammodernos e estavam desde há pouco tempo na linha de produção de umafábrica americana.
Eram, provavelmente, os primeiros equipamentos desse tipo a serem usadosno Brasil.
E assim desenvolvia-se o trabalho de concepção do nosso avião que, pouco apouco, foi tendo tudo de que necessitava para ser completado. O trabalho eraquase de garimpagem, descobrindo-se supridores de informação e deprodutos, no país e no exterior. Muitas vezes estivemos em face do dilema deselecionar entre compras de terceiros ou de fabricação em casa. As comprasnão eram fáceis, pois o dinheiro era curto e, assim, a maior parte do que erarequerido tinha, como solução primeira, a fabricação no próprio PAR ouentão a utilização de algo que já estava instalado em algum dos aviões daFAB.
À medida que o projeto avançava, cada novo equipamento ou componente aser selecionado comportava extensas discussões entre as alternativasexistentes e os requisitos do nosso avião. As perguntas invariavelmente eramas mesmas. Existiria supridor nacional? Tínhamos de importar? De quem?Quais eram os requisitos do produto e quem seria o melhor fabricante? Comose produziria a assistência técnica? Os problemas e as soluções a seremencontradas aplicavam-se a toda a miríade de material de quenecessitávamos, e a lista era longa. Discutíamos sobre tudo, os motores –para criar o nosso grupo motopropulsor –, as hélices, os atuadores e sensores,instrumentação do avião e de voo, chegando aos menores detalhes, como orevestimento interno das cabinas dos pilotos e dos passageiros, tapetes,poltronas e até cinzeiros.
No caso do piso da área dos passageiros surgiu um problema relativo à modafeminina. Os sapatos de salto alto, de ponta muito fina, impunham tensõesestruturais elevadas na superfície do metal sob o tapete; cedo compreendemosque teríamos de usar chapa de alumínio mais espessa para evitar que umadistinta senhora se surpreendesse furando o piso do avião numa inocentecaminhada pelo seu interior.
De qualquer forma havia um conceito fundamental que presidia todas asdecisões: nunca se deveria verticalizar, isto é, não deveríamos partir para afabricação interna quando fosse possível adquirir de terceiros. Tínhamos amais acentuada convicção de que know-how era coisa séria. Fabricantesespecializados e dedicados à produção de equipamentos poderiam nos
fornecer materiais melhores, mais eficientes do que nós, ainda estreantes,poderíamos obter entre nós, por maior que fosse nosso entusiasmo. Nãoesquecíamos nunca que tínhamos metas de prazo para cumprir e queestávamos entrando em um campo 157
extremamente competitivo, tentando enfrentar gigantes da tecnologia, donosde vasta experiência e que, com anos e anos de evolução, estavamproduzindo aparelhos dos mais variados tipos e tamanhos, em nível desofisticação que, de todos os modos, teríamos de atingir.
O mercado comercial nunca é complacente. Cada vez mais os consumidoresconscientizam-se do seu poder de compra, buscando permanentementesatisfazer suas necessidades dentro da melhor relação preço/qualidade/performance.
Esse modo de pensar, comprando fora o que aqui não poderíamos produzir oudesenvolver, custou-nos explicações complexas para “vender” a imagem doBANDEIRANTE como um produto nacional. Era comum ouvirmos críticasque se concentravam no argumento de que, com as importações que éramosforçados a fazer, o avião seria pouco brasileiro.
Na época, a política governamental imposta ao setor produtivo era a dachamada substituição das importações que visava tentar produzir tudo, ouquase tudo, dentro do território do país. As importações somente poderiamser realizadas sob autorização direta das autoridades, e a tônica era liberarsomente aquilo que fosse essencial. Assim, todos os industriais dedicados àtarefa de produzir no Brasil sabiam que teriam de viver sob uma política derestrições sérias em relação às compras no exterior. Sem uma licença deimportação, emitida pela agência governamental competente – na época era aCACEX (Carteira de Comércio Exterior) do Banco do Brasil –, nada podiaser importado.
Claro, com esse tipo de ambiente a opinião pública, notadamente a imprensa,sempre nos cobrava o então chamado “índice de fabricação nacional” donosso avião, que, por cultura fixada desde a época da implantação daindústria automobilística, era definido em peso. Isto é, um percentualcalculado pela relação entre o peso dos componentes importados e o pesototal do equipamento.
Era óbvio que a resposta a essa pergunta nunca era direta, o que, sob certosaspectos, irritava o questionador. No entanto nós entendíamos que algumaexplicação teria de ser dada. Por exemplo: os motores, particularmente umitem pesado, em peso e em custo, no nosso caso, como dependentes deimportação, teriam que ser comprado fora. Não tem sentido, afirmávamos,uma fábrica de aviões produzir os motores dos seus aviões e, para corroborarnossos pontos de vista, mencionávamos os casos das maiores empresasmundiais fabricantes de aviões, como a BOEING e outras, que jamaisfabricavam seus motores, nem demonstravam intenção de fazê-los.Insistíamos que o projeto nacional, feito por brasileiros desenvolvendotecnologia própria, era importante, talvez até mais do que a simplesimportação de itens essenciais à montagem dos aviões.
Todavia, a compreensão dos interlocutores não era, comumente, de aceitaçãodessas ideias que se chocavam com os mecanismos então impostos àindústria 158
doméstica. E os questionamentos se seguiam. Nossa convicção sobre o tema,entretanto, era definitiva. A história difícil e cheia de fracassos das iniciativasde produção de aviões no Brasil tinham, na maioria dos casos, seguido osconceitos que nos eram cobrados. Foi muito comum observar-se pioneirosque, para desenvolver e projetar seus aviões, começavam a pensar emfabricar motores, instrumentação, cabos de aço, fios e mesmo parafusos,rebites ou chapas de alumínio de liga especial e de outros metais comumenteusados na indústria aeronáutica. Nesse verdadeiro oceano de problemasmuitos falharam e acabaram por desaparecer, pois se tornava muito difícilvender aviões, cujos equipamentos internos não eram os comumenteencontrados no mercado geral, dificultando a obtenção de componentes dereposição ou mesmo assistência técnica.
5. O Primeiro Voo
Os Insuficientes Meios de Produção
Logo nos primeiros dias de 1967 iniciou-se o trabalho de corte do materialpara a fabricação das primeiras peças do protótipo inicial do Projeto IPD6504. Aquele era um momento importante. Em todas as indústriasaeronáuticas mundiais existe um pouco de emoção quando isso acontece, pois
de algum modo representa o nascimento de mais um avião.
Nós, na época, ainda não tínhamos exatamente noção do que aqueles passossignificariam para o futuro. Afinal, no CTA, fatos semelhantes já tinhamocorrido algumas vezes e nem sempre aquilo que se iniciou teve sucesso. Dequalquer forma havia uma simbologia. O nosso avião estava começando anascer.
Tínhamos decidido que precisaríamos de três protótipos de voo e mais umaestrutura completa para os ensaios de resistência estrutural a serem realizadosnos laboratórios.
Assim, de todas as peças ou componentes, quatro unidades deveriam serproduzidas, numeradas e classificadas. Foi o início do processo paraorganizar a produção, embora ainda na escala de protótipos. Sabíamos queseria necessário controlar as milhares de peças a serem fabricadas, de modoque fosse sempre possível localizá-las e garantir a qualidade de suamanufatura. Também era importante que tudo fosse fabricado de acordo comos requisitos de projeto.
Afinal, o avião é um tipo de aparelho cuja resistência estrutural precisa estargarantida permanentemente. E, como máquina que voa, requer e despendeenergia para se sustentar no espaço. Portanto não basta simplesmenteproduzir as peças que venham compor a estrutura final do aparelho. É muitoimportante que a eficiência e a performance de cada um dos componentesconstitutivos da célula 159
básica estejam perfeitamente adaptados para o trabalho que terão de executarna estrutura dos aviões. E ainda, sejam as mais leves possíveis.
Os meios de produção disponíveis eram realmente precários; não se dispunhade prensas ou máquinas especiais. Assim, o velho e conhecido martelomanual era utilizado para dar forma às chapas de alumínio que comporiam orevestimento das grandes superfícies externas do avião. Para isso aexperiência do CONVERTIPLANO
ajudou muito. Eram necessários e foram construídos, quase esculpidos,grandes moldes em madeira, em cujo processo procurava-se com cuidado
atingir uma precisão possível.
Para a fabricação dos moldes foi utilizada madeira. Contudo, precisávamosde algo que não se deformasse com o tempo. A solução encontrada foi muitofavorável. Conseguiu-se localizar um supridor de placas, bastante espessas,feitas a partir de lâminas finas de madeira, coladas e prensadastransversalmente (contraplacados). Esse método mantinha a estabilidade dasformas e permitia escapar-se da conhecida retorção que afeta a madeira emseu processo de secagem ou em consequência do ambiente mais ou menosúmido. O fabricante encontrado usava-as para a fabricação de revestimentosde vagões ferroviários e os seus produtos serviram bem para os nossospropósitos.
Com aquelas placas foi possível se produzir moldes relativamente estáveis eimunes às variações de temperatura e umidade. Para a fabricação dorevestimento do nosso avião, quando curvaturas nas chapas de alumínio eramnecessárias, utilizava-se o método de colocar as chapas sobre os moldes, ecom marteladas chegava-se às peças desejadas, com formatos variados e tãoacuradamente quanto possível. Era um trabalho paciente e o resultadoguardava alguma precisão, considerada por todos como satisfatória paraprotótipos. Todavia, a priori já se sabia que para a fase de fabricação seriadatal método não se aplicaria.
Do mesmo modo também os recursos para a fabricação mecânica limitavam-se a alguns tornos e fresas que foram largamente utilizados para a produçãodas milhares de pequenas peças, necessárias para compor a estrutura dosprotótipos.
O processo para se chegar a cada peça começava com o projeto estrutural e,logo após, eram preparados os desenhos. Essa era uma tarefa do escritóriotécnico, então conduzido cada vez mais sob a liderança do Guido Pessotti.Este dedicava-se fortemente e funcionava como um elo de ligação entre oMax Holste e a equipe, em face de o técnico francês não ser fluente noportuguês.
Assim, através de discussões prolongadas, cada item da estrutura ou dosistema do avião era definido, sendo logo em seguida desenhado para seencaixar na estrutura do avião. Paralelamente o pessoal de delineamento –
como os chamávamos – determinava como seria fabricado o componente etransmitia os dados para a concepção das ferramentas de produção – emmadeira ou em metal.
160
Com a ausência de meios mais modernos, era a alternativa que se tinha;sendo necessário, para as peças compostas por diferentes planos curvos, ocontínuo e longo processo de martelar era a solução. Era comum observar-senosso pessoal de fabricação bater chapas por vezes durante todo o dia até queganhassem as formas pretendidas ajustando-se aos moldes. O barulho dasmarteladas dava uma ideia e o nível das atividades da produção.
Paralelamente começou-se a produzir os grandes gabaritos de montagem,dentro dos quais nasceriam os grandes elementos estruturais básicos, como afuselagem, as asas, a empenagem, etc. Para isso, perfis de ferro soldados,suficientemente pesados e rígidos de modo a dar ao conjunto solidez,precisão de medidas e garantia de intercambialidade foram usados, naquelespontos dos componentes que teriam de ser montados com outros.
Sempre que uma grande peça, gabarito ou ferramenta era produzida crescia oentusiasmo. A consequência eram os dividendos em prol do cumprimento doscronogramas. Cada etapa vencida era comemorada a sua maneira e todo opessoal participava com alegria vendo, pouco a pouco, o estoque de peças ede componentes crescer. Tudo isso nos convenceu de que deveríamos pensarem marcar uma data para o primeiro voo. Sabíamos que, se a equipe – e nósmesmos –
não estivesse pressionada por uma meta fixada, acabaria por deixar decaminhar no programa com a celeridade que seria possível, e necessária.
Não é normal, no seio da indústria aeronáutica, marcar publicamente a datade um primeiro voo e realizá-lo sem problemas. O passado, em projetos domaior prestígio e em empresas de grande capacidade técnica comprovada,mostrava que isso constituía um grande risco. Tínhamos de compreender queter toda a imensa quantidade de peças prontas e colocadas na estrutura, todosos sistemas em posição com seus inúmeros elementos, tudo funcionando nãoseria nada fácil. Por outro lado, seria certamente seria difícil garantir, a priori,
que a um dado momento poderíamos dar partida nos motores, taxiar parapista e decolar, sem problemas mecânicos, aerodinâmicos, de estabilidade oude controle. Contudo, tínhamos também de pensar que não deveríamos perdera oportunidade de provar algo mais. Demonstrar que nosso projeto nãobuscava um avião qualquer. Ele representava um desafio difícil para criar umnovo sistema de transporte aéreo, que, para nós, era extremamente lógico.Aquele voo era uma certeza para nós que poderia significar uma constataçãodo que propúnhamos. Estava claro que tudo aquilo era da convicção da nossapequena equipe. Mas, para fora do nosso grupo, tudo era dúvida.
Por outro lado era um consenso entre nós, mais do que isso, umadeterminação, que o nosso projeto não poderia se constituir em mais umprotótipo, ao lado de centenas de outros produzidos no Brasil desde 1910 –que falharam e não lograram 161
a possibilidade de entrar em produção seriada, jamais chegando à operação.
Tínhamos de demonstrar, desde o início, que éramos capazes de planejarmetas e cumprir datas, dentro de uma concepção geral do projeto, levando aum avião que precisava preencher uma determinada demanda no mercado dotransporte aéreo.
Sabíamos que estávamos dentro de uma instituição de pesquisas tecnológicase, exatamente por essa razão, insistíamos na necessidade de cumprir as metascom rigor. Com essas considerações na cabeça criamos a coragem necessáriae decidimos fixar uma data para o primeiro voo do protótipo. Passamos aanunciar, com o entusiasmado apoio do Brig. Paulo Victor – então mais emais vivendo e participando conosco cada evento da aventura de construir oBANDEIRANTE –, que o voo oficial ocorreria logo após as comemoraçõesda Semana da Asa de 1968, ou seja, em 27 de outubro – um domingo. É claroque o nosso Max Holste ficou horrorizado e mais uma vez insistiu quecorríamos riscos desnecessários, argumentando que era um riscoabsolutamente desnecessário.
Pensávamos que o nosso evento não poderia ser prejudicado pelos programasoficiais e tradicionais de homenagem a Santos Dumont. Assim, um domingo,e logo após a Semana da Asa, parecia-nos melhor, pois num dia sem trabalhoprogramado poderíamos efetivamente contar com as autoridades que
precisávamos impressionar. Estávamos em 13 de janeiro de 1967 e a dataselecionada dava-nos apenas 653 dias. Era um número realmente pequeno –teríamos de trabalhar duramente, inclusive nos fins-de-semana e em muitosferiados.
Quando viu o programa de trabalho, Max Holste reagiu fortemente, dizendoque aquilo era uma loucura. Voltou a bater na sua tônica agora insistente,asseverando que nossos meios eram precários, a equipe pequena e poucoexperiente. O
caminho a percorrer até que pudéssemos dominar as técnicas necessárias eralongo e imprevisível, pois, como sempre acentuava, o Brasil não dispunha deuma infraestrutura de indústria aeronáutica capaz de apoiar previsões daqueletipo.
Ora, argumentava ele, nem no exterior, em países com longa tradiçãoindustrial, marcava-se o primeiro voo de um protótipo, na presença dasautoridades e da imprensa. Após as reclamações, em relação às quais jáestávamos nos acostumando, mantivemos a decisão e prosseguimos notrabalho que já não mais respeitava os horários normais do expediente. Ofuturo confirmou que os extra tempos diurnos e noturnos tornaram-secomuns.
Para materializar a ideia do prazo rígido colocamos uma placa, num localbem visível, com números móveis que eram subtraídos a cada dia. Aretrocontagem começou e, todos os dias, um mostrava claramente há todosum dia a menos. O
desafio era assim estampado para todos, e os vários setores de trabalhofaziam suas contas sempre computando qual o tempo disponível paracompletar sua 162
tarefa. O resultado psicológico conseguido foi significativo. Estávamoscomprometidos com uma meta. E ela era séria!
Paralelamente começamos dedicar nosso tempo para pensar no próximopasso após o voo do avião. Precisávamos imaginar as soluções aplicáveispara a estrutura industrial que viria a fabricar os aviões e que os colocaria no
mercado, vendendo-os. Embora conceber as ideias fundamentais não fossefácil – afinal ainda não sabíamos que tipo de organização viria a fabricar osprodutos finais –, sabíamos que o BANDEIRANTE não poderia serproduzido pelo CTA e por aquele pequeno time. Era claro que seriafundamental a existência (criação?) de uma estrutura industrial capaz decontrolar tudo, programar produção, suprindo toda a documentaçãooperacional e assegurando assistência técnica aos produtos entregues. Enfim,estávamos cogitando colocar em funcionamento tudo o que, na realidade,refletia as atribuições de uma fábrica. Se seria algo novo ou se se optaria pelautilização de algo existente, isso não se sabia.
Era muito claro que o Centro Técnico de Aeronáutica poderia ser o berço dosprotótipos, mas precisávamos, não tínhamos dúvidas, que uma empresa teriade estar disponível para quando se chegasse à fabricação dos modelos desérie. Havia problemas no horizonte que considerávamos complicados. Se asolução permitisse usar uma empresa existente, seria ótimo que os contatos seiniciassem de imediato. Se tivéssemos de caminhar na direção de uma novafábrica, investidores teriam de ser identificados, instalações deveriam serconstruídas. De qualquer modo, o tempo requerido para a transposição dosconhecimentos gerados no CTA precisava ser equacionado.
Paralelamente, se a solução fosse à direção de algo novo, principalmente duascoisas seriam essenciais: capital e uma encomenda inicial de uma certaquantidade de aviões. Ou seja, tínhamos de conseguir que o Ministério daAeronáutica materializasse um contrato de compra para um número razoávelde Bandeirantes, que deveria ser, inicialmente, utilizado pela Força AéreaBrasileira. Se isso seria possível ou não, ainda não o sabíamos.
Este era um ponto que tornava essencial o trabalho, desde a muito iniciado,de aproximar a Força Aérea do projeto e da construção no país de umaindústria aeronáutica. É claro que uma tese desse tipo poderia permear osoficiais de um modo geral, mas o esforço de convencimento teria de serampliado, buscando cobrir o maior horizonte possível. A catequese deformadores de opinião, e mesmo da imprensa, fazia parte dos planos para, nomomento oportuno, se chegar aos oficiais-generais da FAB responsáveis poresse tipo de decisão. Os pensamentos sobre um primeiro voo programado, erealizado com êxito, certamente era algo importante.
163
O clima nacional que se vivia no país na época era de um modo geralfavorável.
O Governo mantinha sua política de controle das importações e seguia a linhade induzir que a produção doméstica fosse amplamente estimulada, mesmoque transferisse custos adicionais aos consumidores finais. Enfim, aeconomia era fechada, sob estrito comando e controle governamentais.Naquele ambiente florescia o apoio, pelo menos moral (na maioria das vezesfaltavam recursos financeiros), para teses de desenvolvimento tecnológico,conquista e manutenção da soberania nacional, sobretudo nas áreas sensíveisda atividade industrial. Sem dúvida, pensávamos nós, deveríamos fazer comque o projeto e a manufatura de aviões pudessem enquadrar-se naquela visão.
No caminho frenético que decidimos percorrer para assegurar realmente oprimeiro voo do protótipo do BANDEIRANTE em outubro de 1968,incluímos contatos externos com as mais variadas entidades civis e militares,com líderes empresariais e autoridades na tentativa de mostrar que nãotínhamos embarcado em uma aventura qualquer. Iniciamos o trabalho deconvencer a sociedade de que o nosso projeto estava estruturado e umacrescente competência técnica estava sendo conseguida. E, importante, oavião, por suas características e dimensões, além de cobrir um importantecampo de tecnologia avançada, preencheria uma lacuna claramenteidentificada no contexto do transporte aéreo brasileiro, atingindo cidades que,nas condições da época, não contavam com esse tipo de transporte. Enfim,buscávamos demonstrar que não se estava concluindo um processoconstrutivo que terminasse em si mesmo.
O BANDEIRANTE era um produto que estava sendo concebido para servendido e que realmente a estrutura da demanda do país reclamava um aviãocomo o que estava sendo projetado.
O esquema montado para o aprendizado de nossa equipe foi amplo. Cobriapesquisas, desenvolvimento e absorção de informações através do sistemainternacional de normalização e de um real know-how que vinha embutidonos pacotes dos materiais importados. Esses pacotes eram constituídos dematérias-primas, componentes e equipamentos, os mais variados, os quais
para serem instalados nos aviões necessitavam de assistência dosfornecedores. Este era um aspecto que, por vezes, escapava aos observadoresexternos. Nosso pessoal buscava permanentemente, no contato com osespecialistas – que os supridores de equipamentos colocavam à disposiçãopara instalar seus equipamentos nos protótipos –, trabalhar próximo a eles e,daquele modo, compreender melhor, e mesmo aprender, as condições decontorno e de funcionamento de tudo que ia sendo instalado a bordo.
Do lado externo, mesmo com recursos precários, buscávamos divulgação,contato com a imprensa, fazer palestras para entidades e associações,promover 164
visitas ao nosso hangar, que infelizmente não era rico em imagem, aocontrário, podia até não impressionar. Visões deste tipo deveriam sercompensadas pelo entusiasmo e pela crença que deveríamos, sempre, passarpara fora do nosso pequeno grupo.
A Chegada da Data do Primeiro voo
Estávamos nos meses iniciais de 1968 e, infelizmente, atrasados em relaçãoaos cronogramas. Não estava sendo fácil conseguir resolver todos osproblemas relativos aos sistemas do avião que, procurando se situar nomesmo nível da tecnologia aeronáutica mundial, apresentavam muitas vezesdificuldades que levava tempo para resolver. Por outro lado, o processo deimportações dos equipamentos complementares a nossa capacidade produtivanão nos davam as garantias de prazos que necessitávamos. Com issoaumentavam também as reações do Max Holste que, seguramente, nãogostava de ver o esforço que se fazia, não contando com facilidades, como asque estava habituado a ver no seu país, a França. Ele, simplesmente, nãoentendia um trabalho daquela forma.
Com frequência colocava perguntas difíceis de responder. Por que,questionava ele, sendo o CTA uma organização diretamente vinculada aoMinistério da Aeronáutica, desenvolvendo um projeto aprovado peloGoverno Federal, encontrava tantas dificuldades com outros segmentos domesmo Governo? Por que a liberação das mercadorias na alfândega tinha deser tão complicada? O que se ganhava com a colocação de tantos obstáculosse, no final, o trabalho teria de ser completado de qualquer maneira?
As perguntas, sem dúvida, eram sensatas. A dificuldade era produzirrespostas, também sensatas. Como explicar que o nosso país é “diferente” eque nossa cultura burocrática era aquela?
De qualquer modo, vencendo os obstáculos, à medida que surgiam, vimos aprimeira fuselagem tomar forma dentro do gabarito de construção. EmboraMax duvidasse de que a gabaritagem estivesse correta, mostrando a precisãodas medidas corretamente, foi uma real alegria e felicidade para a equipequando, instalando as asas nos olhais de fixação da fuselagem, não tivemosproblemas. As medidas de distância entre as fixações e os diâmetros dospinos estavam corretas e dentro dos graus de tolerância previstos.
Assim foi que, um dia pela manhã, quando os companheiros de trabalhochegaram ao serviço, viram que a equipe do período noturno tinha montadoas asas na fuselagem e, com surpresa, viram um novo avião no meio do X-10.Foi uma explosão de alegria. Nosso avião estava nascendo!
Bastava ver todas aquelas faces, em volta do esqueleto da estrutura eexaminando cada detalhe, para compreender que, com aquele entusiasmo, ovoo 165
do nosso BANDEIRANTE seria uma questão de tempo. Certamente nós oconstruiríamos, enfrentando as dúvidas com que outros nos massacravamquase todos os dias.
O próximo passo seria agora começar a rechear aquela estrutura sem vida,com os equipamentos e sistemas que permitiriam à máquina voar. Apertamosnossa gestão burocrática para garantir o suprimento dos milhares de itens quecomporiam cada conjunto funcional. Paralelamente estávamos preparando olaboratório de ensaios para, ainda antes do primeiro voo, fazer um teste devibrações do avião completo. Esse ponto, Max insistia, e, concordávamoscom ele, era vital para garantir a segurança do primeiro voo.
Embora o clima criado entre nós já tivesse tido como resultado um nível deconfiança bastante grande no que estávamos fazendo, ou tentando fazer, eraclaro que apenas aquilo não era claramente suficiente. Sentíamos, mais doque isso, estávamos certos de que precisávamos encontrar fórmulas paratransmitir a terceiros – em particular às autoridades aeronáuticas que
poderiam nos apoiar –
que o trabalho encetado em cima do BANDEIRANTE era resultado de açõesconcretas e visava a objetivos determinados. Novamente, discutimos quedeveríamos fazer o primeiro voo do protótipo cercado de todas as medidas desegurança dentro de um nível de competência marcadamente diferentedaquele que caracterizou as experiências anteriores. Em resumo, o primeirovoo teria de ter sucesso. Não poderíamos pensar numa alternativa outra.
Discutimos esse tópico intensamente e, seguindo algumas sugestões do Maxe do próprio Ozílio – como ex-estagiário na aviação francesa. Assim, foidecidido que o piloto e o engenheiro de voo que tripulariam o primeiro voodo BANDEIRANTE
deveriam ser treinados por uma instituição internacional de reputaçãoconsagrada.
Tentamos contato com a Força Aérea dos Estados Unidos que mantém, naBase Aérea de Edwards, na Califórnia, uma competente escola de formação ede treinamento de pilotos de ensaio. Sem respostas satisfatórias voltamo-nospara a França, que não nos negou apoio.
Após os grandes esforços, que já estavam se transformando em rotina,sempre capitaneados pelo nosso incansável Brig. Paulo Victor, conseguimosmandar o Major José Mariotto Ferreira e o Engenheiro Michel Cury para ocentro de ensaios em voo na França, em Istres, com a finalidade de sequalificarem tecnicamente como piloto e engenheiro de ensaios. Ambostinham-se juntado à equipe mais recentemente e foram oficialmentedesignados para voar o primeiro protótipo.
Assim, deveriam estar de volta ao Brasil um bom período antes de outubro de1968
para se familiarizarem com todo o procedimento operacional de cada sistemae tentar antecipar quais seriam as prováveis características de voo, deperformance e de estabilidade/controle do protótipo a ser voado.
166
O voo do primeiro BANDEIRANTE, embora programado e esperado comansiedade, deveria ser profissionalmente preparado. São conhecidos nahistória da indústria aeronáutica os casos em que a perda de um protótipoacaba com o programa. No nosso caso o problema era vital e não poderíamosfalhar. A opinião pública e as insólitas perguntas dos jornalistas não nosdeixavam esquecer o manto de dúvida externa que cobria o nosso projeto. Emalguns momentos chegamos a acreditar que somente nós tínhamos certeza doque estávamos fazendo.
Chegamos ao esperado mês de outubro trabalhando intensamente. Já nãotínhamos mais horários. Tudo era expectativa, e o nosso pequeno setor deplanejamento ainda trabalhava sobre papéis. O único computador existenteno campus do Centro Técnico era aquele instalado no ITA. Um IBM 1620,ocupando uma área de 400 metros quadrados e distante cerca de 3quilômetros do X-10, cuja utilização não nos permitia a flexibilidadeessencial de utilização. Combinamos, então, com o gerente da IBM de SãoPaulo, José Bonifácio Amorim – sempre prestativo e pronto para ajudar –utilizar o mainframe da empresa. Considerando o nível de carga doequipamento, Amorim sugeriu-nos utilizá-lo durante a noite.
Diariamente, perto das 21 horas, nossos engenheiros embarcavam numaKombi, viajavam pela rodovia Presidente Dutra, para iniciar um trabalhoentre meia-noite e seis horas da manhã. Essa ajuda foi fundamental e básica,no futuro, para que a EMBRAER entrasse no mercado adquirindosupercomputadores da própria IBM.
O tempo parecia estar em disparada. Transcorria aceleradamente e, com aaproximação da data escolhida, a preocupação crescia. A placa deretrocontagem na parede mostrava apenas dois algarismos, fixando que emalgumas semanas teríamos de colocar o protótipo no ar. O Brig. Paulo Victorvisitava-nos com frequência e permanecia longo tempo conosco, mesmodurante muitas das noites da primavera. Com crescente frequência éramosobrigados a estender nosso trabalho no PAR, resolvendo problemas quesomente pareciam crescer. Víamos os estrangeiros que estavam conosco,acompanhando em nome de suas empresas a instalação dos seus respectivosequipamentos, acotovelando-se ao lado dos brasileiros, buscando espaçodentro da pequena fuselagem do nosso bimotor. O
curioso era que se viam franceses, americanos, canadenses e brasileiros,todos trabalhando nas horas mais exóticas, e ninguém protestava. Ou melhor,protestava por não encontrar espaço na apertada fuselagem e dar conta do seurecado.
Foi nesses momentos que cresceu a imagem do Fred Cowley, da Pratt &Whitney do Canadá, que incumbido do motor colocou a mão na graxa esorriu de alegria conosco quando, na fria madrugada de 17 de outubro, osmotores giraram pela primeira vez. Foi bom ouvir aquele ruído tão esperado.Era como se aquele objeto de nossa criação ganhasse vida. Até as famíliasestavam entusiasmadas. Embora fossem 2 horas da manhã de uma fria eúmida manhã da primavera, lá estavam esposas e filhos, acocorados emalguns cantos do hangar, silenciosos e esperando 167
com a mesma expectativa que nós os primeiros roncos dos motores. Entreeles estavam Therezinha, minha mulher, com meus dois filhos, Arnaldo eAna Maria, de 14 e 12 anos. Uma pequena multidão dando a cada um oestímulo adicional que eventualmente pudesse faltar.
Naquela noite concluímos que teríamos alguma chance de poder voar antesda data prevista, para a qual já estavam convidadas autoridades, em particularo Ministro Márcio de Souza e Mello, da Aeronáutica, que, naquelesmomentos, acreditava cada vez mais no sucesso da empreitada. Um voo“prévio” daria segurança para não falharmos no risco que corríamos,reprovado por todos os experientes fabricantes internacionais, de marcar comantecedência e montar uma festa para comemorar um primeiro voo.Começamos de imediato a trabalhar com essa hipótese e, efetivamente, foipossível iniciar as corridas no solo no dia 20 e programar um voo não-oficialpara 22 de outubro. A data de 27, cinco dias de pois, para a apresentaçãooficial não mais poderia ser alterada!
Os preparativos prosseguiram e, na tarde do mesmo 20 de outubro, um denossos líderes para a montagem da estrutura do avião – Jorge Papai, como ochamávamos – trabalhava na instalação das portas de fechamento docompartimento do trem-de-pouso dianteiro. Terminado o trabalho, noinstante em que o protótipo estava sendo rebocado para o pátio de concretorecém-construído, um degrau semiacabado prendeu a roda do nariz, forçandosua trava. Resultado, os elementos estruturais não resistiram, quebrando-se e
jogou o nariz do avião no solo. Quando Jorge viu aquilo não resistiu esimplesmente chorou. Fomos todos chamados com urgência e, quandochegamos alguns minutos após, já sentíamos o nervosismo geral. Eu, mais doque preocupado, desci a escada de dois em dois degraus, pensando no que sepoderia fazer, numa quase véspera do esperado primeiro voo.
Após uma rápida inspeção constatamos que os danos tinham afetado aestrutura resistente da caixa do trem-de-pouso do nariz. Aquilo requereriasubstituição de peças, nova rebitagem e, entendidos como poucosignificativos.
Mais trabalho extra pela frente, sobre o que ainda precisava ser feito. Oproblema é que eles poderiam se estender, à medida que novos componentesteriam de ser fabricados. Procuramos não demonstrar maiores preocupaçõesperante o pessoal da linha, mas no fundo o coração bem que batia mais fortee acelerado. Com Jorge devidamente consolado, trocamos umas palavras comalguns especialistas e imediatamente o trabalho de reparo foi delineado ecomeçado.
Max Holste reagiu, como sempre, com o espírito negativo. Balançando acabeça dizia:
“É loucura! Este avião não ficará pronto e pode muito provavelmenteacontecer algo durante a cerimônia maluca que vocês programaram”.
168
Naquele momento ele lembrou:
“Faltam apenas sete dias; incroyable, mon Dieu! ”.
Contra os prognósticos do Max o nosso querido protótipo já estava pronto nodia seguinte, com a caixa do trem reparada e a dificuldade surgida no sistemahidráulico, responsável pelo recolhimento involuntário do trem de nariz,devidamente identificada e sanada. Mantivemos a programação para o“primeiro voo prévio”.
O BANDEIRANTE no ar
Já estávamos nas últimas horas daquela terça-feira, 21 de outubro, dispostos apassar a noite no PAR. Logo após a meia-noite, já no dia 22, começou achover, e muito. Ninguém estava disposto a abandonar o hangar indo paracasa dormir.
Arranjávamos coisas para fazer enquanto as diferentes equipes, responsáveispelos sistemas, revisavam suas listas de verificações, por várias vezes, parater a certeza de que tudo estaria em ordem.
Havia um nervosismo geral. Cheguei a perceber que aqueles empregados,simples operários, mostravam medo. Eles não tinham certeza de que o quetinham feito iria funcionar, e muitos, como comentaram comigo, estavamreceosos de que não tivessem feito o melhor. Enquanto isso as horaspassavam, água caindo, e todos nós no PAR esperando o amanhecer.Desejávamos voar ao nascer do sol para não ter grande assistência, sem saberaté então que uma boa quantidade de pessoas estava preparada para levantarmais cedo e compartilhar conosco aquele real primeiro voo. Tínhamosprogramado um “segredo”, mas ele tinha mais buracos que um queijo. Achuva, a partir de uma hora da madrugada, estava intensa e nada indicava queteríamos uma interrupção.
Nossas preocupações passaram também a se estender para a pista que,contrariamente às expectativas, não estava ainda pavimentada. Sabíamos quenão era culpa do Eng. Delamare que, tão comprometido como nós mesmos,não media esforços para cumprir sua parte. Como solução ele próprionegociou uma autorização do fiscal do Ministério da Aeronáutica, Cel.Walter Werner Brauer, que, de forma entusiasmada, concordou com apreparação de uma faixa de terra batida, com pouco mais de mil metros decomprimento, paralelamente à pista em processo de pavimentação. Era essafaixa que usaríamos como pista e, em função da chuva – que não davamostras de arrefecer –, não tínhamos a menor ideia de como estaria o seu pisoapós aquele aguaceiro interminável. Naquela noite, por todas essas razões,estava reforçado o ânimo de não ir para casa. O X-10 era o nosso local devigília.
Mariotto e Michel buzinavam nos nossos ouvidos sensatas palavras deprudência. O voo não poderia ser realizado se não conseguíssemos um teto de169
15.000 pés, se a visibilidade horizontal não fosse de pelo menos 10quilômetros, se a pista estivesse encharcada... se, se, se... Nós ouvíamos emsilêncio, massacrados pela ansiedade e desejosos de ver o BANDEIRANTEno ar, como um prêmio a todos aqueles anos de expectativas. Procurávamosser sensatos e agir com calma, mas...
bolas, éramos também seres humanos, e aquela máquina silenciosa, parada nocentro do hangar e já pintada com as cores da Força Aérea Brasileira, tinhamuito de cada um de nós. Aquilo não era simplesmente uma coisa. Era umorganismo ao qual tínhamos nós, toda a equipe, dado vida – um pouco decada um!
Amanheceu lentamente. A chuva parou e algumas nesgas claras de luzapareciam no horizonte. Mariotto e Michel olhavam os boletinsmeteorológicos e meneavam suas cabeças em dúvida. Eles eram osespecialistas, tinham se formado num centro de ensaios em voo do mundo degrande reputação. E, naqueles momentos e mesmo pressionados peloambiente de expectativas, ambos se mantinham dentro dos seus parâmetrosprofissionais.
Às 6 horas já era dia claro e com certeza a chuva não voltaria tão cedo. Avisibilidade horizontal era esplêndida, mas o teto não chegava a 5.000 pés,embora a tendência fosse claramente de melhoria. Caminhei pela pista com oDelamare e surpreendentemente estava dura e firme. Confiante Delamareassinalou que a drenagem da pista provisória estava funcionando bem.Realmente o homem era competente e conhecia o seu trabalho.
Voltei ao escritório, chamei todos a minha sala e, após um pequeno discursocircunstancial, disse: “Vamos voar!” Todos saíram correndo cada qual paracompletar suas tarefas. Mariotto, contudo, não se conformou e ficou paraprotestar. Procurei ouvi-lo, mas a emoção, que não era somente minha,venceu.
Respondi com alguns monossílabos e ele sucumbiu, partindo para sepreparar.
Quando saí para o meio dos empregados, em pé ou acocorados a uma
respeitosa distância do avião, senti o crescimento da expectativa.Conversamos com o comandante do helicóptero da Base Aérea de São Pauloque, a nosso pedido, acompanharia o voo ficando preparado para qualqueremergência. O
tempo, felizmente, continuava a melhorar, embora o teto ainda estivesserelativamente baixo, mostrando uma espessa cobertura de nuvens cinzentas.A temperatura estava ótima e também a visibilidade. Sem dúvida era possívelvoar com segurança.
Todos sabiam que não tínhamos divulgado nossa intenção de fazer aquelevoo, somente “entre nós”, pois não desejávamos fenecer o brilho daapresentação e do voo oficial que estavam marcados para o domingopróximo, 27 de outubro.
Contudo, embora ainda nas primeiras horas daquela manhã úmida, muitaspessoas começaram a chegar. Também as famílias e, é claro, Therezinha emeus dois filhos não faltaram. Eram pessoas de todos os Departamentos doCTA e professores do 170
ITA, como o Prof. René Marie Vandaele – belga de nascimento, masbrasileiro e engenheiro aeronáutico de coração.
Foto 24 O Bandeirante decola pela primeira vez em 22 de outubro de 1968,no CTA.
Vandaele radicou-se no Brasil e era o chefe do Departamento deAerodinâmica do ITA. Como tal, gostava de acompanhar nosso trabalho, massempre com suas críticas calcadas numa fala carregada com o sotaquefrancês. Era com ele que o Guido trabalhava quando o convencemos a deixaro ITA para vir ao PAR. Vandaele gostava muito do Guido, além de – comonós mesmos – reconhecer nele um inegável talento. É claro, não o queriaperder. Excêntrico, Vandaele finalmente concordou com o “empréstimo” doGuido, após muitos esforços e irritação, mas lavrou o seu protestoorganizando uma “festa de expulsão”. Festa para demonstrar carinho eexpulsão, para manifestar sua revolta por perder um colaborador destacado.
No final, a presença do Prof. Vandaele naquela manhã, junto ao X-10 evivendo conosco a expectativa daqueles momentos, soava como um alívio. Ovelho professor, embora jamais reconhecendo, como um bom belga, estavaali com seus ex-alunos, certamente orgulhoso e contente por ver um projeto,do qual tanto gostava, ganhar vida.
171
Muitas mulheres e crianças olhavam ansiosas para o nosso protótipo, agorapintado com a cara de FAB, uma designação militar, C-95, e o número, 2130.O
avião parecia ter ganhado personalidade e já estava com o jeitão de voar. Onariz tinha a marca Max Holste. Vidros planos e com ângulos elevados emrelação ao escoamento do Ar. Confessamos que não era tão bonito quantoaquele que reprojetamos para a fabricação seriada anos mais tarde. Noentanto, aquele formato era, para Max, sua assinatura. Procuramos respeitarsua intenção de marcar aquele novo produto e reconhecíamos que amanufatura tinha sido facilitada. Foram evitados os problemas de para-brisasem curvatura, sempre mais difíceis de moldar e de produzir.
Finalmente Mariotto e Michel apareceram, envergando uniformes de voo, ecom paraquedas embarcaram, após a tradicional inspeção externa. Tomaramseus lugares e iniciaram os testes de todos os sistemas e equipamentosacompanhando a longa lista de verificações. O contato por rádio seriaassegurado por uma frequência própria ligada a uma estação de controlemontada ao lado do X-10.
Estávamos nervosos e nos esforçávamos procurando nada demonstrar.Afinal, tínhamos percorrido um caminho longo e difícil. O sonho do meninoestava naquela máquina que, para mim, era viva e compartilhava com todosos que olhavam o seu momento de glória.
A um sinal de que tudo estava bem, o característico ruído do motor dearranque foi ouvido e a hélice do primeiro motor começou a girar. Era opequeno avião querendo mostrar para o que foi fabricado. Aquele era ummomento que valeu a pena ser vivido. Entre as milhares de dúvidas, nosinstantes que tínhamos para selecionar percursos, tudo ali pareceu estarsomado. O resultado era real e estava à nossa frente. Tive dúvidas sobreminha capacidade de usufruir tudo aquilo.
Perguntava-me se saberia extrair daqueles momentos um sabor de vitória e desatisfação de ter, com a participação de todos, materializado um sonho.
Já sentia muita pena de imaginar que tudo aquilo terminaria e que, em muitopouco tempo, voltaríamos a viver a realidade de cada momento.Estranhamente não sentia receio de que algo pudesse acontecer. Tínhamosplanejado tudo mas, como se sabe, inadvertidamente poderíamos terproblemas. Contudo, olhei para eu mesmo e surpreendi-me, vendo-metranquilo. Não entendi. Voltei-me ao Zico e tive a certeza. Ele ali estava, ecomigo!
Mariotto pediu que se soltasse o avião das amarras de segurança. Começou ase mover lentamente, mas de forma segura e, embora ainda não estivesseinstalado o sistema de controle direcional da roda do nariz, o avião respondiadocilmente aos comandos de direção. O sistema alternativo por aplicaçãodiferencial de freio nas rodas principais do trem-de-pouso funcionava bem. Apequena multidão parecia não mais duvidar que, finalmente, oBANDEIRANTE em instantes estaria no ar. Na 172
terra úmida da pista provisória o nosso protótipo estava alinhado para umacorrida no solo de teste. Mariotto relatava pelo rádio o comportamento damáquina e transmitia que tudo funcionava de forma muito satisfatória.
A primeira corrida foi até uns 60 nós (110 km/h), sendo possível frear comeficiência até o final da pista encurtada. Mariotto e Michel pareciam segurosagora e desejavam voar. Autorizados pelo controle voltaram a alinhar o aviãono início da pista e logo ouvimos os motores acelerados. O helicóptero emposição percorria a trajetória prevista para o voo e reportava que tudo estavapronto. Todos os olhos grudaram naquela pequena aeronave, que tantosignificava para nós. O Brigadeiro Paulo Victor ao meu lado sequer respiravae acompanhava cada detalhe com interesse evitando interferir. Sentíamos noar a expectativa de cada um. O silêncio era somente quebrado pelo ruído dosmotores PT6.
A corrida na pista foi curta, como esperávamos, e, a um pequeno comando doMariotto, o avião saltou para o ar. Levantou suavemente o nariz e apontoupara o céu, agora um pouco mais claro, começando a subir resolutamente.Meu Deus, ele estava voando. Passei a mão na cabeça e, caminhando entre aspessoas, procurei ter o máximo de visibilidade para aquele pedaço do meupróprio corpo que agora se desligava do solo. Os assistentes explodiram emalegria. Todos se irmanavam naquele momento: empregados do PAR,famílias e o próprio Prof. Vandaele sacudiam os braços para o ar, abraçavam-se, em comemoração daquele momento que era só nosso! Max, emborasempre receoso, abriu-se num grande sorriso.
Pelo rádio Mariotto informava: “Tudo normal”. Os abraços prosseguiram eeu queria cumprimentar cada um que tinha contribuído para a realidade domomento fantástico que vivíamos. Enquanto isso Mariotto e Michelavançavam nos procedimentos para conhecer o comportamento do novoavião, familiarizar-se com a sua resposta aos controles e ganhar experiênciapara o primeiro pouso. Pela estação de comunicações acompanhávamos ovoo, e os especialistas coletavam os dados necessários que orientariameventuais modificações.
No ar, diferentes testes estavam sendo realizados. Mariotto relatava que oavião era dócil aos comandos, e nós absorvíamos cada palavra sua como umapreciosa informação. Uma hora e meia após estávamos explodindo de
ansiedade para ver o nosso avião de novo no solo e comentar tudo comMariotto e Michel, agora pessoalmente. Num momento o BANDEIRANTEsurgiu já alinhado com a direção da pista, trem-de-pouso baixado econfigurado para o pouso. Estávamos realmente na maior das expectativaspara arrancar dos pilotos algo mais que a simples informação eletrônica nãonos transmitia. Mariotto começou a reduzir a velocidade para a aterrissageme, a partir de então, notei algo estranho no comportamento do avião. Pareceu-me que, à medida que a velocidade caía, as oscilações longitudinais não seamorteciam adequadamente. Parecia ser difícil manter o avião nivelado e 173
voando paralelo à pista. Para cada comando, o avião mostrava responderampliando a reação, e chegou mesmo a corcovear arriscando a segurança dopouso. Finalmente, graças à calma e habilidade do Mariotto, a nossa máquinatocou o solo e pôde parar, iniciando o táxi de volta ao estacionamento, ondenos encontrávamos. Foi um alívio.
Para a maioria dos assistentes o problema na aterrissagem não foi percebido,felizmente. Com o pouso, o entusiasmo generalizou-se e explodiu.Lentamente o nosso protótipo foi chegando de volta, esperando pela recepçãoque todos queriam dar-lhe. Quando os motores foram desligados Mariotto eMichel foram abraçados, personificando o carinho que sentíamos por teremdado vida à nossa máquina e colocando-a no ar. A surpresa surgiu com umbuquê de flores prontamente fixado na antena do avião, simbolizando o seuprimeiro batismo no ar. Era uma tradição do Max – ele, embora semprecrítico e explicitando dúvidas, não resistiu ao calor humano que irradiava detodos e estava conosco. Já tinha comprado as flores antecipadamente. Oh!Mon Dieu! Ele também acreditava!
Os abraços não terminavam nunca. O BANDEIRANTE tinha voado, e bem,diziam!
Entre os componentes da equipe respirava-se alívio. Todos alegresprocuravam exteriorizar calma. Eu, na realidade, tinha algo que mepreocupava. Evitei colocar a pergunta em público – mas que corcovos eramaqueles?
Mais tarde Mariotto explicou. Tivera dificuldade com a margem deestabilidade estática nos altos ângulos de ataque (o ângulo de ataque é
definido como aquele entre a asa e a direção do escoamento, que aumentasempre em conexão com a redução da velocidade). Em outras palavras,significava que o avião em baixas velocidades, uma vez excitado para umaatitude diferente daquela para a qual estava compensado (ou estabilizado),respondia com incremento e não com o amortecimento da excitação. Issoexplicava os corcovos claros que víamos.
A aerodinâmica explica isso com clareza. As margens de estabilidade semprese reduzem com o aumento dos ângulos-de-ataque e, por consequência, daredução da velocidade. Entendido o problema, a solução, embora não fossesimples, veio logo. Para não se modificar o ferramental de fabricação, já quenão tínhamos tempo até o voo oficial – programado para dentro de cinco dias– decidiu-se aumentar a envergadura da empenagem horizontal, o que foifeito com dois dias de trabalho. Em voos subsequentes verificou-se que aadequação da solução, embora acrescentando um pouco de peso à estrutura,permitiu ao avião voar normalmente.
Para o voo oficial, em 27 de outubro, convidamos um sem-número depessoas, inclusive o Ministro da Aeronáutica, Brig. Márcio de Souza e Mello,cujo entusiasmo pessoal era evidente. Mais tarde, descobrimos que suapresença naquele dia em São José dos Campos fora essencial. Seu apoio noseventos futuros 174
foi de grande importância para os difíceis caminhos que teríamos de trilharaté a criação da futura estrutura industrial que abrigaria a produção seriada doBANDEIRANTE – a EMBRAER (esse nome não existia nem estava emnossas convicções naqueles momentos). Todavia, logo após aquele voo deimpacto que tínhamos conseguido e de enorme ansiedade, não pensávamosmuito a respeito dos caminhos a percorrer e sobre quais seriam os próximospassos.
Finalmente chegou o grande dia da apresentação oficial. Todos esperavamestar presentes para um real primeiro voo. Era um domingo de céu azul eclaro. A temperatura tinha subido rapidamente desde a última semana e o solbrilhava forte, antecipando calor. O nosso protótipo estava pronto dentro dohangar do X-10, cujas portas eram mantidas fechadas. Um pequeno palanquefoi montado do lado de fora com um sistema de som para os discursos.
Às 10 horas, precisamente, chegou o Ministro Márcio de Souza e Mello,acompanhado de vários oficiais da Aeronáutica que compunham o seugabinete e as diferentes organizações da Força Aérea. O Brasil na época erapresidido por uma Junta Militar e, assim, estava também presente oAlmirante Augusto Rademaker, que, representava o Governo Federal. OGovernador do Estado de São Paulo, Roberto de Abreu Sodré, também veio –pousando com seu helicóptero mais ou menos ao mesmo tempo em que onúmero de pessoas e de autoridades começava a aumentar, lotando o pequenopátio.
O ritual estava pronto e tudo se iniciou com a abertura das portas do X-10.Ao som de uma bonita marcha tocada pela banda do CTA, oBANDEIRANTE começou a ser tracionado para fora. Ao lado do aviãocaminhava a equipe de voo comandada pelo Maj. Mariotto que, naquele voo,também teria como co-piloto o Eng. Michel Cury. Ou seja, a mesmatripulação que pilotara o avião nos últimos dias.
175
Foto 25 Brigadeiro Márcio de Souza e Mello, ministro da Aeronáutica. Semele, a Embraer não existiria.
O entusiasmo era grande. Sentia-se no ar o ambiente de intensa expectativa.
Afinal, aquele era o coroamento de mais de três anos de intenso trabalho ecaracterizava a entrada do país no escasso grupo de nações que projetavam efabricavam aviões.
Nas nossas apresentações sobre o projeto sempre se procurava lembrar queaviões no Brasil eram considerados coisas que apenas se compravam. O
nosso projeto objetivava provar que isso não era tão verdade. Tínhamos defabricá-lo e nas quantidades que o país necessitasse e lutaríamos para que omundo também o fizesse.
As metas eram amplas. Transferir empregos do exterior para o Brasil econseguir a fabricação nacional de um produto que, na época, pressionava obalanço das 176
importações. Enfim, usava-se uma série de argumentos buscando motivar aspessoas e procurando demonstrar que, uma vez o desenvolvimentotecnológico conseguido, tinha denominadores comuns muito importantespara o progresso material do país.
Embora tivéssemos tentado manter em relativo segredo os voosanteriormente realizados, todos pareciam saber que o avião já tinha voado.Isso não diminuiu o entusiasmo; e após alguns minutos a tripulaçãoguarneceu a cabine e a partida foi dada nos motores. Era a primeira vez oBrasil ouvia o ruído das turbinas fabricadas pela Pratt & Whitney do Canadáque, na época, era o que havia de mais moderno.
Houve comentários sobre o baixo nível de ruído dos motores. Queimandoquerosene de aviação os motores do BANDEIRANTE, tínhamos certeza,iriam conferir ao avião a confiabilidade que desejávamos.
Lentamente o protótipo começou a se mover para a pista, agora seca, depoisdas intensas chuvas dos últimos dias. Contudo, a contrapartida era aacentuada poeira vermelha que se levantava a cada rajada de potência dosmotores. O calor já era bem maior naquela manhã quente de primavera,antecipando a entrada do verão no Vale do Paraíba. Tínhamos pedido aoMariotto que programasse seu voo, garantindo que o avião fossepermanentemente visto do X-10. A solenidade tinha sido organizada para osnossos convidados e tudo deveria ser feito para manter o seu interesse. Asmanobras deveriam ser executadas em sequência, sem perda de ritmo,procurando manter todos ligados com o objetivo principal do nosso evento.
Quando completadas as verificações de rotina, agora já abreviadas, empoucos instantes o BANDEIRANTE estava alinhado na pista de terra com osmotores acelerados, iniciando a corrida para a decolagem. Uma grande esteira
de poeira vermelha daquela pista provisória foi se formando, mostrando umapeculiar imagem de um avião moderno em uma infraestrutura não preparada.
Um narrador foi destacado para, pelo sistema de som, contar aos assistentes oque estava acontecendo. O entusiasmo estava à flor da pele de todos quando,após um deslocamento de uns 600 metros, o BANDEIRANTE ergueu o nariziniciando uma forte subida para o bonito azul do céu. Ganhando altura fezuma suave curva à direita e retornou para, em velocidade de cruzeiro e embaixa altura, passar à frente de todos. Pela primeira vez via-se voar umbimotor turbo hélice brasileiro que deveria marcar o esforço para desenvolverno país uma nova base de capacitação para a produção seriada de aviõescomerciais e militares.
Após alguns minutos e outras passagens baixas Mariotto alinhou para aaterrissagem que, dessa vez, não apresentou nenhum problema. A chegada donosso primeiro protótipo ao pátio de manobras foi realmente bonita e emo-cionante. Mariotto e Michel desceram e apresentaram-se às autoridades. Os177
cumprimentos eram generalizados com os comentários mais variados,centrando-se muito no ruído reduzido dos motores.
Após tantos anos de sonhos, de planos, tínhamos o nosso avião. Ele, querepresentava tantas noites insones e tantos planos, existia. Estávamos felizes!Não mais era sonho. Era uma realidade!
Os jornalistas crivavam os membros da equipe de perguntas e, no diaseguinte, os jornais do país estampavam a façanha. Nós estávamos contentese contabilizando os resultados. O primeiro passo estava dado. Tínhamoschegado ao futuro tão sonhado. E agora, perguntávamo-nos! De que modopoderíamos trabalhar para a criação do ambiente favorável que nos permitirialançar a fabricação seriada do avião? Que tipo de estrutura industrial serianecessária? A lista dos “necessários” era enorme e preocupava-nos. Sabíamosque o fundamental era determinar a primeira venda e conseguir o primeirocontrato. Conseguiríamos fazer com que o Ministério da Aeronáuticacomprasse os primeiros exemplares? Aí, entrou firme o nosso Brig. PauloVictor, que não descansou um instante até que as soluções todas pudessemestar materializadas.
Um Alto Preço Pago
Este foi um diferente capítulo que evoluiu do ambiente técnico em quevivíamos para o mundo dos negócios, incluindo mercado, preços,financiamento aos compradores e tudo o mais que envolve as atividadescomerciais. Era para nós, de formação acadêmica dentro das Ciências Exatas,um mundo novo. Tínhamos de aprender, e depressa, pois a memória dassociedades é curta e era importante aproveitar o êxito conseguido. Sabíamosquanto seria difícil, senão impossível, criar eventos semelhantes como àqueleque caracterizou o momento inesquecível do primeiro voo.
No dia seguinte fizemos um balanço das atividades e começamos a percorreros itens de planejamento sobre os quais tanto tínhamos trabalhado.Estávamos no futuro!
Imediatamente foi iniciado o cumprimento do programa de ensaios em voo,que inicialmente deveria explorar a abertura do envelope de operações doavião, checando os pontos extremos de velocidade, de acelerações, decomportamento anormal, e assim por diante. Tudo seria executado em funçãoda orientação do Max Holste e coordenado pelo Eng. Michel que,paralelamente, consolidara sua posição de co-piloto e engenheiro de voonaquele programa primeiro que levaria o BANDEIRANTE a uma operaçãonormal.
Operação normal! O que seria normal para um protótipo? Ficarpermanentemente engajado em ensaios e testes visando à aprovação doproduto de acordo com os regulamentos aplicáveis para a homologação? Ou,então, uma 178
operação que nos autorizasse a carregar passageiros e demonstrar o avião.Isto é, iniciar o longo e árduo processo de marketing e de vendas. Podeparecer que não haveria conflito entre os dois objetivos. O problema é quehavia e era real, pois os dois alvos não se casavam em função da segurançade voo e daquilo que Max rotulava de programa profissional e sério dedesenvolvimento de um novo avião.
Este passou a ser um problema permanente. Considerando o sistema precáriode produção utilizado para construir o protótipo e lembrando que os próximos
dois protótipos, mais as estruturas de ensaios, usariam os mesmos meios,Max argumentava que deveríamos restringir a operação dos aviões. Issocontrastava intensamente com nossas metas de que o BANDEIRANTE nãotinha sido construído para ser um simples avião. Para nós ele se destinava ademonstrar uma tese: era possível no Brasil daquele tempo projetar econstruir aviões com objetivos precisos de atender determinados perfis dedemanda mercadológica? Parece pretensioso?
E era, reconhecíamos, mas, dizíamos nós, precisava ser feito.
A solução foi óbvia. Não colocamos o tema em discussão e, na medida donecessário, usávamos o protótipo para deslocamentos e com passageiros abordo –
o que não era regular, mas foi feito! Se o Max não aceitava – e nãoconcordava mesmo – isso não lhe foi perguntado.
Dentro do planejamento do programa muitas vezes tivemos de ser levados aopalco, proferindo várias palestras perante auditórios escolhidos. Contudo, nãonos era dado esquecer que tudo estava centrado na ideia inicial não deconstruir protótipos, mas sim de lançar as bases de uma moderna ecompetitiva indústria aeronáutica.
Entretanto, parece que em Aeronáutica nada sai de graça e, por vezes, o preçopago é alto. O Major Mariotto era realmente um grande amigo e excelenteprofissional. Eu o conhecia desde nosso curso de aviador militar na Escola deAeronáutica do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Ele foi destacadopara trabalhar conosco, mas funcionalmente continuava ligado à Seção deHomologação do CTA.
Por uma questão de doutrina ligada à segurança do voo o processo deaprovação do nosso BANDEIRANTE foi colocado fora da autoridade dagerência do projeto, isto é, garantindo que pudesse haver um efetivo modo deoperação independente. A razão era a de conferir isenção às equipes deensaios e testes.
Entendia-se que esse conceito era importante para se lograr segurança nasoperações aéreas e também para conseguir as certificações internacionais,
essenciais para a exportação do avião de produção.
Dessa forma nosso amigo e piloto-chefe de ensaios-de-voo, Major Mariotto,fora os momentos em que se dedicava ao BANDEIRANTE, era encarregadode outros voos de testes nos diferentes aviões que estavam em processo deaprovação 179
oficial. Novamente era a velha ideia do Brig. Montenegro – criador do CTA –
funcionando. Muitos dos engenheiros diplomados pelo ITA estavam tentandodesenvolver e fabricar aviões no Brasil.
Esse era o caso das várias empresas fabricantes, instaladas no Brasil. Porexemplo, a AEROTEC, a pequena empresa de propriedade e dirigida peloEng.
Carlos Gonçalves – sempre lutando. Ele, em sua empresa e realmente comrecursos limitados, tinha, quase com o envolvimento total de seu patrimôniopessoal – que era escasso –, conseguido desenvolver e fabricar protótipos doseu A122 –
UIRAPURU, avião de treinamento que se destinava à formação de pilotosmilitares.
A FAB tinha demonstrado interesse em comprá-los para equipar a Academiada Força Aérea de Pirassununga.
Em consequência estava em curso o processo de homologação do avião, oque implicava na realização de ensaios em voo que exploravam todo oenvelope de operação do avião. Naquele momento, logo após o primeiro voooficial do BANDEIRANTE, e seguindo o cronograma básico de aprovaçãodo UIRAPURU, haveria necessidade de fazer os testes de parafuso.
O parafuso é uma manobra provocada por um acoplamento das forças deinércia e aerodinâmicas, levando o avião a um estado de equilíbrio dinâmicoe de rotação por vezes não fácil de ser rompido pelos controles do avião.Todavia, qualquer avião de treinamento, como requisito básico, deveapresentar características aerodinâmicas que permitam a saída de um
parafuso, usando somente seus comandos normais de voo. Esse é umrequisito fundamental a ser cumprido e considerado necessário, pois érazoavelmente comum, ao longo de um programa de instrução de voo, que osaviões possam entrar inadvertidamente nessa manobra. Desse modo, ummodelo de avião deve não somente apresentar características de recuperaçãosegura – saída do parafuso – como também apresentar condições naturais deevitar entradas inadvertidas na manobra.
Desse modo, os ensaios-em-voo precisam ser sempre cuidadosamenteplanejados para garantir essas condições essenciais. Considerando que oparafuso não é uma manobra comandada, isto é, ele acontece e entra emregime em consequência de um jogo de forças não controlado pelo piloto, éimportante que os fatores influentes sejam muito bem conhecidos. Para aexecução dos testes procuram-se instalar equipamentos especiais, para mediros parâmetros essenciais e outros capazes de alterar geometria aerodinâmica,ajudando o avião a sair da manobra, quando os procedimentos-padrãoantecipados pelo projeto não funcionarem.
A história da indústria aeronáutica está marcada por muitos casos deemergência, nos quais o avião vem até o solo, preso à manobra, semconseguir se estabilizar, não obstante os cuidados com que se preparam osvoos.
180
Era lógico, portanto, que todos nós, reconhecendo a importância do Mariottopara o desenvolvimento do nosso projeto, ficássemos reticentes, e mesmo nosopuséssemos, não concordando que ele fosse escalado para ser o piloto quefaria os testes de parafuso no UIRAPURU. No entanto, prevaleceu o seuespírito profissional e Mariotto, insistindo em cumprir suas obrigações, foirealizar o voo.
Aí veio o choque. Com brutal surpresa, e mesmo não acreditando no queestávamos ouvindo, soubemos poucos minutos depois que de fato oUIRAPURU
tinha apresentado problemas e quando o Mariotto, não conseguindo tirar oavião do parafuso, saltou e teve o seu paraquedas preso na cauda do próprio
avião, vindo a falecer no impacto contra o solo. Isto ocorria em 1º denovembro – apenas cinco dias após o voo oficial do BANDEIRANTE.
Não podia ser verdade. Era algo com que não contávamos. Mariotto era maisum amigo sacrificado na demanda que a aviação tradicionalmente requer dosseus aficionados. Mas ele não podia estar morto. Perdíamos o amigo e onosso projeto, recém iniciado, ficava sem o único piloto que o tinha pilotadoaté então. Após os êxitos recentes, ainda persistia em nossas cabeças aimagem forte do primeiro voo
– apenas uma semana atrás – e não nos parecia justo que, tão rapidamente,pudéssemos receber tão violento revés.
A depressão varreu a equipe. Os dias que se seguiram não eram mais osmesmos. O que fazer em seguida? Um novo piloto deveria ser designado tãocedo quanto possível, pois o programa não poderia parar. Mas como?Ninguém queria tocar no assunto. A imagem forte do companheiro morto eraum espectro influenciando cada componente com que Mariotto convivera.
Após o enterro quisemos falar sobre o novo e sério problema criado, mas otempo passaria até que, de forma racional, pudéssemos voltar ao normal ecaminhar em frente. Foi assim que, após muitas e muitas conversas e trocasde ideia, o Brig. Paulo Victor aceitou que eu poderia refazer o primeiro voo,tendo o Michel como co-piloto. E isso ocorreu em 12 de novembro de 1968,pouco mais de uma semana após o falecimento do Mariotto. Dessa formativemos de planejar um novo primeiro voo apenas dez dias depois. Embora operíodo decorrido pareça curto, na nossa cabeça foi uma real eternidade – foium tempo de incertezas.
Era muito difícil relembrar, em face das circunstâncias, mas estávamosatrasados e precisávamos avançar com o programa. Ele tinha um grandesignificado para muita gente e para o futuro de um programa de trabalho detantos anos. Por maior que fosse o impacto da perda do Mariotto, “oespetáculo tinha de continuar”.
181
Foto 26 Da esquerda para a direita: Michel Cury, Max Holste, Ozires,Paulo Victor e Mariotto.
Uma coincidência inexplicável
Não encontrei dificuldades para voar o BANDEIRANTE. O Eng. Michelacompanhou-me neste novo “primeiro e segundo voo”. Minha experiência noCorreio Aéreo ajudou muito. O avião era dócil e relativamente com poucosdefeitos de comportamento, o que nos deu a certeza quanto à possibilidadede, quando em quando, usá-lo para demonstrações. Isso, no início, foi feitosegundo um rigoroso ritual mas, como sempre acontece, em breve viemos autilizar o protótipo mais intensamente na promoção do programa queambicionávamos, e mesmo um pouco além do que seria razoável.
Aquele voo marcou-me muito. No momento em que alinhei o avião na pistaprovisória, construída pelo nosso amigo Delamare, apliquei potência nosmotores, a velocidade rapidamente cresceu e abandonamos o solo. A subidalogo iniciou. À
medida que ganhávamos altura comecei a examinar o que via em torno demim. O
182
nariz do avião praticamente desaparecia, coberto pelo painel cheio deinstrumentos.
A visibilidade era ótima através dos grandes vidros do para-brisas. Olhei parao lado e vi a asa apontando para o horizonte longínquo, mostrando a suavemovimentação dos ailerons em cada curva. Quase não acreditava que nossaequipe tinha criado aquela máquina. Para os olhos dos leigos era um“aviãozinho”. Para nós tinha um significado completamente diferente. Erauma peça viva que respondia aos nossos comandos e, deslocando-serapidamente na atmosfera, colocava sob os nossos olhos a bonita paisagemdo Vale do Paraíba.
Michel ao meu lado anotava tudo. A leitura dos instrumentos, as condiçõesde voo. Quase não falávamos. Apenas transmitíamos para terra algunsparâmetros, nossa localização e o comportamento do avião que, até então, eraimpecável. O
sólido ruído dos motores garantia o acionamento das hélices que, equipadascom o sincronizador automático, movimentavam-se exatamente com amesma rotação.
Como programado fizemos algumas manobras para melhor “sentir” ocomportamento em voo e as reações aos controles. Nada de anormal. Umaboa margem de estabilidade permitia que todas as excitações queprovocávamos fossem fortemente amortecidas, dando uma condiçãoconfortável aos ocupantes.
Antecipei que o BANDEIRANTE seria bem aceito pelos passageiros. Ele nãoapresentava nenhuma tendência indesejável e seu comportamento no ar era oequivalente a qualquer bom avião de transporte em serviço.
Praticamos algumas reduções de velocidade. Baixei os flaps até o máximo de15o – aliás, não era possível ir além disso. Os atuadores provisórios
instalados,
“herdados” de outro avião, não ofereciam curso suficiente para atingir os 45oprevistos. Na configuração possível treinei a redução de velocidadenecessária para efetuar o pouso. Era curioso, mas não estava nada preocupadoem aterrissar pela primeira vez em um avião que jamais tinha voado.Realmente, o avião parecia ser dócil e pousaria sozinho, desde que eu não oatrapalhasse.
Terminada a sequência das verificações previstas, voltei à proa para oaeródromo do CTA e, em breve, comecei a ver a silhueta do hangar X-10, etodo o pessoal em frente, na expectativa do pouso. Decidimos fazer umapassagem baixa sobre a pista e rapidamente deixamos o X-10 para trás.Circulando, com o trem-de-pouso travado na posição baixada, aproamos ecomeçamos a baixar a velocidade na direção da pequena faixa de terra, emfrente ao X-10.
O avião obedecia bem. A redução de velocidade não provocou o fenômenoque tanto tinha me preocupado no primeiro voo do Mariotto. A correçãoaerodinâmica aplicada estava funcionando. Aproximamo-nos da pista,mantendo o avião paralelo ao solo. A velocidade foi caindo e suavemente àsrodas tocaram o solo. O freio funcionou bem e, em pouco, estávamos nopátio trocando ideias com o pessoal de 183
terra e recebendo um carinhoso abraço do nosso Brigadeiro Paulo Victor,sempre presente a cada evento gerado pelo empreendimento, que tantoqueríamos implementar.
A sensação após o voo foi de alívio. Embora ainda todos sentissem a perdado Mariotto, ficamos com a convicção de que o caminho para oprosseguimento estava retomado. Precisávamos voltar a concentrar-nos noprograma de construção dos protótipos adicionais, avançar na campanha deensaios e discutir bastante os novos passos que poderiam nos levar àindustrialização e aos contratos de vendas.
Era claro que eu, em particular, responsável pela condução do projeto IPD-6504
e como Chefe do PAR, não poderia ficar à disposição da pesada programaçãode ensaios de voo. Para termos alternativas e assegurar o cumprimento doscronogramas, treinei outros pilotos que passaram a responsabilizar-se pelamaioria dos ensaios. Do meu lado, voltei atenção para os passos subsequentesde implantação da estrutura produtiva do futuro que, não poderíamos nuncaesquecer, era uma meta fundamental. O Brig. Paulo Victor nesse trabalho foium real campeão e procurava, através de uma intensa presença pessoal,convencer a todos no cenário nacional que, de uma forma ou outra, poderiamajudar e juntar esforços para que se instalasse no Brasil uma nova empresa deconstrução aeronáutica.
Lembro-me uma vez, quando chegamos com o BANDEIRANTE aoAeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, de imediato, logo após oestacionamento do protótipo – o Brigadeiro abordou um soldado daAeronáutica e caminhou ao seu lado quase uma centena de metrosconvencendo-o da importância de o Brasil fabricar aviões. No caminho,encontrou-se com um oficial general e, imediatamente, abandonou o soldadoretornando pelo mesmo caminho, tentando convencer o oficial general sobreo nosso trabalho na construção aeronáutica. Cada vez que penso no Brig.Paulo Victor, e nos eventos que vivi com ele, cresce minha convicção de que,sem ele, a EMBRAER jamais viria a existir.
O fato é que, de uma forma ou outra, o programa estava mostrando resultadose sentíamos que crescentemente o Ministério da Aeronáutica apoiava-nos.Todas as personalidades importantes, do país e do exterior, invariavelmentetinham em seu roteiro uma passagem pelo Centro Técnico e uma visita ao X-10, onde estávamos construindo os protótipos. Aquelas oportunidades eramintensamente aproveitadas mostrando o andamento do trabalho e as projeçõesdo futuro, tentando convencer os visitantes de que estávamos fazendo nasceruma base da construção aeronáutica brasileira. Somente mostrar os problemasfísicos de produzir não era suficiente. Era permanentemente importante tentartransmitir as ideias sobre o segmento de mercado que nossos aviões poderiamoperar – o 184
transporte aéreo nas cidades menores e periféricas. Era, muito possivelmente,o processo de “invenção” do transporte aéreo regional.
Foram muitas as visitas e cada uma com que tínhamos contato – em especial
as dos estrangeiros – concordava amplamente com nossos argumentos emfavor de projetar um avião para preencher o nicho mercadológico queidentificamos no Brasil. Vários analistas do exterior informavam queprovavelmente o fenômeno seria equivalente nos seus países. Assim, pouco apouco compreendíamos que o BANDEIRANTE, muito provavelmente,poderia ter o mesmo tipo de aplicação em outras regiões do mundo.
Chegamos ao início de 1969. Resolvemos conceder férias coletivas aopessoal a partir do final de dezembro. O ano de 1968 tinha sido cheio e muitoduro. Cada um tomou sua direção com suas famílias e o ruído dos martelosfoi silenciado, no nosso barulhento X-10.
Therezinha e eu decidimos ficar em São José. Creio que posso confessar queansiava ficar um pouco em casa, vivendo um pouco mais próximo às criançasque, devido ao trabalho intenso, tinham raro contato comigo.
Durante aquele período, que poderíamos chamar de férias, sem saber oporquê, após o típico almoço de domingo, resolvi abruptamente abandonar aideia da soneca da tarde! Estava num dia muito quente de Janeiro e resolvidar uma olhada no X-10 e “namorar” um pouco o BANDEIRANTE. Claroque Therezinha protestou, dizendo que eu precisava daquele período dedescanso e que não deveria ir ao CTA. No entanto, algo me impelia eresolutamente decidi ir.
Quando entrei no hangar fiquei surpreso. O nosso protótipo, que encontreipróximo à porta fechada do hangar, estava envolto em poeira, numa área sujae cercado de bancadas de trabalho. Chamei alguns soldados da vigilância epedi-lhes que me ajudassem a empurrar o avião para uma área mais livre, aofundo do hangar. Pretendia, com auxílio deles, colocar um pouco de ordemnaquilo.
Enquanto trabalhávamos, não percebemos que do lado de fora estava emformação uma pesada tempestade de verão.
São José dos Campos está situada cerca de 600 metros de altitude, no Vale doRio Paraíba. O rio corre no sentido oeste-leste, formando o vale entre a Serrado Mar e a da Mantiqueira, praticamente separando as duas serras. Devido aessas condições topográficas particulares, além da proximidade do mar, é
muito comum, no verão, a formação de nuvens pesadas que, em geral,desabam intensamente por pouco tempo, jogando sobre a terra grandequantidade de água sob a ação de ventos muitas vezes fortes. São as célebrese conhecidas tempestades de verão, tão comuns na região.
Esse foi o caso daquela tarde. Subitamente o vento começou a soprar comtanta força que, surpreendentemente, foi capaz de levantar a cobertura dohangar o 185
suficiente para deslocar os trilhos de fixação da porta principal. Sem apoio, agrande porta metálica caiu dentro do hangar, provocando um imensoestrondo.
Espantado, mais do que isso, aterrorizado, vi a enorme porta desabarexatamente no local onde, apenas alguns minutos antes, estava o primeiroprotótipo, FAB 2130, o nosso precioso BANDEIRANTE. Impressionante, oavião estava ileso!
Não acreditei no que tinha acontecido. Era surpreendente a força do destino.
Perguntei-me por que, no período de férias, decidi ir ao X-10. Por queexatamente naquele momento arrastei o avião para o fundo do hangar,livrando-o de ficar por baixo da pesada porta de aço? Impossível sercoincidência – salvei o avião por uma questão de não mais de uns 20minutos.
Senti-me pequeno diante do poder da natureza de fazer e de desfazer.Todavia, sentia que Deus estaria do nosso lado e, naquele momento, veio-meà cabeça a
“decolagem do sonho”, sonho do garoto de Bauru que um dia perguntou:“Por que o Brasil não fabrica aviões?”. Lembrei-me do Zico! Sem dúvida, alihavia o dedo dele. Passei a acreditar firmemente no nosso programa e algome dizia que nos transformaríamos em uma fábrica. Como? Não o sabia, mascomecei a ter certeza de que encontraríamos o caminho.
6. A EMBRAER
A partida do Max Holste
O ano de 1969 começou com a nossa equipe buscando encontrar soluçõespossíveis para assentar as bases e conseguir o lançamento da produçãoseriada do BANDEIRANTE. Para isso seria necessária uma empresaindustrial. A pergunta era: o que fazer, criar uma nova ou usar alguma jáexistente? Embora, as tendências brasileiras, não pensávamos, nem por uminstante, em utilizar empresas estrangeiras. Em primeiro lugar nãoacreditávamos que existiria alguma interessada, pois o mercado brasileiropara a compra de aviões comerciais nada tinha de atrativo, com pequenosvolumes de compra ou com algum diferencial que justificasse investimentos.E, em segundo lugar, jamais alguém do exterior se instalaria no Brasil parafabricar um produto de concepção e projeto nacionais!
Assim, a equação era uma só. Ou encontrávamos empresa brasileirainteressada, ou se criaria uma outra, nova de nascimento. Garcia, Ozílio e eunão nos cansávamos de discutir o assunto. Desde o início do empreendimentoestávamos muito conscientes de que a produção em série não poderia sersubestimada e ela era vital para o êxito do projeto. Não era possível –pensávamos nós – que todo 186
aquele trabalho terminasse com um ou dois protótipos. Desde o inícioestávamos conscientes de que não seria fácil encontrar uma soluçãosustentada e perpetuar o projeto. Em alguns arroubos de coragem, eracostume comentar que o “Brasil não aguentaria mais fabricar somenteprotótipos” – em alusão aos muitos que o país criou e fabricou desde o iníciodo Século.
A reviravolta que imaginávamos poderia ter um importante impacto nomercado brasileiro dos operadores de aviões. Evidentemente eles estavammuito satisfeitos com os aviões importados e com o sistema que usavam paracomprá-los nos Estados Unidos. Nessas condições, ficava claro por que otime da EMBRAER era visto, até com prudente desconfiança, pois “aquelescaras de São José dos Campos, que desejavam entrar no mercado para venderuns produtos que ninguém conhecia, poderiam atrapalhar negóciosestabelecidos, e muito”.
De qualquer forma, quaisquer que fossem as reações, procurávamos
conseguir oportunidades e compreender os mecanismos fundamentais parapenetrar no mercado brasileiro e, se possível, no mundial. Assim,entendíamos que tudo aquilo somente teria sentido se pudéssemos chegar àprodução seriada. Sabíamos que a nova etapa, montar as linhas de fabricação,seria ainda mais complexa do que o desenvolvimento do avião e a fabricaçãode um protótipo. Uma quantidade de métodos e processos de fabricaçãoteriam de ser criados e, embora se imaginasse que o know-how já existente noBrasil, nas mãos das pequenas empresas, seria suficiente, o problema erarespeitável.
Estávamos conscientes de que ainda havia um grande caminho a percorrerpara que se pudesse considerar a fase de desenvolvimento do avião vencida.A construção dos dois outros protótipos, necessários para criar o produtofinal aprovado, continuava no CTA, enquanto o primeiro, submetido aensaios de forma intensa, continuamente supria dados e resultados para aengenharia e para a própria produção. À medida que a visibilidade externa,perante a opinião pública nacional, crescia, era gratificante observar que jánão mais havia tantas pessoas que duvidavam daqueles aspectos básicos quetanto nos tornavam apreensivos.
Afinal, o primeiro avião tinha voado com sucesso e vinha cumprindo oprograma de voo, que era requerido para uma homologação oficial.
Embora sob os protestos do Max Holste, de tempos em tempos, promovíamosdemonstrações em voo nos diferentes locais do país. O que o agastava erafazermos isto com um protótipo; ele sempre comentava acremente que setratava, e tinha razão, de um avião não-homologado. Recordo-me de que nósmesmos aceitávamos que aqueles procedimentos realmente não eram “muitoprofissionais”. Mas sempre insistíamos na tese de que era necessário nosesforçarmos para vender a ideia.
187
Se algo pudesse ser falado em nossa defesa – pelo menos para o Max – eraque as demonstrações não eram exatamente programadas. Íamos aonde fossenecessário e a maioria das apresentações públicas do BANDEIRANTEsurgiam por iniciativa do Brigadeiro Paulo Victor. Ele não nos explicavaexatamente qual era sua estratégia mas, experiente promotor de ideias e
extremamente ativo, não deixava de mencionar o trabalho dedesenvolvimento para a implantação, no país, de uma grande empresa deconstrução aeronáutica, em todos os momentos que lhe fosse possível. Essasconversas sempre geravam interesse e, de imediato, uma demonstração doavião em voo era programada.
Max não aceitava isso. Entendia que era um risco. Acentuava que essasprogramações retiravam o protótipo (único em voo até aquele momento) dasua programação de ensaios de aprovação. Estes ensaios tinham o objetivo detestar tudo o que tínhamos feito até então e pretendiam proporcionar maiorsegurança aos voos. Por outro lado, por insuficiência de meios, algumassoluções adotadas na fabricação da estrutura não nos mereciam muitaconfiança.
Uma delas, e nisso eu próprio concordava com o Max, era a peça principal defixação das asas que, inicialmente, estava programada para ser feita emalumínio usinado. Usamos uma técnica “feita em casa” e não deu certo.Quando a peça foi retirada do gabarito retorceu-se completamente, tornando-se inútil. Apenas muito mais tarde é que compreendemos nosso erro. Parausinagens profundas, como era o caso, seria essencial o uso de matérias-primas pré-estiradas que, de nenhum modo naqueles momentos, poderíamosobter. A alternativa foi fazer um sistema estrutural para a fixação das asas emaço com abas resistentes soldadas. E isto todos sabíamos, a solda, emelementos estruturais muito carregados – como é o caso da fixação das asas–, deveria ser evitada. A solda aquece em demasia as regiões contíguas eprovoca mudanças na cristalografia do aço. Na maioria dos casos, leva aoenfraquecimento do metal. É comum observarem-se fraturas em peçassoldadas, não nas costuras das soldas, e sim em áreas próximas a elas.
Esse era um dos exemplos das preocupações de Max e também nossas. Comoessa, havia montanhas de argumentos lógicos que mostravam a seriedadecom a qual Max tratava do assunto. Sabíamos que ele tinha razão nas suasrestrições quanto à forma que utilizávamos para “vender” nossas ideias.Contudo, eu próprio
– embora jamais tivesse expressado isso para outros – seguramente estavadisposto a correr riscos para garantir o êxito do programa.
Era exatamente isto que Max jamais entendeu. Do nosso lado estávamosfirmes nas ideias. Não estávamos simplesmente construindo um avião, nemestávamos em um país desenvolvido. O nosso problema era mais ambicioso.Tínhamos de provar a tese de que seria possível fabricar e vender aviõesfabricados no Brasil.
Mais do que isso, desejávamos entrar na competição existente e garantir queos 188
produtos a serem produzidos seriam adequados para satisfazer as demandaspotenciais. Assim, apresentar, demonstrar e mostrar o avião, com grandevisibilidade, em diferentes cidades e para formadores de opinião, eraessencial.
É claro que, no passado, muitos brasileiros, técnicos de renomadacapacidade, já tinham provado que sabiam fazer aviões. Mesmo no períodoem que desenvolvíamos o BANDEIRANTE, empresas estavam engajadas dealguma forma em construção aeronáutica. A própria Neiva tinha acabado deencerrar a fabricação de quase 300 aviões do modelo “Paulistinha”,largamente aceitos e em utilização nos aeroclubes espalhados por todo o país.Estava também com o REGENTE nas suas linhas de produção e, comcontrato do Ministério da Aeronáutica, projetava e desenvolvia um novoavião de treinamento básico para a formação de pilotos militares – oUNIVERSAL. Muitos outros empreendedores estavam também trabalhando,fabricando pequenos aviões, peças, equipamentos variados, como aAEROMOT de Porto Alegre, a AVITEC do Rio de Janeiro, a CONAL deSorocaba e, em São José dos Campos, a AVIBRÁS e a AEROTEC, entreoutras.
O número de empresas produzindo material aeronáutico no país estavacrescendo, mostrando que a visão do Brigadeiro Casemiro Montenegro Filho,ao criar o ITA, tinha sentido e estava frutificando. No entanto, no nosso casoo que tínhamos na cabeça era algo diferente. Queríamos produzir umaparelho que pudesse ser vendido no Brasil, exportado para diferentes paísese isso, sabíamos claramente, apenas ocorreria para uma aeronave quepreenchesse competitivamente (em performance, em confiabilidade, empreço, em assistência técnica, em custo operacional e em muitas outrascaracterísticas comuns ao mercado aeronáutico) uma necessidade da demanda
nacional ou internacional.
Não desejaríamos, mais uma vez – como em tantas outras que ocorreram nonosso passado – que se iniciasse um programa de produção, segundo umcontrato governamental, em cujo final o empreendimento correria o risco dedesaparecimento por falta de continuidade nas encomendas. Esse “filme” jáera conhecido e visto anteriormente muitas vezes no Brasil.
Reconhecíamos que o quadro era difícil no conhecido contexto da culturabrasileira de considerar que produtos daquele tipo, como os aviões,necessariamente tinham de ser importados. Seria um sonho imaginar que umestrangeiro, voluntarioso e difícil como o Max, pudesse um dia chegar acompreender tudo isso. E aquela mistura de risco e de ações tomadas – comcontornos bastante desconexos –, se era difícil para nós, imagine para ele. Euestava certo de que, se dentro da mais remota das possibilidades, Max viesseentender o que fazíamos, de nenhum modo iria aceitar.
Ele crescentemente mostrava-se cansado e muito entediado. Dizia que nuncaem sua vida tinha ficado tanto tempo “parado” fazendo apenas protótipos.Sua 189
vocação, como insistia, era a de avioneur, um fabricante de aviões. Asdiscussões nas quais ele nos envolvia estavam tornando-se intermináveis.Ozílio e eu trabalhávamos juntos, na mesma sala, com escrivaninhas frente afrente. Isto ajudava muito a troca de ideias. O estágio que Ozílio tinha feitona França deu-lhe uma fluência muito boa no francês, o que foi útil aoesforço de conseguir um modus vivendi com o Max Holste. Éramosassociados no cultivo da paciência e procurávamos moderar, acompanhandoo Brig. Paulo Victor, que procedia de forma idêntica.
Nas trocas de ideias, nas quais sempre nos engajamos em nossas conversas,um pensamento era claro. Sabíamos que, em breve, ele nos deixaria. Apergunta era: quando? Durante os momentos difíceis, meu pensamento voavapara a cláusula contratual que constava da carta-acordo assinada entre o Maxe o Brig. Balloussier, estabelecendo royalties em seu favor para todos osaviões Bandeirantes a serem fabricados.
Tudo o que tínhamos feito até agora, embora ainda no terreno dos sonhos,
levava-nos a procurar dar cada passo sempre na direção da vocaçãopermanentemente perseguida: a de chegar à produção seriada do nosso aviãoe conseguir conquistar uma parcela do mercado, vendendo-os. Para isso osprodutos deveriam ser bons, eficientes e oferecidos a preços competitivos.Nossa experiência, mesmo que indireta, e sobretudo devido às discussões queeu ouvia com frequência no plenário do Conselho de DesenvolvimentoIndustrial do Ministério da Indústria e do Comércio, indicava que jamaispoderíamos subestimar os custos de uma produção industrial no Brasil. Dessaforma, a ideia que deveria pagar um percentual ao Max – como royalties,realmente era uma constante preocupação. Se isto fosse mantido, naeventualidade de criação de uma empresa, ela já partiria de um ponto departida desvantajoso. De modo nenhum, negávamos sua importância pessoalpara o programa, mas relutávamos em adicionar um custo sobre o qualteríamos pouco controle. Todos sabíamos, como se sabe hoje, que afabricação de aviões no mundo não é um negócio dos melhores. As margensde remuneração são sempre marginais.
O panorama financeiro do mercado aeronáutico mundial oferecia um quadroclaro: o nível da tecnologia aplicada aos aviões estava em contínuodesenvolvimento e indicava que a tendência era a de continuar. As novastécnicas para fabricar as estruturas e os equipamentos sempre resultavam emaumentos dos custos, embora melhorassem a eficiência dos aviões. O balançofinal era claro: os aviões do futuro seriam mais sofisticados e cada vez maiscaros. Todos julgavam que, embora essas dificuldades, a aviação seria umcrescente sucesso, pois as aeronaves mais modernas operavam segundoparâmetros de produtividade mais altos, compensando seus preços iniciaismais elevados.
190
Paralelamente, os requisitos internacionais estabelecidos pelas maiores e maisreputadas organizações governamentais de certificação, como a FederalAviation Administration (FAA), dos Estados Unidos, e o CAA, da Inglaterra,ao lado do esforço continental europeu na constituição do Joint AviationAirworhiness Regulations (JAAR), estavam trazendo constantementemodificações às formas pelas quais os aviões eram concebidos, projetados,fabricados, mantidos e operados. Inegavelmente manter-se paridade com o
aumento dos requisitos e exigências, continuamente fixados pelas autoridadeshomologadoras, agregava outro risco potencial aos custos de produção. Seriapossível dizer que este era realmente um custo, mas nenhum plenário domundo aceitaria que tal trabalho, essencial e direcionado de maneirainequívoca para um aumento significativo de segurança do voo, não fossefeito.
Durante todos os momentos tínhamos constantes confirmações de que nossaspreocupações procediam. Tudo nos obrigava a pensar mais e mais no assunto.A regra era a mesma e comum a todos os empreendimentos industriais: tudoaparecia como essencial e nada era de graça; os custos sempre somam, nuncasubtraem. Os aviões estavam tornando-se progressivamente maissofisticados, mais complexos e muito mais seguros. Contudo, para issoestariam crescentemente dependendo de mais componentes e deequipamentos melhores, mais bem concebidos e fabricados em níveistecnológicos de complexidade crescente, tudo mais caro. A conclusão eraóbvia, insistíamos: no futuro os preços dos aviões seriam maiores para secomprar e para se operar.
Em resumo, os pagamentos dos royalties previstos pelo contrato do Maxsomente agravavam as perspectivas para o nosso projeto.
Ainda em 1969, surgiu a oportunidade para termos o assunto resolvido. Maxchegou um dia para o trabalho no PAR visivelmente transtornado. Algo haviaacontecido em sua casa que não nos foi possível determinar. Todavia, istonão era novidade. Falava-se muito sobre problemas que ele viveria em casa.Do nosso lado, quando o assunto surgia, minha atitude era a de me calar. Jáencarávamos suficientes problemas com os nossos projetos para nosinteressarmos por assuntos sobre os quais não tínhamos nenhumapossibilidade de atuar.
Max entrou no meu escritório de forma abrupta e mostrava-se agitado. Vinhade uma visita rápida e tumultuada ao escritório de projetos, onde o Guidomais uma vez funcionou como saco de pancadas e disse-me acremente, numaentonação que dava a ideia de que estava se livrando de um problema que oatormentava há tempos:
“Je m’en vais! ” (Eu me vou!).
E acrescentou:
191
“Vocês me prometeram uma infraestrutura de verdade. No final o que tenho?
Uma equipe de amadores que jamais fará um avião sequer. Estamostrabalhando há três anos e os erros se sucedem todos os dias. Sobre aindustrialização nem se fala. O Governo Brasileiro não está presente nem porum momento e, sem ele, isto eu sei pela minha experiência, este país jamaiscolocará um avião de produção no ar”.
Pacientemente eu imaginava que teria de ouvir, outra vez, todo o cansativodiscurso – já muito nosso conhecido – do Max Holste, sabendo que emgrande medida ele tinha razão, embora enfatizasse várias vezes a palavra“promessas”.
Isto, a menos que eu tenha me esquecido, não o fizemos. Na noite em que nosencontramos pela primeira vez, quatro anos antes, a opção de desenvolver umavião no próprio Departamento de Aeronaves do CTA (PAR) apareceu comouma das últimas colocadas. No entanto não era o momento de contraargumentar. A experiência, consolidada em intermináveis discussões com ovoluntarioso francês indicavam que, algumas vezes, o silêncio constituía-seem boa estratégia.
De qualquer forma reconhecia que grande parte das ponderações que faziaera procedente e valia para países como a França – sua terra natal –, pioneirana invenção do avião e que tinha vivido, desde o final do Século XIX, todasas experiências do desenvolvimento aeronáutico, fase por fase. Os paísesdesenvolvidos tinham criado sua indústria de construção aeronáutica, a partirdos primeiros passos da tecnologia mundial. Eles não poderiam entender oque nós estávamos tentando fazer. Dar um salto sobre um fosso quecertamente poderia ser maior do que imaginávamos. Se falhássemos nisso, onosso destino seria o fracasso.
As altercações com o Max eram comuns, embora soubéssemos que ele nutriaconfiança e amizade para conosco. Do nosso lado compreendíamos quanto oquadro era difícil para ele entender. O país, diferente com cultura e língua. O
nosso povo sabe como é difícil viver num país em desenvolvimento – paranão dizer subdesenvolvido. Embora esse mesmo povo não saiba, em geral,como se comportaria num ambiente dito desenvolvido.
Do nosso lado, como brasileiros, lutávamos para chegar a um produto final,sem ter passado pela criação das bases de uma indústria. Compreendíamos asdimensões da tarefa e tudo indicava que não haveria outras formas.Precisávamos cortar etapas e saltar sobre um período de aprendizado, vividono exterior, e ganhar a possibilidade de ter êxito, baseando-se nasexperiências externas.
Se quiséssemos fabricar aviões teríamos que fazê-los no estado da artemundial e não poderíamos nos permitir gastar um tempo enorme paradesenvolver uma cultura técnica no setor, como tinha acontecido nos paísespioneiros. Durante as fases em que a tecnologia evoluía no exterior, o Brasil,salvo umas pequenas 192
exceções, passou ao largo. Desse modo, entendíamos que as nossasalternativas não poderiam ser um caminhar passo-a-passo, nem tentarconstruir um futuro sem aproveitar o conhecimento já acumulado de outrasregiões. Se não procurássemos fazer alguns “curtos-circuitos” chegaríamosao mercado dos compradores de aviões num futuro muito remoto,provavelmente com produtos ultrapassados e inaceitáveis em face do que aconcorrência ofereceria.
A nossa forma de ver as coisas colocava-nos em choque com os difíceisobstáculos ao desenvolvimento. Falta de meios materiais e insuficiência derecursos humanos. Embora o ITA tivesse exercido um poderoso papelformando engenheiros aeronáuticos que se destacaram na vida empresarialbrasileira, a infraestrutura para a preparação de técnicos e de especialistas denível médio era claramente insuficiente para atingir os padrões dos homens emulheres que trabalharam para o Max Holste, na sua empresa francesa. Nãoera somente um problema de capacidade técnica, era também de cultura.Todos nós tínhamos a consciência de estar num país complicado, de decisõeslentas e, por consequência, operacionalmente caro.
É difícil compreender o funcionamento das sociedades humanas, as quaisapresentam facetas particulares em cada região do mundo, em cada país, em
cada cidade ou em cada comunidade. A experiência de conviver com o MaxHolste foi extremamente instrutiva. Embora a pouca idade da nossa equipe dedirigentes – na faixa dos 30 anos – ainda com todo um caminho a percorrer,estávamos sempre aprendendo. No entanto, ficou-nos claro o choque decultura; não a cultura medida em termos de nível de instrução ou de educaçãoescolar, mas aquela caracterizada pelo que poderíamos chamar capital socialdo país, constituído por um complexo aglomerado de instituições,abrangendo repartições públicas, empresas, escolas, organizações de classe,igreja, sindicatos, mídia e assim por diante, tudo funcionando em função devirtudes e comportamentos moldados pela sociedade circundante.
Mais de uma vez, em conversas descontraídas com o Max, tentei mostrar-lheum pouco de Brasil. Por vezes pensei que poderia tentar ensinar-lhe sobre onosso país. Desisti de imediato perguntando-me:
“Seria isto possível?”
Teria de falar sobre a nossa burocracia emperrada. Sobre a atitudegeneralizada do funcionário público de se considerar associado ao “dono dopaís” – o Governo.
Das grandes dificuldades que cada brasileiro enfrentava para desfrutar deuma cidadania que lhe era negada todos os dias. Enfim, seria uma tentativa demostrar-lhe que, embora estivéssemos cercados de dificuldades, estávamosfazendo o máximo e que um dia poderíamos ter êxito.
193
A lógica do nosso dia-a-dia, entretanto, batia de frente com o pragmatismo dofrancês, embora todos saibam que a burocracia na França também não énenhuma maravilha. Mas, de algum modo, a “cultura” francesa, se medidapelo grau de desenvolvimento do país, conseguiu superar os problemas queenfrentávamos aqui.
Eles fabricavam aviões! Estavam desenvolvendo com os ingleses um aviãode transporte de passageiros supersônico – o CONCORDE. E nós?Estávamos tentando, com uma quase total falta de recursos, criar um pequenoavião, na escala baixa da faixa das velocidades subsônicas, que deveria
transportar apenas nove até 12
passageiros e que dificilmente poderíamos ir além disso.
Olhando para trás – sem tentar vender o produto mais caro do que valia – éimpressionante constatar como, com tão poucos recursos, conseguimos fazeros protótipos do BANDEIRANTE, e ainda confrontados com a tecnologiamundial da época. Muito disso pode ser atribuído ao entusiasmo, à contínuadisposição para mudar elementos importantes e gerar objetivos para tentaralgo que, por todos os ângulos que pudéssemos medir, parecia tão difícil. Ogrande motor de tudo isso era o nosso Diretor Geral, Brig. Paulo Victor que,com sua capacidade de acreditar, contagiava a todos. E gostávamos muitodaquele contágio!
Ozílio e eu tínhamos tentado encontrar remédios para as explosões do Max.Mas ele, na maioria das vezes, era desconcertante. Quando faltavamargumentos, e isso ocorria sempre, ficávamos calados e esperávamos que elese exaurisse nas linhas de reclamação, para então, se fosse o caso, tentarencontrar uma solução que o trouxesse ao normal.
No passado, essas cenas tinham, de uma forma ou outra, sido superadas. Mas,naquele dia, estava indo longe demais. Max estava determinado e, quando eupróprio estava já atingindo meus limites de resistência racional, voltei a ele edisse:
“Certo, Max! Entendi o problema. Você realmente não acredita que estamostrabalhando duramente e fazendo o máximo para ir adiante, malgradoestarmos em um país com as características e com as culturas quepredominam no Brasil, as quais você jamais compreendeu. Desde há muitosinto que você quer ir embora. Se este é o seu desejo estou de acordo. Minhaúnica proposta é cancelarmos nossos acordos anteriores e você estará livrepara partir para onde desejar”.
Sua reação foi pronta e direta. Disse ele:
“Sim, eu me vou! Prepare os documentos requeridos para me liberar. Estoumuito cansado. Irei para casa e voltarei para assiná-los assim que ficaremprontos”.
Com sinceridade, se naquele momento tive preocupações para continuar osprojetos em curso, sem o concurso do Max Holste, não me lembro disso.
Acreditava na competência dos nossos homens para superar todas asdificuldades 194
que teríamos a vencer. Mas, com muita rapidez, o que realmente me veio àcabeça foi que vivíamos, provavelmente, um momento único. Poderia seraquela a oportunidade que teríamos para escapar da cláusula contratual dosroyalties, motivo de tantas reflexões e preocupações passadas.
Logo após a saída do Max, telefonei ao Brig. Paulo Victor. Contei a ele oocorrido e, visivelmente preocupado, disse-me:
“Fique no PAR! Estou indo para aí imediatamente”.
Quando o Brigadeiro chegou mostrei-lhe a cópia da carta-acordo, assinadaentre o Max e o Brigadeiro Balloussier. Com a rapidez que o momento exigiajá tinha esboçado uma alternativa de redação para a carta de afastamento. Elacancelava todos os acordos prévios e estabelecia que nada seria reivindicadono futuro, nem por ele nem por sucessores. Acionamos nosso advogadoPimentel que fez as inserções necessárias, para dar perfeita cobertura jurídicaao papel, e Max, mais tarde, retornando ao PAR – sem nenhuma observação– assinou o documento, na presença do Brig. Paulo Victor, que também aassinou, como diretor geral do CTA.
Ponto final! No futuro, nada mais haveria a reclamar. Dos dois lados.
Ao firmar aquele documento Max declarou que jamais acreditava que nós,daquele time, conseguiríamos lançar a fabricação de aviões no Brasil e que seatingiria algum sucesso. Aquele seu ato mostrava suas característicaspeculiares.
Voluntarioso, genioso, mas absolutamente firme em suas ideias e convicções.
Embora difícil, era sério e determinado. Assim, em junho de 1969, MaxHolste partiu e nós continuamos nosso trabalho, a partir daquele momento esob nossas responsabilidades. O curioso é que não me pareceu que qualquer
um tivesse se julgado inseguro, e mesmo o Brig. Paulo Victor, que nosacompanhava no dia-a-dia, não aparentou nenhuma preocupação com a perdado chefe de projeto – cujo calibre técnico e experiência eram inegáveis, dissotínhamos muita certeza.
Naquele primeiro momento começamos a nos reorganizar e, como nos eramuito claro, levamos o Eng. Guido a assumir a Direção Técnica do Escritóriode Projetos, coisa que ele fez de imediato. Embora muitas vezes espezinhadoe ridicularizado pelo Max, era um líder técnico que saberia crescer.Estávamos certos disso.
Nosso trabalho seria completar o segundo protótipo, já em produção, eproduzir componentes e elementos de ensaio para enfrentar a “tortura” dostestes de fadiga e a ruptura das solicitações estruturais. Essas eram as tarefasprodutivas que eram ajustadas às outras de tentar construir o futuro dafabricação dos aviões de transporte que resultariam do Projeto IPD 6504.
De fato, aconteceu o previsto. O tempo rapidamente confirmou que Guido erao homem para comandar o processo. Assim, o trabalho prosseguiu seminterrupção e até melhorou, sob certos aspectos. A fabricação do segundoprotótipo avançou, ao 195
lado do início de corte de chapas para a fabricação do terceiro. Os ensaios emvoo com o FAB 2130 – o primeiro protótipo e único deles em voo – domesmo modo prosseguiram. Ao lado dos ensaios, cada vez maisintensamente, fizemos apresentações e demonstrações do nosso avião,sempre que necessárias.
Numa dessas saídas para mostrar a nossa “vedete”, o nosso Ministro Brig.
Márcio – Ministro da Aeronáutica – programou ter o avião em Brasília ecolocá-lo à disposição das autoridades do Governo Federal. Corria o mês demaio de 1969. O
Ministro era sempre muito ativo no seu esforço de vender a ideia dodesenvolvimento da indústria aeronáutica nacional. Ele sabia que o Governoseria peça essencial para dar partida ao empreendimento e, desse modo,procurava não perder nenhuma oportunidade para alguma promoção.
Surgindo um momento propício convidou o Presidente da República, Arthurda Costa e Silva, para ver o primeiro protótipo do BANDEIRANTE. OPresidente parece que tinha a resposta pronta e aceitou a ideia. Foi tudocombinado que ocorreria no Aeroporto de Brasília, nas instalações da BaseAérea.
Quando lá estávamos, o avião sendo examinado e cercado por uma multidão,o Brig. Márcio convidou o Presidente para um rápido voo. Para horror edesespero da equipe de segurança que tentou dissuadi-lo, o Presidente,tranquilamente, ouviu as ponderações do General Chefe da Casa Militar edisse:
“Muito bem! Esclarecido o assunto vamos embarcar. Você vem?”
Eu fiz aquele voo que foi apenas um turno de pista, reduzindo-se o tempo devoo a um mínimo. Decolei, circulei o Aeroporto e regressei para o pouso.Tudo sem problemas. O Presidente agradeceu, disse que gostou e foi embora,deixando a impressão, para os agentes da segurança, de que ele era umapessoa corajosa e de que a Nação teria sido salva. O Presidente da Repúblicanão tinha morrido em nenhum acidente.
Esses episódios mostravam com clareza que, afinal, o prestígio da indústrianacional estava por ser provado e avião era coisa que “eles” – os estrangeiros–
fabricavam. E entre “eles” – na cabeça de muitos brasileiros – nós ainda nãoestávamos incluídos. A equipe de segurança do Presidente não seincomodaria se o Chefe voasse num avião fabricado no exterior e projetadopor gente que eles não conhecessem. Se falassem inglês, aí, então, seriaperfeito!
Tudo terminado, de imediato, decolamos de Brasília e iniciamos o voo devolta para São José dos Campos. A bordo estavam o Brig. Agemar da RochaSanctos, Diretor Geral do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, oBrig. Paulo Victor, Ozílio e um mecânico, que tínhamos levado para qualquereventual necessidade. O Brigadeiro Agemar estava contente pelos resultadosconseguidos com a presença do Presidente na Base Aérea. Muitos oficiaisgenerais e políticos tinham comparecido e a visibilidade externa conseguida
foi importante.
196
Foi gerado um clima de expectativas e, nas conversas paralelas, ficou claroque um ambiente de apoio estava sendo configurado entre as autoridades domais alto escalão governamental. A apresentação do avião tinha ocorrido deuma forma melhor do que a planejada. A impressão era de que se começava aconfigurar uma crença de que as circunstâncias permitiriam falar emconstrução aeronáutica no Brasil. Na época, a indústria naval, tambémimplantada havia poucos anos, estava com a carteira cheia de pedidos. OBrasil fabricava navios, automóveis, a indústria metal-mecânica estava emprocesso de expansão. Faltavam os aviões, e os primeiros passos estavamsendo dados.
O Brigadeiro Agemar, como o próprio Brigadeiro Paulo Victor, eraengenheiro militar e compreendia nossas dificuldades. A disposição com queambos se dedicavam a nos ajudar era gratificante. Tudo o que a eleslevávamos como problemas, e não eram poucos, tinha, com seu empenho,apresentação de soluções.
O voo transcorria tranquilo na tarde bonita e quente. A visibilidade era total,podendo-se ver ao longe o horizonte verde do planalto Central. Estávamos a3.000
metros de altitude (10 mil pés), já avistando a cidade mineira de Uberlândia.Em 10
minutos estaríamos sobrevoando-a bem dentro da rota que pretendíamospercorrer. Subitamente a cabine dos passageiros foi envolvida por umafumaça branca, extremamente fétida. Nos meus anos de aviação jamais tinhasentido um cheiro semelhante – forte e penetrante. Muitas vezes emdiferentes voos enfrentei emergências e tinha experiência suficiente paratentar identificar o problema pelo tipo de cheiro observado. Mas aquele eranovo. Nunca o tinha sentido antes.
Sem saber o que era, procurei tranquilizar os passageiros – nada difícil, afinaltodos a bordo conheciam bem a aviação e tinham muitos quilômetros voados.
Imediatamente reduzi os motores e iniciei uma descida rápida para oAeroporto de Uberlândia, que, por felicidade, estava à vista. Abrimos asjanelas dianteiras dos pilotos para permitir alguma circulação de ar e,preocupado – afinal tínhamos amigos e pessoas importantes a bordo –procurei acelerar e conseguir aterrissar, dentro do tempo mais curto possível.
Enquanto isso o mecânico tentava localizar a origem da fumaça e do cheiro.No nosso primeiro protótipo estava instalado, entre a cabine dos pilotos e ados passageiros, um armário fechado dentro do qual estavam montados várioscomponentes elétricos, entre eles a bateria.
A bateria dos aviões é um produto sofisticado. Aquela que selecionamos parao BANDEIRANTE era bastante moderna, alcalina e capaz de resistir a váriospicos de corrente elétrica. Esta era uma condição essencial para uma bateriainstalada em aviões equipados com motores a reação, os quais notoriamentedemandam, nos 197
instantes iniciais da partida, correntes próximas a mil ampères, o que é umconsiderável valor.
No instante que o mecânico tocou a bateria queimou a mão. A suatemperatura externa estava bastante elevada e, imaginamos, internamentedeveria ser bem maior. Meu Deus, pensei eu, ela poderia explodir e oarmário, de estrutura leve construído somente sob os requisitos para ser umrevestimento, em nada resistiria ao impacto que dali decorresse. Rapidamentedesliguei todo o sistema elétrico e fomos direto para o pouso sem sequer falarcom o controle de tráfego, pois sem energia não dispúnhamos decomunicação. Aí encontramos a resposta para o cheiro diferente quesentíamos. Os vapores exalados de uma bateria alcalina são completamentediferentes daqueles que sentiríamos de uma convencional, de chumbo.
Durante uns instantes religuei a energia elétrica – somente com os geradores,procurando deixar a bateria fora do circuito. No nosso avião a energia elétricaera necessária para baixar o trem-de-pouso e assegurar a circulação do fluidohidráulico necessário para usar os freios. Realmente esta foi apenas umaprecaução adicional, mas sabia que, mesmo sem energia, não teriadificuldades para pousar e taxiar. No solo, dirigi-me o mais rapidamentepossível para o estacionamento, desliguei os motores e saímos para o ar puro
e quente de Uberlândia.
Embora estivéssemos em maio e o dia fosse bonito, a temperatura logo apóso meio do dia era alta. Investigando melhor ficou demonstrado que o maucheiro realmente tinha como origem a bateria, que parecia não ter aguentadoa dura sequência de partidas, pousos e decolagens efetuados em Brasília, comdiversos cortes e partidas sucessivas dos motores. A experiência foi degrande valor, pois, daquele momento em diante, passamos a discutir mais,com o fabricante, sobre as condições operativas das baterias. O Brasil é umpaís quente e tínhamos agora indicações de que o equipamento, produzidoprovavelmente para climas temperados, não estaria em condições de resistirao duro desafio imposto por um país tropical.
Esperamos algum tempo para a bateria resfriar um pouco. Com ela desligada,conseguimos colocar os motores em funcionamento, usando uma fonteexterna e, operando o sistema elétrico somente com os geradores, decolamosde volta para São José dos Campos.
Quando chegamos pedi ao Guido para examinar os aspectos operacionais dosistema elétrico, em particular as voltagens nominais de trabalho, com osgeradores dos motores ligados, uma vez que estes carregam a bateria duranteo voo. Nesse lado nada tivemos de anormal, exceto a decisão de reduzirmoscerca de 5% da voltagem de operação do sistema para diminuir a corrente derecarregamento da bateria. Novas especificações foram emitidas para o 198
fornecimento de baterias para os futuros aviões e o sistema elétrico doBANDEIRANTE agregou uma experiência a mais. Casos como aquele nãodeveriam repetir-se mais. Assim é aviação – um progressivo aprendizado quese aperfeiçoa a cada evento que ocorre.
Esse incidente não tinha sido perdoado pelo Max. Ele, logo após o evento,veio para cima de nós com o dedo erguido. Começou com uma chuva de“ses”:
“Se o avião caísse!”
“Se atingisse terceiros!”
“Como faríamos sem o protótipo!”
“Em outras palavras, vocês são uns doidos!”
“Colocam o Presidente da República a bordo de um protótipo?”
“Isto é uma imensa loucura!”
“Quem estava a bordo?”
“É insano convidar o Brig. Agemar para viajar em um avião que não estavacompletamente testado. Problemas como o ocorrido com a bateria sãonormais. O
que não é normal é que venhamos descobrir falhas em missões de transportee com pessoas destacadas, importantes para nós a bordo!”
“O que disse o Brig. Paulo Victor? Não posso imaginar que estejaconvivendo com pessoas sensatas e responsáveis!”
Ele realmente ficou zangado. Esse incidente teria contribuído para sua saídado time um mês depois? Ficamos todos em posição difícil e calados. Afinal, oMax tinha razão. O risco tinha sido alto demais. Mas nós estávamosempenhados em prosseguir no esforço para levar nossos projetos em frente. Éclaro que nunca poderíamos estar dispostos a sacrificar quem quer que fossepelo êxito de nossas aspirações. Contudo, poderíamos pensar um pouco comocrianças:
“Afinal, nada tinha acontecido com qualquer grave consequência.”
Assim foi! Demos razão ao Max, demos a cara para ser batida, mas...pensamos, vamos em frente!
A Busca dos Caminhos para a Industrialização
A ideia de que o Brasil poderia fabricar aviões de transporte começava apercorrer o país. Surgiam convites para palestras, explanações e para seescrever artigos sobre o desenvolvimento do novo setor industrial. Asnotícias que redigíamos para divulgar cada novo passo começaram a ganhar
espaço na imprensa. O nosso objetivo era convencer que o nosso desafio nãoera apenas o de 199
construir aviões. Nisso o país já registrava vários resultados históricos, algunsde êxito irretrucável.
Desejávamos algo mais. Era intenso o esforço para que uma nova fábrica ouempresa, que pudesse ser criada, fosse autossuficiente e fabricasse produtosde classe mundial, capazes de captar segmentos de mercado específicos paragarantir posições de liderança.
Dentro do CTA, o trabalho sobre os dois próximos protótipos seguia emritmo acelerado. Essa quantidade de protótipos parecia um pouco exageradapara muitos observadores, contudo nós a considerávamos essencial para oprocesso de aprovação técnica, que teríamos de conquistar. A homologaçãojá era, e seria crescentemente no futuro, um item imperativo e de fundamentalnecessidade para que o avião pudesse operar em tráfego aéreo comercial.
Com a saída do Max, já começávamos a pensar em modificar o projeto. Umaprimeira ideia foi diretamente dirigida para os para-brisas que tinham amesma configuração do BROUSSARD francês e que o Max sempre insistiraser a “a sua marca” ou “sua assinatura”. Todos nós a considerávamos muitofeia e antiquada.
Reconhecíamos que ela assegurava importante facilidade para a manufatura,uma vez que todos os vidros eram planos. Contudo, insistíamos, o nossoavião não deveria ser apenas eficiente. Deveria ser também bonito eapresentar um design atrativo.
Em aviação, como em todos os setores, há sempre as chamadas piadas decaserna. Uma delas diz que a avião tem de ser como mulher, bonito sempre!
Outros agregam: “...e ser tão caro quanto elas!”. Nesse momento a conversacomeçaria a atravessar campos minados. É melhor não continuar no tema!
Voltando aos fatos! É consagrada a condição que estabelece “em projeto deaviões uma modificação não é apenas uma, são milhares”. Ou então, “paracoçar, basta começar”.
Isso ocorreu! Começamos com algumas modificações e, no final, o primeiroBANDEIRANTE de produção seriada tornou-se um avião inteiramentediferente.
Não creio que estejamos solitários nesse episódio. Existem conosco muitasempresas boas e de reputação internacional que começam a projetar um echegam a outro produto. Há razões para isso. O projeto de um novo aviãotoma muitos anos, e durante o período de trabalho para criar o modelo àscondições do mercado modificam-se. Departamentos de vendas começam apressionar, com pedidos de modificações que podem facilitar seu trabalhojunto aos potenciais compradores.
À custa de muito empenho tínhamos conseguido que tudo voltasse ao normalapós o acidente que atingira duramente a equipe, quando Mariotto morreu noacidente com o UIRAPURU. É claro que não se podia colocar uma pedra emcima 200
daquilo e simplesmente esquecer. De tempos em tempos muitos aindacomentavam a perda, com muita tristeza. No entanto, do ponto de vistatécnico, as notícias que nosso incipiente empreendimento produzia eramboas. Os ensaios em voo do primeiro protótipo já começavam a demonstrarque o BANDEIRANTE
prometia superar as expectativas, embora tivesse saído da montagem maispesado do que o previsto nos estágios iniciais do projeto.
O problema do peso nos aviões parece uma doença crônica; os aviões saemsempre mais pesados do que se espera. Este é realmente um resultado muitoinconveniente para o desempenho antecipado e caminha no sentido contrárioao do interesse da exploração comercial. Peso acima do previsto significa anecessidade de maior potência nos motores, o que, por sua vez, requermaiores volumes nos tanques de combustível, colocando como consequênciadireta a redução da capacidade útil para transportar carga, e assim por diante.Todos são fatores contribuintes para o aumento dos custos, tanto do aviãocomo os de operação. Daí a razão do estreito e sofisticado sistema de controledo peso que se institui, muitas vezes pouco eficaz em face da pressão paramais equipamentos e maior segurança da estrutura.
É notório que o peso do avião sempre está conectado aos custos de produçãoe de operação. A consequência é que esses fatores, ao lado do preço final doproduto, dificultam as vendas. E vender é importante para qualquerempreendimento.
Quando se fala em operação comercial, os custos têm uma grandeimportância, não somente pelo volume de recursos financeiros envolvidos,mas pelo fato de que o transporte aéreo sofreu, ao longo dos anos, umfenômeno econômico muito característico. Os preços dos aviões e os custosda operação das linhas aéreas, não somente no Brasil como em todo o mundo,cresceram com muita rapidez. Muitas foram as explicações levantadas pelosespecialistas: a sofisticação tecnológica, as crescentes normas de segurança,as condições gerais da economia mundial, os custos da mão-de-obra,impostos, seguros, etc. Em contrapartida, as tarifas aéreas caíramrapidamente, fruto da crescente competição que passou a prevalecer no setor.O fenômeno, desejado ou não, mostrou que o sistema colocou-se em perigosadivergência – custos crescendo e tarifas caindo. Em outras palavras, asempresas foram obrigadas a se engajar em estratégias sérias de redução dosseus custos operacionais, se quisessem sobreviver.
Todas essas considerações tornaram-se luzes de alarme que se colocaram emnossos caminhos, à medida que avançávamos. Se, de um lado, erafundamental que produzíssemos aviões a preços competitivos e com aqualidade pelo menos compatível com o que se observava no mundo, deoutro, os problemas da industrialização impunham desafios, em princípio,muito difíceis de serem 201
superados. Imaginávamos que teríamos de colocar no mercado o nossoBANDEIRANTE a preços que os compradores pudessem pagar e,importante, que pudessem operar de forma rentável.
No Brasil, na época – em 1969 –, a política econômica do Governo Federalera a de substituição das importações. As autoridades trabalhavam noaperfeiçoamento de mecanismos para proporcionar incentivos fiscais,visando favorecer o interesse dos investidores, levando-os a considerar ahipótese de implantar empresas voltadas para produzir, no Brasil, os produtosque se importava. Era claro que aquela política, de um lado, facilitaria nossotrabalho para o lançamento da fabricação dos aviões que desejávamos criar e
fabricar. Todavia, do mesmo modo, aqueles mesmos mecanismos queajudavam de um lado poderiam atrapalhar do outro.
Entretanto, diferentemente de todos os outros projetos que eram aprovadospelas autoridades dirigentes da política industrial da época, nosso avião eraum produto de tecnologia nacional e, portanto, não era produzido em nenhumoutro lugar do planeta. Era uma coisa criada aqui – e, entre os criativosmecanismos de estímulo e de incentivo, legalmente previstos, não havia nadaque pudesse abrigar os riscos de um desenvolvimento indígena. Tudo eraorientado para a fabricação sob licença de produtos, pela tecnologiaimportada.
O debate no qual nos engajamos era amplo e envolvia não somente o tipo deempresa que seria a responsável pela fabricação do BANDEIRANTE, mastambém como ela operaria para conseguir ser competitiva. Essasconsiderações levavam-nos a debater a questão do preço de venda do aviãoque, logicamente, deveria ser o mais baixo possível. Os parâmetros de basepara tudo isso era o mercado mundial, embora a empresa fabricante devesseser instalada no Brasil.
Aí é que nascia realmente o problema. A chamada “política de substituiçãodas importações” facilitava os investimentos para a fabricação no Brasil e asexportações. Contudo dificultava a importação de componentescomplementares e essenciais à produção de material sofisticado como oavião, e extremamente dependente de uma quantidade de componentes eequipamentos, dificilmente fabricáveis em território nacional.
O problema era complexo e estávamos conscientes de que em uma primeiraexperiência todo o equacionamento do emaranhado de dificuldades iria exigirum empenho pesado e dedicado.
Bem, todos os problemas são como o salame: temos de comê-los por fatias.Se voltarmos aos custos incorridos para operar um avião, sentimos quedeveríamos abordar algumas facetas, duas das quais são muito importantes. Énecessário, por exemplo, que os custos para transportar um passageiro por umquilômetro (ou milha) seja inferior àquele previsto e que contribui para aformação do preço da 202
passagem aérea. Adicionalmente o custo de uma etapa precisa ser menor quea receita auferida, proporcionando portanto o lucro necessário. Osfabricantes, através de um projeto bem concebido e preocupado com osaspectos de custos, podem contribuir para aumentar a competitividade dosoperadores nos dois e em outros componentes de formação dos custos deoperação.
Uma solução para a redução dos custos sempre vem no sentido de se fazer oavião maior e capaz de transportar mais passageiros. Isso permite diluir tudoo que incide para aumentar as despesas, através de um número maior depessoas a bordo. Por exemplo, alongar a fuselagem e oferecer mais assentos.Essa solução é razoavelmente comum na indústria aeronáutica. E quando umavião é maior um outro benefício tende a ser agregado: a redução relativa dopeso estrutural. Ao se alongar a fuselagem de um avião torna-se possívelcarregar mais passageiros com pequenas adições ao peso da estrutura daaeronave. Essa é uma vantagem adicional. A máquina aérea, sabe-se,consome energia para transportar seu próprio peso. Assim, quanto mais leve aestrutura melhores os desempenhos operacional e econômico conseguidos.
As empresas de linhas aéreas sabem, e praticam sempre que possível, que,para cada viagem típica nas diferentes rotas, o tamanho do avião deve serproporcional à capacidade da região de gerar passageiros. Numa regra de“polegar” costuma-se dizer que um voo começa a dar lucro quando cerca de50% a 60% dos assentos estão ocupados. Desse modo, se um aeroporto deuma cidade do interior gera, em média, 10 passageiros por dia para umdeterminado destino, teoricamente o avião a ser empregado deveria tercapacidade de assento da ordem de 15 passageiros. É
claro que a regra nem sempre pode ser respeitada. Afinal o avião é umproduto caro e nenhuma empresa pode dar-se ao luxo de ter frotasdemasiadamente diversificadas, isto é, um avião para cada etapa. Os custosrelativos à manutenção, aos estoques de peças de reposição e ao treinamentode pessoal para operar aviões diferentes são altos e precisam ser contidos.
Foi com esses pensamentos que abordamos o problema para determinar qualseria o tamanho do nosso futuro BANDEIRANTE de produção seriada.Embora de aparência simples, a tese era e é de grande complexidade para serdecidida. Nos tempos em que estávamos especificando o modelo de
produção, os cálculos iniciais indicavam que o número típico de passageirosa bordo deveria chegar a pelo menos 15 pessoas – bem mais do que os noveprevistos na configuração inicial dos protótipos. Preocupamo-nos com otema, mas a decisão final foi que aquele não seria o momento mais adequadopara uma mudança daquela magnitude. Tudo estava indicando que 1969 seriaum ano importante para conseguirmos encontrar os caminhos para lançar aprodução seriada do avião, e uma modificação, naquele momento, poderiadesviar as atenções do problema principal e tomar tempo, 203
afetando os custos. A construção da fábrica não poderia ser adiada ouperturbada por qualquer outro fator. Guardamos a ideia para umaconsideração no futuro.
O importante que restou dessas dúvidas todas e das discussões nas quais nosempenhamos era que, não importando o que nos acontecesse no futuro, oBANDEIRANTE – quando fosse construído em série, qualquer que fosse aestrutura industrial que se conseguisse configurar – teria de ser maior que osprotótipos e capaz de carregar mais passageiros.
Muitos não imaginam quanto é amplo o espectro de alternativas no campo daindústria aeronáutica. Uns fazem os grandes jatos, outros os pequenos aviõese ainda outros, planadores, ultraleves, etc. E, na dura competição do mercado,muitas vezes a preferência dos operadores por um modelo ou tipo de aviãoacaba por vir de pequenos detalhes, por vezes considerados pelos projetistascomo pouco significativos.
No caso de nossa equipe as coisas não eram diferentes. Talvez a únicadiferença era que éramos iniciantes e o processo de aprendizado sempre serialento.
No caminho a percorrer para o estabelecimento de uma empresa deconstrução aeronáutica, ou evoluir a partir de uma existente, estavaprogressivamente mais claro que, em qualquer hipótese, não se poderiadepender de um produto único.
Dizendo de outra forma, seria difícil – senão impossível – levantar umempreendimento destinado a fabricar aviões, sem perspectivas de oferecer,aos operadores, alternativas. Chama-se a isso diversificação, e ela nos atingiu.
Apesar de toda a dedicação ao BANDEIRANTE, decidimos produzir dezexemplares do planador URUPEMA – cumprindo a promessa que tínhamosfeito ao Guido, quando o convencemos a abandonar o ITA e vir juntar-se anós no PAR.
Uma pequena equipe tinha sido destacada para fabricar os planadores e,graças às qualidades técnicas do pessoal e a excelência do projeto, oURUPEMA terminou por ser uma grande máquina que foi capaz de despertarmuito entusiasmo entre os aficionados.
Infelizmente, nossa experiência de vendas era quase nula. O resultado foiclaro e conseguimos vender apenas um exemplar do planador – nossoprimeiro produto a ser posto no mercado. Para “desencalhar” os demaisconseguimos levar o Ministério da Aeronáutica a adquirir toda a série e doá-los para Clubes de Voo a Vela, incluindo o sorteio de um deles em campanhanacional. O evento foi cercado de publicidade, o que para nós foi importante.Estávamos tentando desenhar um novo perfil da produção brasileira de aviõese todo o ruído que se poderia fazer acrescentava algo à nossa campanha pró-industrialização do BANDEIRANTE.
Vivíamos momentos de desafios constantes. O prestígio da equipe de projetotinha crescido. Afinal, nosso avião tinha voado, e bem. Já não se ouviamtantas observações de dúvidas, as quais agora apareciam deslocadas. Nãomais se 204
duvidava do voo – agora as interrogações eram colocadas em relação àfabricação.
Do nosso lado, já tínhamos coletado experiências prévias e, pacientemente,íamos explicando e tentando ganhar tempo em relação às sempre apressadasexpectativas da opinião pública. Sinceramente ainda não sabíamos o queocorreria e qual seria o caminho para se chegar às almejadas metas deprodução seriada.
Foto 27 O planador Urupema: projeto do ITA.
A ideia de um avião agrícola
Em 1969 surgiu no PAR (Departamento de Aeronaves do CTA) um velhoamigo e meu colega de turma da Escola de Aeronáutica do Campo dosAfonsos (Rio de Janeiro), o Coronel Marialdo Rodrigues Moreira. Ele, naépoca, era assessor do Ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima,que, interessado em colocar novas técnicas a serviço da produção agrícolabrasileiras imaginou adquirir uma quantidade de aviões destinados àpulverização de inseticidas e capazes de executar alguns outros trabalhos em
favor das plantações.
Marialdo procurou-nos perguntando se estaríamos interessados e pensar emprojetar um avião adequado a esses serviços, salientando que estudos feitospelo 205
Ministério indicavam haver boa demanda por esse tipo de produto naagricultura brasileira. Naquele momento, os pedidos de aviões agrícolas eramatendidos pelas importações dos PIPER Pawnee, CESSNA AgWagon eGRUMMAN AgCat, todos fabricados e importados dos Estados Unidos. Osdois primeiros eram considerados leves, com um tanque de produtos para olançamento sobre as plantações, com capacidade de cerca de 600 litros,enquanto os AgCat’s – categorizados como pesados – eram capazes detransportar o dobro desse volume.
Passamos a pensar na ideia e resolvemos consultar o Ministério daAgricultura sobre a possibilidade de se conseguir recursos financeiros para o
projeto de desenvolvimento do novo aparelho. Isso foi feito após umaconversa construtiva que o Ministro Cirne Lima teve com o Ministro Márciode Souza e Mello, da Aeronáutica, que, a essa altura, tinha consolidado suaconfiança na equipe de projetos do CTA. Dessa conversa surgiu o princípiode que se poderia trabalhar na direção de se ter um avião agrícola brasileiroprojetado pela equipe de São José dos Campos.
Foto 28 Assinatura do contrato entre os Ministérios da Agricultura eAeronáutica para o Projeto do Avião Agrícola.
Presentes o ministro Cirne Lima, brigadeiro Márcio e coronel Marialdo.
Guido não perdeu tempo e colocou seu pessoal para trabalhar e produzir umesboço inicial do avião, que poderia responder aos reclamos dos produtoresno 206
Brasil. Em pouco tempo, colocamos nas mãos de Marialdo um anteprojeto.
Em homenagem à Fazenda IPANEMA, situada em Sorocaba e que mantinhauma escola e um centro de pesquisas de aviação agrícola, decidiu-se que onovo avião teria o nome de “IPANEMA”. O projeto foi estudado peloMarialdo e sua equipe do Ministério da Agricultura e, com relativa rapidez,foram destacados recursos financeiros para o projeto, desenvolvimento econstrução de um protótipo. A quantia era pequena, aproximadamente 10%do necessário, mas era um ponto de partida. Fomos autorizados, peloMinistério da Aeronáutica, a nos engajar e destacamos uma reduzida equipepara criar o avião.
O IPANEMA era um avião interessante. Sua configuração básica era a de ummonomotor, de asa baixa, incorporando uma série de soluções aerodinâmicascapazes de garantir a segurança nas operações aero agrícolas que exigiam ovoo à altura da copa das plantações. Evidentemente um aparelho paraexecutar este tipo de trabalho deve ser estável e de comportamento previsível,isto é, não pode pregar “sustos” no piloto quando voando a baixasvelocidades. No nosso jargão o IPANEMA tinha de ser um “avião-mãe”, istoé, confiável em todas as circunstâncias.
Foto 29 Ipanema: o avião agrícola de projeto do CTA para a produção daEmbraer.
207
Seu motor de 300 HP acabou sendo escolhido entre os modelos da fábricanorte-americana Lycoming. Uma hélice de alto rendimento, fabricada pelaHartzell, também dos Estados Unidos, completava o conjunto motopropulsor.Os defensivos agrícolas eram transportados em um reservatório (de cerca de600 litros) instalado entre o piloto e o motor, preso a uma estrutura tubular,tipo treliça, que permitia assegurar bons suportes de fixação. Essaconfiguração tinha a desvantagem de colocar o piloto muito atrás, o que decerto modo prejudicava a visibilidade, mas oferecia a possibilidade depermitir maior segurança, no caso de colisão com obstáculos terrestres.Pareceu-nos claro que qualquer avião agrícola, sempre voando em altitudesmuito baixas, era vulnerável a sofrer impactos com obstáculos no solo. Istoera confirmado pelas estatísticas que mostravam que fios elétricos eram osfavoritos. Uma boa ideia foi a incorporação, na frente do para-brisas do pilotoe das pernas-de-força dos trens-de-pouso, de uma lâmina de aço que
permitiria cortar cabos e outros objetos eventuais, oferecendo maisalternativas para a segurança dos pilotos.
Os sistemas de aspersão dos defensivos mereceram atenções especiais. Foramprevistos mecanismos para a pulverização dos inseticidas líquidos epolvilhamento para aqueles que eram utilizados sob a forma de pó. Muitocuidado na preparação do ferramental foi observado para se conseguir amelhor vedação possível para a cabine de pilotagem, reduzindo apossibilidade de intoxicação do tripulante.
No campo das emergências, o IPANEMA acabou por ser um avião quasecompleto, oferecendo uma enorme gama de alternativas. Isso foi feitoouvindo muito os operadores e colhendo as críticas que normalmente eramfeitas aos produtos equivalentes do mercado. Esses cuidados fizeram com quese conseguisse conquistar uma boa aceitação para o produto durante muitosanos.
Cada uma dessas decisões, que determinavam diferentes sentidos aos projetosem curso, eram tomadas após muitas discussões, na maioria das vezesincluindo os operadores. Desse modo a situação no início de 1969 tornou-sepesada, exigindo de cada um muito trabalho. Dedicávamo-nos intensamenteaos ensaios em voo e aos estruturais do BANDEIRANTE no recém-construído laboratório de testes.
Paralelamente, na improvisada linha de produção do X-10, montava-se osegundo protótipo do nosso bimotor e iniciava-se a construção doIPANEMA. Tínhamos ainda o compromisso de transformar o planadorURUPEMA em um produto que poderia ser fabricado em série. Enfim, nãopodíamos reclamar quanto à falta de trabalho; muito ao contrário, já nemtínhamos mais horas de lazer. Chegávamos cedo pela manhã no PAR eninguém tinha horário para sair. Todavia, naquele mar de coisas para fazer,algo não faltava: entusiasmo. Todos estavam empenhados e sabiam que, deuma forma ou outra, estávamos escrevendo uma parte da história daconstrução aeronáutica no Brasil.
208
As Alternativas para a Empresa a ser Criada
No lado externo continuava o esforço para propagar a ideia de que o Brasildeveria construir aviões. Não era possível pensar, argumentávamos, que comuma área territorial tão extensa não se tivesse disponível uma apreciávelquantidade de aeronaves, capazes de atender nossas variadas necessidades emtransporte aéreo e em aplicações especiais, inclusive as militares. Issoconfigurava um mercado para a produção local que, pensávamos, não sepodia perder.
Os contatos com as autoridades intensificaram-se e o Ministro Márcio, daAeronáutica, induzido por nós, aceitou bem as iniciativas que tomávamospara fugir ao círculo vicioso dos protótipos no qual a maioria dosempreendimentos até então tinham se fixado. Ele, como nós, estavaconvencido de que se teria de produzir BANDEIRANTE em uma fábrica einsistia que a solução deveria ser através da propriedade e de gestão privadas.Dizia que as restrições da pesada organização governamental poderiam inibira eficiência necessária para uma moderna produção de aviões.Concordávamos, embora tivéssemos dúvidas de que fosse possível levantaros capitais necessários e convencer algum empreendedor privado a colocarseu dinheiro em um projeto nacional de avião.
A questão foi posta ao Ministro por diversas vezes e, um dia, decidido a darinício na solução da equação e a nos ajudar, telefonou para o jornalista JúlioMesquita, do jornal O Estado de São Paulo, expondo o problema. JúlioMesquita respondeu rapidamente e conversou com o industrial paulistaAlmeida Prado.
Ambos, em conjunto, decidiram apoiar a ideia e oferecer colaboração. Asações funcionaram e partiram para divulgar o projeto, tentando angariarinvestidores para as novas ideias.
Os dois destacados homens do empresariado de São Paulo colocaram boadose do seu esforço e promoveram várias reuniões, algumas fora de SãoPaulo. Nesses encontros, sempre contando com muitos participantes,fazíamos nossa entusiasmada exposição, enquanto todos ouviam atentos, mascom grande ceticismo. Afinal, qual era a experiência aeronáutica de umaequipe nova que, é certo, tinha conseguido fazer voar um pequeno avião detransporte – sob novos conceitos –, mas avião, diziam eles, é coisa séria etradição não deixa de ser algo essencial.
De qualquer forma, numa noite, em reunião na residência do DeputadoFederal Cunha Bueno, esses encontros terminaram. Após uma exposição, tãoconvincente quanto possível, sobre o nosso projeto de industrialização,mostrando dados, apresentando alternativas e buscando o acordo dospresentes sobre as oportunidades que poderiam ser abertas para umaexploração comercial da ideia, 209
fui interrompido pelo presidente da Deutz – uma fábrica de motores dieselpara caminhões, situada ao lado da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos– que, com um português fortemente carregado com seu sotaque alemão,atirou:
“Se o senhorr pensa que famos facerr investimentos em um prrojeto de afiõesprrojetados no Prrasil, o senhorr está redondamente enganado”.
O silêncio abateu-se sobre todos. Durante alguns minutos todos procuraramdigerir aquele comentário direto e agressivo. Afinal ele tinha tocado no pontosensível. Ninguém acreditava mesmo que tivéssemos o know-how e aexperiência essenciais para um empreendimento daquele nível, e o que oPresidente da Deutz dizia, embora um pouco direto demais para o estilo dosbrasileiros, era a mais pura verdade. Do meu lado, muni-me do meu maisagradável sorriso amarelo e quebrei o silêncio dizendo:
“Senhores, desejamos agradecer muito a atenção de todos. Creio quechegamos ao final de nossa apresentação e fico com a sensação de estarperante um problema geométrico, após tantas reuniões e tantas trocas deideias”.
A surpresa estampou-se no semblante de todos:
“Geométrico... por quê?”.
Em tom tão amigável quanto possível expliquei:
“Não sabíamos que estávamos ‘redondamente enganados’ e ‘redondo’ égeometria”, disse.
Após as despedidas, ainda constrangidas, saímos e, na viagem de volta para
São José dos Campos, comentamos que deveríamos levar o resultado ao Brig.Paulo Victor e propor a aplicação das ideias geradas pelo Eng. Garcia, isto é,buscar a formação de uma empresa, inicialmente capitalizada pela UniãoFederal.
A evolução dessas ideias tinha tomado muito tempo, do Garcia e meu. Nabusca de soluções, tínhamos empenhado muitas das nossas horas de lazer,indo até altas horas da noite em discussões que se centravam na busca decaminhos. Numa daquelas noites Garcia chegou com uma “descoberta”.Mencionou ele que tinha encontrado uma alternativa na legislação da reformaadministrativa do estado brasileiro, editada em 1966, o Decreto-lei nº 200.Em um de seus artigos estava definida, entre outras, a possibilidade deinvestimentos diretos da União Federal no setor produtivo. A legislaçãofixava o mecanismo pelo qual poderia ser estabelecida uma “Sociedade deEconomia Mista”, sob a forma de uma entidade de direito privado e moldadasegundo a Lei das Sociedades Anônimas, porém controlada pelo PoderPúblico.
Já tínhamos mencionado a ideia ao Brig. Paulo Victor, que ficou em dúvidaem função da orientação direta que tinha recebido do Ministro Márcio, deencontrar investidores do setor privado. No entanto, em face dascircunstâncias e como ele 210
próprio afirmava: “O tempo está passando... e temos que avançar”, resolveuapoiar a ideia. A dificuldade estava em como dourar a pílula para que ela setornasse aceitável ao Ministro Márcio e demovê-lo da ideia de que a estruturaindustrial para produzir o BANDEIRANTE, e as outras aeronaves que aindaseriam criadas, deveria ser controlada por capitais privados. Isso tinha sidoprovado ser quase impossível após meses de conversa com o empresariado eem várias oportunidades.
Desde 1958, de tempos em tempos encontrava-me com o Cel. Lauro NeyMenezes, meu velho amigo de várias oportunidades. Ele havia me estendidosua ajuda quando, decidido, estava eu estudando para prestar o concurso deadmissão ao ITA. Agora, onze anos depois, já como Coronel Aviador eservindo no Estado-Maior da Aeronáutica, ele estava num posto e numafunção que podiam dar asas à sua vocação extremamente criativa. Menezes,como sempre um ótimo sujeito, aberto a novas ideias, gostava de discuti-las.
Proporcionava sempre uma boa conversa. Corajoso, era comum levantarideias pioneiras como também nunca rejeitava as sugestões de outros,fugindo da regra geral de preconcepções colocadas, antes de ouvir osargumentos.
211
Foto 30 Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, futuro ministro da Aeronáutica,Ozires Silva e coronel Lauro Ney Menezes.
Sua carreira, como imaginava, tinha sido destacada e aonde quer queestivesse sua criatividade e seu empenho comumente produziam diferenças.Seu cargo no Estado-Maior era de suma importância e, portanto, meuprimeiro passo foi conversar com ele. A conversa valeu a pena. Durante atroca de ideias ele não somente absorveu o problema de como encontrar asolução para a construção aeronáutica, como também me chamou a atençãosobre o processo de substituição dos aviões de treinamento da Academia daForça Aérea; inclusive a necessidade de equipar os Esquadrões deReconhecimento e Ataque (ERA), e ainda sobre a ideia do Ministro Márciode criar um Esquadrão de Defesa Aérea, equipado com aviões de caçasupersônicos.
212
Pouco mais tarde o próprio Ministro, por sugestão de Menezes, designou-mepara integrar o grupo que deveria ir à Suécia, Inglaterra, Itália e França paraavaliar quatro modelos de aviões de combate, supersônicos, para que fossemconsiderados na constituição do novo Sistema de Defesa Aérea. O grupo erapequeno e acabou composto por Menezes, Major Ivan Moacyr da Frota e eu.
Partimos para a Europa e nossa primeira escala foi na Inglaterra, cujoobjetivo foi examinar o LIGHTINING, caça da British Aircraft Corporation(BAC).
Logo que chegamos a Londres voamos para Wharton, na costa oeste da Grã-
Bretanha, onde o LIGHTINING estava em produção. Durante a viagemtínhamos feito todo um plano de trabalho para cumprir a missão eestabelecemos vários parâmetros de avaliação, que pretendíamos aplicar paratodos os aviões a serem testados. No entanto, sentíamos que faltava algo. Oplano só foi completado em uma conversa informal e longa que tivemos nopróprio quarto do hotel no qual ficamos instalados.
A ideia era simples e ambiciosa. Além do trabalho de seleção do novosupersônico para a FAB, solicitaríamos aos fabricantes, com os quaismanteríamos contato, considerassem paralelamente uma proposta defabricação no Brasil, sob licença, de aviões a jato de treinamento e deemprego tático, que tivessem disponíveis em produção ou em projeto.
Menezes estava voltando para o seu trabalho, do qual mais gostava. A ideiade se dedicar, no Estado-Maior, estudar e buscar equacionar as necessidadesde reequipamento da frota de aviões da FAB
era excitante ao Menezes.
Essa linha de produção de um avião militar no Brasil, em conjunto com afabricação dos Bandeirantes, apresentava uma série de vantagens. A primeira,sem dúvida, era aquela de aumentar o interesse da FAB, uma vez que elareceberia uma quantidade de aviões que dificilmente poderia adquirir apenascom os seus recursos orçamentários. É fácil perceber que esperávamos obterapoio do Governo Federal para um programa industrial de construçãoaeronáutica; assim, a produção de uma apreciável quantidade de aviõesviabilizaria economicamente o empreendimento e, ao mesmo tempo, dariauma grande contribuição ao reequipamento da Força Aérea.
Uma outra linha de argumentação estava no know-how realmente relevanteque receberíamos de um fabricante consagrado, ajudando-nos a tornar aprodução dos Bandeirantes mais eficiente e segura. Para isso, pensávamos,seria suficiente carregar pesadamente os programas de assistência técnica aserem solicitados dos fabricantes estrangeiros no momento em quecontrataríamos a licença para produzir seus respectivos aviões no Brasil.
213
As ideias, assim montadas, receberam pronto apoio dos nossos anfitriões, e onosso trabalho na Europa começou a tomar forma. Imaginamos quepoderíamos discutir as seguintes alternativas somando os dois objetivos:
País
Avião de Combate
Avião de Treinamento
Inglaterra
BAC Lightining
BAC 167 Strikemaster
Suécia
SAAB Draken
SAAB 105
França
MD Mirage III
Fouga Magister
Itália
Lockheed 104*
AERMACCHI 326G
* Fabricado sob licença pela Fiat Aviation, de Torino No caso da Itália nãotínhamos pensado em nenhum avião de treinamento nem conhecíamos osesforços italianos para recuperar sua indústria aeronáutica, duramenteatingida pelos difíceis anos da Segunda Guerra Mundial. Naquela viagemnosso único contato foi com a Fiat, em Torino, onde a empresa fabricava oG91 e o F-104 (este sob licença da Lockheed dos Estados Unidos). Dessaforma a proposição que trouxemos ao Brasil seria a fabricação local dostreinadores militares, limitando-nos às opções inglesa, sueca e francesa. Oavião italiano AERMACCHI 326G entraria mais tarde, quase pela “janela”,como veremos mais tarde.
De regresso ao Brasil, apresentamos os resultados da missão para o Ministroda Aeronáutica, que aprovou por completo o plano. Entretanto, a decisãodeveria ficar pendente determinando um aprofundamento maior dos estudosque nos levariam a, finalmente, selecionar o parceiro, sempre dentro da ideiafundamental de que a empresa a ser escolhida, além de fornecer o aviãosupersônico, também nos daria a licença para fabricar o treinador militar.
Numa manhã de domingo, em maio de 1969, como de costume, estávamos
trabalhando, com algumas pessoas cumprindo tarefas específicas, quando aTorre de Controle do Aeródromo de São José dos Campos informou-nos queo avião do Presidente da República pousaria, dentro de alguns minutos. Seudestino era Guaratinguetá, cerca de 100 quilômetros de São José dos Campos,e lá não poderia aterrissar, pois o aeroporto estava fechado às operaçõesdevido a um intenso nevoeiro, fato muito comum no nosso inverno do valedo Paraíba.
O operador de serviço disse-me que, por ser um domingo, não tinhaencontrado nenhuma autoridade para receber e acolher o Presidente durantesua permanência no solo, aguardando melhores condições meteorológicas emGuaratinguetá.
Portanto, a sorte tinha se voltado para nós e, em poucos minutos, estaria emfrente ao Presidente do Brasil, com uma oportunidade pela frente, jamaisimaginada anteriormente. Deveria tentar fazer o máximo e convencer a maiorautoridade da República sobre o que pretendíamos em relação ao nossoprojeto.
214
Cheguei ao estacionamento dos aviões, mais ou menos ao mesmo tempoquando o descia a escada, o Presidente Arthur da Costa e Silva em pessoa.Embora tenha encontrado resistência dos homens da segurança, o fato de serMajor da FAB
permitiu-me aproximar do Presidente da República e convidá-lo para fazeruma breve visita ao nosso Hangar X-10, onde estava o primeiro protótipo doBANDEIRANTE e o segundo em construção. Durante o trajeto e a chegadaao X-10
procurei explicar o que fazíamos, colocando tão rapidamente quanto pude osargumentos que favoreciam a estratégia de se desenvolver no Brasil umaindústria aeronáutica. Pessoalmente estava treinado a tentar vender o nossoprograma de tantas e tantas vezes procurado convencer pessoas eempreendedores.
O Presidente lembrou-se do seu curto voo no protótipo em Brasília. Fez
muitas perguntas sobre o projeto, sobre o avião pronto no qual tinha voado,como estavam os ensaios, etc. Não tivemos muito tempo. Alguém chegouinformando que o campo de Guaratinguetá já apresentava condições deoperação e o Presidente retornou ao seu avião. Ainda no sopé da escada deacesso o Presidente, visivelmente interessado e acreditando que tínhamos emfrente um bom projeto, prometeu examinar o assunto, chamar os Ministros daFazenda e do Planejamento, para com eles trocar ideias, como também falariacom o Ministro da Aeronáutica.
Mencionou que trataria de ver o que se teria de fazer diferente para se admitiruma nova empresa estatal, sob a forma de sociedade de economia mista.
Animados pela coincidência favorável ocorrida com o pouso inadvertido doPresidente em São José dos Campos, o nosso entusiasmo cresceu e nosparecia que estávamos escapando da área cinzenta na qual mergulhamos,após o
“redondamente enganado”.
Logo em seguida após o seu regresso à Brasília, o Presidente Costa e Silvafalou com o Ministro Márcio, seguido de perto pelo nosso insistente Brig.Paulo Victor, que, do seu lado, procurava a todos convencer sobre quão justoera o plano. Dessa conversa surgiu a ideia de se montar uma reunião com osMinistros da Fazenda (Delfim Netto), do Planejamento (Hélio Beltrão) e daIndústria e do Comércio (Macedo Soares). Fomos convocados, Menezes,Frota e eu, para preparar duas palestras, que seriam realizadas numa mesmaoportunidade. Uma deveria apresentar o programa de aquisição do avião decombate supersônico e, a outra, o de fabricação do BANDEIRANTE, emconjunto com a produção, sob licença, de um avião de treinamento para aForça Aérea.
Menezes encarregou-se da primeira e eu fui destacado para a segunda. Aexpectativa cresceu e dedicamo-nos inteiramente aos trabalhos de preparaçãoda reunião. Tínhamos toda a consciência de sua importância. Na madrugadado dia marcado, 26 de junho de 1969, às 4 horas da manhã, estávamos dandoos retoques finais às palestras, na sala de reuniões do Gabinete do Ministroem Brasília, quando 215
entra na sala o próprio Ministro Márcio. As exposições estavam fixadas parase iniciarem às 9 horas e o Ministro, impositivo, mandou-nos dormir, pois,dizia ele, precisávamos estar em forma, e não cansados por passarmos a noiteem claro. É
claro que ele não mencionou que, ele próprio e o Brig. Paulo Victor, tambémnão deveriam estar, naquela hora tão pouco usual, em seu gabinete detrabalho.
A reunião iniciada na hora marcada foi um sucesso graças ao apoio queconseguimos do Ministro Macedo Soares e do Marcus Vinicius Pratini deMoraes, o qual compareceu à reunião representando o Ministro Hélio Beltrão– do Planejamento.
Mais tarde, soube que Marcus Vinicius tinha corrido um risco pessoal. Eleera o Secretário-geral do Ministério do Planejamento e o segundo homem,em termos de hierarquia, respondendo ao meu futuro amigo Beltrão. Contou-me Marcus Vinicius que o Ministro manifestou enormes dúvidas, colocandouma série de restrições às decisões tomadas durante nossa reunião e nãogostaria de encaminhar os assuntos como decididos. Sem sabê-lo tivemossorte. Marcus Vinicius insistiu e conseguiu, se não convencer Beltrão, pelomenos obter sua aquiescência de que se continuassem as discussões.
O mais reticente foi o Ministro da Fazenda, Delfim Netto (autor do Prefáciodeste livro), que, respondendo pelos recursos financeiros do TesouroNacional, viu ali uma despesa substancial a ser incluída extraorçamentariamente nas dotações anuais do Ministério da Aeronáutica.Todavia, ele mesmo concordou e acabou por se entusiasmar com apossibilidade de se desenvolver um novo segmento industrial, sofisticadocomo o da construção aeronáutica. Consta que ele, ao sair, teria mencionadosua enorme dúvida sobe os dois projetos apresentados, embora tendo feitoreferência ao perceptível entusiasmo das equipes de FAB envolvidas.
Ficamos preocupados, mas somente o fato de que tínhamos conseguido aconsideração dos assuntos, entramos em compasso de espera e deexpectativa. A proposta poderia ser aprovada.
O fato importante, e em relação a ele tínhamos o maior dos receios, era que,
no bojo das soluções maiores conseguidas, se tinha conseguido passar a ideiada criação de uma sociedade de economia mista para se encarregar doprocesso de produção do BANDEIRANTE e do avião de treinamentofabricado sob licença. Eu jamais poderia me esquecer dos problemas quesempre afetaram o trabalho dos nossos pioneiros no campo da construçãoaeronáutica. Eles, de um modo ou de outro, conseguiam construir seusaviões, que tinham voado satisfatoriamente, impressionavam a opiniãopública mas, pelas razões mais diversas, não os conseguiam fabricar.
216
Por esse processo difícil, a história mostrava que uma expressiva quantidadeda criatividade brasileira havia ficado somente no papel, em inúmerasocasiões. Nós não queríamos isso. Não estávamos lutando para simplesmentefazer protótipos.
Estávamos engolfados na ideia de que somente a produção seriadaconsolidaria a construção aeronáutica no Brasil e, após tantas e tantasdiscussões, uma sociedade de economia mista, controlada pelo Governo,
estava se mostrando como uma solução possível.
Foto 31 Ministro Antonio Delfim Netto e Ozires Silva.
O Ministro Márcio gostou muito dos resultados conseguidos na reunião. Comsatisfação ele contabilizava resultados. Na aquisição dos novos supersônicos,a FAB
permitiria um significativo passo à frente e estabeleceria as bases necessáriaspara lançar um sofisticado complexo de Defesa Aérea que, na visão doMinistro, deveria ser acoplado ao enorme programa de proteção ao voo,considerado essencial para o desenvolvimento e para a segurança dotransporte aéreo no Brasil. Nascia assim o CINDACTA – Centro Integradode Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo.
Hoje, olhando para trás, vejo que o Ministro Márcio era um visionário eenxergava o futuro com clareza. Devemos muito a ele e, graças ao novosistema que implantou para a proteção aos voos no país, estou certo de quemilhares de vidas foram salvas. Isso sem falar na própria indústriaaeronáutica, pela qual tinha lutado 217
tanto nos últimos anos. Sem ele, nenhum dos dois programas poderia ter sematerializado.
Os dois objetivos eram pesados em todos os aspectos, tanto no lado daconstrução aeronáutica como no dos serviços de defesa e de controle dotráfego aéreo. Ambos dependiam de desbravar horizontes não conhecidos nopaís.
Tecnologia já era na época uma palavra de ordem no campo daindustrialização e nada se conseguiria sem se dispor de conhecimentostecnológicos suficientes para tocar para frente os dois projetos.
Nossa equipe realmente entusiasmou-se quando a notícia chegou a São Josédos Campos. Sentíamos todos que estávamos avançando. O nosso trabalho,com muita clareza, não estava simplesmente centrado na fabricação de umnovo avião; muito ao contrário, estava pensando estrategicamente no futurode produzi-los e de vendê-los. A falha de se conseguir o engajamento da
iniciativa privada, através das muitas e intermináveis reuniões promovidaspelo Brigadeiro Márcio, já estava esquecida e substituída por um novo alentode entusiasmo pela hipótese, agora não mais remota, de que oBANDEIRANTE seria fabricado em série, escapando do círculo viciosohistórico em que tinha se transformado a nossa indústria aeronáutica, fazendosomente protótipos. Tínhamos pela frente a real possibilidade de implantaruma verdadeira uma fábrica de aviões.
Agora, compreendíamos que estava aberta a trilha para uma nova fase donosso trabalho. Tornava-se necessário entender a nova empresa do ponto devista legal e gerencial; em outras palavras, como materializá-la. Segundo asdecisões iniciais, do ponto de vista jurídico, ela deveria ser uma sociedadeanônima, de economia mista, isto é, constituída por capitais governamental eprivado, mantendo-se, contudo, e isto era muito importante, sob a forma deentidade de direito privado.
Precisávamos de muitas coisas. Por exemplo, fixar uma localização para oempreendimento, delinear uma estratégia empresarial, de forma que pudesseser gerenciada produtiva, comercial e financeiramente. Não era atividadefácil para um time que fabricava aviões mas, como nós mesmosreconhecíamos, com uma experiência industrial visivelmente insuficiente.
A partir daí entrou em cena, e com bastante influência, o Consultor Jurídicodo CTA, Francisco Pimentel, advogado experiente e criativo que muito nosajudou na preparação dos documentos fundamentais. O primeiro delesdeveria ser a lei de criação da nova Sociedade de Economia Mista.Estávamos buscando a fórmula sob a qual deveríamos trabalhar quando algoaconteceu e que serviu de injeção adicional ao nosso já intenso entusiasmo.
Duas figuras do Ministério da Aeronáutica foram incansáveis, o Brig. PauloVictor, cuja presença entusiasmada e constante em todas as fases, foifundamental para termos chegado ao final do trabalho, e o Brig. Agemar,ainda diretor geral do 218
Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento. Ambos, dedicados todo otempo, amenizavam as dificuldades que nós, do escalão inferior,encontrávamos para ter acesso às pessoas que podiam resolver os intrincadoscaminhos da burocracia governamental. Afinal, como um Major poderiatratar desses assuntos?
Finalmente, no começo de agosto de 1969, tivemos uma reunião com oMinistro Delfim Netto, da Fazenda, quando chegamos ao acordo fundamentalpara a capitalização da EMBRAER. Sim, pela primeira vez surgiu o nome daEmpresa Brasileira de Aeronáutica, utilizando-se as primeiras letras de cadapalavra da denominação completa. Esse nome foi sugerido por AntonioGarcia da Silveira, vice-diretor do IPD que, sempre contaminado peloentusiasmo do programa, participava ativamente preparando todos osdocumentos necessários a serem encaminhados aos escalões superiores. Era o
real escriba do grupo, produzindo quase tudo que iria para o papel.
Foto 32 Brigadeiro Agemar da Rocha Sanctos e Luiz Rodovil Rossi,presidente da VASP.
219
O Ministro Delfim acabou por concordar e aprovar um esquema, bastantecomum na época, que permitiria auxiliar a capitalização da empresa,utilizando a sistemática de um incentivo fiscal atrelado ao imposto sobre arenda. Consistia em autorizar às empresas do país a deduzirem em cadaexercício fiscal 1% do seu imposto de renda se, no período, aplicassem igualquantia na formação do capital da EMBRAER, comprando suas ações. Nofuturo, ficou provado que o incentivo produziu dois resultados favoráveis.Um relativo à própria capitalização e outro ligado à publicidade, fazendo comque o novo empreendimento adquirisse com rapidez uma grande notoriedadejunto ao público nacional. Enfim nossa empresa surgiria como uma realsociedade de economia mista, contando com capitais da União Federal e coma participação privada, através do sistema dos incentivos fiscais.
Enquanto as providências oficiais seguiam o seu curso, a equipe em São Josédos Campos trabalhava duramente para completar o segundo protótipo. Foinessa época que, convidados pelas autoridades de Mato Grosso do Sul,voamos para Campo Grande para uma apresentação do BANDEIRANTE. OBrig. Paulo Victor, incansável como sempre, foi conosco.
Lá chegando encontramos uma apreciável multidão ansiosa para ver o novoavião projetado e fabricado no Brasil. O entusiasmo era geral e todos pedirampara que exibíssemos a máquina em voo. Nessa viagem eu era o piloto e oCapitão Adalto Ferreira da Silva era meu companheiro de tripulação.Atendendo aos pedidos o Brig. Paulo Victor pediu-nos para fazer um voocurto e decolamos fazendo algumas passagens baixas próximas aosassistentes.
Viemos para o pouso e, surpresa, quando tocamos o solo constatamos, comenorme frustração, que tínhamos simplesmente nos esquecido de baixar otrem de pouso. O nosso avião tocou o solo e arrastou-se sem rodas. Eu nãoacreditava no que estava acontecendo. Com todos os alarmes que instalamos
a probabilidade de isso acontecer era remota. No entanto, a realidadesuperava a vontade e ali estava, o nosso querido protótipo, quebrado emCampo Grande, estatelado na pista. Era uma derrota, confesso, para a qualnão estávamos preparados.
Desci e encostei-me na asa em contato com o solo, machucado eu próprio, erecriminando-me pelo que tinha feito. Não sabia o que tinha nos levado aesquecer de baixar o trem de pouso, providência que para pilotos com a nossaexperiência já era praticamente automática. Mas o fato estava lá.
O Brig. Paulo Victor e os outros chegaram correndo e ficaram sem respostaquando lhes disse:
“Foi um esquecimento! Ambos não sabíamos que estávamos sem o trem depouso estendido”.
220
E acrescentei:
“Infelizmente Deus limitou a inteligência e não a burrice!”
Quase não podia enxergar. Meus olhos eram somente lágrimas.
As comunicações no Brasil eram precárias e dificilmente faríamos chegar àmá notícia a São José dos Campos usando o telefone. Decidimos tentar orádio do próprio BANDEIRANTE que conseguiu estabelecer o contato. Faleicom o Eng.
Ozílio, que reagiu com extrema frieza e com enorme espírito prático. Disse-nos que mandaria socorro, usando os motores e equipamentos do segundoprotótipo em construção, imediatamente para Campo Grande e sugeriu:“Vamos transformar este evento numa oportunidade. Vamos trabalharduramente para permitir que BANDEIRANTE volte voando para São Josédos Campos, dentro do mais curto período”.
Muito mais animados por termos encontrado aquela reação realmenteconstrutiva, empenhamos esforços para remover o avião acidentado da pista e
o levamos para um hangar onde começamos a desmontagem da hélice e domotor danificados. Os danos praticamente reduziram-se a isso. É claro quehavia algumas deformações na superfície inferior das naceles dos motores,mas nada grave que não pudesse ser corrigido com os recursos da Base Aéreade Campo Grande.
Na noite do mesmo dia chegou de São José dos Campos o C-47 do CTA,com todo o material e com a equipe de mecânicos que necessitávamos. Otrabalho começou de imediato, com previsão de término no dia seguinte, sepossível.
Passamos toda a noite e a manhã de 22 de agosto de 1969 preparando eensaiando o 2130 que chegou à condição de voo logo após o almoço.
Os jornais noticiaram o problema que enfrentamos em Campo Grande eOzílio preparou a imprensa para nos receber no Aeroporto de Congonhas emSão Paulo, onde chegamos quase às 17 horas. Havia muita gente em torno doavião, examinando-o. Mesmo pilotos e mecânicos profissionais confessaram-se surpresos de ver um avião que, dois dias antes, tinha pousado sem trem depouso e surpreendentemente estava ali agora e, incrível, voando. Ozílio tinharazão, foi possível transformar uma desdita numa oportunidade.
Vencida essa etapa, logo em seguida e em grande medida já esquecidos danossa burrice – pousando com o trem de pouso recolhido –, voamos para SãoJosé dos Campos e, quando chegamos, sobrevoando a pista, vi, comfrustração, que não havia ninguém esperando. Era uma tarde de sexta-feira e,pensei, é lógico que tenham ido embora. Entendi mas, confesso, não deixeide ficar um pouco frustrado.
Pousamos e taxiamos para o X-10. Quando os motores foram cortados,subitamente as portas do hangar se abriram e uma banda com um grandegrupo de 221
funcionários, gente do ITA e do próprio CTA saíram alegremente ao som damúsica marcial, portando uma enorme faixa: “Foi criada a EMBRAER!”.Todos estavam presentes: o Brig. Paulo Victor, o diretor do IPD, Cel.Fernando Martins Costa e até o Reitor do ITA. Sentia que nosso esforçoestava sendo crescentemente reconhecido.
Referiam-se ao Decreto-lei Nr. 770, que tinha sido assinado pelo PresidenteCosta e Silva, determinando a criação da nova empresa, que teria comoresponsabilidade implantar a linha de produção das aeronaves queprojetamos. Foi uma festa. O incidente de Campo Grande, esquecido, passoua fazer parte do nosso folclore, e eu entrei no grupo dos pilotos que já tinhampousado sem o trem de pouso.
No dia seguinte fui ao Brig. Paulo Victor para propor-lhe fazermos uma visitaao terreno, no setor sul do aeródromo, do CTA e verificarmos se alipoderíamos construir a EMBRAER. Prontamente o Brigadeiro chamou oEng. Rosendo Mourão, chefe do Setor de Construção Civil do CTA, e juntosfomos ao local onde tinha sido construída a pequena estação-rádio decontrole do tráfego aéreo. Caminhamos pela área e pareceu-nos viável. Era
plana e tudo indicava ser suficientemente grande. Tínhamos de olhar asplantas.
Foto 33 O instante, em 19 de agosto de 1969, em que Ozires tomaconhecimento de que a Embraer fora criada por lei do governo federal.
222
Mourão dedicou-se ao assunto e, em poucos dias, trouxe-nos um estudo delocalização contemplando 700 mil metros quadrados que, de um lado, eraparalelo à pista de pousos e decolagens e, de outro, ladeava uma pequenaestrada que era, na realidade, a estrada velha que dava acesso à cidade deParaibuna. Rapidamente o Brigadeiro Paulo Victor bateu o martelo e chamouPimentel, agora encarregado de todos os aspectos jurídicos relacionados ànova empresa, pedindo para preparar a documentação para a transferência dapropriedade.
No CTA o trabalho continuava, e o segundo protótipo do BANDEIRANTE, oFAB
2131, entrava na sua fase final de montagem. Estávamos imaginando etrabalhando para que voasse durante a Semana da Asa de outubro de 1969.
Montamos uma cerimônia para 22 de outubro, repetindo o que já tínhamosfeito com o 2130, isto é, fazendo um voo não-oficial antes da cerimônia. Istoaconteceu em 19 de outubro e eu fui o piloto, tendo o Michel comoengenheiro de ensaios.
Tudo correu bem e ficamos prontos para novamente ter as autoridades emSão José dos Campos para assistir a mais uma etapa do programa defabricação de aviões no Brasil.
No dia marcado, o céu estava azul e, no horário marcado, às 10 horas,acelerei os motores e o 2131 começou a correr na pista para, em poucosmetros, lançar-se ao ar arrancando aplausos dos assistentes. O MinistroMárcio de Souza e Mello, sempre entusiasmado, não se cansava de apoiar-nos e pronunciar palavras de estímulo para que tivéssemos êxito naquelaaventura sofisticada em que tínhamos nos metido. Era um passo a mais, e
importante.
Naquele momento, Pimentel aconselhou-nos a pensar em elaborar osEstatutos Sociais da EMBRAER que, segundo ele, teriam de ser aprovadospelo Presidente da República e fazer parte da Assembléia Geral dosAcionistas que, em sessão pública, faria a constituição da empresa, já queestávamos falando de uma Sociedade por Ações. Na realidade esta seria umatarefa dele, pois nossos conhecimentos, sobre a tramitação jurídica de tudo oque se relacionasse com a empresa, eram praticamente nulos. Tínhamosmuito que aprender.
Auxílio adicional veio do Dr. Aloysio Pontes, advogado lotado no Ministériodo Planejamento, então situado no Rio de Janeiro. Ele sempre tranquilo deu-nos a orientação de que necessitávamos e sempre sorria, comcondescendência, quando via aquela turma de entusiastas, mas de ignorantesno que se referia à legislação geral e empresarial. A tramitação burocráticados estatutos não foi fácil, mas, num dado momento, o Ministro HélioBeltrão, do Planejamento, decidiu pedir demissão do Governo e resolveu queos estatutos da nova EMBRAER seriam o último documento que ele levariapara ser aprovado pelo Presidente da República.
Voltando às realidades do quotidiano, tínhamos nossa atenção ligada aoesquema financeiro de apoio à empresa que deveria ser criada. Embora a leide 223
criação da empresa previsse que fosse beneficiária dos incentivos fiscais,instituídos junto ao imposto sobre a renda, sabíamos que esses recursosdependeriam de forte esquema de captação junto às empresas e da finalizaçãodos demonstrativos financeiros ao cabo de cada exercício fiscal. O esquemados incentivos obtidos como decorrência o pagamento do imposto sobre arenda era uma opção que concorria com outros incentivos concedidos peloGoverno Federal para outros segmentos da economia, como a pesca, oturismo, o desenvolvimento do Nordeste e do Norte do país, etc.
As únicas alternativas plausíveis, naquele momento, para fazer o dinheiroinicial que asseguraria a operação da EMBRAER, nos seus primeiros anos,seria um forte aporte de capital pela União Federal (nada provável) ou então apossibilidade de o Ministério da Aeronáutica comprar, para a Força Aérea,
uma apreciável quantidade de Bandeirantes. Ambas proposições não eramfáceis, mas havia aspectos positivos do nosso lado, sobre os quais poderíamostrabalhar.
Os serviços de ligação e de transporte de pessoal da FAB passavam porperíodo crítico, já que era disponível para este tipo de operação apenas umafrota de aviões variados e adaptados, que sucederam a desativação dos aviõesBEECHCRAFT, de fabricação norte-americana, designados AT-7. Naquelestempos, a FAB detinha o monopólio militar de utilizar aviões militares e,portanto, em grande medida o transporte de pessoal do Exército e daMarianha, obrigatoriamente dependia da Força Aérea. A interrupção daoperação dos BEECH’s causou um grande impacto nas três Forças Armadas,embora todos concordassem que se tratavam de aparelhos, que eram muitovelhos, bastante usados e remanescentes ainda da Segunda Guerra Mundial.A ocorrência de mais de uma sequência de acidentes, que lhes valeu aalcunha, pouco honrosa, de “Mata Sete”, justificava a decisão.
Mas não dava solução ao problema. Desse modo não somente nós, mastambém a oficialidade da FAB, sentíamos que haviam necessidades a serempreenchidas e que somente poderiam ser resolvidas com a aquisição de umnovo equipamento, quem sabe, esperávamos, os Bandeirantes.
Todavia, havia um problema. O clima para a substituição dos “Mata Sete” erarealmente de pressão e seu equacionamento exigia urgência. Do lado da FAB,tudo indicava que não somente o Ministro Marcio, como o próprio Estado-Maior, desejariam esperar o nosso avião. Quanto às outras Forças, a conversanão favorecia.
Na reunião com os Ministros em junho de 1969, ficou concordado que,dentro do programa da indústria aeronáutica, deveríamos agregar aosBandeirantes aviões de treinamento a jato para a FAB. Esses aparelhosdeveriam ser necessariamente produzidos no Brasil, sob licença de algumaempresa estrangeira. Nossa equipe ainda era “verde” para criar um novoavião a jato do tipo que a FAB julgava 224
necessário e precisávamos aprender mais sobre linhas de produção seriada.Ainda, sentíamos que seria impossível convencer a FAB que esperasse unscinco anos, tempo mínimo julgado necessário para conceber, projetar,
desenvolver, aprovar e lançar a fabricação. Mesmo iniciando-se a produçãonum determinado ano, a Força Aérea, para contar com cerca de uma centenade unidades nos seus esquadrões, deveria esperar aproximadamente três anos,considerando-se uma cadência anual típica da ordem de 40 aviões por ano.
Por essa razão a FAB e indiretamente a própria EMBRAER, estavam fazendocontatos e examinando propostas das empresas que tinham se interessadopelo programa do treinador militar, as quais eram: a AEROSPATIALE, como seu FOUGA MAGISTER, a SAAB sueca, com o seu SAAB 105, e aBRITISH AEROSPACE, com o seu BAC 167 STRIKEMASTER.
Começamos a disseminar a ideia para que o Ministério da Aeronáuticaaceitasse, dentre suas alternativas no plano de reequipamento da Força, aaquisição de 100
Bandeirantes, além das quantidades dos jatos de treinamento que já seencontravam em análise no Estado-Maior. Em relação aos jatos, as propostasdas empresas estrangeiras tinham sido quase todas analisadas quando oMinistro Márcio marcou prazo para a apresentação dos resultados. Ele ficousurpreso ao tomar conhecimento de que não tínhamos todos os dados daAERONAUTICA MACCHI, da Itália, que propunha o seu AERMACCHIMB-326G e insistiu que voltássemos para São José dos Campos, incluindoentre as alternativas a proposta da empresa italiana.
Muito a contragosto enfrentamos novas noites em claro para atender ao curtoprazo objetivado pelo Ministro. Respirando fundo manipulamos toda umamontanha de papel para colocar os dados no formato necessário que nospermitisse uma comparação entre os aviões, envolvendo aspectos técnicos,operacionais, manutenção, etc. À medida que o trabalho prosseguiacomeçamos a sentir que a proposta dos italianos, inicialmente malvista, eramuito boa numa série de aspectos, em particular no campo de assistênciatécnica que, para nós, era vital.
Num processo natural e progressivo de aceitação de ideias começamos a ver aMACCHI de outro ângulo. Era uma empresa relativamente pequena, situadaao norte de Milão, na cidade de Varese. Quem sabe ela poderia tornar-se umaparceira interessante, como alternativa aos gigantes que estávamosconsiderando!
Começamos a formular hipóteses para conquistar um diálogo mais facilitadodo que aquele que teríamos com uma AEROSPATIALE ou uma BRITISHAEROSPACE, esta última em acelerado processo de modificações internasprovocadas pelo Governo Britânico.
225
Chegando o dia da apresentação dos resultados fomos a Brasília, lideradospelo Brigadeiro Agemar, acompanhado pelo nosso verdadeiro anjo-da-guarda, Paulo Victor. A reunião foi na própria sala do Ministro Márcio, quenão parecia muito paciente para ouvir longas explicações técnicas. Num dadomomento perguntou:
“Bem, afinal, o que vocês pensam sobre as alternativas?”
“Ministro, o senhor sabe o que quer dizer ‘velívolo’?”, respondi.
Surpreendido, o Ministro voltou:
“Não sei! Mas o que isto tem a ver com a discussão?”
“É que ‘velívolo’ em italiano quer dizer ‘avião’! Estamos convencidos de quevamos ter de usar esta palavra muitas vezes, porque a proposta daAERONAUTICA MACCHI é seguramente a melhor”. retruquei.
Foi assim que conseguimos encaminhar para os estudos finais no Estado-Maior a proposta de uma das maiores compras de avião que o Ministério daAeronáutica jamais fez, incluindo, é claro, a venda dos 100 Bandeirantes quetínhamos imaginado como pontapé inicial para o lançamento do programaindustrial da EMBRAER.
Em 1913 nascia, na cidade de Varese, ao norte de Milão, Itália, aAERONAUTICA MACCHI, o que a transforma numa das mais velhasempresas de produção aeronáutica da Europa. Naquela época o grandemotivador foi o Ministério da Defesa Italiano que, engajado na campanha deocupação da Líbia, precisava de aviões. Assim a MACCHI candidatou-separa produzir, na Itália e sob licença, o avião francês NIEUPORT.Paralelamente à construção de 56 unidades do aparelho licenciado, a
empresa, ainda em 1913, conseguiu lançar o seu primeiro avião de concepçãoprópria, um monoplano de asa alta que recebeu o nome de PARASOL.
A empresa manteve-se ativa durante toda a Primeira Grande Guerra (1914-18), fabricando aviões militares e, ao final da conflagração, contava comquase 3 mil empregados. Mantendo suas linhas em produção a MACCHIconseguiu, em 1933, ganhar o Troféu Schneider, batendo o recorde mundialde velocidade para hidroaviões, conseguindo atingir com o seu MC-72 aexpressiva marca dos 664
km/h, agregando posteriormente outros prêmios consagradores de suacapacidade técnica.
Embora nos anos de 1930 tivesse havido algum esforço para a produçãocomercial, a vocação da empresa sempre se firmou na aviação militar,consagrando na “Família dos Caças 200”, cujos aviões participaramintensamente na Segunda Guerra Mundial (1939-45). Após o conflito,forçada pelas Cláusulas do Acordo de Versalhes, a MACCHI fez algumastentativas no campo comercial e, somente após os anos 50, pôde retornar parasua vocação militar, quando lançou a bem-sucedida 226
linha dos MB 326 (a letra “M” caracteriza MACCHI e a “B” refere-se aogenial e competente projetista-chefe do avião, Ermanno Bazzocchi).
Esse avião teve grande sucesso na Itália e no exterior, servindo de base para aproposta que a MACCHI fez ao Ministério da Aeronáutica do Brasil, no finalde 1969, interceptando o trabalho de seleção que estávamos fazendo, dentrodos planos de assegurar o ponto de partida para o trabalho da produçãoindustrial da EMBRAER.
Enquanto isso ocorria na área técnica, nossa equipe continuava trabalhandono aperfeiçoamento do BANDEIRANTE, com o objetivo de transformá-loem produto industrial, uma vez que a nova empresa a ser constituída estariafundamentalmente encarregada de fabricá-lo em série. O final do ano de 1969
estava próximo e, naquela sexta-feira, 19 de dezembro, não esperávamos quegrandes coisas ainda pudessem acontecer. As ruas das cidades estavamenfeitadas para o Natal e o espírito das festas do fim-do-ano começavam
dominar as cabeças.
Sentíamos, mesmo no nosso hangar, onde a pequena linha de produção játrabalhava no terceiro protótipo do BANDEIRANTE, que o ritmo de trabalhonão tinha o mesmo frenesi que nos empolgava quase todo o tempo. Todosestavam preparando-se para o período de descanso do final do ano. Não sepodia reclamar.
Muito tinha acontecido e tudo indicava que aquilo que esperávamos há tantosanos, a constituição de uma nova fábrica, iria acontecer. Em breve teríamosuma nova empresa fabricando o BANDEIRANTE.
Nas nossas conversas, e muitos estudos que se fazia, sempre olhávamos parafrente e imaginávamos como poderia ser uma linha de produção com asnossas máquinas alinhadas e esperando o momento de mais e mais aviõessaírem dos hangares para o voo.
Foi quando o Brig. Paulo Victor chamou-me na Direção Geral do CTA edisse-nos que o Ministro Márcio tinha decidido convocar a Assembleia Geralde Constituição da EMBRAER para o próximo 29 de dezembro, isto é, dezdias depois. Surpreso, não perguntei se haveria tempo. Honestamente nãotinha a menor ideia de que “bicho era aquele”, convocar uma Assembleia deAcionistas de uma Sociedade Anônima.
Pimentel assegurava que era um passo necessário para a criação daEMBRAER.
Voltei correndo ao Departamento de Aeronaves (PAR) e contei aos outros. Aprimeira providência foi chamar o Pimentel, nosso advogado do CTA. Apósas perguntas costumeiras para entender o que seria e, melhor, como seria a talassembleia, pusemos o problema em suas mãos.
Imediatamente ele iniciou o crivo das perguntas. Quem seria o Presidente? Eos Diretores? Qual seria o capital social a ser subscrito? Meu Deus, nãosabíamos de nada. Aliás, na aventura que foi começar a fabricar nossosaviões, vivíamos mais na dúvida do que na certeza. Saí correndo para obterrespostas.
227
Na segunda feira, 22 de dezembro, voei para Brasília e, na busca dasinformações necessárias, consegui a decisão no Ministério da Fazenda que ocapital inicial seria totalmente subscrito pela União Federal e o número era daordem de CR$ 5 milhões (cerca de US$ 1,1 milhão). Regressando para oMinistério da Aeronáutica, subi para o 8º andar. Deparei com o MinistroMárcio na porta de seu gabinete. Ele, sem nenhuma palavra do meu lado,disse:
“Ozires! Você será o Presidente da EMBRAER. Escolha todos os demaisdirigentes”.
Busquei retrucar e fui interrompido:
“Ouça, menino! Você tem me dado um enorme trabalho. Não me dê maisum.
Assunto decidido e... vá embora!”
Ainda tentei dizer que não entendia nada de administração de uma empresa.
Pior, ainda. De uma empresa que não existia e que iria partir do nada. Inútiltentativa. O Ministro já tinha voltado para sua sala e fechado à porta.
Mal acreditando no que estava acontecendo, naquele momento tive a realsensação de que tinha ido longe demais. Era oficial aviador de carreira naFAB, apenas no posto de tenente-coronel e, de repente, era transformado emdirigente empresarial. Como ficaria minha posição na FAB? Seria precisolicenciar-me ou sair? Com a cabeça voando a velocidades supersônicas,voltei a São Paulo no meu já conhecido voo da VASP das 18 horas – o aviãoera um Boeing 737 e, subsônico, deu-me 1h30min para pensar.
No dia seguinte cedo chamei todo o pessoal envolvido e começamos adiscutir o que fazer. O Brig. Paulo Victor chegou e entrou no jogo dasdiscussões. Nossas ideias sobre o assunto começaram a ficar mais claras. Euinsisti que, como Tenente-Coronel, não tinha na Força Aérea um posto nonível necessário para presidir a empresa e prestígio para abrir portas. Embora
conhecesse bem os processos decisórios dentro do Ministério da Aeronáutica,a EMBRAER, como empresa, teria horizontes mais amplos e dependeria nãosomente de outras áreas do Governo Federal (Ministérios da Fazenda,Planejamento e outros), como também de contatos em alto nível com o setorprivado nacional.
O caminho que deveríamos seguir era tentar selecionar uma pessoa para ocargo de Presidente que transmitisse seriedade e porte ao empreendimento.Afinal, aquela “aventura” de fabricar aviões ainda não estava bem absorvida,nem mesmo pela FAB. Para acomodar a indicação do Ministro Márcio paraque eu fosse o Presidente da Empresa pensamos em criar o cargo de DiretorSuperintendente, que eu o preencheria, ficando como executivo principal daempresa. O cargo de Presidente seria reservado para liderar o ConselhoDiretor (este nome de Conselho Diretor correspondia, na Lei das SociedadesAnônimas, ao Conselho de Administração).
228
Ozílio, lembrando-se do meu relacionamento anterior, sugeriu o nome do Dr.
Aldo B. Franco para Presidente do Conselho de Administração. Dr. Aldovinha de uma carreira muito bem-sucedida no serviço público, muitoconhecido em Brasília pelo trabalho valioso que tinha feito no Ministério daFazenda e no Banco Central, do qual tinha sido Diretor. Por outro lado tinha-se ligado à METAL LEVE, prestigiada companhia produtora de pistões paramotores de veículos, que inspirava respeito pelo seu pioneirismo e pela suacapacidade inovativa. Enfim, muito boa lembrança, concordamos todos. Eraum nome respeitado e de peso, e era o adequado, pensávamos, para darcrédito à pioneira iniciativa da EMBRAER.
No meu tempo de Escola de Aeronáutica do Campo dos Afonsos, no Rio deJaneiro, costumava ir muito à casa do Dr. Aldo, vizinho de AlbertoMarcondes (falarei dele em seguida), um velho amigo de Bauru. Alberto erabastante ligado ao Luiz Antonio, filho do Dr. Aldo, e nós três, na faixa dos 18anos, fazíamos nossos sábados e domingos juntos na Avenida Maracanã, nobairro da Tijuca, no Rio.
Brigadeiro Paulo Victor aprovou a ideia e imediatamente telefonei ao Dr.
Aldo, pedindo para vê-lo no dia seguinte. A chamada telefônica imediata eraapenas uma força de expressão, pois o nosso serviço telefônico isolava-nosdo mundo. As chamadas implicavam sempre em horas de espera. No períododa tarde finalmente consegui o contato com o Dr. Aldo e, já no dia 23, oprazo estava-se escoando, fui ao Rio.
Quando cheguei à velha e tranquila casa da Avenida Maracanã, o Dr. Aldoesperava-me na porta com um ar afável que aprendi a admirar e respeitar.Estava com a esposa, D. Lourdes, a qual jamais poderia esquecer. Quandomencionei o convite ele me fitou, com ar sério, mas com alguma mofa – elesabia fazer isso como ninguém – e me disse:
“Isto deve ser uma homenagem às minhas milhares de horas de voo comopassageiro de avião. Aceito!”, disse.
“Afinal, depois de tantos anos, é gostoso ver um jovem como você tentandoempreender. Se você está envolvido eu vou junto, embora de avião eusomente tenha conseguido entender – e mal – de poltronas. Negóciofechado!”
Na mesma reunião saíram os nomes dos Diretores da nova empresa. Ozílioseria o Diretor de Produção, Guido seria Diretor Técnico, Garcia, Diretor deRelações Industriais. Nas Relações Industriais incluímos toda a administraçãoda nova companhia e os encargos de engenharia para a construção da fábrica.
Havia dois cargos adicionais, previstos nos Estatutos. Para Diretor Comercialescolhemos o Coronel Renato José da Silva, que vinha dos quadros do CTA eindicado pelo Brig. Paulo Victor. Renato tinha sido um companheiro vitalpara as verdadeiras ginásticas financeiras que tivemos de executar, durantetodo o período destinado à construção dos protótipos do BANDEIRANTE.Ele era o Chefe do 229
Serviço Financeiro do CTA, ao qual o PAR era subordinado. Portanto,pertencia ao time e, de certo modo, estava até cansado de nós, pois tudo quelhe pedíamos era para “ontem”. Sentíamos o Renato sempre atrapalhado parapagar nossas contas, e depois legalizar a papelada que, no Brasil, éamplamente criativa, muito volumosa e apenas os iniciados chegam um dia aentender. Desse modo, Renato, aceitando, observou que era o momento demudar de ares. Ele, que estava do
“lado de lá”, passava agora para o “lado de cá”.
Faltava ainda o Diretor Financeiro.
Foto 34 Brigadeiro Paulo Victor e dr. Aldo B. Franco, primeiro presidente doConselho de Administração da nova Embraer.
Lembrei-me de Aberto Marcondes, amigo de Bauru e da Avenida Maracanãe, como eu, visitante assíduo na nossa juventude da casa do Dr. Aldo Franco,sendo agora transformado em nosso Presidente. Alberto era funcionário doBanco do Brasil e naquele momento estava na agência do Banco em Curitiba;
tinha galgado postos importantes e acumulado muita experiência, mostrandoportanto a 230
competência de que necessitávamos. Ao lado disso, e muito importante, tinhaa nossa confiança de um companheiro muito querido da infância, selada poranos de convivência. Assim completou-se o quadro, com o Alberto indicadopara tratar do nosso dinheiro. Precisava falar com ele.
Liguei para Curitiba e, após a espera de rotina – sempre longa –a ligação foicompletada e Alberto mostrou-se ao telefone tão espantado como o Dr. Aldo.Ele teria perguntado:
“EMBRAER?!?! Isto se come?”.
Foto 35 Primeira diretoria da Embraer, eleita na Assembleia Geral deConstituição da empresa, em 29 de dezembro de 1969.
Após uns poucos argumentos, a reação foi de entusiasmo e de alegria porpodermos, após tantos anos, trabalharmos juntos. Fechados os nomes, eles
foram passados para o Pimentel que, com a nossa secretária Maria AparecidaAlvarenga –
exímia datilógrafa, tão elétrica quanto sua própria máquina de escrever, oscolocou na minuta da Ata da Assembleia Geral da Constituição daEMBRAER, a ser aprovada na reunião – então já marcada para ser realizadaàs 14 horas do dia seguinte, no Gabinete do Ministro da Aeronáutica, no Riode Janeiro.
231
Eram 9 horas da manhã da segunda-feira, 29 de dezembro de 1969.Decolamos com o protótipo do BANDEIRANTE, o nosso já conhecido FAB2130, para o Aeroporto Santos Dumont. Queríamos chegar mais cedo, a fimde nos prepararmos para as mudanças de última hora. Afinal, Ministros iriamassinar o documento e os assessores estavam a postos para ler o que os chefesfirmariam.
Estavam a bordo todos os novos Diretores, Ozílio, Garcia, Renato, Guido,além do Brig. Paulo Victor e eu. Estava conosco também uma pessoa muitoimportante, claro! A Dona Alvarenga que, com sua máquina de escrever –também embarcada
–, levava tudo o que seria necessário para produzir, com sua espantosahabilidade, todos os papéis que cobrissem qualquer modificação de últimahora. Não desejávamos perder a oportunidade de ter pessoas tão importantespresentes e falhar para colher suas assinaturas.
Assim combinamos que, tudo que acontecesse na Assembleia, seria anotadopelo Pimentel que, produzindo uma redação definitiva, a passaria à D.Alvarenga. O
nosso propósito era ter o papel pronto ao término do ritual legal daAssembleia de Constituição e, assim, ter todas as assinaturas. Pimentel tinhanos dado aulas sobre o assunto e disse:
“Vamos fazer tudo lá e na hora! O documento será um ponto de partida etudo o que desejarmos fazer no futuro deverá estar previsto e escrito. Se
falharmos nisso vamos ter um bocado de problemas”.
Às 14 horas todos a postos no Gabinete do Ministro. Estavam presentes oBrig.
Márcio de Souza e Mello, nosso incansável Ministro da Aeronáutica, Dr.Fábio Riodi Yassuda, então Ministro da Indústria e Comércio, pessoaagradável que, há pouco tempo, tinha substituído o nosso amigo MinistroMacedo Soares, entusiasta de nossa ideia de fabricar aviões no Brasil. Aliestavam conosco grandes colaboradores para que a EMBRAER se tornasseuma realidade: José Flávio Pécora, representando o Ministro Antonio DelfimNetto, da Fazenda, Antonio Augusto dos Reis Velloso, representando a UniãoFederal e o Ministério do Planejamento. O Hélio Beltrão já tinha deixado oMinistério, logo após nos dar de presente, como ele próprio nos disse, aaprovação pelo Presidente da República dos primeiros Estatutos Sociais daEMBRAER.
A pequena sala estava cheia de amigos e de oficiais generais da FAB. O Dr.Aldo Franco, que assumiria a Presidência do Conselho Diretor, conversavacom todos, e Alberto Marcondes, recém-chegado de Curitiba, ali estava,completando o time que iria dirigir os primeiros passos da EMBRAER.
O primeiro Conselho Diretor contou, além do Dr. Aldo – seu Presidente, comJosé Flávio Pécora (suplente: José Dion de Mello Telles) – representando oMinistério da Fazenda, Antonio de Deus Vieira Neto (suplente: AlbertoCardoso) –
representando o Ministério da Indústria e do Comércio e Antonio Augustodos Reis 232
Velloso (suplente: José Luiz de Almeida Bello) – representando o Ministériodo Planejamento e Coordenação Geral. Do lado privado tivemos VictórioWalter dos Reis Ferraz, Luiz Cássio dos Santos Werneck, Mário Amato eAndré Francisco de Andrade Arantes, todos indicados pelo Brigadeiro PauloVictor.
Do lado da Diretoria Executiva foram eleitos, na Assembleia Geral, eupróprio como Diretor Superintendente, Antonio Garcia da Silveira como
Diretor de Rela-
ções Industriais, Ozílio Carlos da Silva como Diretor de Produção, GuidoPessotti para Diretor Técnico, Alberto Franco Faria Marcondes para DiretorFinanceiro e Renato José da Silva para Diretor Comercial.
Assinado tudo, os discursos de praxe e a sala esvaziou-se. Ficamos nós, um aolhar para o outro. E agora, perguntávamo-nos? A sensação era estranha.
Montamos uma batalha e tínhamos vencido. De um momento para outroéramos transformados em empresários, sem a menor experiência. Vontadenão faltava, mas vontade e disposição para trabalhar seriam suficientes? Apartir daquele momento a EMBRAER ganhara vida e nós estávamos com aresponsabilidade de transformá-la em algo que materializasse os sonhos determos aviões fabricados no Brasil, voando no país e, quem sabe, no exterior.
Voltamos ao Aeroporto Santos Dumont e lá, quando chegamos, vi o nossoBANDEIRANTE, com as cores da FAB, ostentando a matrícula FAB nº2130. Estava estacionado no pátio próximo à Torre de Controle e parecia quenos esperava sob o tórrido sol da tarde do exagerado verão do Rio de Janeiro.O Brigadeiro Paulo Victor tinha decidido ficar na cidade, onde passaria asfestas de fim de ano, mas nos acompanhou ao Aeroporto tão ou mais excitadodo que nós próprios.
Ele era uma figura extraordinária de brasileiro, de homem público e demilitar.
Acreditava no Brasil como poucos e tinha uma característica que o distinguiade todos. Sua modéstia e sua forma simples de expor seus auxiliares a novasexperiências. Naqueles momentos, ao seu lado, sentia-me forte e confiante.
Irradiávamos energia e sentia que essa energia seria necessária para empurrarpara frente o empreendimento que acabávamos de criar.
Em poucos momentos os motores do FAB 2130 estavam girando.Autorizados pela Torre de Controle de Tráfego Aéreo iniciamos odeslocamento para a cabeceira da pista 20, na direção do Pão de Açúcar.Sentado no posto de pilotagem podia ver a paisagem do bonito dia através do
amplo para-brisas empinado do BANDEIRANTE. Acostumado com o ruídodos motores, todavia, tudo parecia em silêncio. Alinhado com a pista,apliquei potência e o avião começou a sua corrida no solo. Em poucossegundos estávamos no ar e subindo. A cada metro de altitude que subíamosganhávamos mais horizonte. Pensei comigo: “Os problemas que temos sãosemelhantes a este horizonte imenso. Para resolvê-los podemos 233
caminhar em qualquer direção. A pergunta era: quais são as corretas? Agoranão sei”, pensei, “mas amanhã terei de saber”.
Sonhos à parte, a realidade impunha-nos responsabilidades que nos seriamcobradas logo a partir do próximo dia de trabalho, que seria 2 de janeiro de1970, uma sexta-feira, depois das festas do final de 1969. Vivíamos um realponto de inflexão que nos obrigava a novas concepções e direções.Comemoramos o Ano Novo com a cabeça cheia – e também com o tempoocupado por reuniões para determinar o que faríamos. Realmente o MinistroMárcio tinha nos atropelado ao marcar a Assembleia de Constituição, dando-nos muito pouco tempo para pensar e planejar os próximos passos. Mas,admitimos, ele tinha razão. Não se poderia, nem se deveria ficar parados (eesperando o quê?). O caminhar em frente dependia daquele pontapé inicial.Enfim, fora dado. Agora era hora de avançar.
7. O Início de uma Empresa
As Primeiras Ideias
Dois de janeiro de 1970, sexta-feira. O dia amanheceu numa novaconfiguração para o Departamento de Aeronaves – PAR, do CTA. Embora ostrabalhos de projeto e de fabricação do terceiro protótipo doBANDEIRANTE prosseguissem normalmente e, do mesmo modo, osprogramas de ensaios e de aprovação do modelo estivessem dentro doscronogramas, a atmosfera a partir daquele momento seria diferente.
Quase no último dia de 1969 a EMBRAER tinha sido constituída. Agora,além das tarefas básicas do Departamento, um novo problema estavaagregado ao programa de trabalho – um bom problema, pelo qual toda aequipe ansiava há tanto tempo.
Nesse momento a desafiante tarefa era colocar em pé a nova empresa. Com agrande cooperação – mais do que isso, com o contagiante entusiasmo – doBrig.
Paulo Victor, já estava pronta a seleção e o delineamento da área, na parte suldo Centro Técnico, destacado do terreno onde se situava o Centro.Imaginávamos que, com os 700 mil m2, sugeridos pelo Eng. Mourão,teríamos terreno suficiente para as diversas construções civis necessárias.Vencidas as formalidades legais – e seriam muitas –, a EMBRAER passaria aexistir e começaria a crescer, a partir do seu berço inicial – o Centro TécnicoAeroespacial de São José dos Campos.
O projeto das construções, sobre o qual já tínhamos discutido e que foi feitopelo próprio Mourão, era amplo e arrojado, embora simples e semcomplicações.
Como funcionário do CTA e, formado como arquiteto, Mourão estavaengajado, desde há longo tempo, em todas as obras do Centro Técnico. Suaajuda à nova empresa parecia a todos uma decorrência direta, graças àconfiança que todos nós tínhamos em seu trabalho. Ele via as coisas a seupróprio modo, mas, sem dúvida, o 234
fato era que se moldava com facilidade aos requisitos dos donos da obra efazia o seu trabalho. Gostava muito dele, não somente por sua competênciano seu trabalho, mas, sobretudo, pela sua permanente alegria e o modo peloqual dialogava com as pessoas. Era calmo e amigo. Realmente era fácilapreciá-lo e adaptávamo-nos bem ao jeito pelo qual fazia as coisas, emboramuitas vezes não dentro dos cronogramas.
Sobre Mourão sempre eram contadas histórias. Um dia ele dirigiu-se ao Brig.
Montenegro – então Diretor Geral do CTA – reclamando que os“americanos”
(referia-se aos professores do Massachusetts Institute of Technology dosEstados Unidos que, nos primórdios do ITA, ajudaram a organizar e colocaro Instituto em operação) estavam pedindo pela quarta vez a modificação deuma obra que ele já estaria cansado de executar. Com muita fleugma e calma,
respondeu-lhe o Brigadeiro:
“Mourão, faz pela quarta vez!”.
Creio que a afabilidade do Mourão veio das lições que recebeu deMontenegro.
De uma forma ou de outra, o CTA e a própria EMBRAER muito devem aele. Tudo o que pode ser visto hoje, a fábrica, suas instalações e seus grandeshangares, mostra com clareza seu traço e sua concepção. Mourão, narealidade, era um arquiteto, e poucos sabiam disso dando-lhe tarefas deengenheiro, que ele cumpria muito bem.
Desejávamos criar uma arquitetura tão harmoniosa e acolhedora quantopossível para a nova fábrica, prevendo-se construções, cobrindo escritórios eáreas destinadas à produção, tudo funcionalmente colocado, a fim de permitirque os engenheiros e técnicos do projeto tivessem acesso direto aos meios deprodução, assegurando uma interação permanente entre a concepção, aengenharia e a fabricação.
O avião é uma máquina complexa e cheia de sistemas. Evidentemente, comtantos componentes e equipamentos, se eles não são confiáveis, aprobabilidade de ocorrer falha torna-se alta. E, naquele nosso começo, aindanão tínhamos conseguido selecionar nossos supridores e obter deles asgarantias de funcionamento de produtos. Assim, era muito comum que umitem qualquer apresentasse uma diferença de performance, comprometendo odesempenho de um sistema. Nesses momentos a linha tênue que separaria aengenharia da produção era rompida e uma proximidade entre o projetista e ooperário, entre o projeto e a produção, era essencial. O futuro mostrou oacerto daquela concepção inicial e, muitas vezes, ficamos contentes em vivernuma empresa onde os problemas eram resolvidos em parceria por quemconcebeu um componente ou sistema e por quem os fabricava.
235
A Segurança dos Voos
Um aspecto sensível da indústria aeronáutica, que em geral é muito bem
percebido pelos observadores externos – mas não por eles bem avaliado –, éaquele da segurança do voo. Uma medida do prestígio da empresa detransporte aéreo, em relação a um tipo de aeronave, é fixada pela opiniãopública por ocasião de acidentes. Numa primeira aproximação, qualquerincidente, sobretudo aqueles que envolvem perdas de vidas humanas, afetadiretamente o transportador. No entanto, em um segundo momento,influencia enormemente o fabricante do avião que aparece, em maior oumenor escala, sempre como corresponsável aos olhos da opinião pública.
Assim, os acidentes sempre servem de medida para o prestígio de umprestador de serviços de transporte ou do produtor do avião. Curiosamenteisso não ocorre nas demais modalidades. Um passageiro de ônibus, porexemplo, jamais culpa o fabricante pelo acidente. Na aviação, os acidentes,por menores que sejam, onde quer que ocorram, são rapidamente divulgadoscruzando os canais de informação com grande velocidade. E todosconjeturam sobre as causas, aparecendo com rapidez, sobretudo na imprensaescrita, opiniões explicando por que aconteceu, algumas vezes cominterpretações apressadas que nada têm a ver com o ocorrido.
Por outro lado, embora a porcentagem de acidentes que possa estar ligada afalhas técnicas dos aparelhos seja muitíssimo pequena, a tendência humananormal é acusar o avião, poupando a operação e não considerando os fatorescomo meteorologia, infraestrutura e mesmo falhas humanas dos envolvidos.
Assim, reconhecendo a realidade e para cada ocorrência fora dos padrõesnormais de operação, os fabricantes procuram reagir rapidamente para seinteirar do que ocorreu e tomar as providências corretivas.
Esse é um aspecto muito interessante da cultura que se desenvolveu naaeronáutica moderna. Todos concordam que um acidente não apresentanenhum ponto positivo, exceto aquilo que ele possa oferecer comoaprendizado. Isto fez com que se consagrasse o conceito de que asinvestigações ordinariamente realizadas pela autoridades aeronáuticas nãotêm como objetivo a busca de culpados, e sim o aprendizado, permitindo asprovidências para que casos idênticos jamais se repitam. É muito provávelque os realmente extraordinários níveis de segurança apresentados pelosmodernos aviões tenham origem nesse simples, porém eficaz, conceito.Muitas vezes ficamos pensando quanto evitaríamos sofrimento se isso
pudesse ser estendido a outros setores de atividades e quanto conseguiríamosde progresso não somente material como no convívio civilizado entre aspessoas.
Todavia, isso parece ser apenas um sonho que, à medida que a sociedade sedesenvolve, tende a se tornar mais distante. Na atualidade, a cultura está 236
construída no sentido de que qualquer acidente detona uma corrida sôfregaem busca de um culpado e de uma explicação. Se mais tarde tudo fordesmentido, para aqueles que se agarraram ao sensacionalismo, isso não farádiferença. Mas sem dúvida sempre será penoso para as vítimas e para aquelesque, direta ou indiretamente, foram envolvidos. As manchetes e a publicidadede hoje, que para os jornalistas têm no máximo a vida de um dia, podemdeterminar traumas que jamais poderão ser esquecidos pelos atingidos.
Por outro lado, e dentro da mesma linha de ideias, a compensação dequalquer acidente passou a ser traduzida por remuneração em dinheiro, porvezes em altos valores. E esta é a razão fundamental por que ninguém maishoje parece pensar numa próxima ocorrência semelhante, no significado deum bom trabalho de investigação e seus efeitos na prevenção de futurosproblemas. Nos dias de hoje, o que conta é saber quem é o culpado para queele pague a conta – e que seja a mais alta possível.
A estrada para melhorar os padrões de segurança da operação aérea semprefoi longa, penosa e triste. Milhares de acidentes registrados, ao longo dodesenvolvimento de uma indústria capaz, tiveram seus altos preços pagos. Noentanto, hoje, se olharmos para trás, qualquer um identificará um caminhopercorrido que na atualidade trabalha para o bem-estar de milhões de pessoas,proporcionando serviços de alto padrão e diferenciadamente seguros. Emboradurante um voo qualquer quilômetros de fios, tubos e centenas decomponentes permaneçam em constante funcionamento a bordo de ummoderno avião, executando operações vitais ou monitorando as inúmerasfunções necessárias ao desempenho da máquina, os padrões de confiabilidadeconseguidos são respeitáveis, sob qualquer ângulo.
O nível de segurança conquistado no tráfego aéreo foi conseguido através demuito trabalho, dedicação, envolvendo prioritariamente a qualificação dopessoal envolvido em todos os segmentos da ampla atividade aeronáutica.
Nesse cenário é que nasceu a EMBRAER, começando seu trabalho em umpaís cuja infraestrutura produtiva era recente e não voltada para os produtosde que o avião necessita. Por consequência, a empresa, a partir dos seusprimeiros momentos de vida, precisou prestar atenção ao ambiente em quevivia e procurou trabalhar fundamentalmente na elevação do padrão cultural,educacional e de treinamento do seu pessoal.
Paralelamente teve de desenvolver hábitos e procedimentos para que todos,conscientes de sua responsabilidades e não importando as circunstâncias,tivessem sempre de fazer o melhor.
Desse modo é que, naqueles primeiros momentos, se procurou cuidar detudo, pavimentando um caminho que poderia tornar-se sólido na medida docurso dos anos futuros. A organização, naquele contexto, assumiufundamental importância.
237
As funções básicas de gerenciamento foram consideradas vitais, a fim decolocar os diversos órgãos da empresa numa escala, divulgada e conhecida,de hierarquia e de comando. O racionalismo deveria prevalecer o tempo todo,de forma clara e organizada, com responsabilidades definidas epermanentemente identificadas.
Teria que abranger tudo, aspectos de produção e de serviços a seremprestados.
Tudo registrado e claramente documentado.
Se a fabricação dos aviões era o objetivo a atingir, compreendíamos que issonão poderia ocorrer se não se contasse com todos, com as equipes detrabalho, com os empregados e com a textura da sociedade onde vivíamos.Era importante evitar a criação de barreiras da comunicação e odesenvolvimento de mecanismos para, surgindo problemas a seremresolvidos, o sistema organizacional pudesse responder natural eprontamente.
Qualquer problema na produção, que exigisse a intervenção do engenheiro ou
do projetista deveria ter sua solução encontrada com a participação dequalquer das áreas envolvidas, independente da rigidez hierárquica dasorganizações formais. Esse conceito foi aplicado também para as construçõescivis que, logo no início da vida da empresa, estavam espalhadas por todas aspartes. Contudo, o conceito inicial de se colocar tudo concentrado em árearelativamente reduzida facilitava tudo isso, podendo colocar, em curto espaçode tempo, os problemas nas mãos dos órgãos incumbidos de solucioná-los.
É claro que isso não poderia sair para a direção da informalidade. Emboraflexível, o sistema precisava ser controlado. Os requisitos internacionais decertificação ou de homologação dos aviões obrigam as empresas produtoras ater tudo sob controle e documentado. A investigação de qualquer acidente ouincidente, durante qualquer momento da operação, precisa dispor deinformações atualizadas e corretas, a fim de se poder identificar comfacilidade e presteza qual sistema, equipamento ou circunstância quecontribuiu ou favoreceu uma ocorrência relativa ao evento em investigação.Enfim, a cada momento tínhamos algo a aprender e, mais importante, deaplicar soluções na miríade de problemas novos que nos atingiam todo otempo.
Os Amplos Problemas de Treinamento
A construção civil, a organização da produção, os projetos, etc., tudo tomavamuito do nosso tempo, mas sabíamos que o sucesso dos aviões que aEMBRAER
pretendia fabricar iria depender, de um modo fundamental, do pessoal técnicocom que poderíamos contar. Basicamente era nossa intenção tentar transferirpara a EMBRAER os especialistas e técnicos do CTA que, junto conosco, eao longo 238
daqueles primeiros cinco anos tinham aprendido a fazer aviões. Assim,mesmo envolvidos com argamassa, tijolos, plantas, papéis de desenho,mantivemos o esforço e, decididos, procuramos levar adiante o projeto deaproveitamento da equipe do CTA. E isso implicaria em tentar conhecer seusproblemas e aspirações para determinar as condições, que seriamnecessariamente preenchidas, para que pudéssemos tê-los conosco naempresa.
Aqueles homens e mulheres, vindo de todas as partes do Brasil, comdiferentes formações intelectual e cultural, eram agora uma equipe. Eles erama chave do caudal tecnológico que se pretendia construir para produzir emsérie nosso primeiro avião –BANDEIRANTE.
Ozílio auto-assumiu a tarefa de convencer, um a um, a abandonar a estávelcarreira de funcionário público do CTA para juntar-se a uma empresa emcriação e sendo garantido apenas pelas promessas de um futuro que, juntos,pretendíamos construir.
Essa não foi uma tarefa fácil. Não era suficiente convencer os técnicos em si;tínhamos de envolver e contar com o apoio das famílias. Cada um deles teriade se considerar seguro em relação ao futuro. As perguntas que recebíamoseram sempre as mesmas. Teríamos sucesso? Sinceramente ninguém sabia,embora vontade, expectativas e ansiedade não faltassem.
Cada pessoa que desejássemos engajar era uma história particular. Cada umtinha suas necessidades e seus objetivos, embora às vezes não muito claros.Um bom exemplo foi o Eng. Michel Cury, amigo de muitos anos, portador degrande experiência e excelente nível técnico, com uma especialização na áreade ensaios-em-voo – habilidade rara e essencial que nós dificilmentepoderíamos encontrar algum outro no Brasil com suas qualificações. O seucaso pessoal dá uma ideia de como as soluções individuais eram tãopeculiares e precisavam ser tratadas uma a uma, independente do nível doempregado.
Afável e competente, Michel tinha feito, após o seu curso de Engenharia noITA, um estágio de um ano no Centro de Ensaios em Voo na França (apoiadopelo Ministério da Aeronáutica). Ele gostava da tarefa dos ensaios-em-voo,tão essenciais para o conhecimento das aeronaves e para a sua aprovação ehomologação. Sério como sempre, Michel, respondendo ao meu convite,lamentou não poder aceitá-lo. Argumentou e acentuou que julgava necessáriopermanecer no CTA, pois não achava justo, depois de ter recebido uma bolsade estudos tão cara para o país, abandonar a carreira à qual tinha se dedicadodesde sua formatura no ITA. Ele antecipava que a EMBRAER, entrando naprodução de aviões, não necessitaria tão cedo de equipes de ensaios como osque ele poderia executar e, mesmo que elas se tornassem necessárias, o CTApoderia fornecer o apoio requerido. O futuro mostrou uma realidade
completamente diversa. Nenhuma 239
empresa de construção aeronáutica pode prescindir de uma boa e competenteequipe de ensaios-em-voo.
Quanto ao Michel, suas previsões efetivamente não aconteceram. Seguindosua decisão, permaneceu no CTA, sendo designado Chefe da Divisão deHomologação do PAR, então dirigida pelo Cel. Eudes da Costa e Silva, queme substituiu, após minha designação para Diretor Superintendente da novaEMBRAER. No entanto, o PAR mudou muito desde nossa saída, conta elehoje. Os engenheiros civis passaram a ser preteridos pelos militares, para oexercício das funções de Chefia.
Isso magoou Michel que, tempos mais tarde, sentindo-se discriminado,procurou o Diretor Geral, Brig. Paulo Victor, pedindo para sair do Centro.Embora o Brigadeiro tenha procurado dissuadi-lo, Michel entrou em campobuscando emprego, deixando de lado seus ideais de ensaios-em-voo,“enfrentando a realidade”, como dizia.
Quando Michel procurou-me na EMBRAER, fiz-lhe uma proposta. Aceitouos desafios que lhe expus e tornou-se um participante do empreendimento em1973, três anos após a criação da Empresa. Demorou três anos mas, afinal,conseguimos o especialista que queríamos, embora, como tudo acontece navida, tenhamos dado-lhe outras atividades internas que hoje, quandolembramos, ficamos contentes por tê-las vivido.
E desse modo, tratando de cada um individualmente, tornou-se possívelpouco a pouco constituir as equipes com os técnicos-chave necessários. Nãohouve regras rígidas. As pessoas foram tratadas segundo suas necessidades epontos de vista, e realmente “conversadas” até que aceitassem a ideia demudar de emprego.
Somente após esse trabalho de convencimento é que iniciávamos o processoburocrático de transferência de emprego, que também não foi fácil. Nesseaspecto, armados com nossos dois chapéus (o de Diretor da EMBRAER e ode integrante do CTA – o que ocorreu nos primeiros meses de 1970),conseguimos participar dos problemas de cada um e, assim, poder darcontribuições para as soluções de cada aspecto particular do processo de
transferência do pessoal. O grande artífice do processo foi Ozílio, que, comenorme disposição, procurou responder às aspirações de cada um, entre elesas do próprio Michel.
As Primeiras Operações Administrativas
Havia realmente um mar de coisas para fazer. Não poderíamos esquecer quea EMBRAER efetivamente partia do zero – às 24 horas do dia pareciaminsuficientes e passavam com rapidez impressionante. Assim, emborativéssemos nos preocupado muito, durante as quatro primeiras semanas, ematender todos os aspectos técnicos de projeto e de fabricação dos aviões, foicom alegria que, ao final do mês inicial de operações, chegamos a cumprir epagar pontualmente – no dia 30 de 240
janeiro – a primeira folha de salários dos novos empregados. Havia umadiferença fundamental: de funcionários públicos que eram, agoraparticipavam de uma empresa privada, embora controlada pelo GovernoFederal do Brasil.
Parece óbvio que isso tenha ocorrido, isto é, ao final do mês uma empresapaga salários para seus empregados. Contudo, embora este fosse um itemsimples e de entendimento direto, o fato é que não foi assim tão fácil. AlbertoMarcondes, no seu papel de Diretor Financeiro, e Garcia, respondendo pelasRelações Industriais, foram os campeões silenciosos desse primeiro feito.Este era, em 31 de janeiro de 1970, um passo vencido. Minha sensaçãopessoal é de que, depois de tantos anos vivendo em repartições públicas daAdministração Direta do Governo Federal, começava a ver os contornos deuma empresa, deixando para trás as posturas regulamentares e oficiais deorçamentos públicos, verbas, ofícios, etc.
Foi interessante o processo de mudança de cultura e o abandono das práticasligadas à tradicional burocracia governamental. Passamos a consagrar o uso,mesmo na forma, de documentos tipicamente empresariais. A muitos issopode não parecer importante mas, anos mais tarde – em 1986 –, quandoassumi a Presidência da PETROBRAS, surpreendi-me voltando a assinarPortarias e escrevendo Ofícios, Exposições de Motivos, etc. Percebi queaquilo que fizéramos na EMBRAER, embora à primeira vista semimportância, tinha valor.
Foram naqueles momentos iniciais, após somente um mês de vida daEMBRAER, que pela primeira vez fui posto em contato com uma folha depagamentos de salários de uma empresa. Fiquei surpreso pela quantidade decálculos e de listagens que apresentava. Lembrei-me do meu trabalhoindividual de formatura do ITA, quando calculava a frequência natural devibração dos tanques de ponta-de-asa que pretendia instalar nos aviões detreinamento NORTH AMERICAN T-6.
Deu-me um trabalho insano. Eram páginas e páginas de cálculos. Não sei sevale a comparação, mas certamente achei que valeria a pena pensar: “Aempresa é privada, mas as normas são baixadas pelo Governo mostram queas autoridades têm pouco ou nenhum respeito pelos custos industriais. No afãde levar sua parte, sob a forma de impostos, obriga o empresário a manteruma estrutura de demonstração do que produziu que chega aos limites dairracionalidade”.
Falei em empresa privada. Sim, esta sempre foi uma ideia determinante. AEMBRAER, embora tenha sido constituída como sociedade de economiamista controlada pela União Federal, era uma empresa privada e assimdeveria ser gerenciada, onde os resultados, o lucro, a eficiência, acompetitividade e a qualidade deveriam ser preservados permanentemente,como um galardão ligado ao sucesso empresarial. No início da vida daempresa isso foi possível. Contudo, à medida que ela ganhou idade, e a partirdo instante em que o Governo, dez anos mais tarde, decidiu “controlar” asEstatais, em resposta ao clamor gerado pela 241
imprensa, que denunciava que as empresas controladas pelo Estado estavammuito “soltas”, do ponto de vista gerencial, tudo começou a piorar.
Creio que o início dessa tendência foi o ano de 1979. O resultado foi direto;já na década de 80, as autoridades públicas quase não mais diferenciavam aadministração indireta (as empresas) da direta (as repartições públicas). Osdecretos regulando os órgãos de Governo passaram a incluir também asempresas, sociedades anônimas de economia mista e todos os órgãos daadministração indireta da União Federal. O preço pago foi alto. O resultadofoi uma grande perda de agilidade das empresas estatais que nitidamentecomeçaram a mostrar deterioração. Ao invés de procurar corrigir melhorandoos padrões básicos organizacionais, a resposta da burocracia pública foi no
sentido de apertar os
“controles” e complicar ainda mais as já difíceis condições operativas dosempreendimentos estatais.
O resultado, todos o conhecemos. As empresas controladas pelo Governoperderam o prestígio junto à opinião pública e, de prestadoras de serviço queno passado tinham remodelado a infraestrutura nacional, passaram a sergigantes de ineficiência que pareciam resistir a todos os esforços paramudanças, com a prevalência de critérios político-partidários no lugar dostécnicos.
Não valeram nem funcionaram os protestos dos dirigentes responsáveis,procurando indicar caminhos e asseverando que seria difícil para empresas,organizadas como entidades industriais e comerciais, atender regras geraisque atingiam agências de arrecadação de impostos ou mesmo as antigascoletorias. As posturas governamentais eram claras. As regras para umagrande siderúrgica passaram a ser as mesmas aplicáveis a uma indústriaaeronáutica como a nossa, ou a um hotel em Santa Catarina que, por estranhoque pareça, era também uma Estatal. Isto afetou muito a EMBRAER, massobre isso falaremos mais tarde.
No início das atividades tudo era novidade. Uma, em particular, colocou onosso Alberto Marcondes, no posto de Diretor Financeiro, perante uminteressante problema. Nos primeiros dias da EMBRAER, tentou movimentarnossa conta corrente, aberta no Banco do Brasil de São José dos Campos. Látínhamos depositado o montante do capital subscrito pelo Governo para aconstituição da Empresa. Ao tentar sacar dinheiro, para cobrir as despesasiniciais, Alberto foi informado de que deveríamos qualificar os diretoresresponsáveis. Logicamente, uma exigência justa. Fizemos isso sem nenhumproblema e apresentamos ao Banco a Ata da Assembleia Geral deConstituição, que se tinha completado com êxito no dia 29 de dezembro.
No entanto, fomos informados de que não era suficiente. Havia mais. OBanco solicitou que toda a documentação de qualificação dosadministradores e uma 242
cópia dos Estatutos Sociais fossem encaminhadas por carta, porém em papel
da Empresa.
“É mesmo!”, concordamos nós!
Somente existia um problema, no qual não tínhamos ainda pensado. Nãohavia papel timbrado que trouxesse o logotipo da EMBRAER. Era precisofazê-lo, e com urgência. Mas... não tínhamos logotipo.
Entre os componentes de nossa equipe, trazida do CTA, contávamos conoscocom José Ramis. Talentoso designer espanhol, Ramis nos acompanhava hátempo.
Ele era uma espécie de “faz tudo” na área de comunicação social. Contribuíanos press releases, na concepção de itens de projeto e na preparação debrochuras e de catálogos ilustrados sobre o BANDEIRANTE. Nos nossosprocessos de comunicação com a comunidade procurávamos explorar todosos ângulos, num desejo de mostrar nosso avião, suas características técnicas eseu desempenho operacional.
Nisso Ramis era realmente um bom profissional. Afável sempre, mostravaalgumas características diferenciadas dentre todos os publicitários queconhecíamos. Discutia conosco e era capaz de modificar suas ideias,debatendo e concordando ou discordando, mas mudava o curso do seutrabalho sem nenhuma restrição; não impunha nada, era um companheiro daequipe e com as equipes trabalhava.
Chamei Ramis e expus-lhe o problema. Ele reagiu rapidamente – comosempre –
e preparou-nos uma série de estudos sobre o logotipo da empresa, semprepartindo da letra “E”, que ganhou em suas hábeis mãos uma infinidade deformatos. Numa reunião, rapidamente convocada, pudemos selecionar ummodelo que nos agradava. Era um “E” estilizado e, se tivesse suas abas emflecha –
mantendo o afilamento de uma asa –, daria a ideia de um avião. Ramis, commais meia dúzia de riscos, imediatamente transformou seu projeto numlogotipo azul. O
trabalho ficou muito bom. A aceitação foi geral naquele nosso pequeno grupoinicial. Era o primeiro passo de uma marca que, ao longo dos anos, setransformou num símbolo capaz de levar além do horizonte o prestígio deaviões brasileiros, que em pouco tempo estariam voando em mais de 40países.
Completado o trabalho, corremos à gráfica do CTA, que imprimiu o papel decarta de que necessitávamos, agora com timbre. Logo a carta foidatilografada e entregue ao Banco do Brasil. Naquele momento, dentro daagência do Banco no centro da cidade, em São José dos Campos,preenchemos nosso primeiro cheque, habilitando-nos a sacar os recursosiniciais. Aí, sim, respiramos com alívio e percebemos que começávamos afuncionar operacionalmente. Este e outros episódios semelhantes começarama nos fazer compreender que estávamos construindo algo novo, uma empresa.Tudo mostrava intensamente que o início 243
era um marco zero; enfim, aprendemos que uma empresa precisa de tudo,inclusive de papel de carta.
Foto 36 Logotipo da Embraer desenvolvido logo após a criação da empresa
Os Primeiros Contratos com a FAB
Tudo parecia acontecer simultaneamente e a pequena equipe dividia seutempo entre todas as tarefas que precisavam ser completadas. Contávamoscom o auxílio daqueles que vieram do PAR, nossos companheiros de trabalhodesde 1965, quando iniciamos o projeto do BANDEIRANTE. Aos poucosfomos compondo os quadros humanos e preenchendo os cargos-chave danova companhia.
Para isso, Garcia, agora diretor de Relações Industriais, teve que trabalharcom rapidez. Selecionou e contratou Luiz Torello, que se encarregou de
montar uma divisão de pessoal e organizar os planos de recrutamento. Todosos recrutados naqueles dias viveram momentos especiais, dos quais guardamcarinhosas recordações.
Paralelamente tínhamos outras preocupações. Não podíamos tão-somenteconsumir o capital inicial da empresa. Era necessário pensar nas receitas epara isso era essencial vender. A pergunta era: o quê?
A resposta direta era celebrar com o Ministério da Aeronáutica os contratosde venda previstos, durante as conversações, quando pertencíamos ao CTA.No entanto, a partir daquele momento, não éramos mais Governo. Tínhamosque compreender que estávamos do outro lado da cerca e na posição, emgeral difícil e áspera, de vendedores.
Sabíamos que precisávamos vender. Claramente as vendas dos nossosprodutos eram uma das condições, e fundamental, para continuarmos aoperar. Este era um ensinamento que se tinha colhido da história de outrosempreendimentos como o 244
nosso. Não poderíamos falhar no processo de colocar o nosso produto nasmãos dos clientes, dos operadores, fossem eles quais fossem. No entanto,naquele instante, o comprador básico, com o qual teríamos de contar, era oMinistério da Aeronáutica, aproveitando a intenção muito clara dos OficiaisGenerais de planejar o reequipamento da FAB e que buscavam selecionaraviões para os mais diferentes tipos de utilização. Não me cansava demencionar para nossos companheiros de trabalho o velho e conhecido refrãodos vendedores: “o cliente tem sempre razão”.
Assim, mantivemos os esforços para tentar responder, dentro dos limites dopossível, aos requisitos colocados pela Força Aérea. Para atingir esse objetivofomos muito apoiados pelo Brig. Agemar da Rocha Sanctos e pelo Brig.Paulo Victor, os quais, conhecendo bem os programas de trabalho queestávamos implementando, usavam os seus postos, seus cargos e prestígiopara remover cada obstáculo que surgia no processo burocrático.
Foi assim que, ao final de janeiro de 1970, estávamos com as minutas dosprimeiros contratos prontas para submetê-las ao Estado-Maior daAeronáutica.
Tudo tinha sido consolidado, após inúmeras discussões, em duas propostasbásicas.
A primeira previa a compra de 100 aviões Bandeirantes, na configuraçãobásica para até 15 passageiros. Essa capacidade interna já refletia nossosúltimos estudos e representava um acentuado acréscimo quando comparadoscom os protótipos capazes de transportar no máximo sete pessoas, além dospilotos. Isso implicaria em reprojetar o avião por completo, pois, agora numanova configuração, seriam requeridos maior área de asa, fuselagem maislonga, novos motores mais potentes e, entre inúmeros outros parâmetros aserem considerados, deveríamos adotar um maior peso de decolagem.
Como é lógico, as modificações que estávamos considerando eramsignificativas e em um avião, alterando-se o peso máximo de decolagem, otrabalho de reprojeto e de fabricação é expressivo. Novamente levamos emconsideração os problemas de aumento de peso que, como já se mencionou, éfator determinante para o sucesso de um avião. Embora o objetivo que sebuscava fosse a ampliação da capacidade de transporte de passageiros doBANDEIRANTE, esforço deveria ser feito para que a nova estrutura pudesseser leve e eficiente.
O segundo contrato deveria responder ao estabelecido na reunião com osMinistros, ocorrida em 26 de junho de 1969, quando pela primeira vez foimencionada a possibilidade de se criar a EMBRAER e encarregá-la defabricar um avião a jato, sob licença estrangeira, para atender as necessidadesda FAB em missões militares específicas.
Este programa nós considerávamos essencial, pois asseguraria umfaturamento adicional, uma posição da EMBRAER como fornecedora dematerial militar e, 245
sobretudo, um contato com empresa que já tinha desenvolvido métodos,técnicas e processos de produção seriada. No entanto, o caminho não foisimples.
Uma das maiores dificuldades era, novamente, o da cultura consagrada.Nunca chegamos a entender por que as pessoas julgavam sempre que um jatoera mais complicado para produzir do que um aparelho convencional. Em
face desse tipo de entendimento as dúvidas se sucediam. Qual era aexperiência que a EMBRAER
poderia oferecer? Caberia à FAB funcionar como “cobaia”? E assim pordiante.
Aos poucos as dúvidas foram sendo vencidas. A FAB, acostumada a procurarnos países mais desenvolvidos a satisfação de suas necessidades, levou tempopara compreender os mecanismos de adquirir um produto ainda na“prancheta”, isto é, um produto que ainda seria projetado, desenvolvido efabricado. Nossos argumentos de que as Forças Aéreas estrangeiras, dospaíses mais desenvolvidos, tinham como regra a compra de aviões, com baseem especificações impressas, somente impregnavam alguns poucos setores denossa Aviação Militar. Era claro que o sucesso do projeto doBANDEIRANTE, todavia ainda na fase de protótipo, ajudava. Contudo, emalguns momentos, pensávamos que não seria suficiente.
Felizmente a EMBRAER continuava a contar com os seus dois bons aliados,os Brigadeiros Agemar e Paulo Victor, que, incansavelmente, defendiam oponto de vista de que não se poderia perder aquela oportunidade para aconsolidação de uma raiz importante para o desenvolvimento da construçãoaeronáutica no Brasil.
Eles conseguiram, pouco a pouco, trazer para o grupo o mais importantealiado com quem poderíamos contar: o próprio Ministro da Aeronáutica,Brigadeiro Márcio de Souza e Mello. Ele próprio, muitas vezes, chegou aexpressar seu entusiasmo publicamente pelo esforço que se fazia no Brasilpara o desenvolvimento e fabricação de aviões. Um outro aliado, não menosimportante, foi o então Coronel Lauro Ney Menezes, Oficial do Gabinete dopróprio Ministro Márcio, que com entusiasmo apoiava a ideia. Suascontribuições foram relevantes e muito nos ajudaram.
O AERMACCHI 326-G já estava potencialmente escolhido na seleção paraser fabricado pela EMBRAER, mas excedia os requisitos básicos para aformação de pilotos. Isso levou o Ministério da Aeronáutica a modificar suasespecificações básicas e requisitos de operação, fazendo com que, além daspossíveis tarefas de treinamento, eles estivessem equipados para operar emmissões militares de ataque ao solo e de apoio aproximado às forças
terrestres. Estes dois objetivos estavam claramente estabelecidos nos planosestratégicos de emprego da Força Aérea, segundo as doutrinas de uso daforça militar que prevaleciam naquele tempo.
Estudado o assunto pelo Estado-Maior, em face dos novos requisitos, surgiuo número de aviões necessários, 112 unidades, o qual ficou consagrado eserviu de 246
base para a análise das propostas que a EMBRAER tinha recebido doscompetidores estrangeiros selecionados.
Foto 37 O Bandeirante nas cores da FAB.
A partir dessas decisões, as ações começaram a tramitar mais rapidamentenos altos escalões dos Ministérios envolvidos, da Aeronáutica, doPlanejamento e da Fazenda. Novamente, marchamos muito sobre tapetes parater tudo autorizado e assinado, dentro do prazo mais curto possível.
Completamos os trabalhos de análise das proposições apresentadas peloslicenciadores estrangeiros e, como imaginávamos, a decisão da FAB
realmente se consolidou em favor da AERONAUTICA MACCHI, com o seuMB-336G. Enfrentamos, logo em seguida, a dramática sessão que teve curso,já nas instalações da EMBRAER, em São José dos Campos (ainda cheirandotintas de parede), quando os representantes das três empresas competidorasda fase final, a BRITISH
AEROSPACE, a AEROSPATIALE e a própria MACCHI, comparecerampara tomar conhecimento de qual seria a empresa ganhadora da concorrência.Naquele momento a SAAB já não participava mais do processo. O seu avião,o SAAB 105, excedia demasiadamente os requisitos fixados pela FAB ecustava significativamente mais caro que os outros concorrentes.
Quando transmiti aos presentes que a vencedora seria a empresa italiana, temipela condição física do representante dos ingleses, o meu amigo TarbouxQuintella.
247
Ele parecia impossibilitado de respirar perante a notícia, tão forte que, apósuma dedicação de quase um ano, tinha chegado a uma derrota. Não se digaque ele estava sem razões para um choque tão grande. Era efetivamente umcontrato significativo: 112 aviões, mais assistência técnica, peças dereposição e diversos serviços de apoio. Nos dias de hoje, o valor corrigido aser contratado atingiria uma cifra estimada de US$ 800 milhões. Fiqueirealmente sensibilizado com a reação do bom Tarboux, excelente pessoa háquem muito respeitava. Era um grande e sério amigo e companheiro. Foi umgrande constrangimento sentir o quanto ele sofreu com o revés e gostariamuito de ter podido trabalhar mais de perto com ele.
Na época o Presidente da AERONAUTICA MACCHI era o Eng. PaoloForesio. Seus representantes que atuaram intensamente na venda dosAERMACCHI para nós foram o Eng. Ermano Bazzocchi, o próprio projetistado 336, Ettore Bicchieri, da ITS
(International Technical Service de Milano, Itália), com seu associado noBrasil, Carlos Alberto de Andrade, que tinha seu escritório no Rio.
O Eng. Bazzocchi foi o criador do MB-326 que, em 1953, foi proposto ao
Estado-Maior da Aeronáutica Militar Italiana (AMI) como um novo treinadora jato. Depois de muita luta junto às autoridades foi possível à MACCHIassinar, três anos depois, um contrato para o projeto e construção de doisprotótipos de voo e de uma estrutura para os ensaios estáticos. Dentro de umano, após a autorização, o primeiro protótipo voou em Venegono (aeroportopróximo a Varese, no norte da Itália), sob o comando do piloto de provasGuido Carestiato.
O desempenho do avião muito agradou e, em dezembro de 1958, a AMIencomendou os primeiros 15 exemplares, denominando-os de “pré-série”.Logo em seguida a AERMACCHI empenhou-se para a exportação do novotreinador que ganhou uma ordem da Austrália, de 75 exemplares do MB-326H, agora já equipado com uma aviônica* sofisticada e com umaconfiguração de armamento para treinamento e emprego tático. Logo emseguida a África do Sul encomendou 125
unidades para serem progressivamente fabricadas pela Atlas Aviation (PTY)Ltd.
Em 1967 a MACCHI lançou o modelo MB-326G, equipado com uma versãomais potente do motor Rolls-Royce Viper que impôs algumas modificaçõesimportantes, tornando o avião melhor e mais competitivo em relação aos quese fabricavam no mundo. Foi esse o modelo consagrado para ser produzidono Brasil pela EMBRAER.
Bazzocchi, Bicchieri e Carlos Alberto trabalharam ativamente na preparaçãodas bases necessárias para que o contrato pudesse ser redigido, com cláusulasviáveis e compatíveis com os requisitos da Força Aérea Brasileira. Elesatuaram firmemente na negociação e na obtenção do financiamento doGoverno Italiano, que era a chave para que tudo pudesse ser fechado. Oprocesso foi longo e cansativo, pois sempre dependia da aprovação dediferentes órgãos de dois Governos. Para nós 248
era lógico o empenho pessoal de todos os envolvidos. E em um processo devenda a crença e o esforço de alguns, no mais das vezes, são vitais.
Esse foi o caso do Carlos Alberto de Andrade que, por ações pessoais,conseguiu fazer com que o Ministro Márcio, na última hora mandasse incluir
o MB-326 GB na competição entre os modelos que estavam sendo cogitadospara serem produzidos no Brasil, sob licença estrangeira. Ainda me lembreida dificuldade que tive para preparar os estudos, quando, praticamenteprontos, precisaram incluir o avião italiano, sem que se alterassem os prazosfixados para o término dos trabalhos de avaliação.
Ao final dos estudos estávamos convencidos de que estávamos chegando auma boa seleção que, no longo prazo, foi confirmada. Os resultadosconseguidos trouxeram muitos dividendos positivos tanto para a EMBRAERcomo para a FAB, cujos pilotos sempre gostaram dos 326, os quais passarama ser conhecidos como XAVANTE’s.
O trabalho de Carlos Alberto, em particular, foi essencial. Nós, da empresa,que sabíamos como iríamos trabalhar, não víamos nenhum problema montara linha e produzir os aparelhos que a FAB desejava. O programa do jato MB-326 no Brasil, sob a óptica brasileira, era, portanto, algo natural.
Se tal era visto dessa forma por nós, não significava que do lado italiano acoisa seria assim tão simples. Hoje, pensando melhor, fico imaginando o queteria acontecido na Itália quando, pela primeira vez, Carlos Albertomencionou que em São José dos Campos havia um grupo de pessoas quedesejava fabricar os MB-326
para a Força Aérea. As perguntas deveriam ser as mais incrédulas.
“Como? Que espécie de base industrial eles têm? E ainda pedemfinanciamento?
Com que garantias?”
O que os italianos não sabiam era que a Itália também estava mais avançada edistanciada da Força Aérea Brasileira. Nas instalações da FAB nada, ouquase nada, se sabia sobre o que era produzido nas fábricas de aviões dapenínsula. Se eles estavam distante de nós, certamente a recíproca eraverdadeira.
Essas e outras tantas perguntas ficavam sem resposta – nos dois lados doAtlântico. Claro que, do lado da EMBRAER, pouco poderíamos apresentar
de concreto e que fizesse sentido no mundo sofisticado da indústriaaeronáutica internacional. O nosso empreendimento estava começando esomente seria consolidado se os dois programas – o do BANDEIRANTE e odo MB-326 – tivessem êxito.
Foi nesse ponto que se começou a pensar em quantos “nós em pingo d’água”o Carlos Alberto teria dado, nas tentativas de explicar que o time de São Josédos Campos poderia cumprir a tarefa. Para atingir esses objetivos eletrabalhou em 249
conexão com Ettore Bicchieri, Presidente da ITS italiana, que, pelaintensidade de seus esforços e extrema agilidade, foi apelidadocarinhosamente pelo Cel. Lauro Menezes de Speed Gonzalez, relembrandoum desenho animado norte-americano, então em voga no Brasil daquelaépoca. Como eles conseguiram solucionar tudo não sabemos! O fato é que asdificuldades foram sendo superadas e as autoridades italianas, convencidas.
Tomada à decisão, era o momento de trabalhar para contratar os fornecedoresde matérias-primas, peças, equipamentos, etc. Os primeiros passos foramapoiados pelo financiamento italiano, conseguido por Carlos Alberto eBicchieri. Dizendo assim, de forma tão simples, parece ter sido fácil. Narealidade não o foi, pois nossos amigos italianos são tão burocraticamentecomplicados como nós mesmos, os brasileiros. Embora tivéssemos o apoiointegral das autoridades dos dois países, o contrato de financiamento tomoucerca de quatro meses para ser completado.
Na pressa com que trabalhávamos nosso pensamento era que o prazo tinhatudo de excessivo. Hoje em dia, em face da complexidade do modernosistema financeiro internacional, olhando para trás creio que poderíamosclassificar aquela velocidade de contratação, que eu achava baixa, comosupersônica. Na atualidade, tudo se complicou e muito mais do que nopassado.
Aliás, a burocracia atual, no momento em que este livro chega às livrarias,parece ter atingido um nível insuportável. Tudo requer carimbos ereconhecimentos. A fé pública nada mais vale e, mesmo muitos papéisescritos e carimbados, são colocados em dúvida. O advento do computador eda informática em praticamente tudo da vida moderna pouco adiantou e,
possivelmente ao contrário, ajudou a complicar. Assim, parece verdade umafrase dita num evento ao qual tive a oportunidade de assistir:
“Os computadores vieram para resolver problemas, que não tínhamosanteriormente”!
Enquanto um time trabalhava no MB-326, em tudo o que se referia à logísticae à constituição da linha de montagem (do ponto de vista industrial), outro,no Departamento de Engenharia, sob a direção do Guido Pessotti, tinha opensamento no reprojeto do BANDEIRANTE. O avião teria de sermodernizado e lançado em produção e a assistência técnica que tínhamosproposto para ser incluído no contrato com a AERMACCHI certamenteajudaria de forma significativa.
250
Foto 38 Avião a jato de treinamento Xavante a ser fabricado pela Embraer,sob a licença da Aeronáutica Macchi, da Itália, 1971.
251
Foto 39 Alberto Marcondes, primeiro diretor financeiro da Embraer.
Para o BANDEIRANTE, o aumento do número de passageiros para 15deveria obrigar ao alongamento da fuselagem, ficando claro que não setocaria na seção transversal, a qual seria mantida. Do mesmo modo, para semanter a mesma carga-alar, a área das asas seria aumentada, abrigando-se onovo peso de decolagem que foi fixado em 5.700 kg, o limite máximoautorizado pelos regulamentos para manter o avião dentro dos requisitos do
FAR 23 (FAA Regulations). Resolveu-se que trabalharíamos dentro dosregulamentos norte-americanos, pois, por mais distante que pudesse parecer,nossa intenção era também exportar os aviões fabricados.
Para isso, o certificado de homologação dos Estados Unidos era essencial.
Um outro programa que foi transferido do CTA para a EMBRAER foi o doavião agrícola IPANEMA. Contratada pelo Ministério da Agricultura, e como 252
acompanhamento contínuo do Cel. Marialdo Rodrigues Moreira, Assessor doMinistério da Agricultura, a empresa assumiu o projeto e o desenvolvimentodo modelo, com o objetivo de fazer o primeiro protótipo voar em 30 de julhode 1970.
Era curioso assinalar que, mesmo sabedores dos riscos que corríamos,estávamos nos habituando a marcar datas para os primeiros voos deprotótipos. Essa não era, e mesmo atualmente não é, uma práticainternacional, sempre causando certa surpresa nos meios especializados.Todos os que labutam na indústria aeronáutica sabem que os imponderáveisde um primeiro voo que não se casam com os prazos pré-fixados comoaqueles que nós nos impúnhamos.
No entanto, para vender a ideia do avião brasileiro e vencer a aprovação dacomunidade e das autoridades, precisávamos correr esses riscos. Assim,contrariamente ao que o bom senso preconizava, continuou-se a marcar datas.O
importante é que, no dia determinado, e com as presenças das autoridades, onosso novo avião agrícola IPANEMA voou com sucesso, o que garantiu aprimeira ordem de compra feita pelo Ministério da Agricultura.
Na área da produção estávamos envolvidos no projeto e na confecção dosgabaritos e do ferramental da produção do BANDEIRANTE, trabalhos estesque sofreram um grande impulso após a assinatura do contrato de fabricaçãodo MB-326 com a AERONAUTICA MACCHI. O Eng. Bazzocchi não tinhacompreendido quando pedimos um número realmente grande de italianosresidindo em São José dos Campos (lembro-me do número: 600 homens-
meses). A razão é que desejávamos fundamentalmente ter não somente umasimples ajuda para aprender a montar e operar os MB-326, mas sim ter ostécnicos italianos projetando e ajudando-nos na fase da produção seriada dosBandeirantes. Isso eles fizeram com entusiasmo e alguns acabaram por senaturalizar como brasileiros, e nunca mais saíram do país.
No campo da produção, mantivemos o nosso envolvimento na fabricação doURUPEMA, para o qual tínhamos planejado uma série de 10 exemplares.Essa era a forma de cumprirmos aquilo que tínhamos prometido ao Guido, nomomento em que ele tomou a decisão de deixar o ITA e juntar-se à nossaequipe, nos idos de 1965, quando lhe afirmamos que não esqueceríamos ecolocaríamos o URUPEMA em fabricação na empresa industrial queviéssemos a instituir. Estávamos, portanto, no momento correto para fazeracontecer aquilo que tínhamos assumido como compromisso.
Na fabricação do planador alguns novos processos produtivos passaram a serutilizados. Um importante foi a fabricação da capota de plástico transparenteda cabine do piloto. Era uma peça longa, com cerca de 2 metros decomprimento e de seção segundo um plano semicircular. Ao longo docomprimento era harmoniosamente concebida de forma a proporcionar amelhor forma 253
aerodinâmica possível, aliada à não-deformação das imagens, assegurandocompleta visibilidade para o piloto. A qualidade de manufatura conseguidafoi tal que, embora o piloto voasse quase deitado e tivesse a visibilidadegarantida praticamente através da espessura do canopy, se conseguiu evitar oefeito de lente e a visão era perfeita e sem deformações.
O URUPEMA era considerado um planador bonito e elegante, e ofereciaexcelente rendimento no voo. Foi nossa primeira experiência de produção ede vendas que, infelizmente, não foi grande coisa.
Não sei onde erramos, mas o fato é que toda a série fabricada, emborapequena
– de apenas dez exemplares –, ficou encalhada. Fizemos algumas promoçõese, entre elas, uma patrocinada pela Companhia Antarctica (de bebidas) queculminou com o sorteio nacional de uma unidade. Isto deu uma boa visão
nacional à EMBRAER, embora o próprio planador não chegasse a emocionarmuitos brasileiros, exceto os indefectíveis aficionados, sempre presentes.Planadores não são considerados produtos avançados e, assim, a recém-criadaempresa de fabricação de produtos aeronáuticos não recebeu nenhum méritotécnico ou industrial pela fabricação dos URUPEMA’s.
Quem se aproveitou da situação foi Alberto Marcondes, que, envolvido emconceber e lançar a campanha de capitalização da EMBRAER, através dosincentivos fiscais concedidos pelo Governo Federal, usou a oportunidadecom habilidade. Ele cunhou um plástico colante:
UM PAÍS QUE VOA VAI LONGE!
SUBSCREVA AÇÕES DA EMBRAER!
Exemplares desse plástico foram profusamente distribuídos e assim, pouco apouco, a nova empresa começava a conquistar lugar na mídia, e o povo, aspessoas em geral começavam a conhecer melhor a iniciativa e o empenho quese estava colocando para que o país viesse a produzir aviões.
Os Dois Grandes Contratos
Enquanto isso na fábrica a atividade era grande. Trabalhávamosincansavelmente resolvendo todos os problemas que apareciam em quasetodos os momentos e que saltavam de uma dificuldade técnica, umaconcepção qualquer do projeto aeronáutico, para a legislação empresarial, daqual pouco ou nada entendíamos. Era uma experiência com novidades a cadainstante e o curioso é que não tínhamos grande noção das dificuldades que,vez por outra, eram levantadas por alguém de fora. Nossas respostas eramsempre as mesmas. Um problema de cada vez, uma solução atrás da outra. Eíamos em frente.
Em maio de 1970 assinamos, finalmente, os contratos de fabricação dos 80
Bandeirantes (não conseguimos as 100 unidades tentadas no início doprograma) 254
dos 112 AERMACCHI. A solenidade foi muito concorrida em Brasília, pois
se trava de contratos importantes. Mesmo em termos dos anos 2000, secorrigirmos a moeda americana contra a inflação em dólares, ambossomariam hoje um valor em torno de US$ 1,2 bilhões. Sem dúvida, para umaempresa que apenas começava, era um poderoso impulso.
A tramitação dos contratos no Ministério da Aeronáutica tinha sido rápida,graças à pressão e interferência constantes do Brig. Agemar. Vários itensacabaram por ficar em branco e, no futuro, muitos ajustes tiveram que serfeitos.
Considerando o volume dos contratos, o Ministério decidiu constituir naempresa, uma Comissão de Fiscalização e Recebimento (CONFIREM), quecomeçou a funcionar imediatamente fazendo reuniões frequentes com osdiversos Departamentos da EMBRAER para ajustar pontos que ficaram nãoestabelecidos ou pouco claros nos textos iniciais. Ao mesmo tempo, aatividade da empresa era febril em todos os aspectos. No meio das obras civisem curso, a pavimentação dos pátios de circulação de pessoas, veículos eaviões, tudo dava um aspecto de revolução.
No meio de tudo aquilo, pedi ao Eng. Wanderley Quintino, que foi por anos onosso condutor predileto das obras civis, que nos ajudasse a plantar árvores.
Lembro-me de sua surpresa quando, em tom de blague, pedi-lhe queadquirisse mudas de “árvores seculares”. Desejava eu que árvores grandes efrondosas guarnecessem nossa fábrica. Ele inicialmente não entendeu, masem seguida colocou mãos à obra e, em breve, as primeiras árvores estavamplantadas no estacionamento para veículos que fora construído na frente doprédio da administração, o F-10 (todas as edificações da EMBRAER foramidentificados por um “F” seguido por um número designando cada edifício).Esperava que um dia elas, as bonitas árvores, realmente se tornassemseculares... e frondosas.
Estávamos também na época das denominações. O Brigadeiro Agemar pediuque colocássemos um nome no EMB-326GB e que representasse suacapacidade de combate. Ele próprio sugeriu XAVANTE, lembrando osnossos combativos índios do pré-descobrimento. Debatida a ideia no próprioMinistério da Aeronáutica, o nome foi aprovado pelo Ministro, ficando,portanto, consagrada a designação completa de EMB-326GB XAVANTE. Os
italianos ficaram alegres e realmente gostaram da inclusão do “E” daEMBRAER na designação do 326. Aprendi a gostar deles, bons sujeitos,competentes e sérios, que colaboraram conosco naqueles primeirosmomentos e aqui permaneceram na construção de suas vidas.
Em viagens à Itália cheguei a me encontrar algumas vezes com o Eng. PaoloForesio, acionista controlador da Aeronatutica MACCHI – um típicoaristocrata italiano e considerado o grande reconstrutor da empresa depois daSegunda Guerra Mundial. No entanto, nosso contato fundamental, e ao longodo tempo, 255
sempre foi com o Eng. Bazzocchi, que, além de ser um projetista de inusitadacompetência, se transformou num bom amigo da EMBRAER, à qual prestouinestimáveis colaborações.
O trabalho interno era intenso. Estávamos construindo a fábrica, comprandomáquinas, recrutando pessoal, projetando novos aviões (o BANDEIRANTEque estava nas pranchetas realmente era novo) e, ainda, lançando a produçãode uma aeronave a jato, construída sob licença para ser operada pela FAB. Dequebra, como dizíamos, ainda fabricávamos os URUPEMA e concluíamos oprojeto do EMB
200 IPANEMA, o avião agrícola. Não eram poucos os programas de trabalhopara uma empresa recém-criada.
Nossos vínculos com o CTA eram intensos. Muito em particular eles vinhame eram continuamente realimentados pelo nosso real amigo, o Brig. PauloVictor, Diretor Geral. O Brigadeiro tinha tal entusiasmo pela EMBRAER quemuitas vezes nem mesmo nós acreditávamos em algumas de suas decisões.Era claro que o pessoal do Centro Técnico sempre lhe levava problemas, emgeral de relacionamento. O Brigadeiro era contumaz em afirmar quecolaboração deveria estar presente em todos os momentos, e isso facilitava avida da empresa recém-nascida, a qual enfrentava todos os problemas dejuventude – inclusive os da inexperiência.
O Terceiro Protótipo do BANDEIRANTE para a CNAE
Tínhamos ainda um trabalho a fazer, remanescente do desenvolvimento do
BANDEIRANTE no Departamento de Aeronaves (PAR). Era a finalizaçãoda construção do terceiro protótipo que, como tudo indicava no momento, jánão apresentava mais a configuração e estava distante do avião quelançaríamos em produção. Em alguns momentos chegamos a pensar que nãovaleria a pena fabricá-
lo, tal o volume de diferenças já decididas a serem incorporadas nos novosmodelos que se encontravam nas pranchetas de desenho e de projeto daEMBRAER.
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), durante toda sua vida comoescola de formação de engenheiros e nas mais variadas opções dentro daAeronáutica, continuava sempre a cumprir o papel do visionário BrigadeiroCasemiro Montenegro Filho. Cada formando do Instituto era um potencialnúcleo de realizações, graças ao tipo de cultura e de formação que recebia daescola. Não era de surpreender quanto os engenheiros do ITA estavam dandode contribuição nos mais variados setores das atividades econômicas doBrasil.
A partir do célebre lançamento russo do SPUTNIK, muitos dos engenheiros eoficiais do CTA começaram a pensar no futuro da exploração do espaço.Naqueles tempos pensava-se em observação da terra, no potencial que setinha para a 256
avaliação dos recursos naturais. Ainda não se tinha uma completa noção darevolução que ocorreria com a entrada dos satélites como elementosfundamentais para a moderna telecomunicação global.
A característica fundamental das diferentes gerações de oficiais generais daForça Aérea Brasileira sempre foi o visionarismo. Dentre as ambições e oespírito sempre criativo de muitos impulsionadores do Ministério daAeronáutica, existia a expectativa de que, além de trabalhar na atmosfera comos aviões, o futuro estaria no espaço. E esta era também uma meta doBrigadeiro Paulo Victor. Ele próprio tomou a iniciativa de criar o Instituto deAtividades Espaciais (IAE), para promover pesquisas e projetos no campoespacial, centrando o trabalho fundamentalmente nos foguetesimpulsionadores de satélites. A consequência foi direta e germinou a ideia deo CTA abrir um projeto para o desenvolvimento de um Veículo Lançador de
Satélites (VLS) que se materializou a partir de foguetes de sondagem. Esseprojeto, durante anos, foi trabalhado por sucessivas equipes do Centro,sempre visando criar uma família de lançadores, capaz de colocar em órbitasatélites destinados às mais variadas aplicações.
Do lado das aplicações das visando o espaço tinha sido criada, em 1968, aComissão Nacional de Atividades Espaciais (CNAE), à qual, entre seusprojetos, tinha um que se dedicava à obtenção de dados sobre o territóriobrasileiro e conseguir informações mais precisas sobre seus recursos naturais.Um dos processos então utilizados era o da detecção e leitura das frequênciasnaturais de radiação do solo que, medidas, poderiam oferecer os elementospara as avaliações pretendidas. Este projeto, denominado de “SensoriamentoRemoto”, necessitava de ampla coleta de dados e, para tanto, para seconseguir a precisão necessária, precisava-se de um avião.
Foi quando o Diretor da CNAE, Dr. Fernando de Mendonça, procurou-me naEMBRAER perguntando se a Comissão que dirigia poderia pensar emcomprar o terceiro protótipo do BANDEIRANTE, o qual, devidamenteadaptado, poderia receber os equipamentos detentores das radiações efornecer às equipes de trabalho os dados necessários.
Realmente jamais tínhamos pensado em vender um protótipo e colocá-lo emoperação normal nas mãos de terceiros. Para que isso viesse a acontecerteríamos que o homologar junto ao CTA – mesmo que sob a condiçãoespecial de exemplar único, prevista na legislação. Igualmente teríamos decriar e imprimir uma ampla documentação técnica de operação e demanutenção, ambas necessárias. Elas deveriam ser muito mais amplas do queaqueles manuais provisórios entregues para a utilização dos protótiposiniciais, agora sob utilização no Centro Técnico.
Tudo isso representava problemas, pois, com a decisão já tomada de que osnovos 257
Bandeirantes seriam essencialmente diferentes dos protótipos, tudo o que sefizesse naquele momento não teria utilidade nos produtos de fabricaçãoseriada.
Propelidos pelo esfuziante entusiasmo do sempre presente Brigadeiro Paulo
Victor, aceitamos o desafio e ficou decidido que completaríamos o terceiroprotótipo, recebendo da CNAE as especificações necessárias dosequipamentos que seriam utilizados em serviço. Várias modificações foramnecessárias no avião, em particular um furo, que foi aberto no piso central dafuselagem para a instalação das objetivas das câmaras fotográficas e dossensores de captação de frequências naturais que constituíam a base doprojeto. Esses equipamentos, como aprendemos posteriormente, efetivamentejustificaram a aquisição do avião.
Chegamos a junho de 1970. No dia 26, o terceiro protótipo voou. Naquelestempos iniciais a EMBRAER, ainda com apenas seis meses de vida, estavadando os primeiros passos para formar suas equipes de voo. Por essa razãotoda a atividade aérea da empresa era realizada pelo CTA. Desse modo atripulação daquele primeiro voo foi constituída pelo Major Aviador AlbanoJorge de Lima e pelo Engenheiro Walter Bartels, ambos do próprio Institutode Fomento e Coordenação Industrial (IFI), órgão oficial brasileiroresponsável pelos trabalhos de homologação dos aviões nacionais.
Nunca tínhamos imaginado que isso poderia acontecer, mas o terceiroprotótipo teria uma utilização civil, embora sob as cores de uma organizaçãogovernamental, a CNAE. Para contornar os problemas legais e formais foiaceito pelo CTA que seria atribuída ao avião uma matrícula experimental decaráter privado, a PP-ZCN.
Esse foi o primeiro registro civil que o BANDEIRANTE recebeu, uma vezque os dois exemplares anteriores estavam, na época, sob a operação da FAB,com as designações militares C-95 2130 e 2131. Note-se que, segundo aregulamentação internacional de registros de aviões, as letras PP caracterizamo Brasil, a letra Z
indica que se trata de uma aeronave experimental e CN, escolhemos nós, emhomenagem à Comissão Nacional de Atividades Espaciais.
Por uma quantia simbólica, mais determinada pela verba disponível daCNAE do que um preço construído pela EMBRAER, o avião foi vendido.Foi uma operação pioneira e caracterizou nosso primeiro faturamento de umavião. Alberto Marcondes, nosso Diretor Financeiro, foi à minha sala paramostrar a primeira nota fiscal de vendas; ficamos olhando para ela epensando que precisaríamos de muitas delas para formar o futuro da empresaque estava dando os primeiros passos.
A própria EMBRAER encarregou-se das instalações dos equipamentosespeciais e o avião voou até 1979, prestando serviços especializados aoprograma brasileiro de sensoriamento remoto. À medida que os anospassaram começamos a nos preocupar com a utilização por muito tempo doavião a serviço, mais tarde rebatizado como INPE – Instituto Nacional deAtividades Espaciais (sucessor da 258
CNAE), pois, de acordo com os critérios básicos usados para o projeto econstrução daquele exemplar, nunca tínhamos considerado uma operaçãocontínua, por tantos anos. Afinal, o que tínhamos fabricado era apenas umprotótipo.
De qualquer forma o arranjo, provocado pelo Dr. Fernando de Mendonça,funcionou durante quase 10 anos de voo, quando finalmente o avião foiaposentado, retirado de serviço e doado à Prefeitura de São José dos Campos.
Aquele exemplar do velho avião, ainda na configuração inicial de uma equipeque estava nascendo, ainda pode ser visto na Praça Santos Dumont – na áreacentral de São José dos Campos. Constitui-se em exposição permanente,sendo mantido por um grupo de pioneiros voluntários da EMBRAER, todos
moradores da cidade e marcados pela aventura e desafio dos primeirostempos da construção aeronáutica brasileira. Na realidade, aquele écertamente o único avião do mundo, fabricado fora de uma produção seriada,que produziu um trabalho especializado e continuado por tão longo tempo.
A Organização Operacional
Naquele período inicial de funcionamento da EMBRAER, nos dois primeirosanos de implantação da infraestrutura, do reprojeto do BANDEIRANTE, dolançamento do XAVANTE em fabricação seriada e da produção doIPANEMA, ainda não se viam produtos. Assim, não era fácil a produção denotícias, e as poucas disponíveis eram aproveitadas para ganhar algumarepercussão na imprensa falada ou escrita.
A nossa Diretoria Financeira, comandada por Alberto, com sua mentalidadelogicamente voltada para a área do dinheiro, sempre dizia-nos e insistia queera importante um engajamento de todos da EMBRAER para auxiliar nacaptação do incentivo fiscal, sem dúvida uma base importante para acapitalização da nova empresa de construção aeronáutica. Ele e sua equipeprocuravam ser, e eram, extremamente criativos, mandando cartas,preparando volantes informativos, sempre baseados no argumentofundamental que tínhamos conseguido da legislação: as empresas poderiamdeduzir dos seus respectivos impostos sobre a renda todos os incentivos e,assim, o total de deduções poderia chegar a 50% do imposto devido. Noentanto, se decidissem incluir, entre os diferentes incentivos optados, umacontribuição de 1% para a EMBRAER, o total das deduções permitidaslegalmente poderia ser de 51%. Realmente uma vantagem exclusiva.
Foi nesse contexto de ideias que sentimos a necessidade de colocar esforço etrabalho para fazer a empresa aparecer perante a opinião pública.Precisaríamos
“contar para que e por que viemos!”. Embora todo o trabalho de baseestivesse sendo realizado, qualquer iniciativa que desse visibilidade ao novoempreendimento da construção aeronáutica no Brasil não deveria ser perdida.Foi assim que decidimos acelerar nossos cronogramas e tentar ter o primeiroavião 259
XAVANTE apresentado no desfile aéreo de 7 de setembro de 1971, no Riode Janeiro.
O prazo era exíguo, pois o contrato entre a EMBRAER e a empresa italianatinha sido assinado em junho de 1970, como decorrência daquele quetínhamos firmado com o Ministério da Aeronáutica, e a capacidade dosfornecedores de entregar os equipamentos e componentes para a produção eraquase incompressível. O que em geral os fornecedores pediam era umperíodo de 18 meses para começar a fornecer os itens solicitados. Assimmesmo, colocamos o problema para a AERMACCHI que, também commuito entusiasmo, concordou com a ideia. A partir daí, ambas as empresascomeçaram a trabalhar em conjunto para materializar aquela primeiraaparição pública.
Trabalhar com rapidez. Nisso nossa equipe – herdada do CTA – tinha logradoconquistar experiência. Quantas não foram às correrias para conseguir umitem faltante para assegurar um evento qualquer. Faziam-se listas de previsão,diagramas PERT de planejamento de tarefas, que se transformavam em“APERTE”, e assim por diante. Todos colaboraram, a MACCHI e todos osórgãos governamentais de exportação e de importação, da Itália e do Brasil.Todos ficaram impregnados com o espírito da realização e de cumprimentoda meta.
Finalmente conseguimos. Com grande alegria – e muita satisfação da FAB –lá estavam, nos céus do Rio de Janeiro, no Dia da Pátria de 1971, não apenasum, mas dois XAVANTE novinhos e, sem que ninguém o soubesse, prontosexatamente na madrugada do mesmo dia em São José dos Campos. Muitasnoites de trabalho das equipes, mas a nova empresa já começava a fixartradição de garantia dos prazos de entrega.
Enquanto isso o novo BANDEIRANTE começava a tomar forma. Os grandeselementos estruturais, fuselagem, asa e cauda, começavam a aparecer na linhade produção, dentro do grande hangar, o F-30, que já estava praticamentepronto.
Sua organização interna lembrava o velho X-10 do CTA. Um grande vãocentral ladeado por dois andares de oficinas ou escritórios. A ideia era teruma ou mais linhas de produção no vão livre, alimentadas por salas laterais
que forneciam os componentes ou equipamentos.
Com todo o esforço para conseguir visibilidade externa, a EMBRAER, já naépoca, fora transformada em vitrine. Afinal avião é realmente um ponto deatração. Não havia pessoa ou autoridade, nacional ou estrangeira, que nãoestivesse interessada em ver uma fábrica de aviões.
O próprio Ministério da Aeronáutica patrocinava as visitas que, para nós,eram muito importantes; elas formavam opinião, com as perguntasaprendíamos e –
pontos destacados – eram sempre acompanhadas por oficiais da FAB que, nofinal, nos ajudavam muito no encaminhamento das soluções de problemas deinfância 260
que tínhamos às quantidades. Montamos esquemas e roteiros que permitiam
percorrer as linhas de máquinas, a fabricação dos componentes básicos daestrutura e dos sistemas e, finalmente, a montagem final. Confesso que eupróprio achava aquilo muito interessante. Embora tomasse tempo, sempre seaprendia com os visitantes que, em geral, mostravam-se surpresos com ocaráter artesanal da fabricação aeronáutica. Também os próprios empregadosgostavam de ser visitados e, com entusiasmo, explicavam com detalhes anatureza do seu trabalho.
Cultivávamos a participação de cada empregado e dávamos a isso a maiorimportância. Procurávamos utilizar por todos os meios os mecanismos paramotivá-los, conversando com cada um e sempre procurando colocar nas suascabeças que:
“Estamos escrevendo a história! O Brasil fabrica aviões vocês são osartífices e os participantes”.
O trabalho para a geração e manutenção de entusiasmo da equipe eracontínuo.
Aproveitávamos todas as ocasiões. Por exemplo, logo na entrada da empresainstalamos uma placa – de grandes dimensões – com um texto amplo evisível a distância:
“AQUI SERÁ FABRICADO O BANDEIRANTE”.
261
Ela ficou lá por longo tempo e, um dia, alguém – certamente um visitante –
reclamou: “Mas vocês já fazem o BANDEIRANTE! Esta placa na entradanão tem mais sentido”.
Tinha sentido sim! Todos gostavam da placa e entendiam que ela não deveriaser retirada. Sua manutenção tinha se constituído em um símbolo do iníciodos nossos trabalhos. Em consequência, a resposta foi simplesmente corrigi-la. Assim, cortamos as letras da palavra “será” para que ficasse simplesmente“é”:
“AQUI S⁄É/R⁄á⁄ FABRICADO O BANDEIRANTE”
Foto 41
Desse modo, cortando-se as três letras, ganhou uma sobrevida, a custo bemreduzido. A reação de todos foi muito positiva. A tônica permanente era nosentido de estimular o grau de participação, envolvendo até mesmo a famíliados empregados. Lembro-me de um faxineiro que um dia interpelou-me:“Meu filho não me acreditou quando eu lhe disse que estou fabricandoaviões. Ele poderia visitar a fábrica?”. Esse era um tipo de atitude da qualgostávamos e bastante generalizada.
Era uma espécie de conflito entre aqueles que trabalhavam na fábrica, queviam os aviões saírem, e dos outros – de fora – que pareciam se recusar e aacreditar que realmente a EMBRAER estaria produzindo aviões. Foi dessemodo que o nosso pessoal de Relações Públicas instituiu um programa, oqual jamais deixou de ser executado, para que pessoas das famílias e mesmoamigos pudessem visitar a empresa. Anos mais tarde, vimos meninos eantigos visitantes transformarem-se 262
em empregados e técnicos, juntando-se a nós, no propósito de fabricar aviões.
Mário Galvão e Marilda Bastos, que durante muitos anos foram encarregadosde programar e acompanhar as visitas, garantiam que havia dias em quechegavam a andar 10 km dentro dos terrenos da fábrica.
A ideia era a de sempre tentar-se obter um máximo de divulgação. A partir dejulho de 1970, começamos a publicar o jornal interno, que se resolveudenominar de “O BANDEIRANTE”. Seu primeiro exemplar foi um pequenofolheto destinado a informar aos empregados da EMBRAER sobre assuntosque poderiam ser do seu interesse, inclusive os eventos relativos à produção.A publicação teve vida longa e, por mais de vinte anos, já em ediçõessemanais, contou muito da história da empresa. Paralelamente, outrapublicação, dirigida ao público externo e com um formato diferente,divulgava as matérias gerais de interesse geral e as metas que estavam sendoatingidas. Era a EMBRAER Notícias, a qual atingiu expressiva tiragemmensal, sempre distribuída via mala direta.
Durante todo esse período inicial, a preocupação em relação a todos oscolaboradores era centrada nos programas de treinamento de pessoal. Oavião, como produto industrial, é realmente complexo, envolvendo as maisvariadas técnicas de produção. Na sua estrutura metálica encontram-semisturados alguns metais ajustados e fixados segundo diferentes técnicas,como soldagem, rebitagem e colagem. Nos variados sistemas encontram-seos métodos e processos os mais diferenciados. Essa real miríade de requisitospassou a requerer especialistas que simplesmente não existiam no Brasil. Elestinham que ser produzidos.
Começamos com o treinamento básico para turmas dos novos empregados,tentando dar-lhes uma cultura geral básica que servisse de alicerce para o
treinamento especializado. Algumas técnicas produtivas, além de exigirhabilidades manuais cuidadosas, eram complexas e carregadas deprocedimentos intermediários, os quais exigiam reais polivalências.
Em adição às preparações básicas dos empregados, foi necessário formarespecialistas treinados para a preparação, montagem e instalação dosinúmeros sistemas instalados a bordo: eletricidade, hidráulica, pneumática,eletrônica, mecânica, etc. Cada uma dessas atividades sempre apareciadesdobrada, requerendo abrir novos campos de preparação da mão-de-obra.Qualquer nova necessidade da fabricação, do mesmo modo, abria opções,obrigando o Centro de Treinamento, recém croadp a preparar os instrutores eo currículo dos cursos.
Um problema fundamental era o de dominar os conhecimentos básicosnecessários, e, para vencer essas dificuldades, contávamos em geral com oapoio e auxílio dos fornecedores. Para isso uma real interação entre nossoscompradores e o Centro de Treinamento era essencial, pois a vantagem que aempresa poderia conseguir estaria claramente relacionada com o seu poder decompra. Era comum 263
solicitar-se a um fornecedor especialistas da empresa escolhida para umfornecimento que nos interessasse. Solicitávamos à vendedora que deveriamser colocados à disposição do nosso Centro seu pessoal treinado, parafamiliarizar os instrutores com o produto a ser suprido. O processo detreinamento precisava ser cuidadoso, pois, em geral, não era suficiente apenasse conseguir a habilitação em relação aos produtos fornecidos, mas também asua interação com os demais sistemas do avião.
Havia um desejo de se estabelecer no país uma base de fornecedores para aindústria aeronáutica. Tínhamos em mente o sistema norte-americano, que écomposto de milhares de empresas, grandes e pequenas, que praticamenteestão habilitadas a fornecer de tudo, desde matérias-primas e componentes,até equipamentos ou sistemas completos. Da mesma maneira, o número decompanhias prestadoras de serviços aeronáuticos nos Estados Unidos éimenso, permitindo ampla terceirização.
Sabíamos quanto isso ajudava no sentido de acelerar e tornar mais eficientesos trabalhos de projeto e de fabricação de um novo avião. Era claro que a
competição na indústria aeronáutica estava crescendo e sentíamos que osprazos para se criar um novo produto – tradicionalmente requerendo daordem de cinco anos – não seria compatível com a dinâmica que certamenteseria exigida pelos processos de venda no futuro. Antecipávamos que, com aentrada de muitos concorrentes no mercado – e nós éramos um deles –, todosos que conseguissem reduzir o tempo necessário para modificar os produtosou lançar novos modelos teriam vantagens competitivas substanciais.
O entendimento era claro. Se, no bojo dos programas nos quais estávamosengajados naquele início, alguns passos pudessem ser dados parahorizontalizar a produção, isso deveria ser feito. Era muito claro que, setentássemos fazer tudo dentro dos muros da empresa, além de não respondercoerentemente, nossa capacidade de resposta aos requisitos do mercadocertamente seria mais lenta e dificilmente poderíamos superar os obstáculosdos custos dos investimentos necessários. Desse modo, desejando ou não, aajuda de subcontratados era um tema que fazia o maior sentido. Com essasideias básicas estabelecidas procuramos seguir uma política crescente desubcontratação, junto à indústria brasileira, de peças e de componentes deaviões.
Se o discurso era coerente, a prática não era tão fácil. Os problemas queenfrentávamos para a capacitação da EMBRAER eram os mesmos quequalquer subcontratado teria pela frente. Não somente deveriam dispor decapital para os investimentos em máquinas e equipamentos produtivos, masenfrentar os percalços semelhantes aos que tínhamos identificado. A realindisponibilidade de capitais de risco no Brasil, para os custos iniciais de umaempresa ou de uma nova 264
atividade, em plantas industriais existentes. Problemas difíceis e recursospara formar o pessoal especializado. Tudo isso esbarrava nas característicastípicas da indústria aeronáutica: pequenas escalas de produção, isto é,encomendas reduzidas e requisitos de alta qualidade. Essa equação sempredetermina grandes custos de imobilização e fabricação, quando se trata depequeno número de unidades, o que era típico nos ciclos de produção de umavião.
Para exemplificar, entre muitos casos, o período de fabricação de um únicoBANDEIRANTE, desde o início dos cortes das chapas até seu voo, era de
aproximadamente 9 meses. Se a cadência de produção previa quatro unidadespor mês, isso significaria que, num dado momento, haveria 36 unidades emordens de fabricação nas linhas de produção. Se um único item fossenecessário para cada avião, o fornecedor teria que garantir a entrega deapenas quatro unidades por mês. Efetivamente, era muito pouco.
Na época em que a empresa foi criada – logo no início dos anos 70 – aprodução da indústria automobilística brasileira estava em crescimento. Erafácil acompanhar e observar como surgiam e operavam as inúmeras empresassatélites dedicadas a produzir autopeças. Quando se comparava com aindústria aeronáutica era fácil constatar as disparidades. Enquanto nas nossaslinhas falávamos em quatro aparelhos por mês, as montadoras de automóveisestabeleciam cadências de 12
mil ou mais unidades a cada 30 dias. E esses números ainda eram aindamenores, quando comparados com outras grandes produtoras de automóveisno mundo.
Para facilitar o nosso diálogo com as empresas potencialmente interessadasem trabalhar conosco, fazíamos um cálculo rápido e aproximado, o qual nosparecia dar uma ideia clara da diferença entre a indústria aeronáutica e aautomobilística.
Dividíamos o tempo de trabalho semanal de um operário da fabricante deautomóveis pelo número de veículos fabricados no período, fazendo o mesmoem relação à EMBRAER. O resultado era acachapante. Na produção deautomóveis um empregado trabalhava em média cerca de 20 segundos porveículo produzido; enquanto isso, na linha do BANDEIRANTE(considerando a produção de apenas quatro unidades ao mês), chegávamos aoresultado, bem diferenciado, de 40 horas por pessoa, por cada aviãofabricado.
Isso demonstrava, acreditávamos que as indústrias eram diferenciadas e que ooperário qualificado para montar um automóvel poderia ser bastanteespecializado em tarefas únicas e orientadas para um pequeno mundo à suavolta. No caso do empregado da indústria aeronáutica, responsável pelaexecução de 40 horas de trabalho por aeronave produzida, ele teria que semostrar multivalente e capaz de executar tarefas diversificadas.
Nos primeiros momentos, quando se caracterizava o início das atividades daEMBRAER, e a publicidade que se produziu sobre a disposição de o Brasilentrar no 265
seio dos países fabricantes de aviões, muitas empresas do ramo de autopeçasprocuraram-nos para diversificar e encontrar novos nichos de negócios.Algumas ainda tentaram adaptar-se e fabricar componentes para aeronaves,mas a maioria, em face dos cálculos efetuados, compreendeu que precisavamnão somente de novos investimentos para produzir o que se requeria, massobretudo de uma nova cultura operacional. A consequência foi que umagrande parte delas desistiu e, a cada defecção, nossos desejos de terceirizar aprodução eram contidos.
Entretanto, a criação do ITA, formando engenheiros aeronáuticos – resultadodo visionarismo do Brig. Casemiro Montenegro Filho –, tinha dado frutos euma pequena quantidade de empresas foi criada, em particular na própria áreade São José dos Campos, para produzir material aeronáutico. Assim, logo noinício do esforço que empreendemos para encontrar subcontratantes, emparticular de conjuntos estruturais, pudemos contar com algumas empresaslocais e com outras, como, já mencionado, havia os exemplos da AVITECIndústria Aeronáutica S.A., do Rio de Janeiro. Estabelecida há longo tempona área aeronáutica, a AVITEC recebeu encomendas da EMBRAER paraproduzir os controles do BANDEIRANTE: ailerons, leme de direção,profundores e flaps.
Para o avião agrícola IPANEMA, toda a estrutura básica da fuselagem passoua ser produzida pela Sociedade AEROTEC Ltda. de São José dos Campos, aqual era de propriedade e dirigida pelo Carlos Gonçalves, um grande lutadore pioneiro da nossa indústria aeronáutica dos anos 1960 e 70.
Embora o quadro de subcontratações apresentasse contornos pessimistas,algum êxito foi conseguido e uma boa lista de empresas passou a trabalharconosco. Entre elas listava-se a Aeromot, Aeroservices, Alcan, AVIBRÁS,Bendix, Blindex, Bosch, Brasinca, Devilbiss, D.F. Vasconcelos, Good &Year, Ermeto, Elebra e muitas outras. Infelizmente muitas abandonaram osprogramas de trabalho após algum tempo e nós sempre compreendíamos asrazões. Afinal sabíamos que a indústria aeronáutica nunca oferecia escalas deprodução que compensassem os custos de fabricação, em particular aqueles
ligados à qualidade e de certificações oficiais. Em resumo, é uma indústriaexigente e de poucas encomendas. Esta é realmente uma equação que, emgeral, deixa os empreendedores assustados.
Essas condições de fabricação, realmente difíceis, fazem com que os produtosaeronáuticos sejam caros. Em geral um produto, quando produzido para serusado em aviões, aparece no mercado, sob valores várias vezes superiores aitens equivalentes para, por exemplo, automóveis. Isto é comum e causamuitas surpresas.
Do lado da EMBRAER, não tínhamos escolha e, sem muitas consideraçõesde volume de produção por item necessário, colocamos mãos-a-obra. Logo,começaram a se mostrar gabaritos, ferramentas, máquinas de usinagem(entramos 266
no campo das automáticas com comandos numéricos) e com instalaçõesespeciais para a proteção contra a corrosão dos metais aplicados nasestruturas dos aviões.
Neste campo demos um salto à frente, em relação à capacidade instalada nopaís e uma grande instalação foi destinada à galvanoplastia que, durantemuito tempo, foi mostrada aos visitantes como um cartão de visitas.
Um outro projeto, em particular no campo da infraestrutura produtiva, tomouum bom tempo de concepção e recursos para os investimentos: a Seção deTratamento Térmico, passo vital na construção aeronáutica. Realmente,quando se analisa o alumínio como matéria-prima, tem-se de admitir que setrate de um metal maravilhoso. Leve, com alta resistência estrutural,particularmente no campo de suas ligas, maleável, bom condutor deeletricidade ou de calor e, graças ao óxido que se forma em sua superfície,oferece boa resistência à corrosão. São características muito boas, todassomadas em um único metal. A mãe natureza parece ter inventado o alumínioporque sabia que o avião seria criado pelo homem. Não é de estranhar queeste excepcional metal tenha-se tornado básico e fundamental na construçãoaeronáutica.
Contudo, como sua proteção contra a corrosão seja um óxido natural, emtodos os trabalhos muitos cuidados e tratamentos precisam ser pensados e
incorporados, para assegurar uma vida satisfatória do produto final. Oproblema se complica quando se consideram suas ligas, as quais, em geral,contam com outros metais como cobre, zinco e magnésio. Todos esses outroselementos químicos apresentam características próprias e diferentes das doalumínio. Assim, além da corrosão superficial, o alumínio pode ser atingidopor uma das corrosões mais perigosas, a chamada intergranular que pode seiniciar em qualquer lugar, na superfície de uma peça ou mesmo no seuinterior, dificultando a detecção por qualquer exame externo. Esse tipo decorrosão, em geral, é decorrente de falhas no tratamento térmico das peçasque podem levar à concentração, num único ponto, de um dos metaisconstituintes da liga. E, isto pode formar diferenças de potenciais elétricos,determinando corrosão dentro de peças, sem que se mostre visibilidade aqualquer inspeção interna.
Daí a necessidade de investimentos que a EMBRAER decidiu realizar nosetor de tratamento térmico, provendo a fábrica com fornos sofisticados,dotados de instrumentação automática de grande precisão e constantementeaferida. Era absolutamente essencial conseguir a garantia de que todas aspeças tratadas na fábrica estariam, ao longo da vida de seus aviões, livres doespectro de problemas que a corrosão superficial ou intergranular têmcausado nos mais diferentes tipos de estrutura.
Nas áreas complementares, a EMBRAER também tinha de se equipar. Omundo vivia as fases iniciais do desenvolvimento dos computadores que,com suas 267
crescentes capacidades de aumentar em memória e em velocidade deprocessamento dos dados, prometiam tornar-se ferramenta essencial naconstrução de produtos complexos como os aviões. Para isso buscamoscontar com o apoio de professores do ITA que, junto com nosso pessoal,puderam desenvolver métodos e processos de cálculo estrutural,aerodinâmico e de sistemas que atendessem com presteza e segurança àsnecessidades das equipes de projetos.
Contamos para isso, entre outros, com dois destacados de nossos antigosprofessores do Instituto: Octavio Gaspar Ricardo e Fernando Venâncio Filho.
Naqueles momentos verificou-se que a capacidade de processamento do
nosso sistema de informática deveria ser expandida adequadamente parapoder tratar as enormes equações de elementos finitos necessárias aoscálculos estruturais e aerodinâmicos. Começamos a negociar comfornecedores a aquisição de um supercomputador moderno, considerado teratingido o estado da arte. A escolha caiu sobre o IBM 360 que, na época, noinício da década de 70, era a melhor máquina disponível no mercado. Defato, no início das nossas atividades de projeto, o equipamento foiprogressivamente respondendo, cada vez melhor, aos requisitos de nossaengenharia.
Todavia, à medida que aumentamos o espectro das atividades, incorporandonovos projetos e trazendo para o Brasil operações que anteriormente eramexecutadas no exterior, aproximamo-nos da IBM para discutir a possibilidadede aumentar a velocidade de processamento do 360 instalado na EMBRAER.Com certa presteza, os técnicos responderam aos requisitos sugerindo que omelhor caminho seria instalar um suplemento ao nosso computador, queabriria uma ampla possibilidade de cálculos, até então impossível para oequipamento existente. A IBM especificou um acessório, então denominado“Vector Processor”, o qual foi imediatamente encomendado.
A surpresa chegou quando soubemos que o Departamento de Estado doGoverno dos Estados Unidos tinha suspendido a operação sob o argumentode que o equipamento era considerado secreto e não poderia ser fornecidopara o Brasil.
O problema gerado pelo Departamento de Estado determinou o envolvimentodo nosso Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores). Anos se arrastaramna busca de uma solução que jamais foi conseguida. O problema, anos maistarde, morreu por si, superado por novos avanços tecnológicos.
Aquele talvez seja um dos problemas, entre os grandes, enfrentados pelaEMBRAER, que jamais foi solucionado, provocando sérios prejuízos aostrabalhos que precisariam ter sido executados. A linha de pensamento e dacultura dos norte-americanos jamais chegou a ser exatamente compreendidapor nós. Era colocado como receio de que o Brasil, com uma capacidadeelevada de processamento, pudesse se engajar em pesquisas de bombasatômicas ou em 268
projetos de mísseis de longo alcance, com o objetivo de ataque a outrospaíses!!!
Foram inúteis nossas afirmativas de que o “Vector Processor” seria instaladoem computador já em funcionamento numa fabricante de aviões, a qual nãotinha, entre seus projetos, nada conectado com artefatos atômicos ou mísseis.Nada adiantou e o equipamento jamais foi fornecido. Todavia, a tecnologiados computadores desenvolveu-se, ofereceu novas opções e incumbiu-se deaniquilar a recusa dos burocratas.
E não foi a primeira nem a última vez que algo parecido aconteceu. Nomundo de hoje, onde nenhum país pode pensar ou almejar ter o domínio doconhecimento mundial – mercê do extraordinário desenvolvimento dastelecomunicações –, se restrições são colocadas sobre alguém ou sobre algumpaís, seria suficiente uma vontade nacional forte para que, em relativamentepouco tempo, as equipes técnicas vocacionadas fossem capazes de encontrarsolução alternativa e conseguir atingir os objetivos desejados.
Realmente o progresso das nações, no domínio do conhecimento avançado,na atualidade, depende muito mais da capacidade criativa dos técnicos do quedos planejamentos dos Governos que, muito mais do que no passado, podemfuncionar somente como catalisadores, gerando os recursos para que seprocesse o desenvolvimento científico e tecnológico. No campo doscomputadores temos um exemplo clássico. A burocracia japonesa vaticinou,na década de 70, que o futuro estaria nos supercomputadores, determinandopesados investimentos do Governo nessa orientação. O futuro veio ademonstrar que, na realidade, nada poderia combater a tendência dosutilizadores na direção dos micro ou computadores portáteis, na imensavariedade que se encontra, nos dias de hoje, nos mercados.
Todos concordam que o Século XX foi rico em derrubar paradigmas epensamentos ortodoxos que, de uma forma ou outra, se tentou impor aodesenvolvimento das tecnologias e dos produtos. Há uma clara e verdadeirarebeldia da sociedade em acompanhar previsões de supostos técnicos que,quase legislando em termos mentais, tentam prever como o futuro irá situar-se e como deveria ser moldado. Nisso parece que os economistas sãoimbatíveis. No balanço final vemos que esses são como os meteorologistasque tentam prever as condições do tempo localmente. Erram bastante!
8.As Primeiras Vendas
O Difícil Problema das Condições de Venda
Em 1971, apenas um ano após o início de funcionamento da EMBRAER,ainda não sabíamos se nossa linha de produtos seria capaz de penetrar nomercado civil.
269
No ano anterior, em maio de 1970, a empresa tinha firmado com a ForçaAérea Brasileira os contratos de fornecimento de 80 Bandeirantes e de 112EMB-326GB’s, os quais, segundo as cláusulas de pagamento estabelecidas,asseguravam o faturamento mensal necessário para a vida normal dacompanhia. Tínhamos grande confiança nas possibilidades de umBANDEIRANTE civil, em razão do número realmente grande de cidades dointerior que tinham perdido o serviço de transporte aéreo, pelo simples fatode gerarem quantidades de passageiros incapazes de preencher umaproporção adequada de assentos nos grandes aviões utilizados pelas empresasde linhas aéreas. Aliás, esta tinha sido a ideia básica que deu partida ao nossoempreendimento.
A cada ano que passava, a confiança no nosso produto fundamental crescia esabíamos que novas empresas de transporte deveriam ser criadas parapreencher a grande lacuna que se formava. Muitas cidades, através de suaspopulações empresariais e de seus Governos municipais, pressionavam asautoridades aeronáuticas para encontrar soluções e garantir o retorno dotransporte aéreo, considerado essencial às atividades econômicas.
Na área civil nossos produtos incluíam o IPANEMA, avião de emprego naagricultura, e o planador URUPEMA. Entre os dois acreditávamos que aagricultura poderia tornar-se uma provável fonte de demanda e aquilo tinhade acontecer em breve, pois com a homologação de tipo do avião em breveteríamos de projetar as cadências de produção. Em conjunto com o Ministérioda Agricultura fizemos alguns estudos de mercado potencial, os quais forambaseados nas quantidades de aviões similares importados, e os resultadosforam encorajadores.
Era lógico, portanto, pensar que o IPANEMA seria o nosso primeiro produtoa despertar interesse, embora fosse um tipo de aparelho sempre consideradomuito especial e destinado a uma demanda bem específica. São conhecidas asdificuldades que os fazendeiros encontram para controlar as pragas e asdoenças das plantas. Para isso usam muitos tipos de equipamentospulverizadores de defensivos, entre eles os aviões. A vantagem deste é que,sobrevoando as plantações, não provocam estragos e ainda trabalham avelocidades de aplicação significativamente mais altas do que qualquer outroequipamento terrestre.
O avião, embora seja um produto caro e sofisticado, requerendo cuidadosespeciais no seu uso, tem mostrado eficiência bem maior que qualquer outromeio usado e, com o avanço da tecnologia, aspersores modernos já eramdesenvolvidos e podiam ser utilizados com segurança e precisão. Asinstalações eram em geral nas asas, permitindo pulverizar ou polvilhar, comdosagens bem controladas, amplas variedades de produtos, com riscosmínimos para os operadores e para as próprias plantas.
270
A aceitação do avião, como agente de proteção das plantas contra pragas edoenças, já era muito grande. Havia uma significativa quantidade de aviõesimportados em serviço, em praticamente todas as regiões do país. Ao lado deoutras técnicas modernas, a aviação agrícola era objeto de muitos estudos,notadamente nos Estados Unidos, e os especialistas eram unânimes emafirmar que era um contribuinte essencial para o acentuado aumento daprodutividade agrícola, conseguido em todas as regiões em que foraempregada de forma profissional e competente. Já naquela época algunspassos estavam sendo dados para a criação de fertilizantes factíveis de seremaplicados por aviões agrícolas, o que representava um outro grande potencialde uso dos aparelhos.
O IPANEMA, quando se tornou disponível, começou a ser procurado e, emmarço de 1971, a Empresa Corsário de Aviação S.A., do Campo de Marte(São Paulo), colocou uma carta de intenção para a aquisição dos dezprimeiros exemplares a serem fabricados. Aquela iniciativa teve o mérito delevantar os problemas que enfrentaríamos para comercializar os aviõesbrasileiros, e eles foram bem mais complexos do que supúnhamos.
Os aviões são produtos caros, e no contexto das classificações burocráticastalvez estejam num caminho entre um bem de consumo durável e um bem decapital. As condições básicas de venda sempre teriam de incluir umfinanciamento a ser concedido ao comprador, mais ou menos dentro dasmesmas condições que se conseguiam para aeronaves equivalentes noexterior.
Para financiar as vendas a única opção disponível no Brasil era o BNDES,Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social . Em face doambiente econômico-financeiro nacional pressionado por altas taxas deinflação, era impossível pensar-se em bancos comerciais, concedendocréditos de longo prazo e a taxas de juros competitivas, no nível daquelas quenormalmente se praticava no exterior.
Antes de nos habilitarmos a produzir propostas comerciais de vendas aosnossos potenciais compradores, tivemos que nos ajustar e discutir com asautoridades, e com o BNDES, as condições gerais através das quais umfinanciamento poderia ser concedido e transferido ao comprador final. Umaquantidade de requisitos era requerida, envolvendo documentação e aconstituição de garantias capazes de assegurar a liquidez da operação.
Naquela fase vários problemas foram encontrados. O primeiro, e o maisimportante entre os demais, era constituído pelo curto prazo do financiamentoe pelo alto valor das taxas de juros que, de início, levavam as prestações deamortização do empréstimo a valores considerados demasiados pelosutilizadores.
Por outro lado, não foi possível fechar as negociações contando com ospróprios aviões como garantia suficiente para a concessão dos empréstimos.Embora tivesse 271
sido demonstrado que isso acontecia nos financiamentos americanosconcedidos pelas empresas dos Estados Unidos, quando exportavam seusaparelhos para o Brasil, o BNDES argumentava que tal procedimento nãoseria possível no nosso país. No caso americano havia alternativas legais,concedidas ao US Exim Bank, que asseguravam o fechamento das operaçõescom relativa rapidez e facilidade.
Absolutamente não era o nosso caso, aqui no Brasil.
Em adição àquelas dificuldades, tipicamente voltadas para a comercialização,defrontamos pela primeira vez, e com certa profundidade, com os problemasda tributação. Até então não se tinha sentido o problema, pois nas vendasefetuadas para a FAB – a Força Aérea é um órgão do Governo Federal e a elediretamente subordinado – o problema não tinha surgido devido às isençõesde impostos que naturalmente são concedidas às entidades governamentais.
Para os aviões importados a tributação igualmente não era uma dificuldade. O
Brasil, como signatário de acordo internacional de não-tributação de aviões,suas peças, componentes e equipamentos, teve de adaptar suas leis internaspara aquilo prescrito pelo consenso mundial. Assim, para os produtos civis alei brasileira sempre previu privilégios especiais, concedendo às empresasoperadoras de aviões, de transporte aéreo, de táxi-aéreo e especializadas (esteconceito incluía as pulverizadoras agrícolas) isenção do imposto deimportação e dos impostos nacionais em geral. Nosso IPANEMA, aocontrário, sendo um produto nacional não podia gozar dos mesmos benefíciosfiscais.
Iniciamos real uma “via sacra” para conseguir isonomia no tratamento fiscal,o que, nos termos da legislação nacional, não foi possível. Após longasdiscussões com as autoridades, com o apoio total do Ministério daAeronáutica, o melhor que se pôde obter foi isenção do IPI (Imposto sobreProdutos Industrializados) e uma redução para 4% do ICM. Mesmo com essaalíquota, considerada baixa nos padrões brasileiros, a dificuldade paracompetir com os aviões importados sempre foi grande.
Outros mecanismos tributários aumentavam os óbices enfrentados pelaEMBRAER para a venda dos seus produtos ao mercado interno nacional. Anorma legal publicada tinha assegurado, quando da criação da empresa comoSociedade de Economia Mista e vinculada ao Poder Público, que os insumosnecessários à produção dos nossos aviões seriam isentos do Imposto deImportação.
Infelizmente, em face da pequena base industrial aeronáutica do país, umasignificativa parcela dos componentes e equipamentos necessários aos nossos
aviões teria que necessariamente vir do exterior. No entanto, a lei asseguravao benefício fiscal unicamente para os produtos que não tivessem similaresfabricados no país.
272
Havia itens para os quais não havia dúvidas e a fiscalização aceitava-os semnenhum problema. Contudo havia outros, sobre os quais ocorreram longas epenosas discussões. Quando se perdia os argumentos o jeito era pagar osimpostos para se conseguir as liberações das mercadorias Alfândega. Alémdo tempo perdido, muitas vezes afetando o normal funcionamento das linhasde produção, a estrutura de pessoal requerida tornou-se dispendiosa,diretamente afetando os custos de produção e, por consequência, o própriopreço dos aviões fabricados.
No campo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de naturezaFederal, a arena passou para o Ministério da Fazenda, em Brasília. Paraencurtar a odisseia, acabamos vencendo parcialmente e consagrando umasolução que, como sempre acabou por ficar salomônica. Conseguimos asisenções do IPI e as reduções das alíquotas do ICM, todas concedidas portempo determinado. Contudo, os compradores, empresas ou pessoas físicas,jamais conseguiram escapar do Imposto sobre Serviços (ISS), que émunicipal. Isso sempre constituiu vantagens significativas favorecendo osaviões importados. É muito provável que esses fatos expliquem por quetemos poucos aviões brasileiros voando no Brasil e expressivas quantidadesno exterior. As exportações eram – como ainda hoje o são – isentas deimpostos.
Essa discussão toda era considerada desgastante, assim como o relato que orase faz. Em resumo, a luta para vencer aquelas condições insatisfatórias edesvantajosas para a produção nacional foi longa e jamais vencida em suatotalidade. Ainda hoje, quando este livro segue para a publicação, o pesodesse cenário afeta os resultados da produção aeronáutica nacional.
A homologação internacional dos produtos EMBRAER
O desmembramento da EMBRAER do Departamento de Aeronaves (PAR)do CTA, em 1970, deixou para trás a Divisão de Homologação que, como
organismo tipicamente governamental, não poderia seguir com uma empresade direito privado, que caracterizava nossa nova constituição jurídica. Assim,o CTA continuou a ser a entidade brasileira responsável pela aprovaçãotécnica dos produtos aeronáuticos no Brasil. Desse modo, para que nossosaviões pudessem ser vendidos no território nacional, o Certificado deHomologação de Tipo (CHT), emitido pelo Centro Técnico, era umdocumento fundamental para que o Departamento de Aviação Civil pudesseemitir o Certificado de Aero navegabilidade de cada avião e designar a suamatrícula oficial.
Assim, era claro, quando atingimos 1972, que o nosso DepartamentoTécnico, sob o comando do Eng. Guido, estivesse dedicado à finalização doprojeto do novo BANDEIRANTE bastante modificado em relação aosprotótipo do IPD 6504, 273
buscando consolidar as experiências conquistadas no período de ensaiosrealizados até então, e fazendo os ajustes consequentes, para que o modelofosse homologado antes que o primeiro exemplar de fabricação seriadaestivesse pronto para sair das linhas de produção. Isso estava previsto paramês de julho.
Progressos tinham sido conseguidos e, em dezembro de 1971, já se tinhaobtido a emissão do CHT (Certificado de Homologação de Tipo) brasileirodo nosso avião agrícola, o EMB 200 IPANEMA. Os conceitos internacionaisestabelecem que tais documentos apenas sejam os iniciais, pois, ao longo daoperação de um avião sempre problemas novos se apresentam, constituindoum contínuo aprendizado a determinar modificações que precisam seroficialmente aprovadas. Dessa forma as autoridades reservam-se o direito dealterar os termos das homologações emitidas, o que obriga todas as empresasfabricantes a manter um apoio constante de engenharia sobre os produtosoperando no mercado.
Com o IPANEMA homologado, os esforços da equipe dirigiram-se para oBANDEIRANTE. As modificações feitas em relação aos protótipos iniciaisforam substanciais. O avião tinha sido alongado, com quase dois metros amais, para acomodar 15 passageiros, mesmo que com uma pequena distânciaentre os assentos (32 polegadas, pouco mais de 80 centímetros). O peso dedecolagem tinha saltado dos primeiros 5.100 quilos para 5.700, que era o
limite máximo aceito pelos regulamentos internacionais adotados para seuprojeto. A consequência óbvia desse crescimento foi à necessidade de seaumentar a potência dos motores, que dos 580 SHP iniciais passaram para620 SHP (Shaft Horsepower). A Pratt & Whitney do Canadá mostrava a suaversatilidade lançando com bastante velocidade modelos diversificados desua PT6, cuja fama começava a se espalhar pelo mundo, como a turbina depequena potência preferida pela maioria dos fabricantes internacionais.
Os ensaios estáticos ainda estavam sendo efetuados no CTA, uma vez quenossas instalações de testes no Laboratório de Ensaios da EMBRAER, o F-45, ainda estavam em início de construção. Nesses ensaios, cada componenteda parte estrutural ia sendo progressivamente “torturado”, recebendocarregamentos com incrementos sucessivos, até chegar à ruptura. Com issoficava claro o limite de carga que se poderia impor, inicialmente, aoscomponentes e, ao final, à estrutura completa. Do mesmo modo estavam emprocesso de montagem os ensaios para determinar a vida em fadiga daestrutura.
Sobretudo nos aviões comerciais esse limite de vida da estrutura precisa estardeterminado, e esse processo de determinação estende-se por longosperíodos.
Por essa razão, fizemos um cronograma apertado para completar asinstalações da EMBRAER e ali montar os equipamentos para ensaiar oBANDEIRANTE e o IPANEMA. Durante anos era possível se ver as duasestruturas sofrendo cargas 274
aplicadas por macacos hidráulicos programados para simular carregamentovariados. Tudo com o objetivo de se concluir sobre a segurança dos aviõesnas diversas operações possíveis desde a decolagem até o pouso.
Vale a pena falar mais sobre o alumínio. Leve e resistente, em particularquando produzido sob a forma de ligas, tornou-se uma matéria-primaobrigatória em aeronáutica. Além dessas características muito desejáveis, oalumínio é dúctil, resistente à corrosão e aceita bem a deformação a frio. Noentanto, qualquer elemento estrutural fabricado com o alumínio, mesmo comsuas mais resistentes ligas, sempre apresentará um limite de vida por fadiga.Os resultados diretos de esforços cíclicos aplicados à estrutura, milhares ou
milhões de vezes, colocam-no sujeito à ocorrência de fraturas em áreas deelementos mais carregados. Por esta razão a experiência e os regulamentosaeronáuticos determinam que qualquer estrutura, fabricada com alumínio,precisa ser submetida a ensaios particulares que determinem a resistência doconjunto final ao fenômeno denominado como fadiga.
Para isso foram requeridos investimentos significativos em equipamentosespeciais, capazes de simular no solo as diversas condições de voo de cadamodelo específico de avião. Essas condições simuladas são aplicadas porciclos de carga e de tempo determinados, repetindo-os sistematicamente paragarantir que qualquer estrutura dos modelos ensaiados sempre se apresentasselivre dos problemas de fadiga dos materiais.
Foi depois de completarmos todos os requisitos colocados em regulamentosdo FAA (Federal Aviation Agency dos Estados Unidos), e apósapresentarmos ao CTA os respectivos relatórios técnicos de ensaios e desistemas, que pudemos receber, ao final de 1972, o Certificado deHomologação de Tipo (CHT 7202) que autorizava o BANDEIRANTE aoperar normalmente, inclusive no transporte aéreo de passageiros.
Estava vencida uma importante etapa. O nosso avião tinha galgado umdegrau a mais e, uma vez fabricado, estaria apto a receber uma matrículaoficial emitida pelo Departamento de Aviação Civil.
Os Mecanismos de Comercialização
Com essas condições entramos em 1973. A produção dos Bandeirantescomeçava a ganhar velocidade. A cadência de fabricação brevementeatingiria a meta programada de quatro unidades por mês. Dispondo-se derecursos financeiros e do capital de giro necessário, sabíamos que a força detrabalho disponível, com o entusiasmo que a todos dominava, chegaria aoalvo previsto. O
mesmo modo acontecia com o XAVANTE e o IPANEMA.
Agora já era certo que teríamos êxito nos programas de fabricação. Embora acomplexidade inerente ao produto, aprendemos com rapidez e os aviõesestavam 275
começando a emergir das linhas de fabricação. Os planejamentos deprodução, as máquinas, os equipamentos e ferramentas estavam a postos paragarantir a posição da EMBRAER como fabricante de aeronaves. No entanto,estávamos chegando ao maior desafio do nosso empreendimento: vender osprodutos num volume tal que pudesse preencher a capacidade instalada. Paraisso toda a mobilização seria necessária.
Aquilo que tinha sido um enorme obstáculo para o êxito dos antigospioneiros da indústria aeronáutica nacional parecia que estava sendosuperado. O problema se transformara. Agora era necessário vender o que seproduzia. No entanto, existiam números ótimos de produção, correspondentesa um nível eficiente de exploração dos ativos produtivos. Desde o início doempreendimento tínhamos a convicção de que o mercado nacional, emboraimportante, jamais seria suficiente para gerar uma demanda que atingisse osníveis ótimos.
Ao se fazerem tais considerações não estava sendo colocada a questão daqualidade dos produtos, sua eficiência nos serviços que deveriam produzir,seus preços, e assim por diante. É claro que tinham de ser adequados, o quenós imaginávamos já ter sido conseguido. O desafio estava dirigido aodesenvolvimento e à implantação de um sistema de vendas eficaz, e, mais doque isso, equipado com as ferramentas básicas de marketing e oferecendocondições atrativas, preços, financiamentos, prazos de entrega, garantias,assistência técnica, etc. E ainda, se tudo isso fosse atingido a pergunta era: omercado brasileiro compraria todos os aviões que viéssemos a produzir? Aresposta clara era “não”.
No campo militar, os programas caminhavam, graças aos contratos de maiode 1970 com o Ministério da Aeronáutica, envolvendo os Bandeirantes e oXAVANTE.
Contudo, na área civil, ou seja, no mercado privado, envolvendo o interessede empresas ou mesmo de pessoas físicas, o problema continuava a sersubstancialmente diferente e apresentava contornos novos, com os quaisnunca tivéramos contatos anteriores.
O desafio das vendas para o setor civil era um problema ainda por servencido pelo Departamento Comercial, dirigido pelo Renato José da Silva, o
qual, até aquele momento, ainda não tinha exercitado seus músculos. Tudoera matéria de debate, cobrindo os amplos e complexos detalhes de selecionaro melhor sistema de vendas, montar esquemas de assistência técnica, tornardisponíveis aos usuários às milhares de peças de reposição necessárias àoperação, o estabelecimento de ciclos viáveis de revisão de itens recuperáveise, sem dúvida, a fixação de políticas de preços de peças, serviços e dasremunerações dos canais de venda. Enfim, naquela área problemas nãofaltavam.
Na área de vendas as opiniões divergiam e circulavam as perguntas, semprese centrando nos dois extremos, vendas verticalizadas, isto é conduzidas pelaprópria 276
fábrica, ou se elas deveriam ser feitas por terceiros. Tudo indicava que, emface das dimensões geográficas do mercado, a direção mais razoável pareciaser a de estabelecer parcerias com empresas independentes, as quais, gozandode concessões exclusivas em regiões limitadas, seriam remuneradas porcomissões embutidas nos preços de venda. Esse era o processo usado pelastrês empresas americanas vencedoras no nosso mercado, CESSNA, PIPER eBeechcraft.
Foi decidido que a EMBRAER aplicaria esse sistema, que prevaleceu porlongo tempo, embora nossas margens de retorno não permitissem práticassemelhantes às generosas taxas de remuneração dos canais de venda,adotadas pelos nossos concorrentes americanos. Uma outra diferença queadotamos foi a eliminação da figura do distribuidor (um meio de caminhoentre a fábrica e os representantes regionais), uma vez que, estando a empresainstalada no país, parecia lógico que ela assumisse essa responsabilidade.
Essa forma de negociar e de vender acabou sendo consagrada e suasvantagens apareciam, com mais intensidade, em relação ao nosso aviãoagrícola IPANEMA, cujo tipo de mercado era diferente daquele doBANDEIRANTE. Enquanto o avião agrícola era vendido para um grandenúmero de compradores, operando nos mais variados locais, o nosso avião detransporte de passageiros ou de pequenas cargas deveria ser vendido para asempresas de linhas aéreas que, em geral, compravam mais de um exemplar eoperavam-nos a partir de bases estabelecidas.
Por essa razão as entregas dos IPANEMA’s para os operadores ocorreram deforma mais veloz e, assim, foi uma festa quando a CORSÁRIO DEAVIAÇÃO, empresa de Ribeirão Preto, recebeu nosso primeiro aviãoagrícola de fabricação seriada, o PT-GBA, que foi colocado em operação,pela primeira vez no país, na cidade de Santa Helena, no estado de Goiás, emmarço de 1972. A experiência inicial foi sobre uma cultura de algodão,enfrentando uma situação crítica de pragas que atacavam a plantação, o queexigiu uma média de voo de 8 horas por dia. Era então uma atividade de sol-a-sol.
BANDEIRANTE era um caso particular e diferente. Ele seria usado comoum veículo de transporte aéreo e, assim, operado por empresas profissionaisque faziam de suas operações aéreas a razão fundamental do seu faturamento.Desse modo a seleção e compra de aviões é para uma empresa do setor umdos itens mais fundamentais. Equipes técnicas são solicitadas para estudar oproduto, sob os mais variados ângulos técnicos e econômicos. À medida quenos engajávamos mais nos processos de oferecer nossos aviões aosprofissionais das companhias de linhas aéreas, mais ficávamos convencidosquanto à importância de se projetar produtos que pudessem, se isso fossepossível, responder ao maior número entre os requisitos requeridos por cadacomprador. Embora a colocação possa ser simples e direta, na práticaaprendemos que o problema não era fácil e, ao contrário do que 277
poderia parecer, apresentava ângulos muitas vezes difíceis de seremcompatibilizados entre si.
Embora todos estivessem motivados para vender, nós tínhamos de reconhecerque não nos tinha sido possível, pelo menos até aquele momento, coletar econsolidar experiência em um trabalho nada fácil. E nós, membros daDiretoria, não estávamos seguros quanto à orientação geral, e decisões nãoeram certamente unânimes. As vendas no Brasil sempre dependeriam deregulamentação especial do Departamento de Aviação Civil, já que o sistemade transporte aéreo regular sempre está ligado a concessões de atividadeexpedidas pelo Governo Federal. O
sistema, envolvendo aviões de menor porte, já estava em franca expansão nosEstados Unidos. Lá haviam se formado as pequenas companhias – asCommuter Airlines, caracterizando empresas de porte reduzido que
utilizavam aviões de, no máximo, até 19 passageiros, prestando dois tiposbásicos de serviço:
• os então chamados feeder services (serviços de alimentação) que faziamligações entre as pequenas comunidades e os grandes centros, em geral ascapitais dos Estados; e
• as commuter que atuavam, de forma independente, explorando os serviçosde transporte entre pequenas cidades.
Para qualquer um dos tipos de serviço o BANDEIRANTE ajustava-seperfeitamente e, no Brasil, começou a despontar como uma boa opção emface de suas dimensões e características de voo. É claro que havia asalternativas com os aviões produzidos em outros países, como o TWINOTTER, fabricado pela De Havilland do Canadá, que, todavia, era bem maislento, oferecendo como vantagem uma decolagem e um pouso que requeriampistas menores. Uma outra alternativa, muito difundida, era o norte-americano BEECHCRAFT 99, o qual, sendo um derivado do bem-sucedidoKINGAIR da BEECH, entrou no mercado sob ventos favoráveis. Outrosmodelos fabricados por outras empresas norte-americanas ou europeiastentaram colocar seus produtos no mercado brasileiro, porém não tiveramêxito.
Desde o início sabíamos que a introdução do nosso BANDEIRANTE nomercado nacional não seria fácil. Tradicionalmente as empresas brasileiras detransporte aéreo gozavam de isenção total de impostos para importar seusaviões, equipamentos e peças. Enquanto isso, em face da incipiência doproduto nacional, não havia jurisprudência fiscal para tratar a produçãobrasileira de aviões, que era pioneira. A tributação que pesava sobre os aviõesproduzidos no Brasil era quase completa, carregando nossos preços finaiscom cerca de 30% sobre o valor do produto, quando comparado com osimportados. Vencer este capítulo foi difícil, não somente naquele início devida da EMBRAER, mas ao longo da vida de todo o empreendimento, umavez que, sempre que se conseguia um favor fiscal, este era 278
temporário. A legislação brasileira, notoriamente complexa, dificultava,quando não impedia, a conquista de alguma vantagem competitiva para osprodutos nacionais.
O Choque do Fornecimento para o Mercado Comercial
Foi nesse contexto que chegamos a 1972, com os primeiros Bandeirantes nofinal da linha de produção, configurados para a entrega à Força AéreaBrasileira. Na época, era Ministro da Aeronáutica o Ten. Brig. JoelmirAraripe Macedo, que, interessado em nos ajudar a desenvolver o mercadoprivado, abriu a oportunidade, através do Departamento de Aviação Civil,para que as principais empresas de transporte aéreo do país pudessemadquirir o avião.
Seguindo a determinação do Ministro, o Departamento de Aviação Civil doMinistério da Aeronáutica criou o SITAR (Serviço Integrado de TransporteAéreo Regional) o qual, foi uma inspiração do próprio Diretor Geral, oTenente Brigadeiro Cadete do Ar Deoclécio Lima de Siqueira. Entusiasmadocom o futuro do novo segmento de transporte aéreo, propôs e fez aprovartoda uma legislação de estímulo que surtiu efeitos medidos com clareza nofuturo. O Serviço visava estender o tráfego aéreo para as pequenascomunidades, usando preferencialmente o nosso BANDEIRANTE.
As grandes empresas brasileiras de transporte aéreo, concessionárias das maisimportantes ligações entre grandes cidades brasileiras, se interessaram pelonovo mercado criado pelas resoluções governamentais e reagiramfavoravelmente, dando origem às primeiras negociações.
Entretanto o pessoal interno da EMBRAER, e mesmo a Diretoria, adotouposições de cautela. Não por falta de entusiasmo, mas a razão fundamental éque a empresa não se julgava preparada para a colocação dos seus produtosno mercado civil. Mais do que isso, entregá-los para serem utilizados porempresas de transporte aéreo que já tinham estrutura operativa complexa,decorrente da operação de aviões modernos, os quais eram produzidos porempresas internacionais de reputação consolidada e de comprovadaexperiência no campo aeronáutico, como as americanas, BOEING,DOUGLAS, e a europeia, AIRBUS, além de outras de menor porte.
Muitas coisas preocupavam e, olhando sob qualquer ângulo, utilizar um aviãomilitar que acabava de ser desenvolvido, no início das fases de produçãoseriada e colocá-lo sob um regime de real “massacre”, que são os voos sob ascores de uma empresa de transporte aéreo. Tudo conformava uma operação
de alto risco. Note-se que os produtos comerciais, em geral, seguemregulamentos e especificações diferentes dos produtos militares, em aspectosextremamente amplos.
Paralelamente, creio ser possível a todos reconhecer que um avião como um279
produto complexo e extremamente sensível perante a opinião pública. Onosso desejo intenso era colocar aquele primeiro produto operandoinicialmente na Força Aérea que, embora tecnicamente seja bastantequalificada, fora dos casos de guerra, jamais solicita seus equipamentos numnível equivalente ao requerido pelo tráfego comercial. Uma utilização dentroda FAB, por um período, seria de enorme ajuda para vencer as certamentepresentes “doenças da juventude” que afetam qualquer novo produto nomercado.
No entanto, não pôde ser como se desejava. O BANDEIRANTE teria de irdiretamente ao combate. O remédio foi trabalhar duro, minimizar os possíveiserros e, embora não acreditássemos nisso, teríamos que tentar conquistar aboa vontade dos operadores comerciais e conseguir deles ajuda para venceraqueles primeiros passos. A lista de coisas a fazer era imensa.
Um dos problemas, situando-se entre os de maior envergadura, era o danecessidade de reescrever toda a documentação técnica que, composta porvários volumes, estava inteiramente preparada para atender aos requisitosmilitares, não se apresentando dentro do formato estabelecido pela ATA(Airline Transport Association) e, assim, fora dos padrões usados pelasempresas civis. O contrato sob o qual nossos Bandeirantes tinha sidoproduzido era aquele assinado em maio de 1970 com a FAB, cujo objetivoera fornecer aviões para uso militar que, em épocas de paz, é, em geral, bemmais tolerante, em termos de disponibilidade e de despachabilidadeoperacional, do que as linhas aéreas que operam com horários apertados.Uma das ideias que tínhamos, quando lançamos nossas primeiras vendasprivilegiando a FAB, era ganhar experiência na produção de aviões militares,aprendendo e ganhando experiência com ela, para posteriormenteassumirmos responsabilidades junto a um operador privado.
Nenhum desses argumentos impressionou o nosso Ministro Araripe. Assim,
nossas preocupações naufragaram e, sem alternativa, passamos a negociarcom o entusiasmado Comandante Omar Fontana, Presidente daTRANSBRASIL, e com Luiz Rodovil Rossi, então Presidente da VASP, oqual, embora não tivesse a aviação como origem de formação, mostrou serum profissional competente e dedicado defensor de sua companhia.
As empresas de transporte aéreo não são notoriamente capitalizadas nemapresentam patrimônios elevados. Era uma novidade no Brasil encontrarsoluções para se montar esquemas de financiamento para produtos de elevadovalor, como os aviões, destinados à operação por empresas de perfilfinanceiro caracterizado como de risco. Para os países mais desenvolvidosesses problemas já foram superados há tempos. No entanto, entre nós tudoera novo e teria de ser enfrentado diretamente com as autoridades do maiornível do nosso sistema financeiro. Caso possibilidades de negociações nãofossem encontradas, o 280
interesse, despertado para que a VASP e a TRANSBRASIL comprassemnossos aviões, poderia ser desviado para a importação dos nossos
concorrentes, sobretudo dos Estados Unidos, que atuavam fortemente nomercado doméstico brasileiro. E essa não era a opinião do Ministro Araripe,que concordava conosco e via, na fabricação dos aviões nacionais, umaoportunidade para o desenvolvimento do transporte aéreo brasileiro,estendendo-o e capacitando-o para atender as pequenas cidades do interior dopaís.
Isto nos impôs uma pressão enorme para modificar os aviões praticamenteprontos e os adaptar para o uso civil. Efetivamente, uma proposição degrande respeito técnico!
Foi uma experiência e tanto. Com todo o esforço, o processo levou quase umano para ser completado. Para a EMBRAER soava como se a frequência deuma rádio emissora tivesse sido trocada. A tônica mudou por completo. Foitudo feito com enorme velocidade: nossos empregados passaram a lutar comintensidade para atender às novas especificações e as correspondentesexigências das empresas, substituir equipamentos instalados, alterar adocumentação técnica, estabelecer critérios de decolagem e pouso, segundorequisitos civis, e assim por diante. É certo que aprendemos muito, mastambém é certo que apanhamos de verdade, com o pessoal técnico das duascompanhias operadoras pondo seus dedos em nossas faces, dizendo:
“Os americanos não fazem assim”.
Por mais frustrantes que fossem os casos, claro que tinham razão. Nãodeveria caber nenhum recibo para o nosso noviciado.”
281
Foto 42 Omar Fontana, presidente da Transbrasil.
Após reais maratonas acabamos por firmar um contrato com aTRANSBRASIL, em janeiro de 1973, para o fornecimento de seisBandeirantes, na configuração para transportar até 15 passageiros, além dosdois pilotos. Não foi fácil, como prevíamos, a corrida para reconfigurar osaviões da FAB, na linha de montagem final, e transformá-los em modeloscivis, respondendo, até o limite das possibilidades, aos requisitos colocadospela empresa. Pouco menos de três meses depois da assinatura do contrato,
em 11 de abril, a primeira unidade, o EMB-110
PT-TBA, foi entregue ao Presidente da empresa, numa rápida cerimônia naprópria EMBRAER.
A velocidade do projeto não se reduziu com a entrega do avião. Ao contrário,Omar Fontana quase de imediato, implantou novas conexões entre cidades e,quatro dias depois, aquele primeiro exemplar estava em operação nas linhasno sul do Brasil, voando entre Paraná e Santa Catarina. Era um marco nahistória da aviação comercial brasileira. Nunca anteriormente um aviãoprojetado e construído no Brasil entrara em serviço regular em umacompanhia do porte da TRANSBRASIL.
Os casos registrados no passado sempre tinham caracterizado operaçõeseventuais que nunca chegaram a atingir os altos níveis de utilização que osBandeirantes registraram naquela operação.
Para a VASP, em agosto do mesmo ano, fechamos o fornecimento de cincoEMB
110 BANDEIRANTE. E valeu a regra: “Nunca se vendem aviões iguais paraempresas comerciais diferentes”. As especificações colocadas pela VASPforam outras, em relação às da TRANSBRASIL. Isso significou maistrabalho e mais modificações nas áreas técnicas de projeto, de produção etambém, é claro, na documentação técnica requerida.
Todos tinham noção da importância do evento e o Presidente da VASP, LuizRodovil Rossi, não fez por menos, desafiando o nosso pessoal com aafirmativa de que:
“o trabalhador brasileiro vinte anos atrás conseguiu, fabricandoautomóveis, mostrar sua capacidade de montar um parque industrialimportante para o país. Agora, era a vez da indústria aeronáutica”.
282
Foto 43 Primeiros Bandeirantes entregues à Transbrasil.
Cada novo momento novos problemas eram criados, com uma enormepreocupação para nós, pois as soluções demandavam tempo e impactos sériosnos programas de fabricação. Teríamos que conviver com as naturaisinsuficiências nas nossas recém-nascidas estruturas de assistência técnica e deapoio após-venda e para o fornecimento de peças de reposição. Encetávamosas soluções em alta velocidade, trabalho para o qual, por mais que nospreparássemos, teria que funcionar mais o coração do que uma realorganização. Era claro para todos, para nós e para os operadores, que não setinha experiência.
O maior receio era ocorrer algo de errado na operação. Era o que menosdesejávamos. Considerando-se a sensibilidade com que a opinião públicaolha os aviões, se tivéssemos alguma fatalidade seria muito difícil corrigir.Não temíamos a qualidade do produto. Afinal, tínhamos testado tudointensamente. Os equipamentos básicos que utilizávamos eram os mesmos,ou pelo menos tinham a mesma origem daqueles que comumente se
encontravam nos aviões de maior porte. Os protótipos que fabricamos novelho PAR tinham demonstrado uma enorme confiabilidade, emboraoperando sob condições bem diferentes. Enfim, se de um lado estivéssemospreocupados, de outro estávamos convictos de que teríamos feito, até então, omáximo possível. O resultado é que montamos uma 283
real maratona para cumprir tudo aquilo que nos era imposto. Aqueles quedela participaram certamente jamais poderão se esquecer das imensasdificuldades vividas.
Eram momentos de reflexão e de ação. Quanta coisa tinha acontecido naquelecurto período de tempo, desde quando, no dia 2 de janeiro de 1970,estávamos às voltas com a gráfica para produzir o primeiro papel de cartacom o recém-desenhado logotipo da EMBRAER. Muito tinha sido feito e jáse preocupava com as comunicações, de uma forma mais racional,procurando atingir cada empregado, em tentativas de lhe contar o que e comoas coisas estavam acontecendo. A cada trinta dias era editado um exemplardo jornal interno O BANDEIRANTE que, embora com diagramação “feitaem casa” e de apresentação muito simples, com apenas seis a oito páginas,era esperado com ansiedade pelos empregados.
Eu, em particular, numa tarde de agosto de 1973, a sós no meu escritório daEmpresa e com uma visão das árvores plantadas no estacionamento deautomóveis em rápido crescimento, abri o exemplar do nosso jornalzinho e liuma reportagem cuja manchete era “Nós Fabricamos Aviões!”.
Senti um arrepio em todo o corpo. Tinham-se passado 27 anos desde que, naaula de Química no velho Ginásio do Estado, tinha perguntado ao professorpor que nós, no Brasil, não os fabricávamos.
O curioso era a sensação paradoxal. E, no entanto, olhava para frente epensava quanto ainda teríamos de fazer. A natureza coloca-nos sempredesafios crescentes, os quais, é interessante notar, por vezes são consideradosdifíceis ou mesmo impossíveis! Todavia, as metas de anos anteriores, tudoindicava, estavam progressivamente sendo atingidas. Contudo, nas nossascabeças, muito mais esforço deveria ser colocado para continuarmosconcentrados nos alvos, os quais eram modificados, quase naturalmente, àmedida que o anterior era atingido. O
sonho estava ali realizado; porém, na natural ambição humana, o caminho àfrente parecia muito maior que aquele já percorrido.
9. O Esforço Internacional
As incertezas dos momentos iniciais
Por que algumas empresas ou instituições crescem e prosperam? Estapergunta traz à tona discussões fascinantes (e muitas vezes preocupantes). Osproblemas que afetam o desenvolvimento dos empreendimentos têmconsumido um bocado do tempo de estudiosos, das empresas e dos Governos.Embora muito tenha sido feito para compreender as forças que atuam einfluem para que uma entidade se desenvolva e consiga o sucesso,infelizmente parece que ainda não se têm 284
respostas satisfatórias. É difícil identificar o caminho a percorrer e até hojetudo indica não terem sido encontradas as fórmulas mágicas ou secretas paraque, como remédio milagroso, se possa conduzir um empreendimento para oêxito.
Na realidade todos sabem da necessidade de muito trabalho, empenho,inovação, persistência e, sobretudo, bom senso, tudo tomando como base odesenvolvimento de uma cultura positiva de fé e entusiasmo, professada porempregados e dirigentes. Alguns desses atributos parecem que a EMBRAER
efetivamente obteve e a eles deve-se muito do sucesso alcançado em umcampo notoriamente difícil, onde muitos outros no passado infelizmente nãoconseguiram lograr êxito. Afinal o avião é realmente uma máquina querequer amplos conhecimentos técnicos e suas vendas não ocorrem emambientes e em realidades fáceis.
Por muitas vezes, na história do nosso empreendimento, momentos difíceisforam vividos. Afinal, as tentativas de fabricar aviões no Brasil, que nuncaconseguiu estabelecer boas bases tecnológica e industrial, já tinhamdemonstrado que não se constituíam de iniciativas que poderiam serclassificadas como naturais.
Muitos pioneiros da maior competência lutaram por anos e jamais
conseguiram assegurar uma continuidade das atividades por longos períodos.
Uma característica básica relativa a esse tipo de produção industrial é aquantidade expressiva de itens necessários para que um avião seja fabricado.Além de o número ser grande, tudo em geral apresenta característicasespeciais que não são ordinariamente requeridas para outros tipos deprodutos. No Brasil, como país em desenvolvimento, o necessário sempre foiobtido através de um grande esforço. Era normal que as equipes tivessem quepreencher vazios, os quais, por mais boa vontade que tivessem, por vezes nãoeram conseguidos. Somente o entusiasmo e a crença contínua geravam asforças ou alternativas para prosseguir.
Se ampliarmos os pensamentos relativos à conquista do êxito, que sempre foiuma intensa preocupação da nossa equipe, ressalta-se, entre os atributosessenciais à boa performance empresarial, a palavra “competitividade”.Como conseguir transformá-la em realidade, e quais seriam os processospráticos e lógicos para desenvolvê-la, tornou-se uma preocupação central detodos. Ficamos surpreendidos em constatar que se tornou generalizada aconcepção de que caberiam unicamente à empresa as ações necessárias e atarefa de se transformar em um empreendimento competitivo, isto é, fabricarprodutos melhores, vendê-
los a preços mais favoráveis e em condições mais atrativas que aconcorrência poderia fazer. No entanto, a experiência vivida e os fatosdemostraram que essa concepção não é verdadeira.
285
Michael Porter, no seu livro As Vantagens Competitivas das Nações (TheFree Press - Division of Macmillan Inc. - New York, U.S.A. - 1990), discuteintensamente o tema e, num certo momento, coloca:
“Por que as empresas, estabelecidas em alguns países, foram capazes decriar e sustentar, em campos particulares, vantagens competitivas sobre osmelhores competidores no mundo? Como uma nação pode consistentementetornar-se base para o estabelecimento de empresas que gozam de liderançamundial, nos seus respectivos campos de atuação?”
Porter, em seu livro, gasta 800 páginas discutindo o assunto comextraordinária competência e busca respostas, citando uma quantidade deexemplos mundiais.
No entanto, diz ele:
“Embora saibamos que o ambiente nacional, caracterizado por sua basecultural e seus costumes, as virtudes sociais e a forma pela qual um paísopera sejam condições importantes para a prosperidade, infelizmente faltam-nos metodologias eficazes e convincentes para explicar e desenvolvermecanismos capazes de contribuir significativamente para o desenvolvimentode cidadãos e de empresas de sucesso”.
No caso particular da EMBRAER, jamais conseguiríamos fabricar aviões senão fosse possível conseguir convencer a sociedade, o Governo, as pessoas eos próprios colaboradores que os objetivos, por difíceis que parecessem, eramexequíveis.
Parece que cabe uma comparação com a agricultura. Se a semente é boa, éplantada no período certo, com as técnicas adequadas e em terreno fértil, achuva vem como previsto, a colheita pode ser compensadora. Para o setorindustrial seria o mesmo. Se as condições de operação do empreendimentoencontram um ambiente favorável, proporcionado pelo país e pela região emque opera, as chances de que o produto seja melhor e bem aceito crescem,como crescem as perspectivas de trazer os resultados esperados para oinvestidor e para a própria comunidade.
Para nós da EMBRAER, que estávamos entrando em uma atividade pioneira–
embora as tentativas do passado de fabricar aviões no Brasil tivessem nosdeixado importantes lições –, logo cedo, realmente nos primeiros passos davida da empresa em 1970, compreendemos que seríamos cobrados pelosresultados que conseguíssemos. Terminada a fase dos protótipos, não maisestavam em jogo as expectativas que tinham sido constantes na fase heroicainicial. Jamais consegui esquecer-me da permanente pergunta que nos erafeita:
“Esse avião que vocês estão construindo vai mesmo voar?”
286
Esse questionamento ficou tão gravado em nossas cabeças que setransformou quase em uma obsessão. O trabalho, até aquele momento, estavaapenas concentrado para que o nosso avião voasse. Quando o voo ocorreu,deparamo-nos com novos passos, mudando o objetivo que, a partir de então,deveria ser outro.
Precisávamos levar o BANDEIRANTE até a fabricação.
Pode parecer óbvio, mas sempre se sabe que a legião dos críticos é grande ecriativa, garantindo continuamente sua presença marcante nas sociedades.Afinal eles não correm os riscos; somente aqueles que procuram construir éque estão sujeitos a ser objetivamente comparados com os resultados. São osque se expõem ao riscos os que apresentam as vulnerabilidades se algo nãofunciona. Sentíamos que vivíamos um período histórico, sem a possibilidadede cometer erros, pois, tínhamos de estar certos que, no caso de operaçõesaéreas, a mídia mundial e mesmo as populações nada perdoam. Por outrolado, é curioso notar no comportamento humano que as pessoas não seconstrangem em apontar erros e reclamar, mas ficam reticentes quandoelogiar.
Agora tínhamos uma empresa de construção aeronáutica operando e oquestionamento tinha se alterado. A nova pergunta deveria ser:
“Esse avião que a EMBRAER está fabricando será vendido? Quem será, ouserão, os compradores?”
Evidentemente a resposta não era fácil e muito mais difícil era torná-laconsistente e aceitável. Cheios de dúvidas, tentávamos responder eprocurávamos evitar transparecer o pouco que sabíamos. Mas era forçosoreconhecer que quem perguntava tinha razão e tocava em algo que nos erasensível. Justamente isso era o que mais nos preocupava.
O BANDEIRANTE tinha voado. A notícia espalhou-se pelo Brasil e erarazoável esperar-se que os aviões projetados e desenvolvidos deveriam ser
vistos operando, transportando passageiros. Para isso deveriam ser fabricadose vendidos. Embora isso fosse óbvio, nós, que estávamos no centro doempreendimento, sabíamos que a nova etapa seria difícil e possivelmenteintransponível. Tínhamos definido a meta e não mais poderíamos voltar atrás.A realidade era única: teríamos de enfrentar a temida fase de fabricação.
Naquele momento funcionou o enorme entusiasmo do Brig. Paulo Victor,que não media esforços pessoais para nos ajudar e estimular, mesmo nosmomentos da maior frustração. Talvez ele confiasse demasiadamente naequipe, mesmo sabendo das enormes dúvidas que nos assaltavam. Dequalquer modo ele trabalhou muito para contribuir com sua pertinácia, paraque pudéssemos construir um novo tipo de mente que aceitava o risco eprocurava vencer!
Começamos a pensar e executar a montagem de um cenário capaz de nostransmudar de um empreendimento técnico de pesquisas e desenvolvimentopara 287
uma empresa industrial, dedicada à produção e às vendas. Isto seria o que nosexporia aos olhos de todos. Embora a distância entre a criação e odesenvolvimento do avião e sua fabricação fosse enorme para nós, do pontode vista da sociedade, a fabricação do BANDEIRANTE era simplesmente umpasso a mais e realmente decorrente. Isso efetivamente poderia ser verdade,mas do ponto de vista puramente racional do empreendimento industrialnecessário, estávamos perante dificuldades muito grandes.
De qualquer forma o desafio fora posto e, a partir daquele momento, osnúmeros é que contariam; eles seriam os indicadores do sucesso ou dofracasso.
Notadamente os financeiros. O que a sociedade agora olharia e no que estariainteressada, nessa nova fase, seria numa EMBRAER como empresaprodutiva: resultado de sonho ou de entusiasmo ela teria que ser aprovada nosexames da vida empresarial. Haveria análises práticas e calcadas nos rígidos egelados parâmetros econômicos, mostrando sempre um resultado empresarialde progresso, de desenvolvimento e de resultados positivos.
Sim, isso era verdade! Nós seríamos os responsáveis pelo equacionamento
dos problemas colocados, os quais nunca seriam únicos, pois nosengajávamos numa iniciativa sem base de comparação no país. Jamaispoderíamos nos esquecer de que nosso empreendimento era pioneiro e oambiente nacional não oferecia indústrias de apoio para a produção de algotão diversificado como o avião.
Entretanto tínhamos de aceitar que a opinião pública que nos rodeava tinha oseu modo de pensar, e certamente iria comparar-nos diretamente com osprodutos importados; se concordávamos ou não com isso, era irrelevante. Oque sobrava de tudo é que tínhamos aceitado uma opção de risco e cabia anós superar os obstáculos. Afinal, embora respeitássemos o tamanho da tarefaque tínhamos nos imposto, era comum perguntarmo-nos:
“Não eram os aviões fabricados em várias partes do mundo?”
Verdade! Mas, acentuávamos nós, por um pequeno número de empresas e emalguns países! Será que o nosso país não ofereceria os atributos essenciaispara que se encontrassem os caminhos do êxito?
“Por que não poderiam também ser produzidos no Brasil e vendidos nomercado internacional?! Agora era a nossa vez de perguntar.”
Com isso era forçoso se concordar. Afinal não havia nenhuma razão paraqualquer complexo de inferioridade. Essa era a constatação racional, contudona prática e com toda a sinceridade, estávamos temerosos.
Todos os argumentos procediam e quando pensávamos na complexidade doproduto com o qual lidávamos, requerendo tantos componentes eequipamentos não fabricados localmente, era difícil imaginar que nossosaviões pudessem ser produzidos com a eficiência que seria necessária.Poderíamos ser condescendentes 288
conosco, mas de uma dura realidade não poderíamos escapar: a nossaprodução aeronáutica tinha de ser capaz de competir no país ou no exterior. Oproblema é que nada daquilo que se passava por nossas cabeças poderiatranspirar para fora do nosso pequeno grupo e ser amplamente discutido. Selevássemos dúvidas para fora das paredes de nossas salas, as chances defracasso seriam quase totais.
Assim, com a consciência das dificuldades a serem enfrentadas e que tinhamde ser superadas, iniciaram-se os esforços para dimensionar (e conseguir) osrecursos fundamentais para materializar as projeções estudadas, garantir umaescala ótima de produção e oferecer produtos que pudessem atingir um nívelde faturamento compatível com os investimentos realizados. Isto é verdadeiropara qualquer empresa. Contudo é mais do que sabido que faturamentodepende de vendas e estas estão ligadas às características dos produtosoferecidos e dos mercados compradores, tudo subordinado à relaçãoqualidade/preço/ performance daquilo que vem a ser fabricado. No fundo étudo o que se deseja: vender uma quantidade de produtos que mantenha aplena ocupação das linhas de produção. Embora seja uma constatação comume normal, todos reconhecem que não é uma fácil tarefa.
No caso da construção aeronáutica as coisas se complicam. As margens deretorno financeiro nas operações de fabricação são em geral muito baixas e osinvestimentos necessários, grandes. Os aviões são caros para produzir e émuito comum que cada comprador peça modificações que podem resultar emprofundas alterações nos produtos. Isto nos obrigava a pensar que teríamos desomar ao preço dos produtos fabricados os custos de comercialização e,importante, ganhar com eles, aumentando a rentabilidade doempreendimento.
Requisitos dos compradores é que fazem o produto final ser aceito ou nãopelos consumidores. E modificações impostas pelo mercado são mais comunsdo que se imagina. Com a experiência fomos aprendendo que, no caso dosaviões, quase nunca. ou nunca mesmo, se têm em fabricação os produtos queos clientes desejam, tal a quantidade de atributos específicos que surgem emuma venda típica.
As reações das fábricas a esses pedidos precisam ser favoráveis, embora porvezes muito difíceis. O receio é que, sempre que se altera um produto, parasatisfazer requisitos de clientes específicos, se incide em custosos trabalhosde engenharia. Mas se a empresa estiver realmente determinada em vender,de algum modo deve procurar atender o que lhes pedem os potenciaiscompradores.
No caso do transporte aéreo, o problema agrava-se, pois o número de clientesé pequeno e sempre são os mesmos. Se falhamos um dia em atendê-los,
dificilmente voltarão no futuro.
Em resumo, consagra-se que é difícil encontrar, no campo do transporteaéreo, dois compradores que resolvam adquirir um mesmo tipo de aviãofabricado nas 289
mesmas configurações. Em outras palavras, não é provável haver dois aviõesiguais sendo utilizados por dois operadores diferentes. Por vezes os mesmosaviões de uma mesma linha aérea, embora vistos externamente pelospassageiros como do mesmo tipo e modelo, podem ser acentuadamentediferentes, apresentando configurações internas diversas, ou mesmoequipamentos variados de diferentes versões ou modelos.
Não creio que seria o caso de insistir no argumento de que fabricar aviõesrealmente não caracteriza uma indústria fácil. Embora guardando semelhançacom qualquer outro tipo de atividade produtiva em muitos aspectos, háalguns que são peculiares e mais críticos do que para qualquer outraoperação. Acresce-se que para a aviação inclui-se um outro fator importante,a segurança operacional, em relação à qual não se pode fazer concessões.
De um modo geral, mesmo para empresas produtoras, de grande porte econsolidadas no mercado aeronáutico, conseguir um volume de vendasequivalente ao ritmo da produção é problema que ainda não encontrousoluções permanentemente ótimas. É possível perder posições de vanguardano mercado para competidores mais ativos e perspicazes.
Sempre há um grande trabalho de preparação e de planejamento para olançamento da produção e, de repente, algo acontece e a demanda desaba.Um acidente mal explicado, um custo de operação que cresceu por algumaação externa (Governo, por exemplo), uma inadequação na introdução dosaparelhos em serviço e muitos outros fatores podem ser de influência ereduzir perspectivas de vendas promissoras.
De repente as vendas reduzem-se! Logo sobrevêm um clima de preocupaçãoe as reações, em face dos grandes investimentos a serem realizados, demoramnaturalmente. Daí é que vem uma explicação de por que os corajosospioneiros da fabricação aeronáutica de outrora muitas vezes não lograramencontrar os caminhos do sucesso.
As causas dos fracassos, de um sem-número de empreendimentos do passadoindustrial aeronáutico brasileiro, sempre nos preocuparam e tomarambastante do nosso tempo, tentando aprender com eles. Pudemos conhecerpessoalmente alguns, entre os muitos pioneiros, pelos quais sempre nutrimosgrande respeito.
Contudo, embora competentes e dedicados, de alguma maneira muitos dosseus bons aviões acabaram nem sendo fabricados. Quando pensávamos nasalternativas que tínhamos para construir uma EMBRAER, os pensamentoseram sempre voltados para compreender as más circunstâncias que poderiamadvir da atividade construtiva aeronáutica e criar-nos problemas.
A história da aviação mundial conta-nos que a luta dos pioneiros foi sempredifícil. Houve gente do maior quilate, homens capazes, idealistas e criativos,no 290
Brasil e no exterior, que buscaram alternativas para não somente projetarnovos aviões, mas também produzi-los. Alguns conseguiram sucesso echegaram mesmo a fabricar uma ou duas séries compostas de algumasdezenas de aviões, todavia, após algum tempo, foram forçados a abandonar onegócio. Nossa preocupação era a de procurar entender esses problemas,como surgiam e determinar como poderíamos resolvê-los, impedindo quepudessem nos afetar. Mais do que isso, era necessário buscar as equações,tentar soluções e aplicá-las de modo que, no futuro, não se pudesse dizer quea EMBRAER tinha sido apenas uma tentativa a mais.
Os custos para colocar em movimento uma linha de produção de aviões sãoconstituídos, entre outros, pelas grandes áreas cobertas necessárias,investimentos concentrados no ferramental e gabaritos de montagem dasestruturas, máquinas caras de produção de peças e de componentes,alimentação das linhas de fabricação com os insumos necessários,equipamentos de testes, pessoal bem formado e treinado, etc. Tudo em geralcustando muito dinheiro. Sobre isso, soma-se a necessidade de um enormecapital imobilizado em matérias-primas, peças, equipamentos e componentesem geral, tudo muito caro para os padrões de um indústria típica do Brasil; ouseja, é grande e dispendiosa a variedade de itens necessários para permitir afabricação da estrutura e dos variados sistemas que compõem um avião. Seisso é complicado em um país rico e desenvolvido que dispõe de uma
diversificada infraestrutura produtiva, imagine no Brasil, onde os itens maiscaros e mais sofisticados têm de ser obrigatoriamente obtidos no exterior.
O resultado é que a soma geral de todas essas despesas aparece transformadaem apreciável quantidade de dinheiro que, pelo seu custo (taxas de juros),acrescenta significativos valores ao capital de giro requerido, afetando nofinal o próprio preço do avião produzido.
Isso obriga o produtor a executar permanentemente verdadeira e contínuaginástica para conseguir manter à sua disposição um fluxo de caixaadequado, para alimentar as realmente esfomeadas linhas de produção,durante o ciclo de fabricação de cada avião.
Esse é um outro aspecto interessante. Qual é o período necessário para sefabricar um avião? Quanto tempo fica uma unidade na linha de produçãoacumulando custos que seriam recuperados somente com a sua venda?
Considerava-se razoável, para os aviões de transporte que desejaríamosfabricar
– digamos o BANDEIRANTE –, que, desde o corte da primeira chapa, oavião necessitaria de aproximadamente nove meses para ser concluído. Esseperíodo é normalmente conhecido como “ciclo de produção”. Para qualquertipo de indústria um ciclo dessa magnitude é verdadeiramente respeitável.Imagine-se que, durante 291
todo esse tempo, a empresa precisa pagar todos os insumos necessários paracompletar o produto, antes de receber o pagamento do comprador.
No caso do nosso exemplo, em face dos investimentos realizados parapreparar a produção, concluiu-se que seria necessário fabricar pelo menostrês Bandeirantes por mês – o ideal seria quatro unidades. Abaixo dessacadência de produção, modesta em relação aos padrões mundiais, o resultadopoderia determinar a não-lucratividade da linha. Tornava-se, emconsequência, importante conseguir vender os aviões de uma forma ajustadae a um ritmo correspondente ao da produção.
Difícil ou não, a conclusão é que os aviões fabricados têm de ser vendidos
(“claro!”, dirão muitos), numa cadência tão próxima quanto possível daquelaem que são produzidos.
Um dos horrores da indústria aeronáutica são os white tails (“caudasbrancas”), isto é, produtos fabricados, terminados e sem comprador. Aexperiência acumulada pelo setor mostra que fugir dos white tails não é umaproposição simples. Exige criatividade, bons produtos e uma formidávelforça de vendas.
Afinal, todos concordam que o produto “avião” é de elevado valor, oscompradores não são muitos, pressionam fortemente em relação aos preços,pedem financiamentos extra favoráveis e, com raras exceções, as empresascompradoras apresentam perfis operacionais que as tornam pouco elegíveiscomo clientes qualificados para conseguir financiamentos; isso é real, pelomenos aos olhos dos bancos.
As Alternativas para “aparecer” no Cenário Internacional
Logo nos primeiros anos convencemo-nos de que somente o mercado internobrasileiro não teria capacidade de absorver a quantidade ótima de aviões paraser produzida. Desde cedo, portanto, tornou-se necessário buscar alternativasno mercado internacional que, por outro lado, impunha problemas novos aserem resolvidos. Era evidente que exportar aviões de um país emdesenvolvimento –
procurávamos comparar – seria como cultivar em áreas do deserto etransformá-
las em produtoras agrícolas.
As dificuldades eram muitas, mas uma das primeiras era certamenteconseguir a criação e a consolidação de uma marca comercial que associasseo nome com o produto e que, ao mesmo tempo, inspirasse confiança nospotenciais operadores.
Este era efetivamente um trabalho bem pioneiro. Afinal o Brasil não tinhanenhuma tradição na fabricação de aviões. E, pior, não tínhamos nenhumamarca comercial sob a qual pudéssemos alojar aquilo que pretendíamos
produzir.
Seriam necessárias campanhas de apresentação dos produtos, associadas àpublicidade e contatos corpo-a-corpo com os operadores em todo o mundo.Era necessário desenvolver todo um sistema de comercialização passando portodas as 292
etapas, desde a excelência técnica do produto a esquemas de financiamento ede assistência pós-venda, tudo no nível do que os competidores mundiais jáofereciam. Tudo isso para nós era novo e ainda deveria ser temperado com afalta de tradição na área, de um país como o Brasil, que apresenta umaimagem de terceiro mundo e sem uma base conhecida de naçãoindustrializada. O processo de abertura de nichos para nossas vendas não foifácil e estendeu-se por um período bem maior do que esperávamos.
Não tínhamos muita escolha e a decisão foi direta. Era obrigatória a tentativapara conquistar o mercado internacional. E isso, entendeu-se depressa,ajudaria a penetração no próprio mercado doméstico brasileiro. Afinal,sabíamos todos, tudo o que tínhamos de avião no país era importado. Quantomais nossa produção se aproximasse daquilo que o consumidor brasileiroestivesse acostumado, tanto melhor.
Um hábito sempre cultivado por toda a equipe da EMBRAER era procurarestar permanentemente atualizada. Recebíamos e líamos grande parte daspublicações aeronáuticas mais destacadas dos países mais importantes. Eraimportante conhecer e utilizar a informação do que ocorria no mundo dosnegócios aeronáuticos. E foi com dados nas mãos, colhidos de diferentesfontes, que decidimos programar nossa participação em uma exposição deaviação, mesmo que estivéssemos presentes com uma quantidade pequena deprodutos. A escolha inicial recaiu no 29º Salão Internacional de Aeronáuticade Paris, programado para ser realizado no Aeroporto de Le Bourget, emmaio de 1971 na França.
Em geral as reservas de espaço para aquele Salão, que ainda é um dos maisimportantes eventos aviatórios mundiais, não era fácil. A fim deconseguirmos ser ouvidos fomos buscar ajuda no nosso Ministério dasRelações Exteriores (Itamaraty), que reagiu prontamente. Nossas autoridadesdiplomáticas entraram em contato com os organizadores do Salão, pedindo
espaço para a pequena empresa emergente do Brasil. Nossos supridoresfranceses do BANDEIRANTE, como a ERCA (sistema elétrico), ERAM(trem-de-pouso e sistema hidráulico), MARSTON (tanques de combustível),muito interessados no novo desenvolvimento de uma atividade industrialaeronáutica no Brasil, foram informados das nossas intenções e deram umaatenção especial. Esses esforços tiveram êxito e motivaram os organizadoresdo Salão a conseguir a área de que precisávamos.
A partir daquele momento começamos a entrar em um mundo novo. Nossasrelações com o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores,estreitaram-se. Nossos diplomatas, a maioria espontaneamente, passaram anos ajudar. Com a soma do esforço e o empenho de todos foi possível alugaruma pequena área para a qual montamos uma exposição compostaexclusivamente com modelos em escala e com fotos, ao lado de publicaçõesdescritivas da empresa e de seus 293
produtos. Naquela época os produtos eram o BANDEIRANTE – entãooferecido numa versão para 15 passageiros –, o EMB-326 XAVANTE e oEMB-120 IPANEMA.
Foi certamente uma presença modesta, sem nada de extraordinário para sermostrado no tradicional show aéreo. No entanto serviu para aparecer peranteum público mais amplo e mostrar a existência de uma nova empresa deprodução que, como disse um jornalista francês:
“Vinha de um país exótico, o do Carnaval!” .
O nosso pessoal de imprensa fez um bom trabalho e como consequênciachegamos a ganhar duas reportagens de capa em revistas francesas, a Air &Cosmos e a Aviation Internationale. O que ressaltava era a decisão daEMBRAER de colocar em produção um avião desenvolvido e fabricadoexclusivamente para transporte aéreo de passageiros das empresas commuter,isto é, de pequeno porte e atendendo as menores cidades. Era a primeira vezque se falava de um aparelho de transporte de pequeno porte, concebido edesenvolvido especialmente para as pequenas empresas de linha aéreacomercial. Isto causou visível surpresa. Até então o transporte aéreo regional– uma espécie de segmento subnutrido das grandes linhas tronco operadaspelas mais importantes empresas – não tinha merecido dos fabricantes o
projeto e o desenvolvimento de uma aeronave especí-
fica. O que existia no mercado eram variantes de aviões criados para aaviação geral ou executiva, adaptados da melhor maneira possível paraatender os requisitos dos passageiros.
O resultado foi bom e pudemos medir pelo número de interessados quedirigiram perguntas diretamente a nós, durante o Salão, e aqueles que nosprocuraram nos meses subsequentes. A equipe toda ficou entusiasmada pelacapa da Aviation Magazine. Ganhou-se um bom ânimo.
À medida que a EMBRAER crescia e colocava em posição os mais variadosmeios de produção, compreendíamos mais e mais que o avião não é umproduto qualquer. É sofisticado, caro, dependente de muita assistência técnicae extremamente sensível a qualquer evento que possa colocar em dúvida suaqualidade, eficiência ou segurança.
294
Foto 44 Nossa primeira capa em revista internacional, a AIR & COSMOS, daFrança.
Tomar a decisão de exportar um avião não significa, como para a maioria dosprodutos, tão-somente encontrar um comprador interessado. Considerando asimplicações relativas à segurança física dos passageiros e de terceiros, aresponsabilidade civil, todos os países mantêm órgãos governamentaiscompetentes para aprovar previamente qualquer tipo ou modelo de aeronaveque venha a voar sobre seu território e regulamentam a sua operação. Muitosargumentam que essa é uma forma para se dificultar a importação de aviõesproduzidos no exterior. Discussões à parte, o fato é que a entrada de um novotipo de avião em um país – sobretudo nos mais desenvolvidos – é um
processo complexo que envolve normas, regulamentos, ensaios, critérios desegurança, etc.
295
Os Processos Internacionais de Homologação
No 29º Salão de Aeronáutica de Paris de 1971, e esta foi uma das mensagensque trouxemos de volta para o Brasil, ficou muito claro que seria fundamentalestabelecer um processo que nos garantisse a conquista da credibilidadeinternacional. Por mais subjetivo que isso significasse o caminho, o primeiropasso
– em termos concretos – passaria pela obtenção da chancela de organizaçõescertificadoras internacionais que garantissem a operacionalidade e asegurança dos aviões produzidos no Brasil. A homologação, ou certificação,é um requisito fundamental. Sem ele corretamente cumprido não é possívelvender ou operar um avião.
Ninguém discute o conceito básico de se ter os aviões desenhados, projetadose fabricados segundo normas consagradas que garantam a segurança geral daoperação. Alguns, no entanto, referindo-se muitas vezes à complexidade e aoformalismo dos processos de aprovação de uma nova aeronave, chegam aafirmar que tudo não passa de barreiras não-alfandegárias para segurar forados mercados internos os produtos estrangeiros, dando alguma vantagemmercadológica para as indústrias nacionais. O tema pode ser largamentediscutido, mas é notório que a segurança dos voos é um requisitomundialmente aceito.
Quando, por hipótese, um avião se acidenta, o mínimo que acontece é umaampla repercussão em todos os países. Os acidentes aeronáuticos semprechamam a atenção; realmente o avião ainda hoje impõe respeito, e sempre éuma notícia de destaque, quando sujeito a uma avaria. Por brincadeira, pode-se dizer que
“somente há dois tipos de passageiros de aviões: os que têm medo de voar e...os mentirosos”.
Enfim, de uma maneira ou de outra, aqueles que voam têm seus cacoetespessoais para mascarar o receio de se deslocar na terceira dimensão, emborao transporte aéreo – através de relatórios internacionais de grande reputação –
desde há muito esteja consagrado como o meio mais seguro entre osdiferentes modais de transporte (exceto, provavelmente, os elevadores).
Nos casos de acidentes aeronáuticos, os organismos homologadores semprese envolvem na apuração dos fatos tentando conquistar novas experiênciasque evitem tais ocorrências no futuro. Na atualidade é impensável que possaocorrer um acidente com uma aeronave, operando a serviço de terceiros e quenão esteja homologada. Nenhum fabricante pode legalmente vender umavião, um operador utilizar em transporte de terceiros, se o certificado dehomologação não estiver cumprido.
Com tudo isso na cabeça, começamos nossas conversas e discussões paradeterminar qual o melhor caminho a seguir.
296
O mercado internacional reconhece que a homologação norte-americana,concedida pela FAA (Federal Aviation Administration) – uma organizaçãosubordinada à Secretaria dos Transportes dos Estados Unidos –, é das maisimportantes. A estrutura do FAA é enorme e competente. Graças a suadesenvoltura e capacidade de investir em novas normas regulamentares etécnicas de conformidade com critérios de crescentes de segurança, a FAAfoi capaz de colocar em vigor os mais variados tipos de regulamentos. Asequipes técnicas conseguiram consolidar toda uma experiência internacionalno campo das operações dos aviões e tudo isso serve hoje de base parapraticamente todas as aeronaves projetadas e construídas no mundo.
Logicamente, dentro desse contexto, a FAA tornou-se nosso alvo número um.
Discutido o assunto com o CTA – que no Brasil, na época, era a agênciagovernamental responsável pela homologação aeronáutica – chegou-se àconclusão de que teríamos de trabalhar para conseguir estender ahomologação brasileira e trabalhar nos requisitos para que ela fossereconhecida nos Estados Unidos.
Os primeiros contatos foram feitos e fomos informados de que haveria anecessidade de se firmar um acordo diplomático bilateral entre os Governosdo Brasil e dos Estados Unidos, com o objetivo de estabelecer regras enormas para a homologação recíproca de produtos aeronáuticos. O acordopreveria que os aviões aprovados no Brasil também deveriam receberautorização para operar nos Estados Unidos e vice-versa. É claro que issoestaria no papel. No futuro, viemos a compreender que condições especiaispoderiam ser requeridas e muitas vezes não seriam poucas.
Com auxílio do Ministério da Aeronáutica, chegamos ao Ministério dasRelações Exteriores, que se entusiasmou pela ideia. Durante todos os anosque durou o processo, trabalhamos com diplomatas, entre os maiscompetentes, na busca de conseguir a assinatura do acordo bilateral firmadopelos dois países. Lembro-me do permanente esforço e da dedicação depessoas como Paulo Tarso Flecha de Lima, Luiz Felipe Lampréia, FernandoAlves, Carlos Pardellas, Botafogo Gonçalves e muitos outros que, direta ouindiretamente, participaram da luta para que o tal acordo um dia fossefirmado.
O Itamaraty chegou a colocar em Atlanta, capital do Estado da Geórgia, nosEstados Unidos, um Consulado com o objetivo de nos ajudar na aproximaçãocom a FAA. Realmente os americanos construíram uma curiosa culturaconstituída de um misto de isolacionismo e de supremacia ante terceirasnações. Não foi sem um pouco de surpresa que soubemos, durante o processode homologação do BANDEIRANTE, que nossas ligações seriam com adivisão do FAA com sede em Atlanta. Isto porque estamos ao sul dos EstadosUnidos. Washington por exemplo lida com a Europa, enquanto o Japão devese submeter à Seattle (na costa oeste do 297
país) para homologar seus aviões e operar no território norte-americano.Assim, na concepção dos Estados Unidos, o mundo está dividido em quatropartes: a norte, a sul, a leste e a oeste do país. Geograficamente é a puraexpressão da verdade, mas não deixa de ser um pouco presunçoso.
Embora, de acordo com os regulamentos, um fabricante também necessite serhomologado, o processo de aprovação de um avião sempre se refere aomodelo específico e ao trabalho executado sobre um tipo de aeronave, nuncasendo extrapolado para outros. Esta é a regra e a elas todos se subordinam.
Tudo discutido, apenas restavam dois passos para dar início ao processo.
Teríamos que ter pelo menos um avião vendido a uma empresa ou a umcidadão norte-americano e, a partir disso, o Brasil deveria celebrar com osEstados Unidos o acordo diplomático de reconhecimento recíproco dehomologação.
Conseguir um comprador americano tornou-se uma longa história que souforçado a deixar para contar um pouco mais tarde. Embora não tivéssemosconquistado nenhuma venda, nossas autoridades diplomáticas esforçaram-see puderam conseguir, em 1975, a aprovação da FAA para a visita de uminspetor à EMBRAER.
O designado foi Keith Blythe, que, chegando a São José dos Campos, sededicou a examinar a infraestrutura aeronáutica básica brasileira – do CTA eda EMBRAER.
Ele passou quase duas semanas fazendo suas verificações e, embora tenhagostado da fábrica que estávamos construindo, ao final de seu trabalho entrouem minha sala e disse-me:
“O BANDEIRANTE jamais poderá ser homologado pela FAA”.
Fiquei chocado! Ora, tínhamos empenhado um grande esforço para fabricar onosso avião, acreditando que ele teria sido projetado em conformidade comas normas e regulamentos da agência norte-americana. De repente, semgrandes cerimônias, um norte-americano irrompe no nosso mundo de sonhose diz:
“Não! Não é possível!”.
Surpreso e procurando aparentar calma, perguntei-lhe por quê. Keith Blythepacientemente explicou que os nossos conceitos de projeto e de concepçãoprecisariam ser melhorados para que pudessem refletir as configuraçõesestruturais e soluções de sistemas de bordo no nível do estado da arteinternacional. Achava que o BANDEIRANTE era promissor do ponto devista das necessidades do mercado mas, em termos de projeto, precisaria sercompatibilizado com os últimos requisitos de segurança e de projeto. A sua
colocação de “não é possível” partia de uma premissa, dizia ele, que nós,tendo um avião pronto e em linha normal de fabricação, não teríamos fôlegoessencial para começar tudo de novo.
298
Naquele momento, já dono de um pouco de racionalidade, retruquei ao Keith:
“ Começar tudo de novo?”
“Não” , disse ele.
“É claro que o avião tem muitos pontos positivos, mas creio que o trabalhode reprojeto será grande, caso decidido a ser feito”.
Da forma mais simples que pude respondi:
“Bem, vamos fazê-lo” .
Pela expressão que Keith estampou em sua face, fiquei com a impressão deque ele não estava acreditando. De qualquer forma, polidamente eledespediu-se, certo de que tinha cumprido sua missão e de que a FAA jamaisvoltaria a ver aquele avião.
A previsão do inspetor Blythe não aconteceu. Em 1978, três anos depois, omesmo Keith Blythe retornou a São José dos Campos, no dia 18 de agosto,um dia antes do nono aniversário da EMBRAER. Numa cerimônia onde seencontrava o Embaixador dos Estados Unidos, assinou o Certificado do FAAde homologação do BANDEIRANTE. E ficou muito contente com isso,confessando publicamente o que já sabíamos, quanto o processo foi penoso edifícil. Ele nunca tinha acreditado que conseguiríamos.
Keith ganhou nosso respeito e, apesar da conversa espinhosa que tivéramostrês anos antes, gostei que ele tivesse regressado. Apesar de um funcionáriopúblico do Governo dos Estados Unidos, num certo momento, ter dito quenão seria possível termos nosso avião aprovado pelas autoridades do seu país,em nenhum momento criou-nos qualquer dificuldade e não endossouqualquer tentativa para fazer prevalecer o seu ponto de vista anterior.
Mostrou grandeza, mudando sua cabeça!
A estrada percorrida não foi realmente fácil. Sabíamos, em 1975 – logodepois que Keith nos deu a sua visão de que o BANDEIRANTE não passarianos crivos da FAA –, que a assinatura do acordo bilateral entre o Brasil e osEstados Unidos iria demorar algum tempo. O CTA teria de se equipar,ampliar sua base de recursos humanos e conquistar a confiança dasautoridades internacionais que já eram constituídas por técnicos antigos,experientes, reais fazedores das opiniões e de conceitos técnicos. A equipeoficial brasileira, a ser montada, deveria ser tecnicamente de alto nível,especializada em regulamentos, ensaios, etc., e, no momento em que seapresentasse perante as agências estrangeiras, seria no mínimo um grupojovem. A partir daí teria de conquistar a credibilidade técnica necessária comos inspetores dos demais órgãos internacionais, notadamente dos EstadosUnidos, Grã-Bretanha e França. No caso americano continuava em pé anecessidade do acordo diplomático, com forte embasamento técnico, a ser299
assinado entre duas nações, mesmo considerando-se que as infraestruturastecnológicas dos dois países eram bem diferentes.
As vendas para o Uruguai e Chile
Durante as discussões com as autoridades norte-americanas para formular eassinar o Acordo de Reconhecimento Recíproco de Certificação, decidimosque não ficaríamos parados. Assim, decidimos começar a trabalhar em duasvertentes: uma, melhorar nosso produto para conseguir conquistar,prioritariamente, a certificação americana, e, paralelamente, tentar venderaviões para os países que aceitassem a homologação brasileira, emitida peloCTA do Brasil.
A ideia funcionou e funcionou e num momento abriu-se a oportunidade parauma primeira negociação. Em sequência a uma visita do Presidente daRepública do Uruguai ao Brasil, em 1975, o nosso Ministério das RelaçõesExteriores – o Itamaraty – colocou na sua programação uma visita àEMBRAER. Um dia o Presidente chegou à EMBRAER, dentro daprogramação oficial, e gostou do que viu.
Indo diretamente ao ponto, pudemos com ele conversar longamente, detendo-nos em mais detalhes dos projetos e da fabricação dos aviões, mais do queseria razoável para um Chefe de Estado. A nossa escala de produção já eraalta e o número de aviões na linha de montagem final impressionava pelaquantidade e variedade de modelos. O Presidente uruguaio interessou-sebasicamente pelo BANDEIRANTE – para atuar como avião de ligação e detransporte para a Força Aérea – e pelo nosso agrícola IPANEMA.
Estávamos preparando-nos para a entrega do centésimo XAVANTE para aFAB e também uma centena de Bandeirantes para o mercado brasileiro civil emilitar.
Como fábrica de aviões, a EMBRAER já tinha uma face a mostrar e isso,certamente, impressionou o presidente do país amigo.
Foi uma negociação rápida. As autoridades uruguaias não colocaram muitosrequisitos que redundassem em modificações no projeto dos aviões. Ao longodo tempo começamos a compreender que a indústria aeronáutica apresentacaracterísticas bem diferenciadas em relação às empresas dedicadas a fabricaroutros produtos. Estávamos começando a ter os primeiros contatos com umcomprador. Ele parece que sempre estaria interessado em colocar seusrequisitos particulares que, em alguns casos, poderiam afetar profundamenteos aviões que se encontram nas linhas de produção. O receio está ligado a queos chamados
“custos não-recorrentes” (aqueles que agregam valor ao projeto e precisamser recuperados ao longo da quantidade fornecida) cresçam, e nem sempresão possíveis de ser agregados aos preços de venda, sob pena de se perder acompetitividade.
300
De qualquer forma, esse não foi o caso do Uruguai, naquela primeira venda.
Felizmente ocorreu assim, pois naquele momento, quando tudo era início, aEMBRAER não tinha grandes experiências e certamente teria dificuldade ematender qualquer modificação maior, dentro de prazos e custos possíveis paraa operação. Em 7 de agosto de 1975, no Quartel General da Força Aérea do
Uruguai, assinamos o contrato para o fornecimento de 5 unidades doBANDEIRANTE e 10 do IPANEMA – estes adquiridos pelo Ministério deAgricultura y Pesca, programando as entregas para poucos meses mais tarde.Foi realmente uma primeira vitória.
Vieram às nossas mentes as dúvidas que sempre assaltaram os permanentescríticos. Eles sempre foram profundamente céticos. Lembrava-me daquelesque duvidavam sobre a possibilidade de que um dia o BANDEIRANTEvoaria. Quando voou, duvidavam que seria vendido. Após as primeirasvendas, continuavam a colocar suas dúvidas arguindo se seria ou nãoexportado. Sim, aquela venda tinha todo um sabor particular. Nossos aviõesestavam sendo exportados. A marca EMBRAER, pela primeira vez, tinhasaltado a fronteira e começava a esboçar um perfil de produto internacional –embora a venda fosse ainda dentro do contexto do continente sul-americano.
Os mais céticos, contudo, ainda comentavam que exportação somente valeriase fosse feita, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o mundodesenvolvido.
Embora aquelas contínuas posições críticas muito nos aborrecessem, elastinham algum fundamento. As exportações para o mundo desenvolvido forambem mais complicadas e a história seria outra, que contaremos mais tarde.
As vendas de aviões começam com os contratos, que se seguem peloprocesso de fabricação – em geral sob fiscalização do comprador –, pelosprogramas de treinamento de tripulações e de mecânicos, montagem defluxos de peças de reposição, atualização constante de documentação técnicae assim por diante.
Durante todo o tempo em que os aparelhos permanecem em serviço, ainteração entre o fabricante e o operador é intensa. Durante todo o período háum processo de aprendizado recíproco e que requer atenção e convivênciacomum. Em resumo, fica muito claro que a venda não é um final de processo,e sim o início dele.
Aprendemos muito com aquela primeira negociação com o Uruguai, emboratenha sido a mais simples que jamais realizamos. Sentiu-se, de início, que,embora a fábrica pudesse ter uma ativa presença no mercado, a necessidade
de representantes locais era essencial. No desdobramento dessas ideiascomeçamos por colocar grande esforço para identificar empresas capazes ecomeçar a montar uma rede de vendas. As características e as reações que játivéramos oportunidades de observar no Brasil estavam se repetindo noexterior.
Precisávamos ter pessoas que promovessem os produtos nos diferentespaíses.
Isso teria que ser executado por empresas estabelecidas, corretamente 301
qualificadas em aeronáutica e dispostas para trabalhar com risco próprio, istoé, ser remuneradas somente quando vendessem nossos aparelhos.
Com nome ainda por ser implantado, e praticamente desconhecido, essatarefa não foi fácil e muitas das vezes tivemos que nos contentar com o queera possível, não com aquilo que era desejado.
Em sequência à primeira venda realizada para o Uruguai entusiasmamo-nose, logo no ano seguinte, em 1976, começamos a negociar com a Armada doChile. Ela estava interessada em duas versões básicas do BANDEIRANTE.Uma, destinada para o transporte em geral, e outra, para o patrulhamentosobre o mar, a qual requereria a instalação de um sofisticado radar e muitosoutros equipamentos especificados, em função das missões atribuídas à ForçaNaval. As negociações com os oficiais da Marinha do Chile foram duras eprofissionais. Ficamos verdadeiramente impressionados pelo grau deproficiência e pelo pragmatismo dos negociadores que, de um lado,dominavam as técnicas de emprego marítimo de aeronaves e, de outro,dispunham de equipes capazes de abordar qualquer outro aspecto doscontratos finais, em particular os econômicos e financeiros.
Tivemos êxito e o contrato foi assinado em 1976.
A Armada do Chile foi um comprador exemplar. O processo que implantoupara acompanhar a fabricação e posteriormente operar os nossos aviões foibaseado em extenso programa de preparação do pessoal e da logísticanecessária para assegurar uma operação sem sobressaltos. O nível deformação do pessoal especializado da Marinha do Chile impressionava. O
que se notava era a permanente disponibilidade de técnicos competentes, nasmais variadas especializações, e a existência de uma sólida política deinvestimento em manutenção e no apoio às operações. O resultado era quesempre foram capazes de manter os aparelhos operando sob altas taxas dedisponibilidade para o voo.
Por outro lado, ao longo dos anos conseguiram manter uma grande segurançaoperacional, mantendo os aparelhos em excepcional estado de conservação econquistando índices de eficiência dificilmente igualados por qualquer outrooperador da EMBRAER.
Continuamos a nos concentrar nos mercados mais periféricos, uma vez queos países do primeiro mundo ainda estavam distantes devido ao problema dashomologações requeridas. No Brasil estávamos tendo êxito. Havia umademanda interna para satisfazer. Os produtos mais procurados eram osBandeirantes e os Ipanema. Inúmeras empresas estavam agora utilizando osdois aviões, o que dava ao nosso pessoal de apoio e de assistência técnica umvolume de atividades bastante intenso, obrigando a contínuos deslocamentospor todo o Brasil.
302
A Busca de Oportunidades no Mercado do Exterior
À medida que intensificávamos os esforços para promover e vender nossosaviões no mercado internacional, mais e mais sentíamos a necessidadeurgente para conseguir os Certificados de Homologação que, infelizmente,eram obtidos quase um a um nos países mais desenvolvidos. No casoamericano o Acordo Diplomático abriu caminho para sancionar os longos edifíceis trabalhos técnicos realizados. Nos demais países, o conceito dedecisões bilaterais também foi aplicado, mas sem a exigência de acordosdiplomáticos, como foi o caso da França, Inglaterra e outros.
De qualquer forma, a base de entendimento sempre era no sentido de que oCTA funcionaria como uma espécie de agência avançada dos órgãoscertificadores estrangeiros. Deveria fazer o trabalho de campo, de análise dosnossos projetos, acompanhamento dos ensaios reais, enfim, envolvia-se emtudo o que fosse necessário para oferecer aos parceiros do exterior as
informações para ratificar o trabalho de homologação no Brasil.
Isto não foi feito apenas como uma consequência de ser o CTA um órgão doGoverno Brasileiro. Uma quantidade de cursos de treinamento foiorganizada, dentro de um amplo programa de formação de inspetores e deanalistas, os quais foram essenciais para dar credibilidade aos relatóriosproduzidos.
Naquele momento foi muito importante a contribuição do Eng. AntonioBakowski, meu colega de formatura do ITA, que por causa de suaespecialização em trabalhos de homologação acabou por tornar-se um dostécnicos brasileiros que logrou conquistar credibilidade internacional paraparticipar dos processos de aprovação dos nossos aviões. Do mesmo modoocorreu com o Eng. Oscar Abreu que, trabalhando em parceria comBakowski, pôde formar a dupla que se tornou essencial para a EMBRAERgalgar, com seus aviões, espaço no competitivo ambiente da indústriaaeronáutica mundial. Por muitas vezes ouvi, com orgulho, comentários deinspetores americanos e europeus, mencionando que Bakowski e Abreu erampeças essenciais em qualquer emissão de certificados para os aviõesnacionais.
Foi um trabalho extenuante o de homologação. Requereu um empenhopermanente com grandes investimentos em laboratórios de ensaios, emequipes especializadas e em equipamentos em geral. Além de tudo aquilo quejá tinha sido executado pelo CTA, sentimos a necessidade de aumentar oesforço e decidimos construir um prédio na própria EMBRAER, o F-20, queabrigou máquinas de testes modernas e com programação por computadorespara permitir aplicação das cargas de ensaios em modelos dos nossos aviõesconstruídos dentro da escala natural. Isto é, era possível colocar em teste ospróprios elementos estruturais fabricados para a instalação em aeronaves daprodução normal e deles obter os 303
dados necessários para a elaboração dos relatórios técnicos de embasamentodo processo homologatório.
Em particular essas máquinas, e os testes que elas eram capazes de realizar,transformaram-se em pontos de interesse mercadológico, pois em todas asvisitas que recebíamos na fábrica (que eram frequentes) estava no roteiro ver
alguns ensaios em progresso. Algumas vezes eram aplicações de cargasestáticas de grande volume que provocavam visíveis deformações nasestruturas, proporcionando algum espanto para os visitantes. Eles semostravam assustados ao ver o grau de deformação que as estruturas eramcapazes de suportar. As reações eram variadas. Alguns passavam a acreditarmais na resistência estrutural dos aviões, outros – creio que em sua maioria –agregavam mais um argumento ao inato medo de voar.
Em muitas oportunidades, os visitantes podiam ver aviões inteiros sendosolicitados em cargas cíclicas para determinar a vida em fadiga das estruturas.Todo esse volume de exposição externa tinha o propósito de mostrar o que sefazia em nome da segurança de voo. Independentemente do resultado pessoalque poderíamos gerar na cabeça das pessoas, parecia-nos essencial transmitira todos uma credibilidade técnica em função da pesada infraestruturainstalada. Sentíamos que precisávamos conquistar a confiança generalizadade que estávamos engajados no esforço de aplicar a melhor tecnologia nosnossos produtos. Era essencial transmitir a ideia, incluindo o públicointernacional, de que nossos aviões poderiam voar com segurança sob asmais variadas condições em todo o mundo.
Se o resultado das visitas tornasse os passageiros mais receosos este era,pensávamos, um problema pessoal. O que imaginávamos ser importante eratransmitir que o que fazíamos era nivelado com o que se praticava no mundodesenvolvido – nossos competidores.
Embora a carga de visitantes fosse pesada e tomasse muito do nosso tempo,não deixávamos de estimular as visitas. Para isso não faltava colaboração. AEMBRAER
tornou-se uma vitrine da tecnologia nacional e delegações das mais variadasorigens eram programadas para ver a empresa, pelos Ministérios daAeronáutica e das Relações Exteriores (muitas vezes as solicitações vinhamtambém de outros Ministérios ou órgãos do Governo). Buscávamos nuncafalhar e sempre transmitir aos visitantes toda a atenção, explorando aspectosnovos para lhes transmitir.
Assim, à medida que a infraestrutura da fábrica se estabelecia eterminávamos as obras gerais de pavimentação, a impressão colhida pelos
visitantes parecia ser cada vez mais positiva.
O futuro mostrou que, como entendimento dominante, muitos frutos foramcolhidos dessas visitas. No caso direto do Presidente do Uruguai, realmentenossas 304
vendas para aquele país efetivamente nasceram quando houve oportunidadede ele ver a EMBRAER e compreender como operava.
Foto 45 Newton U. Berwig e Ozires Silva: Início das obras da EmbraerAircraft Corporation, Fort Lauderdale, Estados Unidos.
O ano de 1978 foi importante. Naquela época já estávamos em posição deexplorar o êxito do trabalho finalizado para obter a aprovação doBANDEIRANTE
nos Estados Unidos, o que foi usado como afirmação positiva nos paíseslíderes do bloco Ocidental das nações. Assim, entraram na lista a França, aInglaterra e a Alemanha. No caso dos procedimentos requeridos pela França eInglaterra não havia sido requerido o acordo diplomático bilateral (caso dosEstados Unidos).
Assim nos foi possível conseguir que os técnicos europeus trabalhassemdiretamente com o CTA e com a EMBRAER ajustando mecanismos paracertificar os aviões produzidos, bem como as eventuais modificações. Essetrabalho, 305
completado também em 1978, o que abriu caminho às nossas exportaçõespara a Europa.
O trabalho intenso para a homologação americana do BANDEIRANTE,claramente alimentou a confiança de outros, como foi o caso da Grã-Bretanha, aonde despontou a CSE Aviation Ltd.. Ela foi instrumental nãosomente no seu esforço mercadológico mas também para nos auxiliar aconseguir a homologação inglesa exercida oficialmente pelo CAA – CivilAirworthiness Board.
Desde o início ficamos realmente impressionados pelo pragmatismo britânicoe sua burocracia. Eficazes, este é o termo. James Murray, do CAA, e suaequipe, trabalharam conosco, colocaram suas exigências, as quais cumpridasculminaram com a entrega do Certificado que valia para a Grã-Bretanha mas,também, influenciava positivamente o trabalho feito pelos franceses. Naépoca, a Europa já pensava em unificar os serviços de homologação; todavia,persistiam os requisitos para as análises e emissões de certificados pelasnações, independentemente de qualquer atividade global, em nome daComunidade Européia.
A CSE era um importante conglomerado de Oxford (Inglaterra) que cobriaatividades de formação e treinamento de pessoal, pilotos e mecânicos, alémde atuar como representante de venda de várias outras empresas, entre ela aPIPER
Aircraft Corporation, dos Estados Unidos. O motor fundamental de todo otrabalho que a EMBRAER e a CSE desenvolveram em cooperação foi CarrylWaterpark, um nobre britânico – excelente figura de homem e profissional.Carryl era o Lord Waterpark, como ficou conhecido entre nós, e contava comuma excelente experiência de vendas na Europa e no Oriente Médio. Ele foiresponsável por uma apreciável quantidade de Bandeirantes voando emdiferentes países, atuando como vendedor direto.
A primeira venda conseguida por Carryl foi para sua própria empresa, umBANDEIRANTE que recebeu a matrícula inglesa G-BMTV, encomendadoem outubro de 1977 e entregue no ano seguinte, assim que a homologação foiconcedida pela Civil Aeronautics Board (CAA). Carryl. Ele próprio, sempre
pilotando o avião, usou o exemplar para promover incansavelmente outrasvendas.
Conseguiu realizar um trabalho extraordinário em 1978, colocando nossosaviões na Air Westward, Air Shetland, Fairflight, Air Ecosse, Britair, SaudiaAirlines e Al Hikmah (estas duas últimas na Arábia Saudita). Realmente foium bom trabalho, executado com muita abnegação e persistência. Todos nósficávamos impressionados com ele. Dotado de uma energia fora do comumempenhava-se no trabalho de vendas com um entusiasmo que, por vezes, nosparecia impossível, mas, passado algum tempo, ele chegava contentemostrando a encomenda conseguida, por mais improvável que fosse.
306
Na França, do mesmo modo houve o trabalho de Pierre Jorelle da CGA,Compagnie Générale de Aviation, que identificou inúmeras oportunidadesnão somente na França como nos chamados países Franco fônicos da África.
Começamos a trabalhar com países dos quais apenas tínhamos ouvido falar eque nos pareciam extremamente distantes.
É fácil compreender que cada país tem peculiaridades próprias, sobretudo osEstados Unidos que souberam criar culturas particulares que, criticada ou nãopor outros povos, têm exercido influências marcantes no mundo. Já nosprimeiros meses de 1978 sabíamos que teríamos necessidade de montar umaestratégia específica para chegar ao mercado norte-americano, de longe, omaior e mais importante do mundo.
Naquela época, a atividade mundial no campo da aeronáutica crescia edesenvolvia-se muito rapidamente. A indústria trabalhava intensamente,produzindo novos aviões, alguns bem-sucedidos e outros não tanto,determinando diferentes destinos para as empresas produtoras. O ambiente demutação era envolvente. Empresas apareciam e desapareciam. As fusões eaquisições dominavam o cenário mercadológico, indicando que a tendênciaera de que somente as grandes seriam capazes de sobreviver. Um novohorizonte começava a despertar: o espacial, determinado desde o históricoprimeiro voo tripulado ao espaço pelo cosmonauta russo Yuri Gagarin.
O avião ganhava impulso e agora começava a influenciar comunidades comsua presença e capacidade de multiplicar e agilizar o processo de transporte.O advento do motor a reação, criando modernos e eficientes motores quequebraram o paradigma dos antigos motores a pistão, consolidou os novospadrões de velocidade que reduziam o tempo de voo drasticamente paravencer as distâncias internacionais que separavam por dias de viagem ospaíses mais distantes.
Paralelamente, em consequência dos serviços competitivos, os passageirosaéreos começaram a usufruir cada vez de melhores serviços, conseguindo terà sua disposição uma oferta de transporte rápido, eficiente, com crescenteleque de alternativas e com frequências, nos casos mais intensos,transformadas em pontes aéreas. Todos procuravam inovar. O avião, deobjeto de atração nas festas de domingo, com arrojadas acrobacias,transformava-se em produto utilitário de uso geral. Em resumo, entrou navida das populações, conquistando seu espaço como meio rápido, limpo,confortável e eficiente para transportar pessoas e cargas.
Novas formas de operar eram criadas com rapidez, de um lado respondendoaos requisitos do usuário e, de outro, estimulando a demanda medianteformas inovadoras de serviços de transportes oferecidos. Foi o caso daexplosão do turismo internacional que, através dos métodos de charter (voosfretados), 307
redimensionou e revolucionou a forma de as pessoas atingirem outras regiõesou países, gerando novos horizontes para as atividades econômicas.
Do nosso lado, na EMBRAER, observávamos com curiosidade e satisfaçãoque o mesmo fenômeno, de o transporte aéreo abandonar as pequenascomunidades, concentrando sua presença nos grandes centros ( hubs),também ocorria nos Estados Unidos com acentuada intensidade. E areclamação dos potenciais passageiros das pequenas cidades, como no Brasil,lá também se acentuava.
Enfim, as teses básicas de quinze anos atrás, quando começamos adesenvolver e projetar o BANDEIRANTE, estavam mostrando-se claramenteconsolidadas. Isto aumentava nossa confiança de que, conseguindo asautorizações necessárias –
limitadas pela ainda insuficiente certificação internacional do nosso avião –,as possibilidades de êxito estariam somente dependentes da capacidade devender o produto, financiá-lo e prestar-lhe a assistência técnica adequada. Oquadro que se colocava era cristalino. Caberia a nós vencer os problemasnormais, como o da confiança técnica, credibilidade da marca e eficiência doaparelho para cumprir as missões previstas a um custo competitivo.
É claro que os problemas não seriam simples e a distância que nos separavada grande quantidade de linhas aéreas operadoras ainda era um empecilhoadicional.
Em outras palavras seria essencial demonstrar que a compra de um aviãobrasileiro (vindo de um país exótico, como ouvimos várias vezes) não seriauma aventura impensada, e sim um ato racional, que permitiria certeza noretorno do investimento realizado.
A Aero Industries, Inc.
A aviação regional começava a mostrar sua cara, também nos EstadosUnidos, e dar os seus primeiros passos. E, como sempre, naquele país,avançava vigoro-samente.
Na mesma época os americanos procuraram reestruturar as linhas entãodenominadas commuters, e dar um sentido mais profissional às operações. O
primeiro passo foi à criação de empresas subsidiárias das grandes operadorasque passaram a operar em conexão com as frequências e horários dos grandesjatos, que operavam nos centros mais populosos ( hubs). No entanto, todosreconheciam que os aviões disponíveis, em geral derivados e adaptados demodelos desenvolvidos para a Aviação Geral, serviam mal às necessidades.Claramente seriam requeridos aparelhos mais modernos, eficientes e capazesde responder aos últimos regulamentos de segurança, consagrados pelasexperiências acumuladas em acidentes que, infelizmente, eram intensos nosvoos regionais.
Do nosso lado, examinando o quadro com atenção, víamos um campoenorme para o BANDEIRANTE, avião rápido, ágil e graças à suaespecificação básica de 308
projeto e de fabricação, se apresentava como candidato natural parapreencher o vácuo claramente exposto pelas necessidades do tráfego aéreonorte-americano.
Era importante, portanto, a homologação do modelo. O famoso AcordoBilateral assinado entre os dois países era peça fundamental. Ele colocava onosso CTA em contato com a FAA e havia a possibilidade de que a desejadacertificação pudesse ser conseguida com relativa rapidez.
Todavia, a demanda mercadológica, como largamente se sabe, não espera epermanece em contínua mutação. Poderia ocorrer que, quando toda aburocracia fosse vencida, outros concorrentes já teriam tido condições deestar com seus aparelhos à disposição das vendas e ocupando os espaços quena época visualizávamos para o BANDEIRANTE.
Entretanto, havia outro problema a vencer. Sob o argumento de que a FAA,como agência governamental, não poderia gastar o dinheiro do contribuinteamericano “para trabalhar na aprovação e na concessão de certificados paraaviões estrangeiros, sem que houvesse um cliente nacional”, batemos defrente com um real círculo vicioso. Não foi aceita a nossa solicitação dehomologação porque não tínhamos um operador americano comprando onosso produto e, em contrapartida, não conseguíamos ter um compradorporque o avião não estava homologado.
A solução surgiu com Robert Terry. Bob, como o chamávamos, procurou-nospropondo para ser nosso representante de venda com exclusividade em todo oterritório americano. Contamos a ele o problema que nos afetava e que, nomomento, nossa prioridade maior era encontrar um comprador. Direto e coma resposta na ponta da língua Bob retrucou:
“No problem! I buy the stuff” (“Sem problema! Eu compro a coisa”).
Daí para diante começamos a marchar. Bob constituiu a AEROINDUSTRIES, Inc., desenhou um logotipo muito parecido com o da própriaEMBRAER e criou uma subsidiária, denominada MOUTNAIN WESTAirlines, a qual encomendou três Bandeirantes. Com esta compra a processojunto a FAA pôde ser iniciado.
O acordo efetuado com a AERO INDUSTRIES foi amarrado à exclusividadede vendas nos Estados Unidos e ligado a um valor estipulado de remuneraçãoque a EMBRAER pagaria por cada venda efetuada no território. Asdiscussões foram prolongadas, pois não tínhamos segurança se essa seria amelhor alternativa.
Embora Bob gostasse de aviação reconhecíamos que a empresa recém-criadapoderia não nos prestar o melhor serviço. Afinal os Estados Unidos nãopodem ser condenados um país pequeno e, adicionalmente, as diferençasregionais são grandes e os empresários sofisticados, todos sabendo o quequerem e alguns poderiam não gostar de se subordinar a intermediários.
309
Foto 46 Primeira venda do Bandeirante nos Estados Unidos. Da esquerdapara a direita: Robert Terry, Senador G.
Cranston e Ozires Silva.
Essa era uma diferença essencial que enxergávamos na Aviação Regionalquando a comparávamos com a Aviação Geral. A responsabilidade daempresa de transporte aéreo, com seus compromissos de horário e de altautilização de seus aparelhos, é muito grande. Daí, quando, por qualquerrazão, vê-se impedida de ter contatos diretos com os fabricantes, apreocupação do operador cresce. Os aviões, 310
sofisticados produtos da tecnologia moderna, dotados de inúmeros sistemas,com uma quantidade de componentes e equipamentos instalados, estãosempre sujeitos a falhas de um ou de outro item. E seria impensável para ooperador ser obrigado a se dirigir a um representante, em qualquer local queele se estabelecesse, o qual poderia não dispor dos engenheiros e técnicos queparticiparam do projeto e da fabricação do aparelho. Isso poderia resultar emum prejuízo direto que afetaria as operações, com atrasos e falhas que,percebidos pelos passageiros, poderiam ter um resultado fatal nas operações.
No entanto, naqueles momentos iniciais, não tínhamos alternativa, a não serque instalássemos uma empresa nos Estados Unidos, o que estava em nossascabeças e que viria a se materializar mais tarde. Todavia, o tempo corria etínhamos de ser práticos:
“Esta solução é a possível; a perfeita virá mais tarde!”.
Foi assim que o nosso EMB-110P1, número de série 198, foi comprado em16 de janeiro de 1979 (após as complicações com o financiamento, as quaisjá estavam se tornando nossas conhecidas) e entregue à Mountain West,constituindo-se no primeiro avião que entregamos para o mercado norte-americano. O sistema de entrega era também complicado pelos requisitoslegais dos dois países. A matrícula inicial era brasileira (PT-GLQ) – utilizadapara o voo de deslocamento que, ao pousar em Miami (aeroporto de entrada),recebeu o registro N522MW, o qual ficou na nossa memória como símbolode uma luta que tinha começado quase cinco anos antes.
Bob Terry contratou para ampliar as vendas um antigo conhecido nosso,Richard Hodges, que trabalhando por anos com a CESSNA tinha mostradogrande proficiência e uma vocação de bom vendedor. Auxiliado por MarkHale, que mais tarde se juntou à própria EMBRAER, montaram um esquemaque assegurou um contínuo crescimento das vendas, ampliadas
significativamente. A partir daí novos nomes de empresas começaram asurgir nos nossos escritórios em São José dos Campos. HAMMONDSCommuter, NEW HAVEN Airways Commuter, IMPERIAL
Airlines, ROYALE Airlines, CASCADE Airways, SKYWEST Airlines, AIRPACIFIC, AERPMECH e outras foram às empresas que despontaram comointeressadas tornando-se compradoras no início de nossa entrada no mercadodos Estados Unidos.
Contudo o trabalho final não pôde ser creditado somente a Bob Terry e suaAERO
INDUSTRIES.
Bem cedo, ficou demonstrada a incapacidade, como imaginávamos, de queeles pudessem atingir todo o território do país. O que observamos era que, daforma como as coisas aconteciam, “nossos aviões não eram vendidos, eramcomprados”.
Afinal o BANDEIRANTE era um avião quase único em sua classe, mesmo311
considerando os mais ativos competidores: o TWIN OTTER, da DeHavilland do Canadá e o BEECHCRAFT 99, da BEECH Aviation Company,dos Estados Unidos.
Foto 47 Robert Terry recebendo o primeiro Bandeirante da Aero Commuter.
312
Foto 48 EMB 110-P1: Versão do Bandeirante com fuselagem alongada,tendo Efetivamente os interessados em operar o novo avião procuravam-noem função das informações que colhiam no mercado. Os comentários dosoperadores eram objetivos e garantiam que o pequeno airliner brasileirorealmente oferecia custos operacionais mais baixos do que os concorrentes,comportava-se como um real avião de transporte, com grande confiabilidade.Assim, o nosso produto ia conquistando nome e progressivamente tornava-separte da sofisticada demanda americana.
Mais rapidamente do que supúnhamos, as falhas da AERO INDUSTRIES
começaram a ser percebidas. A nova empresa não se organizou nem investiuo suficiente para colocar em funcionamento um sistema de apoio-após-vendas e de assistência técnica, como era requerido para o rápido crescimentoda nossa frota nos Estados Unidos. As vendas para os Estados Unidosalteraram os parâmetros de nossa produção e as vendas para a América doNorte levaram a programação de linhas de produção do BANDEIRANTE anúmeros bem mais altos, do que os originalmente previstos. A repercussão naorganização da fábrica foi imediata. Não somente novos empregados tiveramque ser contratados, e treinados em tempo recorde, como também levou àorganização de um sistema logístico, amplo e sofisticado, capaz de garantirestoques de peças crescentemente importantes e esquema de assistência aosprodutos a ponto de responder com presteza às necessidades das operações.
313
10. O Final de uma Etapa
Um novo Desafio
Naquele início das operações, e no começo da década dos 1970, estávamosfortemente engajados no esforço de vendas, na ampliação da demanda dosmelhores mercados identificados e pensando nos projetos do futuro. Era umproblema complicado o trabalho de análise para tentar compreender eantecipar como o mercado aeronáutico estaria se comportando, anos à frente,por exemplo, no início da década de 90. As perguntas eram sempre asmesmas: considerando que se precisa de uns cinco anos para projetar edesenvolver um novo avião, a pergunta era de como estaria a demanda nospróximos anos? Qual seria o avião que imaginaríamos hoje e que seriavendido com sucesso no futuro?
Os prenúncios de grandes modificações na estrutura da demandainternacional estavam dando alguns sinais de que teríamos de ter outrosmodelos e tipos de aviões disponíveis, a partir das linhas de produção. Asempresas de transporte aéreo estavam se equipando com os novos produtoscriados pela recém lançada indústria da tecnologia da informação. A aviaçãoregional, segmento do mercado no qual a EMBRAER tinha se concentrado,mostrava que sofreria sérias mudanças, mesmo no Brasil. Havia um clima deotimismo de um lado e de crise do outro.
Otimismo graças à importância crescente dos aviões no sistema mundial detransportes. Veloz, confortável e crescentemente seguros, o novo modalprometia se expandir consideravelmente por todo o mundo. A crise poderiaser o resultado de uma demanda mal atendida, de uma desestruturação poruma razão qualquer.
Deste modo, procurando mantermo-nos no clima de otimistas, procurávamosfazer o melhor para fugir das ameaças que, embora não muitas, poderiamcomprometer o crescimento da EMBRAER, ainda não muito distante do seunascimento.
Compreender os mecanismos das possíveis mudanças era importante. Até
aquele momento, a empresa tinha sido capaz de ajustar-se ao mercado,manter um ritmo de inovação e de atratividade para os seus produtos. Issoassegurava um volume de vendas, se não no nível alto que se desejava, pelomenos, estava sendo capaz de sustentar as atividades produtivas. No entanto,se a demanda caísse, deveríamos estar preparados e oferecer produtos, sepossível com significativas vantagens competitivas e que, a despeito de umademanda enfraquecida, pudessem ser vendidos.
Por outro lado, víamos que a procura de aviões militares começava a sereduzir.
O clima de paz mundial, tão ansiado pelas populações, não mais pareciadistante.
Os conflitos armados, fonte permanente de demanda para os produtos daindústria militar, estavam sendo substituídos por discussões nas mesas dadiplomacia 314
internacional. A consequência óbvia era que os orçamentos para despesasmilitares, em grande parte dos países mais desenvolvidos e mesmo dos outrosmais periféricos, estavam sendo delineados para ser ainda menores, afetandotodo o complexo produtor que vinha vivendo de expansões a cada ano, desdeo final da Segunda Guerra Mundial. Mesmo os projetos de pesquisas edesenvolvimento, sempre caracterizados por busca de técnicas e deconhecimentos inovai-vos, tendiam a se tornar mais modestos no campo daaviação militar.
Progressivamente, as empresas dedicadas a fabricar produtos em geralintensificavam seus esforços de pesquisas e desenvolvimento. Estavanascendo o novo perfil da produção industrial mundial, procurando colocarao alcance do cidadão comum, técnicas e equipamentos anteriormentesomente disponíveis nos corredores confidenciais dos Governos ou dentrodos quartéis militares. Tudo isso visava ao aumento da eficiência e dacompetitividade do indivíduo e das organizações. As máquinas eletrônicas oueletronicamente comandadas, os computadores, nos mais variados tamanhose utilidades, passaram a se tornar disponíveis em ritmo incessante deinovação. Era um mundo novo que despontava centrando-se na velocidade ena eficiência das comunicações globais.
Tudo isso se projetava sobre a aviação que, de um lado, via declinar a fontepermanente de projetos de pesquisas e desenvolvimentos gerados pelasForças Armadas. De outro, as novas opções oferecidas pelas comunicaçõesglobais tendiam a requerer menor número de viagens e de contatos pessoaisnecessários à consecução dos negócios.
Tudo isso criava um quadro de preocupação sobre a conjuntura dos negóciosno campo da aviação e, por consequência direta, sobre as atividades dasempresas dedicadas à construção aeronáutica. Não se podia esquecer nuncade que uma empresa, com o porte da EMBRAER, não poderia simplesmentedesaparecer, como um resultado direto do colapso das vendas. Felizmente,embora ainda não muito ampla, a diversificação de seus produtos tinha sido apolítica seguida pela empresa nos últimos anos. Ela possuía aviões para omercado civil privado e para as linhas aéreas; adicionalmente, tinhaconquistado algum êxito no mercado militar. A soma dessas atividadespoderia ajudar a vencer potenciais períodos difíceis no futuro.
Nesse cenário sempre surgia, nas nossas conversas durante as frequentesreuniões de diretoria, uma constante preocupação pelos altos e crescentescustos para a criação e o desenvolvimento de novos aviões. A tecnologiaaeronáutica apresentava um panorama que custaria cada vez mais caro. Fosseela importada ou gerada no próprio país. Pelo que estávamos informados pelaimprensa especializada internacional, o mesmo ocorria com as principaisempresas aeronáuticas mundiais.
315
O fenômeno era bem conhecido. Ao contrário, por exemplo, doscomputadores e da informática, cujos preços estavam se reduzindo ao longodo tempo – embora os componentes sejam cada vez mais sofisticados e carospara produzir –, a tecnologia agregada aos modernos aviões estavaapresentando custos crescentes, diríamos, capazes de influir na decisão para oprojeto e desenvolvimento de novos tipos ou modelos de aeronave.
Por outro lado, a concorrência, progressivamente muito ativa passou a forçara baixa dos preços de venda dos produtos finais. Nesse contexto, ameaçasafetavam as operações rentáveis, por força de margens de retorno internomenores.
Muitas dúvidas eram produzidas, e, entre as mais importantes, era como obterfinanciamento para produzir aviões, e mais, como conseguir recursos para acriação de novos produtos num ambiente que, segundo tudo indicava, nãodeveria ser fácil. A equação era complicada. De um lado, teríamos deoferecer diversificação e produtos a preços mais reduzidos; por outro, ocenário era de custos mais altos e de dinheiro escasso para abrir um leque deprodutos competitivos, certamente tudo encarecido por taxas de juroselevadas.
Enfim, tudo mostrava que a EMBRAER já começava a viver problemas deuma empresa comum, isto é, que existia, que produzia e que tinha de vender.Estavam longe, no horizonte, os tempos heroicos em que defendíamos, comtenacidade, que o Brasil deveria fabricar aviões. Soava distante para nós oslogan criado por Alberto Marcondes – nosso diretor financeiro –:
“Um país que voa vai longe”
Um sugestivo apelo para as empresas investirem no incentivo fiscalconcedido à EMBRAER, no início de suas atividades empresariais.
Os problemas sobre os quais nos debruçávamos faziam part e do tradicionalelenco de problemas empresariais. Todas as empresas estão sempre forçadasa estar na arena, lutando. Buscando novas alternativas, prevendo problemas,encontrando solução, em resumo, uma miríade de ações que determinam, aolongo do tempo, o sucesso dos empreendimentos.
Foi na terça-feira, dia 13 de maio, que o telefone tocou – e mudou minhavida.
Era o Ten.-Brig.-do-Ar Octavio Júlio Moreira Lima – Ministro daAeronáutica. Nunca me esqueceria de que ele tinha sido meu instrutor de voona Escola de Aeronáutica e nosso professor de Navegação Aérea, isso em1951 – transcorreram 35 anos.
Essas recordações, conservava-as com carinho, sobretudo pela amizade que,ao longo de tantos anos, ele dedicava aos seus ex-alunos, como eu. O temporealmente passara depressa.
316
Agora, ele, Ministro, e eu, Diretor Superintendente da EMBRAER. Foi umaconversa do velho amigo instrutor com seu aluno.
Visivelmente contente, consultava-me se aceitaria um convite do Presidenteda República, José Sarney, para assumir a Presidência da PETROBRAS, emsubstituição ao Hélio Beltrão que, embora poucos acreditassem, desejava“pendurar as chuteiras”. Isto é, desejava sair da vida pública para dedicar-se auma existência mais pessoal.
Fiquei surpreso com o convite. Afinal, engenheiro em aeronáutica porformação, jamais poderia imaginar-me fazendo outra coisa senão aquelas queestivessem envolvendo aviões. Surpreendi-me pela lembrança do Presidentee, estranhamente
– como pensei mais tarde –, não hesitei e decidi aceitar.
O Presidente Sarney tinha visitado a EMBRAER havia pouco tempo eentendeu que, naquele momento, eu deveria mudar de capacete. Trocar o azulda atmosfera, o voo dos aviões, pela escuridão das profundezas da Terra, indoajudar e contribuir para que a PETROBRAS continuasse a expandir seutrabalho buscando petróleo – o maravilhoso produto que a natureza criou, emsuas imperscrutáveis disposições, e que o homem transformou no maisflexível insumo para a produção de energia e de matérias-primas.
Embora respondendo de pronto, confesso que tive dúvidas. Logo apósdesligar o telefone fiquei pensando:
“Fiz bem? Dei o passo correto?”
Minha vida na EMBRAER foi coberta em um relance. Muita coisa tinha sidofeita e me surpreendi com a disposição de sair e enfrentar um novo desafio.Pelo menos naquela análise inicial, pareceu-me que seria bom, após 16 anosconsecutivos dirigindo a empresa, colocar-me em face de uma renovação. E adimensão do convite era enorme. Sairia de uma empresa de 6 mil empregadospara uma de 60
mil.
Estava preocupado com o futuro da EMBRAER, no entanto não poderia serpresunçoso e me colocar como o único capaz de enfrentar os permanentesproblemas que a empresa poderia apresentar. Afinal, vinha de um grandeesforço, engajando-me na sua vida desde sua criação, nos seus primeirosdezesseis anos de vida.
Telefonei para minha esposa, Therezinha, que, como sempre, disse:
“Você é que tem condições de julgar! Você esquecerá os aviões?” .
Muito sábia a pergunta a pergunta dela. Jamais me esquecia dos nossospensamentos no início do projeto do pai do BANDEIRANTE, o velho IPD6504 – com seus protótipos projetados e fabricados, quando ainda éramos doCentro Técnico Aeroespacial (CTA). Uma das coisas que tínhamos aprendidoé que muitos 317
pioneiros de um longo passado, da sempre incipiente indústria aeronáuticabrasileira, tinham fracassado após cumprir o primeiro contrato defornecimento de aviões (em geral para o Governo). Era uma real tradição queaquele problema crônico de falta de continuidade acabasse sempre porliquidar e determinar o insucesso das iniciativas de fabricar aviões no Brasil.
Todavia, a EMBRAER em 1986, já era uma clara exceção a essa regra.Embora sendo ainda considerada uma empresa nova – com 16 anos –, tinhavivido todo o seu tempo com muita intensidade. Milhares de aviões tinhamsido fabricados e entregues para centenas de clientes no Brasil e em mais de40 países do mundo.
Nunca isto tinha ocorrido anteriormente no país.
Foto 49 Vista da fábrica em São José dos Campos, no fim da década de 1980.
Até então, não se tinham observado modificações no comando da empresa. Adiretoria eleita pela assembleia geral de 29 de dezembro de 1969 ainda era amesma. Não é fácil confessar, mas fomos apanhados de surpresa e nãotínhamos 318
pensado em preparar sucessores. Fazendo apenas uma comparação, entre asmuitas que assaltaram minha cabeça na época, lembrei-me de alguém nopassado ter dito:
“Precisamos de revolucionários para fazer revoluções, mas temos deprescindir deles para governar”.
No fundo, sentia-me, junto com minha equipe de diretores - que ainda era amesma desde a fundação da EMBRAER, como um dos que tiveram acoragem de provocar uma nova iniciativa e me perguntava:
“Seria este o momento da mudança?”
Embora com esses pensamentos na cabeça, o convite estava aceito. Teriaagora que começar uma nova tarefa.
Hoje, olhando para trás, creio que agi corretamente. Meu período naPresidência da PETROBRAS foi muito rico e aprendi bastante. Fiz novosamigos e conheci uma nova comunidade, a dos petroleiros – empregados eempresários.
Gostei de ambos. Foi realmente muito bom ter aquela oportunidade decomandar uma grande empresa. Lá, permaneci por quase três anos e aprendimuito. Tenho razões para agradecer ao Presidente Sarney o conviteformulado. Ele mudou o curso de minha vida e, sob vários aspectos, daprópria EMBRAER.
Entretanto, nem de longe me afastei do meu mundo da aviação. De temposem tempos, meus companheiros de diretoria da PETROBRAS, quase todosde carreira na indústria do óleo, tinham de ouvir histórias sobre as asas dealumínio que crescentemente fazem parte dos seres humanos, já que elesnasceram sem elas.
Nada sei sobre o julgamento que eles fazem de mim. Fiz força para não falarmuito de aviões, tentando evitar ser um “chato”. Pode ser que tenhaconseguido e, se nada fiz em outras áreas, pelo menos aumentei a culturageral aeronáutica da PETROBRAS.
Passaram-se alguns poucos dias de preparação para a transferência. Eranecessário equacionar minha substituição na EMBRAER e, ao mesmo tempo,entrar em contato com o Presidente que deixava a empresa. A mim caberiacontinuar o trabalho do grande brasileiro Hélio Beltrão, amigo de longa datae forte colaborador no desenvolvimento da EMBRAER. Respondendo aochamado de Brasília, pela última vez, como pensei, desloquei-me pilotando onosso EMB-121
XINGU, já conhecido como “Zé XINGU”. Já começava a ter saudades dele,um avião que muito voara e do qual, provavelmente, me afastaria. Graças àboa performance do “Zé XINGU”, duas horas depois pousávamos na CapitalFederal.
Acompanhado pelo Ministro Moreira Lima, fui ver o Presidente Sarney, queconfirmou o convite. Deu-me instruções de como proceder, pedindo-me quemarcasse a transferência de cargo e a posse com o Ministro das Minas eEnergia, 319
Aureliano Chaves. Após os contatos formais a cerimônia foi marcada eocorreu, na sede da PETROBRAS, no Rio de Janeiro, em 19 de maio de1986.
A posse seria algo normal. Hélio Beltrão é que assinalava ser anormal, pois,dizia, era a primeira vez na história da empresa que um amigo estavatransferindo para outro o cargo de presidente da empresa. No entanto, ela foisacudida por um acontecimento inusitado que dominou a curiosidade e asperguntas dos jornalistas.
Discos Voadores Existem?
No regresso do meu voo para Brasília, quando recebi o convite formal parapresidir a PETROBRAS, já eram cerca de 19 horas quando pudemos decolarde volta para São José dos Campos, após a entrevista com o Presidente
Sarney. Pilotava o conhecido “Zé XINGU” e pensava que possivelmenteseria uma última vez. Voava comigo o Comandante Alcir Pereira da Silva. Otempo em rota continuava bom, como tinha sido por toda a semana. O serviçode meteorologia da FAB entregou-nos a previsão das condições de voo eassegurava que o tempo iria se apresentar sem nuvens, claro e com avisibilidade sempre a mesma, ótima, dos meses de maio. Alinhado com apista de Brasília, acelerei os motores e, assim que a velocidade adequada foiatingida, puxei o manche para trás. O nariz apontou para cima, mostrando olindo céu estrelado.
É difícil no mundo ver um céu com tantas estrelas como no Planalto Centralbrasileiro. É realmente um espetáculo que não se pode perder. Era comumapagarmos todas as luzes da cabine de pilotagem, a fim de nos integrarmos àescuridão da noite. Naqueles momentos ficávamos sem palavras paradescrever a beleza do universo. O céu pontilhado de estrelas e de algunsplanetas dominava a visão oferecendo momentos de tranquilidade raramenteconseguidos. A subida transcorreu normalmente e, seguindo as instruções docontrole, tomei a proa sul iniciando o voo para São José dos Campos.
Embora sentado no posto de pilotagem e fazendo os procedimentos de rotina,minha cabeça estava povoada de ideias e de desafios. Acabava de sair doGabinete de Aureliano Chaves. A conversa não foi no tom que eu gostaria.Saí com a impressão de que enfrentaria dificuldades.
Certamente, a PETROBRAS seria muito diferente da EMBRAER, empresapequena – quando comparada com as gigantes estatais controladas peloGoverno Brasileiro. A vinculação da EMBRAER ao Ministério daAeronáutica jamais tinha suscitado prioridades de política partidária. Aconversa com o Ministro Aureliano, curta como foi, indicou que na área depetróleo não seria a mesma coisa. Ainda não tinha identificado qual sorte deproblemas teria, mas, algo estava no ar, 320
embora não soubesse o que seria. Uma coisa estava clara. Eu não era o seucandidato para presidir a empresa.
Embora sabendo que iria me preocupar muito no futuro, tratei de desfrutaraquele voo. Poderia ser um dos últimos. Estava acontecendo o que jamaispoderia ocorrer: estava deixando a “minha” EMBRAER. Não sabia mesmo se
continuaria a voar, coisa que fazia desde os meus 16 anos de idade. Pelaaritmética, voava como piloto, há quase 40 anos!
No voo tudo estava tranquilo. Ar calmo e sem turbulências. Após quase duashoras no ar, mantendo uma altitude de 22 mil pés, aproximávamo-nos dePoços de Caldas, o último fixo de controle da rota que nos levaria a S. Josédos Campos.
Naquele momento, ao solicitarmos autorização do Centro de Controle deTráfego Aéreo de Brasília para iniciar a descida, recebemos uma pergunta docontrolador se estaríamos observando algum objeto estranho nas imediaçõesdo nosso destino.
Olhamos em torno e nada de diferente foi visto. O céu continuava coberto deestrelas e pedi ao meu co-piloto, Cmt. Alcir, para observar. Nada deextraordinário ou diferente pôde ser identificado. Solicitei mais informaçõesao controlador. Ele nos informou que via três indicações, em áreas diferentes,na tela do seu radar e, sem saber do que se tratava, classificou-as como “alvosnão-identificados”.
Insistimos pedindo mais detalhes; infelizmente as respostas sempre forampouco satisfatórias. Mantivemos nossa proa e prosseguimos até nosaproximarmos mais de São José dos Campos. Eu estava curioso e desejavaver os tais “alvos não-identificados”.
Pedi informações e o controlador forneceu a localização de um dos objetosassinalados no radar; apesar de certo receio demonstrado por Alcir,decidimos voar na direção indicada. Na aproximação do “alvo”, e procurandoanotar na cabeça todos os detalhes possíveis, vimos era algo muitosemelhante a um astro –
equivalente aos que sempre identificávamos como planeta. Luz forte e fixa noespaço. Talvez mostrasse umas pequenas diferenças. Era bastante amarelo,tendendo ao vermelho e provavelmente um pouco mais alongado no sentidovertical.
O fenômeno da cor não nos causava nenhuma estranheza. O objeto estavaprovavelmente sobre a cidade de São Paulo e a poluição tipicamente
concentrada no outono comumente provocava diferenças nas cores, por vezescolocando até a Lua com aparência avermelhada. Sua forma oblonga e o fatode aparecer no radar, isto sim, eram surpresas. Astros sempre aparecemredondos ou cintilantes e não respondem aos sinais eletromagnéticos.Também não geram imagens nos radares.
Pedi ao Alcir que continuasse insistindo, em suas comunicações por rádiocom o controlador, e que obtivesse mais detalhes: o que estava sendo visto,como os objetos se apresentavam na tela do radar, qual era o tamanho dasindicações em 321
relação aos aviões, velocidade (ele se movia?), etc. Enquanto isso continuavaa pilotar o XINGU na direção do objeto.
De acordo com os regulamentos aeronáuticos, trocas de conversa para tratarde assuntos diversos aos de tráfego aéreo deveriam ser evitadas, a fim de nãocongestionar os importantes canais de comunicação terra-avião, vitais para ofluxo seguro das aeronaves. E, do nosso lado, deveríamos não nos esquecerde nunca de que a missão do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo é a deassegurar a movimentação dos aviões, e isso estava ocorrendo naquelemomento. Muitos outros aviões estariam dependentes das informações que omesmo controlador deveria transmitir-lhes. Afinal, o mundo não tinha seimobilizado e outras coisas continuavam a acontecer.
E aconteceu o óbvio. Foi difícil posteriormente conseguir dados adicionais doque teria sido aquela aparição que, insisto, parecia um corpo celeste, masmostrava seu eco no radar do Centro de Controle de Brasília. O que seria?
Durante todo o período, mantivemos a escuta do rádio e ouvindo informaçõesde outros pilotos que também operavam na mesma área. Eles reportavamestar observando o mesmo fenômeno. Bem, afinal não estávamos sozinhos.Tudo aquilo era inusitado. Não sabíamos do que se tratava. Parecia um astro,mas não conseguíamos explicar por que ele teria eco registrado na tela doradar.
Eram quase dez horas da noite e, então, algo estranho começou a acontecer.À
medida que nos aproximávamos do objeto, enquanto voávamos na direção deSão Paulo, ele ia se desvanecendo até que desapareceu por completo. Éinteressante acentuar que o desaparecimento foi também constatado paraoutros observadores. Infelizmente, as comunicações com o operador doControle Brasília não estavam fáceis; o tráfego aéreo na área era intenso e oscontroladores estavam cumprindo seu papel de guardiães do trânsito dosaviões.
Eles não puderam ficar com sua atenção concentrada nos “objetos estranhos”,por mais importantes que pudessem ser. Assim, muitas das informações quepoderiam ser úteis desapareceram devido à impossibilidade de se ficartrocando mensagens com o centro de Brasília.
Nada mais vendo na proa em que voávamos, solicitei ao controlador aposição de um dos outros objetos não-identificados e, seguindo suasinstruções, voei para leste, cruzando o Aeródromo de São José dos Campospara um ponto ao sul da cidade de Taubaté. Lá encontramos umaluminosidade, abaixo do nosso nível de voo, que parecia ser uma enormelâmpada fluorescente, emitindo uma luz intensa com frequência e corequivalentes às das lâmpadas que encontramos em nossa residência. Aí nossacompreensão do que estávamos vendo ficou mais complicada.
Não acreditei que aquilo pudesse ser o que o controlador tinha comoindicação no radar pela simples razão de estarmos voando no máximo a uns600 metros sobre o 322
solo e ser virtualmente impossível que um objeto qualquer, em nível inferiorao nosso, fosse detectado por uma antena-radar instalada em Sorocaba, acerca de 250 km de distância. No entanto, embora diferente do que foi vistosobre São Paulo, também não deixava de ser estranho.
Com todas essas dúvidas na cabeça e produzindo os comentários entre nóssobre o que tínhamos visto e sobre qual seria a provável explicação,regressamos e pousamos em São José dos Campos sem problemas.
Esses acontecimentos foram notícias principais na cerimônia de minha possecomo Presidente da PETROBRAS, no Rio de Janeiro. Os repórteres dosprincipais meios de comunicação do país, pouco interessados sobre o que o
“aeronáutico” e novo Presidente da empresa teria a dizer sobre petróleo,crivaram-me intensamente de perguntas, tentando obter respostas diferentessobre “objetos voadores não-identificados – Óvnis.”
Não pareceram nem um pouco preocupados com a PETROBRAS. Queriammesmo saber o que tinha sido visto e se o Presidente tinha visto um “discovoador”. Procurei dar as explicações que pude e tentei demonstrar que tinhamuitas dúvidas. Se fosse para confiar nas minhas observações, acentuava tervisto um astro, mas não tinha resposta do porquê de aquele corpo celesteestar na tela do radar do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Brasília.
Assim foi minha chegada à grande empresa – PETROBRAS. A partirdaquele instante, o assunto que deveria dominar a minha agenda seria opetróleo e seus produtos, com toda a miríade de alternativas criadas pelacomercialização do precioso líquido energético.
Curiosamente observava que no campo dos aviões eu sempre sabia a quemtínhamos vendido nossos aviões. Conhecia os clientes e mantinha contatocom eles por longo tempo. No petróleo era o oposto. O número decompradores, se considerássemos o final da linha, eram na realidade oscidadãos do país. Era possível dizer que jamais os conheceria a todos.Efetivamente era algo completamente diferente do que tinha feito até então.
A Ampliação da Concorrência
Naquele momento em que estava deixando a EMBRAER, havia clarasindicações de que modificações estavam por acontecer e novos cenáriosprometiam mudar as perspectivas para o mercado de compra e venda deaviões, a partir do final da década de 80. As grandes empresas aeronáuticas,produtoras mundiais, decidida-mente já tinham introduzido em suas linhas defabricação aviões competitivos com aqueles que eram fabricados no Brasil.Desde há muito, havíamos deixado para trás 323
a posição de inovadores e a real competição, sobretudo partindo das grandesprodutoras, era uma dura realidade.
O que aconteceu confirmou os prognósticos e mostrou a presença e aspressões de poderosos competidores, como a Aerospatiale, da França, a
SAAB, da Suécia, a DASA, da Alemanha, a FOKKER, da Holanda, a CASA,da Espanha – todos pesadamente apoiados pelos respectivos Governos.
O papel das autoridades na direção de estimular as iniciativas produtivassempre foi muito importante no campo da produção de aviões. As tecnologiasenvolvidas para fabricar aeronaves são muitas e caras. Assim, torna-se muitodifícil para o setor privado quebrar, sem ajuda externa, o ciclo vicioso que seinstala quando se propõe a fabricar máquinas sofisticadas, intensivas emsistemas e componentes, como os aviões. Assim, é muito frequente aconstatação da existência de criativos mecanismos para o financiamento dasatividades básicas que levam à produção de materiais aeronáuticos. Aomesmo tempo, surgem ações, por vezes discutíveis, em face das crescentesregras de comportamento geral consagradas pelas organizações mundiais decomércio, quando países procuram elevar barreiras não-tarifárias para, porexemplo, reduzir ou coibir as importações de produtos estrangeiros.
Para a EMBRAER, a Indonésia acabou por constituir um exemplo destacado.
Buscando estender apoio à sua Nurtanio Aircraft Industry Ltd., criada edirigida pelo inteligente e inovador Ministro da Ciência e da Tecnologia,Prof. Dr. Eng. B. J.
Habibie, conseguiu abrir um espaço no competitivo mercado mundial,proibindo em muitos casos a importação de aviões estrangeiros. Nósestávamos na lista.
Também, em 1986, um novo competidor entrou no mercado: a Bombardierdo Canadá. Inicialmente comprou a Canadair, seguindo-se a Short BrothersPlc (Irlanda do Norte), a Learjet e a De Havilland do Canadá. Com essasaquisições a empresa moldou uma estratégia de penetração nos mercados dotransporte aéreo regional e da aviação executiva, passando a se configurarcomo um sério concorrente para o futuro.
No campo da produção brasileira, o BRASILIA, lançado em 1983, jámostrava que alcançaria grande sucesso e prometia mais. Substituindo emmuitos casos o próprio BANDEIRANTE, sua cabine, projetada para 30passageiros e com um confortável nível de pressurização, mostrava amplacoerência com as correntes necessidades do mercado regional e antecipava
vendas de mais de 200 exemplares, sobretudo ao mercado norte-americano.
No campo militar, e em cooperação com as empresas italianas – AERITALIAe AirMACCHI –, a EMBRAER trabalhava intensamente no projeto e naprodução do avião de combate AMX, cujas possibilidades de vendamostravam um panorama 324
pouco alentador, em face das dramáticas modificações ocorridas nos cenáriosinternacionais. Paralelamente, os custos de projeto, influenciados pelo nívelde sofisticação dos requisitos colocados pelos compradores natos, a ForçaAérea Brasileira e a Aeronáutica Militar Italiana, aliados aos altos preços doscomponentes e equipamentos, provocaram expressivos incrementos nosvalores finais da aeronave.
Infelizmente, desejado ou não, o fenômeno de aumento dos custos, e porconsequência dos preços de venda, de forma geral, já se tornou comum naaviação e infelizmente está afetando todas as empresas mundiais. Essefenômeno, que, de início, se pensou capaz de contaminar somente as comprasmilitares, estendeu-se de forma ampliada para o mercado das aeronavescomerciais. O reflexo de tudo isso coloca um preocupante horizonte quedesafiará, certa e profundamente, todo o futuro da indústria aeronáutica
mundial, influenciando o desempenho até mesmo das empresas mais fortes emelhor consolidadas.
Foto 50 AMX: Avião de combate projetado e desenvolvido com aAeritalia e Aeronautica Macchi para as Forças Aéreas brasileira eitaliana.
325
O que um Fabricante de Aviões poderia ver para o Futuro
Todos os dias, durante os dezesseis anos iniciais de sua vida, no decorrer dosquais permaneci no comando da EMBRAER, a mim parecia que estávamospermanentemente trabalhando e esperando como se fora sempre o prelúdio deuma noite de estreia. Era uma mistura de espetáculo em curso ou porcomeçar.
Vivíamos intensamente cada momento. No lugar das cortinas de um palcovíamos pesadas portas revestidas de alumínio nos hangares que abrigavamnossos atores, os aviões, pacientemente esperando pelos seus pilotos que lhesdessem vida.
A decisão de encarar agora o capítulo final – apesar das circunstâncias de sairpara um cargo da maior relevância no Brasil, presidir a PETROBRAS – nãosignificava que então terminava o esforço de manter contínua a chama dacrença, do entusiasmo e da criatividade permanente. Durante as duasprimeiras décadas da vida da EMBRAER, conseguimos fazer com que nossasequipes estivessem sempre empolgadas, na crença de que o Brasil era umfabricante de aviões e de produtos sofisticados. E o instrumento dessaoperação era a EMBRAER.
O sentimento de quem viveu conosco cada instante daquele empreendimentoe acompanhou o desenvolver da empresa – uns com a crença na vitória eoutros com a sensação de que “avião é coisa que se compra e não que sefabrica” – foi de enorme realização. Dizem, não há nada que supere a criaçãocomo algo que traga aos realizadores a sensação de que cumpriram suastarefas, que tiveram uma participação na vida da comunidade. É difíciltransmitir tudo isso para quem não viveu a real saga na busca de um ideal
carinhosamente conservado desde a infância.
Olhando para o sonho de criança, que começou a se materializar na minhajuventude, passando pela velha Escola de Aeromodelismo, pelo Aeroclube deBauru, pela vida na Aviação Militar – a Força Aérea Brasileira – e,finalmente, pela qualificação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA),acreditava que tudo o que tinha imaginado tinha atingido níveis acima do quepoderia ter pretendido.
Nascido numa pequena cidade do interior, de uma família comum, tinha idolonge demais. Estava orgulhoso, sobretudo do meu país que, embora com umsistema educacional ainda por desejar, tinha me dado a oportunidade paracrescer na vida e atingir um nível, que, como menino, jamais poderia terimaginado concretizar.
Sempre me considerei um produto preparado pela sociedade e pelo Governoque, oferecendo cursos gratuitos, permitiu a quem não tinha recursos, crescere conseguir sucesso na materialização de um sonho. Sentia-me grato por ternascido neste país e por ter recebido tantas oportunidades. É ainda como mesinto hoje, desejoso de que idênticas aberturas possam ser estendidas a cadabrasileiro.
Creio que não seria demais imaginar e almejar que uma nação, como a nossa,fosse permanentemente capaz de permitir que ambições pudessem ser 326
materializadas como consequência da força monumental da educação. Émuito importante para os cidadãos morar num país capaz de instrumentar eproporcionar oportunidades para que todos possam tornar realidade seusideais, produzindo o sucesso de que a sociedade necessita e dando suacontribuição para que o processo da aprendizagem, do treinamento e daeducação se eternizem, passando os melhores resultados para os seussucessores.
Aprendi muito ao longo da minha vida. Quando pude expressar um objetivo,ainda jovem, não poderia imaginar quais os caminhos que seriam trilhados e,se o pudesse, tenho certeza de que a realidade mostraria que seriamdiferentes. Vivi cada momento do desenvolvimento de uma atividadeindustrial aeronáutica que passou por várias etapas: a inicial, heroica, quandoo sonho muitas vezes supera a realidade; a da evolução do empreendimento,quando a lógica começa a perseguir as metas sonhadas e mostra que opossível na maioria das vezes está abaixo daquilo que se imaginou; e,finalmente, a consolidação. Esta, embora sentida pelos problemas vividos, é
fugaz. Nenhum empreendimento consolida-se em definitivo.
A sobrevivência com sucesso é paga com dedicação, com muito trabalho,com surpresas e, muitas vezes, com frustrações.
Foto 51 Protótipo do Xingu, primeiro avião executivo da Embraer.
327
Naquele momento que me retirava, se pudesse tirar uma fotografia, elamostraria uma EMBRAER adulta e, medida sob qualquer ângulo, seria vistacomo uma grande e conhecida empresa, no país e no mundo. Nos seus 270mil metros quadrados de áreas industriais construídas trabalhavam quase 6mil empregados, engajados na produção do do BANDEIRANTE, XINGU,IPANEMA e TUCANO e trabalhando no projeto do AMX, avião de combateem desenvolvimento entre o Brasil e a Itália. Paralelamente, já estava naslinhas de produção o EMB BRASILIA, avião de transporte de passageiros,para 30 lugares, pressurizado que, no futuro, deveria substituir oucomplementar o BANDEIRANTE. Também, nas instalações da NEIVA, emBotucatu, corriam céleres as linhas de produção de seis modelos de aviõesleves, fabricados para o mercado privado, sob licença da PIPER, além daprodução de importantes componentes para os aviões agrícolas IPANEMA.Tudo isso era muito mais do que qualquer um dos componentes de nossaequipe poderia ter imaginado uns poucos anos atrás.
Foto 52 EMB-710 Carioca: monomotor de trem de pouso fixo para quatropessoas.
328
Todas as revistas aeronáuticas do mundo, em suas edições, dedicavamespaços generosos para discutir os programas e projetos da EMBRAER,jogando o Brasil num plano até então inexistente de construtor aeronáutico.Os editoriais discutiam seriamente nossas soluções e projeções. Aviõescriados e produzidos pela empresa transportavam diariamente milhões depassageiros em todos os continentes, nas cores das mais diferentes empresasinternacionais. Estávamos no que se poderia identificar como “voo decruzeiro”, buscando em cada momento novas ideias para conquistar e mantersegmentos mais importantes do mercado.
Éramos uma empresa já consolidada em vários aspectos. Os problemas nãoeram mais aqueles necessários para vencer etapas, mas sim a determinação de
mecanismos para continuar a crescer e conseguir fabricar produtos cada vezmelhores, a menor custo e com mecanismos de vendas mais simples, diretose eficientes. Enfim, desde há muitos anos, buscavam-se a independência e olucro para assegurar a permanente evolução da empresa.
Foto 53 Primeiro protótipo do EMB-312 Tucano, designado pela FAB comoT-27.
329
Após os quase 17 primeiros anos de vida da empresa, sentia que acontabilização dos resultados poderia ser positiva e era possível enxergar ogrande caminho percorrido. A marca EMBRAER tinha nascido e conquistadoposição no mundo aeronáutico internacional. No segmento de sua atuação, osprodutos brasileiros passaram a gozar de razoável reputação, desde asAméricas, passando pela Europa e África, chegando à Ásia. Passou a sernormal e correntemente admitido que uma empresa de transporte aéreoregional, ao pretender selecionar novos aviões para suas linhas, sempre teriade incluir em sua análise, entre os potenciais eleitos para avaliação e estudos,os produtos brasileiros. Era nesse mercado que tínhamos conseguido galgaruma posição que, segundo os analistas, era de destaque.
Do ponto de vista puramente de vendas, o transporte aéreo regional ainda nãoera o melhor dos mercados a ser explorado por uma empresa aeronáutica quequeria crescer. Ele implicava dialogar com pequenas companhias detransporte aéreo, com estruturas organizacional e patrimonial reduzidas, namaioria dos casos insuficientes mesmo para oferecer garantias financeiraspara os empréstimos bancários necessários aos aviões que pretendiamcomprar para compor suas frotas de exploração de serviços operacionais.
O nosso primeiro projeto, o BANDEIRANTE, atingia quinze anos desde oprimeiro que foi entregue para operação. Já se notava com clareza o processode desafio que lhe era imposto. Sua substituição total por aparelhos maismodernos, velozes, pressurizados e com maior capacidade seria apenas umaquestão de tempo. Os exemplares retirados do serviço no primeiro mundocomeçaram a ser vendidos e reexportados para a África, Ásia e,particularmente, para a Austrália, onde se observava, naquela época, a maiorfrota deles em operação. As antigas linhas aéreas, que começaram utilizando
nossos aviões, passaram a voar no BRASILIA ou produtos de outrosconcorrentes. Aquelas empresas exploradoras do tráfego comercial, queforam melhor geridas e encontraram melhores mercados, consolidaram-se eestavam mais fortes – enquanto muitas outras desapareceram.
330
Foto 54 EMB-710 Carioca: monomotor de trem de pouso fixo para quatropessoas.
331
retrátil
para
quatro
pessoas.
Daqueles momentos em frente, as negociações para a venda de novos aviões–
que nunca foram fáceis – tenderiam a ser crescentemente muito mais difíceis.A concorrência cresceu bastante e ficou claro nas nossas cabeças que aquelenicho de mercado que visualizamos 20 anos atrás estava sendo preenchidopor outros fabricantes – alguns de renome, abrindo portas para verdadeirosleilões perante o interesse de cada comprador. O resultado era claro. Asfuturas iniciativas da EMBRAER iriam encontrar uma concorrência muitomais dura e mais diversificada.
Tinha chegado o momento de se fazerem análises cada vez mais profundasdas potenciais necessidades futuras dos operadores, tentando satisfazer suasnecessidades, oferecendo produtos diferentes e competitivos. Os desafiossobre as previsões mercadológicas e sobre os trabalhos a seremdesenvolvidos pelas equipes de engenharia passaram a ser enormes. Em facedo vertiginoso progresso técnico, certamente a tecnologia, muito mais cedodo que se poderia imaginar, poderia estar produzindo motores a reação maiseconômicos, capazes de viabilizar aviões a jato de pequeno porte.
Nas suas primeiras duas décadas de vida, a EMBRAER tinha conseguido serpioneira no mercado do transporte aéreo regional, através de um produto 332
diferenciado que, embora vindo de um país do terceiro mundo, logrou êxito.Mas, ao final dos anos 80, o cenário era completamente diferente. No iníciode nossas atividades, estávamos razoavelmente sozinhos; enfrentávamos umacompetição menor e conseguimos inovar nas opções que criamos. Os nossosprodutos conseguiram ser diferenciados e gozavam de certo ineditismo.Embora os concorrentes fossem capazes de fazer aviões iguais ou melhores,por várias razões não os tinham produzido, deixando para nós um mercadomais ou menos aberto.
Nunca me esqueci da observação de uma senhora, em São José dos Campos,que, ouvindo um comentário sobre nossos êxitos na exportação de aviões,disse:
“Não vejo nisso nenhuma vantagem! Afinal, vocês estão exportando aviõesque ninguém fabrica!”
Foto 56 EMB-720 Minuano: monomotor de trem de pouso fixo para seispessoas.
Mal sabia ela que estava, na realidade, proporcionando-nos nem crítica nemuma minimização do nosso esforço. Efetivamente estava confirmando queestávamos certos quando, anos atrás, dissemos que para atender pequenas333
cidades deveriam existir pequenos aviões, projetados e construídos segundotécnicas de aparelhos comerciais e não da aviação geral.
No entanto, nada foi fácil e problemas foram enfrentados – muitossolucionados e outros ainda subsistiam na espera de se encontraremalternativas melhores. É
claro que lutávamos contra as diferenças que trabalhavam contra nós, maisprecisamente aquelas oriundas das desvantagens materializadas por estarmosno terceiro mundo. Apesar da realidade desse defeito de origem, os nossosclientes sempre acentuavam que ao lado da competência técnica e dacapacidade produtiva os produtos brasileiros eram bastante satisfatórios.
Um americano chegou a comentar que, se a EMBRAER estivesse na Flórida,seria uma das melhores empresas do mundo. Mas, perguntávamos, “e a nossaequipe –
deveria também ser de americanos?” Claro que não! A colocação, emboraprovinda de uma percepção que pressupunha uma infraestrutura favorável aodesenvolvimento de empresas de tecnologia avançada, não tinha sentido notempo e em função de como foi criada a EMBRAER.
Foto 57 EMB-721 Sertanejo: monomotor de trem de pouso retrátil para seispessoas.
334
Essas eram algumas das realidades que nos trouxeram até 1986. Sabíamosque, para o futuro, o quadro estaria alterado, colocando no horizonte nuvensde preocupação. As grandes empresas europeias fabricantes de aeronavesestavam buscando opções e projetando novos aviões no campo que tínhamos
escolhido para atuar. Como nós, buscavam aumentar sua participação eprogressivamente começaram a entrar nas nossas áreas e competindo defrente com o que fazíamos.
Curiosamente, o mercado do transporte aéreo regional e as ideias decorrentesnão interessaram ou não atingiram os fabricantes dos Estados Unidos. Oresultado que começava a se tornar visível era que a maior parte dos aviõesproduzidos para o nosso segmento de atuação não seria de fabricaçãoamericana, embora o mercado da América do Norte fosse de longe o maiordo mundo.
Foto 58 EMB-810 Seneca: bimotor para seis pessoas.
Na Europa, em face da pesada infraestrutura terrestre construída, emparticular de autoestradas e de ferrovias, ambas permitindo o tráfego em altavelocidade, não se via o transporte aéreo regional – mesmo oferecendoconexões internacionais – como algo que determinasse uma significativaparticipação no espectro da demanda gerada pelos passageiros. Assim, asvendas de aviões no 335
Velho Continente não eram significativas e indicavam projeções decrescimento limitado.
Na Ásia, ainda que por razões diversas, o panorama não era diferente.
Influenciada pelo mais baixo poder aquisitivo das populações e oferecendoum quadro de distâncias bem maiores a serem percorridas na região, otransporte aéreo regional, todavia essencial, até então não tinha justificadoinvestimentos que poderiam ser considerados razoáveis. A procura, oumelhor, a necessidade desse tipo de transporte sempre se mostrou clara naregião. Entretanto, parece que a insuficiente renda per capita efetivamentetem limitado a disponibilidade de um amplo e diversificado sistema detransporte aéreo regional.
Já na Austrália e Nova Zelândia o panorama mostrava-se completamentediferente. Uma intensa demanda para o transporte aéreo regional crescia,oferecendo um panorama otimista na procura e na compra de pequenosaviões.
Esse fenômeno mostra uma dinâmica própria intensa e em expansão. Talveznaquelas distantes regiões – quando vistas do nosso país – o cidadão tenhaencontrado uma vocação cultural que o leva ao voo e ao uso do avião comouma ferramenta fundamental para lhe proporcionar a disponibilidade detempo que precisa.
Foto 59 EMB-820 Navajo: bimotor para seis pessoas.
336
A União Soviética sempre apareceu no mercado sob diferentes ângulos. Osde fabricante e de operador/usuário – claramente decorrente do fechamentoimposto pelo regime político. Embora uma das grandes protagonistas nafabricação aeronáutica mundial – certamente por utilizar métodos próprios defabricação tanto para os aviões como para os equipamentos, distantes dospadrões consagrados pelo mundo ocidental –, não se tornou concorrente nemcompradora dos nossos produtos. Conquanto utilize, nos projetos e nodesenvolvimento de seus aviões, recursos e níveis tecnológicos em geralbastante avançados, os produtos vindos da Rússia e dos seus satélitesmostravam deficiências não aceitas pelos operadores do resto do mundo, quenitidamente preferiam produtos fabricados segundo as técnicas ocidentais,dentro das quais a EMBRAER se incluía.
Graças ao sistema em que operam, os soviéticos colocaram em movimentouma gigantesca e competente máquina de ideias e, à custa de pesadosinvestimentos em educação – tradição forte dos povos eslavos –, puderamabrir, em cada momento, novos horizontes para a ciência e para a tecnologia.No entanto, seus mecanismos de produção sempre encontraram grandesdificuldades para fabricar produtos confiáveis e que economicamentepudessem operar no competitivo ambiente dos mercados ocidentais. A tarefade convencer as empresas mundiais sobre a viabilidade e a economia para aoperação dos aviões soviéticos sempre foi algo difícil, e os produtosoferecidos, em geral, geravam uma desconfiança ainda não superada.Explicando de forma diversa, estava claro na cabeça da maioria dosoperadores que, conquanto a Rússia trabalhasse com tecnologias interessantese inovativas, os seus processos de fabricação para o avião em si, e seusequipamentos, não conseguiam transferir para os aviões fabricados osdesejados níveis de confiabilidade, eficiência e de operação.
A essas condições, derivadas de conceitos de projeto não-coerentes com osrequisitos de operações continuadas e de longo prazo, os russos agregavamquase nenhuma familiaridade com as práticas normais de comércio, ao estilodo mundo capitalista. Não pareciam ter noção de como funcionavam osfinanciamentos e as garantias patrimoniais necessárias. Um aspecto curiosoera o de não conhecerem absolutamente os sistemas complexos dasresponsabilidades civis ( civil liabilities) que acabaram se transformando numreal tormento para os fabricantes ocidentais, notadamente aqueles que tinhamseus produtos operando nos Estados Unidos.
Esse quadro claramente determinava, por consequência, a real fraqueza queos homens de marketing russos ostentavam nos momentos cruciais, quandotentavam provar que seus aviões estavam projetados para enfrentar a rudezade serviços operacionais que, comumente, requeriam operação em taxas deutilização que excediam dez ou mais horas por dia, durante meses ou anos.Adicionalmente, 337
havia o problema das etapas curtas nos voos regionais. Um avião típico, emmuitas áreas do território americano, australiano e mesmo brasileiro, erasolicitado a executar um pouso a cada 50 ou 60 minutos, como ocorria entãocom o nosso BANDEIRANTE, segundo os dados estatísticos que recebíamoscontinuamente de todos os cantos do mundo. Isso gera uma grandequantidade de ciclos de operação por hora voada – números muito maiores doque aqueles que se observam nos grandes jatos. Essa condição impõe umaconfiabilidade superlativa aos sistemas que são acentuadamente solicitados e,muito em particular, para os motores que são sujeitos a partidas e paradasdemasiadamente frequentes.
Se os russos não pensavam nisso, melhor para nós, pois seria um concorrentea menos. Entretanto, o assunto era motivo de debates constantes. Tudoentrava nas nossas cabeças, como dados essenciais para serem levados emconta, quando na elaboração dos requisitos básicos para quaisquer novosprojetos. Essa experiência de campo deveria ser colocada em qualqueroportunidade que surgisse para conceber os sucessores do BANDEIRANTE edo próprio BRASILIA, cuja utilização operacional estava se iniciando. Aorganização logística de apoio para aguentar tal nível de operação,requerendo fornecimentos de peças de reposição em qualidade e quantidade,
serviços de engenharia e solução de problemas operacionais, tinha de sercontinuamente reformulada e preparada para enfrentar esses padrões deeficiência, poucos anos antes insuspeitados para nós.
Embora a Guerra Fria continuasse a mostrar sua face, já se começava avislumbrar indícios de um futuro possível colapso na União Soviética, queviria efetivamente a ocorrer com reflexos negativos para os gigantescosescritórios de desenvolvimentos e para as empresas que fabricavam produtosaeronáuticos.
No campo da operação, a região era para nós uma incógnita. Massas enormesde pessoas eram transportadas pelo ar pela gigantesca AEROFLOT que,dispondo de uma ampla variedade de aviões, parecia tudo querer abocanhar.Se o fazia bem ou não, esta não era a questão. O serviço era monopolizado ea imensa maioria da população que não conhecia outro tipo de serviçoutilizava aquilo que lhe era oferecido. Assim, distante geograficamente, aUnião Soviética jamais justificou qualquer iniciativa da EMBRAER deaproximação – quer para oferecer seus aviões, quer para dela comprarqualquer material, componente ou equipamento.
Para nós, a África, salvo algumas iniciativas de pouca monta, estava fora docontexto para a exploração dos serviços de transporte aéreo regional. Paísescom populações pobres, debatendo-se em confrontos tribais, com exceção deumas poucas regiões (a África do Sul era uma delas), não se mostravamcapazes de reagir aos nossos esforços, e mesmo aos dos nossos concorrentes.Os mecanismos nacionais para encontrar o desenvolvimento econômico nãosão fáceis de serem 338
encontrados e implementados. Isso valia para nós, na América do Sul, e paraa própria África.
Naquele mercado prevaleciam as negociações de aeronaves usadas, em geralprovenientes dos países desenvolvidos. Não era surpresa, nas nossas comunsexcursões que nos levavam a atravessar países africanos, cruzar com algumdos nossos aviões operando nas cores de companhias, ilustres desconhecidaspara nós!
Alguém já teria dito que a África é o continente adormecido. Esperamos que
não seja assim, pois é injusto que milhões de seus habitantes não possam ter aoportunidade que eu próprio tive: sair de um ponto de partida modesto econseguir crescer na direção e na materialização do sonho e da ambição. É
impressionante constatar como as classes políticas de muitos países, emparticular entre os em desenvolvimento, não conseguem perceber como aeducação é importante. Se elas imaginassem a sua influência no seu próprioêxito eleitoral provavelmente poderiam pensar em investir pesadamente noscidadãos, tirando-os da miséria gerada pelo conhecimento e pelo treinamentoinsuficientes.
Afinal, o que é a Construção Aeronáutica?
O avião carrega em seu bojo uma quantidade de sistemas, de equipamentos ede componentes, uma estrutura complexa que tem de ser leve, prática ecumprir adequadamente as missões para as quais foi construído. Semdesmerecer qualquer outro produto, os aviões situam-se entre aquelasmáquinas mais difíceis de produzir e operar. Um passageiro não deveimaginar, nem lhe seria possível, a quantidade de sistemas que trabalhampermanentemente durante o período de uma viagem. E, o que é fantástico,tudo trabalha em coordenação, assegurando níveis de confiabilidadeextremamente altos.
É um consenso que o negócio de fazer e vender aviões comerciais não érealmente para indecisos ou para aqueles que não possam ter fé, disposição erecursos ponderáveis ou, ainda, que não tenham alguma ligação quasesentimental para com o ramo de atividade. Ele é realmente difícil e, medidodentro de qualquer padrão, intensamente competitivo. Há poucos segmentosindustriais que requerem tanto capital, tanto pessoal especializado de altonível, tanta diversificação e tanta tecnologia diferenciada.
Todavia, o que parece colocar a produção de aviões comerciais como umnegócio, no mínimo diferente, é a enormidade dos riscos e dos custos queprecisam ser aceitos; esses fatores criam uma quantidade de obstáculos àlucratividade e à visibilidade dos empreendimentos que, sob os critérios deanálise empresarial fria, tendem a desanimar mesmo os mais corajososinvestidores. Em que pesem todos esses percalços, a atividade da construçãoaeronáutica é capaz de gerar inusitado entusiasmo e pode tornar-se
extremamente gratificante para 339
aqueles que participam diretamente dos empreendimentos. Raros são osprodutos que proporcionam tamanha visibilidade perante a sociedade e dãomaior satisfação de realização. Quando, por exemplo, pela primeira vez umnovo tipo ou modelo de avião deixa o solo, palavras não descrevem o grau dealegria que proporciona e a sensação de dever cumprido
O avião, além de sua peculiar complexidade, é um produto tipicamentesujeito a riscos. Quando um projeto de desenvolvimento de um novo aparelhochega às suas etapas finais – após anos seguidos de muito trabalho criativo edespendendo enormes somas de recursos –, ele marca as empresas e aspessoas de forma indelével e consolida-se definitivamente na cabeça e nasvidas daqueles que puderam, direta ou indiretamente, viver as fases doprocesso.
Por outro lado, o avião é um produto sujeito a uma dinâmica de mercado, deforma muito particular. A concorrência intensa determina que o planejamentoestratégico das empresas fabricantes viva em um clima quase de constanteturbulência. Sente-se presente todo o tempo uma real psicose de osempreendimentos terem de permanentemente aceitar o desafio para a criaçãode novos modelos, com isso investindo pesadamente, mesmo em condiçõesmarginais. Ou, alternativamente, aceitar a opção de desaparecer, comumentechegando ao limite de fechar as portas, por falta de oferta de produtoscompetitivos no futuro.
O processo de lançamento de um novo avião, embora sempre cercado demuito entusiasmo e antecipando expectativas, constitui, na realidade, umpesado desafio à empresa. O sistema coloca em jogo investimentos quefacilmente podem exceder a própria capacidade da corporação ou dosacionistas. Os riscos dos compromissos assumidos aparecem agravados pelorelativo pequeno número de compradores no mercado. Alguns dessescompradores, por sua importância e dimensões de sua operação, podemtornar-se determinantes na vida ou na morte de um novo tipo de aparelho.Caso selecionem o modelo do concorrente, eles podem decretar o fracasso dafábrica perdedora.
O mercado está cheio desses exemplos que, em muitos casos, determinaram o
desaparecimento de produtos que, ao final, não tiveram êxito e nãoconseguiram lograr uma posição entre os possíveis compradores, que sãopoucos. Nesse processo de seleção, as discussões podem ser duras e forçammuitas vezes o vendedor a aceitar condições de fornecimento frequentementedesvantajosas.
Muitas vezes, a construção aeronáutica é comparada com a indústriaautomobilística. No entanto, em contraste e em função de sua produçãomassificada, o produtor de automóveis pode encontrar sustentação contandocom variedade de modelos, dentro de um mercado amplo e diversificado,caracterizado por milhões de consumidores. Na aviação é diferente, pois onúmero de tipos de 340
aeronaves é menor e os compradores, em geral profissionais são em pequenonúmero e facilmente reconhecidos amplamente
Os fabricantes que acreditaram e lançaram um novo avião e vieram a falhar,muitas vezes desaparecem com o seu produto – tal o grau decomprometimento requerido pelos investimentos necessários. A história daconstrução aeronáutica mundial mostra muitas grandes corporações, cujosnomes completam o elenco de magníficas realizações do passado e hojesimplesmente não mais existem – ou foram simplesmente fechadas, ouencontram-se ainda alguns remanescentes de seus investimentos participandoda produção de outras empresas em atividade.
Nomes importantes podem ser lembrados entre as vítimas do processo, comoGlenn Martin Company, Convair, General Dynamics, North American,Lockheed, McDonnell-Douglas (nos Estados Unidos); De Havilland,Handley Page, Hawker Siddeley, Vickers, Avro, Breguet (da Europa), emuitas outras.
Quais seriam então os mecanismos que atuam no setor e como elesfuncionam?
As respostas não são simples. Entretanto, alguns problemas podem seridentificados. Um, em particular, tem sido motivo de permanentepreocupação das empresas operadoras que, em consequência, pressionamduramente os fabricantes de aviões de aeronaves comerciais. Argumentam
eles que vêm encontrando dificuldades, julgadas como insuperáveis, paraacompanhar a escalada dos custos de desenvolvimentos e de produção dosmodernos aviões comerciais e acomodá-los rentavelmente às suas operações.Citam bons exemplos.
O bem-sucedido Boeing 737, que começou a operar em dezembro de 1967,era vendido por pouco mais do que US$ 3 milhões em 1971 e chega a US$26 milhões em 1986 e, pior, apresenta nítida possibilidade de continuar aencarecer segundo taxas superiores às da inflação norte-americana.
Em contrapartida, no mesmo período, os preços das passagens aéreas, emmédia, decresceram pelo menos 30%, mesmo considerando outrosapreciáveis aumentos nos custos de operação envolvendo salários,combustíveis, seguros e tarifas aeroportuárias. As linhas aéreas asseguramque o sistema está, e continua a caminhar, numa perigosa divergência.Acentuam que o quadro pode degenerar em perigosa crise capaz de levar osistema mundial (e os nacionais) de transporte aéreo a uma crise longa edifícil de ser superada. O resultado será, vaticinam, o desaparecimento deempresas em todo o mundo, nos dois segmentos, o dos operadores e dosfabricantes. Isso num cenário visto no final da década dos 1980.
A realidade provou que as preocupações da época tinham sentido e realmenteuma séria crise instalou-se no transporte aéreo mundial, no primeiro lustro dadécada de 90. Os resultados foram efetivamente catastróficos. Não se podeasseverar que ela teve como razão aquelas causas. Contudo, empresasdesapareceram dos dois lados: dos operadores e dos fabricantes. No Brasilnão tem 341
sido diferente. A EMBRAER não escapou da onda destruidora que seinstalou. A empresa, embora não tenha desaparecido, claramente foi afetada eteve que encontrar fôlego para enfrentar e vencer crise.
Os analistas tendem a insistir que as crises podem ser superadas. Muitosduvidam. O fato real é que, de tempos em tempos, uma crise surge e deixarastros.
Todos concordam que, como resultado dos vendavais que assolam a aviaçãomundial, o mercado aeronáutico muda com frequência e toma diferentes
formatos. As indicações são de que as estruturas têm de se modificar sempre,permitindo, ou vendas de milhares e milhares de aviões por ano, justificandoeuforias de ambos os lados – das linhas aéreas e das fábricas –, ou, por outrolado, falências e perdas de empresa que jamais voltam a operar.
Há alguns aspectos particulares dessa atividade industrial sobre a qual vale apena fazer algumas conjecturas. Em qualquer empreendimento, osinvestidores usualmente fazem estudos e projeções prospectivos tentandodeterminar a partir de que momento, ou de qual quantidade de produtosvendidos, poderão prever o retorno dos volumes aplicados nos investimentos.Teoricamente, vencido o período projetado, seria lícito esperar ospagamentos dos dividendos, retornando e justificando riscos assumidos pelosempreendedores. Os economistas decidiram denominar esse instante de pontode equilíbrio ou break-even point.
Na indústria aeronáutica pretende-se que seja também assim. Nós mesmos,ao longo da vida da EMBRAER, éramos frequentemente perguntados sobrequal seria o break-even point, por exemplo, do BANDEIRANTE, doBRASILIA, e assim por diante. No entanto, a verdade é que ninguém sabequando ocorrerá o ponto de equilíbrio de um programa de produção de umavião comercial e, surpreendentemente, qual seria o seu preço de venda apartir do seu custo. Isto pode soar como uma surpresa, mas crendo ou não, é arealidade. Os valores exatos de ambos os parâmetros, o equilíbrio e o preço –ambos se relacionam –, ficam obscurecidos por um monumental conjunto devariáveis, dificilmente quantificado, quando se fala de avião.
Certa vez, Malcom Stamper, então Presidente da BOEING, disse:
“Fixar o preço de um avião é tão difícil como medir o seu break-even point.Uma aeronave tem de ser competitiva. Assim, seu preço não é uma funçãodos custos mas das condições ditadas pela competição, em termos de quaisserão os custos do que ele produzirá por assento ou pela tonelada-quilômetro.
Quem conseguir fabricar o seu produto e fazer dinheiro nesse contexto, teráêxito. Os outros não!”
342
Richard W. Welch, quando, há muitos anos, também exerceu o cargo dePresidente da BOEING Commercial Airplane Company, adicionava:
“Os riscos são maiores neste negócio do que em qualquer outro, quandocomparado com os retornos que proporciona”.
Até recentemente, foi possível observar que empresas norte-americanastiveram como empreendimentos sucessores, também empresas americanas.Em outras palavras, no campo aeronáutico têm sido muito raros os exemplosde participação de investidores estrangeiros nos mercados soberanos de cadapaís. E, nos Estados Unidos, isto também não tem sido diferente. Em 1997, omundo dos negócios acompanhou com curiosidade o provável último salto daBOEING no campo das fusões de empresas. A tradicional e legendáriaDOUGLAS Aircraft Company, que tinha sido absorvida, em 1967, pelaMcDonnel Company e resistido por 30 anos, acabou por se transformar numadivisão da própria BOEING. Com esse passo, a empresa de Seattle tornou-se,de longe e na atualidade, a maior empresa de construção aeronáutica mundial,seguida pelo consórcio AIRBUS Industrie, da Europa.
O negócio foi tão grande que a polêmica dessa fusão saltou o Atlântico Nortesendo analisado e ameaçado de retaliação pela Comunidade Europeia. Ogrande receio dos competidores seria o da formação de um grande cartel oumonopólio. O
fato é que as tecnologias associadas à fabricação de aviões e os modernosrequisitos de segurança compulsoriamente aplicados determinaram aumentodos custos, e por consequência dos preços, somente permitindo asobrevivência de empresas que gozem de dimensões e de escalas que, sobqualquer ângulo de medida, sejam realmente grandes. Assim, no processo desobrevivência as empresas buscam ser maiores e absorver, se possível, omaior número de competidores que lhes seja possível.
O avião é um negócio internacional. Não tem fronteiras. As empresasfabricantes precisam ser cada vez mais competitivas em preços, emtecnologia de manufatura e em processos de vendas. E para realizar seusnegócios no mercado mundial precisam confiar no apoio financeiro daspolíticas de seus Governos e do sistema bancário de seus respectivos paísesque, por seu turno, precisam responder com criativa agressividade à política
de exportação que interesse à nação.
Colocando de uma forma mais ampla, é necessário compreender-se comoesse jogo de vender aviões é praticado. Como existem poucos compradores,quando comparados com outros negócios, a habilidade de promover osprodutos sempre desafia os mais qualificados especialistas. As equipes devenda são, em geral, compostas de engenheiros e de técnicos das maisvariadas especialidades. Essas equipes, além de conhecer os produtosminuciosamente, desenvolveram 343
habilidade para lidar com números e com as cláusulas de contratos realmenteimensos.
Todos os aspectos dos difíceis mecanismos de criar uma nova aeronave, defabricá-la e de vendê-la competitivamente colocam ângulos particulares parao Brasil. Os fatores integrantes dessa instigante indústria precisam sercompreendidos e analisados se desejarmos contar com uma atividade deconstrução aeronáutica sustentada. Partindo da tese de que se podem criaraviões inovadores e competitivos, modernos e sofisticados no nível do que seencontra no mercado internacional, há uma quantidade de variáveis queextrapola a possibilidade de um fabricante atuar diretamente e decidir.
A primeira dessas variáveis é aquela ligada à tributação. Há anos, cresceu onúmero de países signatários de um acordo que prevê a não-incidência deimpostos de importação nas aquisições de aviões comerciais, suas peças eserviços.
Isso significa que, em qualquer território nacional, os aviões são recebidossem trazer no bojo de seu preço qualquer imposto aduaneiro ou de comércio.Assim, fica claro que uma empresa produtora nacional, como a EMBRAER,não consegue atingir o mercado doméstico se, dentro dos seus preços,estiverem inseridos tributos que não possam ser recuperados. Se issoacontecer o produtor nacional pode ser obstado no mercado do seu própriopaís, deslocado pelo produto estrangeiro comprado com isenções totais deimpostos.
Os Estados Unidos conseguiram atingir a liderança mundial na exportação deaviões de transporte aéreo – nos últimos anos atingiu a marca de vender para
o mercado internacional cerca de 67% do consumo global. Um fatorcontribuinte, e considerado importante pelos fabricantes norte-americanos, éque, no sistema tributário daquele país, há mecanismos capazes de garantirque, na formação dos preços de venda, não haja espaço ou provisões paraimpostos que não sejam aqueles que razoavelmente o setor produtivo possacarregar na formação dos seus custos. Infelizmente, o mesmo não ocorre noBrasil, onde a carga tributária cresceu da ordem de 7% a 8%, nos meados doSéculo XX, para mais de 30% na década de 90.
11. EPÍLOGO
Este livro procurou abordar e pretendeu terminar nos primeiros anos defuncionamento da EMBRAER, no início da década dos 1970. Algumasincursões nos anos mais recentes foram necessárias quando elementosessenciais para tornar mais claros os cenários ou eventos relatados. A razãopela escolha da época está ligada à fidelidade ao título do livro “ADECOLAGEM DE UM SONHO”. Realmente, 344
quando jovem e ao lado do meu grande e inesquecível amigo Zico, no nosso
“escritório” (o banco de cimento da Avenida Rodrigues Alves em Bauru, SP),conversávamos e discutíamos perguntando o porquê o Brasil não fabricavaaviões.
Não sabia, e infelizmente o meu amigo não sobreviveu para saber, que euestaria engajado na materialização do sonho, que foi possível. Era um sonho,mas não podia pensar de que estaria entre os protagonistas dos resultadoscoletados na atualidade.
O livro que termina agora mostra a trajetória na busca da meta. Confesso quenem tudo foi planejado e nunca imaginei que, um dia, sessenta anos maistarde a nossa fábrica de aviões, a EMBRAER, poderia estar vendendo paratodo o mundo e acumulando pedidos dos mais variados tipos e modelos parapraticamente todos os países do mundo.
O Zico esteve comigo todo o tempo, tenho certeza! Contribuiu numaextensão que não posso calcular, colocando-me no caminho certo e criandoas oportunidades para que o melhor acontecesse. Participou para que eu
estivesse presente no momento certo. Enfim, creio que posso dizer, comentusiasmo, que o sonho decolou para nós ambos, embora muito cedo eutenha perdido sua companhia e a alegria que seria poder lhe falar, contandotudo.
Nesta Edição Comemorativa, publicada na primeira década do novo SéculoXXI, o mundo, provavelmente, está vivendo o período de maior velocidadena transformação das sociedades e das nações que a humanidade jamaisenfrentou. A partir da queda do muro de Berlim, em 1989, com todo o seusimbolismo de alteração no balanço mundial do poder, a globalização daeconomia, a internacionalização dos mercados financeiros, industriais ecomerciais, a explosão das telecomunicações, o extraordináriodesenvolvimento da informática, e assim por diante, revelaram realidades quedesafiam governantes e governados em todo o mundo. Vivemos outrostempos, as nações têm na atualidade de enfrentar esses fatos que agora sãoconstantes no dia-a-dia do novo cidadão mundial.
Além de outras múltiplas influências, tudo isso fez emergir novas realidades,alternando sucessos com dificuldades, mas, na base de tudo, sempre há algode novo no ar e o mundo caminha em frente, resoluto como os corajosos queempreendem e geram riquezas.
As vendas e as operações de aviões comerciais estão tentando superar asameaças dos custos da infraestrutura aeroportuária, da tributaçãogovernamental e dos preços do petróleo. Uma grande redução dosorçamentos das Forças Armadas mundiais causou verdadeiro terremoto nosprogramas de produção das empresas e, por consequência, na própriacapacidade de muitas continuarem a existir ou a operar independentemente.
345
Em que pesem os esforços dos Governos, notadamente os dos paísesdesenvolvidos, de colocar a indústria aeronáutica sob o guarda-chuva dointeresse nacional, o contínuo processo de fusões e de desaparecimento deempresas produtoras de aviões e de artefatos espaciais foi notável. Mesmoencarando o fato de que os Governos, de um lado ajudam com contratos dedesenvolvimento e de fabricação, mas de outro criam problemas com aregulamentação e as disposições tributárias. São duas cabeças diferentes,
usando diferentes chapéus.
Nos Estados Unidos, até uns 15 anos depois do final da Segunda GuerraMundial, em 1945, o poderoso mercado americano deu origem a dezenas deempresas fabricantes de aviões que, medidas sob quaisquer padrões,poderiam ser consideradas gigantes no setor. Muitas delas casaram seusprojetos civis com encomendas de desenvolvimento de produtos de interessee encomendados pelas Forças Armadas. Às claras dificuldades para criarnovos aviões, modernos e competitivos – adicionadas ao cenário iniciado em1988 de dramática redução dos orçamentos militares – dispararam umamodificação corporativa que culminou com apenas algumas megaprodutoras.
Na Europa, os Governos da França, Alemanha e Grã-Bretanha decidiramcompartilhar seus interesses procurando criar políticas comuns, buscandodesenvolver uma eficiente e competitiva indústria de defesa e aeroespacial.Foi entendido que isto poderia gerar uma posição europeia global,contribuindo para promover a segurança continental e garantir que asiniciativas industriais pudessem assegurar prosperidade através de atividadeseconômicas auto-sustentadas. Foi assim que, entre outras iniciativas na áreade equipamentos avançados, foi criada e nasceu a AIRBUS.
No campo da aviação comercial, segmento vital para as atividades daEMBRAER, usando uma simples metodologia aritmética – dividindo asordens de compra de aviões possíveis e previstas pelo número de tipos deaeronaves em competição –
conclui-se que três cenários poderão acontecer.
No primeiro, abrangendo o campo dos aparelhos de grande porte, agoraapenas fabricados pela BOEING e AIRBUS, todas as compras somenteatingirão as duas empresas. A capacidade de competir de cada uma dependeráde suas respectivas habilidades de oferecer alternativas variadas, respondendoaos requisitos específicos dos compradores, a preços favoráveis e com seusprodutos apresentando desempenho operacional altamente competitivo.
No segmento de aviões comerciais para 100 lugares estava claro, há algunsanos, que empresas, tradicionais ou não, deveriam desaparecer. Já é fato queperdas de operadores aconteceram e nada indica que novas alterações
deixarão de ocorrer, porquanto os aviões disponíveis no mercado parecemestar claramente fora das 346
expectativas dos compradores, salvo alguns modelos que as própriasBOEING e AIRBUS planejam.
No clima de recessão, ocorrido no início de 1990 e num cenário deglobalização das atividades industriais, a EMBRAER enfrentou sua primeirae mais dramática crise. Engolfada pela imensa recessão mundial, queinterrompeu todos os programas de reequipamento encetados pelas empresasnacionais e internacionais de transporte aéreo, a EMBRAER passou a correrriscos de interrupção definitiva de suas atividades.
Foi nessa época que eu, tendo deixado em 1988 a Presidência daPETROBRAS e o comando do Ministério da Infraestrutura em 1991, estavaem meu escritório em São Paulo, quando recebi uma chamada telefônica doMinistro da Aeronáutica, Ten.-Brig.-do-Ar Sócrates da Costa Monteiro, meucolega da Turma de 1951 da Escola de Aeronáutica do Rio de Janeiro.Sócrates simplesmente me solicitava analisar a possibilidade de retornar àempresa, reassumindo após 5 anos meu antigo cargo de DiretorSuperintendente, e buscar alternativas para salvar a empresa do fracasso.
Sinceramente atemorizei-me perante o desafio. Vinte anos antes eu própriotinha dado partida na empresa, era mais jovem – certamente menosexperiente, mas mais corajoso. Naquela época ainda não tinha enfrentadotantos embates, sonhava apenas com os estreitos horizontes de umacompanhia recém-criada e visava lançar em produção seriada um pequenoavião de transporte aéreo – o BANDEIRANTE – que tinha sido projetado efabricado mais com o coração do que com o realismo exigido pelas modernastécnicas aeronáuticas.
Tentei resistir ao máximo e esquecer a convocação do Ministro, mas o fatofoi que, no final de junho de 1991, voltava a me sentar na mesma mesa quetinha adquirido no início de 1970. Olhando em volta, conversei com muitosda minha equipe anterior, todos perguntando o que faríamos. O mercado emfranca recessão não comprava absolutamente nada. O Ministério daAeronáutica, preso a cortes de verbas orçamentárias, não tinha condições decolocar ordens de compra. As linhas de produção estavam praticamente
paradas. A complexidade de gerenciar uma empresa estatal tinha crescidodesmesuradamente e o que o meu amigo Ministro propunha era um desafiode grandes dimensões.
O Governo Federal, no processo de melhor controlar suas empresas, tinhabaixado uma quantidade de leis, decretos e regulamentos que em definitivoameaçavam intensamente a competitividade das empresas industriais,introduzindo-as no ambiente perigoso das decisões lentas, das limitações deautoridade para gerenciá-las, alterar estratégias e de marketing.
Foi um período de muitas preocupações e de intensas reflexões. Sabia quetudo o que se fizesse naqueles momentos iria afetar definitivamente a vida daempresa 347
no futuro. Não adiantavam os argumentos dizendo-se que a recessão eramundial e, o que ocorria com a EMBRAER, era um reflexo da conjunturainternacional. Tudo soaria como retórica e em nada ajudaria.
Muni-me da coragem necessária, chamei alguns colegas da antiga Diretoriada Empresa e, um dia, sentados em torno da nossa tradicional mesa dereuniões, expus-lhes:
“Estamos perante problemas muito sérios. Vamos precisar de estratégiasnovas e criativas. Assim, proponho:
• Defender a privatização da EMBRAER. Não será possível enfrentar adifícil conjuntura internacional, que temos vigorando hoje no mundo, numaempresa amarrada pelo enorme conjunto de restrições gerenciais impostopelo nosso acionista controlador maior, o Governo Federal;
Vamos reespecificar o EMB-145, o nosso futuro jato de transporte aéreopara 50 passageiros. Temos de alterar sua configuração de forma intensa.Proponho colocar seus motores na cauda, de modo a compatibilizá-lo com ainfraestrutura operativa disponível nas várias empresas que operam nossosprodutos anteriores, BANDEIRANTE e o BRASILIA. Teremos de imporparâmetros de controle no projeto para fazer com que ele seja competitivonos anos futuros de 1996 em diante, com o que de melhor se possa ter nomercado. Certamente, como não teremos recursos para o projeto e o
desenvolvimento do novo avião, a estratégia deverá ser a de encontrar eselecionar parceiros de risco, que poderão ser ressarcidos nos seus custospelas vendas futuras dos aviões produzidos;
• Deveremos lutar junto ao Ministério da Aeronáutica para cobrir os custos eafastar os riscos de estagnação da linha de produção do avião militar AMX,projetado e fabricado em cooperação com os italianos, para atender asForças Aéreas do Brasil e da Itália;
• Vamos encontrar opções para vender mais Tucanos para diferentes ForçasAéreas e mesmo produzir novas versões para tornar o produto mais flexível eatrativo; e
• Será necessário concentrar esforços para financiar todas essas atividadesque, em conjunto, poderão nos ajudar a sair do atual sufoco em que aempresa se encontra.
348
Muitas outras diretrizes foram então estabelecidas e a luta para materializá-las poderia fazer parte de outro livro. Principalmente a epopeia que foi aprivatização que, como acabou por ficar muito claro, não foi facilmenteaceita pelo Governo Federal, mas que teve grande sucesso.
Na perspectiva do tempo transcorrido, pode-se dizer simplesmente que aquiloque foi proposto em 1991, de uma forma ou de outra, e mais ou menoseficientemente, funcionou. O avião da aviação regional, EMB 145, para 50lugares foi um enorme êxito e carregou a empresa nos seus primeiros anosapós a transferência do controle acionário para o setor privado. Com centenasde unidades vendidas, ajudou a EMBRAER a vencer na sua nova propostapara o mercado internacional, contribuindo significativamente para arecuperação da sua capacidade competitiva de empresa de sucesso.
Foto 60 ERJ 145: Jato de transporte comercial até 50 passageiros, 1995.
O mercado internacional, embora ainda com perspectivas nada fáceis deantecipar, apresenta-se em demanda, em que pese o extraordinariamenteelevado preço do combustível, para os aviões de transporte aéreo. Destemodo, vemos a empresa – mais experiente por ter enfrentado uma grave crise– volta a ter 349
sucesso, agora como pessoa jurídica privada, hábil e preparada para competirno sempre difícil e complexo mercado dos produtos aeronáuticos.
Olhando para trás, o sonho dos meninos, Zico e Ozires, funcionou e decolou.
Seguiu o perfil de um voo, com turbulências, mas bem sucedido. Chegou auma decolagem, subindo e galgando níveis impensados. Problemas foramenfrentados e resolvidos, outros virão colocando desafios maiores. Mas, avida é assim.
Constituída por desafios que se manifestam de uma forma ou outra, de modoprevisível ou não. Por esta e muitas outras razões é que dirigentes,colaboradores e pessoas envolvidas na trajetória de qualquer organizaçãoprecisam estar preparados.
Aqui termina nossa história, com este breve e rápido epílogo.
Muito ainda se deverá escrever sobre a saga do desenvolvimento dos aviõesbrasileiros. De qualquer forma, este ensaio inicial está feito e esperamos que,para o futuro, novos e promissores capítulos poderão ser escritos. Mais doque isso, depois de tantos sonhos de muitos, o nosso Brasil fabrica e vendeaviões em todo o mundo. É pena que o nosso grande patrício Santos Dumontaqui não esteja para ver este sucesso que pode ser creditado ao bom povo donosso país. Mas, mesmo não presente, temos a certeza de que, do seu trabalhocriativo e visionário, aqui estamos com uma grande produção de aviões,gerando empregos e oportunidades para os que fabricam, para os que utilizamnossas máquinas e para os que as operam. Foi realmente a “DECOLAGEMDE UM SONHO” que agora voa seguro em direção ao futuro!
350