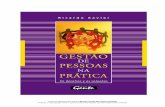Maatregelen om ammoniakemissie bij bovengronds toedienen van mest te beperken
2003 mest pucrs ELZA ELISABETH MARAN QUEIROZ DA SILVA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2003 mest pucrs ELZA ELISABETH MARAN QUEIROZ DA SILVA
1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PENSANDO AS FRONTEIRAS E AS IDENTIDADES NA OBRA DE ERICO VERISSIMO: O CONTINENTE (1949)
ELZA ELISABETH MARAN QUEIROZ DA SILVA
PORTO ALEGRE, RS - 2003
3
ELZA ELISABETH MARAN QUEIROZ DA SILVA
PENSANDO AS FRONTEIRAS E AS IDENTIDADES NA OBRA DE
ERICO VERISSIMO: O CONTINENTE (1949)
Porto Alegre, RS – 2003
ELZA ELISABETH MARAN QUEIROZ DA SILVA
PENSANDO AS FRONTEIRAS E AS IDENTIDADES NA OBRA DE ERICO VERISSIMO: O CONTINENTE (1949)
Dissertação apresentada ao curso de pós-graduação em História Ibero-Americana do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, para a obtenção do título de Mestre em História, área de concentração: História das Sociedades Ibero-Americanas e Brasileira.
Orientador: Prof. Dr. Charles Monteiro
Porto Alegre, RS - 2003
"... a função do escritor está cheia de pesadas tarefas. Por definição, não pode
servir hoje aos que fazem história; precisa servir àqueles que estão submetidos a ela".
Albert Camus
vi
AGRADECIMENTOS
É chegada a hora de agradecer. Esse é um dos momentos mais significativos, mas
também um dos mais difíceis. Há muito o que dizer, mas as palavras nunca conseguirão
expressar a realidade de nossos sentimentos.
Confrontamo-nos, ao longo da elaboração deste trabalho, com o impacto ante
muitas fronteiras e foi somente graças ao incentivo da família, dos amigos, dos professores,
que elas foram transpostas. Assim, agradecemos:
A Deus, sem o qual não conseguiríamos ultrapassar as fronteiras e integrarmo-
nos ao todo.
À minha família pelo apoio e pelo encorajamento demonstrados a cada dia.
Ao Professor Dr. Charles Monteiro, meu orientador, para quem todas as palavras
de agradecimento serão sempre insuficientes.
Aos Professores Drs. Arno Alvarez Kern, Braz Augusto Aquino Brancato e René
Ernaine Gertz, sempre prontos a nos escutar e nos auxiliar a encontrar soluções e a cruzar
fronteiras.
Ao Corpo Docente do Pós-Graduação em História, cujas experiências, aulas
ministradas e conversas informais nos incentivaram nas constantes buscas, para além do
mero senso comum.
À Ana Letícia Fauri, que prontamente nos assessorou no Arquivo Literário Erico
Verissimo - ALEV.
vii
À Carla Helena Carvalho Pereira, secretária do Pós-Graduação em História da
PUCRS, alma iluminada desse departamento, sempre disponível e sorridente a sanar tantas
dúvidas.
Às amigas Maritza Maffei da Silva e Ana Rita Ferreira. Quantas leituras e quantas
opiniões importantes!
Ao Sergio e a Vivian Terra Peixoto. Exemplo dos que sabem ultrapassar
fronteiras.
A Deborah Labandeira. “To be and ever to be”.
A vocês todos o nosso muito obrigado.
SUMÁRIO
RESUMO ............................................................................................................. vi
ABSTRACT ......................................................................................................... vii
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 01
CAPÍTULO I: A SINTONIA ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA................. 1.1 Da Relação História e Literatura.......................... ................................................1.2 Romance Histórico ......................................................................................... 1.3 Do Contexto Literário e Historiográfico.........................................................
10 12 31 49
CAPÍTULO II: DA FRONTEIRA ÉTNICO-CULTURAL À BUSCA DA IDENTIDADE SUL-RIO-GRANDENSE ............................................................ 2.1. Dos Sujeitos: identidades e fronteiras............................................................. 2.2. Os Espaços: a casa, o sobrado, a fronteira..................................................... 2.3. Os Tempos das Narrativas: do liame necessário entre Histórica e Literatura
83 84 119 149
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 174
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 18
ix
RESUMO Autora: Elza Elisabeth Maran Queiroz da Silva
Orientador: Prof. Dr. Charles Monteiro
A base desta dissertação trata das fronteiras étnico-culturais e das identidades do
Rio Grande do Sul, a partir da obra O Continente, do escritor cruz-altense Erico Verissimo,
publicada em 1949, e parte integrante da trilogia de O Tempo e o Vento, que é composto
também por O Retrato e o Arquipélago. Portanto, a idéia norteadora é analisarmos O
Continente, a partir do entendimento de vários autores, incluindo-se também o nosso
estudo, captando suas nuances como romance histórico, reunindo História e Literatura,
num mesmo contexto. Contemplamos, também, a questão das identidades e fronteiras sul-
rio-grandenses, enfocando as duas matrizes de sua formação: a lusa e a platina, as quais
nos permitem o entendimento do eu e do outro, em sua caracterização de fronteiras,
destacando a relevância das principais personagens criadas por Erico, bem como a relação
que o autor estabelece com a História do Rio Grande do Sul. Como é um trabalho de cunho
histórico, tratamos ainda do espaço e do tempo. O espaço, entendido como o lugar onde o
homem está - seja a sua casa ou qualquer outro local. O tempo, embora seja matéria-prima
da História, não será visto somente como linear e cronológico, mas também como um
tempo cíclico-mítico, amplamente enfocado em A Fonte e em Ana Terra, dois subcapítulos
de O Continente, e também um tempo de guerra e paz.
Palavras-chaves: literatura, história, fronteira, identidade, espaço, tempo.
10
ABSTRACT
Author: Elza Elisabeth Maran Queiroz da Silva
Guide: Prof. Dr. Charles Monteiro
The base of this dissertation deals with the ethnic-cultural frontiers and the
identities of Rio Grande do Sul, starting from the book The Continent, by the writer Erico
Verissimo, which was published en 1949 and it is part of the triology The Times and Wind,
which is also composed by The Portrait and The Arquipelago. Therefore, the leading idea is
to analyze The Continent, starting with the comprehension of several authors and also
including our study, captivating its nuances as a historical romance gathering History and
Literature in the same context. We also contemplate the identy questions and the sul-rio-
grandense frontiers, focusing two origins of its formation: the Portuguese and the platina,
which allow us the importance of the main characters created by Erico, and the relation
which the author establishes with the History of Rio Grande do Sul. As it a historic work, it
is also treated the space and the time. The space as the place where is the man – his house
or any other place. The time although it belongs to History, it won’t be seen as linear and
chronological, but also as cyclical – mythic time, widely focused in The Fountain and in
Ana Terra, two subchapters of The Continent and also a war and peace time.
Keywords: literature, history, frontier, identity, space, time.
11
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Por ocasião das comemorações dos cinqüenta anos de O Tempo e o Vento, do
escritor cruz-altense Erico Verissimo, publicou-se a obra "O Tempo e o Vento: 50 Anos",
organizado por Robson Pereira Gonçalves, a qual é composta por artigos de historiadores e
literatos. O contato com essa obra despertou-nos um sonho antigo, o de trabalhar História e
Literatura num mesmo contexto.
Inclinamo-nos ou talvez tenhamos invadido um território que não é o nosso de
formação acadêmica - a Literatura. Audaciosamente comprometemo-nos a discutir
basicamente a temática das fronteiras e identidades do Rio Grande de São Pedro, e todos
poderão dizer que isso sim é assunto corrente em nosso academicismo - a História. Nosso
desafio em querer abordar as questões, tomando como cenário os volumes I e II de O
Continente.
Imiscuirmo-nos num campo de literatos, estudantes de literatura e de todo bom
gaúcho, orgulhoso de já ter lido alguma obra de Erico Verissimo, é por deveras pretensão,
uma vez que não somos nem cruz-altense e nem gaúcha. Mas justificamo-nos, pois
morando há tantos anos na terra natal de Erico, aprendemos a conviver com personagens,
histórias, fatos, filmes, debates que, de alguma maneira, nos familiarizaram com o escritor.
Deixemos tranqüilos os experts em Erico Verissimo. Não viemos com o propósito
12
de discutir a literatura, mas simples e tão somente tomar emprestada parte da obra O
Tempo e o Vento, para enfocarmos o período histórico das décadas de 1930 -1940, à luz da
História e da Literatura.
Essa dissertação se insere nos domínios do que se chama história cultural,
abrangendo dois tempos significativos: as décadas de 30-40, especialmente o ano de 1949
quando Erico Verissimo publica O Continente - primeira parte de O Tempo e o Vento - e o
século XIX, a partir de 1745 quando o escritor elabora a estória de seu romance. São dois
momentos, em nossa ótica, que se intercalam, pois ao contar a história do Rio Grande do
Sul, a partir do universo da família Terra, que com o tempo une-se ao ramo Cambará,
Erico transporta, de certo modo, as discussões históricas que se processavam na Porto
Alegre de sua época para o âmbito de seu romance.
Elaborar uma dissertação de mestrado implica em que o autor estabeleça o campo
do saber no qual a pesquisa se insere, que é a investigação em seu aspecto formal. Dirigida,
em princípio, ao mundo acadêmico ela requer metodologia e técnicas específicas1, a busca
de fontes e interpretações e a discussão feita a partir dos teóricos que se debruçam sobre a
temática a ser trabalhada.
O tema por nós escolhido surgiu, primeiramente, de um desejo de trabalhar História
e Literatura, dois campos do conhecimento cuja interrelação julgamos possível.
Escolhemos como proposta literária O Tempo e o Vento do escritor cruz-altense Erico
Verissimo e, após várias leituras decidimos pelo recorte da primeira parte da trilogia, que
são os volumes I e II, intitulada O Continente, edição 1999, nosso documento básico.
A discussão que propomos nesse estudo, embora num primeiro momento possa ser
1 Cf. MONTEIRO, Charles. História, Literatura e Memória do Espaço Urbano na Ficção de Moacir Scliar. Estudos Ibero-Americanos. PUCRS, v. 24, n. 1, p. 182, jun. 1998.
13
entendida apenas como um debate entre a História e a Literatura, na realidade é um trabalho
que aponta para um questionamento contemporâneo, pois não se detém no século XIX, mas
traz, pelo viés historiográfico atual, como os trabalhos de Ieda Gutfreind2 e Marlene
Medaglia Almeida3, entre outros, a problemática de fronteiras, as matrizes lusa e platina de
formação étnico-cultural da sociedade sul-rio-grandense.
Examinar a questão de fronteiras, num mundo globalizado como o nosso, retoma
determinados enfrentamentos com a economia, com a política, com o patrimônio histórico-
cultural e até com o turismo, os quais afetam as regiões limítrofes como é o caso dos sul-
rio-grandeses e os sul-platinos.
Considerando-se a retomada de algumas dessas questões e sua constante
permanência, inserimos também a identidade e a alteridade, temas eminentemente atuais, e,
ao buscarmos essa discussão a partir de O Continente podemos perceber essas
preocupações no início do século XX, sendo debatidas no Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Sul, nos círculos literários, nos cafés, bares, livrarias, lugares que a
intelectualidade porto-alegrense freqüentava e onde se oportunizavam essas discussões.
Entre esses intelectuais estava Erico Verisimo, ao lado de outros literatos e também
historiadores, principalmente no período 1930-40.
Dividimos nosso trabalho em dois capítulos, cada um deles subdivido em três
partes. O primeiro subcapítulo diz respeito à "Sintonia entre História e Literatura", que
entendemos compatíveis. São dois campos do conhecimento, por vezes, distintos, mas que
2 GUTFREIND, Ideda. A historiografia rio-Grandense. Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS, 1992. 3 ALMEIDA, Marlene Medaglia. Introdução ao estudo da historiografia sul-rio-grandense: inovações e recorrências do discurso oficial (1920-1935). Porto Alegre, 1983. Dissertação (Mestrado em Sociologia); Curso de Pós-Graduação em Antropologia, Ciência Política e Sociologia, UFRGS.
14
podem perfeitamente mesclarem-se, como no caso de O Continente, onde Erico Verissimo
narra a saga da família Terra - Cambará vinculada à história da formação do Continente de
São Pedro.
Queremos demonstrar, em primeiro lugar, a relação que existe entre uma disciplina
de cunho científico, que é a História, comprometida com a veracidade e a plausabilidade
dos fatos, situando-os no tempo cronológico e linear e a relação que em muitos casos pode
haver com a literatura, entendida como uma disciplina de cunho basicamente estético, uma
vez que também voltada para a ficção, para o imaginável, para as narrativas em geral, os
quais compartilham com a História.Nesse subcapítulo uaremos os nomes de Ieda Gutfreind,
Marlene Medaglia Almeida, Sandra pesavento, Charles Monteiro, Walter Mignolo, Érico
Verissimo e Heloisa jochins Reichel, cujas informações validam a nossa idéia de
compatibilizar História com literatura.
Arno Alvarez Kern, Maria da Glória Bordini, Regina Zilberman, Flávio Loureiro
Chaves e o próprio Erico Veríssimo, nos darão suporte, quer histórico, quer literário, para
que possamos explicar nossas cosniderações a respeito de ser O Continente um romance de
fundo histórico.
Em "O Contexto Literário e Historiográfico" queremos mostrar o que se
processava na literatura e na historiografia sul-rio-grandense, não apenas em 1949, quando
é publicado O Continente, mas durante as décadas de 1930 e 1940.
Observaremos, nesse terceiro subcapítulo, que a situação econômica do Rio Grande
do Sul e do Brasil, eminentemente agro-pastoril, é suplantada por uma estrutura industrial
que vai ganhando espaço, tanto na cena historiográfica quanto na literária. Chamamos a
atenção também para o giro criativo que se opera na literatura do período, onde Erico
15
Verissimo será um marco, ao inaugurar uma outra maneira de escrever, voltando-se para o
romance de cunho urbano. A partir dessa premissa, Erico inscreve-se como um escritor
engajado ao seu tempo, preocupado com as questões do cotidiano que fervilhavam nas
décadas de 1930 e 1940. Para a feitura desse subcapítulo apoiaremos-nos em Flora
Sussekind, Ieda Gutfreind, Arno Alvarez Kern, Ligia Chiappini, Cherles Monteiro,
Elisabeth Wenhauses Rochadel Torresini, José Hildebrando Dacanal, Daniel Fresnot, Erico
Verissimo, Regina Zilberman, Maria da Gloria Bordini.
No segundo capítulo de nossa dissertação, pretendemos demonstrar a questão da
"Fronteira Étnico - Cultural e a Busca da Identidade Sul-Rio-grandense". Para tanto
achamos oportuno verificar quem são “Os sujeitos: identidade e fronteiras” pois vem ao
encontro em que a historiografia do Rio Grande do Sul, estava discutindo as matrizes de
formação de sua sociedade e era um momento significativo à obra de Erico, que apropriou-
se dessa temática, inserindo-a em sua obra.
Ao tratarmos de "Os Sujeitos: Identidades e Fronteiras", primeiro subcapítulo
dessa parte, a procura pela identidade do homem sul-rio-grandense esbarra na fronteira
étnico-cultural. Considerando que o estado territorializa-se numa área limítrofe rio-platina,
é comum a convivência entre gaúchos e gauchos. Ccomum sim, mas nem sempre pacífica o
que levou, em última instância, a uma visão do eu e do outro.
Como se estabelecem essas fronteiras, na América, até que ponto elas são
discutidas, na Europa, por espanhóis e portugueses, e até onde elas se impõem sobre
brasileiros e castelhanos é também um dos objetivos desse estudo.
Por isso consideramos significativo observarmos o que se passava no mundo real,
quando da publicação de O Tempo e o Vento, e como o autor retrata essa situação, pela fala
das personagens, para alguns autores ele privilegiou a vertente lusa e, para outros ele a usou
16
para questionar essa tese, para polemizar sobre a existência inegável dos espanhóis nas
fronteiras de O Continente e sua conseqüente influência cultural.
Apoiaremos-nos em Gaston Bachelard, Lígia Chiappini, Flávio Aguiar, Regina
Zilberman, Maria da Glória Bordini, Luiz Amrobin, Erico Verissimo, Carlos Reverbel,
além de outros autores quando nos referirmos aos espaços.
O segundo subcapítulo de que nos ocupamos trata dos "Espaços: a Casa, o Sobrado,
a Fronteira". Trataremos da casa e do sobrado fundidos numa mesma construção, mas com
conotações diferentes, como refere o próprio Erico.
Ao nos referirmos ao espaço, no âmbito histórico, enfocamos o estado-nação, pois a
relação entre o romance de Erico e os fatos históricos permitem-nos ressaltarmos essa
temática, e quando consideramos que o estado-nação", é um ser ao mesmo tempo social,
político, cultural, ideológico, mítico, religioso"4, entendemos que essas características todas
aparecem no romance de Erico, que também abrange o contexto histórico, quer o momento
da escrita do romance, quer o da época enfocada no mesmo.
Considerar a fronteira numa conotação de espaço é trabalharmos com a "fronteira
aberta' e com a "fronteira em movimento". Tratar da fronteira em movimento significa dizer
que, em função dos acordos firmados entre Portugal e Espanha, a região fronteiriça na
América do Sul sofria constantes alterações geográficas. Tratar da fronteira aberta nos dá a
idéia de uma zona não demarcada e que, portanto, estava à mercê da conquista, tanto de
gaúchos quanto de platinos. E é um momento em que não poderemos nos furtar em referir
também a questão de limites, embora ela apareça de forma subreptícia, por não ser o
4 MORIN, Edgar. Reflexões sobre a fronteira. In: CASTELO, Iara R. (org.) Fronteira na América Latina: espaços em transformação. Porto Alegre: EdUFRGS, 1997, apud GOLIN, Tau. A fronteira. PortoA legre: L&PM, 2002.
17
objetivo dessa dissertação.
Trabalhar com o espaço é identificar a grande propriedade que, no século XIX,
conferia aos latifundiários a respeitabilidade política e econômica. No romance e em Erico
essa situação se aplica tanto à família Amaral, fundadora de Santa Fé, quanto à família
Terra-Cambará, que gradativamente foi conquistado o seu espaço.
Nossa última temática tratou de "Os Tempos das Narrativas, Histórica e Literária".
É impossível desenvolvermos um trabalho de cunho histórico sem nos referirmos à base de
sua estrutura, que é o tempo. Cronológico, linear, evolutivo esses são os tempos
significativos para o ofício de historiador que o distinguem da narrativa literária. Esta, com
toda a liberdade que a arte lhe oportuniza, pode tratar de um tempo mítico, cíclico,
oscilando entre os tempos da narrativa histórica e os da narrativa literária.
Nosso suporte teórico contará com autores como Paul Veyne, Charles Monteiro,
Regina Zilberman, Flávio Loureiro Chaves, Luiz Marobin e Erico Verissimo, que nos
remetem aos tempos históricos e literários.
Trabalhamos primeiramente com o tempo mítico-cíclico, situado no início do
romance de Erico, notadamente em A Fonte e Ana Terra. Esse é o tempo que traz a idéia
de que sempre as coisas voltam ao mesmo ponto, é pois um tempo em que predomina o
fatalismo das coisas. Nos demasi capítulos do romance o sobrenatural, da sina, do
fatalismo, dará lugar ao tempo histórico – presente ou passado – onde as coisas têm uma
época e um lugar determinado. Inicia-se, então, uma nova fase para essa personagem que
conduzirá toda a sua família. Em termos históricos queremos demonstrar a dinamicidade
que irá se processando com as mudanças sócio-políticas e econômicas na sociedade sul-
18
rio-grandense e brasileira, pois a característica do tempo histórico é sua precisão. Há uma
data certa: dia, mês, ano ou século, o que nos permite situarmos os aconteciemntos dentro
de um contexto histórico.
Erico, portanto, insere em seu romance duas temporalidades: a de quando ele
escreve a obra - na sua época, diante da sua realidade - e a de quando ele conta a história do
Rio Grande do Sul, através de O Tempo e o Vento.
Finalmente a terceira categoria que destacaremos é o que denominamos de tempo de
guerra e tempo de paz, que também serão vistos simultaneamente. Esses tempos não ficarão
restritos às guerras propriamente ditas, às lutas de fronteiras, aos acordos de paz. Tentamos
mostrar, ao longo da dissertação, e não apenas quando falamos especificamente desses
tempos, que guerra e paz evidenciam também conflitos internos.
Muitos outros autores aparecem em nossa dissertação. Os que aqui estamos
destacados foram os que mais presentificam o nosso trabalho.
Não podemos tratar de O Tempo e o Vento, mesmo usando apenas O Continente,
sem falarmos no vento, um dos signos que marcam essa obra de Erico. O vento é fato
presente na vida das personagens do romance e ele determina momentos muito especiais,
especialmente para Ana Terra. Vamos verificar que o título que Erico escolhe para sua obra
é primoroso, pois ambos, tempo e vento, ao mesmo “tempo” que parecem estar juntos,
funcionam, na realidade, com antítese um do outro, pois o vento é permanência, no sentido
de que de onde ele soprar sua presença será sempre notada, enquanto o tempo é passageiro,
embora deixe suas marcas.
Entendemos que a Literatura estabelece uma interface com a
História. Assim, o que pretendemos foi expor de forma simples,
19
porém reflexiva, nosso entendimento sobre o processo histórico dos
anos 1930 e 1940 que se vivencia uma crise geral no Rio Grande do
Sul e no país e como a sociedade se projeta nesse tempo e no
contexto literário, numa intermediação em que a dramaticidade, o
enfrentamento entre suas personagens, os óbices históricos, se
sucedem numa progressão discursiva, que nos provoca interrogações
que não ficam dirimidas num mero questionamento linear.
CAPÍTULO 1
A SINTONIA ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA
A idéia que nos moveu a trabalhar a temática desse capítulo foi examinar as
relações que se interpõem entre a Literatura e a História, dois campos do conhecimento
que, sob nossa ótica, convivem numa fronteira. Essa é a nossa proposta: examinar a
representação da Fronteira na História e na Literatura, através do romance O Continente,
de Erico Verissimo.
O Tempo e o Vento é tido pela crítica literária como a obra máxima de Erico, e
20
O Continente, produzido em 1949, é o primeiro livro dessa obra, formada ainda por O
Retrato e O Arquipélago, compreendendo no todo, uma narrativa sobre duzentos anos de
lutas, desde a formação do Rio Grande do Sul até a Segunda Guerra Mundial (1745-1945).
O romance de Erico evoca a narrativa e as personagens numa longa duração5. É,
5 Sobre a longa duração ver os seguintes autores. BRAUDEL, Fernand. The Mediterranean and the Mediterranean World en the Age of Philip II, trad. De S. Reynolds. 2. ed., Londres, 1972 - 3, 2. v. apud BURKE, Peter (org.). A Escrita da História: Novas Perspectivas. São Paulo: UNESP, s/d, p. 12. "Nessa obra o autor "rejeita a história dos acontecimentos (histoire événementielle). (...) Para ele o que realmente importa são as mudanças econômicas e sociais de longo prazo (la longue durée) e as mudanças geo-históricas de muito longo prazo. LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins, 1995. P. 45/46. "A mais fecunda das perspectivas definidas pelos pioneiros da história nova foi a longa duração. A história caminha mais ou menos depressa, porém as forças profundas da história só atuam e se deixam apreender no tempo longo". (...) A história de curto prazo é incapaz de apreender e explicar as permanências e as mudanças. (...) Portanto, é preciso estudar o que muda lentamente e o que se chama, desde há alguns decênios, de estruturas". "A teoria fecunda da longa duração propiciou a aproximação entre a história e (...) a antropologia. (...) Daí a necessidade de desenvolver os métodos de uma história a partir de textos até então desprezados - textos literários ou de arquivos, que atestam humildes realidades cotidianas -, os "etnotextos". BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais. Lisboa: Presença, 1986, p. 14. "A palavra estrutura (...) domina os problemas da longa duração. [ Os observadores do social entendem por estrutura uma organização, uma coerência, relações suficientemente fixas entre realidades e massas sociais]. (...) Para nós historiadores, uma estrutura é, indubitavelmente, um agrupamento, uma arquitetura; mais ainda, uma realidade que o tempo demora imerso a desgastar e a transportar. Certas estruturas são dotadas de uma vida tão longa que se convertem em elementos estáveis de uma infinidade de gerações: obstruem a história, entorpecem-na e, portanto, determinam o seu decorrer. Outras, pelo contrário, desintegram-se mais rapidamente. Mas todas elas constituem, ao mesmo tempo, apoios e obstáculos, apresentam-se como limites (envolventes, no sentido matemático) dos quais o homem e as suas experiências não se podem emancipar. Entre os diferentes tempos da história, a longa duração apresentou-se, pois, como um personagem embaraçoso, complexo, freqüentemente inédito. (...) Para o historiador, aceitá-la equivale a prestar-se a uma mudança de estilo, de atitude, a uma inversão de pensamento, a uma nova concepção do social. Equivale a familiarizar-se com um tempo que se tornou mais lento, por vezes, até quase o limite da mobilidade. (Idem. p. 17) Para o historiador tudo começa e tudo acaba pelo tempo: um tempo matemático e demiurgo sobre o qual seria demasiado fácil ironizar; um tempo que parece exterior aos homens, "exógeno", diriam os economistas, que os impele, que os domina e arranca aos seus tempos particulares de diversas cores: o tempo imperioso do mundo". (Idem. p. 34) Se a história está obrigada, por natureza, a prestar uma atenção privilegiada à duração, a todos os movimentos em que esta se pode decompor, a longa duração parece-nos, neste leque, a linha mais útil para uma observação e uma reflexão comuns às ciências sociais. (Idem p. 37)
21
portanto, um longo tempo que o autor desenvolve nos seis volumes que compõem a trilogia
de O Tempo e o Vento, da qual nos fixamos em O Continente.
Para Chaves O Tempo e o Vento faz parte "da maturidade do escritor" e, nesse
primeiro volume, conforme nos ensina esse autor, é...
(...) onde se traça a história do Brasil meridional desde a era colonial, no século XVIII, até à queda do Estado Novo, em 1946. (...) aborda sobretudo as origens da antiga Província de São Pedro, sintetizando-as nas criaturas de ficção que adquirem impressionante força mítica. Na imensa galeria dessas personagens que se distribuem entre seres puramente imaginários e tipos historicamente reais, avultam as figuras de Ana Terra e do Capitão Rodrigo, os dois pólos das grandes forças humanas que movimentam a ação de O Continente. (1996, p. 16-17)
Ana Terra e Rodrigo Cambará são duas personagens ímpares no romance. Embora
ocupem temporalidades diferentes, persistem durante toda a obra, desde seu aparecimento
até sua morte, através, primeiro, da atuação de ambos e, depois, pela lembrança de seus
descendentes. Sobre as personagens, que são os sujeitos deste trabalho, elaboramos um
capítulo específico.
É através da atuação das personagens, vinculadas aos
acontecimentos históricos que Erico Verissimo traça sua narrativa.
Observando, pois, a maneira como o autor promove o encontro da
literatura com a História, expressa em seu romance, é que
entendemos que as fronteiras entre ambas incursionam lado-a-lado,
ora se aproximando, ora se distanciando.
22
1.1 Da Relação História e Literatura
Nossa proposta, retratada neste subcapítulo, é mostrar o que Erico Verissimo, um
literato, produziu entre a obra que desejava elaborar e a historiografia vigente no Rio
Grande do Sul nos anos 1930 - 1940. Nosso alvo é compreender as semelhanças e as
distinções entre História e literatura. Em momento algum pretendemos privilegiar as
diferenças ou similitudes entre esses dois campos de estudo, mas sim "entender que as
diferenças e as semelhanças são construídas a partir dos pressupostos que fundam e dos
objetivos que guiam, tanto a produção discursiva quanto sua análise" (Mignolo apud
CHIAPPINI e AGUIAR, 1993, p. 115-16).
Rama, referindo-se às origens da História, assim escreve:
Es frecuente olvidar que la Historia surge del tronco secular de la epopeya, al igual que la novela. Podríamos decir que surge cuando se produce la crónica en que se objetiva el dato inserto en la epopeya. Crece y se supera, elevándose a su destino, cuando ofrece un cuadro verdadero del pasado humano, facilitando un esqueleto o filosofía que representa - de acuerdo com las palabras de W. Diltey - uma autognosis del hombre. (1975, p. 13)
História e literatura6, são campos ou áreas do conhecimento que ora se aproximam,
ora se afastam. Embora esse autor afirma que a História tem uma relação intrínseca com a
novela, com a epopéia, o que nos leva a entendê-la como narrativa, não podemos esquecer
que a História se enquadra no campo das ciências e, como tal, não pode ser fantasiosa, tem
6 SANTOS, V. Silva dos. Apontamentos de literatura gaúcha. Porto Alegre: Sagra, 1990. O autor explica que (...) a história registra fatos que não se repetem, ao passo que na Literatura, a comunicação se expressa na cadeia significante dos símbolos escritos que pode não só ser revisitada, mas até modificada pelas reações do leitor, ainda que a materialidade de sua expressão se conserve sempre a mesma. WEINHARDT, M. O Tempo e o Vento: um diálogo entre ficção e história. In GONÇALVES, R. P. O Tempo e o Vento - 50 Anos. Santa Maria, RS: UFSM; Bauru, SP: EDUSC, 2000, p. 98. A autora explica que: O conceito de História predominante quando da publicação da trilogia de Erico Verissimo - estudo dos fatos registrados pela crônica histórica e de figuras de destaques a eles relacionados, preferencialmente num sentido de exemplaridade e de
23
que respeitar o rigor científico e comprovar o que afirma.
A História assim como a literatura pode falar de um mesmo assunto. Entretanto, a
História tem o compromisso com a veracidade7 e a plausabilidade das
interpretações dos fatos, ou pelo menos o dever de chegar o mais próximo possível dela.
Além disso, o discurso histórico tem uma forma própria de se conduzir. A literatura
pertence ao campo das artes e, por mais realista que seja, pode usar uma linguagem aberta,
sem se comprometer com o significado referencial dos termos; pode usar de suas metáforas,
suas prosopopéias, tornando mais elegante a forma de escrever de seus autores. Há,
portanto, normas8 específicas para cada uma.
De acordo com Rama (1975, p. 12), o divórcio entre a História e a literatura é fruto
de nossa contemporaneidade. O autor assim afirma "(...) en la época contemporánea el afán
crítico y científico extrae a la Historia de la Literatura, la convierte en una ciencia, y la
entiende desvinculada totalmente de lo bello y naturalmente de la novela".
Para o autor acima referido, enquanto o poeta segue uma rima e uma métrica para
expressar sua arte, o historiador usa métodos e técnicas específicos de sua ciência para
reforço do heroísmo nacional (...) permitia localizar os momentos e as personagens históricas de que se apropriou a escrita ficcional, ou antes, que constituíam o cenário do enredo. 7 Convenção de veracidade. A linguagem é empregaa segundo a convenção de veracidade V, quando todo membro M, de uma comunidade lingüística Cm, ao desempenhar uma ação lingüística Al, espera que os outros membros de Cm, envolvidos em Al, reajam de acordo a V e aceite: primeiro, que o falante se compromete com o "dito" pelo discurso e que assume a instância de enunciação que o sustenta (por isso, o falante pode mentir ou estar exposto à desconfiança do ouvinte); e, segundo, que o enunciante espera que seu discurso seja interpretado mediante uma relação "extensional" com os objetos, entidades e acontecimentos dos quais fala (por isso, o falante fica exposto ao erro). Mignolo apud CHIAPPPINI e AGUIAR (1993, p. 123) op. cit. 8 Normas historiográficas e literárias. A linguagem é empregada de acordo com as normas historiográficas (NH), ou literárias (NL), sempre que todo membro de uma comunidade especializada (científica ou artística) CmE, ao realizar uma ação lingüística, espere que os outros membros de CmE, assim como também todo membro da comunidade lingüística Cm que conhece a língua e as normas, reaja de acordo com NL ou a NH e aceite: que o escritor ou historiador opera dentro do contexto x de historiografia, ou y de literatura, ou se opõe a eles de uma maneira que é incompreensível, porque, ao opor-se, invoca-as. MIGNOLO, Walter. Lógica das Diferenças e Política das Semelhanças da Literatura que parece História ou Antropologia, e Vice-Versa, p. 124. In: CHIAPPINI, Lígia e AGUIAR, Flávio Wolf de. Literatura e História na América Latina: .Seminário Internacional, 9 a 13 de setembro de 1991. São Paulo: EdUSP, 1993.
24
desenvolver seu pensamento e fazer-se entender,9 respondendo à comprovação que se faz
necessária quando afirma a existência de um fato, seja ele econômico, político, religiosos,
cultural, etc., que afetava toda a sociedade.
Mignolo apud CHIAPPINI e AGUIAR, (1993, p. 125), considera no caso da
História os "enunciados constitutivos de entidades existentes", porque pressupõe-se a
questão da veracidade que já citamos. O exemplo de Bento Gonçalves pode ser apontado
como uma entidade migrante "pois muda de um mundo onde o reconhecemos como
entidade existente para um mundo ficcional", como podemos observar neste exemplo,
citado por Erico (1999, v. 1, p. 181-2), através de um diálogo entre o Cap. Rodrigo e
Juvenal, irmão de Bibiana:
- Falava-se muito na cavalaria de Bento Gonçalves da Silva e de Bento Manoel Ribeiro... Uma noite montei a cavalo, logrei a sentinela e me fui...
- Me juntei com a cavalaria dos dois Bentos. Aquilo é que é gente, amigo. Barbaridade! Que cavaleiros! Levamos a castelhanada a grito e a ponta de lança até a fronteira. Depois tivemos umas escaramuças mais, até que veio a paz.
Juvenal ergueu-se e Rodrigo fez o mesmo. - Vosmecê já viu peixe fora d'água? Pois aqui está um. Na paz me
sinto meio sem jeito. - Quer dizer que vosmecê recém saiu da guerra. - Ainda trago nas ventas cheiro de pólvora e sangue.
Podemos observar também um outro ponto, a partir desse mesmo exemplo. A combinação
que Erico proporciona, ao reunir personagens ficcionais e históricas,
9 ARISTÓTELES. Poética, ed. bilingüe de la Universidad Autónoma de México, 1945, IX, p. 14, apud RAMA, Carlos M. La Historia Y La Novela. Madrid: Tecnos, 1975, p. 12. (...) la conocida afirmación de Aristóteles, contenida en la Poética, cuando expresara: "En efecto, no está la diferencia entre poeta e historiador, en que uno escriba com métrica y el outro sin ella, que posible fuera poner a Heródoto en métrica, y com métrica e sin ella, no por eso dejaría de ser istoria. Empero diferíanse en que una dice las cosas tal como pasaron y el outro cual ojalá hubiera pasado".
25
como se ambas realmente tivessem convivido, porque existentes, quer no
romance, quer na História.
Quanto à literatura, a ficção10 de que o literato pode valer-se para criar torna-a, por
vezes, mais atraente, pois, enquanto ela trata de um fato, de um período histórico e dentro
da temática histórica escolhida, o literato tem total liberdade para recriar o que quiser sobre
o mesmo tema. É o que Mignolo apud Woods In CHIAPPINI e AGUIAR (1993, p. 125)
classifica como "enunciados ficcionalizados de entidades existentes" e "enunciados
constitutivos de entidades não - existentes". Ou seja, no primeiro caso, são entidades que
podem emigrar da vida real para dentro do texto ficcional, como no exemplo histórico já
citado; no segundo caso elas podem sere concebidas especificamente para aquele texto,
como é o caso de quaisquer das personagens imaginadas por Erico Verissimo.
Weinhardt in GONÇALVES referindo-se à história e à ficção, assim se posiciona:
Quanto à importância da história, a maneira de ler a realidade que lhe é própria depende de
instrumental de sua exclusiva competência. A ficção, que eventualmente até pode ser usada pela
história como documento, neste caso oferecendo subsídios a propósito do tempo em que é
produzida e não do tempo ficcional, não é substitutivo para o ensaio histórico, embora parceira
de diálogo.
(...) O texto literário, se submetido aos atuais recursos da teoria histórica abre seu leque para a cultura e, em movimento simultâneo, reconhece as regras de funcionamento de processos discursivos e sua força de revelação e de mascaramento, está apontando também para um outro modo de ler o texto ficcional que encena o histórico. A consciência do roman fleuve gaúcho revelada por diferentes tipos de abordagens históricas é mais um modo possível de aduzir razões para a força de verdade de seu universo ficcional. (2000, p. 100),
10 Convenção de ficcionalidade. A linguagem é empregada conforme a convenção de ficcionalidade F, quando todo membro M, de uma comunidade lingüística Cm, ao desempenhar uma ação lingüística Al, espera que os outros membros de Cm, envolvidos em Al, reajam de acordo com F e aceitem: primeiro, que o falante não se compromete com a verdade do "dito" pelo discurso (por isso o falante não está exposto à mentira); e, segundo, não espera que seu discurso seja interpretado mediante uma relação "extensional" com os objetos, entidades e acontecimentos dos quais fala (por isso, o enunciante não está exposto ao erro). Mignolo apud CHIAPPINI e AGUIAR (1993, p. 123), op. cit.
26
A fala da autora vem reforçar o entendimento de que a História e a literatura,
produtos da cultura de uma sociedade, podem atuar juntas, em campos paralelos
distinguindo-se história de ficção11 sem haver choques entre elas, mas pelo contrário
usando uma e outra na confecção de seus textos literários e na explicação mais
entusiasmante dos fatos históricos.
Embora a História apresente-se como uma narrativa, ela implica viéses, acréscimos
ou rupturas. Na obra de Erico, quando se trata da fronteira geográfica, vê-se claramente que
a narrativa relativiza a fronteira externa, ao falar da guerra entre os gaúchos do Rio Grande
e os gauchos da região platina, ou seja, entre os sul-riograndenses e os outros da fronteira.
No sentido de fronteira interna, o termo tem a conotação de peso político, pois ao longo do
texto romanceado vamos nos deparar com as barreiras que separam os Terra-Cambará dos
Amaral, enquanto posição social e confronto político, na ficcional cidade de Santa Fé. É
uma disputa ambivalente, constante e que se propaga pela obra, nos descendentes dessas
famílias-personagens . Correspondente à história política do Rio Grande do Sul que opôs
chimangos e maragatos.
Bastos e Cunha in GONÇALVES enfatizam que,
ao se apropriar da Literatura, o historiador produz sempre uma nova leitura, que constrói uma outra leitura do passado. Dessa forma, aquilo que acabamos de chamar de passado é sempre uma elaboração tanto do historiador como do escritor. (2000. p. 183)
11 Não entendemos ficção como sinônimo de literatura. Em nosso texto ela aparece a partir do entendimento de que o romance de Erico é também ficcional. Respaldamos nossa idéia em Mignolo In. CHIAPPINI e AGUIAR (1993, p. 123) que assim afirma. "quando falamos em literatura e historiografia, empregamos a linguagem (tanto em função de enunciantes como de ouvintes ou leitores) de acordo com certas normas determinadas pela comunidade literária ou historiográfica. É um erro, portanto, pensar que literatura e ficção são sinônimos".
27
Para nós, o sentido de apropriação12 da Literatura, serve, para o historiador, como
fonte para os seus escritos. É o que estamos fazendo nesta dissertação, ou seja, estamos
aliando um fato histórico, que é a questão das fronteiras, especialmente as fronteiras étnico-
culturais, e a questão da identidade sul-rio-grandense, a partir de uma obra literária, neste
caso O Continente.
Assim, os fatos referenciados pela História e/ou pela literatura servem para
presentificar as questões suscitadas por esses acontecimentos, tornando-os mais
compreensíveis.
Conforme afirma Monteiro (1998, p. 182), "O método histórico, a crítica documental
desenvolvida ao longo do século XIX, viria a estabelecer a História no
campo das ciências e afastá-la da literatura, considerada pertencente à
esfera da arte".
A separação que começa a ser feita entre História e literatura, a partir do século
XIX, será cada vez mais intensificada, na época contemporânea, por conta de classificar-se
a História como ciência e a Literatura como arte. Entendida como ciência, a História terá
métodos próprios, como nos informa a fala do autor acima citado, que a distinguem da arte
literária.
Segundo Monteiro
(...) a historiografia brasileira percorreu um longo caminho das crônicas das conquistas, dos sermões e poemas religiosos (...) até a
12 Alinhamos nosso entendimento a Chartier para quem "a noção de apropriação é útil: porque permite pensar as diferenças na divisão, porque postula a invenção criadora no próprio cerne dos processos de recepção. Uma sociologia retrospectiva, que durante muito tempo fez da distribuição desigual dos objetos o critério primeiro da hierarquia cultural, deve ser substituída por uma outra abordagem, que centre sua atenção nos empregos diferenciados, nos usos contrastantes dos mesmos bens, dos mesmos textos, das mesmas idéias. CHARTIER, Roger. História Cultural, p. 136 apud Bastos e Cunha. Olhai o que o Tempo não Levou: A Literatura de Erico Verissimo. IN GONÇALVES, R. P. O Tempo e o Vento: 50 Anos. Santa Maria, RS: UFSM; Bauru, SP:EDUSC, 2000,p. 183.
28
constituição de acervos documentais e a criação de Institutos Históricos e Geográficos do Império (1998, p. 183).
O que se depreende da fala do autor é que até a criação dos órgãos dedicados
especificamente para tratar, com rigor científico, dos assuntos históricos,
a História fundamentava-se no que, empiricamente, era tratado por
qualquer pessoa que se dedicasse a eles, o que nem sempre tinha um
cunho de imparcialidade e de veracidade. Foi somente com a criação dos
Institutos Históricos e Geográficos, espalhados pelas principais províncias
do Império, que a historiografia passa a ter respaldo científico. Monteiro
nos assevera.
A partir daí, um dos objetivos da produção historiográfica e literária seria o de pensar a formação da sociedade e da cultura brasileira (Nação), muitas vezes legitimando o projeto de um Estado nacional centralizado e seu aparato de representação burocrático e cultural. (1998, p. 183)
A criação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul representou a
possibilidade de se estudar História com o rigor científico que ela
necessitava, através, muitas vezes, de debates acalorados como foi a
discussão que se processou a respeito da identidade do homem sul-rio-
grandense ser exclusivamente lusitana ou ter mesclas platinas. Esse foi
um debate que se propalou por muitos anos pelos historiadores divididos
entre essas duas vertentes, desde o início do século XX, especialmente
durante a década de 1920.
Gutfreind salienta que
A instalação solene do IHGRS ocorreu no salão nobre da
29
Intendência Municipal, quando foi eleita a primeira diretoria. Seu presidente foi Florêncio de Abreu e Silva, e o orador oficial, Souza Docca. Na solenidade, estavam presentes as autoridades mais representativas do estado, como João Pinto da Silva, secretário do presidente do Estado e seu representante, o comandante da 3ª Região Militar e seu ajudande-de-ordens, o Intendente Municipal, o Secretário do Interior, o comandante da Brigada Militar, representantes da assembléia de deputados, entre eles Getúlio Vargas, conselheiros municipais, diretores da Faculdade de Medicina, da Escola de Engenharia, da escola Médico-cirúrgica e o arcebispo metropolitano. (1992, p. 24)
Essa informação de Gutfreind demonstra que o IHGRS contava não somente com a
simpatia dos poderes constituídos, mas também com a de uma elite sócio-cultural e
religiosa do estado. A importância do IHGRS reside não apenas no fato de ser o local onde
se guarda a memória histórica do estado, mastambém no de ser o espaço para a pesquisa
histórica e para as discussões. Além disso, o IHGRS imprimiu sua marca quando do
esforço político do Rio Grande do Sul para ser reconhecido perante a União, considerando-
se que "era preciso escrever a História do Rio Grande do Sul para apresentá-lo aos demais
estados”13.
Almeida, falando a respeito do IHGRS, esclarece que o mesmo estabeleceu como objetivo
... "promover estudos e investigações que se relacionem com a História, Geografia, Arqueologia, Etnografia, Paleontologia do Brasil e especialmente do Rio Grande do Sul, e bem assim cultivar o 'folklore' rio-grandense e a língua dos indígenas que habitaram e ainda habitam este estado" (Art 1º), e definiu como sua incumbência: " a) coligir, classificar e conservar documentos, livros, cartas geográficas e todos os objetos que se relacionem com aqueles estudos, constituindo tudo isso o Arquivo, a Biblioteca e o Museu; b) publicar a Revista do Instituto Histórico e Geográfco do Rio Grande do Sul que será trimestral e terá no mínimo 150 páginas" (Art. 2º, 1983, p. 149),
13 GUTFREIND, Ieda. A Historiografia Rio-Grandense. Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS, 1992, p. 25.
30
Observa-se, assim, que desde o início do século XX, no Rio Grande do Sul, o
grande expoente da história do estado era o IHGRS, que "chamou" para si a
responsabilidade de preservar a memória histórica sul-rio-grandense. E como salienta
Monteiro:
É necessário compreender as origens sociais e os vínculos políticos dos membros do Instituto Histórico e Geográfico (IHGRS), bem como os meios de difusão do conhecimento nele produzido, pois foi o IHGRS que ocupou o lugar central da cena historiográfica até a década de 1970, ao congregar produtores de historiografia e apresentar-se como guardião da memória local - embora a crônica e o romance também tenham sido lugares importantes de elaboração da memória das experiências urbanas, completando ou contrapondo-se a produção historiográfica. (2000, p. 54).
Deve-se enfatizar a importância do que o IHGRS representou e representa na
condição de preservador da memória do estado e do prestígio que o mesmo sempre
conquistou junto às autoridades constituídas, as quais, de alguma maneira, respaldaram o
trabalho ali desenvolvido. Uma das grandes discussões que ocuparam, por longos anos,
seus membros foi a questão das matrizes lusa e platina na formação da sociedade sul-rio-
grandense.
Gutfreind define matriz como
(...) um tipo de discurso com características comuns encontradas em um conjunto de obras históricas, cujos conceitos adquirem significados ocultos, conforme a conjuntura que se desenvolve e, por isso mesmo mantém uma vitalidade sempre eficaz. Essas matrizes representam a busca da identidade político-cultural do território sul-rio-grandense. (1992, p. 11)
Sendo "um tipo de discurso", como salienta a autora, obviamente tanto a matriz
platina quanto à lusitana vão tentar provar sua existência na formação histórica sul-rio-
31
grandense. Se os defensores da matriz lusitana minimizam as aproximações com a região
fronteiriça do Prata, rechaçando, pois, essa influência no Rio Grande do Sul, os da matriz
platina, ao contrário, primam por defender a destacar as relações dessa região com o estado.
O IHGRS é o principal lugar de difusão da historiografia sul-rio-grandene, mas não
o único. Tão importante quanto esse órgão foram também "a Academia Rio-Grandense de
Letras, além dos não-acadêmicos: as Editoras (Globo), os jornais (Correio do Povo e Diário
de Notícias) e ainda os cafés, bares, restaurantes do centro de Porto Alegre"14, onde a
intelectualidade porto-alegrense reunia-se periodicamente. Percebe-se, desse modo, o
diálogo que o historiador pode manter com inúmeros grupos sociais: os letrados da
academia, as elites intelectuais, o público em geral, o homem simples que, mesmo iletrado,
possui uma sabedoria própria, e são essas trocas que enriquecem a escrita da história e
permitem sua realimentação constantemente.
A historiografia, ou seja, a produção histórica, é o lugar social de onde falam e
como falam os seus especialistas, os quais se dedicam a interpretar os "sintomas" de uma
sociedade, em constante mutação, bem como os de suas práticas culturais, através de seus
escritos.
Assim, ao interpretarmos a questão das matrizes formadoras das gentes do Rio Grande do
Sul, o fazemos a partir da ótica dos defensores quer da matriz lusa, quer
da platina. Ou seja, será a partir do entendimento desses intelectuais que
compunham o IHGRS, que fazemos nossa análise.
Gutfreind enfatiza que
A primeira característica que se observa nos textos dos historiadores
14 Cf. MONTEIRO, Charles. Porto Alegre e suas Escritas: História e Memória (1940 e 1972). São Paulo, 2000. Tese (Doutorado em História) PUC-SP, p. 54.
32
gaúchos contemporâneos, a partir de 1920, quer seguidores da matriz platina ou da lusa, (...) é o destaque dado ao aspecto geográfico, enfatizando a situação de fronteira vivida pelo estado sulino. (1992, p. 21)
Nosso trabalho não se detém especificamente sobre as fronteiras geográficas, mas,
ao abordaremos a questão étnico-cultural, que é um de nossos focos de análise, num estado
que faz fronteira com países platinos, é impossível não mencionarmos a geografia da
região.
Para Gutfreind
O peso da fronteira é bastante significativo na história do Rio Grande do Sul. Mas não como algo estático, ao contrário, centrando a análise na situação de fronteira do Rio Grande do Sul, o estudo mostra justamente o oposto, o dinamismo e a pluralidade das influências culturais (1992, p. 22),
Essa fala da autora reforça o nosso entendimento de que, uma vez que a capitania, a
província, o estado - considerando-se os vários períodos históricos - mantiveram e mantêm
parte do território numa região que faz divisa com outros países, no Rio Grande do Sul não
temos hoje uma fronteira excludente, mas um espaço que, de alguma maneira influencia e é
influenciado pela cultura vigente em ambos os lados da linha que a divide.
A partir do que dizem os autores aqui trabalhados, podemos afirmar que, ao
historiador, cabe o rigor da "verdade", enquanto ao literato são-lhe permitidas licenças
poéticas. "O narrador de uma obra literária tem toda a licença para criar um efeito de
verdade garantindo o seu reconhecimento por parte do sujeito" (Bastos e Cunha apud
GONÇALVES, 2000, p. 182). Assim, embora possa haver a imbricação de discursos entre
a literatura e a História, em função de um mesmo assunto, os campos de atuação de uma e
outra distanciam-se devido ao rigor do tempo, do comprometimento com a realidade, que à
33
História é fundamental, é obrigatório, não o sendo para a literatura.15 É aí que se radica o
espaço da diferença..
É Hartog, apud BOUTIER & JULIA (1998, p. 193), que assim se posiciona: "a
história singulariza-se pela relação específica que mantém com a verdade, pois ela tem de
fato, a pretensão de remeter a um passado que realmente existiu". É uma pretensão, pois o
historiador jamais poderá presenciar os fatos tais como aconteceram. O que ocorre com
ele são as pesquisas, usando os mais variados materiais e métodos, na tentativa de escrever
sobre o que aconteceu.
Monteiro argumenta que
Tanto a História quanto a literatura são construídas a partir de um lugar social de onde se narra (classe, etnia, sexo, instituição, métier) e se tematiza a realidade, porém a forma e os compromissos que permeiam esse "dizer" do real é que são próprios a cada uma delas. A partir de Foucault, é mais importante compreender "como" as narrativas e os discursos funcionam do que propriamente "o que" dizem. (1998, p. 183)
No caso de O Continente, o lugar social é a fronteira étnico-cultural que ora opõe,
ora não, brasileiros a castelhanos. A forma de Erico narrar as suas histórias é o
envolvimento que ele faz entre a História e a literatura, mesclando fatos reais com os da
ficção transformando, a sua obra em romance histórico.
Leite explica ainda que,
São também uma interferência visível da enunciação na organização do enunciado os flash-back, ou a narrativa em ziguezague, que retrocede ao passado de cada personagem histórica
15 RAMA, Carlos M. Op. cit. "La autoexigencia de la verdad a que se someten en sus obras los grandes historiadores grecorromanos, algunos cronistas del medioevo, ciertos autores renacentistas y los tratadistas de los tiempos modernos va afirmando la existencia de la Historia.
34
que aparece (e ao de seus antepassados), para explicar sua vida até o presente do relato. (1997, p. 80)
Erico Verissimo vale-se da narrativa em ziguezague, toda a vez que transporta as
personagens de seu romance, através de suas lembranças, do tempo presente ao tempo
passado. E o autor utiliza esse recurso literário, não apenas para contar o que deseja, mas
também, em muitas passagens, para narrar fatos históricos. Entre as passagens de O
Continente, a esse respeito, podemos citar
(...) um dia Pedro Terra necessitara de recursos para plantar uma lavoura de linho e trigo (...) e por isso fora obrigado a pedir dinheiro emprestado a Aguinaldo Silva, dando-lhe como garantia sua casa e o terreno de esquina, cujo valor era três vezes maior que o do empréstimo. Numa sucessão de safras infelizes (...) e como, vencido o prazo da hipoteca, Pedro não tivesse dinheiro para resgatá-la Aguinaldo não quisesse dar-lhe a menor prorrogação, as propriedades dos Terras passaram inteiras para as mãos do avô de Luzia. (...) Bibiana lembrava-se de que o único comentário que o pai fizera (...) resumia-se em poucas palavras: "Ainda bem que a Arminda está morta". (ERICO, 1999, v. 2, p. 367)
Através desse exemplo, queremos demonstrar o que nos diz a teoria, ou seja, a
narrativa vai e volta no tempo, é uma relação pendular que se estabelece entre a razão
histórica e a ficção do Rio Grande do Sul. A narrativa pendular é tratada por Pesavento,
cujo exemplo, enfocado pela autora, expressa essa obviedade:
A narrativa pendular que relativiza o mundo dos significados prossegue através da exposição das diversas lógicas de percepção diante de um acontecimento. Tome-se o caso da guerra, sempre presente na obra e na reflexão das personagens que por ela se vêem afetados. Se para Licurgo, na defesa dramática do Sobrado durante a Revolução de 1893, ela se justifica pelo ódio ancestral aos Amaral, reforçado pela radicalização político-partidária entre "maragatos e pica-paus", para Maria Valéria, os federalistas eram tão bons e tão valentes como os republicanos. "É a mesma gente, só
35
com idéias diferentes".(1995, p. 4)
A autora utiliza as personagens masculinas, considerando que, como está expresso
no código patriarcal16, guerra é coisa de homem macho, para mostrar o significado que a
mesma tem para essas personagens, citadas em diferentes momentos históricos, mas não
deixa de apresentar a opinião feminina, representada, no exemplo acima, pela fala de
Maria Valéria. A autora nos mostra que a maneira de perceber os acontecimentos é
diferente para o homem e para a mulher. No caso da guerra, enquanto para os homens
existe um sentido de vingança, como no exemplo citado, para as mulheres - representadas
aqui, pela fala de Maria Valéria, acima - a análise é racional.
O código patriarcal, apontado por Erico, vai usar as seguintes características:
requerer sesmarias, o que indica claramente o alargamento de fronteiras para o oeste, isto é,
para as terras hispano-americanas; possuir gado, cavalos, ou seja, uma vez vencida a
primeira etapa, a da conquista de terras, faz-se necessário, agora, formar a estância e o
estancieiro, o qual representará a elite política, apoiada pelo governo; estabelecer uma
família, o que acentuará a respeitabilidade desse estancieiro ao mesmo tempo que
impulsionará o povoamento do futuro estado.
As "lógicas de percepção", que anteriormente vimos em Pesavento, podem ser
exemplificadas através da fala da personagem Fandango, que assim se expressa:
Curgo vive dizendo que os maragatos são bandidos. Mas qual! Todo mundo sabe que há gente boa e gente ruim dos dois lados. Ele se lembra do Boi Preto, onde a Divisão do Norte pegou
16 Para compreendermos essa linha de raciocínio, valemo-nos do que nos diz YOUNG, a respeito dos códigos patriarcais e matriarcais, para quem "através deste processo se demonstra a maneira como o autor estabelece uma correspondência entre patriarcal/matriarcal e História "oficial"/História "extra-oficial". YOUNG, Theodore Robert. O Questionamento da História em O Tempo e o Vento de Erico Verissimo. Tese (Doutorado em Filosofia). S/L. 1993, p. 26-38. Departament of Romance Languages and Literatures. Harvard University.
36
duzentos federalistas dormindo num acampamento e liquidou todos a arma branca. E o caso do Gumercindo Saraiva? Foi enterrado num dia pelos companheiros e desenterrado no outro pelos inimigos. Contam até que um chefe republicano gritou: "Quero as orelhas do bandido!" - e passou-lhes a faca. Uma sangueira braba, uma perda horrível de vidas, de dinheiro e de tempo! E no entanto o mundo tem tanta coisa gostosa! Mulher bonita, cavalo bom, baile, churrasco, mate amargo... Laranja madura, melancia fresca, uma guampa de leite gordo ainda quente dos úberes da vaca... Uma boa prosa perto do fogo... Uma pescaria, uma caçada, uma sesta debaixo dum umbu... Tanta coisa! (ERICO, 1999, vol. 2, p. 661)
A reflexão de Fandango, que não é uma das personagens principais do romance, não
somente explicita que os excessos foram cometidos de ambos os lados, como também
demonstra a necessidade de superar as divisões e conflitos do passado naquele contexto
histórico. É uma análise que a personagem faz, demonstrando a impropriedade da guerra.
É interessante observar que as personagens femininas e masculinas não se opõem
diretamente, elas estão numa relação pendular que vai de um pólo a outro e, de certa forma,
se complementam. Se, por exemplo, os homens vão à guerra, é porque há o esteio das
mulheres que garantem a possibilidade do seu retorno para o lugar "seguro", que é o lar.
Pesavento laboriosamente passa-nos a idéia dessas representatividades, masculina e
feminina, assim se expressando:
Se a mulher é sobretudo espera e ligação à terra, cumprindo assim o seu destino, a aparente
mobilidade do homem, envolvido com a guerra, relativiza a questão da liberdade e da própria
mudança. A guerra é também um elemento que permanece e que, ciclicamente, representa o
eterno retorno do mesmo, do qual o homem é como que escravo, cumprindo ele também a sua
sina. Mesmo que participasse da luta por puro gosto, como o inquieto capitão Rodrigo, ou por
trágica compulsão para cumprir um destino, como seu filho Bolívar, a guerra-movimento é algo
que não se opõe à terra-estabilidade, mas com ela se complementa. (1995, p. 8)
Metaforicamente podemos entender a guerra-movimento numa relação direta com o
37
homem, enquanto a terra-estabilidade é a representatividade do feminino. As guerras
sempre foram entendidas como coisas de homem e, no Rio Grande do Sul, mais do que
isso, como coisas de "macho". A belicosidade imposta nas lutas pela fixação de fronteiras,
os dez anos do mais famoso movimento revolucionário rio-grandense - a Revolução
Farroupilha - enalteceram o gaúcho como homem de muita ação e muita coragem.
Atributos como valentia, heroísmo, destemor passaram a ser sinônimos do homem do Rio
Grande.
Analisamos algumas expressões, usadas por Pesavento, no
exemplo acima, que nos chamaram a atenção, como por exemplo
quando a autora diz "a aparente mobilidade do homem", significa
que, de alguma maneira esse homem está "preso" à "terra-
estabilidade", o que certamente lhe garante a segurança de ter para
onde voltar. A autora afirma também que essa situação descrita
acima "relativiza a questão da liberdade e da própria mudança", ou
seja, se o fato dos homens guerrearem constantemente tem a
conotação de homem livre e agente de mudanças, isso é muito
relativo pois a mudança está condicionada às liberdades em geral e
estas só existem de fato, quando há o reconhecimento por parte de
toda a sociedade, que comunga dos mesmos ideais.
Finalmente, a autora ressalta que "a guerra (...), ciclicamente, representa o eterno
38
retorno..., do qual o homem é como que escravo, cumprindo também ele a sua sina". O que
a autora afirma é que envolvido por gosto, ou para cumprir um destino, familiar ou
ideológico, o homem, partícipe da guerra, sempre volta ao seu lugar de origem.
A complementariedade que podemos observar entre homem/mulher,
movimento/estabilidade, imobilidade feminina/mobilidade masculina, paz/guerra são
algumas das situações pendulares de que a autora fala e que se tornam visíveis nas
construções do autor de O Tempo e o Vento, ao longo de toda a sua obra.
O romance de Erico é pleno dessas memórias que oscilam entre História e ficção
como demonstram estes dois exemplos extraídos de O Continente (1999, v. 1., p. 193 e
311):
Pedro sentia ainda no corpo o vestígio das guerras em que tomara parte. Depois de 1811 ficara sofrendo de reumatismo e duma dor nos rins, tudo isso como conseqüência de dormir em banhados, de tomar chuva, e de carregar muito peso.
(...) Ao pensar na Corte, Pedro pensou em "governo". Para ele governo era uma palavra que significava algo de temível e ao mesmo tempo de odioso. Era o governo que cobrava os impostos, que recrutava os homens para a guerra, que requisitava gado, mantimentos e às vezes até dinheiro e que nunca mais se lembrava de pagar tais requisições... Era o governo que fazia as leis - leis que sempre vinham em prejuízo do trabalhador, do agricultor, do pequeno proprietário. Antigamente, quem dizia governo dizia Portugal, e a gente tinha uma certa má vontade para com tudo quanto fosse português, começando por antipatizar com o jeito de falar dos "galegos". Mas que se passava agora que o país havia proclamado sua independência e possuía o seu imperador? Não tinha mudado nada, nem podia mudar. No fim de contas D. Pedro I era também português. Vivia cercado de políticos e oficiais "galegos". Ali mesmo na Província já se dizia que nas tropas quem mandava eram os oficiais portugueses; murmurava-se que eles estavam conspirando para fazer o Brasil voltar de novo ao domínio de Portugal.
Tudo isso demonstra a relação pendular de que falamos; em ambos os exemplos
39
temos uma situação ficcional, mesclada com a presença da História.
Esses são dois dos muitos exemplos que podemos extrairda obra do autor, e que
justapõem História e literatura, ou se preferirmos, que se confundem, pois não se consegue
sentir onde finda a ficção e onde inicia a história real e vice-versa. No segundo exemplo, é
através do pensamento da personagem Pedro Terra que o autor nos dá mostras do cunho
histórico do romance, quando, através das reflexões sobre o governo brasileiro, sobre o
período em que o Brasil foi colônia de Portugal, a personagem conclui que a independência
pouco ou nada significara, uma vez que D. Pedro I era também português. Ou seja, de certa
maneira, continuávamos atrelados à Metrópole. Pedro Terra é uma personagem da ficção,
mas os fatos históricos elencados por ela traduzem o momento histórico. Não é um
pensamento, ou uma opinião, ou uma certeza de toda a sociedade brasileira da época, mas
são inegavelmente fatos históricos.
Além disso, quando o autor, pela fala da personagem, questiona o fato de o Brasil
continuar atrelado a Portugal entendemos que é a discussão das matrizes de formação
étnico-culturais lusa e platina que Erico já está discutindo, ainda que na época em que ele
escreveu a obra a vertente lusitana se encontrasse em relevo.
Reichel in GONÇALVES afirma que
À época em que Erico Veríssimo escreveu sua obra, a vertente lusitana se apresentava com grande força e projeção, inserida que estava em uma conjuntura que se caracterizava por um intenso nacionalismo. O período do governo Vargas possibilitou grande projeção e acesso ou intimidade com o poder aos intelectuais da vertente lusitana. Aurélio Porto, ao ser nomeado, em 1932, para atuar junto à direção do arquivo Nacional, foi um dos principais responsáveis pelo fortalecimento da historiografia lusitana e engajamento dos círculos literários na campanha de, definitivamente, integrar a origem lusitana no imaginário da sociedade sul-rio-grandense. Concluindo, podemos afirmar que foi lendo as obras de historiadores da vertente lusitana, seus contemporâneos e muitas
40
vezes colegas de ofício que com ele compunham uma confraria, que Erico Veríssimo foi construindo as representações que nos apresenta em sua obra. (2000, p. 214, 15 e 16)
Esse é o discurso da lusitanidade, apontado por Reichel, que na década de 1930
apresentava-se com grande impacto no Rio Grande do Sul. Esse discurso, que privilegia a
matriz lusitana, segundo Gutfreind17 "minimiza as aproximações do Rio Grande do Sul com
a área platina e, conseqüentemente, defende a inquestionável supremacia da cultura lusitana
na região".
O texto de Reichel chama a atenção, pois, ao colocar a questão do eu e do outro, no
processo de busca de identidade do povo sul-rio-grandense, determina a fronteira que
divide os espaços de representação desse eu e desse outro.
Apesar do que nos diz Reichel, entendemos que a disputa de terras, entre espanhóis
e portugueses, as fronteiras que foram traçadas e retraçadas, a presença dos indígenas que
foram movimentados ora para os Sete Povos das Missões, ora para a Colônia do
Sacramento, tudo isso favoreceu para que o amplo contato entre os seres humanos
oportunizasse a miscigenação, tanto étnica quanto cultural.
Assim compreendemos que há uma sintonia entre a História e a literatura, a partir da
maneira como o autor relaciona o material histórico para lançá-lo dentro
de sua narrativa literária.
Podemos, assim, observar que há uma relação dúplice entre o romancista (narrador) e o
leitor. São as palavras de Baumgarten apud ALVES & TORRES (1993, p.
94) que nos levam a entender que a "leitura ficcionaliza a História na
17 GUTFREIND, Ieda. A Historiografia Rio-Grandense. Porto Alegre: EdUniversidade/UFRGS, 1992, p. 11.
41
mesma proporção que historiciza a Ficção, uma vez que a voz narrativa,
tanto num caso como noutro, situa o mundo das obras." Essas obras, que
tanto podem ser históricas quanto literárias, têm a propriedade de
interpenetrarem-se, ocupando, às vezes, o lugar uma da outra sem ferir os
campos de atuação específicos de cada uma.
Bastos e Cunha in GONÇALVES explicam claramente essa situação, assim se
expressando.
A Literatura não é um mero documento para a História. É uma prática simbólica que coloca em cena determinados acontecimentos históricos, como a organização e as convenções de representação de um certo tempo. É também um dispositivo educativo e pedagógico que permite entrever os espaços discursivos de um tempo, as representações sociais forjadas em cada época, o imaginário de atores sociais - reais e ficcionais. Historicizar a obra literária significa, para o historiador, inseri-la no movimento da sociedade, investigá-la em suas redes de interlocução social e desvendá-la como constrói ou representa sua relação com a sociedade e a cultura. (2000, p. 181)
Toda vez que o historiador lança mão de uma obra literária e a introduz em seus
escritos, em suas análises, ele percorre um outro caminho. Não se restringe a sua
competência de historiador, mas vale-se do que diz a literatura inserindo-a no contexto
sócio-cultural.
São essas questões que aproximam a história da literatura, inter-relacionando-as,
que situam O Tempo e o Vento não apenas como um romance de ficção, fruto da
imaginação de seu autor, mas polemizam uma discussão de ser o mesmo romance
histórico.
1.2 O Romance Histórico
42
Considerar O Tempo e o Vento e não apenas O Continente como romance
histórico18 foi objeto de grandes discussões entre os estudiosos da literatura e da História,
até que se chegasse a uma conclusão a esse respeito. Nós alinhamos nosso entendimento
aos teóricos que situam a obra de Erico Verissimo como romance de fundo histórico. É o
que tentaremos mostrar em nossas considerações.
Não podemos desconsiderar que, durante os anos 1940, período em que Erico
escreve A fonte, era fervoroso o debate no Rio Grande do Sul sobre as Missões Jesuíticas,
entre os historiadores.
Para Kern,
O texto reflete também a riqueza e a multiplicidade da memória popular sobre as missões e seus
heróis. Erico aproveita essas discussões sobre a lusitanidade do Rio Grande do Sul, ou sua
aproximação étnico-cultural com o Prata e coloca parágrafos históricos na boca de suas
personagens. Esse fato reflete igualmente os acertos e os enganos das interpretações dos
historiadores de sua época. (1995, p. 17)
A explicação de Kern deixa transparecer que Erico tanto valeu-se da discussão sobre a
lusitanidade do Rio Grande do Sul, quanto de sua aproximação com a
região platina, enriquecendo sua obra com esses debates, que se
processavam, entre outros lugares, no Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Sul.
Erico não apenas insere os fatos históricos, mas dialoga com eles através de suas
personagens. Vê-se, também, a preocupação do autor com as questões
históricas nos interlúdios que se fazem presentes no início de alguns
capítulos, como no exemplo abaixo.
18 MORAES (1959, p. 219) explica que "O romance de fundo histórico oferece múltiplas insídias. Uma delas é violar, por uma retroação da nossa mentalidade, a psicologia da época.". Ou seja, tentamos encontrar, reportando-nos a épocas passadas, observando o que dizem as personagens, qual era o comportamento da sociedade sul-riograndense que obviamente refletiu-se na narrativa de Erico.
43
Depois da Guerra dos Farrapos D. Picucha não falou mais nas proezas de Carlos Magno e seus doze cavaleiros. Esqueceu Rolando por Bento Gonçalves Olivério por Antônio Neto Reinaldo por Davi Canabarro Florismaldo por Lima e Silva. (1999, v. 1 p. 311)
Nesse exemplo, entendemos que Erico, ao relacionar D. Picucha Terra Fagundes,
personagem de sua ficção e as personagens históricas, trazidas por ele para dentro do
romance, buscou na historiografia subsídios para o desenvolvimento de seu romance.
Zilberman trata da questão do romance de fundo histórico, vista no Brasil, considerando
que
No Brasil, o gênero também acordou as sensibilidades e privilegiou dois temas: a formação étnica (em Iracema, por exemplo) e a conquista do território (caso de As minas de prata). Seu apogeu, ao contrário da Europa, não coincidiu com a autonomia política, resultante a separação de Portugal, mas a relativa anacronia justifica-se: cabia antes "criar" o romance brasileiro, passando pelo sentimentalismo de Joaquim Manuel de Macedo, nos anos 40 do século passado, para depois então expandir as suas formas, trabalho que Alencar executou até seus limites, entre 1855 e 1875. (1998, p. 73)
Não vamos nos ater às obras citadas por Regina Zilberman, por não ser esse o foco
de nosso trabalho. Entretanto, a afirmação da autora, acerca do tema de tais romances,
deslocou-nos a atenção para o que é tratado por Erico, a esse respeito. Assim, em nossa
ótica, o autor vale-se de ambos os temas ao compor O Tempo e o Vento. Trata da "formação
étnica" quando mescla espanhóis, portugueses e indígenas. É o caso, por exemplo, do
relacionamento entre as personagens Ana Terra e Pedro Missioneiro. Trata da "conquista
do território" toda a vez que narra uma guerra, envolvendo castelhanos e brasileiros,
movimentando as fronteiras geográficas e, portanto, interferindo na fronteira étnico-
cultural.
44
Santos in GONÇALVES reportando-se a Erico e ao romance
histórico, assim se pronuncia:
Erico Verissimo, nas primeiras obras lançadas nos anos 30, demonstra uma preferência pela História como matéria de representação. O exame da produção atesta que a abordagem de fundo histórico pode ser detectada no conjunto da obra ficcional de Verissimo, e que, além disso, se intensifica com a passagem do tempo. (...) O procedimento consiste em selecionar um episódio histórico, dentro do qual são inseridas as personagens e situações ficionais e em torno do qual gira a trama romanesca, num processo integrativo que produz imbricações entre micros e macros seqüências de significados. (2000, p. 106 - 107),
Entre os fatos históricos citados, Erico usa a Revolução Federalista de 1893, para
demonstrar o caráter histórico da primeira fase de seu romance,
integrando a guerra civil, fato real da História do Rio Grande do Sul à
história - enredo que é por ele desenvolvido. Não se trata aqui da
descrição histórica da dita revolução, concluída em 1895, mas sim dos
reflexos que a mesma exerceu sobre a cidade fictícia de Santa Fé e seus
habitantes. A narrativa nucleariza desde as questões políticas, até as
inquietações e resmungos dos que habitam o Sobrado.
E por que a escolha da Revolução Federalista e não de outro movimento igualmente
importante na história sul-rio-grandense? Nossa opinião alinha-se ao que explica Santos in
GONÇALVES
(...) Na história do Rio Grande do Sul esse é um conflito essencial, pois significa a passagem da antiga
ordem institucional, arranjada com os acordos imperiais que puseram fim à revolução
farroupilha, à ordem republicana, assentada no ideal positivista de Júlio de Castilhos.
Registrado na história como um embate de contornos bárbaros, com
45
fartos registros de degolas, humilhações e massacres, aos quais não escaparam velhos, mulheres e crianças, a revolução de 93 tornou a envolver inocentes nas contendas da elite rio-grandense. Na oportunidade, o confronto foi entre os federalistas, chamados maragatos, simpáticos ao parlamentarismo monárquico e chefiados por Gaspar Silveira Martins e os republicanos, ditos pica-paus ou chimangos, que eram republicanos e obedeciam à chefia de Júlio de Castilhos. (2000, p. 109).
Não é a descrição pormenorizada da revolução que Erico nos
mostra, embora dê pinceladas a respeito da mesma.São as falas das
personagens, os seus questionamentos sobre o que esse movimento
provoca nos seres humanos que se constata na narrativa. A
revolução é o grande pano de fundo que leva todos a pensarem em si
mesmos, na sua condição humana e na dos seus entes queridos e no
porquê de uma guerra civil.
Exemplo podemos encontrar na fala de Florêncio Terra,
quando, em meio ao cerco do Sobrado, assim se expressa:
- Olhe, Licurgo, vassuncê tem só quarenta anos. Eu tenho quase
sessenta e cinco. Já vi outras guerras. Tudo isso passa. A revolução termina, os federalistas e os republicanos ficam alguns meses ou anos um pouco estranhos, mas o tempo tem muita força. Um dia se encontram, fazem as pazes, esquecem tudo. Mas a vida de uma mulher ou duma criança é coisa muito mais importante que qualquer ódio político. (ERICO, 1999, vol 1, p. 15),
As reflexões sobre o movimento de 1893 transportam as personagens a
46
retrocederem à época do povoamento do Rio Grande do Sul, à Colônia do Sacramento e aos
Sete Povos das Missões e à própria Revolução Farroupilha. Ou seja, conforme explica
Santos in GONÇALVES:
O arranjo ficcional que Verissimo procede em relação a esse evento histórico, logo na abertura de O Tempo e o Vento, garante a visão da história que se alarga pelos demais volumes da trilogia. Em primeiro lugar, o procedimento distingue-se por garantir a expressão de vários aspectos em relação ao mesmo objeto retratado. Em segundo lugar, por força da disposição do material, fica preservada a prevalência de uma lógica de caráter ficcional contra a linearidade mais próxima da lógica do discurso histórico. Por fim, a forma pela qual se realiza a integração entre os fatos da realidade contingente e o universo diegético permite que os fatos da História sejam recuperados do congelamento do passado para a multiplicidade viva do presente. (2000, p. 109-10)
As imbricações que Erico introduz em O Continente, mesclando a literatura com
fatos históricos, acabam por suscitar, entre os críticos, a discussão de ser O Tempo e o
Vento romance histórico ou não. Esse entendimento depende da definição usada para esse
gênero de romance, como já tratamos na página 36 através do entendimento de Zilberman.
Xavier veementemente afirma:
O tempo e o vento não pode ser considerado um romance histórico, no sentido exato do termo porque é através dos conflitos pessoais de cada personagem que a situação histórica vem à tona. Assim, o painel histórico sul-rio-grandense vai sendo delineado a partir da vivência concreta de homens e mulheres que pertencem às famílias-eixo: Terra-Cambará. O romance estrutura-se com base nas situações vivenciadas por todos aqueles que povoam a narrativa e, assim, a história do Estado serve de pano de fundo aos acontecimentos apresentados. (199 , p. 77),
Contrapomos nosso pensamento ao da autora, pois ao nosso ver são exatamente as
situações vivenciadas por todos os que habitam a cidade fictícia de Santa Fé, seus
47
questionamentos, seus conflitos internos que demonstram a riqueza da obra. Erico, ao usar
todas essas questões pessoais faz com que "a situação histórica venha à tona", como atesta
autora. É essa mescla entre os fatos históricos que ocorreram no Rio Grande do Sul, como a
Revolução Farroupilha de 1835, ou a Revolução Federalista de 1893, trazidos para dentro
do romance, que Erico se propôs a escrever, que transformam sua obra em "romance
histórico", pois não é apenas uma ficção que Erico escreveu; ele usou a história para,
através dela, oportunizar as discussões políticas, sociais, econômicas, étnicas, culturais, que
suas personagens travam umas com as outras.
Chaves é taxativo ao afirmar que O Tempo e o Vento é romance histórico e, para
tanto, destaca o critério de Lukács, na obra "A Novela Histórica", a respeito da
problematização da história:
Lukácks demonstrou de maneira cabal que, na maioria dos grandes romances históricos, as personagens historicamente reais são secundárias e, via de regra, desempenham uma função secundária na ação propriamente dita. O que define o caráter histórico da obra não é, pois, a distribuição entre figuras decalcadas num modelo real e as puramente imaginárias, mas a intenção de problematizar a História, tornando-a um tema ou, pelo menos, uma preocupação explícita do narrador. (1981, p. 75)
É exatamente o que observamos em Erico: há uma intenção de "problematizar a
História" quando suas personagens discutem os momentos políticos, econômicos, sociais
que estão a ocorrer não apenas em Santa Fé, mas também no Rio Grande do Sul e no Brasil.
O autor demonstra essa preocupação quando induz suas personagens a discutirem essas
questões.
48
É o próprio Erico que, em entrevista ao Jornal Opinião, em 1973,19 sendo inquirido
a respeito de ser a "História a matéria básica da sua ficção em (...) O Tempo e o Vento e
Incidente em Antares", assim responde:
Ninguém pode fugir à História ... e lá se foi o primeiro lugar comum. Clara ou oculta, essa "senhora" está presente em todos os meus romances. Sempre a considerei importante. Não só ela, mas também esse cavalheiro, mais misterioso ainda, sem o qual ela não poderia existir: o Tempo. Como é possível desenvolver, fazer viver um personagem, um grupo social, fora do Tempo e da História? Como se poderia contar uma fábula num vácuo temporal e espacial? Claro, com artifícios de linguagem, com refinamento de técnica, é possível dar ao leitor a impressão de que o romance não tem quando nem onde. Acho que qualquer autor tem o direito de escrever o que entende, o que sabe, esquivando-se do que lhe pode confundir o espírito. O importante é que o livro seja bom. É preciso não esquecer que História não é sinônimo perfeito de Política ou que a política não pode ou deve ser sempre partidária. No meu caso particular, tenho sido naturalmente levado em minhas ficções para problemas políticos que vivi, em geral, como espectador. Graças aos meios de comunicação modernos, hoje em dia os acontecimentos nos chegam de todos os quadrantes do mundo com mais rapidez e força.
Como o autor que afirma que a história está presente em "todos" os seus romances,
não tem uma preocupação com essa ciência? É o próprio autor que afirma a importância
dos acontecimentos históricos em sua vida, como determinantes para usá-los em suas
ficções. Erico não apenas vê os fatos acontecendo; ao presenciá-los guarda-os na memória e
utiliza-os quando se fazem oportunos. Isso tudo não dá a O Tempo e o Vento o caráter de
romance histórico?
Percebe-se, também, nesta fala do autor, a importância por ele atribuída ao tempo e
também ao espaço. O tempo em Erico é tão significativo que o próprio título de sua obra
19 Esta entrevista está reproduzida na obra de BORDINI, Maria da Glória. A liberdade de escrever: entrevista sobre literatura e política. Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS/EdPUCRS, Prefeitura Municipal de Porto
49
relaciona o binômio tempo e vento. E,ao tratar de um romance de fundo histórico, o tempo
é precioso, por conta de ser a matéria-prima da história. Para retratar os acontecimentos, ele
é fundamental para relacionar ficção e história.
Zilberman,detendo-se a respeito do romance histórico, mas também do mito e da
história contidos em O Continente, explica que Erico, nesse momento, situa não só essa
obra, como também Incidente em Antares e O Prisioneiro.
(...) numa zona de transição, quando os lugares sociais estão sendo trocados. A escolha lhe permite examinar os dois lados da questão, tomando partido daqueles que representam a mudança, sem, todavia, mostrar-se moralista em relação ao ultrapassado. E porque apresenta ao leitor a transformação e o aparecimento do novo, confere inegável natureza histórica às narrativas, renovando sensivelmente um dos gêneros a que se dedicou, o chamado "romance histórico".(1998,p. 73)
Um exemplo claro que podemos apontar é a posição social ocupada no romance de Erico
pelos Carés - gente sem nenhuma importância aparentemente - mas que
segundo LENHARDT & PESAVENTO:
Representam o ângulo popular da formação social do Rio Grande do Sul e que, assim como têm papel periférico na luta pelo poder, ocupam um lugar até certo ponto marginal no topo do romance. Porém, em Ismália Caré (...), os dois trajetos - o dos Cambarás, agora na posição de comando, e o dos Carés, sempre na condição de dominados - se encontram corporificando a confluência de dois segmentos sociais que fizeram a história regional. (1998, p. 141-42)
Verifica-se, com essa situação, que a história social do Rio Grande do Sul também
se apresenta numa condição de disputa política pelo poder, aqui representado pelos Terra-
Cambará e, talvez, num afã de suplantar o próprio sentimento de inferioridade perante os
demais estados da Federação, quando se exemplifica com a posição que os Carés ocupam
no romance, mas, com certeza, podemos afirmar que a sociedade sul-rio-grandense formou-
Alegre, 1973.
50
se não apenas por aqueles que forjaram sua posição social nas lutas políticas e nas guerras,
mas também por aqueles que, subservientes, supriram, com seu trabalho, o
desenvolvimento do estado.
Em Chaves (1990, p. 9) encontramos, a respeito da caracterização da fronteira que
se interpõe entre literatura e História, que.:"A fronteira, aqui, não se separa; antes,
determina o ponto de convergência onde podemos observar a unidade da obra literária".
O termo fronteira que, reiteradamente, observamos sendo examinado em vários
trabalhos acadêmicos, tem para nós significado especial, pois, ao aliarmos a literatura e a
História, a partir de O Continente, que classificamos como romance histórico, temos clara a
identificação entre esses dois campos do conhecimento. Se é histórico e é, ao mesmo tempo
romance, a fronteira aqui os une, pois permite a discussão de questões sociais, políticas,
econômicas da realidade brasileira, a partir da ótica e das discussões travadas pelas
personagens criadas por Erico Verissimo.
Esse é o ponto nevrálgico que queremos demonstrar: a unidade que reúne esses dois
campos do conhecimento, os quis, muitas vezes, se complementam. É o caso de O
Continente.
Chaves defende que a obra é romance histórico, afirmando:
O romance é manifestamente histórico e, na medida em que sua ação se aproxima dos dias atuais,
inscreve a crítica ao Estado Novo como preocupação itinerante.
Assim, O Tempo e o Vento abandona pouco a pouco o sentido épico inicial para concluir numa análise
da classe-média brasileira. O modelo adotado abriga o debate ideológico, a discussão política, a
exposição direta, misturando tanto as personagens historicamente reais como as puramente
fictícias. Sem prejuízo da força mítica de figuras como Pedro Missioneiro, Ana Terra ou
Rodrigo Cambará, o romance formula um processo, o processo da História brasileira
contemporânea. Daí resulta a crise de consciência que, na falência da ideologia liberal,
identifica a falência da própria legitimidade do Estado.
O romance ofereceu pois à literatura a dimensão de sua historicidade. Trata-se de momentos privilegiados em que a ficção assume a consciência política da sociedade. (...) História e literatura reuniram-se no mesmo processo de sondagem e revelação da realidade brasileira. (1990, p. 26)
51
Parece-nos clara a intenção de Erico ao aliar a História à
Literatura e elaborar seu romance. A preocupação do autor não está
em tão somente contar a história do Rio Grande do Sul de forma
ficcional, mas sim levar os leitores a pensarem as questões históricas
e suas repercussões na sociedade.
A visão histórica transmitida no romance permite-nos observar desde as querelas
políticas que se travavam na época da escrita do romance até a discussão de ser o Rio
Grande do Sul um estado puramente luso ou com mesclas de castelhanidade, matrizes que
serviram de discussões acirradas, na época em que Erico redigiu a obra.
Essas discussões sobre ser o Rio Grande do Sul de matriz exclusivamente
portuguesa fervilhavam no meio intelectual da época, mas por outro lado também vamos
encontrar na historiografia sul-rio-grandense, estudiosos que incluíam, em seus debates, a
influência do Prata na formação social sul-riograndense.
Erico incorpora-se a essa última corrente. Exemplo disso podemos encontrar em
vários momentos de A Fonte. Entre eles destacamos:
Alonzo ouvira contar a história dum bandeirante vicentista que, tendo encontrado nos campos duma vacaria uma cruz de pedra na qual se lia - "Viva El-Rei de Castela, senhor destas campanhas"- deitou-a por terra e ergueu ao lado dela um marco de madeira no qual escreveu - "Viva o muito alto e poderoso Rei de Portugal, D. João V, senhor destes desertos". Os vicentistas enchiam aquelas paragens com o tropel de seus cavalos, os tiros de seus bacamartes e seus gritos de guerra. Mas quando voltavam para São Vicente, levando suas presas e achados, o que deixavam para trás era sempre o deserto - o imenso deserto verde do Continente. (...) Depois de visitar a padaria, a casa dos teares, a olaria e o moinho,
52
Alonzo foi ao Cabildo, onde o corregedor - um índio imponente que ostentava o uniforme amarelo e encarnado dos soldados espanhóis - discutia com membros do Conselho problemas de administração judiciária. Quando escrevia a parentes e amigos da Espanha, Alonzo nunca deixava de elogiar a organização das reduções, que, à maneira das povoações espanholas, era governada por um Cabildo, para o qual os índios escolhiam em eleições anuais o corregedor - a autoridade máxima - os regedores, os alcaides, o aguazil-mor, um procurador e um secretário. Contava-lhes também como os indígenas aprendiam, através de lições práticas e vivas, que o indivíduo pouco ou nada vale fora da coletividade a que pertence. (ERICO, 1999, vol 1, p. 22, 31e 32).
É exatamente em A Fonte que podemos constatar a presença não só de portugueses
e espanhóis, mas de indígenas, os quais, sob as ordens dos padres espanhóis, seguem a
mesma administração de Espanha. O léxico histórico usado pelo escritor como cabildo,
corregedor, alcaide são indícios muito fortes da presença espanhola nas terras do hoje Rio
Grande do Sul. Afinal, não se pode esquecer que os Sete Povos das Missões estavam sob a
jurisdição espanhola, o que lhes confere toda a estrutura administrativa nos moldes de
Espanha.
O romance de Erico é todo pontuado por acontecimentos históricos que se
interpõem na obra, dando-lhe, portanto, o caráter de romance histórico, que já assinalamos,
familiarizando-nos com a questão étnica platina na formação da identidade cultural do
Estado.
No capítulo A Fonte, embora haja todo um envoltório mítico em torno da figura de
Pedro Missioneiro, historicamente desenrola-se a Guerra Missioneira, quando os
portugueses ocupam a região. De acordo com Bordini, in NUNES:
A matéria histórica de A fonte (...), é a destruição das Missões jesuíticas espanholas junto aos Guaranis
pelas tropas encarregadas de fazerem valer o Tratado de Madri, de 1750. Os termos desse
53
acordo entregavam à Espanha a Colônia do Sacramento e a Portugal os Sete Povos das Missões,
para pôr fim à disputa de fronteiras que se prolongava entre os dois países e originaram a
chamada guerra guaranítica, que durou até 1756 e que, segundo a História oficial, foi instigada
pelos jesuítas para manterem o território por eles civilizado e as riquezas dele provenientes nas
mãos da Santa Sé. (1990, p. 6 - 7)
A autora não só esclarece o fundamento do sentido histórico de A fonte, como o
reforça e também nos faz entender a característica de romance histórico quando afirma:
Erico Verissimo, defrontando-se com esse discurso histórico sobre a derrota das Missões, decide utilizar o tema da civilização jesuítico-guarani como motor de todo seu romance, o qual tem em mira revisar o processo de formação e desenvolvimento da sociedade rio-grandense. As Missões, portanto, passam a funcionar, na estruturação da trilogia, como narrativa de fundação, que origina um universo social, o dos latifúndios rurais sul-rio-grandenses desde seu florescimento até sua resistência à modernização industrial. (...). Na versão oficial, o que encontra é apenas o mito da superioridade dos brancos, a desconfiança ideológica quanto às intenções dos jesuítas de cristianizar os povos indígenas para salvá-los do genocídio e integrá-los ao mundo ocidental, o menosprezo às realizações culturais dos guaranis e ao estilo de vida comunizada que adotaram sob o influxo da doutrina cristã e, o mais grave de tudo, a descrença em que essas realizações foram tidas pelos historiadores, que as rotularam freqüentemente de legendárias.
Percebemos, ao longo de nossas leituras, que os estudiosos em Erico Verissimo são
unânimes em relatar a preocupação do autor no que tange à história, seja no momento da
escrita da obra, seja quanto dos fatos do passado, seja quanto à formação da sociedade sul-
rio-grandense, arraigada às tradições.
É com A Fonte que Erico Verissimo inicia e encaminha o seu romance. A palavra
“fonte” tem a conotação de origem, vertente, o que não significa necessariamente ser o
início de coisas boas, claras, puras ou imaculadas, mas é por onde tudo tem um começo, na
obra de Erico. O próprio título do capítulo não é uma casualidade, é a matriz da narrativa na
54
ação de iniciar seus escritos.
Verissimo20 apud Kern (1995, p. 18) assim se refere à A Fonte.
Se O Tempo e o Vento é um romance-rio, 'A Fonte' é a sua vertente, e não apenas porque é ali que
começa a história. As vertentes são ao mesmo tempo coisas límpidas e sombrias, símbolos do
novo e do puro e ao mesmo tempo dos ciclos antigos da água e da terra. A história emerge do
mito como a água brota da terra, como a criança sai do ventre, e tudo que é novo já nasce com
um passado obscuro, com uma passagem pelas entranhas do mundo.
Esse autor traduz claramente o significado de A Fonte para o resto do romance;
esse capítulo é a raiz de onde surgem todos os demais. É como se A Fonte fosse o brotar de
toda a história do Rio Grande do Sul, a partir do povoamento inicial que ocorre com os
índios missioneiros, os jesuítas, os portugueses e os espanhóis. Ou seja, podemos visualizar
claramente, nesse capítulo, três situações: de um lado uma terra indígena sendo aos poucos
devassada, de outro a disputa pela conquista luso-espanhola da América e, a partir dessas
duas questões, a fusão dessas etnias que darão origem à formação de um mundo novo.
Embora Erico não descreva pormenorizadamente os acontecimentos históricos, não
defina expressamente sua posição em relação às matrizes étnico-culturais do Rio Grande do
Sul, até por que esses não são os objetivos de seu intento, ele não os ignora; ao contrário
usa-os para dar a fundamentação histórica que enriquece o romance. E assim ele procede
em cada um dos capítulos de O Continente.
A chegada do Capitão Rodrigo Cambará a Santa Fé, por exemplo, descrita no
capítulo Um Certo Capitão Rodrigo, apresenta um gaúcho destemido, participante das
Guerras Cisplatinas. Ficcionalmente vemos o relacionamento de Rodrigo com Bibiana, o
20 VERISSIMO, Luiz Fernando. A Fonte: vertente de O Tempo e o Vento. apud Kern, Arno Alvarez. A Fonte: Memória e História das Missões Jesuítico-Guarani. In: NUNES, Luiz Arthur et. al. Programa da peça A Fonte. Porto Alegre: PPH, s.d., p. 5. Atas do Seminário Internacional Erico Verissimo: 90 Anos.
55
nascimento dos filhos e a morte do Capitão. Historicamente, o capítulo apresenta a
imigração de alemães que chegam a Santa Fé, e trata também da Guerra dos Farrapos, em
1835.
A questão com os castelhanos continua, no capítulo A Teiniaguá, abrangendo a
guerra contra Rosas e demais conflitos com os países do Prata. Junto com esses
acontecimentos históricos, ficcionalmente o capítulo trata do casamento de Bolívar
Cambará - filho de Bibiana e Rodrigo Cambará - com Luzia Silva, o nascimento de seu
filho Licurgo Cambará, as crises do casamento de Luzia e Bolívar e a morte deste. Em meio
a tudo isso continua, como disputa política, o conflito entre os Cambará e os Amaral.
No capítulo intitulado A Guerra, Erico trata da Guerra do Paraguai, que alcança
Santa Fé através de seus filhos, os quais engrossam as fileiras militares. Em função disso -
afinal a guerra já está no seu sexto ano - Santa Fé começa a entrar em decadência. Erico se
refere à situação da cidade ao descrever:
As obras da igreja nova, iniciadas em 1863, foram interrompidas por falta de dinheiro e de braços. Os homens válidos da vila estavam em terras o Paraguai - em cima dela lutando ou debaixo dela apodrecendo. Os campos do município achavam-se quase despovoados: o governo fizera pouco negócio. O correio chegava com irregularidade, quando chegava. As residências conservavam suas janelas quase sempre fechadas, e as que ficavam desabitadas dentro em pouco se transformavam em ruínas. Durante todos aqueles anos poucas vezes se ouviu o som de gaita ou canto em Santa Fé; nem houve ali fandango, quermesse, cavalhadas ou outra festa qualquer. Ninguém tinha vontade de se divertir nem ânimo para cantar, dançar ou brincar, sabendo que parentes e amigos estavam na guerra. E por mais que se dissesse que Solano Lopes estava perdido, nenhuma esperança havia de paz próxima. (1999, vol. II, p. 477)
O enredo do capítulo vai tratar também dos atritos entre
Bibiana e Luzia, da doença desta e da permanência de Licurgo em
56
Santa Fé, que se tornará o chefe político da cidade. Um dos
exemplos mais claros advém de uma conversa entre o dr. Winter e
Florêncio Terra, depois que este volta da guerra. Em meio à
consulta, o médico conta-lhe sobre o estado de saúde de Luzia, que é
precário. Florêncio pergunta-lhe:
- Vosmecê falou franco? Disse que ela tinha vida pra pouco tempo?
- Disse. Uma mulher como Luzia tem mais coragem que muito homem que conheço.
(...) - Tia Bibiana também sabe de tudo? - Sabe (...) - Como é que elas vivem naquela casa, doutor? - Odiando-se. (...) - O que mantém aquelas duas mulheres juntas na mesma casa é a
esperança que uma tem de que a outra morra primeiro. - Não acredito, doutor, vosmecê me desculpe, mas não acredito. - Por quê? - Tia Bibiana não é capaz duma coisa dessas.
(...) - Sua tia é capaz de muito mais coisa do que vosmecê imagina.
Ela odeia a nora com a mesma força com que amava o filho. (ERICO, 1999, vol II, p. 487)
Bibiana, conforme nos descreve outra personagem, o Dr. Winter, é uma mulher resoluta,
uma mulher de decisões firmes, que não recua diante das possibilidades
de concretização de seus propósitos.
Numa outra passagem desse capítulo, Erico assim expõe o desejo de Bibiana de
recuperar o Sobrado:
57
Estava resolvido, ia tomar o Sobrado, não de assalto, com tiros, como o Capitão Rodrigo (...). Era
mulher, tinha paciência, estava acostumada a esperar (...). Um dia Aguinaldo morre, Bolívar
fica dono de tudo, eu volto para as minhas árvores (...) vou ajudar a criar meus netos. (1999, v.
2 p. 368 )
Nos dois exemplos, podemos notar claramente o "maquiavelismo" de Bibiana em
conseguir o seu intento, sem se preocupar com o preço que terão, ela e Bolívar, que pagar.
Ela tem o dom da espera, quando se trata de atingir um objetivo. Como podemos observar,
o enredo do capítulo é um duelo constante entre Bibiana e Luzia - a Teiniaguá-, pincelado
pela presença do Dr. Winter, que dá o tom esclarecedor do mesmo, bem como a de outras
personagens como José Fandango que, na sua simplicidade, vai demonstrando as diferenças
entre a modernidade que se aproxima e a tradição, que aos poucos se modifica.
Podemos distinguir, no desenrolar de cada capítulo de O Continente, que Erico não
desvincula os acontecimentos históricos da linha ficcional apontada por ele. Por isso
engajamo-nos aos autores que consideram O tempo e o Vento, e por via de conseqüência O
Continente, como romance de fundo histórico. É quando podemos notar os conflitos entre
nações, bem trabalhado na questão da disputa de fronteiras ou entre grupos sociais diversos,
ou dentro da própria família. E o objeto principal, nesse momento, é sempre a disputa pela
terra. A terra enquanto limite territorial, é a terra enquanto restauração do que um dia
pertenceu aos Terra, simbolizado agora, pela edificação do Sobrado.
Silva, apud INDURSKY faz a seguinte afirmação a respeito de romance histórico
ligando-o a O Tempo e o Vento:
Em "O tempo e o vento", a perspectiva histórica adotada pelo narrador é séria, a ponto de a primeira parte da trilogia se aproximar de uma narrativa mítica de fundação do Rio Grande do Sul. A História é tratada criticamente, mas fora do plano do discurso; é através dos episódios ficcionalizados, vividos pelas personagens,
58
em confronto com a História oficial e seus vultos, considerados modelares, que se estabelece a crítica. A prova disso está em três atitudes do narrador: 1) a constância da 3ª pessoa gramatical, como a mostrar sua opção por um discurso científico, ou o mais próximo ele, a respeito das situações; 2) o ponto de vista sério, apesar de crítico, quando faz a apresentação de qualquer fato histórico; 3) a ausência de comentários e a escassez de adjetivos nas descrições, ligadas ao discurso científico. (2000, p. 568)
O autor demonstra a seriedade com que Erico Verissimo distingue a perspectiva
histórica que imprime ao seu romance, explanando as atitudes de Erico ao tratar de
questões históricas.
A relação inter-proximal que visualizamos entre a História e a literatura, na
narrativa de Erico, traduz o diálogo de inclusão entre os dois campos do conhecimento,
mostrando, assim, o entrecruzamento que pode haver entre eles, enriquecendo-se, o texto
literário com as abordagens históricas, e o texto histórico com as elocubrações que a
literatura pode fornecer.
Das muitas leituras feitas podemos deduzir a ligação que há entre História e
Literatura. E, como afirma Weinhardt in GONÇALVES
(...) a importância da história, a maneira de ler a realidade que lhe é própria depende de instrumental
de sua exclusiva competência. A ficção, que eventualmente até pode ser usada pela história
como documento, neste caso oferecendo subsídios a propósito do tempo em que é produzida e
não do tempo ficcional.
A questão do eu e do outro, não é substitutivo para o ensaio histórico, embora parceira de diálogo. (...) O texto literário, se submetido aos atuais recursos da teoria histórica, pode ganhar novo rendimento ficcional. Quando a teoria histórica abre seu leque para a cultura e, em movimento simultâneo, reconhece seu caráter de discurso de processos discursivos e sua força de revelação e de mascaramento, está apontando também para um outro modo de ler o texto ficcional que encena o histórico. A consciência do "roman fleuve" gaúcho revelada por diferentes tipos de abordagens históricas é mais um modo possível de aduzir razões para a força de verdade de seu universo ficcional. (2000, p. 100)
59
Ao cotejarmos a história do Rio Grande do Sul com a ficção de O Continente,
encontramos um paralelo significativo que Erico traça entre as duas histórias. A história do
Rio Grande do Sul é desenvolvida desde o início da colonização até o apogeu do
castilhismo, quando seus adeptos sagram-se vitoriosos na Revolução Federalista de 1893-
95.
Ficcionalmente encontramos em O Continente, a história da família Terra, que se
desenvolve, desde sua chegada ao Continente de São Pedro até a união do Capitão Rodrigo
Cambará com Bibiana Terra, dando origem à família Terra-Cambará e seu futuro domínio
político sobre a cidade fictícia de Santa Fé.
Conduzindo a ficção e a história em campos paralelos, Erico demonstra, através da
saga dos Terra-Cambará, e de sua concorrente política, a família Amaral, das gentes
simples como os Carés, dos letrados como o Dr. Winter e os padres Alonzo, Antônio, Lara
e Otero e dos maquiavélicos Aguinaldo e Luzia Silva, a formação, as lutas e o
desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Todas as questões ficcionais enfocadas
por Erico têm uma correspondência na História, seja através dos acontecimentos, seja
através da citação das personagens reais, seja pela fala e argumentação das personagens
fictícias.
Ler um texto narrativo que se reporta à História permite duas grandes possibilidades
intelectuais. Uma, participar da proposta do autor, ao acompanhar passo-a-passo sua
narrativa, outra a de enriquecer-se com as questões históricas das quais o autor lança mão
para fundamentar o seu texto, quando esse tem um fundo histórico como é o caso de O
Tempo e o Vento.
Tratamos, neste subcapítulo, do romance histórico, o que nos permitiu, ao fazermos
essa análise, não só notar a relação muito próxima entre a História e a literatura, mas
60
também verificar que os contextos historiográfico e literário, em que se insere O
Continente, igualmente interagem, por conta da efervescência que se processava na
Literatura e na História nas décadas de 1930/40.
1.3 Do Contexto Literário e Historiográfico
Trabalhar com a mais importante obra de Erico Verissimo, O Tempo e o Vento -
ainda que usando somente a primeira parte da trilogia - O Continente - implica revisitar os
contextos literário e historiográfico aos quais o autor estava inserido nas décadas de 1930 e
1940.
Historicamente o Brasil sentia os reflexos da Primeira Guerra Mundial (1914-18) que, se
por um lado marcou o fim de grandes impérios coloniais, por outro
inaugurou o imperialismo econômico sob a batuta de novos países.
Dacanal21 assim se refere ao contexto histórico em que surge o romance de 30,
considerando que
A grande guerra interimperialista de 1914 marcara o início do fim do colonialismo clássico europeu
(...). No Brasil, uma das principais nações de um continente semicolonizado, a velha ordem dos
mundos urbanos da costa e de sua imediações, organizados como complementos dos impérios
europeus, agonizava. O antigo sistema econômico exportador de matérias-primas alimentícias e
importador de manufaturados esgotara suas possibilidades.
Conforme se depreende das palavras do autor, era um novo momento para o Brasil e
também para o Rio Grande do Sul, que necessitava sair do exclusivo sistema
21 DACANAL, JoséHildebrando. O Romance de 30 e os Primórdios do Capitalismo Industrial. In. Correio do Povo - Caderno de Sábado, 22/11/1980, p. 15.
61
agroexportador, resultado do colonialismo clássico, e ingressar no modelo moderno de
industrialização. É ainda Dacanal22 que assim se expressa:
O país estava pronto para o grande salto (...). Uma estrutura mais complexa, própria dos subsistemas
periféricos da nova fase da era industrial/capitalista, o substituiria. No sul, a Armour marcava o
fim das charqueadas e no norte as modernas usinas eliminavam o engenho. As zonas industriais
e as cidades cresciam e suas imediações passavam a produzir alimentos para abastecer estes
grandes aglomerados humanos. O café, elemento-chave da velha ordem econômico-política,
perdia importância.
Esssas situações são analisadas não apenas pelos historiadores que não se furtam em
discutir a situação sócio-político-econômica do país, mas também pelos escritores da
geração de 30, que as incluem em suas obras.
As mudanças estruturais na marcha da economia foram historicamente muito
significativas para a sociedade brasileira da época, que toma novos rumos, passando a
industrializar-se. Socialmente temos a presença da classe média urbana que se destaca
também no cenário político nacional, enquanto as oligarquias começam a perder seu poder
econômico-político, por conta dessa nova classe social que apóia os grupos, figuras e
movimentos que propunham "um liberalismo autêntico, capaz de levar à prática as normas
da Constituição e as leis do país, transformando a República oligárquica em República
liberal. Isso significava, entre outras coisas, eleições limpas e respeito aos direitos
individuais"23.
Essa crise na estrutura sócio-econômica, apontando para a modernização da
economia, que passa a ser industrial e comercial, oportuniza a ascensão desses novos
22 DACANAL, J. H. op. cit., p. 15 23 FAUSTO, Bóris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Ed.Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 2001, p. 171.
62
grupos sociais, alguns dos quais formados por descendentes dos imigrantes e que vai
colocar em xeque a agricultura e a pecuária frente à indústria e também vai questionar o
poder das elites tradicionais vinculadas à pecuária, à zona da campanha, frente às elites
urbanas em ascensão, ligadas aos novos setores econômicos.
Assim, os anos 1930-40 são um marco na transição econômica. Observa-se uma
certa ruptura, uma mudança na sociedade, na economia e na política. A história também
sofre transformações na ambivalência de conservadorismo/transformação. Em termos de
manutenção vamos observar a tentativa de fixar um passado elaborado de forma a valorizar
a elite guerreira, que luta nas fronteiras contra os espanhóis, correndo em paralelo com a
matriz lusitana. Ou seja, é uma maneira de tentar voltar ao passado num mundo que está se
transformando. Por outro lado vamos ter um ponto de vista crítico, a partir do que a
literatura chamou de Modernismo, mas que tem a ver com o regionalismo crítico dessa
tradição, das elites tradicionais regionais24.
Esboçando um paralelo com o nordeste brasileiro, nas pessoas de Graciliano Ramos
Neto e Guimarães Rosa, entre outros, o que se nota é uma crítica exatamente sobre a
grande propriedade. A lavoura açucareira, como a usina de cana-de-açúcar vão mudar os
hábitos sociais, como provocando o êxodo rural, gerando um problema social. No Rio
Grande do Sul, a crítica far-se-á sobre a grande propriedade e suas conseqüências sociais
que excluem os menos favorecidos.
Assim, a literatura é um outro viés por onde vai se questionar essa mudança e Erico
Verissimo insere-se aí, pensando essa trajetória num largo prazo, só que nessa trajetória ele
24 SARAIVA, G. Manual do Tradicionalismo. Porto Alegre: Sulina, 1986 apud COSTA, Rogério Haesbaert da. Latifúndio e Identidade Regional. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988, p. 81. "Tradição, (...) é o campo das culturas gauchescas. Tradicionalismo, a técnica da criação, semeadura, desenvolvimento e proteção de suas riquezas naturais, através de núcleos que se intitulam Centros de Tradições Gaúchas".p.175-176.
63
traça um painel dialético: como mudança e como permanência. Como mudança porque
passam-se gerações e a modernuidade se impõe, mas como permanência porque o
mandonismo, o latifúndio de alguma forma permanecem ao lado dessas transformações.
O lugar de onde Erico fala é a capital do Estado, Porto Alegre, e o tempo são as
décadas de 1930/40. O Continente só fica pronto em 1949 e é uma situação sui generis a
que se processa no Rio Grande do Sul. Temos um gaúcho na Presidência da República,
Getúlio Vargas. Portanto, o estado sulista passa a ter uma expressividade política de
primeira ordem. No bojo dessa questão vem também a discussão sobre as matrizes de
formação étnico-culturais do estado, para as quais destinamos um subcapítulo.
Love25 apud CHAVES explica que no Brasil
A industrialização impulsionou a migração interestadual, as comunicações e sobretudo a procura de mercados internos em vez dos situados além-Atlântico. As rivalidades regionais abriram caminho para outras divisões, especialmente entre a moderna civilização industrial e urbana, de um lado, e o modo de vida rural e tradicional de outro. O desenvolvimento de uma força de trabalho urbana alfabetizada e a sua resposta aos apelos populistas diminuíram a importância do coronelismo e provocaram uma transformação parcial do processo político. (1981, p. 15)
Obviamente toda essa transformação que ocorria no país, a
partir da década de 1930, não passaria despercebida pelos
historiadores e pelos literatos. São mudanças que estão se
processando na sociedade como um todo e que se refletem na
estrutura histórica do país. Os literatos, por sua vez, especialmente
25 LOVE, Joseph. O regionalismo gaúcho. São Paulo: Perspectiva, 1975, p. 263.
64
aqueles voltados às questões sociais, como era o caso de Erico
Verissimo, também servem-se do momento, para questionar o que se
passa na sociedade e inseri-lo em suas obras.
Erico Verissimo será de marco na ruptura da literatura sul-rio-grandense a partir de uma
maneira diferente de escrever. Se até então os autores gaúchos
debruçavam-se sobre o que se chama romance regionalista, privilegiando,
pois, o estancieiro, os peões, a lida campeira, e enaltecendo o gaúcho,
com Erico essa situação se modifica e ele faz a sua literatura totalmente
voltada para o urbano.
O ideário gaúcho de bravo, guerreiro, macho que, em princípio, pode representar a imagem
que os gaúchos fazem de si mesmos, na realidade não é uma construção
do imaginário popular. Essa idealização é patrocinada pela literatura,
sobretudo pelo Romantismo, que elabora essa figura do gaúcho, no final
do século XIX, exatamente quando ele desaparece como tipo social,
passando a ser um mero tipo literário. Essa construção literária é diferente
do gaúcho real, que é nas décadas de 1930/1940 um desterritorializado,
por conta das modificações econômicas que se operam no Rio Grande do
Sul.
Na verdade, quando Erico caracteriza o gaúcho como tipo valente, destemido,
heróico, lutador, ele está desconstruindo essa mitologia do gaúcho "monarca das
coxilhas"26, ele o está enxertando numa outra dimensão, tanto no âmbito de uma saga
26 (...) no fim do século XIX, com o povoamento do território, a subdivisão dos campos, a intensificação da exploração rural, a imigração européia em larga escala, o homem do campo não podia ter conservado a feição que o caracterizou
65
familiar, quanto num contexto de modernização, que se aplica a sua literatura urbana.
Fresnot explica que
A literatura eminentemente urbana de Erico Verissimo começa a erguer um novo marco que vai, insensivelmente, passo a passo tornar-se um ponto de referência... O Cavalo é substituído pelo jipe, a vida social pelas atividades urbanas e industriais, novas classes sociais surgem deslocando o peão da estância e criando nova linguagem; nova problemática, diversificando os ingredientes do drama cotidiano. (1977, p. 80 - 81)
Afinal os tempos são outros, é num outro lugar - Porto Alegre,
a capital - onde as coisas acontecem, em relação ao restante do Rio
Grande do Sul. É para lá que Erico desejava ir e efetivamente ele
vai, com o propósito de tornar-se escritor.
Para Zilberman,
o romance de 30 e a obra ficcional de Erico Verissimo despojam a literatura regional da carga promocional do gaúcho. A partir daí, a narrativa não poderia deixar de ser crítica, de modo que, voltada à exploração da história da ocupação do território, incorporou estes dois procedimentos: a pesquisa do passado e a postura interrogativa quanto ao processo de formação racial e, sobretudo social. (1980, p. 92-3)
O romance produzido na década de 1930 teve importância
capital no sentido de os autores assumirem uma posição crítica
quanto às questões situadas por Zilberman quais sejam: a discussão
sobre quem é e o que é ser gaúcho, desmitificando a questão da
primitivamente. Mudou, entretanto na pele do “monarca das coxilhas”. REVERBEL, Carlos. O gaúcho: aspectos de sua
66
heroicidade; as questões raciais que, ao segregarem uns porque são
negros, outros porque são estrangeiros levam, em última instância, à
análise dos problemas sociais que advêm no bojo dessas discussões.
A geração dos escritores de 30, entre os quais Erico Verissimo foi
figura eminente, conforme nos informa Chaves (1981, p. 13)
"empreendeu o reconhecimento do espaço social brasileiro por via
da documentação, da incorporação de tipos característicos, da
aceitação das palavras regionais e, não raro, da denúncia política" e
abriu, inegavelmente, um novo capítulo na literatura brasileira e sul-
rio-grandense.
Antônio Cândido apud SUSSEKIND relata que
Erico vai querer compreender melhor a "razão histórica" da violência e ferocidade do caudilhismo, a violência que tem seu lado positivo como seu lado negativo. Para entender como e porque vai escrever O Tempo e o Vento, refazendo a história do Rio Grande. Positiva do lado dos pioneiros que "conquistam e defendem a terra", negativa do lado dos "coronelões que a desfrutam e oprimem" bem como dos "doutores e negocistas que saem deles para levar a sua marca à política do Estado e da Nação”. (1995, p. 328),
Explorando essa compreensão, Erico vai deixar de lado toda a tradição campeira
dos estancieiros, que são os "latifundiários ricos e poderosos", "donos do poder", "donos até
da vida das pessoas", são os "caudilhos". De outro lado aparecem os menos favorecidos, os
formação no Rio Grande e no Rio da Prata. Porto Alegre: L&PM, 1996. p.87.
67
miseráveis, e os que têm alguma posse e desejam melhorar de vida, aspirando chegar a ter
um espaço só seu, uma vida só sua. Entre ambos aparece a questão da identidade sendo
esmiuçada pelo autor.
Em um determinado momento a identidade vai transitar na luta contra o outro, que é
o castelhano, enaltecendo o português, que existe, nesse momento, como um elo comum
entre todos os estados na constituição de um Estado Nacional Brasileiro. É quando o
gaúcho quer se integrar como brasileiro. Está explícita, assim, a discussão das matrizes
lusitana e platina na formação da sociedade sul-riograndense.
Biasoli apud QUEVEDO, chama-nos a atenção para a época - 1949 -em que foi
publicado o romance de Erico.
É importante que tenhamos claro a ata da publicação dessa obra ficcional, pois ela veio à luz num momento da vida cultural rio-grandense muito específico: quando se delineava uma reação contrária àqueles intelectuais que não admitiam a experiência dos jesuítas espanhóis - os 7 Povos Missioneiors - como integrante da história do Rio Grande do Sul. Entre os que se opunham a esta visão excessivamente lusitana da história do Rio Grande, encontravam-se Manoelito de Ornellas e os integrantes do Grupo Quieto, por exemplo. (1999, p. 148)
Para esse autor,
Erico Verissimo, ao escrever "A Fonte" integrou-se nessa oposição difusa, que clamava por uma aceitação do fato de que nossas raízes históricas têm muito a ver com a cultura platina, com a cultura espanhola na América, com as experiências dos jesuítas missioneiros, por exemplo. Ao dar o título "A Fonte" ao capítulo do seu romance ambientado nas Missões, ele estava claramente afrontando esses intelectuais, polemizando com eles. Isto, em certo sentido, me parece que marca algumas das características que ele enfatizou ao descrever o universo das reduções. (1999, p. 148-49),
Nesse capítulo, Erico dá-nos a entender que é da fonte que tudo surge, é onde tudo
68
começa; a fonte é vida que nasce, que cresce, que se desenvolve, que toma formas as mais
diversas. Nessa diversidade está a presença de portugueses e espanhóis; estão os sete Povos
das Missões e também a Colônia do Sacramento; está a disputa entre Portugal e Espanha
por territórios além Atlântico; está, enfim, o famoso Tratado de Madri. Tudo isso é
relacionado por Erico, nesse capítulo e o é também pela história "oficial" e, como tal, é
impossível não reconhecermos a presença étnica e a influência cultural dos espanhóis na
formação da sociedade sul- riograndense.
É todo o contexto sócio-cultural da época que Erico argumenta no seu romance e o
fato de conviver tão amiúde com intelectuais que defendiam enfaticamente a matriz lusa de
formação étnica do Rio Grande do Sul, talvez tenha levado o escritor a considerar que a
simples presença dos castelhanos, vizinhos portanto, não era tão simples assim.
Para nós, o autor usa ambas as situações e as aplica nos vários momentos de seu
romance, como por exemplo, quando o próprio Capitão Rodrigo pronuncia a sua tão
conhecida frase "Buenas e me espalho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de
talho" (1999, v.1,p. 171). O termo buenas é um vocábulo castelhano e o capitão é uma
personagem que, nas suas andanças guerreiras, luta ao lado dos portugueses. São
expressões como essas que demonstram a relação extremamente próxima das questões
étnico-culturais, entre as duas matrizes.
É na discussão do que vem a ser matriz, já explicada na página 13, que entendemos
a construção de uma identidade político-cultural de que os intelectuais gaúchos careciam
para possibilitar uma identificação para o seu território, enquanto fundamento de
representatividade para o restante o país.
Gutfreind refere-se à matriz platina, explicando que a ela...
filiam-se os historiadores que enfatizam algum tipo de relação ou de influência
69
da região do Prata na formação histórica sul-rio-grandense e comumente defendem que a área das Missões Orientais, com os aldeamentos jesuíticos do século XVII, componha a história do Rio Grande do Sul. A outra, a matriz lusitana, minimiza as aproximações do Rio Grande do Sul com a área platina e, conseqüentemente, defende a inquestionável supremacia da cultura lusitana na região. (1992, p. 11)
A busca da "identidade política cultural" que Gutfreind ressalta, sinaliza também
para uma identificação regional que deseja uma representação no cenário nacional.
Outros estudos mais recentes afirmam que se no Rio Grande do Sul, a presença lusa
foi predominante, entretanto a presença espanhola não deixou de fazer parte das heranças
étnicas e culturais sul-riograndenses, bem como a indígena.
Kern dá o tom explicativo para essa questão, ao afirmar:
Hoje sabemos que a região platina, na qual estamos inseridos desde nossas origens, foi povoada por diversas etnias que ao longo dos séculos aqui se estabeleceram. Inicialmente organizou-se o espaço: a natureza preparara desde muito o palco e o cenário, nas colinas e planícies dos vales cobertos de florestas dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai. (1995, p. 19)
De posse dessas informações, analisando o que nos diz a historiografia, a teoria e a
literatura, não se pode afirmar que a formação da sociedade sul-riograndense seja
exclusivamente portuguesa. Entretanto a construção desse lusitanismo, como registra o
trabalho de Ieda Gutfreind (A Historiografia Sul-Rio-Grandense) é, exatamente a tentativa
dos gaúchos de se fazerem pertencentes a esse concerto nacional. Essa identidade é, em
princípio, contra o outro, mas é também uma identidade que busca a interação no nacional,
como forma também de desvincular-se do contexto dos anos 30/40 que entendia o Sul do
Brasil como produto de colonização alemã e italiana. Não faz parte de nosso trabalho essa
discussão, mas tal era o contexto da época.
Os anos 1930 - 1940 são períodos em que há uma intensa propaganda nacionalista
interna no Brasil. É a oportunidade de vencer as oligarquias locais, e isso também vem
70
representado na literatura urbana de Erico como no exemplo abaixo
- Tomamos o casarão de assalto. O capitão foi dos primeiro a pular a janela (...). - Uma bala no peito...
O padre mirava-o, estupidificado, pensando em Bibiana. - E os Amarais? - O Cel. Ricardo morreu peleando. O filho fugiu O padre sacudia devagarinho a cabeça, como que recusando aceitar aquela desgraça. - Eu queria que vosmecê fosse dar a notícia à mulher do capitão - pediu o oficial. (1999, v. 1, p. 306),
Podemos perceber, nesse exemplo, que Erico vale-se da história e do momento
presente, usando esses recursos nos seus escritos, discutindo o poder de mando, das elites
regionais cosnstituídas.
Chiappini esclarece que Erico vai posicionar,
em cheque o poder tradicional e a tradição regionalista da literatura gaúcha sem a ingenuidade de lhe
opor uma alternativa positiva pela tematização eufórica da vida urbana, mas cada vez mais
vendo verso e reverso, perdas e ganhos, vantagens e desvantagens de ambos, do ponto de vista
do ideal de uma sociedade menos injusta, com mentos pobreza e mais liberdade para todos.
(1995, p. 328)
A dedicação de Erico para com a literatura urbana vem ao encontro de seu caráter
humanista, preocupado com as questões da urbe que, em última instância, vai colocar
também em xeque a liberdade para todos os indivíduos, indistintamente, e, da mesma forma
uma igualdade social, que não privilegiasse uns em detrimento de outros.
Bordini apud GONÇALVES, falando acerca das incursões de Erico pela história,
destaca
Sua aventura pela História sulina, portanto, que se iniciava com O Continente, vinha precedida do descrédito no legado regionalista, tanto brasileiro quanto local, que dourara um passado (e por vezes um presente) de guerras bárbaras e de opressão no campo, e na
71
desconfiança na História oficial do Estado, que, ao gosto da época, dedicava-se a erigir heróis a partir de caudilhos sanguinários e nem, sempre esclarecidos. Entretanto, Erico também provinha do interior, de uma região politicamente conturbada e de economia agrária, testemunhara ainda muito jovem os desmandos dos próceres de Cruz Alta e conhecera inúmeras figuras que transitavam entre o campo e sua cidade, tratara de suas doenças e feridas e ouvira seus dramas primeiro do dispensário de seu pai e depois ao balcão da Farmácia Central. (2000, p. 52-3)
A explicação de Bordini permite-nos compreender mais claramente que Erico
sentia-se comprometido com os acontecimentos que orbitavam a sua volta, ou seja, "Erico
estava pronto para entregar-se à temática histórica que seu compromisso ético com a época
e o povo lhe exigia".27
Ao conviver com os "próceres" de Cruz Alta, enquanto vivia
em sua terra natal, e circular entre o campo e a cidade, Erico teve a
oportunidade de poder comparar a ambos e tudo isso de alguma
maneira, serviu-lhe de "laboratório" no momento em que ele redigia
sua obra.
Essa preocupação de Erico Verissimo com a realidade na qual ele estava engajado,
que Zilberman nos permite compreender melhor, é apontada também por Antonio
Chiarello28, através de uma fala de Erico.
Perguntaram-me se sou um escritor engajado. Resposta: “Sou, mas não com nenhuma facção ou partido político e sim com o Homem, com a Vida". E já havia dito, alguns anos antes: "Sou um homem de paz. Detesto as guerras, as ditaduras e os ditadores. Com
27 BORDINI, Maria da Glória. O Continente: Um Romance em Formação? Pós-Colonialismo e Identidade Política. In. GONÇALVES, R. P. O Tempo e o Vento - 50 Anos. Santa Maria, RS: UFSM; Bauru, SP: EDUSC, 2000, p. 52-3. 28 Jornal Correio do Povo. Porto Alegre: 1980, p. 9.
72
o devido respeito a Erasmo, direi que sou um humanista”.
A transcrição de Chiarello revela-nos o humanismo inerente a Erico, o que fez do
escritor não apenas o "contador de histórias", como ele mesmo se autodenominava, mas um
homem de sua época, preocupado com o que via e ouvia nas ruas e nos locais significativos
de Porto Alegre, por onde andava.
A elaboração de O Continente - primeira parte da trilogia de O Tempo e o Vento -
vai de 1935 a 1948. É um período difícil para o escritor que luta pela sobrevivência. É
compreensível, portanto, que embora a concepção do romance tenha ocorrido em 1935 só
em 1947, após a restauração da democracia no Brasil, o livro tenha efetivamente ficado
pronto. Era, certamente, uma época difícil para alguém como Erico, um humanista liberal,
obrigado a conviver com a ditadura que se impusera no Brasil.
Em 1937 vige no país o regime político do Estado Novo. Economicamente o Brasil
passa a se industrializar cada vez mais, os direitos trabalhistas29 são o grande mote do
governo de Vargas, que ganha em popularidade. Em contrapartida a repressão é imensa.
Bordini in GONÇALVES (2000, p. 56) esclarece que, “ao despertar da Segunda
Guerra Mundial haviam proliferado os movimentos pró-Eixo e consolidara-se o partido
comunista. Um intelectual liberal como Erico Verissimo se sentia cercado por todos os
lados.
Para um humanista liberal como Erico, a situação era extremamente controvertida.
Se por um lado ele era criticado pelos socialistas que o acusavam de liberal, por outro ele
sofria com a dureza do Estado Novo. Assim compreende-se, a partir da explicação de
29 FAUSTO, B. Op. cit. "A política trabalhista de Vargas (...) teve por objetivos principais reprimir os esforços organizatórios da classe trabalhadora urbana fora do controle do Estado e atraí-la para o apoio difuso do governo".
73
Bordini30 a espera para a publicação da obra.
(...) embora a idéia da obra possa ter lhe ocorrido em 1935 e retornado em 1939, com roteirizaçòes de que se conhecem as de 1941 e de 1943, como Erico diz no esboço de uma entrevista, foi em 1947 que de fato começou a escrever o romance, tendo em mente realizá-lo como "uma longa sinfonia dividida nos clássicos movimentos e possivelmente com grandes massas corais" (ALEV 01i0047-?, p.iii).
Ser um humanista e também um liberal não era tarefa fácil para ninguém, num país que era
governado por um ditador, mas que ao mesmo tempo tinha a simpatia da
massa trabalhadora, normalmente carente de toda e qualquer informação.
Para um escritor, como Erico, atento às questões sociais, certamente a
carga de preocupações era enorme, e os olhares do poder estavam
voltados para ele.
Chaves refere-se da seguinte maneira ao humanismo de Erico:
A atitude humanista de Erico Verissimo, que implica obviamente um determinado conceito sobre a função da literatura (...), deve ser compreendida portanto à luz desse reconhecimento crítico da realidade que vem a ser, em última instância, o fator causal de muitas das atitudes individuais das suas personagens. (1981, p. 49)
Essas personagens como veremos no capítulo 2.1, dedicado
especialmente a elas, parecem muitas vezes saídas da vida real para
a ficção, tamanhas são as discussões que se processam entre elas,
30 Essa explicação de Bordini encontra-se também, e mais detalhada, em CriaçãoLiteráriária em Erico Veríssimo. Porto Alegre: LP&M, 1995, pp. 125-129.
74
acerca dos fatos sociais, históricos, políticos, econômicos do dia-a-
dia e que afetam de alguma maneira toda a sociedade.
Chaves relata ainda que
É através da trajetória das personagens eleitas que a classe média urbana - transformada em núcleo da indagação social - obtém a verdadeira voz de sua consciência, no romance de Erico Verissimo, estabelecendo pela primeira vez a sua problematização histórica, quer nas denúncias das injustiças do presente, quer na interrogação a cerca do passado. (1981, p. 49)
Entendemos que as confabulações que acontecem entre as
personagens são uma das maneiras de Erico expor seus pensamentos
sobre essas questões que interferem na sociedade como um todo.
A década de 1930 foi significativa tanto para o Brasil quanto para o Rio Grande do
Sul; não só a esfera política federal abraça o gaúcho Getúlio Vargas para dirigir a Nação,
como na economia o estado se destaca no setor industrial e Porto Alegre, a sua principal
cidade, torna-se "o principal centro industrial do estado (...) e uma capital com uma
prestigiada vida cultural".31
Embora o país se industrializasse, isso não significa dizer que a zona da campanha
desapareceu e o latifúndio perdeu sua importância econômica e política,
especialmente na fronteira, pois como explica Costa (1988, p. 81),
A força do Estado brasileiro nos anos 30 e sua aliança aos interesses da ascendente burguesia industrial não desestruturaram, contudo, a "solidez da dominação oligárquica local que exigia e facilitava que as mudanças fossem promovidas de 'cima para baixo', condição esta, sim, indispensável: qualquer mudança devia ser contida nos limites da manutenção da estrutura de propriedade da terra"
31 TORRESINI, Elisabeth W. R. Editora Globo: Uma Aventura Editorial nos Anos 30 e 40. São Paulo: EDUSP: Com-Art, Porto Alegre: EdUFRGS, 1999, p. 43.
75
(Martins, apud SILVEIRA, 1984, p. 27).
Será justamente na região da fronteira que o latifúndio vai prevalecer, o que implica
questionarmos as identidades que foram construídas a partir das grandes extensões de
terras, originárias das sesmarias quando da formação do território do Rio Grande do Sul.
Costa salienta que:
Enquanto dominante, a velha oligarquia rural não necessitava "afirmar sua diferença" pelo acirramento da sua identidade cultural. Entretanto, a partir do momento em que a sociedade era incorporada aos novos padrões da modernização e do "progresso" capitalista, os elementos representativos de uma "cultura regional" específica vinham à tona, considerados como antagônicos a este processo e, portanto, conservadores, ultrapassados. (1988, p. 80)
Assim, repensar essas identidades diante da industrialização que se apresentava, é
pôr em xeque a própria construção das identidades e o poder das elites regionais, às quais
obviamente vão resistir à perda da hegemonia política e econômica.
O final dos anos 1930-40 é uma época de metamorfoses, é um período de críticas de toda a
ordem; não podemos esquecer que vige no Brasil, a partir de 1937, o
Estado Novo, regime que derruba a democracia e implanta a ditadura.
Erico, por seu turno, vai se colocar nesse viés crítico que a literatura da
época já vinha denunciando.
É nesse mundo que Erico Verissimo vai entrar, por opção e por necessidade. "O
ponto obrigatório de encontro dos intelectuais porto-alegrenses é o Café Colombo"32, do
qual Erico Verissimo era um dos muitos freqüentadores, por onde circulava, "todo cidadão
de destaque social (...) para ver os seus pares e ser visto"33.
32 TORRESINI, Elisabeth W. R. Op. cit. p., 45. 33 MONTEIRO, Charles. Porto Alegre e suas Escritas: História e Memória (1940 e 1072). Tese (Doutorado em História) PUC-SP. São Paulo, 2000, p. 42.
76
Conforme o que nos diz Monteiro:
Entre os mais assíduos freqüentadores estavam "Augusto Meyer, Moysés Vellinho, Viana Moog, Theodomiro Tostes, Athos Damasceno Ferreira, Darci Azambuja, Vargas Neto, João Santana, Paulo Corrêa Lopes, Carlos Dante Moraes, Dionélio Machado, Reynaldo Moura, Pedro Wayne, Pedro Vergara, Ernani Fornari, Dante Laytano, Raul Bopp, Mário Quintana (...) e Paulo de Gouvêa. (...) Augusto Meyer, Theodomiro Tostes e João Santana eram as figuras centrais do grupo. (2000, p. 40)
Podemos observar que há uma plêiade de intelectuais voltados às letras, além de
músicos, advogados, médicos, engenheiros, entre outros, bem como políticos de renome
que também freqüentavam o Café Colombo, e "(...) entre as figuras de destaque da política
nacional e local (...) estavam Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha (ambos antes de 1930) e
Loureiro da Silva".34
Essa "miscigenação" cultural, com certeza, não deixou Erico Verissimo alheio aos
diálogos que ocorriam entre eles, contribuindo, de alguma maneira, no momentio da
elaboração de seu romance.
O Café Colombo torna-se, dessa maneira, não apenas um estabelecimento
comercial, mas um lugar diferenciado por onde circulava a mais alta intelectualidade porto-
alegrense.
Também as livrarias foram cenários que abrigaram esses intelectuais. Monteiro
(2000, p. 44-5) cita a "Livraria Universal, localizada na Rua da Praia" (...) a "Livraria
Americana, situada bem em frente ao Café Colombo" (...) e ainda a "Selbach e a Livraria de
João Mayer Filho (...)". Porém, foi a Livraria do Globo que marcou toda uma geração de
intelectuais entre as décadas de 1930 e 1940 e entre seus expoentes estava Erico Verissimo.
Torresini destaca um fato significativo:
77
Toda a cidade tem seus bares, cinemas, livrarias, casas de comércio. Tem, ainda, a gente que se movimenta nesses e noutros espaços consagrados em busca de lazer, sobrevivência e satisfação de infinitos anseios. Tem também seus intelectuais, que são orgânicos a ela como são os bares, os cinemas, as livrarias. Os intelectuais, pensam a cidade e refletem de uma forma diferente do resto da população, porque acabam transformando-a em memória. Através deles a cidade ganha história e torna-se livro, quadro, cinema, teatro, música. (1999, p. 50)
São os intelectuais, sejam escritores, cronistas, jornalistas,
músicos, enfim..., os responsáveis pela preservação da memória da
cidade, da região, do país. É através deles que os fatos mais simples
como os mais complexos ficam, de alguma maneira, registrados nos
anais da história.
Em Porto Alegre não era diferente. E são nesses lugares, especialmente nos bares e
cafés onde a política, a economia, as questões sociais eram discutidas mais amiúde, que os
intelectuais se encontravam quase que obrigatória e diariamente.
Diante de tantas inovações que despontavam na Porto Alegre dos anos 30, surge a
Editora Globo, na qual Erico Verissimo ingressará como funcionário. Esse estabelecimento
terá uma importância capital para Erico. Achamos oportuno descrever, sucintamente, como
ela surge.
Em 1883 é fundada a Livraria do Globo35, por Laudelino Pinheiro de Barcellos,
localizada na Rua da Praia - onde está situada até hoje. A trajetória percorrida é longa,
34 MONTEIRO, Charles. Op. cit., p. 41. 35 A respeito da criação e desenvolvimento da Livraria e Editora Globo ver: BERTASO, J. O . A Globo da Rua da Praia. São Paulo: Globo, 1993; TORRESINI, E. R. Editora Globo: Uma Aventura Editorial nos Anos 30 e 40. São Paulo: EDUSP; Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS, 1999, pp. 55-106. MONTEIRO, C. Porto Alegre e suas Escritas: História e Memória (1940 e 1972). Doutorado em História. São Paulo: PUC-SP, 2000, pp 45-48. VERISSIMO, E. Breve Crônica duma Editora da Província. In. GONÇALVES, R. O Tempo e o Vento: 50 Anos. Santa Maria, RS: UFSM; Bauru, SP: EDUSC, 2000, pp. 287-318.
78
assim como seu crescimento, e a livraria passa a fabricar livros, tornando-se, portanto,
também uma tipografia. É significativo relatarmos o ingresso de um menino de apenas 12
anos, chamado José Bertaso que atua, primeiramente, como funcionário de serviços gerais,
tornando-se, com o tempo, sócio e em 1919 proprietário.
O desenvolvimento da Livraria é grande, e em 1929, José Bertaso cria a Revista do
Globo, cuja direção coube a Mansueto Bernardi e João Pinto da Silva. Em 1948,
transformara-se na Editora Globo.
O fato para o qual queremos chamar a atenção é que em 1930, com a vitória da
Revolução, Mansueto Bernardi é convidado por Getúlio Vargas para assumir a direção da
Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. É nesse momento que Erico Verissimo entra em cena,
sendo contratado para dirigir a Revista do Globo e Henrique Bertaso , filho de José Bertaso,
iria em breve assumir a direção da seção Editora. As circustâncias em que Erico assume a
nova função é descrita pelo próprio escritor, como momento "decisivo para sua carreira" e,
conforme registro em Um Certo Henrique Bertaso, fato ocorreu através de um encontro
entre Erico e Mansueto que assim lhe disse:
- Vamos publicar no próximo número o seu conto "Chico", com a sua ilustração - anunciou-me o autor de Terra Convalescente. Olhou-me por um instante e depois murmurou: - Você escreve, traduz, desenha ... Seria portanto ideal para trabalhar em nosso quinzenário, no futuro.
- Por que "no futuro"? - perguntei - se estou precisando do emprego agora?
Mansueto permaneceu pensativo por um instante. - Quanto pretende ganhar? Arrisquei: - Um conto de réis. Era um salário apreciável para a época. O poeta coçou o queixo indeciso. - É uma pena. Não temos verba para tanto. Mas qual seria o
ordenado mínimo que você aceitaria pra começar?
79
- Seiscentos - respondi sem pestanejar. - Pois está contratado. Pode começar no dia primeiro de janeiro.
Ah! Você entende de "cozinha" de revista? - Claro! - menti. Nunca havia entrado numa tipografia de
verdade. Jamais vira um linotipo. Não tinha idéia de como se armava uma página ou como se fazia um clichê. O importante, porém, era que tinha conseguido emprego.
Foi assim que entrei para a Família Globo. (1997, p. 20-21).
Mas Erico é, sobretudo um escritor. Entretanto, a profissão de escritor ainda,
como hoje, não havia se organizado no Brasil, o que significa que não havia como
sobreviver dessa função. Assim, a par de escrever seus livros, Erico Verissimo trabalha na
Revista do Globo e faz traduções de livros em vários idiomas36.
Torresini falando a propósito das traduções que se faziam no Brasil, destaca que:
A tradução de obras é um importante campo de trabalho para os autores nacionais. Depois de 1930, traduzir torna-se uma das ocupações de autores conhecidos como Monteiro Lobato, Sérgio Buarque de Holanda, Erico Verissimo, Sérgio Milliet, Mário Quintana, entre tantos outros grandes escritores, que são facilmente reconhecidos pela importância e qualidade dos trabalhos que traduzem. (1999, p. 77),
Traduzir era não apenas um outro tipo de trabalho, mas também uma maneira de os
tradutores tornarem-se mais conhecidos.
Gradativamente Erico Verissimo vai ganhando espaço e prestígio junto à Editora Globo e
vai se familiarizando cada vez mais com a intelectualidade porto-
alegrense, entre eles, como nos declara Torresini:
Augusto Meyer, Theodomiro Tostes, João Santana, Paulo Correia Lopes, Ernani Fornari, Reynaldo Moura, Paulo de Gouvêa, Guerreiro Chaves, Sotero Cosme, José Rasgado Filho, Fernando Corona, Telmo Vergara, Athos Damasceno Ferreira. Conhece também Darcy Azambuja, Moysés Vellinho, Carlos Dante de
36 "Na Revista, Erico fazia de tudo: era redator, revisor, selecionador de matéria, tradutor. E também encaixava seus próprios trabalhos". (Jornal Correio do Povo - Caderno de Sábado. 29/11/1980 - Antônio Chiarello, p. 8).
80
Moraes, apesar de estes não fazerem "vida noturna boêmia".(1999, p. 69)
Desses intelectuais, alguns eram historiadores e faziam parte do Instituto Histórico
e Geográfico do Rio Grande do Sul, como Moysés Vellinho, com quem Erico Verissimo
tinha conhecimento. Vellinho foi o maior representante da matriz lusitana da historiografia
sul-rio-grandense, no que tange à defesa da tese de que o Rio Grande do Sul tinha origem,
exclusivamente, portuguesa. Para ele, eram as "condições histórico-políticas que faziam o
Rio Grande do Sul brasileiro, daí por que não ser uma opção mas uma vocação histórica37.
Portanto, refutava toda e qualquer aproximação do estado com a área platina.”
Gutfreind salienta que.
Em "O Rio Grande e o Prata: contrastes", Vellinho extravasou o conteúdo ideológico que lhe servia de guia e de estudo. A história do Rio Grande do Sul teria ocorrido diferentemente dos processos argentino e uruguaio. Invocando desde o elemento humano que povoara cada uma das áreas, distintos entre si, retomava a ação civilizadora das estâncias e dos acampamentos militares, fenômenos do Rio Grande do Sul já defendidos pelos historiadores da corrente lusa que lhe antecederam. (1992, pp. 97, 98)
Vários foram os trabalhos de Vellinho sobre a história sul-rio-grandense, todos, ou
enaltecendo o gaúcho, descendente fiel de portugueses, ou referindo-se à fronteira do
estado, ou defendendo apaixonadamente a matriz lusa. Em 1956, por exemplo, Vellinho
escreveu "O Gaúcho Rio-grandense e o Gaúcho Platino", repetindo explanações anteriores.
Conforme nos informa Padoin apud QUEVEDO,
Moysés Vellinho, ao tratar das origens do homem do Rio Grande do Sul, do gaúcho, representa a matriz lusa da historiografia sulina. Afirma que o gaúcho do Rio Grande do Sul diferenciava-se do gaúcho platino pela melhor índole, pois este último, devido ao
37 Cf. GUTFREIND, Ieda. A Historiografia Rio-Grandense. Porto Alegre. Ed. Universidade/UFRGS, 1992, p. 78.
81
acentuado processo de mestiçagem entre o espanhol e o índio, proporcionou um gaúcho platino violento, denominado por ele de "essa peste de gente". Assim, Vellinho explica a diferença do resultado da mestiçagem no Rio Grande do Sul: ... não foi suficiente para corromper-lhe a vocação de disciplina social firmada em sua ascendência luso-brasileira. O elemento indígena que nos sobrou de sua desagregação e de suas evasões era escasso e, além de tudo, apagado e dispersivo. O mestiço do branco com nativas, foi sem dúvida, bastante encontradiço na comunidade campeira, mas em tempo algum pesou na concorrência com o padrão dominante.38 (1999, p. 371).
Parece-nos que a idéia de Moysés Vellinho está muito ligada à questão da
nacionalidade brasileira e inserir o Rio Grande do Sul nessa questão era fundamental para
respaldar a matriz lusitana como a única na formação social do Estado. Ora, sendo o Brasil
um país de colonização portuguesa, portanto com idioma português e também usos e
costumes e, tendo as terras do Rio Grande do Sul sido conquistadas palmo-a-palmo, urgia
que se incorporasse o estado à vertente lusitana, talvez como forma de intensificar essa
questão nacional.
No que tange à fronteira, conforme explica Gutfreind:
Vellinho identificava dois tipos de fronteira. Uma delas denominava interna, a que fora vivida pela Argentina, através da oposição entre a população do campo e a da cidade. A outra fronteira, externa, relacionava-se com as extensas faixas de terreno do Rio Grande do Sul que delimitavam com a área platina. Esse raciocínio levava à identificação, no primeiro caso, de um inimigo no interior do país (o caso argentino), enquanto que, no segundo, o Rio Grande do Sul, os espanhóis e, posteriormente, os platinos eram vistos como invasores e inimigos. (1992, p. 100)
Ao identificar esses dois tipos de fronteiras, Vellinho
sofisticava, de certa maneira sua tese, pois na realidade essa
82
discussão enfatizava seu entendimento sobre a exclusividade da
matriz lusitana no Rio Grande do Sul.
Poderíamos aprofundar mais a discussão sobre a obra de Vellinho, embora
entendamos que a matéria em questão já tenha sido superada pela historiografia gaúcha,
que comprovou a importância tanto da matriz lusa como da platina na formação étnico-
cultural da sociedade gaúcha.
Outros nomes de destaque na historiografia sul-rio-grandense também defenderam a
matriz lusitana, entre o quais Aurélio Porto, Souza Docca e Othelo Rosa. Aurélio Porto foi
o lançador da tese do exclusivismo luso na formação do Rio Grande o Sul. Sua produção
historiográfica, "representou o lançamento do processo de construção do discurso histórico
que criava uma identidade lusitana para o Rio Grande do Sul e insistia na existência de
sentimentos brasileiros no estado"39.
Emílio Fernandes de Souza Docca foi também membro do IHGRS, sendo o orador
oficial, na sessão inaugural do mesmo, em 1921. Nesse discurso, conforme nos informa
Gutfreind, Docca
(...) nomeava os temas que deveriam ser estudados, enfatizando ser "inominável absurdo" fazer apenas história rio-grandense, pois "sabem todos que a história do Rio Grande do Sul está estreitamente vinculada aos principais fatos da história do Brasil e da civilização". As Bandeiras, os bandeirantes, a Companhia de Jesus, a "vida do povo heróico e generoso que veio das províncias portuguesas" eram assuntos que deveriam ser pesquisados. (1992, p. 56)
O discurso de Souza Docca demonstrou seu vínculo com a matriz lusitana, ao
enaltecer "o povo heróico e generoso que veio das províncias portuguesas".
38 VELLINHO, Moysés. A formação histórica do gaúcho. In: Rio Grande do Sul: Terra e Povo. Porto Alegre: Globo, 1969. pp. 51-63; 60-61. 39 Cf. GUTFREIND, Ieda. Op. cit. p. 37.
83
Outro defensor da historiografia lusitana rio-grandense foi Othelo Rosa, que também fazia
parte do IHGRS. Assim como os demais, não aceitava a influência platina
no Rio Grande do Sul e para reforçar sua tese enfatizava que o gaúcho
rio-grandense
(...) tinha uma pequena percentagem de sangue indígena, não era nômade, possuía em alto grau o espírito de nacionalidade e era apegado à ordem, à disciplina e à estabilidade. Já o gaúcho platino era visto com uma percentagem elevada de sangue indígena, sendo nômade, possuindo um espírito localista, daí ter advindo o caudilhismo, a anarquia e a ausência de uma "alma nacional".
Percebemos, claramente, a defesa desse autor do lusitanismo e, de certo modo,
compreende-se sua tese se considerarmos a necessidade premente que o Rio Grande do Sul
tinha de ser reconhecido como um dos estados importantes da nação brasileira, e não como
um apêndice do Brasil, situado numa linha limítrofe, que não lhe configuraria a
nacionalidade.
Ao conviver com esses historiadores, bem como com os defensores da matriz
platina, como é o caso de Manoelito de Ornellas, Erico Verissimo vai obtendo aprendizado,
fazendo parte do que se convencionou chamar no Brasil de romancistas de 30. Martins40
apud CHAVES relata que,
(...) cronologicamente Erico Verissimo precede a todos os romancistas de 30 que fizeram romance urbano no rastro da literatura de interesse social. Correto, pois o juízo de Wilson Martins: "Pertencendo, em perspectivas modernistas, à geração consolidadora, ele é um dos escritores fundamentais do movimento, por haver feito, fora de São Paulo, o que nenhum dos revolucionários de 22 conseguiu fazer: o romance urbano moderno. (1981, p. 17)
O primeiro romance de Erico Verissimo, de cunho urbano, é Fantoches, mas a
84
consagração do escritor virá muito mais tarde com O Tempo e o Vento, onde o autor
consegue, através da descrição de uma família, seus percalços, suas lutas, seus sofrimentos,
suas vitórias e suas alegrias, expor a história do Rio Grande do Sul, considerando a
formação da história sul-rio-grandense com o apogeu da estância e seu declínio com o
advento da industrialização. "A aristocracia, contudo, não morreu, apenas transformou-se
(...) tratou de manter seu apogeu hegemônico naquilo em que era imbatível: a possibilidade
de acesso aos bens da cultura e da educação formal" (Brasil apud GONZAGA &
FISCHER, 1993, p. 138).
Após estudarem na Europa, os filhos dos homens de posses voltavam de lá plenos
de novos conhecimentos e novos valores. A idéia que era veiculada é a de que esses jovens
foram responsáveis por todas as benesses ocorridas no Brasil, por terem adquirido um
nível cultural que os fazia donos de um "patrimônio incorruptível" e, por isso, "capaz de
guindá-los às culminâncias dos postos políticos, o que os fazia, no mínimo diferentes dos
homens vulgares, cujos únicos bens (...) provinham da posse de terras" (BRASIL, op. cit. p.
138).
Assim, tendo a política como uma das grandes saídas para a nova situação que se
apresentava, como bem lembra Brasil apud GONZAGA & FISCHER,
"o nobre tornava-se filósofo (...). A governança do Estado lhes foi deferida como uma conseqüência indiscutível de seu saber". Mas eles não esqueceram e não perderam suas raízes pois "agora era filósofo, mas acrescentava-se a essa condição o seu passado ilustre, de inúmeros serviços prestados ao Estado, passado onde as marcas da selvageria e dos desmandos sofreram uma operação cosmética através, principalmente da literatura. A tradição, dessa forma, serviu de apoio à glorificação das estirpes nobres do pago. (1993, p. 138).
40 MARTINS, Wilson. Modernismo. São Paulo: Cultrix, 1965. p. 294
85
A explicação do autor acima não deixa dúvidas a respeito da nova maneira de
exercer o poder de mando das classes tradicionais do Rio Grande do Sul. Se a estância não
comportava mais, unicamente, a idéia de supremacia econômica e política, a elevação, no
nível cultural, era por outro lado uma riqueza que jamais alguém poderia tirar. Assim, uma
vez letrado, o nobre gaúcho continuava influenciando os destinos "dos pagos".
E quem é o nobre gaúcho? Brasil apud GONZAGA & FISCHER assim o define:
(...) é, antes de mais nada, o homem português, branco, católico e proprietário, o que desde logo exclui uma legião de párias de outras procedências, credos e fortunas; em segundo lugar, não veio para cá para "assentar família", mas para combater por seu rei e sua lei, recebendo em troca a sesmaria (...): poderia ter grande prole, mas esta prole nada mais era que uma conseqüência de seu poderio e uma demonstração pública de sua virilidade. (1993, p. 137)
Ou seja, essa explicação de Brasil, reforça o que de há muito sempre se fez no
Brasil: a aliança com a religião católica, a herança portuguesa e a posse e propriedade de
terras, que davam a esse homem "branco" o "direito" de se colocar acima dos demais.
Quando, com o passar dos anos, as propriedades perdem sua importância econômica,
buscam outra alternativa: o aprimoramento da cultura.
Reforçando as palavras de Brasil, encontramos em Flávio Loureiro Chaves, na obra Erico
Verissimo: realismo e sociedade, um paralelo entre a história do Rio
Grande do Sul e o romance produzido na década de 1940, que esse autor
assim explica:
O que é o romance de 1949 senão a história do homem vista através da história do Rio Grande, e a história do Rio Grande vista através da história duma família, cuja união é, aí, sinônimo de permanência da vida e cuja corrupção decreta a falência da totalidade dos valores, só restando então ao último descendente da estirpe empreender a sua recuperação através da escritura dum ... romance? (1981, p. 65-6)
86
Nesse comentário de Flávio Loureiro Chaves, podemos inserir toda a compreensão
da história de O Continente, que é publicado em 1949 e que conta através da saga da
família Terra-Cambará e sua arqui-inimiga, a família Amaral, a história do Rio Grande do
Sul, além, é claro, a disputa constante das fronteiras com os castelhanos.
Suro salienta que,
Refletindo sobre a história brasileira de 1930 a 1948, Verissimo chega à conclusão em O tempo e o vento de que a história é cíclica e não unilinear e que tudo volta. O que voltou durante essa época histórica foi a democracia, para ser logo substituída pela ditadura. De 1930 a 1934, houve ditadura. De 1934 a 1937, democracia, voltando a ditadura de 1937 a 1945, quando, com a derrubada de Vargas pelo Exército, voltou, mais uma vez, a democracia. Essa alternância cíclica entre democracia e ditadura na vida política brasileira de 1930 a 1945 é o elemento histórico-social que faz com que Erico Verissimo tenha uma teoria cíclica da história que se reflete imanentemente em O tempo e o vento na concepção cíclica da trama. (1985, p. 151)
Talvez o motivo de Erico considerar o tempo histórico como cíclico esteja no fato
que de 1930 a 1945 houve essa "alternância entre a democracia e a ditadura", de que nos
fala o autor acima, o que talvez tenha levado o escritor a desacreditar ou a não confiar nas
intenções democráticas dos políticos. Uma fala sua ilustra o que acabamos de dizer.
"Prestes junto com o homem cuja Polícia Política entregara sua mulher aos carrascos
nazistas? Inacreditável !"41
Mais uma vez podemos constatar que Erico não é apenas um
homem de "letras", mas sim um cidadão do mundo, vivenciando o
que está acontecendo e emitindo opiniões a respeito.
41 SURO, Joaquín Rodríguez. Érico Veríssimo: história e literatura. Porto Alegre: Luzzatto, 1985, p. 150.
87
Embora a História apresente-se como uma narrativa, ela implica viéses, acréscimos
ou rupturas. A história não apenas relata os fatos, ela os analisa, observando o tempo em
que ocorreram, os motivos e o lugar onde se passaram e as implicações que tiveram na
sociedade. Na obra de Verissimo, quando se trata da fronteira geográfica vê-se claramente
que a narrativa relativiza a fronteira externa, ao falar da guerra entre os gaúchos do Rio
Grande e os da região do Prata, ou seja, entre rio-grandenses e os outros da fronteira. No
sentido de fronteira interna, o termo tem a conotação de peso político, pois ao longo do
romance vamos nos deparar com as barreiras que separam os Terra-Cambará dos Amaral,
enquanto posição social e confronto político. É uma disputa ambivalente, constante e que se
propaga pela obra, nos descendentes dessas famílias-personagens. É a história política do
Rio Grande do Sul que opôs chimangos e maragatos. É também a tentativa de permanência
da estrutura econômica baseada na pecuária e na agricultura e a ruptura que se presencia
com a industrialização.
Em termos de identidade, nos anos 1940, o que se observa é uma tentativa muito grande de
se revitalizar as tradições sul-rio-grandenses, a partir dos Centros de
Tradições Gaúchas (CTGs) e do movimento tradicionalista.
Costa esclarece que:
As bases do movimento, contudo, devem ser atribuídas primeiro a uma retomada, pelas classes médias em descenso, de valores capazes de impor uma identidade, para o que a cultura regionalista, ainda relativamente arraigada, constituía sem dúvida um caminho apropriado. Todavia, mais tarde o próprio aparelho estatal, segundo Oliven sob pressão do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), criou o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e instituiu um Galpão Crioulo em pleno Palácio Piratini, sede do governo estadual, comemorando oficialmente o Dia do Gaúcho e a Semana Farroupilha. (1988, p. 82)
88
Podemos identificar da fala desse autor que essa foi uma das maneiras
conservadoras encontradas, por uma parcela da sociedade gaúcha, para, numa volta ao
passado, resgatar essas tradições, diante das modificações que se operavam no Rio Grande
do Sul, através da nova estrutura econômica, industrial e comercial.
Por outro lado, como explica Oliven (1984, p. 58) apud COSTA (1988, p. 82),
O Tradicionalismo é visto como uma ideologia destinada a manter a massa rural e as camadas
populares que migram para as cidades em estado de submissão enfatizando a harmonia social,
o bem coletivo, a cooperação com o Estado, o respeito às leis e o espírito cívico.
O tradicionalismo, de acordo com Oliven, impõe uma fronteira, e o autor deixa
muito claro que houve essa intenção velada, além do aspecto cultural, na manutenção do
tradicionalismo. Ou seja, subjugar os não pertencentes à classe dominante, usando para isso
o discurso da igualdade entre patrão e peão, que também se propaga na estância, mas que
sabemos não existir de fato.
São também referências, na obra de Erico, as fronteiras simbólicas que aparecem
quando o autor trata de binômios que são opostos, mas que se respaldam um em relação ao
outro, tais como:
- Vida x Morte.42 Sem entrar no mérito da discussão filosófica e religiosa sobre
esses assuntos, Erico os enfoca quando, por exemplo, trata, respectivamente, do
"nascimento" de Pedro Terra e da "morte" de Pedro Missioneiro, seu pai. É uma situação
ambígua que, embora não oponha pai e filho, não permite, ao mesmo tempo, que eles se
conheçam, não oportuniza o encontro da família
- Reacionário x Revolucionário43. Essa é uma situação bem presente na obra de
Erico, pois está implícita não somente em O Continente, mas percorre todo O Tempo e o
Vento. Podemos exemplificar com a permanência do mando dos Amaral, os fundadores de
42 VERISSIMO, Erico. O Tempo e o Vento: O Continente. São Paulo: Globo, 1999, vol 1. p. 107-8-11
89
Santa Fé, e a chegada do Capitão Rodrigo Cambará, que provoca uma revolução ao
desestabilizar a situação ditada e estabelecida, de há muito, no povoado.
- Homem x Mulher. Esse também é um binômio presente em todos os capítulos da
obra de Erico, e é uma situação de muita diferença entre os gêneros masculino e feminino,
sendo que aos homens é configurado o espaço público, o das decisões, do trânsito do poder,
das ruas e suas oportunidades; às mulheres é segregado o espaço privado da casa, a
manutenção dos costumes, da religião e da família. A fronteira que podemos perceber aqui
são as opiniões diferentes, por exemplo em relação à guerra vista pelas mulheres, se é que
elas detinham a liberdade de opinar, e pelos homens, sob óticas completamente diferentes.
Almeida in GONÇALVES (2000, p. 79) situa assim a questão, percebida em O
Tempo e o Vento: “a contraposição do território feminino versus o território masculino,
dentro de O Tempo e o Vento implica a representação cindida do corpo feminino através
das personagens analisadas, as dignas mães de família e as indignas amásias.” Ambas,
porém, não só presentes nesse contexto, mas com papéis determinados e cumprindo uma
função que lhes é atribuída.
- Destino x Liberdade. As mulheres têm por destino a reclusão do lar, como o lugar
sagrado de preservação da família, já os homens têm por opção a liberdade de correr
mundo. Ao compor essa dualidade, o autor reafirma o entendimento da sociedade da época,
transportada para o interior de O Continente. Ou seja, destino e libreddae estão situados em
campos opostos, no sentido de que o primeiro, na concepção fatalista, impõe o lugar da
mulher, enquanto a segunda é reconhecida como inerente ao gênero masculino.
Novamente Almeida in GONÇALVES nos esclarece a situação
A casa e o mundo doméstico são por excelência o território das 43 VERISSIMO, Erico. Op. cit. p. 231
90
esposas e das mães, reduto familiar onde se dá o cuidado com a manutenção da sobrevivência, território privado para onde os homens sempre retornam. Ali as mulheres têm seus filhos e esperam que eles cresçam. Alimentá-los, vesti-los, educá-los, criá-los, socializá-los, enfim, é tarefa das mães num território rigidamente demarcado pelas leis sociais e culturais: o espaço da intimidade, do dentro do mundo, do interior e a subjetividade, o espaço da casa. (2000, p. 79)
A afirmação de Almeida não apenas sintetiza a compreensão de como a sociedade
impunha essa norma de comportamento, mas vai além pois demosntra que, apesar dos
lugares destinados aos homens e às mulheres, a situação é de complementariedade e, mas
do que isso, de necessidade um do outro.
- Guerra x Paz44. Os homens provocam a guerra, envolvem-se com ela, fazem dela
uma de suas atribuições, é como se ela lhes fosse inata; a paz é encontrada no repouso do
guerreiro, quando do regresso ao lar.
Cada um desses elementos não funciona sem o outro, seu correspondente. Há,
pois, uma complementariedade ou uma opositividade entre eles, mas um depende
necessariamente da existência do outro e, nas conseqüências das atitudes que envolvem
seus participantes, podemos ver a formação ou não de fronteiras.
Esses binômios, cujo funcionamento está associado à formação de fronteiras, sobre
os quais se poderia tecer um tratado individual para cada um, subrepticiamente aparecem
em nosso texto, pois, na obra em estudo, são essas as simbologias que estabelecem o
diálogo entre as personagens que chegam a parecer reais quanto à História, e ficcionais
porque frutos da literatura; é o estabelecimento do diálogo entre a literatura e a História que
Erico traça com maestria a ponto de confundir-se com a própria história do Rio Grande do
Sul.
44 VERISSIMO, Erico. Op. cit. p. 518
91
Há toda uma simbologia na existência de fronteira cultural, que existe no imaginário
dos que habitam ambos os lados da fronteira, por conta de uma questão de nacionalismo:
ser brasileiro e ser castelhano - uruguaio ou argentino. Há, em tese, um respeito aos
costumes, às leis, quando transpomos a fronteira geográfica, mas isso não significa que as
aproximações, as influências e até as admirações pelo diferente não povoem nosso ser,
nossa imaginação.
Quanto às personagens imaginadas por Erico, é notável e transparente a distância
que há entre as personagens femininas e as masculinas, quanto aos papéis que representam
na sociedade ficcionalizada por Erico. Enquanto as mulheres habitam o espaço interno da
casa, o oikós, expressão grega que significa o espaço da família, os homens usufruem os
espaços externos, da política, das lutas, das ruas, dos cabarés. O contraponto que o autor
traça entre ambas é ambivalente.
Ao mesmo tempo em que ele parece colocar a mulher reclusa ao domínio do lar, as
entrelinhas são primorosas, pois são Ana Terra, Bibiana, Maria Valéria,
entre outras, as responsáveis pela garantia do equilíbrio do lar e por
sustentar e dar continuidade à estrutura social. São, em realidade, as
personagens femininas que representam a força que não deixa
desmantelar a família; são elas que representam a firmeza de caráter que
passam aos descendentes. Elas são a memória do passado, por isso o
instinto de preservação; são elas, enfim, os grandes exemplos que o autor
transmite.
Louro elucida a questão dizendo:
O que importa resgatar aqui, nos parece, é que a manutenção do cotidiano é uma tarefa difícil e essa dependeu fundamentalmente das mulheres, no Rio Grande. Quando as coisas se complicam e os
92
homens se preparam para partir, uma das mulheres vai para a cozinha preparar um tacho de pessegada. O que talvez simbolize o comportamento de pés plantados no chão, um realismo que também é, ao mesmo tempo, um modo de fugir do medo de perder seus homens na luta. (1987, p. 23)
São elas, portanto, que ficam na guarda da casa e da família enquanto seus homens,
maridos, filhos, irmãos estão a correr mundo, em meio a uma guerra, ou a uma aventura
qualquer.
Bibiana Terra, por exemplo, apesar de todo amor e toda paixão por Rodrigo
Cambará, é de um caráter tão forte quanto sua avó Ana Terra, o símbolo, o mito,
o exemplo que percorre todo o romance. Acreditamos que não é por acaso o sobrenome
Terra, adotado por Erico. Terra significa o elemento de conservação e a continuidade das
raízes familiares e, por decorrência, serão essas mulheres que proporcionarão a estabilidade
e a ordem. Dessa forma, podemos ver claramente a relação entre a História e a literatura e
entendemos que é a apropriação que os historiadores fazem da literatura e os literatos
fazem de temas históricos que enriquecem seus escritos.
Não vamos extrapolar a caracterização das personagens pois
dedicamos o subcapítulo 2.1 para falar a esse respeito. As
considerações que aqui foram feitas vêm apenas para oferecer ao
leitor a idéia dos lugares ocupados por essas personagens, no
romance de Erico, o qual de certa forma, reflete a idéia da
sociedade da época, a respeito dos papéis destinados aos homens e
às mulheres.
93
Um dos questionamentos bem enfocados na obra de Erico é a questão lusitanidade
X platinidade, que já evocamos neste capítulo e que ocupou por tanto tempo os debates
entre os historiadores do Rio Grande do Sul.
Erico, em particular, ao conviver com as discussões sobre essas questões é
extremamente original, pois consegue contemplá-las em sua obra, sem se posicionar
especificamente sobre cada uma - pois esse não é o objetivo do romance – incluindo, pois,
as duas matrizes na estruturação de O Continente.
A historiografia regional nos esclarece sobre a pertença lusa ou espanhola do Rio
Grande do Sul. Sobre essa questão é Kühn quem constata:
A historiografia regional sobre o período da Dominação Espanhola (1763-1776) construiu uma representação idealizada do contexto demográfico existente durante os anos de ocupação castelhana no atual Rio Grande do Sul, procurando configurar uma situação de fronteira excludente no Rio Grande de São Pedro. Esta representação da história rio-grandense procurou constituir uma exclusão total das populações indígenas e espanholas no Continente do Rio Grande, também presente nas representações construídas pela historiografia de matriz lusitana acerca das Missões Jesuíticas ou sobre as relações luso-brasileiras com o Prata. Assim procurou excluir qualquer possibilidade de influência hispânica ou mesmo autóctone na formação rio-grandense, construindo um Rio Grande exclusivamente lusitano. (1999, p. 91-2)
Autores como Aurélio Porto, Emilio Fernandes de Souza Docca, Othelo Rosa,
Carlos Reverbel e Moysés Vellinho foram grandes defensores da corrente lusitana, como
vimos neste capítulo, assim como Manoelito de Ornellas, que já salientamos na página 74.
A importância desse autor reside no fato de ter contrariado os defensores da matriz lusitana,
centralizando sua tese na não divisão de "fronteiras político-administrativas da área platina,
destacando a unidade do Pampa e do gaúcho rio-grandense da fronteira, do Uruguai e da
Argentina, que apresentavam hábitos comuns, tradições, inclusive a música e a língua
94
semelhantes"45.
Como podemos perceber, Manoelito de Ornellas tematiza a presença platina na
sociedade gaúcha. Talvez a amizade, o convívio entre Erico e Ornellas, desde os tempos de
mocidade em Cruz Alta, o que certamente proporcionou-lhes inúmeras discussões, sejam
um ponto a ser analisado em futuros estudos, a respieto das informações que Erico possa ter
usado ao escrver o O Continenete.
Coube à História a discussão das matrizes de formação da sociedade gaúcha e, em
nosso entender, há uma mescla muito forte já na formação do povo português. Isso tudo
vem confirmar, pelo menos, a dualidade de matrizes formadoras dos sul-riograndenses: a
matriz lusitana e a matriz platina. Nosso entendimento alinha-se ao que diz Gutfreind:
A matriz lusitana foi desmistificada pelo próprio processo histórico, naturalmente fluindo construindo a história sul-rio-grandense. Seus representantes excluíram o período missioneiro da história gaúcha, no entanto, um monumento a Sepé foi erigido na área missioneira, nomes de padres jesuítas foram dados a escolas e outras instituições, não se restringindo apenas nesta área, peregrinações religiosas ainda são feitas a Caaró, nas Missões, onde padres jesuítas foram massacrados pelos indígenas. (1992, p. 146)
São pesquisas como essa que desmistificam as crenças que o imaginário popular
assimila e propaga. Podemos constatar, hoje, passados mais de trezentos anos da fundação
das Missões Jesuíticas, que a História desvelou a ineficácia do discurso lusitano. Rechaçar
o outro por que vive além da nossa fronteira, ou à sua margem, é questionar as identidades -
a deles, mas também a nossa - porque na medida em que falamos no outro, nós nos
referenciamos em relação a ele e aí sim podemos estabelecer diferenças, pois é na
substância do alter que nos constituímos como eu.
45 Cf GUTFREIND, I. Op. cit., p. 132.
95
O que desejávamos esboçar é que, através de uma obra ficcional que não rejeita os
fatos históricos, podemos estudar inclusive a história do Rio Grande do Sul, não apenas
abordando os seus heróis - como propunha a corrente positivista - mas principalmente
integrando-a a um contexto sócio-político, econômico, étnico e cultural.
CAPÍTULO II
DA FRONTEIRA ÉTNICO - CULTURAL À BUSCA DA IDENTIDADE
96
SUL - RIO -GRANDENSE
Neste capítulo, propomo-nos discutir a identidade sul-rio-grandense através da
questão do eu e do outro, considerando o que nos dizem vários autores entre eles Philippe
Poutignat & Jocelyne Streiff-Fenart, Fredrick Barth, as considerações que Erico Verisssimo
faz em seu romance, referindo-se à presença de lusos e espanhóis, bem como as explicações
de outros estudiosos que debatem essas questões.
A questão do eu e do outro pode nos conectar à questão do nós e eles. Como a
base de nosso estudo é a pendência entre as fronteiras nas quais os seres humanos
esbarram, desejamos saber até que ponto as fronteiras étnico-culturais46 distanciam ou
46 BARTH, Fredrik. Grupos Étnicos e suas Fronteiras. In. POUTIGNAT, Philippe & STREIFF-FENRT, Jocelyne. Teorias da Etniciade. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 187. O autor afirma que "todo raciocínio antropológico baseia-se na premissa de que a variação cultural é descontínua: que haveria agregações humanas que, em essência, compartilham uma cultura comum e diferenças interligadas que distinguiriam cada uma dessas culturas, tomadas separadamente de todas as outras. Já que a "cultura" é apenas um meio para descrever o comportamento humano, seguir-se-ia que há grupos humanos, isto é, unidades étnicas que correspondem a cada cultura.FLORES, Moacyr. Dicionário de História do Brasil. Porto Alegre: EdPUCRS, 1996, p. 167. "Cultura é o conjunto de conhecimentos e comportamentos (técnica, economia, rituais religiosos e sociais) que caracterizam uma determinada sociedade humana. Não existe homem sem cultura: a idéia de homem no estado de natureza corresponde a uma hipótese filosófica. A palavra cultura, em muitas obras etnológicas, é entendia como sinônimo de etnia, de sociedade ou de civilização, mas foram numerosos os autores que se esforçaram por dar uma definição precisa ao termo.Sobre etnia podemos explicar através dos seguintes autores: BARTH, Fredrick. Op. cit. p. 141. " a etnicidade é uma forma de organização social, baseada na atribuição categorial que classifica as pessoas em função de sua origem suposta, que se acha validada na interação social pela ativação de signos culturais socialmente diferenciados". Ou ainda " estudo dos processos variáveis e nunca terminados pelos quais os atores identificam-se e são identificados pelos outros na base de dicotomizações Nós/Eles, estabelecidas a partir de traços culturais que se supõe derivados de uma origem comum e realçados nas interações raciais".FLORES, Moacyr. Op. cit., p. 199. "Do grego ethnos: povo, nação. Grupo de indivíduos que pertencem à mesma cultura (mesma língua, mesmos costumes, etc...) e que se reconhecem como tal. Diz-se também "grupo étnico". Esta noção que deveria ser fundamental
97
aproximam as pessoas, bem como explorar essa questão a partir do que podemos pesquisar
sobre a formação histórica do Rio Grande do Sul.
Nesse sentido, trabalharemos com os sujeitos, entendidos como os responsáveis pela
permanência ou pelas mudanças das coisas, enfocaremos o espaço, lugar onde esses
sujeitos vivem e manipulam as situações do cotidiano e, finalmente, focalizaremos o tempo
como objeto primordial da História e requisito da memória das personagens.
2.1. Dos Sujetos: identidades e fronteiras
A história da formação e do povoamento do Rio Grande do Sul suscitou, por longo
tempo, discussões acerca de ser, o atual estado, fruto de uma lusitanidade que não se
mesclou com outros povos, indígenas e espanhóis, por exemplo, e uma corrente que
procurou constatar e entender a existência de uma miscigenação étnico-cultural.
De acordo com Xavier:
A presença da figura do castelhano em várias manifestações da literatura sul-rio-grandense é fato que desperta interesse na investigação de sua permanência e transformação nesse sistema literário (...). A História Oficial e a História Literária do Rio Grande do Sul, (...) apontam uma possibilidade de resposta, por ter vivido o Estado sulino (...) o freqüente litígio de posse de suas terras pelas duas Coroas Ibéricas: Portugal e Espanha. (1993, p. 1)
No decorrer das leituras de O Continente, observamos Erico Veríssimo às voltas
com portugueses, espanhóis, índios missioneiros e, especialmente em A Fonte, início de O
Tempo e o Vento, é perceptível a fórmula, desdobrada pelo autor, do eu e do outro ou do
nós e eles, toda vez em que ele dispõe os castelhanos como os outros da fronteira. Esses
em Etnologia é de fato objeto de definições diferentes (quanto ao número e à escolha dos elementos que a caracterizam)
98
outros são os invasores e, como tal, inimigos das gentes do Continente de São Pedro, nesse
momento representada pela família Terra. Erico assim relata:
Combinaram tudo. Antônio sairia para se entender com os castelhanos enquanto os outros ficariam dentro de casa, preparados para tudo. Se os bandidos quisessem apenas saquear a estância, respeitando a vida das pessoas, ainda estaria tudo bem. Era só apear e começar a pilhagem... A gritaria continuava. Mãos fortes agarraram Ana Terra no ar, e puseram-na de pé. A mulher abriu os olhos: cresceram para ela faces tostadas, barbudas, lavadas em suor. (1999, v. 1. p. 120 - 21)
A expressão “Mira que guapa!” (Olha, que bonita!) nos produz a sensação de
desejo estampada nos olhos, nas palavras e nas mãos que profanam Ana Terra. Ou seja, é
uma representação do invasor ao apossar-se do que não lhe pertence. Reforça-se a idéia de
personae non gratas nas terras do Continente; é também uma maneira de dizer que com os
qualificativos de bandido, invasor, inimigo eles jamais poderiam integrar-se à formação
do homem do Rio Grande. A metáfora que se estabelece com a desonra que os espanhóis
provocam na personagem Ana Terra tem o significado de invasão às terras gaúchas, ameaça
à propriedade e conseqüentemente ao poder de uma nova elite que, aos poucos, vai se
formando, tomando por base personagens como o Capitão Rodrigo
Erico, embora não sendo historiador, soube traduzir os acontecimentos para traçar
um perfil que representasse o homem gaúcho, na pujança da construção de um estado e na
respeitabilidade que precisava ter perante as demais unidades federadas. Ora, não seria
unicamente um tipo qualquer, embora eles estejam representados entre os Carés, cafuzos,
mulatos, que personificaria o gaúcho,47 o qual, na extensão de guerras, lutas de fronteiras
conforme os autores. 47 Cf. CHAVES, Flávio Loureiro. Matéria e Invenção: ensaios de literatura. Porto Alegre: EdUFRGS, 1994, p. 52. O vocábulo gaúcho nem sempre possuíra um sentido heróico. No período colonial, o habitante da província era o guasca ou gaudério e tais termos designavam os aventureiros errantes que, ao lado de contrabandista fira-da-lei, povoaram a chamada "terra de ninguém", uma fronteira móvel e indistinta ao sabor dos conflitos internacionais travados no extremo
99
"fez" do Rio Grande do Sul um dos mais prósperos estados do Brasil.
O próprio Erico, ao se referir ao Capitão Rodrigo, disse. "Existe na mitologia oral
gaúcha uma imagem que é uma espécie de súmula de todos os heróis da sua história e do
seu folclore: o macho, o bravo guerreiro, o mulherengo, o homem generoso, impulsivo e
livre, principalmente livre" (CHAVES, 1996, p. 17).
Segundo a tradição popular a figura do Capitão Rodrigo Cambará é o protótipo do
gaúcho - o homem sul-rio-grandense na extensão da palavra. Se fôssemos buscar as origens
da personagem veríamos que ela descende de um tal Chico Rodrigues, que, em suas
andanças pelo mundo, complica-se com as autoridades e, sem muito pensar, muda o
sobrenome Rodrigues para Cambará. De Rodrigues deriva-se o nome Rodrigo e Cambará
nada mais é do que o nome de uma árvore, mas uma árvore forte.
No primeiro interlúdio da obra de Erico (1999, v. 1 p. 62), encontramos a descrição
que o próprio Chico Rodrigues faz de si mesmo: “Me chamo Francisco Nunes Rodrigues,
mais conhecido por Chico Rodrigues. Venho do planalto de Curitiba. Meus pais? Se tive,
perdi. Onde nasci não me lembro. Mas dês que me conheço por gente, ando vagando
mundo.”
Chico Rodrigues não tem passado, nem rumo certo, sua vida é o presente e o que
pode aproveitar dele. Essa personagem será o primeiro modelo que Erico se utilizará para
definir o código dos patriarcas de O Tempo e o Vento, já tratado na página 29.
Fazendo um paralelo com a história do Rio Grande do Sul, assim como Chico
sul. Em fins do séc. 18, mantida ainda a conotação pejorativa, esses homens são denominados gauxos. Apenas no século 19, ao completar a organização da estância como empresa visando o lucro, ocorre uma alteração profunda no significado do termo. Aparece então a palavra gaúcho para substantivar o peão, cujas tarefas primordiais são pastoris, mas podem vir a ser militares sempre que a propriedade e o território estejam ameaçados.
100
Rodrigues e depois o Capitão Rodrigo, aparecem na narração de Erico e, aos poucos, vão se
estabelecendo, mudando de vida, também a história do estado muda, tomando outras
conformações que se faziam necessárias. Chico Rodrigues, num dado momento de sua vida
assim exclama: "Resolvi mudar de vida, requerer sesmarias, fazer casa, parar quieto, ser um
senhor estancieiro, ter mulher, gado, cavalos e filhos, todos com a minha marca" (Erico,
1999, v. 1, p. 66).
Como as coisas se processam não é o que se pode chamar de orgulho. Chico
Rodrigues é um errante, mas quando decide mudar de vida o faz com certeza: rouba a filha
de um imigrante açoriano - e aí podemos vislumbrar a vertente lusitana já sendo enfocada -
e muda seu próprio nome, certamente para não ser reconhecido. Sobre seu descendente
direto, o Capitão Rodrigo, Erico assim descreve a personagem:
Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabe de onde, com chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida, e aquele seu olhar de gavião que irritava e ao mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo meio da casa dos trinta, montava um alazão, trazia bombachas claras, botas com chilenas de prata e o busto musculoso apertado num dólmã militar azul, com gola vermelha e botões de metal. Tinha um violão a tiracolo; sua espada, apresilhada aos arreios, rebrilhava ao sol daquela tarde de outubro de 1828 e o lenço encarnado que trazia ao pescoço esvoaçava no ar como uma bandeira. Apeou na frente da venda do Nicolau, amarrou o alazão no tronco dum cinamomo, entrou arrastando as esporas, batendo na coxa direita com o rebenque, e foi logo gritando, assim com ar de velho conhecido. - Buenas e me espalho! Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho! (1999, v. 1.,p. 171)
Essa é a descrição do autor que deseja representar pela indumentária, pelo porte
altivo, pelo olhar, um tipo diferente que chega a Santa Fé. Mas são as falas do próprio
personagem que, expressando-se sempre com orgulho, nos dão a sensação de um olhar
acima de seu interlocutor. Rodrigo Cambará é o gaúcho destemido, sem moradia fixa por
muito tempo, sem preconceitos e sem censura para seus atos. Sua vida é a guerra, seja qual
101
for e por que - afinal ele é um soldado e isso é o que sabe fazer de melhor - é subir no
lombo de um cavalo e cavalgar por outras paragens, pois "Cambará macho, não morre na
cama"48. Essa frase sintetiza a idéia de valentia, disseminada pelo imaginário popular, de
que dispõe todo gaúcho, pelo simples fato de haver nascido no Rio Grande. Rodrigo é
irriquieto, franco, e a monogamia não é o seu forte. Entretanto, é também leal, e a palavra
empenhada vale por uma assinatura; é, portanto, confiável porém desconfiado,
principalmente quando se trata de política.
Erico assim demarca o sentimento do personagem:
Escuta o que vou le dizer, amigo. Nesta província a gente só pode ter como certo uma coisa: mais cedo ou mais tarde rebenta uma guerra ou uma revolução. - Atirou ambos os braços para o lado, num gesto de despreocupação. - Que é que adianta plantar, criar, trabalhar como burro de carga? O direito mesmo era a nossa gente nunca tirar o fardamento do corpo, nem a espada da cinta. Trabalhar fardado, deitar fardado, comer fardado, dormir com as chinocas fardado... O castelhano está aí mesmo. Hoje é Montevidéo. Amanhã, Buenos Aires. E nós aqui no Continente sempre acabamos entrando na dança. (1999, vol. 1.,p. 179)
Erico reúne todas essas impressões, que a literatura alimentou, acerca da virilidade
do homem sul-rio-grandense, e as condensa no protótipo do Capitão Rodrigo Cambará.
Apesar dessa caracterização que Erico traça para o Capitão Rodrigo, não é do autor a idéia
de que a personagem representa o "monarca das coxilhas" ou o "centauro dos pampas", ou
o "centauro das coxilhas". Essas expressões fazem parte de um momento da história do Rio
Grande do Sul em que se desejava demonstrar que este era um Estado de homens valentes e
destemidos.
Marobin, referindo-se ao momento da chegada do Capitão Rodrigo a Santa Fé,
destaca:
O Capitão Rodrigo entra em Santa Fé com a postura de um monarca
48 VERISSIMO, Erico. O Tempo e o Vento: O Continente. 1999. Tomo I, p. 203.
102
das coxilhas, como grande personagem no vasto palco que abrangia todos os espaços da pequena cidade dos pampas (...). Mas Érico Veríssimo não endossa a idéia do mito gaúcho, centauro das coxilhas. (1997, p. 97),
Temos, assim, a clareza de duas situações: uma, a existência do "monarca das
coxilhas", fruto da construção de uma imagem pelas elites tradicionais do Rio Grande do
Sul, ligadas à pecuária, que estava em crise, e outra, a confirmação de que essa idéia não é
de Erico Verissimo, à qual, portanto, ele não se associa para definir e destacar sua
personagem.
Quem é esse homem que chega a Santa Fé, vindo ninguém sabe de onde, com
rompantes de valentia e heroísmo? Ele tambémé, nesse momento, o outro, o forasteiro e,
por isso visto com um misto de desconfiança e curiosidade pela gente simples da cidade.
Mas ele vai se estabelecer e criar raízes e esse vai ser o modelo usado por Erico, ao traçar o
perfil do gaúcho.
Marobin ressalta que
O Capitão Rodrigo apresenta fortes componentes elaborados pelo subconsciente coletivo. Havia muito tempo que era a imagem que se fazia do gaúcho autêntico, nas lutas de fronteira, nas estâncias de criação de gado, nos rodeios, nas rodas de chimarrão, nos fandangos e nos galpões. Érico Veríssimo viu, pessoalmente, tipos como o Capitão Rodrigo em sua mocidade. Esses tipos de gaúchos fortes, valentes, livres, honrados eram tidos, havidos e aceitos como tais. (1997, p. 99)
Essa familiaridade que Marobin destaca de Erico com homens possuidores dessas
qualidades e que povoaram a memória coletiva sul-rio-grandense é, talvez, o maior fator
que o escritor usou para criar uma personagem tão peculiar como Rodrigo Cambará.
Mas o Capitão Rodrigo não é apenas a imagem veiculada pela memória popular.
Aliás, isto não é exposto claramente na obra de Erico. Essas são conclusões que os experts
103
na obra do autor buscaram em seus estudos, a respeito dessa personagem. Erico não declara
que suas personagens são representações de valentia, fortaleza, heroísmo, moral... Essas e
outras características são visualizadas pelos que se debruçam sobre a obra do autor e que
endossam a nossa pesquisa.
Embora o Capitão Rodrigo seja entendido como o representante do gaúcho, Erico
enfoca também o seu arqui-rival Bento Amaral, bem como seu pai, o Cel. Ricardo Amaral,
o "senhor" de Santa Fé, quando da chegada de Rodrigo.
Os Amaral - Ricardo, o patriarca e Bento, o filho - também não
escapam a esse protótipo. Se o capitão Rodrigo reitera a imposição
de sua marca - na mulher, nos filhos, no gado, nos cavalos e no rival
Bento Amaral, o Cel. Ricardo como político, é mais ladino ao fazer
quase as mesmas afirmações, como no exemplo a seguir em que ele
dialoga com o capitão.
- Conheço um homem até pela maneira como ele anda vestido. Esse seu lenço vermelho é sinal de
fanfarronice.
- Coronel, vosmecê está enganado. (...)
- Meu avô costumava dizer que homem também se doma, como cavalo. - Nem todos. - Pois le pego pela palavra. Se vosmecê é potro que não se doma, muito bem, é porque não pode viver no meio de tropilha mansa. Seu lugar é no campo. Neste potreiro de Santa Fé, moço, só há cavalo manso. Chegam xucro mas eu domo e boto-lhes a minha marca. (O Continente, 1999, v. 1., p. 209-10).
As palavras do "comandante" de Santa Fé são, ao mesmo tempo, um aviso para que
104
o capitão Rodrigo se submeta às suas ordens, como fazem todos os moradores de Santa Fé.
Rodrigo Cambará e Ricardo Amaral são, na realidade, duas personalidades fortes, que não
se dobram por nada, e comungam valores muito semelhantes como é o caso da honra, uma
das qualidades cultuadas pela classe dominante que se reproduz ou é aceita pelas camadas
populares. É interessante à elite dominante que os demais respeitem a terra alheia, o filho
alheio, a mulher alheia; é, portanto, toda uma construção ideológica que essa elite impõe
sobre todos.
O exemplo extraído de Erico pode tornar mais claro nosso entendimento:
Por aqueles dias de fins de março o Pe. Lara procurou Rodrigo e contou-lhe que o Cel. Amaral o
chamara para "tratar do assunto".
-Que assunto? -O duelo.
(...) -Me pediu que falasse com vosmecê e lhe dissesse que ele não aprova o que o filho fez. (...) Estava furioso. Chegou a dizer: "Nunca nenhum Amaral fez isso. Foi uma traição indigna dum homem de bem e de coragem." (1999, vol. 1, p. 245)
A qualidade "honra" não é requisito especial das personagens de Erico, nem de uns
e outros gaúchos, mas de “todos”, independentemente da posição social que ocupem no
romance e na vida real. Valentia, honra, impetuosidade é a imagem construída pela elite
tradicional, ligada à terra e à agropecuária, e que passou para o imaginário popular.
Rodrigo Cambará na obra de Erico, simboliza "o vento, conota deslocamento,
irrequietude, e, às vezes, irresponsabilidade" (MAROBIN, 1997, p. 107). Ele é a
personagem-síntese das qualidades do homem do Rio Grande, reproduzidas por Erico
Verissimo.
Ao simbolizar o "vento"49, Rodrigo Cambará confirma a descrição do homem sem
fronteiras. O vento ocupa todos os espaços, não tem lugar certo, não tem parada fixa. O
49 MAROBIN, Luiz. A Literatura no Rio Grande do Sul: aspectos temáticos e estéticos. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1985. "O vento é o anunciador simbólico do perpassar sucessivo dos acontecimentos históricos. Visualiza a história da terra, das coisas e dos homens. De modo especial conota o homem que se desloca para os campos de lutas das fronteiras".
105
vento leva e traz pessoas, coisas, incertezas. O vento é um vaivém constante, às vezes com
lentidão, às vezes em fúria.
Assim como o vento, cujos espaços são incertos, também o Capitão Rodrigo não
tem parada; sua vida é um constante ir e vir. As fronteiras para essa personagem são
totalmente transponíveis, quer as geográficas, quer as culturais. Rodrigo não encontra
obstáculos para os seus intentos, para a sua vontade, para os seus desejos.
A respeito da origem étnica do gaúcho, Reverbel oferece sua contribuição,
explicando:
O gaúcho primitivo teve origem étnica na mestiçagem entre espanhóis, portugueses e índios. A contribuição indígena, nessa mescla, era mais acentuada no tipo platino. Entre as heranças portuguesas e espanholas, recebeu o cavalo e a faca, utensílio da maior importância. Servia de arma e era o único instrumento de trabalho no abate do gado e na preparação da courama. E como sua alimentação era quase exclusivamente a carne assada, bastava-lhe a faca para poder devorá-la, nos primeiros tempos sem sal. Do índio ficou com as boleadeiras, o poncho, o mate e a "vincha", esta usada principalmente no pampa rio-platense, incorporaram à sua linguagem elementos indígenas e, em menor escala, negros, mesclando-os ao português e ao espanhol, com arcadismos de ambos os idiomas e mútuas interpretações e influências. (1996, p. 84)
Entendemos que a visão que se faz do gaúcho integra o imaginário social coletivo
que transporta a representação do gaúcho como sinônimo de todos os homens sul-rio-
grandenses. O imaginário social 50 é um mecanismo eficiente e eficaz naquilo que se quer
(re)produzir, colaborando para o exercício do poder e da autoridade constituída, que, por
isso, se torna legítima.
No Rio Grande do Sul, o imaginário social do gaúcho oportunizou a criação de
identidades, baseadas no poder local atribuído aos senhores de terras, bem como uma
identidade regional que se mantém ainda hoje. É Padoin apud QUEVEDO que nos respalda
50 PESAVENTO, Sandra J. A Invenção da Sociedade Gaúcha. Ensaio FEE, Porto Alegre, Fundação de Economia e Estatística, v. 14, n. 2, 1993. pp. 383-396. "(...) elaboração em cada sociedade, de um sistema de idéias-imagens de representação coletiva. A isso dá-se o nome de imaginário social, através do qual as sociedades definem a sua identidade e atribuem sentido e significado às práticas sociais. O imaginário é sempre representação, ou seja, é a tradução, em imagens e discursos daquilo a que se chama de real".
106
a fala ao explicar que o gaúcho:
(...) É transformado em figura heróica, símbolo regional, porém com destacáveis características patrióticas nacionais. Essa imagem foi construída especialmente a partir do Partenon Literário, do Partido Republicano Rio Grandense (PRR) de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). A produção da elite intelectual do Rio Grande do Sul a partir de uma cultura popular e da campanha colaborou na construção da identidade regional; identidade assim vinculada a um espaço geográfico, a um passado histórico próximo, a ideais republicanos e à narrativa literária. Ou seja, a identidade regional do Rio Grande do Sul foi resultante da produção da elite intelectual comprometida, que buscou na sociedade latifundiária-pecuarista-militarizada-caudilhista o elemento que unificaria o que hoje conhecemos como cultura rio-grandense ou cultura gaúcha. Assim, buscou-se no gaúcho, figura pertencente à cultura popular, a representação do que seria a cultura oficial de um Estado, que sente-se uma nação gaúcha. Construção testemunhada e sedimentada pela historiografia e literatura. (1999, p. 375)
O gaúcho é tratado pelo imaginário popular como o herói destemido que luta por
tudo aquilo em que acredita, seja uma boa peleja como a Revolução de 1893 ou a
Revolução Farroupilha, seja pelos valores morais e familiares que a ele são muito caros e
de valor inestimável. Mas essa é uma imagem cultuada principalmente pela literatura
gaúcha. Por esses motivos podemos nos valer das palavras de Zilberman para
compreendermos que
(...) o gaúcho é um indivíduo inserido numa ordem social, que defende, ao incorporar suas idéias e lutar por elas até a morte. Mas, ao mesmo tempo, integra-se a uma ordem natural, na medida em que tem afinidades com o espaço - o pampa, a Campanha - e que são os animais, sobretudo o cavalo, seus maiores companheiros. A fraternidade entre os homens de classes diferentes e a continuidade entre o indivíduo e o cenário físico asseguram a índole globalizante do mundo regional. A sua auto-suficiência resume-se no fato de que abrange tudo o que é necessário à sobrevivência e felicidade do ser humano, de modo que não apenas conforma um cosmos, como expele tudo o que lhe é estranho. (1980, p. 36)
Erico Verissimo valeu-se do povo gaúcho para estruturar a idéia de que "o homem
deve ser, antes de tudo livre, honesto e honrado. É esse gaúcho que serviu de fonte de
inspiração da elaboração de O Continente" (MAROBIN, 1992, p. 54).
107
A familiaridade que Erico mantinha com os historiadores e intelectuais das décadas
de 1930-1940 certamente influenciou de alguma maneira, a interpretação do que o escritor
via e ouvia, para a tessitura de sua personagem Rodrigo Cambará. "No contexto rio-
grandense, o Capitão Rodrigo sempre aparecerá como imagem arquetípica de homem
valente. Na intuição de Érico Veríssimo, apenas isto: homem honrado e livre" (MAROBIN,
1997, p. 101).
As personagens femininas que escolhemos para enfocar são: Ana Terra, Bibiana
Terra Cambará, Maria Valéria Terra e Luzia Silva Cambará. As três primeiras personagens
contemplam, cada uma a sua maneira, mas todas com o mesmo objetivo, a estrutura de
preservação da família. Elas são o que poderíamos chamar de esteio da família, de alicerce
que suporta toda a carga de violência, paixão, moral, na defesa da estrutura familiar. Luzia
será aquela que vem para subverter a ordem das coisas na família Terra-Cambará, e em
Santa Fé, como veremos adiante.
Chaves ao se referir a essas personagens, considera que
Enquanto os guerreiros e caudilhos se destróem na coxilha, a continuidade da existência fica assegurada pelas personalidades verdadeiramente fortes das mulheres que defendem o Sobrado e escutam o passar do vento na longa espera de que a paz se restabeleça. Todas elas (...) derivam de uma só raiz que está localizada na personalidade de Ana Terra - inicialmente presença física, mais tarde memória viva daquele universo mítico de natureza tão cerrada que, uma vez rompido na arremetida da civilização, já não pode ser recomposto nem restaurado. (1981, p. 76)
Essas dramatis personae também representam uma fronteira. A fronteira que não
deixa a ordem das coisas ser subvertida, apenas por que seus homens estão fora, pois elas
são as responsáveis pela seqüência da vida, pela manutenção da casa e do lar.
Um ponto nos chamou a atenção: a única personagem feminina de Erico Verissimo,
108
que percorre todo o romance carregando o sobrenome é Ana Terra que, em nossa ótica,
recebe um destaque que não é atribuído às demais personagens. "Ana Terra representa
raízes profundas na terra, no povo, nas tradições, no inconsciente coletivo. Mas é antes de
tudo, uma criação literária, sem esquecermos as circunstâncias gaúchas" (MAROBIN,
1997, p. 102). Ou seja, não podemos querer encontrar Ana Terra em alguma mulher que
conheçamos. Ela é uma personagem-síntese, mas é produto da ficção e, assim como o
Capitão Rodrigo é o protótipo do homem sul-rio-grandense, Ana Terra representa a
imagem da mulher gaúcha, ancestral digna, corajosa, que redige seu destino e sua história.
Erico Verissimo, de acordo com o que nos informa CHAVES (1994, p. 58),
indagado a respeito de Ana Terra disse: "Eu penso nela como uma espécie de sinônimo de
mãe, ventre, raiz, verticalidade (em oposição à horizontalidade nômade dos homens),
permanência, paciência, espera, perseverança, coragem moral..." É possível percebermos a
ligação de Ana Terra, a representante do gênero feminino, com a terra, a qual pressupõe a
segurança. Quando se fala em "terra", no romance de Erico, o que se percebe é a imposição
da grande propriedade que representa, nesse momento, por conta de uma estrutura político-
econômica, a força e o poder instituídos pela classe dominante.
Essas qualidades reveladas pela personagem Ana Terra perpassam todo o
romance. Ela é, sem dúvida, das personagens femininas, a que mais significados tem; é a
imagem de mulher-forte, o suficiente para resolver o que for preciso, sem necessariamente
depender dos homens.
A personagem Ana Terra, embora tenha tido seus encontros com Pedro Missioneiro,
resultando na concepção de Pedro Terra, nela "são apenas insinuadas as características de
imagem primordial feminina" (MAROBIN, 1997, p. 105).
Uma passagem de Erico ilustra essa questão.
109
Pedro nunca pudera descobrir a razão por que a mãe tinha tanta malquerença pelos homens em geral. Às vezes fugia deles como diabo da cruz. Era com freqüência que falava, com má vontade e repugnância, em "cheiro de homem". Não gostava que Pedro fumasse perto dela; dizia que isso era falta de respeito, mas o filho sabia que havia uma razão mais poderosa: sarro de cigarro era "cheiro de homem". (1999, v. 1., p. 187)
Ana Terra, nesse sentido, se anula. Só amou um homem, o
índio Pedro Missioneiro, mas foi violada por muitos. Assim como a
terra do Continente de São Pedro era cobiçada por portugueses,
espanhóis, castelhanos e brasileiros, e disputada por todos, assim
podemos visualizar Ana Terra, como a representante dessa terra, até
a presença dos castelhanos.
O que se destaca mesmo na personagem é a força com que ela conduz sua vida e a
de sua família, desde sua saída do que restou do rancho, após o ataque castelhano, até a sua
chegada e estabelecimento nas terras de Santa Fé. Erico aponta-nos com um exemplo.
Pela madrugada Ana acordou e ouviu o choro da cunhada. Aproximou-se dela e tocou-lhe o ombro com a ponta dos dedos. - Não há de ser nada, Eulália...
(...) - Que vai ser de nós agora? - choramingou Eulália. - Vamos embora daqui. - Mas para onde? - Para qualquer lugar. O mundo é grande. (1999, v. 1., p. 126-27)
Ana Terra, como se pode observar, transcende o mundo feminino. Ela fala por si e
pelos outros membros de sua família. Afinal, é ela quem tem que resolver tudo sozinha,
diante da fragilidade da cunhada, ela é a porta-voz autorizada na resolução do destino de
toda a família
110
Bibiana Terra Cambará é a segunda personagem importante
retratada por Erico Veríssimo, que assim a descreve:
Bibiana, já no físico, exibe a marca dos Terras: "tinha um rosto redondo, olhar oblíquo e uma boca carnuda em que o lábio inferior era mais espesso que o superior. Havia em seus olhos, bem como na sua voz, qualquer coisa de noturno e aveludado". Presa do seu irrequieto companheiro, que se assenhoreou da sua alma com um único olhar atrevido, sofre em silêncio, com resignação fatalista, as suas infidelidades e turbulências.
(...) Há, porém, na sua calma e aparente frieza, uma tenacidade que se diria telúrica. Para conquistar o Sobrado para o filho e após a morte deste, conservá-lo para o neto, a sua alma indevassável deixará entrever sede de domínio, astúcia implacável, dureza e crueldade. (1999, v. 1., p 185-86)
Pela descrição de Erico, Bibiana é uma moça bonita. Personalidade forte, rende-se,
apesar disso, aos encantos de Rodrigo Cambará por quem se apaixona e se sacrifica,
aceitando as atitudes aventureiras e conquistadoras do marido.
O leitor desavisado, concluiria que Bibiana é uma personagem frágil. Mas ela é
como sua avó Ana, tenaz e objetiva principalmente quando os seus interesses estão em
jogo.
Bibiana tinha crescido à sombra de Ana Terra, com a qual aprendera a fiar, a bordar, a fazer pão e
doces, e principalmente a avaliar as pessoas. Depois que Ana Terra morrera, Pedro às vezes
tinha a impressão de que ela continuava a falar pela boca da neta. Bibiana repetia frases da avó.
Quando à noite ventava e eles estavam dentro de casa em silêncio, esperando a hora de irem
para a cama, a moça de repente murmurava: "Noite de vento, noite dos mortos.(1999, v.1, p.
186-187)
Se Ana Terra é a personagem que representa a força feminina,
que não se dobra diante de nenhum obstáculo, que não se curva
frente à imposição dos homens, Bibiana é a representante das
111
virtudes do lar e, na ausência do Capitão Rodrigo, é ela quem decide
tudo. Ao mesmo tempo ela é a contínua espera de que Rodrigo volte
sempre para ela. Por isso "Bibiana simboliza o tempo" (MAROBIN,
1997, p. 107), a espera, o espaço dedicado ao repouso do guerreiro.
Embora em planos temporais diferentes, a figura de Ana Terra permeia o O Tempo e
o Vento. Podemos vê-lo nas recordações da personagem, retratadas por Erico:
- Meu pai e meu irmão foram enterrados no alto duma Coxilla. - Mostrou-lhe as mãos murchas. - Eu mesmo enterrei os dois com estas mãos que a terra um dia há de comer... (1999, v. 1, p. 184-85).
Podemos encontrá-la também através das representações simbólicas: a tesoura e a
roca herdadas por ela herdadas:
Passaram-se meses e um dia, quando ela viu que o ventre de Eulália começava a crescer, pensou logo na sua tesoura.
(...) A roca ali estava, velha e triste, e Ana Terra sentia-se mais abandonada que nunca, pois agora nem o fantasma da mãe vinha fazer-lhe companhia (1999, p. 144).
Outra representaçào é a vela de Maria Valéria "a iluminar não só os desvãos do
Sobrado, mas os do caráter dos homens de Licurgo" (Bordini, apud GONÇALVES, 2000,
p. 61), e o punhal de Pedro Missioneiro.
Essas recordações são preciosas para Bibiana, que se espelha em Ana Terra para
tomar certas decisões, como por exemplo na firmeza com que conduzirá a família após a
morte do capitão Rodrigo.
Numa retrospectiva de Erico temos clara a personalidade de Bibiana:
Quando o dia de finados chegou, Bibiana foi pela manhã ao cemitério com os dois filhos. Estava toda de preto e agora, passado
112
o desespero dos primeiros tempos, sentia uma grande tranqüilidade (...). Mentalmente Bibiana conversava com Rodrigo, dizia-lhe coisas. Seus olhos estavam secos. Às vezes parecia que ela toda estava seca por dentro, incapaz de qualquer sentimento. No entanto a vida continuava, e a guerra também. A Câmara Municipal de Santa Fé tinha aderido à Revolução (...).Diziam que os imperiais tinham de novo tomado Porto Alegre. Bibiana não sabia nem queria saber se aquilo era verdade ou não. Não entendia bem aquela guerra. Uns diziam que os Farrapos queriam separar a Província do resto do Brasil. Outros afirmavam que eles estavam brigando porque amavam a liberdade e porque tinham sido espezinhados pela Corte. Só duma coisa ela tinha certeza: Rodrigo estava morto e rei nenhum, santo nenhum, deus nenhum podia fazê-lo ressuscitar. Outra verdade poderosa era a de que ela tinha dois filhos e havia de criá-los direito, nem que tivesse de suar sangue e comer sopa de pedra. O pai a convidava a voltar para casa. Mas ela queria ficar onde estava. Era o seu lar, o lugar onde tinha sido feliz com o marido. (1999., vol. 1, p. 308-09)
Compreendem-se os traços com que Erico delineia a
personalidade de Bibiana como a representante do esteio do lar.
Bibiana é a figura forte que preserva a todo o custo o que é seu: sua
casa, seu lar, sua família. A morte do Capitão Rodrigo não a tornou
frágil, ao contrário, será ela que conduzirá, à sua maneira, os
destinos da família Terra-Cambará.
Bibiana e Ana Terra quase que se fundem em uma mesma mulher-personagem,
guardadas as distâncias temporais. Ana situa-se no início da saga da família Terra quando
da formação de O Continente; é toda a representatividade de uma força interna que a faz
imensamente maior que os homens - pai e irmãos - de sua família. Pedro Terra é o seu
filho, mas é a neta Bibiana - duas vezes Ana - que dá continuidade ao vigor dos Terra.
As personagens de Bibiana e Ana Terra apresentam várias semelhanças na
113
narrativa: Ana amou Pedro Missioneiro, enfrentou os homens da família e criou sozinha o
filho e, em certa medida enfrentou o bando armado, que atacou sua morada e violentou-a.
Depois disso, partiu, com o que restou da família, em busca de um bom lugar para viver.
Bibiana é, em certa medida, uma revolucionária em sua época quando, ao se
apaixonar pelo desconhecido capitão Rodrigo, desafia o estabelecido e luta por esse amor,
sofre com ele e por ele, mas luta. Cria uma situação de animosidade entre os Terra e os
Amaral, já que Bento Amaral, o herdeiro mais rico e mais importante de Santa Fé, havia
deitado os olhos sobre ela.
Moraes chama-nos a atenção para um ponto de alta significância. O autor assim se
expressa.
Nada (...) é tão sugestivo como o contraste entre Rodrigo e Bibiana, duas poderosas criações do romance, que se unem pelo amor, impelidos não por afinidades eletivas, mas pela fatalidade irresistível dos seus pólos contrários.
(...)
O Capitão Rodrigo, veterano da Cisplatina, homem alvo e louro, é todo instinto e impulso. Nele, o desejo sexual se confunde com a sensação de fome. Másculo até o exagero, peleador por gosto, mas de coração generoso, ama com paixão a vida, o prazer, a mulher, o jogo, a bravata. Ao lado disto, incréu, irreverente, instável, andarengo, aventureiro... (1959, p. 222-23)
O contraste de que fala o autor são o entendimento da vida, as questões morais e
psicológicas, os objetivos, as fatalidades que cercam essas duas personagens, tão
contrastantes e tão próximas, ao mesmo tempo.
Maria Valéria, a personagem que vagueia pelo Sobrado quase como uma sombra é,
na realidade, a personagem mais sensata em determinado ponto do romance. Ela é uma
espécie de consciência e sua figura e modo de ser contrariam a ordem pré-estabelecida
pelos homens. Ela representa a moral feminina, inerente às mulheres gaúchas, de acordo
com a imaginário popular, que vem ao encontro da representação das elites que perpetuam
a dominação da mulher e das classes desfavorecidas.
114
Almeida in GONÇALVES assim descreve a personagem:
Esta figura feia, seca, sem a graça feminina de Alice, sua irmã, virgem e solteirona, traz sua força num corpo que, ao não cumprir com a prescrição patriarcal às mulheres, não se divide. É a Dinda, a Madrinha, a que cuida e protege, sem ser mãe; sombra, matriarca sem descendência, que na estranha configuração de seu perfil vem perguntar sobre o feminino: é vulto, fantasma, sombra. (...) é guardiã da memória das mulheres; (...) não se enquadra na caracterização do corpo feminino dividido. (...) Uma sombra, um vulto, um fantasma. Uma vela acesa e a descoberta de um conhecimento ainda não revelado. O saber das mulheres e seus silêncios. (2000, p. 81)
Ao invés de sombra, como a princípio pode parecer, o que, portanto, caracterizaria a
inexpressividade de Maria Valéria, ela , no entanto, é a luz que faz com que as coisas no
Sobrado perdurem. A personagem pode ser vista como a antípoda do gênero feminino, já
que ela não se casa, mas tem uma casa para administrar; não tem filhos, mas cuida dos
sobrinhos; e, finalmente, não tem os atributos femininos das demais personagens, mas tem
uma força e uma moral irreparáveis.
Erico emite uma fala de Maria Valéria, conversando com Licurgo, seu cunhado,
demonstrando a personalidade dessa personagem.
- Ter filhos é que é negócio de mulher, eu sei - continua Maria Valéria. - Criar filhos é negócio de mulher. Cuidar da casa é negócio de mulher. Sofrer calada é negócio de mulher. Pois fique sabendo que esta revolução também é negócio de mulher. Nós também estamos defendendo o Sobrado. Alguma de nós já se queixou? Alguma já lhe disse que passa o dia com dor no estômago, como quem comeu pedra, e pedra salgada? Alguma já lhe pediu pra entregar o Sobrado? Não. Não pediu. Elas também estão na guerra. - Está bem, prima. Está bem. Mas tudo é uma questão de horas. Os federalistas estão perdidos. Amanhã a cidade pode amanhecer livre. - E a Alice pode amanhecer morta. Ela ou o filho. Ou os dois. - Ou todos nós - diz Licurgo com voz apertada de rancor. - Ou todos nós - repete Maria Valéria. (1999, v. 1, p. 11)
115
Essa personagem, que tantas vezes foi esquecida no romance como uma mulher de
somenos importância é, em nossa ótica, a consciência moral que não deixa o microcosmo
do Sobrado perecer. Ela é a luz que ilumina quando tudo está prestes a perecer. Ela é, sem
dúvida, a que está em constante alerta, protegendo a tudo e a todos.
Em duas outras passagens do romance (Erico, 1999, v. 1, pp. 15, e 324),
encontramos Maria Valéria sempre atenta a tudo o que está acontecendo. É ela quem deve
dar força ao cunhado, sitiado, como todos os demais, no Sobrado; atender a irmã,
praticamente moribunda, tomar conta dos sobrinhos, crianças ainda, que são os
descendentes dos Terra-Cambará, herdeiros do Sobrado e do Angico e da política de Santa
Fé.
Maria Valéria acende uma vela nos tições e com ela atravessa a sala de jantar na direção da despensa. A chama ilumina-lhe o rosto descarnado e severo, um rosto anguloso e sem idade, mas de grandes olhos escuros e lustrosos. Tem de caminhar com cuidado pra não pisar nos homens que dormem no chão, agarrados às suas armas. Suas narinas inflam: cheiro de homem. Suor antigo, sarro de cigarro, couro curtido. Um cheiro quente, azedo, penetrante, repulsivo. - Vou mandar a Laurinda defumar esta sala...
(...) A lamparina arde junto da cama de Alice, que dorme um sono desinquieto de febre. E Licurgo, que há pouco se deitou vestido ao lado da mulher, dorme também. Sentada numa cadeira junto ao lavatório, Maria Valéria está de vigília, encolhida sob o xale, os braços cruzados a apertar a boca do estômago. O frio a deixa como que anestesiada, incapaz de sentir o que quer que seja: tristeza, compaixão ou esperança. O que a mantém de pé a ajudar sua gente é ainda um sentimento de dever que lhe vem principalmente do hábito. D. Bibiana tem razão: as mulheres no Rio Grande são direitas e cumprem suas obrigações por puro cacoete, e cacoete hereditário...
Maria Valéria pode ser vista como a personagem feminina menos glamourosa,
menos passional, já que não se casa, não tem filhos, não tem os atributos das demais
personagens. Por outro lado, e entendemos que aí justamente reside sua expressividade, é
ela que, de certa maneira, toma o lugar de Bibiana e que um dia já fora de Ana Terra, como
116
guardiã e esteio da família. A personagem interpõe uma fronteira, afinal ela é Maria Valéria
Terra, a figura silenciosa, quase invisível, mas que se apresenta de ponta-a-ponta no texto
de Erico, questionando as certezas e exercitando as dúvidas e, agora, de certa maneira, a
nova "Senhora do Sobrado".
São essas personagens que, de certo modo, garantem que os homens se envolvam
nas guerras, lutas, aventuras e que demonstrem todo um lado varonil, destemido, corajoso,
macho, hospitaleiro. Na realidade isso é o estereótipo do gaúcho, considerando-se que não
se pode caracterizar um tipo e elegê-lo como representante do gaúcho do litoral, dos
pampas, da serra, da capital ou das cidades do interior pois têm, cada qual, as suas
peculiaridades.
Se Ana Terra, Bibiana e Maria Valéria compõem o tripé feminino de sustentação da
família Terra-Cambará e tudo o que ela representa em termos de moral e conduta ilibadas,
Luzia Silva - a Teiniaguá é a personagem que vem para, de certa maneira, corromper essa
estrutura.
Luzia Silva é a moça que vem de fora do Continente. Bonita, rica e com maneiras
bem diferentes dos habitantes de Santa Fé, ela encarna a imagem da Teiniaguá51. "Nela
convergem, de um lado a plasticidade da forma sedutora de mulher-diabo e, de outro, os
inquietantes mistérios do além, do mal e da fraqueza humana" (MAROBIN, 1997, p. 117).
Essa personagem vai, aos poucos, desestabilizar a ordem imposta à cidade por seus
próceres, apresentando-se como a mulher dissimulada que conquista e seduz, e é
alimentada pela maldade e pela vingança.
Ao desestabilizar a ordem, ditada pela moral dos santa-fezenses, Luzia estabelece
117
uma fronteira cultural entre ela e os habitantes da cidade, pois tudo nela é diferente. Nas
crendices do povoado de Santa Fé, Luzia lembra a Teiniaguá.
Marobin documenta que:
Em O Continente, Érico Veríssimo não questiona a realidade da Teiniaguá. Ela apenas estabelece um referencial e um ponto de partida literários. Os horizontes da Teiniaguá, ora se alargam para lá das planícies e coxilhas dos pampas, ora se estreitam, se afunilam em mergulhos no subconsciente do povo. Nessa atmosfera a Teiniaguá fixou-se no subconsciente coletivo a partir da cultura dos índios guaranis das Missões dos Sete Povos à beira do rio Uruguai. (1997, p. 124)
A personagem Luzia age, no romance, de forma coerente com sua maneira de ser.
Ela é bonita e sedutora e nesse sentido, para a cultura popular, ela teria parte com o diabo.
Assim compreende-se que Luzia age como a Teiniaguá, usando todos os seus atributos
femininos para atingir seus objetivos, seus caprichos.
Marobin (1997, p. 126) disserta que a Teiniaguá, em O Continente aparece em duas
versões: a versão tradicional e a versão criada por Erico. Para caracterizar a imagem
tradicional, Erico assim se expressa, destacando as características físicas de Luzia, através
da personagem do Dr. Winter que se impressiona com os olhos da moça
... Eram grandes e esverdeados... Ou seriam cinzentos? Era difícil chegar a uma definição, pois lhe parecia que eles mudavam de cor de acordo com os dias ou com as horas. Possuíam uma fixidez e um lustro de vidro e pareciam completamente vazios de emoção. Winter descobrira que Luzia fitava as pessoas com a mesma indiferença com que olhava para as coisas: não fazia nenhuma distinção entre o noivo, uma mesa ou um bule. Pobre Bolívar! Winter achava absurdo que duas pessoas tão desiguais estivessem para casar, morar na mesma casa, dormir na mesma cama e juntar-se para produzir outros seres humanos. Bolívar mal sabia ler e assinar o nome: era um homem rude. (...) quanto ao rapaz era
51 Teiniaguá. Cf. NEUMANN, Erich. The Great Mother - An analysis of the archetype. London: Routledge, 1955. Apud MAROBIN, Luiz Imagens Arquetípicas em O Continente, de Erico Veríssimo. Porto Alegre:EdUNISINOS, 1997. Traça o perfil da mulher que é, ao mesmo tempo, mãe dominadora, cruel, sedutora, misteriosa, feminina, primordial.
118
natural que estivesse fascinado por ela. Winter sabia o quanto era difícil desviar os olhos de seu rosto. (1999, vol. 2., p. 352-53)
A partir dessas características marcantes na fisionomia de Luzia, Erico traça o
perfil da personagem, que se mostra frio e insensível.
Luzia abriu o leque e começou a abanar-se serenamente. -Vosmecê não acha, doutor - perguntou ela - que ser bom ou ser mal é uma questão de mais ou menos coragem? -Hein? - fez o médico, perplexo, a coçar o queixo com dedos frenéticos. - Quer dizer então que bondade é sinônimo de covardia? -E o senhor acha que não é? Nunca pensou que ser bom é a coisa mais fácil do mundo? E que qualquer pobre-diabo pode se dar o luxo de ser bom? O Dr. Winter ergueu ambos os braços e depois deixou-os cair, batendo com força nas coxas com as palmas das mãos. (...) Mas o diabo - pensava - era que de certa maneira misteriosa Luzia parecia Ter alguma razão. Era preciso uma pessoa Ter muita coragem para dar expressão a todos os seus desejos e sentimentos maus. Sim, ser bom era fácil. A teiniaguá não se deixava apanhar facilmente. (1999, v. 1, p. 379-80
Luzia é uma personagem que Erico faz questão de mostrar falando, gesticulando,
fitando as pessoas, e temos que considerar que, em momento algum ela nos parece
hipócrita. Entre seus objetivos, Luzia agride as pessoas simples de Santa Fé, as quais não
estão preparadas para ouvir as suas idéias e expressões que não correspondiam à maneira
como os santa-fezenses viam o mundo.
Marobin destaca ainda um outro ponto significativo:
A imagem arquetípica da personagem Luzia-Teiniaguá insere-se na galeria das grandes criações literárias do Rio Grande do Sul. A imagem mítica tem a sua base no subconsciente coletivo do povo gaúcho. Partiu de resíduos históricos das Missões Guaranis. No romance acentua a exuberante plástica das formas femininas. Espalha maldade através do feitiço dos olhos verdes de réptil traiçoeiro. Essa é a versão popular, herança das Missões dos Guaranis. (1999, p. 129-30)
São tipos como Luzia, também existentes no imaginário sul-rio-grandense, que
questionam constantemente a ordem préestabelecida pelos homens, o que para a maioria
119
das mulheres é passível de aceitação. Embora comparada à Teiniaguá, entendemos que sua
presença tem importância vital na condução do romance, pois é quando o autor, Erico
Verissimo, pode mostrar que o inconformismo com a ordem aparente é resultado de que no
Rio Grande do Sul as mulheres pensam, questionam e enfrentam a realidade.
Vemos essa personagem não apenas como a "mulher-diabo", bruxa ou quaisquer
outros atributos negativos, mas como aquela que pode trazer as mudanças necessárias para
a sociedade. Em termos de Rio Grande do Sul, suas atitudes em não se calar diante do que
vê e ouve, em bater de frente com Bibiana, em enfrentar os costumes e a moral de Santa Fé,
são exemplos de que nesse estado as coisas nunca foram pacíficas; é um estado que se
forjou na luta pela conquista do seu espaço, extrapolando sua própria territorialidade,
movimentando as fronteiras para além do continente e estabelecendo suas marcas. É um
estado que se fez presença também no cenário brasileiro.
No romance de Erico, a fronteira é ponto vital para a identidade do Rio Grande do
Sul, pois até certo ponto ela divide os territórios do eu e do outro, ou, se preferirmos do
nosso e do deles. Em uma passagem de O Continente encontramos esta representação:
Depois daquela noite, a geada de cinco invernos branqueou os telhados da missão; e as pedras avermelhadas de sua catedral fulgiram ao sol de cinco verões mais ou menos tranqüilos. Foram aqueles os tempos de maior prosperidade dos Sete Povos. Conquanto no Continente do Rio Grande de São Pedro espanhóis e portugueses vivessem em contínuas lutas por questões de limites, houve paz nas reduções. (1999, v. 1, p. 37)
É estudando a corrente historiográfica que defende a formação étnica lusa para o
Rio Grande do Sul, que compreendemos o que se chama fronteira excludente, eliminando-
se, assim, a miscigenação espanhola e indígena no Rio Grande do Sul. Entretanto, não
podemos esquecer que o Rio Grande do Sul não nasceu lusitano. Reportando-nos a 1498,
na demarcação do Tratado de Tordesilhas, e observando o mapa do Brasil, da época,
120
verificaremos claramente que as terras que compõem hoje o estado gaúcho seriam
espanholas. O Rio Grande do Sul foi, portanto, um território que, aos poucos, foi
conquistado pelos portugueses, nas constantes lutas de fronteiras, que alteraram
sensivelmente os limites entre as terras portuguesas e espanholas, na América do Sul.
Com isso, configurou-se dizer, que nos treze anos de dominação espanhola, não
houve influência dessas matrizes étnico-culturais na formação do povo sul-rio-grandense,
bem como desconsiderou-se a presença indígena – ainda que Erico apresente o índio Pedro
Missioneiro à Ana Terra – que aqui já estava quando da chegada do branco europeu.
Entendemos que a união dos termos “fronteira excludente” refere-se ao aspecto
étnico-cultural. Mas quando Erico une a descendente portuguesa Ana Terra com o índio
guarani, Pedro Missioneiro, a obra aponta para a miscigenação. Entretanto,
significativamente, o fruto dessa união jamais adotaria o nome do pai.
Na ótica de Biasoli apud Quevedo (1999, p. 155), Pedro Missioneiro "é aquele,
dentro da narrativa romanesca de O tempo e o vento, que vai perpetuar a herança
missioneiro - espanhola entre os colonizadores lusitanos".
Mesmo adotando traços culturais de um outro grupo, seja pela via da conquista
armada, seja pela via dos casamentos, por exemplo, uma das maneiras de manter a
identidade é reforçar os traços étnicos do grupo e aí sim, manter uma fronteira geográfica
que delimite os territórios do eu e do outro.
As transformações culturais, pelas quais passam os grupos sociais, não significam o
desaparecimento de uma etnia, pelo contrário, às vezes, segundo os autores, as
transformações culturais a que os grupos são obrigados a se submeter permitem o reforço
das suas tradições étnicas.
De acordo com Barth apud POUTIGNAT & STREIFF-FENART (1998, p. 157)
121
"(...) uma redução das diferenças culturais entre os grupos étnicos não põe necessariamente
em causa a pertinência do limite que os separa".
Da fala desses estudiosos podemos extrair que etnicidade e cultura são vocábulos
distintos, embora possam "caminhar" juntos, o que não significa que um suplante o outro.
O que pode haver é a coexistência entre ambos, que nem sempre foi pacífica como ocorreu
com a conquista das Missões, mas que nem por isso descaracterizou por completo a questão
étnico-cultural dos povos indígenas, dessa região.
Poutignat & Streiff-Fenart( 1998, p. 157) são categóricos ao afirmar que "a
cooperação dos membros para a manutenção das fronteiras é uma condição necessária da
etnicidade, ela pode constituir em certos casos o critério essencial do membership"52. Essa
frase resume a intenção de se preservar as fronteiras étnico-culturais, para a mantência do
próprio grupo social do qual se faz parte, seja ele religioso, econômico, político, no sentido
de não ser permitida a entrada de elementos estranhos ao grupo, pois:
A manutenção das fronteiras baseia-se no reconhecimento e na validação das distinções étnicas no decurso das interações sociais. Como acentua Barth, a pressão exercida no interior de um grupo para a manutenção ativa da fronteira é máxima nas situações políticas em que a violência e a insegurança dominam as relações interétnicas. (1998, p. 157)
Poutignat & Streiff-Fenart (1998, p. 158) afirmam ainda que "as fronteiras étnicas
são manipuláveis pelos atores". Mas quem são eles? Os atores são todas as pessoas que
estão vinculadas aos grupos étnicos, portanto são todos os indivíduos pertencentes a esse ou
àquele grupo social, invariavelmente. Em nosso trabalho são todas as personagens que
aparecem na obra de Erico,embora tenhamos nos detido apenas em algumas que dizem
122
respeito mais diretamente à nossa pesquisa.
Como as fronteiras podem ser manipuláveis? Elas são manipuláveis em função das
diversas categorias às quais podem pertencer as pessoas, podendo situarem-se em vários
lugares, não deixando, ao mesmo tempo, de fazerem parte de um grupo étnico definido.
Essa manipulação de que falam os autores acima, exercida pelos membros dos
grupos étnicos, depende dos interesses do momento, e baseia-se nas relações de força entre
os membros desses grupos étnicos. Os outros assim se expressam:
De modo geral, importa reconhecer que, qualquer que seja o grupo considerado, a questão de saber o que significa ser membro do grupo nunca se torna objeto de consenso, e que as definições de pertença estão sempre sujeitas à contestação e à redefinição por parte de segmentos diferentes do grupo (1998, p. 159).
Há um entrechoque de forças muito intensas que determinam quem pode e quem
não pode fazer parte da comunidade, o que irá gerar ou não a interação, enfraquecendo as
fronteiras étnico-culturais, ou a exclusão social, reforçando essas mesmas fronteiras.
Transportando a teoria para o nosso estudo é exatamente isso que se passa em O
Continente. Primeiro há a disputa, entre gaúchos e castelhanos, pela posse da maior
quantidade de terras que estão na fronteira, depois há uma disputa constante entre os Terra-
Cambará e os Amaral pelo poder político em Santa Fé. E isso também é presença na
história do Rio Grande do Sul e do Brasil.
Portanto, nas questões de fronteiras, sejam elas geográficas, étnicas, culturais,
políticas, acabamos por nos deparar com uma situação muito íntima, que é a questão do eu
e do outro, ou do nós e eles, e entendemos que é uma questão inerente à condição de
fronteira.
Poutignat & Streiff-Fenart (1998, p. 158) explicam, ainda, que as fronteiras étnicas "
52 Membership, neste caso refere-se aos "membros de um grupo, cultura e de uma sociedade". FRANCO,
123
(...) se estendem ou se contraem em função da escala de inclusividade na qual se situam e
da pertinência, localmente situada, de estabelecer uma distinção Nós/Eles".
Voltando ao nosso ponto de partida, fazendo sempre o contraponto entre a teoria, a
História e a literatura, observamos que Erico retrata a questão do eu e do outro, toda a vez
que expõe em sua obra castelhanos e brasileiros em lados opostos das fronteiras, mas
também índios e brancos, mulheres e homens, maragatos e picapaus. Essa situação pode ser
observada no que nos revela o autor, quando do ataque dos castelhanos ao rancho dos
Terra:
(...) Ana viu uma cara de beiços carnudos, com dentes grandes e amarelados que (...) se colaram brutalmente aos seus (...). Um suor gelado escorria-lhe pela testa, entrava-lhe nos olhos, fazendo-os arder e aumentando a confusão do que via: o pai e o irmão ensangüentados, caídos no chão, e aqueles bandidos que gritavam, entravam no rancho, quebravam móveis, arrastavam a arca, remexiam nas roupas, derrubavam a pontapés e golpes de facão as paredes que ainda estavam de pé. (...) Começaram a sacudi-la e a perguntar: - Donde está la plata? - La plata... la plata... la plata.. Ana estava estonteada (...) sentiu contra as costas, as nádegas, as coxas, o corpo duro dum homem (...) ao mesmo tempo que mãos lhe rasgavam o vestido. - La plata... la plata... E Ana começou a andar à roda, de braço em braço, de homem em homem, de boca em boca. - Bamos, date prisa, hombre.
Tombaram-na, e mãos fortes (...) imobilizaram-na contra o solo. Capitán! Usted primero! (...) Ana já não resistia mais. Por fim perdeu os sentidos. (1999, v. 1 p. 121-22)
Os castelhanos, nesse momento, são retratados como os outros da fronteira, como os
inimigos, como os bandidos, como os invasores não só das terras d'O Continente, mas
também da vida de seus habitantes.
O entendimento do eu e do outro é desenvolvido por Reichel apud GONÇALVES
quando a autora considera que:
Álvaro. Dicionário Inglês-Português/ Português-Inglês. São Paulo: Globo, s/d.
124
(...) a formação e a delimitação de fronteira, como linha que divide o território do eu e do outro (...) é fundamental para a identificação e reconhecimento daqueles que estão dentro do continente como integrantes da sua coletividade e aqueles que a ele não pertencem, como os diferentes. Através de uma linha imaginária que vai sendo traçada, o sentimento de pertença e o de alteridade vão sendo construídos. Nesse sentido, é evidente o papel do outro que Erico Verissimo atribui aos castelhanos e, para que as diferenças sejam rapidamente assimiladas pelo leitor, a representação dos mesmos como bandidos e invasores. (2000, p. 209)
A idéia apresentada por Reichel reforça o entendimento dos castelhanos como os
inimigos dos habitantes do Continente, pois transparece a situação de pertença dos que
estão inseridos nesse território, como perfeitamente identificados e reconhecidos como os
integrantes de uma mesma coletividade, em oposição aos estrangeiros, ou seja, os outros da
fronteira, aqueles que habitam qualquer lugar para além do Continente. Por isso é
impossível sua inclusão a uma mesma coletividade. Mas isso tudo não significa que a
presença espanhola não seja uma das matrizes de formação das gentes do Rio Grande,
como veremos mais adiante, em nossa pesquisa.
Partindo do que nos informa Bazcko (1986, p. 309), a respeito de coletividade, é
que alinhamos nosso entendimento: “Uma coletividade designa sua identidade, elabora uma
certa representação de si, estabelece a distribuição de papéis e das posições sociais, exprime
e impõe crenças comuns, e constrói uma espécie de convivência.”
Da análise de Bazcko podemos compreender que, se há uma correspondência direta
entre identidade e coletividade, não há, realmente, como inserir os castelhanos na condição
de pertença da mesma coletividade dos habitantes do Continente. Eles são os diferentes em
tudo: no linguajar, no comportamento, nas atitudes... Eles são os estranhos, os forasteiros.
Nesse momento, eles são o inimigo, argumento que reforça a tese da matriz lusitana.
Percebemos, porém, que há um jogo de luz e sombra entre o que desejam os
125
defensores da corrente lusa e o que de fato, a história vai, aos poucos, registrando e
provando, derrubando as teses da exclusividade "racial" portuguesa no Rio Grande do Sul.
Preponderam também os préconceitos sociais vigentes na sociedade da época, em
que o autor escreve a obra mas que sutilmente ele transporta para o século XVIII:
diferenças de classe social, postura social, política, racial diante do mundo. O exemplo é
claro, quando Erico estabelece o diálogo da personagem D. Henriqueta com seu marido
Maneco Terra, pais de Ana Terra.
Um dia D. Henriqueta sugeriu timidamente ao marido que levasse o neto ao Rio Pardo para que o vigário o batizasse. Maneco pulou, furioso: _ No Rio Pardo? Estás louca. Pra todo mundo querer saber quem é o pai da criança? Estás louca. Pra arrastarem meu nome no barro? Estás louca varrida. _ Então o inocente vai ficar pagão? _ O melhor mesmo era ele ter nascido morto - retrucou o velho. (1999, v. 1. p 111 - 12)
O filho de Ana Terra carregará para sempre o nome do pai - Pedro - mas um único
sobrenome - Terra.
É significativo observar como Erico introduz o índio Pedro Missioneiro no seio da
família Terra. Aquele, que sob a ótica dos "civilizados", deveria representar o lado bárbaro
e selvagem do ser humano é justamente o contrário. É quem possui sensibilidade: ele toca
flauta, ele conta histórias, ele traz, enfim, uma cultura diferente aos embrutecidos Terra,
para quem a vida era trabalhar da manhã à noite. Lazer? Sim, para Horácio e Antônio que,
vez por outra, dirigiam-se a Rio Pardo comercializar o produto de seu trabalho e
obviamente divertir-se, namorar. E Ana? Fica na fazenda, mas a presença do índio vai
126
despertar-lhe sentimentos diferentes, desejos que ela não experimentara até então.53
Todavia, essa relação não pode aparecer, numa época em que a vertente lusa é
considerada a matriz de formação do povo rio-grandense. Erico dá um jeito, e os irmãos
Terra, para salvar a honra da irmã ou vingar a sua desonra, matam o índio. Parece-nos
muito clara que a morte dessa personagem é providencial no sentido de esconder não
somente o preconceito sobre Ana, que se torna mãe-solteira, mas denunciar a erradicação
de uma origem que alguns historiadores da época relutavam em discutir, que é a matriz
platina de formação do povo rio-grandense, bem como a presença indígena.
Com o assassinato de Pedro Missioneiro extirpa-se um corpo exterior ao seio de
uma família, para a qual aparentemente ele não faz falta. É pois a exibição da rejeição
social de tudo o que ela – a sociedade da época, aqui representada pela família Terra –
menos deseja: a mistura, o convívio com aquela gente estranha às coisas do Rio Grande,
pois a diferença não é bem-vinda nessa sociedade que incorporou, num primeiro momento,
para si, totalmente a descendência portuguesa.
A assassínio de Pedro Missioneiro é não apenas a morte do corpo vivo de um
homem. É mais do que isso, o índio é aniquilado como etnia; sua passagem pelo romence
cumpre uma função: a de demonstrar que na formação étnica sul-rio-grandense também a
matriz indígena é contributiva. Porém, Pedro Terra, que é quem carrega toda a carga étnica
dessa ascendência, transmite, à filha Bibiana, muito mais a influência dos valores de sua
mãe Ana Terra – portanto, a ligação com o mundo barnco português – do que com o pai
Pedro Missioneiro. É dessa forma que o grupo étnico é redefinido, a fim de manter sua
53 VERISSIMO, Erico. O Continente. São Paulo: Globo, 1999.
127
identidade.
No período descrito por Erico em A Fonte a imagem dos castelhanos é associada à
idéia de destruição e morte. E assim é possível compreender-se também a questão do nós e
eles, enfocada por Heloísa Reichel, que já citamos várias vezes. Nós, os habitantes do
Continente, gente com brios e valores, eles, os intrusos, sem virtudes e com vícios.
Zilberman explica, sobre essa questão:
Por isso, o vilão por excelência é o homem que vem de outro espaço - o homem da cidade ou da Corte, o imigrante ou castelhano. A diferença geográfica reflete-se em traços biológicos; daí a oposição entre o físico deficiente do estrangeiro e a beleza externa do rio-grandense: sua tez morena, olhos escuros, a altura e a elasticidade, todos estes dados transformam-se numa metonímia da personalidade e dos valores do indivíduo pertencente ao meio pampeano. (1980, p. 37)
No romance de Erico a escolha do inimigo, no início da saga, recai sobre os
castelhanos, porque a história do Rio Grande do Sul avizinha-se, desde sempre, com a
história platina, o que não significa dizer que essa idéia se perpetue, como na fala de Maria
Valéria “É a mesma gente, só com idéias diferentes”( Erico, 1999, v.1, p. 11)
Biasoli in QUEVEDO (1999, p. 148) é veemente ao afirmar que "Erico Verissimo
ao escrever A Fonte (...) clamava por uma aceitação do fato de que as nossas raízes
históricas têm muito a ver com a cultura platina", até porque, embora em sua obra Erico
tenha, em várias oportunidades, situado os castelhanos como “os outros da fronteira”, há
uma documentação paroquial que registra o cruzamento entre portugueses, espanhóis,
brasileiros, castelhanos, notadamente pela via de casamentos. Conforme o que nos explica
Kühn:
128
Os registros de batismos entre 1760 e 1761 corroboram os argumentos favoráveis a uma coexistência luso-espanhola, indicando a existência de pelo menos nove espanhóis integrados à freguesia (quatro santafesinos, dois paraguaios, um buenairense, um indicado como sendo das “Índias de Espanha” e um espanhol metropolitano). Estes indivíduos, todos homens, integram-se à nascente sociedade rio-grandina preferencialmente pela via dos casamentos com mulheres açorianas. (1999, p. 93).
Essa reflexão implica em diferenciarmos as matrizes étnico - culturais,
contemplando espanhóis e indígenas e não somente portugueses. Sobre esse assunto
Queiroz da Silva (2001, p. 38) diz que "uma série de informações se interpõem, pois
estamos lidando com situações que envolvem o ser humano e suas circunstâncias, o homem
e o seu entorno, a sua bagagem cultural, a qual ele vem adquirindo ao longo de uma vida
inteira de convivências". Portanto, há um registro que o ser humano faz de tudo o que lhe
passa aos olhos, e ele seleciona as prioridades.
A convivência de que nos fala a autora traduz a idéia de troca e assimilação de
informações, de usos, de costumes, de linguajares e até mesmo o modo de refletir sobre
determinadas questões.
Hechter apud POUTIGNAT & STREIFF-FENART (1998, p. 156), teorizando sobre
a etnicidade, propõe "o estudo da transformação das práticas culturais", pois "um grupo
pode adotar os traços culturais de um outro, como a língua e a religião e, contudo,
continuar a ser percebido e a perceber-se como distintivo". Essas afirmativas explicam que
etnicamente um grupo, um indivíduo pode conceber-se como sendo, em nosso estudo,
português ou espanhol, mas não podemos compreender que o convívio entre ambos não
lhes cause uma aproximação cultural.
Temos que considerar também que, mesmo adotando traços culturais de um outro
grupo, seja pela via da imposição, através da conquista bélica, seja pela via dos casamentos,
129
como já dissemos, uma das maneiras de manter a identidade é reforçar os traços étnicos do
grupo.
Para Poutignat & Streiff-Fenart (1998, p. 154) "as fronteiras entre os grupos
étnicos são mais ou menos estáveis", pois, "no decorrer do tempo as fronteiras étnicas
podem manter-se, reforçar-se, apagar-se ou desaparecer. Elas podem tornar-se mais
flexíveis ou mais rígidas". Isso especialmente num território imenso, cujas fronteiras não
estavam definitivamente delimitadas, como era o caso do Brasil.
Dessa informação podemos extrair que há proximidade nas relações sociais, no
momento em que se observa que as influências são mútuas, o que gera transformações em
maior ou menor grau.
Se por um lado as fronteiras geográficas impõem limites, o mesmo não acontece
com as fronteiras étnicas, pois no dizer de Poutignat & Streiff-Fenart (1998, p. 154) "elas
nunca são oclusivas, e sim mais ou menos permeáveis". Essa permeabilidade, em nossa
ótica, aproxima os membros das fronteiras, seja por amizade, ou por necessidade
econômica, ou por interesses financeiros ou até para não criar um isolamento humano.
Essa idéia reforça a imagem dos castelhanos como inimigos dos habitantes do
continente, que Erico explora no romance
Mas se aqueles renegados não quisessem respeitar nem as pessoas, o remédio era resisitr e morrer como homem, de arma na mão.
(...) Uma voz rouca perguntou: - Donde están los otros? - Dentro de casa. - Que salgan! Bamos! - Vosmecê pode me dizer ... - começou Antônio. - Perro súcio! (1999, v. 1, p. 121).
Esse exemplo deixa transparecer a situação de pertença dos que estão inseridos no
continente, como perfeitamente identificados e reconhecidos como os integrantes de uma
130
mesma coletividade, em oposição aos estrangeiros, ou sejam os outros da fronteira, aqueles
que habitam qualquer lugar para além do Continente. Isso tudo não significa, entretanto,
que a presença espanhola não seja uma das matrizes de formação da sociedade rio-
grandense.
A concepção do eu e do outro é vista por Poutignat & Streiff-Fenart (1998, p. 158)
também como uma situação de nós/eles presentes na fronteira, quando afirmam que as
fronteiras étnicas "se estendem ou se contraem em função da escala de inclusividade na
qual se situam e da pertinência, localmente situada, de estabelecer uma distinção nós/eles.
Um exemplo pinçado da obra Ana Terra54, de Erico Verissimo, valida a afirmação
dos dois autores anteriormente referidos. O autor assim se pronuncia.
Baseado em acontecimentos históricos que antecederam a tomada das Missões, o autor constrói uma comunidade (o nós) em que todos são de origem portuguesa ou, pelo menos, estão sob a guarda e a tutela do responsável pela defesa do território e representante legal do governo luso. Exemplo encontramos na cena em que Ricardo Amaral relata ter sido recebido em audiência pelo governador. O espanhol mais uma vez aparece como o inimigo, o outro. Diz: General, preciso que o governo me conceda mais sesmarias para as bandas do poente. Vossa mercê precisa saber que meus campos ficam a dois passos do território inimigo. Mais cedo ou mais tarde os castelhanos nos atacam de novo... (2000, p. 211)
Esse exemplo nos expõe duas situações. A primeira, quando a personagem solicita a
concessão de mais sesmarias, pois isso significa avançar para o oeste, para as terras
castelhanas, numa tentativa de rechaçá-los cada vez mais para longe. A segunda reforça a
crença de serem os espanhóis os inimigos , os outros e, portanto, não formadores das gentes
do Rio Grande. Quando a mesma autora diz "todos são de origem portuguesa ou, pelo
54 VERISSIMO, Erico. Ana Terra. Porto Alegre: Globo, 1977.
131
menos, estão sob a guarda e a tutela do responsável pela defesa do território e representante
legal do governo luso", ela clarifica a situação de "todos" serem de descendência lusa. Essa
é a forma como as elites legitimavam a sua posse da terra e garantiam a grande
propriedade. Mas quando afirma "ou pelo menos (...) a guarda e a tutela do (...)
representante legal do governo luso" isso diz claramente que nem todos eram portugueses.
Alguns, ou muitos podiam ser de outras nacionalidades, inclusive a espanhola/castelhana.
As fronteiras móveis, cuja manipulação era feita na Europa, entre Espanha e
Portugal, visando os seus interesses na América Latina, ao invés de distanciarem
castelhanos e brasileiros, ao invés de nos excluírem acabaram, ao longo do tempo,
aproximando-os pelas mais diversas maneiras.
Quanto a Erico, é perceptível que há momentos de sua obra em que ele trata os
castelhanos como os outros da fronteira, isso é pertinente, uma vez que a visão do narrador
é a do Continente de São Pedro em direção a outras paragens. É uma obra de ficção, mas
que se vale da História para tecer as tramas da mesma e, no momento da escrita da obra a
corrente lusa apresentava-se como hegemônica no cenário sócio-cultural do estado.
Erico Verissimo, ao relacionar a história do Rio Grande do Sul ao seu romance,
oportunizou uma discussão, pela ótica e pela fala de seus personagens, a respeito das
questões sócio-históricas do Estado, discutidas na busca pela sua própria identidade no
cenário nacional, na defesa da fronteira geográfica contra os platinos, tematizada em duas
situações: na questão do eu e do outro e na defesa da terra como pressuposto básico para a
supremacia da classe dominante, que não apenas ocupa um espaço definido, mas determina
os que dele podem ou não fazer parte.
2.2. Os Espaços: a casa, o sobrado, a fronteira
132
"(...) a casa não vive somente do dia-a-dia, no curso
de uma história, na narrativa de nossa história. Pelos sonhos, as diversas moradas de nossa vida se
interpenetram e guardam os tesouros dos dias antigos".
BACHELARD, Gaston.
Desvincular o espaço do tempo: eis uma tarefa impossível. Todo espaço e tudo o que
está no espaço gira em torno do tempo e todo o tempo marca um momento, uma situação a
qual só existe porque está inserida num determinado lugar, seja ele a casa, a fronteira, pois
espaço e tempo não se separam.
Ao falarmos de espaços, queremos situar que trataremos das fronteiras, da casa, do
Sobrado e da grande propriedade, no contexto do romance O Continente de Erico
Verissimo e na visão de suas personagens.
Nosso enfoque inicia-se no século XVIII e tem uma data fixa, 1745. A partir daí
vamos ter um sem número de guerras, marchas e contramarchas, que poderão nos fazer
enxergar a movimentação das fronteiras que ora limitavam portugueses e espanhóis ou
quem sabe brasileiros e castelhanos, ora aproximavam-nos.
Nossa dissertação não versa diretamente sobre as fronteiras geográficas como já
afirmamos. Contudo, elas aparecerão em maior ou menor grau. Nesse sentido,
periodicamente estaremos esbarrando nesse conceito, porquanto ele serve para elucidar
algumas perguntas, entre elas a questão do Estado-Nação.
O Estado-Nação na concepção de Edgar Morin apud GOLIN é
um ser ao mesmo tempo social, político, cultural, ideológico, mítico, religioso. É uma sociedade vivendo num determinado território, e organizada. É uma entidade política dotada de um Estado e de leis próprias. É, culturalmente, uma comunidade de destinos comportando a sua memória e os seus costumes particulares. É um sistema ideológico de racionalização autocêntrica. É um ser mítico de substância simultaneamente
133
maternal e paternal: a Mãe-Pátria. É finalmente, como viu Toynbee, uma religião de tipo especial, onde, de maneira quase durkheimiana, o estado-nação se autodeifica. Todos estes constituintes são não só complementares, mas recursivamente associados, cada um deles produzindo os outros que, por sua vez, o produzem. (2002, p. 66)
A idéia de nação55 traz, ao senso comum, a idéia de uma sociedade politicamente
organizada, com os mesmos usos, costumes, religião, história, enfim com a mesma cultura
como sinônimo de todas as expressões que o ser humano pode dispor e mostrar, num
território comum.
Ao procedermos essas afirmações, extrapolamos a idéia de que a nação é
simplesmente o povo, pois acabamos concluindo que se ela, a nação, pressupõe todos esses
requisitos, ela é então politicamente organizada. E se ela pode ser assim classificada,
estamos tratando do Estado-nação.
Ruben Oliven apud GOLIN (2002, p. 66) explica que "assim como o Estado-nação
procura delimitar e zelar por suas fronteiras geopolíticas, ele também se empenha em
demarcar suas fronteiras culturais, estabelecendo o que faz e o que não faz parte da nação".
Transportando a explicação do autor para O Continente, podemos perceber
claramente a não-pertença dos castelhanos na formação étnico-cultural do Rio Grande do
Sul, uma vez que se luta por demarcar as fronteiras geográficas. Há, portanto, uma
integração indissociável quando falamos em Estado-nação e quando tratamos das questões
étnico-culturais.
55 "O estabelecimento do Estado como entidade responsável pelo funcionamento da sociedade corresponde ao enfraquecimento do poder e influência da família que abre mão da faculdade de arbitrar sobre os problemas tanto internos - domésticos - como externos ao alcance de sua órbita de atuação". Explicação de Zilberman, R. Saga Familiar e História Política. In. GONÇALVES, R. P. O Tempo e o Vento: 50 Anos. Santa Maria, RS: UFSM; Bauru, SP: EDUSC, 2000, p. 38.
134
Não há como separar um termo do outro. Se num primeiro momento, queremos
demonstrar a formação identitária do Rio Grande do Sul, é, num outro momento, desejamos
tecer considerações sobre o que vem a ser estado-nação, podemos fazê-lo paras fins
didáticos, mas invariavelmente a questão vai mesclar-se, pois estamos falando do
estabelecimento de um estado que só existe se tiver a presença de grupos sociais, de leis, de
uma cultura, uma religião, e um idioma comuns, em um território delimitado.
Marcel Mauss faz algumas comparações a respeito de nação - conceito advindo com
a modernidade histórica - e clã - noção primitiva de agrupamentos humanos, mas que, ao
compará-los, vamos encontrar inúmeras semelhanças. O autor assim se reporta à nação,
dizendo que a mesma.
é homogênea como um clã primitivo e supostamente composta por cidadãos iguais. Ela tem a bandeira como símbolo, como o clã tinha o seu totem; ela tem seu culto a Pátria, como o clã tinha o de seus ancestrais animais-deuses. Como uma tribo primitiva, a nação tem o seu dialeto elevado à dignidade de uma língua, como um direito interno oposto a um direito internacional. [...] O totemismo seria em última análise um modelo de o clã cultuar a si mesmo, ou seja, a maneira externa e visível do culto da sociedade por seus membros que nesta fase primitiva não conseguiriam representar o caráter sagrado e complexo de sua sociedade por outro meio que não seja o emblema, o símbolo e signo. Assim, o totem, o símbolo que representa o clã, seria hipostasiado e tornar-se-ia associado à segurança, ao bem-estar e à continuidade do clã. apud GOLIN (2002, p. 67)
A nação é, portanto, uma ficção à qual os homens se agregam para se defenderem,
para se desenvolverem, e para darem continuidade e perpetuação a sua espécie. Não
importa o regime, o sistema ou a forma de governo; o fato é que a invenção da teoria da
nacionalidade deu certo e expandiu-se pelo mundo e toda a vez que saímos fora do nosso
espaço territorial vemos aflorar, com grande intensidade, o nosso sentimento de
135
nacionalismo.
No que se refere ao Brasil como um todo, e ao Rio Grande do Sul, em particular,
temos a considerar que não se encontra em nosso país a fórmula européia do Estado-nação,
como nos assevera Golin:
No estudo sobre a construção do Estado-nação brasileiro, não se percebe o elemento positivo das nações européias, aquela idéia subversiva, conforme escrevera Lord Acton (...). Em parâmetros modernos europeus, para o Brasil, é duvidosa a idéia de "nacionalismo" no período imperial, quando o Estado-nação foi consolidado, especialmente a partir da década de 1850, na qual se encontra inserido o Tratado de Limites com o Uruguai e a definição conclusiva da fronteira sulina. Em um país escravocrata, a construção do Estado-nação viabilizava-se, predominantemente, pela esfera política ambientada no estamento burocrático. Na equação liderança carismática mais povo, representativa na formação do Estado-nação, não se registra a presença significativa do segundo elemento. (2002, p. 68).
Temos a considerar, da fala de Golin, que a subversão de que o autor nos fala era
mudar radicalmente o status quo estabelecido o que seria praticamente impossível num país
que até 1822 fora colônia e, uma vez independente, transformou-se em Império, sob o
comando de um rei português. Além disso, no Brasil não havia o glamour do Primeiro,
Segundo e Terceiro Estados, como na França. Aqui, as lideranças chamavam-se
caudilhos56, e estavam todos atrelados ao Poder. Quanto à "presença do povo" fica clara a
56 COSTA PORTO. Pinheiro Machado e seu tempo. Tentativa de interpretação. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951. O autor explica que o caudilhismo " traduz fenômeno cem por cento sul-americano, em cujos quadros atua como uma constante; mas o que subjaz nas franjas é uma coisa universal, sintetizando o ponto de convergência de inclinações também universais. Historicamente nada tem de exclusivismo, de marca de fábrica do novo continente, pois exprime a preeminência fatal do homem forte, impondo-se sob a pressão da necessidade de disciplinar os aglomerados humanos, onde não chegam os freios da ordem pública, através do Estado".FELIX, Loiva Otero. Coronelismo, Borgismo e Cooptação Política. Porto Alegre:Ed.Universidade/UFRGS, 1996, p. 46. Para esta autora caudilho/caudilhismo é "um tipo de dominação específica, emergindo de situações históricas próprias de enfraquecimento ou ausência de um poder central". FLORES, Moacyr. Dicionário de História do Brasil. Porto Alegre: EdPUCRS, 1996, pp. 123-24. "Na região platina os caudilhos eram chefes políticos que assumiam o governo pela força e às vezes pelo voto, exercendo-o ditatorialmente. Quando na oposição, comandavam forças revolucionárias para depor o governo. No Brasil o termo é empregado pejorativamente, no sentido de que o político pretende se apossar do governo por um golpe de força para instalar um governo autoritário.
136
sua não participação, considerando a questão da escravidão por um lado, que não fazia
desses homens cidadãos, e, por outro a presença de uma pequena minoria atrelada ao Poder,
os senhores "respeitáveis", e ainda aqueles que, embora livres, eram dependentes diretos
dos caudilhos.
A outra situação com respeito ao estado-nação, no que tange ao Rio Grande do Sul,
é explicada por Golin da seguinte maneira.
Os traços constitutivos da região sulina surgiram antes de o Brasil se transformar em Estado-nação. Estrategicamente situada no Prata, teve função predominantemente na consolidação territorial do próprio país.
(...) Dessa forma, a fronteira é o espaço histórico de uma explicação sobre a formação da sociedade sulina e de sua identidade, a representação de um lugar de alteridades em relação ao "castelhano" e, contraditoriamente, à nação brasileira. (2002, s/p contracapa do livro)
Essa explicação de Golin reforça a nossa compreensão quando tratamos da questão
da busca pela identidade do Rio Grande do Sul, bem como a questão das alteridades que
relacionava, aproximando ou não, gauchos e gaúchos, mas que, com certeza distanciavam o
estado das demais unidades da Federação. Era, dessa forma, mais uma luta que o Rio
Grande do Sul precisava travar; a de tornar-se português, por força de fazer parte desse país
de colonização lusa, mas ter o mesmo respeito que os demais.
As disputas de terras com os castelhanos, que deram a conformação atual do Rio
Grande do Sul, as contradições da região sulina com o restante do país e a necessidade de
engajamento e respeitabilidade desse Estado à Federação são fatores a serem considerados
quando se fala em estado-nação. Enquanto o Brasil lutava para tornar-se um Estado-nação,
na acepção do termo, o Rio Grande do Sul disputava terras e rechaçava os platinos, na
tentativa de incorporar-se ao Estado do Brasil.
137
Moysés Vellinho, o último grande defensor da lusitanidade sul-rio-grandense como
única e certa teve, com certeza, todo o respaldo da historiografia da época, que
desconsiderou o espaço fronteiriço do Rio Grande do Sul com os países platinos, voltando-
se excessivamente à uma origem portuguesa. Olhando-se pela ótica de Vellinho, a fronteira
passa a representar a divisão, a separação, e a agrupar os que estão do outro lado como os
diferentes. Ora, se assim o são, não podem fazer parte das origens do gaúcho e, por
conseguinte, do homem brasileiro!
Contrapondo-se a Moysés Vellinho encontramos em Manoelito de Ornellas,
Alfredo Varela, Rubens Dornelles, João Pinto da Silva e outros, a defesa da vertente
platina, também presente na constituição da sociedade sul-rio-grandense, reunindo,
portanto, portugueses e espanhóis, num mesmo espaço geográfico, o que nos permite ver
que, para esses autores, não há como desvincular a história do Rio Grande do Sul da
história platina, em função de uma mesma origem étnica. Ornellas (1969, p. 50), que
considerou a origem portuguesa e espanhola como descendente de uma mesma origem
árabe, certamente pela influência dos quinhentos anos de dominação desse povo na
Península Ibérica, assim define essa relação: “(...) nasce do ventre fácil da índia com o pai
peninsular, dono das tradições, que vinha a América fosse espanhol ou português, trazendo
a indumentária, o cavalo e os meios de vida que o avô oriental lhe ensinara por quase um
milênio de ascendência direta.”
Observamos que, para esse autor, as origens étnicas e culturais do gaúcho não se
desvinculam da origem espanhola, considerando-se o que já se disse antes a respeito da
pertença de Portugal à Espanha. Claro que havia divergências entre os gaúchos do lado de
cá e os gauchos do lado de lá da fronteira geográfica, que divide os territórios. Padoin apud
138
QUEVEDO assim respalda essa visão histórica:
(...) o espaço fronteiriço platino, até a primeira metade do século XIX, caracterizou-se por esta unidade social cotidiana, contendo divergências localistas movidas por interesses econômicos e políticos, e que foram, muitas vezes, estimuladas e provocadas pelo interesse das Coroas portuguesa e espanhola. Como também foi condição e elemento utilizado pela elite local e regional criando uma representação de poder que muito influenciou as relações entre o Rio Grande do Sul e o governo central brasileiro. Representação que possuiu duas perspectivas: o da própria elite local e regional e a do outro. A própria divulgação que os rio-grandenses fizeram de sua imagem colaborou na visão construída sobre o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, no século XIX, com o aumento de proprietários de terras e, com isso, o afazendamento de chefes de "bandos guerreiros", começou a se fortalecer as relações caudilhescas de mando. Uma estrutura social patriarcal, onde o "chefe guerreiro ou proprietário" era também o "chefe de parentela", estruturando-se assim, o poder local, representado na figura do estancieiro-caudilho, que lutava também por seus interesses. (1999, p. 373)
Considerando-se, pois, a movimentação econômica que se sabe sempre ter existido
nas fronteiras, fica muito difícil abstrairmos a não-miscigenação que se processa nas
regiões fronteiriças, seja apenas no linguajar que se mescla, seja também na própria questão
étnica.
Kühn observa que:
Sem desconsiderar a importância do povoamento e ocupação luso-brasileira da região sulina, aponta-se para os variados influxos demográficos de um território fronteiriço. Através do levantamento dos registros paroquiais do período 1747-1780 das principais freguesias sul-rio-grandenses, sugere-se um novo quadro de referência, onde o espaço fronteiriço colonial procura ser compreendido enquanto "fronteira em movimento", com intensa circulação de homens, mercadorias, dentro de um contexto demográfico extremamente heterogêneo. Pretende-se demonstrar, assim, as especificidades da formação do espaço e da sociedade colonial nas regiões de fronteira aberta, com limites políticos ainda não definidos. (1999, p. 92)
Se a historiografia considera a existência de fronteira em movimento, é porque as
fronteiras mudavam de tempos em tempos, quer por disputas locais, no território
139
americano, quer por força de decisões tomadas na Europa, entre portugueses e espanhóis,
os quais não apenas debatiam a questão, como mudavam seus marcos fronteiriços a cada
nova discussão. Com essa movimentação, decidida na Europa, para ser aplicada na
América, parece-nos muito natural que a circulação humana por essas áreas fosse bastante
intensa. E se assim o era só vem a confirmar a influência cultural platina no Rio Grande do
Sul.
Quando essa mesma historiografia aponta para os termos "fronteira aberta", torna-se
claro que "a formação do espaço e da sociedade colonial" estava ainda por ser fixada e isso
possibilitava a disputa por essa área, entre platinos e gaúchos.
É bastante clara a explicação do autor, o que se ajusta à nossa idéia de fronteira,
enquanto limite territorial, o qual, em tese, impõe ao indivíduo normas, regras, leis, pois, de
ambos os lados, esse ir e vir esbarra no marco delimitador. Por outro lado, é praticamente
impossível dissociar a fronteira geográfica da fronteira étnico-cultural, pois estamos
lidando com o ser humano e suas circunstâncias, a sua bagagem cultural, a qual ele adquire
ao longo de uma vida de convivências, influenciando e sendo influenciado pelos seus
circundantes.
Reverbel, um dos defensores da matriz platina, presente na formação étnico-cultural
do Rio Grande do Sul, assim se refere:
Enquanto "terra de ninguém", não passando de enorme criatório bagual de gado chimarrão, boa parte do território rio-grandense correu o risco de tornar-se platina. Sua posição geográficas, seus rudimentos econômicos e suas tendências culturais a inclinavam naquele sentido. Isso deixou de acontecer, como observa Guilhermino César, "porque um fato econômico transcendente viria alterar o quadro político e social do Brasil: a descoberta do ouro no rio Tripuí, em Minas Gerais, ao findar o século XVIII".(1996, p. 77-8),
Quando o autor diz "boa parte do território rio-grandense correu o risco de tornar-se
140
platina" e ele explica as condições desse favorecimento, isto nos esclarece a respeito da
matriz dual na formação sul-rio-grandense, assim como nos informa também sobre a
situação econômica do Rio Grande do Sul, reforçado pelo que diz Guilhermino César, "um
fato econômico transcendente viria alterar o quadro político e social do Brasil: a descoberta
do ouro em Minas Gerais". Parece-nos que, não fosse o fato de termos uma economia
subsidiária que sustentasse o "novo Potosí" e o Rio Grande do Sul, ou pelo menos boa parte
dele, não seria português, dado ao desinteresse demonstrado pela metrópole, por tantos
anos.
Félix reforça a tese dos autores acima citados, e também a a no que tange ao
processo de formação do Rio Grande do Sul, quando destaca que:
A região permaneceu longo tempo inexplorada, nos séculos XVI e XVII por não apresentar interesses econômicos para Portugal. A ocupação se fez, basicamente, no século XVIII, movida por duas ordens de interesses: econômicos, ligados ao tropeirismo, por parte de paulistas e lagunenses, e de defesa da fronteira, por parte de Portugal. Nesse século, o quadro passou a se alterar, em função da ocupação de alguns pontos da vasta região dos Pampas. Nessa fase eram os interesses portugueses que dirigiam e orientavam as tropeadas. Abriu-se o caminho do sul quando, a partir de 1725, os lagunenses desceram para os campos do sul, fixando-se nos campos de Viamão, e os paulistas dirigiram-se aos campos de Vacaria, interessados na indústria pastoril e no comércio de gado. No transcurso do século XVIII, o Rio Grande do Sul iniciava sua integração nacional através dos interesses, principalmente paulistas, de apresamento do gado, da mesma forma que também os jesuítas retornavam ao Rio Grande do Sul, fundando os Sete Povos das Missões e passando a transportar rebanhos para a zona da serra. (1996, p. 36)
O tropeiro será um dos grandes responsáveis pela abertura de novos caminhos por
onde levavam tropas de gado do sul do país para serem vendidos nas feiras de Sorocaba,
em São Paulo.
141
A Coroa portuguesa, objetivando a ocupação do Rio Grande, distribuiu, em meados
do século XVIII, sesmarias57 aos tropeiros que manifestavam intenção de se fixar à terra e
aos militares58 que se licenciavam do serviço militar, definindo assim a posse da terra e do
gado e a guarda das terras para Portugal
Reverbel assim se refere à presença dos sesmeiros:
Encastelado em sua sesmaria, como senhor feudal, o estancieiro tornou-se caudilho e instrumento da ocupação lusitana da antiga "terra de ninguém". As terras que lhe eram concedidas seriam a garantia de sua fidelidade à coroa portuguesa. O paradigma da classe se chamava Rafael Pinto Bandeira, descendente de lagunistas e tido como o primeiro caudilho rio-grandense. (1996, p. 90-1-2)
A dificuldade em demarcar os limites entre Portugal e Espanha, nas terras do sul da
América, levou à necessidade do reforço militar na região. Para isso a Coroa portuguesa
recorreu aos estancieiros que, com suas forças irregulares, passaram a engajar-se na defesa
da terra. Isso obrigou a Coroa a conceder autoridade aos senhores de terra no Rio Grande
do Sul, ao mesmo tempo que distribuía sesmarias na bacia do Jacuí, aumentando a
ocupação do interior.
Barroso apud GÜNTER (1992, p. 42) teoriza que a concessão de sesmarias teve
importância vital para que o território do Rio Grande do Sul se tornasse, aos poucos,
português. A autora afirma que “Não fosse o processo de legitimação de "arranchamentos"
ou a doação de terras através dos títulos de concessão de sesmarias seria muito provável
que o oeste sulino se conservasse sob o domínio espanhol, conforme determinava o Tratado
de Santo Ildefonso.”
57 PESAVENTO, Sandra J. História do Rio Grande do Sul Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982, p. 15. Sesmarias eram terras devolutas, medindo em regra 3 léguas por 1 légua (cerca de 300 hectares) 58 Foi, no entender de Reverbel, o período de "maior número de concessões, (...) distribuindo-se entre os oficiais e soldados que davam baixa do serviço ou se mantinham em armas. (REVERBEL, opus cit., 1996, p. 92)
142
De certa maneira, no Rio Grande dessa época, as forças irregulares pesaram mais
que as enviadas pelo Reino, onde todo homem válido era um soldado em potencial.
É significativo, pois, o intento dos portugueses: garantir um território, que ainda não
era seu. Para que isso se efetivasse, a garantia residia numa questão estratégica, pois, sendo
as sesmarias grandes extensões de terra e, pertencentes a um só dono, a idéia era a defesa
dessas terras, pelos sesmeiros, que em última análise as estavam defendendo para Portugal,
uma vez que o Brasil era sua colônia. Continuando, a autora explica ainda que:
Enquanto os espanhóis promovendo uma ocupação dispersiva se preocupavam em fundar grandes cidades, os portugueses, ao conceder grandes extensões de terras, promoviam um povoamento extensivo, de maior domínio estratégico. Assim, as terras foram sendo povoadas na direção sudoeste. Nessa área em disputa, palco de muitas lutas fronteiriças, a classe de estancieiros-soldados que se formou pelo privilégio de ocupar os campos lentamente ganhos do "inimigo", ao resguardar o controle, o domínio da área lusitana. Eis a singularidade dessa política: a Coroa ao legalizar a posse transferia ao proprietário o ônus da manutenção da terra, garantindo e resguardando automaticamente os seus domínios no extremo-sul brasileiro. Nesse contexto, a estância se constituía, pois, numa verdadeira fortaleza. Sem dúvida consistiu esta uma estratégia exitosa que conseguiu empurrar a fronteira até o rio Uruguai. (1992, p. 4 )
A política de sesmarias foi, sem dúvida, a garantidora da posse portuguesa às terras
que não eram suas, pois ao fazer a doação de grandes extensões territoriais, tinha, em
contrapartida, não só "gente sua", ocupando o local, mas, o que é muito significativo,
defendendo-o dos castelhanos.
Essas disputas de terras, decididas na Europa, interferem sensivelmente na
configuração geográfica do Rio Grande do Sul que, ora tem sua fronteira aquém, ora além
das reduções jesuíticas orientais.
Como explica Gutfreind:
Os contornos geográficos do Rio Grande do Sul atual sofreram modificações através de sua história. No período das lutas entre Portugal e Espanha pelas terras ao sul do continente, ora espaços foram anexados, ora perdidos por um dos
143
Impérios, em detrimento do outro. Exemplifica-se com a fundação de núcleos de povoamento, como a Colônia do Sacramento, em 1680, dilatando o domínio português ao rio da Prata e, conseqüentemente, uma maior extensão de terras passa a compor o extremo sul; a conquista e permanência espanhola, no século XVIII, em áreas de povoamento luso, de 1763 a 1776, uma vez mais locomoveu as fronteiras; a anexação da extensa área das Missões, a noroeste, em 1801, criou novos contornos para as terras do extremo sul, e o Rio Grande do Sul, em suas feições atuais, é dessa época. (1992, p. 21)
Não há como ignorarmos a presença, a interferência, a influência entre espanhóis,
portugueses, indígenas nas terras e na cultura rio-grandense, uma vez que esses povos,
devido às modificações fronteiriças, impregnavam com suas culturas e seus conhecimentos,
as terras que iam habitando.
A questão do Rio Grande do Sul pertencer aos lusos ou aos espanhóis é uma questão
de base política entre Portugal e Espanha pela disputa de terras no continente sul-
americano, que se reflete nas questões étnico-culturais. A assinatura e/ou o
desmantelamento de tratados: Madrid, Santo Ildefonso, El Pardo, promove uma
movimentação fronteiriça que logicamente vai se refletir nas questões culturais e étnicas.
É a partir das disputas territoriais que entendemos que as fronteiras geográficas do
Rio Grande do Sul não foram durante muito tempo bem definidas, ou seja, eram fronteiras
móveis. Essa mobilidade fronteiriça, em algum momento, começa a interferir na fronteira
étnico-cultural que, ora aproximava, ora distanciava as pessoas.
A primeira fronteira que se observa em O Continente é a relação que se estabelece
entre o campo e a cidade e, por conseguinte, a ambivalência entre a sociedade agropastoril
patriarcal patenteada pela estância e a sociedade citadina burguesa, que vai se formando, ao
longo do tempo, no romance.
Chiappini apud HOMENAGEM A ERICO VERISSIMO, assim explica a respeito
de O Tempo e o Vento, o que pode ser aplicado a O Continente.
Em O Tempo e o Vento, as cenas ambientadas em Santa Fé terão sempre como
144
pondo de referência o campo de um lado e a cidade de outro, a sociedade rural patriarcal, sob o signo da estância e a sociedade burguesa, sob o signo da cidade. O contraponto permanente fará com que não se tenha aí uma oposição simplista que atribua à cidade as luzes e ao campo a gnorância e a barbárie ou, inversamente, a este a pureza e a fartura; àquela a corrupção e a miséria. (1995, p. 323)
Desse modo, vamos verificar, no desenrolar da história rio-grandense as
modificações que se impõem por força de uma sociedade em mutação. Assim, com o
advento da industrialização, a estância começa a perder prestígio econômico e financeiro,
com a saída de braços, que trabalhavam na lavoura e na criação de gado, os quais se
dirigem às cidades onde está a "garantia" de um salário fixo mensal, onde se vislumbra o
futuro e, com isso a estância perde também sua importância política, paulatinamente.
Conforme explica Zilberman:
(...) do andarilho Rodrigo Cambará chega-se aos poderosos chefes políticos no final do século 19, encabeçados por Licurgo Cambará. Trata-se, por isso, de um processo de tomada de poder, matéria que conforma O Continente, e sua perda, devido às transformações sociais sofridas e à desagregação da própria dinastia Cambará. A história do Continente sulino confunde-se com a trajetória dos donos do poder, revelando que o percurso político do Estado sempre atendeu aos interesses da camada proprietária, protagonizada pela família em questão. E que seu deslocamento em relação aos eixos decisórios se deveu à decadência desta mesma classe, já que depositou seu destino nas mãos dela por muito tempo. (1980, p. 85)
É quando podemos aferir que a política é a grande saída encontrada por Erico, para
dar uma nova conformação e atuação aos Amaral e aos Terra-Cambará. Como ensina
Fresnot (1977, p. 27): “A força dos Amarais ou dos Cambarás está na posse da terra que
lhes permite explorar a maioria, aqueles que quase ou nada possuem. Quantos Carés para
um Cambará haverá em Santa Fé, São Paulo, Pernambuco...?”
Como já dissemos previamente na página 75, a posse da terra é também a garantia
da "respeitabilidade política" tanto dos Amaral como dos Terra-Cambará. É a política da
imposição, quer pelo dinheiro, quer pelo poder político, quer pela força policial. Aos Carés,
145
e outros tantos, resta a resignação de obedecer a um ou a outro. Entretanto, apesar da
condição social, econômica e política, todos eles são os representantes da sociedade
gaúcha. E como nada é eterno, encontramos uma passagem ilustrativa em Erico, que
começa a delinear os novos rumos de Santa Fé:
No princípio dum novo verão chegou um mensageiro com a notícia de que o Cel Ricardo tinha sido morto num combate e que os filhos estariam de volta a Santa Fé dentro de três meses, com os soldados que tinham "sobrado" da guerra. Na estância de Santa Fé houve choro durante três dias e três noites. As mulheres nos ranchos estavam ansiosas, queriam saber quantos haviam sobrevivido dos quarenta e tantos que tinham partido, fazia mais dum ano. O mensageiro entortou a cabeça, revirou os olhos e respondeu, depois de alguma reflexão: - Sobraram uns vinte... - E como visse consternação no rosto das mulheres, fez uma concessão otimista -... ou vinte e cinco. E se foi, assobiando uma música de gaita que aprendera nos acampamentos da Banda Oriental. - Mas Pedro está vivo - disse Ana Terra para si mesma. - Uma coisa dentro de mim me diz que meu filho não morreu. -Tomou a mão da futura nora e arrastou-a para o rancho, dizendo: _ Temos de arrumar a casa pra esperar o noivo. (1999, v. 1, p. 144)
A família Amaral será, por muito tempo, a senhora absoluta de Santa Fé, povoado
fundado por Ricardo Amaral, que o legará a seus descendentes, até que com a mudança de
situação política essa mesma força passará às mãos dos Terra - Cambará.
Como afirma Souza in GONÇALVES.
No romance de Erico Verissimo, o espaço físico de Santa Fé, atravessa o tempo, enfrenta o vento e participa do contexto da ficção, não apenas como cenário, de forma passiva, mas também como uma personagem, cujo papel é nortear ou orientar o percurso do tempo, de todas as outras personagens. Tanto os espaços urbanos como os arquitetônicos representam papéis significativos, haja visto o papel do Sobrado, o casarão dos "Amarais", a Igreja ou a Intendência, além evidentemente da praça com sua figueira, ou das zonas do Barro Preto e Purgatório, para citar apenas alguns. Eles fazem parte do passado e do futuro. (2000, p. 232).
O espaço tem uma significância muito forte na obra de Erico. Já nos referimos aos
espaços da casa, destinados à mulher, que é propriamente o espaço do lar. Esse é o lugar
destinado às dignas senhoras, mães de família, esposas devotadas e filhas obedientes. O
outro espaço, o externo, pressupõe a rua, por onde não só podem como devem circular os
homens. Esse é o espaço do cidadão, do homem do dia-a-dia, é o espaço que conota
146
liberdade.
É interessante observar que, embora haja, em tese, uma delimitação dos espaços
feminino e masculino, na realidade não há uma fronteira que os separe, pois as mulheres
não são impedidas de saírem às ruas; o que se impõe é que elas não participem das
discussões públicas. Quanto aos homens, entram e saem de suas casas com a mesma
liberdade que lhes é peculiar.
Existe, no romance de Erico, um número significativo de personagens. Entretanto,
todos giram em torno de três grandes famílias: os Amarais, os Terras e os Cambarás. Os
caractéres de cada uma não se esgotam em função da morte de seus representantes
principais, ao contrário, se presentificam nos seus descendentes.
Moraes assim os descreve:
Eis os Amarais, fundadores de Santa Fé, caudilhos prepotentes, em que o mandonismo estreito se associa à astúcia rude e à cupidez. Nos Terras, há a reserva, a esquivança e o fatalismo do índio ancestral, assim como lealdade, ardor contido e uma calma e tenacidade frias. Os Cambarás, de sangue ardente, índole aberta e franca, são impetuosos, explosivos, passionais. (1959, p. 222)
Na obra de Erico, nossa representante lusa abastada é a grande família de Ricardo
Amaral - estancieiro, chefe militar e político. Na história dessa época, podemos citar
"Bento Gonçalves da Silva" (...) misto de estancieiro - guerreiro - estadista" (Brasil, 1993,
p. 137 apud GONZAGA & FISCHER).
As personagens de O Continente, envolvidas de uma maneira ou outra com a
formação do Rio Grande do Sul e sua necessidade de crescimento e desenvolvimento
constituíram seus laços não apenas entre si, oportunizando o crescimento de Santa Fé, mas
principalmente com a terra, representante de força, riqueza e poder.
A obra de Erico é toda permeada de fatos históricos. O período entre 1777 e 1811,
usado pelo autor é, no entender de Reichel in GONÇALVES:
147
... fundamental para a delimitação do atual território do Rio Grande do Sul, pois, além de seu início ser marcado, como refere Erico, pela expulsão dos espanhóis das terras do continente, ele corresponde ao momento da expansão portuguesa para o oeste e para o sul da linha de Tordesilhas. Corresponde, assim, a um momento de construção de novas fronteiras, quando o território se estendeu até o rio Uruguai, através da anexação da área missioneira e, no sul, foram ocupadas as terras que correspondiam aos campos neutrais. (2000, p. 210)
Essa movimentação lusa, para além do que dispunha o Tratado de Tordesilhas,
parece-nos fundamental no que tange à idéia de mobilidade fronteiriça - aqui
especificamente tratada em O Continente - no que se refere a portugueses e espanhóis, pela
disputa de terras do Novo Mundo. É a transposição da linha demarcatória que, pouco-a-
pouco, vai tomando espaço e ganhando forma para configurar-se no que é, hoje, o Rio
Grande do Sul.
A terra aqui é não apenas o chão onde se planta e se colhe, onde se criam os
animais. Ela é também a casa, é a defesa da fronteira, é a conquista de novos espaços.
"Precisamos de gente. Um dia inda hei de mandar uma petição ao governo pra fundar um
povoado aqui"59. Essas foram as palavras do Coronel Ricardo Amaral para Ana Terra
quando ela chegava a Santa Fé. Percebe-se, dessa frase, não apenas o desejo do Coronel em
fazer crescer o povoado, mas também o de Ana em esquecer o passado, ao dirigir-se para
uma terra estranha, como se depreende dessa passagem de Erico, em que Ricardo Amaral
conversa com Ana Terra:
- Onde está o marido de vosmecê? Ana não teve a menor hesitação. - Morreu numa dessas guerras. (1999, v. 1, p. 137)
Há muitas maneiras de se compreender a terra. A visão do Cel. Amaral é a do
148
estancieiro, rico proprietário, político poderoso. Mas a terra é mais do que essa visão
individualista da personagem. Ela representa "a imagem arquetípica da 'grande mãe'"60. É,
pois, a imagem de ventre, útero. É também a segurança, pois é onde são "plantadas" as
raízes que, fecundadas, darão continuidade às famílias. Não é por acaso, que terra se torna
substantivo próprio na obra de Erico.
A terra demarca um espaço, portanto estabelece uma fronteira que às vezes é
intransponível, outras vezes não, às vezes é móvel, outras vezes não, às vezes aproxima os
homens, outra vezes os distancia. E disso pode advir a guerra, a disputa, a "peleia", a
conquista. Ela é também o espaço onde se pode construir: uma família, uma morada - que
em nosso estudo simboliza-se pela casa e pelo Sobrado, pois "todo o espaço realmente
habitado traz a essência da noção de casa"61. A terra determina o espaço dos que a possuem
e portanto, são os "senhores", gente importante e influente na política, e o espaço dos que
nada têm e, portanto, aficam jados do poder.
Quando falamos em casa, em nossa dissertação, sinalizamos para a existência de
rancho, casa de campo e de cidade, galpão "porque a casa é o nosso canto do mundo (...) é
o nosso universo"62. Deixamos o Sobrado à parte, embora também seja uma das
representações de casa, propositadamente, pois entendemos que a importância que Erico
destaca a ele confere-lhe uma descrição mais pormenorizada e um significado especial.
O rancho é uma construção rude "feita de barro, muito comum nos campos do Rio
Grande do Sul, principalmente à beira dos banhados e restingas (...) a porta era de couro".
59 VERISSIMO, Erico. O Continente. São Paulo: Globo, 1999, v. 1, p. 137. 60 MAROBIN, Luiz. Imagens arquetípicas em O Continente, de Erico Verissimo. São Leopoldo: EdUNISINOS, 1997, pp. 37-8 e 43. O autor explica que Arquétipo vem de "arché typos", cunhado primeiro, modelo original"(...). Significa (...) modelo exemplar, padrão, tipo primordial, modelo do seu criador, modelo original (...) paradigma.” 61 BACHELAR, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 25. 62 BACHELAR, Gaston. Op. cit., p. 24.
149
(MAROBIN, 1997, p. 76). Essa é uma descrição que demonstra não só a simplicidade da
construção em si, mas também a de seus habitantes. Erico retrata o rancho de Ana Terra,
comparativamente, à descrição. "O rancho não era grande. Constava de uma só peça
quadrada com repartições de pano grosseiro... Ali fazia as refeições e fiava nas noites frias"
(ERICO, 1999, v. 1, p. 87). A finalidade do rancho, embora humilde é cumprida, ou seja,
abrigar os seus ocupantes, do rigor do vento Minuano.
O galpão é muito simples também: "quatro paredes, um telhado e uma porta. Às
vezes apresenta-se com um dos lados abertos. No galpão dormem os peões ou camponeses,
onde fazem seu fogo de chão para tomar mate ou churrasquear (...)"(MAROBIN, 1997, p.
77). O galpão é uma das construções mais tradicionais nas estâncias do Rio Grande do Sul,
localizando-se nos fundos do quintal É o lugar onde "nas horas de folga, reúnem-se peões,
estancieiros, viajantes, empregados das estâncias, para horas de lazer, para contar 'causos'"
(MAROBIN, 1997, p. 78).
A casa de campo é igualmente simples, rústica e o que a separa das demais
construções é que nela "vive a família de maneira estável e organizada". (MAROBIN,
1997, p. 79). Essa família, de que o autor fala, é a do estancieiro.
A casa de cidade que tomamos por base é a da personagem Pedro Terra. Erico assim
a descreve
ficava numa esquina da praça, perto da capela, com frente para o poente. Baixa, de portas e duas janelas, tinha alicerces de pedra, parede de tijolos e era coberta de telhas. Os tijolos haviam sido feitos por Pedro em sua olaria (...). Não era muito grande. Tinha uma sala de jantar, que eles chamavam varanda (...), dois quartos de dormir, uma cozinha e uma despensa, que era também o lugar onde ficava o bacião em que a família tomava seu banho semanal (...). A cozinha, que era a peça que o dono da casa preferia, por ser a mais quente no inverno e a que mais o fazia lembrar outros tempos - chão de terra batida, cheiro de picumã, crepitar de fogo, chiado da chaleira - ficava bem nos fundos da casa, com uma janela para o quintal onde havia laranjeiras, pessegueiros, cinamomos, um marmeleiro-da-índia, e o poço. (1999, v. 1, p. 191)
150
A casa era pequena, sim, pobre igualmente, mas com uma finalidade especial:
estruturada em termos arquitetônicos e com o mínimo de conforto para abrigar sua família.
A casa de Pedro Terra tem uma significância notável. Ela não é apenas um abrigo, ela é
algo presente na vida familiar. Essa é a casa que, com o tempo, dará origem ao Sobrado.
A casa de Pedro Terra, embora simples, já nos acena com uma certa importância: a
de estar localizada na praça. Nesse momento ela é apenas a casa de uma família para quem
só restou essa moradia. Com o passar dos anos, porém, dando ensejo à edificação do
Sobrado e retornando essa casa às mãos da família Terra, o que podemos constatar é o
óbvio: o Sobrado ocupa um lugar de destaque - a praça da cidade de Santa Fé. Quem nele
reside são pessoas que, com o tempo, adquiriram prestígio social e político; é o poder de
uma elite aliado à riqueza que passou a possuir.
Para a personagem Pedro Terra, a casa tem um valor inestimável e isso é "passado"
aos descendentes, por exemplo quando Bibiana retoma essa "terra" transformada em
Sobrado, muitos anos depois, casando seu filho Licurgo com Luzia Silva, então dona do
Sobrado.
Ao iniciar O Sobrado, Erico faz dele toda uma descrição arquitetônica, mas também
retrata as características físicas e psicológicas de suas personagens, suas angústias, seus
medos, suas alegrias, a vida do dia-a-dia, as guerras, os acontecimentos sociais. E o grande
acontecimento histórico que é a Revolução Federalista (1893 - 1895), a qual mistura-se ao
cerco do Sobrado e à vitória dos Cambará sobre os Amaral, ou seja, a vitória republicana e
castilhista.
Bordini tece considerações sobre o Sobrado, embasada na idéia que o próprio Erico
fez do mesmo. A autora assim se reporta:
Quando analisa a criação dessa obra a "posteriori", Erico afirma que, dos
151
primeiros episódios de "O Continente", "O Sobrado" significou o mesmo que a criação de uma personagem, símbolo uterino de aconchego, tradição e fortaleza, talvez uma recriação idealizada do lar paterno perdido, embora não se parecesse com o casarão de Franklin Verissimo. (1995, p. 133)
A comparação que Erico faz entre casa e Sobrado são visíveis no diálogo do Padre
Antônio com o Padre Alonzo quando este, atormentado por pesadelos antigos, deseja se
confessar. O autor personifica essas duas construções, comparando-as com os sentimentos
humanos. Erico, através do pároco, assim se pronuncia:
Nossa mente, Alonzo, é como uma grande e misteriosa casa, cheia de corredores, alçapões, portas falsas, quartos secretos de todo o tamanho, uns bem, outros mal-iluminados. No fundo desse casarão existe um cubículo, o mais secreto de todos, onde estão fechados nossos pensamentos mais íntimos, nossos mais tenebrosos segredos, nossas lembranças mais temidas. (1999, v. 1, p. 26),
A casa, aqui, é o legado, a herança de uma família que tem coisas para guardar bem
escondidas, ou seja, partes de um passado que não deve vir à tona.
É uma relação interessante que Erico faz ao comparar "casa" com feminino e
"sobrado"63 com masculino. A casa nos traz a idéia de aconchego, de proteção, de colo
materno. Erico reúne dois arquétipos e ambos acabam simbolizando a mesma coisa: as
personagens femininas são muito fortes, como já dissemos no subcapítulo 2.1., têm os "pés
plantados no chão", proporcionam o equilíbrio da vida, representam a terra e, como tal, são
as mantenedoras das raízes familiares/sociais. A casa é a fortaleza, é a que resguarda e
abriga a todos os seus habitantes. É, portanto, como a mãe sempre pronta a proteger todos
os seus filhos.
Bachelard lança um olhar esclarecedor sobre a compreensão que,
A casa é uma das maiores (forças) de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. Nessa integração, o princípio de ligação é o
63 Os significados ocultos de casa e sobrado foram estudados por Jean Chevalier e Bachelard. "A casa significa o ser interior, seus andares, seu porão e sótão simbolizam diversos estados da alma. O porão corresponde ao inconsciente, o sótão à elevação espiritual. A casa é, também, um símbolo feminino, com o sentido de refúgio, de mãe, de proteção, de seio materno". (Dicionário de Símbolos, p. 197) In. MAROBIN, Luiz. As Fontes Regionais e Universais de Inspiração em "O Continente". Verso e Reverso: Ano Vi, N. 11, jul./dez., 1992, p. 47 - 64.
152
devaneio. O passado, o presente e o futuro dão à casa dinamismos diferentes, dinamismos que não raro interferem, às vezes se opondo, às vezes excitando-se mutuamente. Na vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser humano. (1996, p. 26)
O "sobrado" é a representação masculina, é a fortaleza com toda uma descrição
física: suas portas e janelas, o porão, o sótão, a escada, quartos, salas. Entretanto, aquele
que deveria abrigar seguramente toda a família é "atormentado" por inimigos naturais
como o Minuano, a noite gelada, os ratos, o teto que estala e os inimigos políticos, cujo
objetivo primordial é "tomar" de assalto, o símbolo da imposição que ele representa. A casa
familiar vai se transformando, ao longo da estória, em fortaleza de guerra.
Marobin descreve a casa e o sobrado em suas representações feminina e masculina,
assim teorizando:
Érico Veríssimo, em O Continente, colhe inspiração na face externa e na face oculta do sobrado, da casa, da querência, dos pagos, da moradia, do galpão. A obsessão do sobrado é tanta que ocupa seis longos capítulos de O Continente. A casa é fonte externa e interna de inspiração. Essa necessidade de proteção, de casa paterna e materna, de abrigo do corpo e da alma, acompanha Érico Veríssimo como inseparável sombra. O sobrado é casa-abrigo, matriz de origem, ponto de partida e ponto de chegada. Lá se nasce e lá se morre. A inspiração no sobrado, na casa, na querência, nos pagos, colhe imagens, temas e todo um leque de vivências. (1992, p. 50)
O sobrado e a casa apresentam duas faces: uma externa, que esconde a face oculta,
simbólica, e uma interna, que acolhe a família. O porão e o sótão são duas representações
muito significativas que o autor usa, ao lançar a idéia de que há vida no sobrado, e há nessa
vida coisas a esconder e coisas a mostrar.
Bachelard argumenta que:
Logicamente, é graças à casa que um grande número de nossas lembranças estão guardadas; e quando a casa se complica um pouco, quando ela tem um porão, um sótão, cantos e corredores, nossas lembranças têm refúgios cada vez mais bem caracterizados. A eles regressamos durante toda a vida, em nossos devaneios
153
(1996, p. 27-8).
Assim entendemos que o sótão representa a relação espiritual - talvez por estar no
ponto mais elevado da moradia, enquanto o porão representa o oculto, aquilo que não pode,
ou não deve, ser mostrado a todos, são os segredos os quais devem ser guardados, como a
confissão do Pe. Alonzo ao Pe. Antônio, descrita por Erico:
- Aos dezoito anos fui amante de uma mulher casada (...) - Essa mulher era o centro de minha vida, padre (...). Ela costumava dizer-me
que o marido a maltratava, que batia nela (...). - Um dia resolvi matá-lo... (1999, v. 1, p. 25)
É uma mesma situação: a ficçõo representada acima, pela conversa dos dois
párocos, é reforçada aqui, pela explicação de Bachelard, que analisa:
A verticalidade é proporcionada pela polaridade do porão e do sótão. As marcas dessa polaridade são tão profundas que, de certo modo, abrem dois eixos muito diferentes para uma fenomenologia da imaginação. Com efeito, quase sem comentário, pode-se opor a racionalidade do teto à irracionalidade do porão. O teto revela imediatamente sua razão de ser: cobre o homem que teme a chuva e o sol. (...) No porão também encontraremos utilidades, sem dúvida. Enumerando suas comodidades, nós o racionalizamos. Mas ele é a princípio o ser absoluto da casa, o ser que participa das potências subterrâneas. Sonhando com ele, concordamos com a irracionalidade das profundezas. (1996, p. 36-7)
Se, por um lado, identificamos casa e sobrado como gêneros feminino e masculino,
respectivamente, por outro estabelecemos uma relação única entre os dois, pois, no
momento em que se transpõem as portas do sobrado e entra-se casa-a-dentro, encontra-se a
outra face do sobrado.
Na obra ora em estudo, casa e sobrado têm uma dimensão dúplice, ao mesmo tempo
que se fundem numa única construção física. A barreira e o mistério que o Sobrado impõe
estacionam na porta de entrada do mesmo. Transposta a porta, rompe-se a ilusão impositiva
que a construção estabelece e entra-se na casa, onde há vida, aconchego, riso, choro,
154
mágoa, lamentações, vitórias, perdas, esclarecimentos e também segredos.
A casa pode ser vista como um ser concentrado, exerce uma força sobre os seus
moradores, confirmando ser um centro de proteção. Bachelard (1996, p. 48) fala-nos no
sonho da cabana, escrito por Henri Bachelin, para quem se "encontra na própria casa o
devaneio da cabana. Tudo o que ele tem a fazer é (...) escutar, no silêncio do serão, a lareira
que crepita enquanto o vento frio sitia a casa, para saber que no centro desta, sob o círculo
da luz da lâmpada, ele mora numa casa circular, na cabana primitiva".
Há, na casa de que nos fala Bachelard (1996, p. 62), assim como no romance de
Erico, uma "comunhão dinâmica entre o homem e a casa, nessa rivalidade dinâmica entre a
casa e o universo, estamos longe de qualquer referência a simples formas geométricas. A
casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado transcende o espaço geométrico".
Comparando o que nos diz Bachelard com a descrição que é feita do Sobrado é que
podemos entender extensão de casa e Sobradona obra de Erico:
O forasteiro que chega à nossa vila há de por certo quedar-se surpreso e boquiaberto diante duma maravilha arquitetônica que rivaliza com as melhores construções que vimos no Rio Pardo, em Porto Alegre e até na Corte (...), que o senhor Aguinaldo Silva (...) mandou recentemente erguer na Praça da Matriz, num terreno de esquina (...). Dotada de dois andares e duma pequena água-furtada, destacam-se em sua fachada branca os caixilhos azuis de suas janelas de guilhotina, (...) sendo que a do centro, mais larga e mais alta que as outras, está guarnecida duma sacada de ferro (...), por baixo desta sacada, no andar térreo, fica alta porta de madeira de lei, tendo de cada lado três janelas idênticas às de cima. Ao lado esquerdo, do sobrado, (...) vemos imponente portão de ferro forjado (...). O terreno a que este portão dá acesso, está todo fechado por um muro alto e espesso que (...) aperta a casa como uma tenaz (...). Não devemos esquecer outro encanto , qual seja o seu vasto quintal todo cheio de árvores de sombra e frutíferas, como laranjeiras, pessegueiros, guabirobeiras, lindos pés de primaveras, cinamomos, magnólias e um esplêndido e altaneiro marmeleiro-da-índia. (1999, v. 2, p. 330).
Essa descrição do Sobrado nos dá idéia de sua imponência, de poder, riqueza e
prestígio social da família; traz também a imagem da casa simples que fora antes a morada
de Pedro Terra, ao referir-se às árvores que foram plantadas e cultivadas pelos antigos
155
moradores.
É a terra , em última análise, que vai dar a conformação econômica e política ao
Rio Grande do Sul, através dos latifúndios, que subjugam o homem à terra, e seus grandes
proprietários, que se apresentam ora como caudilhos, ora como intendentes, mantendo o
status quo. Ou, como diz Zilberman (1998, p. 76), é o "diagnóstico de uma camada social,
que confunde a si mesma com uma nacionalidade para universalizar suas prerrogativas".
Essas prerrogativas prefiguram uma fronteira entre a classe social mantenedora do
poder, nesse momento vinculada à agropecuária, e os desfavorecidos, representados pelos
Carés, que vivem numa situação de completa submissão. Configura-se, assim, uma
identidade de classe que separa, que segrega os que não têm posses, e que disputa palmo-a-
palmo a hegemonia política de Santa Fé que, em última análise representa as disputas
políticas do Rio Grande do Sul com os outros estados do Brasil.
"A casa é um corpo de imagens que dão ao homem razões ou ilusões de
estabilidade"64. Nessa observação podemos entender que dentro de casa há a idéia de
proteção, pois a compreendemos como o nosso abrigo, o nosso refúgio. De uma certa
maneira, a casa delimita o espaço do outro, ela traça uma fronteira que só permite a entrada
dos convidados.
Existe uma frase de um poema em prosa de Henri Michaux citado por Bachelard
(1996, p. 220) que diz: "O espaço, mas você não o pode conceber, esse horrível interior-
exterior que é o verdadeiro espaço"65. Ao transportarmos essa frase para o estudo do espaço
da casa e do Sobrado, tratados por Erico Verissimo, vamos voltar ao nosso ponto inicial em
que o interior está voltado às interpretações, às conotações de abrigo que a casa
64 BACHELARD, G. Op. cit. p. 36 65 MICHAUX, Henri. Nouvelles de l'étranger. Paris: Mercure de France, 1952.p. 91.
156
proporciona aos seus moradores quando ultrapassam suas entradas e penetram casa-a-
dentro.
Quanto ao exterior, podemos vê-lo sob dois prismas: um como a imagem que o
Sobrado provoca, aos leitores de O Continente, ao ser encarado como fortaleza, como
símbolo do poder, o qual desperta o desejo de possuí-lo aos inimigos das gentes do
Sobrado. Buscamos em Erico o seguinte exemplo:
O Sobrado ali estava na luz indecisa da alvorada, pesado como uma fortaleza e ao mesmo tempo com o jeito dum grande animal adormecido. Fora recentemente caiado de novo, os caixilhos das janelas pintados dum azul anil, os azulejos polidos; e nas grades do portão a tinta estava ainda fresca. Pombas que tinham fugido da torre da igreja, assustadas pelo badalar do sino, estavam agora pousadas no telhado do casarão dos Cambarás. Apesar de tudo, o monstro continuava a dormir. Num dado momento, porém, como uma pálpebra que se ergue, revelando o brilho duma pupila, abriu-se o postigo duma das janelas do andar superior, deixando aberto na fachada um quadrilátero luminoso onde se recostou o vulto dum homem alto e espadaúdo, metido num camisolão. (1999, v. 2, p. 565)
Interior e exterior não chegam, em nossa ótica, a produzir fronteiras. São apenas
binômios, que não se colocam em oposição, mas servem para analisarmos as dimensões de
um e de outro, considerando os respectivos espaços que ocupam e envolvendo as
personagens na obra de Erico.
O outro ângulo que podemos ver é tomar a palavra exterior em toda a sua extensão -
o que está fora, lá fora, do outro lado das portas do Sobrado, o que também pode ser visto
como uma atração para os que estão dentro da casa/Sobrado. Ou ainda, como já dissemos
no capítulo I, o exterior determina, em O Continente, o espaço masculino.
Marobin destaca que.
Em "O Continente, o espaço tem como balizas as estâncias, o campo, Santa Fé, Porto Alegre, Rio Pardo, Santo Ângelo, Cruz Alta, Pelotas, Taquara, Rio Grande, São Miguel, São Leopoldo e Viamão.
(...) No espaço aberto, sem fronteiras, sem estradas, sem cercas de arame farpado caldeia-se a consciência viva da liberdade, da altivez, da hospitalidade, a tendência para o mando e poder de liderança. (19985, p. 171)
157
Entretanto, quando se considera o outro - o castelhano - como inimigo, aí temos um
limite geográfico. "Um dia essa castelhanada ainda nos paga. Deixa estar..."66, dizia o Cel.
Ricardo Amaral a Ana Terra. Culturalmente, porém, continuaremos a nos servir das ditas
fronteiras pois, nesse caso, ao invés delas dividirem os povos, elas os unem e aí sim
podemos falar em liberdade, hospitalidade, porque ambos os interesses são requisitos
positivos para os dois lados da fronteira.
A família Amaral será por muito tempo a senhora absoluta de Santa Fé, povoado
fundado por Ricardo Amaral que o legará aos seus descendentes, até que com a mudança de
situação política, essa mesma força passará às mãos dos Terra - Cambará.
Numa passagem de O Continente encontramos a personagem Chico Amaral, agora
o Senhor de Santa Fé, após a morte de seu pai Ricardo Amaral, sendo recebido pelo
comandante do Continente, Silva Gama. O encontro dessa personagem com o Governador é
significativo para os rumos de Santa Fé. Erico assim descreve:
(...) O Governador concedera-lhe as três léguas de sesmarias que ele requerera e, quando ele lhe contara de seus projetos de fundar um povoado, Silva Gama lhe dissera: "Faça uma petição ao comandante das missões. Eu vou recomendar-lhe que a despache favoravelmente". Foi assim que um dia, alguns meses depois, o novo senhor de Santa Fé chegou a cavalo e, bem como fazia o pai, postou-se debaixo da figueira, chamou os moradores dos ranchos e contou-lhes que o administrador da redução de São João lhe mandara um ofício concedendo o terreno necessário para a edificação do povoado. Chico Amaral leu em voz alta: "... ordeno a Vmcê, que faça medir com brevidade meia légua de terreno no lugar em que pretendem formar a povoação, contendo desde o ponto em que desejam ter a capela, um quarto de légua na direção de cada rumo cardeal, em rumos direitos de Sul a Norte, e de Leste a Oeste."
(...) Houve um ponto para o qual o Maj. Amaral chamou a atenção dos presentes, lendo-o duas vezes com ênfase: "Ninguém poderá ocupar mais terreno que aquele que lhe é destinado, salvo o caso de compra a outrem que já possuir título legítimo." (1999, v. i1 p. 147)
66 VERISSIMO, Erico. O Continente. São Paulo: Globo, 1999, v. 1., p. 137.
158
Quando da leitura de O Tempo e o Vento deparamo-nos com duzentos anos de lutas,
revoluções, guerras, resistências e movimentação de fronteiras. A narrativa, a fala e a saga
de suas personagens recompõem a história sul-riograndense e retratam o gaúcho nas suas
tradições, nos seus usos e costumes, no seu caráter destemido e conquistador, bem como as
mazelas que nem o "tempo, nem o vento" conseguem obscurecer.
Não podemos esquecer que o estado faz parte da região fronteiriça com os países do
Prata, o que significa dizer que ser gaúcho é também incorporar essa cultura limítrofe.
Assim, como enfatiza Padoin apud QUEVEDO,
(...) quando os estrangeiros tentam localizar o Rio Grande do Sul e/ou a cultura gaúcha, prevalece a visão de classificá-la como uma cultura regional que pertence ao âmbito da cultura brasileira ou ainda é vista e identificada principalmente com a cultura argentina e uruguaia. Assim, o olhar "do outro" fez refletir sobre a relevância de destacar o espaço fronteiriço platino, no qual o Rio Grande do Sul inseriu-se, no estudo da cultura gaúcha e/ ou identidade regional. (1999, p. 376).
Nosso entendimento, a respeito das palavras da autora, leva-nos mais uma vez, a
questionar as matrizes de formação do homem sul-rio-grandense, pois entendemos que,
sendo o Rio Grande do Sul não apenas uma região que faz limites diretos com os estados
platinos, mas que, no passado, foi extremamente disputado por lusos e espanhóis, esses
fatores ao invés de distanciarem os "gaúchos" de seus vizinhos, aproximaram-nos,
sobretudo no que se refere à formação cultural.
Reverbel afirma que.
O território do antigo Continente começou a ser povoado com gente que veio para ficar. Os espaços foram sendo ocupados, chegando-se a um ponto em que não havia mais lugar para o gaúcho na sua feição primitiva, marcada pelo nomadismo e recortada nas lonjuras dos horizontes sem fim. (1996, p. 85)
É, portanto, um estado que se forjou primeiramente português, por força de uma
conquista, para depois tornar-se brasileiro, por força de uma vontade própria, tomando
feições políticas quando a monarquia portuguesa cedeu lugar à república brasileira.
159
Erico dimensiona, via literatura, o que a historiografia propaga, e o faz em vários
momentos de sua obra: o deslocamento da família Terra, de São Paulo para as terras do
Continente, habitando a estância; a saída de Ana Terra com o que restou de sua família,
após o ataque dos castelhanos, para as terras de Santa Fé; o crescimento econômico-
financeiro da família Terra-Cambará e sua disputa e vitória política sobre a família Amaral,
até então os senhores de Santa Fé.
Por meio dessas personagens literárias, que metaforizam a história do Rio Grande
do Sul, constata-se a presença de uma família portuguesa, saída de São Paulo, em direção
ao sul do Brasil. Não tem esse fato, a conotação de desbravar? O estabelecimento de Ana
Terra em Santa Fé não representa a idéia de fixação do homem/mulher à terra? E,
finalmente, o crescimento econômico, financeiro e político dos Terra-Cambará sobre a
força instituída, representada pela família Amaral, não é a luta constante de um estado que
se mostrou e se impôs como tal, ao restante da Federação? A resposta a essas indagações
explicita o nexo, o binômio, os liames que interligam literatura e História, e as deixam
muitasv vezes num mesmo tempo.
2.3 Os Tempos das Narrativas: do liame necessário entre História e Literatura
"O tempo passou. Dizem que tempo é remédio para
tudo. O tempo faz a gente esquecer. Há pessoas que
esquecem depressa. Outras apenas fingem que não se
160
lembram mais.".
Erico Verissimo.
Nada é mais histórico do que falar em tempo. Ou, dito de outra forma, não podemos
falar em História sem nos referirmos ao tempo. O tempo passado, longínquo, que nos traz
recordações, ou nos permite ler o que os historiadores produziram; o tempo presente,
"testemunha" de nossa contemporaneidade; o tempo futuro, o incerto, aquele que jamais
poderemos saber, apenas buscar nos indícios, assertivas ou não, para as conseqüências de
nossos atos.
Sob o olhar de Chronos, o tempo "anda" mais ou menos celeremente, nas muitas
sociedades e seres que compõem o Universo. Pode ser representado pelo relógio, pela
ampulheta, pelo calendário, pelas fases da lua, etc.
Como rememora Monteiro:
Para o historiador, o tempo é uma categoria básica de trabalho, não só no sentido de situar os acontecimentos e processos sociais num tempo cronológico, linear, constante, uniforme e irreversível dos calendários, mas no de compreender e problematizar a própria percepção do tempo como uma construção social. Assim, a forma como um grupo ou uma sociedade percebe a passagem do tempo, as mudanças das formas socioculturais no presente em relação aos elementos recebidos da tradição e as expectativas do futuro também constituem-se em objetos de estudo para o historiador. (2000, p. 123)
Podemos deduzir dessa afirmativa que o tempo é a matéria-prima com a qual a
História trabalha. Cronológico, linear, evolutivo, esses são os tempos importantes para o
ofício de historiador e que se distinguem do tempo da narrativa literária. Para esta, o tempo
pode ser mítico, cíclico, interior não tendo, necessariamente, que ser preciso: é o tempo do
"Era uma vez..." e o leitor não estará preocupado em clarificar quando é efetivamente essa
"uma vez".
161
Não estamos estabelecendo, aqui, uma fronteira que separa o tempo da narrativa
histórica, do tempo da narrativa literária. Estamos apenas apontando a liberdade que o
escritor-narrador tem, também diante da mensuração do tempo. Estamos também tentando
estabelecer que há momentos, há situações, há acontecimentos em que ambas - História e
literatura - podem ser trabalhadas sob o mesmo prisma. Uma passagem de Erico
exemplifica nosso entendimento:
Às vezes a Coroa se apossava das colheitas, prometia pagar mas acabava não pagando. Por outro lado, as sementes escasseavam e o governo nada fazia para ajudar o agricultor. As lavouras começavam a ficar abandonadas. (...) E assim, aos poucos, o trigo tinha ido águas abaixo. A coisa começara lá por 1815, no ano em que apareceu a ferrugem. Pedro lembrava-se bem pois fora na época em que, triste e estropiado, ele voltara da Banda Oriental. Viera depois a pavorosa seca de 1820. Daí por diante as lavouras tinham começado a mermar, a mermar até se acabarem. Só se salvou quem tinha criação. E a salvação dele, Pedro, havia sido a olaria. Os Amarais exigiram a devolução as terras, pois ele não pudera cumprir o prometido no seu compromisso de compra. E assim ficara apenas com a olaria e a casa do povoado. (1999, v.1, p. 196)
Esse exemplo que extraímos de O Continente reflete nossa fala. O autor situa um
fato histórico e econômico, o aparecimento da ferrugem em 1815, e a seca de 1820, como
fatores prejudiciais à personagem ficcional que é Pedro Terra, que diante das dívidas ficará
apenas com a olaria, para sua subsistência e da família e a casa do povoado - Santa Fé - que
no futuro se transformaria no Sobrado, conforme já revelado no subcapítulo 2.2.
Assim, entendemos que há também pontos de aproximação entre a História e a
literatura. É Veyne (1982, p. 11)67 quem nos afiança a fala ao dizer que o historiador "faz
com que um século caiba numa página, pois ele simplifica, seleciona e organiza o tempo,
aproximando-se de alguma maneira da ficção". Ou seja, podemos afirmar, com certeza, os
vínculos que unem História e literatura, guardadas as devidas especificidades de cada uma,
que as distribuem em campos diferentes do conhecimento, os quais de forma alguma são
162
opostos. 68
Falando a respeito do tempo e do historiador, encontramos uma fala de Nunes apud
Riedel que assim registra.
A distância temporal interferente alerta-nos sobre o equívoco do conceito de representação nesse domínio. Aplicá-lo seria pressupor que o historiador reconstrói uma realidade original dada. Ora, entre o historiador e a realidade não mais existente, que deixa de ser, a relação, nem de completo distanciamento nem, de coincidência, só pode ser analógica, de caráter metafórico, o que é compatível com o plano configurativo da narrativa. (1988, p. 33)
A exposição de Nunes dá-nos a entender que, quando o historiador recria o passado,
ele não o vivenciou de fato e, portanto, de posse de documentos, livros, revistas, jornais,
boletins, fotografias, depoimentos, entre outros, ele poderá analisar e relatar os fatos
encontrados. O narrador, por sua vez, traz de novo, ao presente, o mundo próprio da obra,
pelo efeito da leitura. A marcação que se faz do tempo tem, em História, a firmeza da
afirmativa de que um fato histórico ocorreu. Em Literatura, pode situar qualquer fato que o
escritor esteja desenvolvendo.
Essa questão da temporalidade alerta que "o tempo da enunciação no texto da
História corresponde ao tempo da escrita no romance, enquanto o tempo do enunciado diz
respeito ao chamado tempo da aventura na narrativa de cunho ficcional" (Baumgarten, apud
NEVES & TORRES, 199 p. 91).
Uma diferença básica, em nível temporal, entre História e literatura é que enquanto
esta tem a liberdade de trabalhar com o tempo ficcional, articulando passado e presente,
67 VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Brasília: UnB, 1982, p. 11. 68 TOYNBEE, A. J. Un estudio de la historia. Buenos Aires: Emecé, 1951, tomo I apud RAMA, Carlos M. La Historia Y La Novela. Madrid. Tecnos, 1975, p. 13. "La Historia como el drama y como la novela - dice Toynbee - es hija de la mitología. Esta es una forma particular de comprensión y de expresión donde - lo mismo que en los cuentos de hadas que gustan los niños, y en los sueños de los adulto mundanos, la línea de demarcación entre lo real y la imaginación no há sido trazada. Se há dicho, por ejemplo, de La Ilíada,
163
num en passant, o mesmo já não acontece na História, presa que é do tempo cronológico e
suas explicações para os acontecimentos daquele momento. Assim, as vinculações entre
literatura e História, que podem ocorrer no plano narrativo, nem sempre se aproximam,
quando se trata do plano temporal.
Conforme nos aponta Baumgarten:
O tempo ficcional não sofre qualquer espécie de limitação, a não ser a da própria estrutura da narrativa que o articula. Sendo assim, as anacronias interrompem e invertem o tempo cronológico, deslocando presente, passado e futuro, podendo mesmo fazer com que a sucessão temporal contraia-se num momento único, acrônico e intemporal. Esse tipo de experiência com o tempo próprio do discurso ficcional não ocorre no plano da História, que deve ater-se ao tempo cronológico. (1993 p. 92-93)
É o que podemos observar quando Erico, ao mesmo tempo em que está narrando
um fato do presente, oportuniza que suas personagens se reportem ao passado, sem que isso
interfira na seqüência do ordenamento do seu pensamento de narrador. Assim, narrador e
personagem trabalham em consonância temporal, porque a ficção possibilita essa
pendularidade.
Por outro ladonada impede que ao historiador que narre a história com anacronia,
pois narrar não equivale a acontecer.
O romance de Erico cobre duzentos anos de história do Rio Grande do Sul, através
das narrativas ficcional e histórica. O autor, em nossa ótica, trabalha com duas
temporalidades: a de quando ele produz a obra - 1949, portanto em meados do século XX e
a da narrativa, que ele se propôs a escrever, focalizando-a a partir de 1745, meados do
século XVIII. O que está ocorrendo, no tempo da narrativa, no mundo e no sul do Brasil em
particular? É necessário compreender a importância que a ciência histórica passa a ter no
que aquel que emprenda su lectura como un relato histórico, allí encontrará la ficción y en revancha, que aquel que la lea
164
século XX. Se até então confundia-se História com narração, com Filosofia, com novela, o
século XX é o momento em que a História realmente se estrutura e se impõe como ciência.
Rama traz à memória que:
El siglo XX aumenta la importancia de la Historia. Por ser uma época en crisis suscitó su resurgimiento como ciencia, y todo lo contrario a las "edades consuetudinarias, lentas y pesadas" de que habla Croce, nuestro siglo "no concibe outro conocimiento que el conocimiento histórico, es una época que no se admite que pueda comprenderse y explicarse a sí misma si no es, a través y en función de su pasado, de su historia. (1975, p. 32)
No século XX é quando, podemos deduzir, a História passa a ter uma distinção
própria em relação aos outros campos do conhecimento. Embora a História necessite de
outras ciências69 para compor suas conclusões é, entretanto, ela a ciência que se preocupa
não apenas em relatar os fatos, passados ou presentes, mas principalmente em analisá-los
como efeitos sobre uma sociedade, uma civilização.
No tempo do texto, enfocado no romance, o mundo está envolto com a Revolução
Industrial, Teorias Raciais, Neocolonialismo. O Brasil, ao mesmo tempo que enfrenta as
guerras de fronteiras no sul, é ainda colônia de Portugal e, portanto, luta contra os
castelhanos. No tempo real, o país sentia ainda os reflexos das decisões políticas oriundas
da Segunda Guerra Mundial.
O que buscamos é, portanto, entender que há uma coexistência entre o que o autor
escreve e o momento em que ele o faz, passando essa compreensão para o leitor. Assim,
embora a primeira parte de O Tempo e o Vento tenha ficado pronta em 1949, podemos
como una leyenda, allí encuentra la historia". 69 RAMA, Carlos M. Opus cit.. Huizinga, en el trabajo que venimos utilizando, nos dice: "La Historia es la ciencia más dependiente de todas. Precisa más que outra ninguna de continuos auxilios y apoyos, para formar sus nociones, para fijar sus normas, para llenar sus fondos. Todas las ciencias hermanas son, a su vez, ciencia auxiliar al entendimiento histórico... Débese ello a que de todas las ciencias es la que se acerca más a la vida, porque sus preguntas y sus respuestas son las de la vida misma para el individuo y para la sociedad; porque los conocimientos que uno posee de la vida
165
observar que, de alguma maneira, Erico engajou-se nessa luta, como nos afirma Bordini
(1995, p. 57), garantindo que o romance insere-se "nas hostes dos combatentes pela
identidade nacional".
Erico teria empregado duas categorias em sua obra: tempo e espaço para situar o
momento de formação do Rio Grande de São Pedro em O Continente. O tempo é
preciso 1745 - 1945, para compor todos os duzentos anos que envolvem O Tempo e o
Vento: O vento, na obra de Erico determina as lembranças das personagens, a constância, a
repetição, sem necessariamente a precisão temporal; o tempo marca a passagem e, por
vezes, a destruição. O romance é pleno de exemplos, como na fala das personagens Ana
Terra e Bibiana, "Noite de vento, noite dos mortos". O vento provoca mudanças que podem
trazer sorte ou azar, produzir rupturas ou transformações. O tempo é uma incógnita. O
espaço é o Continente de São Pedro, cenário onde se desenrola toda a trama do romance,
pincelado pelos acontecimentos históricos.
Bordini (1991, p. 270) explica que "... o tempo para Erico é quase sempre a
sucessão de eventos concretos, cuja datação pode ser fixada". Podemos perceber isso
claramente nos muitos exemplos que Erico nos mostra em seu romance como, por exemplo,
quando ele situa as guerras de 1800, 1811, 1816, 1825.
O tempo na obra de Erico é um fator muito significativo, tanto que segundo nos
sugere Bordini, o autor pesquisou junto a dois filósofos, Kant e Bergson, as informações de
que necessitava. A respeito de Kant, Bordini esclarece que Erico
(...) colhe a idéia de que o tempo é mais geral do que o espaço, porque se aplica ao mundo interno das
impressões, em ações e idéias, que não admitem ordenação espacial. Destaca a noção de que o
personal o colectiva, pasan en una transición imperceptible a ser Historia. En esta relación indestructible com la vida, reside para la Historia su debilidad y su fuerza".
166
tempo é significativo para o homem porque não se separa do conceito do eu, já que a vida
orgânica só pode ser descrita em referência a sua história e a um estado futuro. (1991, p. 271)
Observamos a idéia de Kant manifestada claramente no romance de Erico, toda vez
que as personagens se referem ao tempo como uma lembrança, boa ou má, em que a
presença delas se faz significativa. "Sempre que me acontece alguma coisa importante, está
ventando"70, dizia Ana Terra.
Bordini (1991, p. 272) explicita que, de Bergson, Erico “(...) anota a concepção de
que o tempo é transição entre passado e futuro, em que o homem descobre a si mesmo na
memória, não de modo intermitente ou fragmentário, tateando cegamente no golfo da
mente, mas permitindo-se um momento de puro relaxamento” (cf ALEV 04 - 00 60 -1969).
Erico tranlada a passagem do tempo passado ao tempo presente, porque manipula o
tempo da memória, das lembranças guardadas na memória, das quais a qualquer momento
ele pode lançar mão sem o comprometimento que cabe ao historiador, de um tempo linear,
cronológico, evolutivo. É, portanto, um tempo cíclico já que nele vê-se a reversibilidade
dos acontecimentos.
Elegemos, em nosso estudo, algumas categorias de tempo que julgamos
significativas na obra em que estamos trabalhando. Iniciaremos pelo que chamamos tempo
cíclico-mítico da obra de Erico Verissimo, que aponta em A Fonte o início da saga da
família Terra-Cambará. O autor nos permite entender que é da fonte que tudo surge, é onde
tudo começa; a fonte é vida que nasce, que se desenvolve, que toma formas as mais
diversas.
Numa passagem de Mircea Eliade em Lo sagrado y lo profano, a autora assim se
70 VERISSIMO, Erico. Ana Terra. In. O Continente. São Paulo: Globo, 1999, p. 73.
167
expressa, acerca do tempo, afirmando que numa situação mítica, o tempo.
é sempre igual a si mesmo, não muda nem se esgota, é um tempo circular, reversível e recuperável, como uma espécie de eterno presente cifrado nas manifestações do mundo natural. Este mundo, por sua vez, é um espaço cósmico, suficiente à própria existência e, assim, se opõe ao "caos", o espaço desconhecido que está além das suas fronteiras. (1981, p. 74)
É como se o tempo não provocasse mudanças, por conta de uma circularidade que
só o tempo mítico pode oferecer. Nesse tempo ninguém envelhece, as coisas não terminam,
a existência é eterna pois o tempo pode ser recuperado a qualquer instante.
É, pois, o tempo circular, que nos traz a idéia de volta ao mesmo ponto, como
podemos observar nessa passagem de Erico:
(...) na estância onde Ana vivia com os pais e os dois irmãos, ninguém sabia ler, e mesmo naquele fim de mundo não existia calendário nem relógio. Eles guardavam de memória os dias da semana; viam as horas passar pela posição do sol; calculavam a passagem dos meses pelas fases da lua; e era o cheiro do ar, o aspecto das árvores e a temperatura que lhes diziam das estações do ano. (1999, v. 1, p. 73)
Vamos observar que o tempo apontado por Erico é contado pelas personagens numa
relação direta com o passar das gerações, unidas pelos laços familiares mais íntimos e que
têm uma herança comum, um "tronco" original comum "que lhe fornece a identidade"
(Zilberman, apud GONÇALVES, 2000, p. 48). Aqui todos se reconhecem e se identificam
como parte integrante da mesma família.
Esse tempo está baseado "na natureza, que faz com que se repitam basicamente os
mesmos processos históricos de geração em geração"71, o que configura o caráter cíclico do
tempo.
O tempo representado é o tempo mítico, aquele que não traz transformações,
71 Cf. SURO, Joaquín Rodríguez. Érico Veríssimo: história e literatura. Porto Alegre: Luzzatto, 1985, p. 49.
168
mantendo as coisas no seu exato lugar. É também a idéia de um espaço igualmente arcaico.
É, portanto, um mundo fechado, como se observa, circular, voltado para o centro de si
mesmo, onde os papéis de cada um já estão traçados, e as normas, que lhes são próprias,
determinam o modus vivendi de seus membros. Não há mudança, pois os dias transcorrem
um após o outro, sem novidades; há uma espera de que as coisas aconteçam como devem
ser, como está escrito, determinado por uma força maior que a vontade humana. Há uma
repetição constante, dia após dia, dos mesmos afazeres domésticos, das mesmas leis, que
são imutáveis, da mesma vida.
Zilberman explica que:
A repetição é própria à estrutura do mito e impede a evolução dos eventos. Sempre se retorna ao momento original da fundação conferindo às transformações ocorridas a condição de mera aparência. É importante também a significação desses fatos reiterados: em todos eles, há a morte do pai após a geração do herdeiro, num processo análogo aos rituais do campo. Nestes, a cada nova semeadura, há um combate (simbólico) entre os deuses protetores, em que o vencedor, jovem e saudável, garante a riqueza e a fertilidade do ano agrícola. (1998, p. 74)
Nesse sentido há a representação do novo, da renovação que se sobrepõe ao que é
velho, desgastado e que, numa metalidade mítica72, conduz à morte para garantir a
fertilidade, a vida, que se dá com a juventude, mas que, por outro lado, não ignora e sim
mantem suas raízes, às quais, de certa maneira, impõem a repetição.
No romance de Erico, como destaca Zilberman, apud CHAVES (1981, p. 188),
O fato de que o filho repete o pai assegura a permanência do fantástico, proveniente de Pedro Missioneiro, em meio ao real. Além disso, a morte do pai, imediata ao nascimento do filho, reflete um procedimento que tem suas origens nos rituais do culto da terra, onde o deus nascente dá suas forças às novas semeaduras, uma vez que o anterior desgastou-se até a colheita.
72 Cf. ZILBERMAN, Regina. Do Mito ao Romance: tipologia da ficção brasileira contemporânea. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, Porto Alegre: Escola Superior de Teologia São Lourenço Brindes, 1977, p. 186.
169
É um tempo, como se observa, cíclico, é sempre a volta ao ponto de origem. A
repetição se processa de duas maneiras, as quais fundem-se numa mesma finalidade: o
renovar constante das gerações que se sucedem e a renovação da terra através de novas
semeaduras e novas colheitas. A circularidade do tempo aqui dá mostras da relação família
e terra, ou família e propriedade da terra. Ou seja, manter a família, unida e forte, sob as
crenças que são passadas de geração a geração, é também manter a preservação da terra,
intacta, produzindo sempre. A relação intrínseca que se pode notar entre terra e família é o
mote que conduz a narrativa de Erico.
Ao tratar do mito,73 Zilberman justifica que:
(...) o mito, sendo a primeira manifestação criadora do homem e a fonte comum da religião e da arte, torna-se o instrumento de uma determinada classe, a que detém o poder sobre os meios agrários de produção. Inicialmente um instrumento de acesso ao real, vem a ser assim um fator de dominação, extremamento útil porque é a linguagem comum ao senhor e ao servo, num regime econômico dependente da ligação com a terra, isto é, numa situação em que o indivíduo jamais se libertou de seus laços com o ambiente circundante. (1977, p. 186)
Deter o poder sobre os meio de produção, num tempo em que a economia é
eminentemente agropastoril, reflete, no romance de Erico a ligação da terra à situação
mítica que serve ao propósito da classe dominante, a qual deseja manter seu status quo.
Manter as raízes com a terra é também manter uma massa trabalhadora que não discute as
ordens do patrão, e é também manter o mito que se forjou de que há uma democracia plena
que funciona na estância, onde patrão e peão são colocados num mesmo patamar.
Assim, quando Erico narra a conquista do Rio Grande do Sul, ele não o faz
exclusivamente, como registra Zilberman
através de episódios bélicos exemplares, mas por meio de um ritual que coloca a terra como intermediária entre o homem e seu filho (veja-se então os sobrenomes
73 Cf. EILADE, Micea. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 11. Sobre a definição de mito a autora explica que: "o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecmento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do "princípio". (...) É sempre, portanto, a narrativa de uma "criação": (...) Os mitos descrevem as diversas e, algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do "sobrentural") no Mundo.
170
que assumem as personagens da família condutora da história, os Terra Cambará). O procedimento é coerente e verossímil, pois implantou-se no Rio Grande do Sul uma civilização vinculada à agricultura e à pecuária, de modo que uma manifestação deve aparecer mediada pelo recurso que assegura a sobrevivência econômica da grande propriedade rural. (1998, p. 75)
Terra e Cambará, transformados em substantivos próprios são
termos que nos trasmitem uma relação direta e forte com a terra,
conforme as análises e os exemplos acima. A terra, por si só, explica
o caráter de perenidade, de perpetuação da família, da estância, dos
valores morais, qualidades que são apontadas ao longo do romance
de Erico quando ele se refere à família Terra. Para enriquecer essas
qualidades, acresce-se o uso do nome Cambará, que provém de uma
árvore forte, resistente. Unem-se os dois termos, transformados em
nomes de famílias e o resultado é uma linhagem de dura cepa, onde
ao mesmo tempo em que se preservam os valores morais, também se
enaltece a coragem. São quesitos próprios de uma origem mítica,
imaginária, que precisa de heróis.
Erico refere-se ao tempo cíclico-mítico de muitas maneiras. Entre elas citamos:
Não havia datas. Esse era um característico das gentes daquele lugar: ninguém sabia muito bem do tempo. Os únicos calendários que existiam no povoado eram o da casa dos Amarais e o do vigário, o Pe. Lara. Os outros moradores de Santa Fé continuavam a marcar a passagem do ano pelas fases da lua e pelas estações. E quando queriam lembrar-se de um fato, raramente mencionavam o ano ou o mês em que ele se tinha passado, mas ligavam-no a um acontecimento marcante na vida da comunidade. (1999, v. 1, p. 184)
Observa-se, por esse exemplo, a relação que há com os fenômenos naturais: fases da
lua, estações do ano, o que bem caracteriza a repetição das coisas, o que é próprio do tempo
171
cíclico-mítico, ou seja, se as coisas sempre foram de um jeito, por que mudar? Os santa-
fezenses, por exemplo, não viam essa necessidade. O calendário, restrito ao vigário e à
família Amaral, não é fundamental para a seqüência da vida dessa comunidade, que vive
um dia após o outro, sem grandes expectativas.
Percebemos a importância que Erico atribui ao tempo histórico; mas notamos
também que ele o considera também cíclico. Talvez esse fato deva-se à alternância entre a
democracia e a ditadura, no Brasil, que Erico vivenciara entre 1930 e 1945, como já
afirmamos na página 63.
As repetições que o tempo cíclico impõe não se restringem aos fenômenos da
natureza, apontados acima. A hereditariedade também é um fator onde podemos notar as
repetições que se projetam nos descendentes, como aparece numa citação do Eclesiastes I,
4,5,6, que figura na epígrafe de O Continente.
Uma geração vai, e outra geração vem; porém a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar donde nasceu. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte; continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos.
O exemplo acima não demonstra apenas as repetições que se operam com a
hereditariedade dos Terra-Cambará, mas reforça também, como já dissemos, a
permanência dos fenômenos naturais: terra, sol, vento que são categorias exploradas no
tempo cíclico-mítico, porque denotam a ligação dos homens com esses fenômenos.
Num tempo em que se crê no sobrenatural, há a crença de que para cada atitude
ruim, nociva que o ser humano comete, existe uma cobrança; mais cedo ou mais tarde, esse
homem responderá pelos seus atos. É uma outra nuance do tempo cíclico-mítico: a "sina", o
fatalismo, que podemos identificar nas rememorações de Pedro Terra:
172
Havia sempre o perigo das guerras; e os castelhanos não estavam muito longe de Santa Fé (...). Mais cedo ou mais tarde haveria outra invasão e era um risco muito grande ter mulher moça em casa num lugar abandonado como aquele. (...) Aquela era a sina dos habitantes da Província de São Pedro. Pagavam muito caro por viverem tão perto da fronteira castelhana. Diziam que no Rio de Janeiro a vida era diferente, mais fácil, mais agradável, mais confortável. (ERICO, 1999, v. 1, pp. 192-93)
É a idéia de que há sempre um pagamento para todas as escolhas que constitui em
vida, ou todo ato transgressor e isso é determinado pelo tempo, característica que se
observa no tempo mítico.
O tempo cíclico-mítico caracteriza uma história fechada, onde os papéis de cada
sujeito/personagem já estão previamente delineados. É uma história que se subordina aos
movimentos da natureza, às crendices, à obediência ao pai, ao marido, ao senhor, a
aceitação pacífica, fatalista dos acontecimentos, sem portanto a discussão que leve à
compreensão racional dos fatos.
Uma outra categoria que observamos na obra de Erico é o tempo passado e o
tempo presente. Trabalharemos com eles ao mesmo tempo, considerando a relação
intrínseca que se opera, no romance, toda vez que as personagens, em suas lembranças,
mais remotas ou mais recentes, se reportam ao passado.
Numa passagem de O Continente (1999, v. 2, p. 477), observamos como Erico
demonstra o passado:
Naquele dezembro - o sexto dezembro da Guerra - já não havia em Santa Fé família que não chorasse um morto. Desde o início da campanha a vila fornecera ao exército nacional seis corpos de voluntários. Os que não morriam ou desertavam, voltavam feridos ou mutilados, e em seus rostos os outros podiam ler todo o horror da guerra. As mulheres já não tiravam mais o luto do corpo: viviam a rezar, a fazer promessas e a acender velas em seus oratórios. (1999, v. 2, p. 477)
173
Nessa citação há uma data estabelecida, o que nos leva a crer que um fato
realmente se realizou nesse tempo. Observa-se que há uma afirmativa do que o autor
propõe. O tempo passado não traz boas lembranças, o que é reiterado pelas personagens
que desejam esquecer essa época. "O passado abriga para todos experiências amargas. Está
povoado de guerras, violência, opressão, injustiças, frustrações, amargura"74.
Identificamos, no tempo passado, duas situações antagônicas. De um lado as
personagens desejam romper com esse passado longínquo que tantos dissabores lhes
trouxe: as guerras, as mortes, as perdas em geral, como foi o caso da perda da casa de Pedro
Terra para Aguinaldo Silva - que originou o Sobrado - mas que, mesmo retornando à
família Terra-Cambará, através do casamento de Bolívar Cambará com Luzia Silva,
submete Bibiana a pagar um preço alto demais. Atingir o objetivo não lhe traz muita
satisfação, mas um gosto amargo de conquista. Por outro lado segue-se a idéia de
permanência, cujo representante maior, na obra de Erico, é o vento. Schüler apud CHAVES
(1981, p. 164) avalia que. “Um dos elementos de permanência é o vento. Na sua função
simbólica, forma antítese com o tempo. Enquanto passa o tempo, permanece o vento. O
vento se une às experiências das personagens. No seu periódico soprar evoca o passado.”
A permanência de que nos fala Schüler é retratada, por Erico Verissimo, em várias
passagens de O Continente como na conhecida frase da personagem Ana Terra, "Sempre
que me acontece alguma coisa importante, está ventando"75. Vamos constatar que o vento é
presença constante na vida dessa personagem, que faz uma relação entre os principais
acontecimentos que marcam sua vida pela passagem do vento. "Um dia de vento marcara a
74 "Cf. Schüler, Donaldo. O tempo em "O Continente". In. CHAVES, F. L. (org.). O Contador de Histórias: 40 Anos de Via Literária de Erico Verissimo. Porto Alegre: Globo, 1981, p. 161. 75 VERISSIMO, Erico. O Continente. São Paulo: Globo, 1999, p. 73
174
mudança radical de sua vida. Num dia de vento encontrara Pedro Missioneiro. Num dia de
vento, Pedro Terra, filho de Ana, parte para a guerra" (SCHÜLER, op. cit. p. 164). Na sua
função simbólica, o vento forma a antítese com o tempo, pois enquanto passa o tempo,
permance o vento. A permanência que o vento representa, se dá enquanto marco na vida
das personagens, do qual Ana Terra é uma representante; o periódico soprar do vento
rememora as lembranças, as experiências, as ausências, as perdas.
Uma outra forma de representar o tempo cíclico-mítico é através dos objetos como a
roca, a tesoura e o punhal, elementos que percorrem o romance de Erico. Sobre essas
representações, apontamos em Erico (1999, vol 1., p. 144): “(...). Olhava para a roca e
lembrava-se dos tempos lá na estância, quando a alma de sua mãe vinha fiar na calada da
noite. A roca ali estava, velha e triste, e Ana Terra sentia-se mais abandonada que nunca,
pois agora nem o fantasma da mãe vinha fazer-lhe companhia.”
A roca é um dos muitos signos que Erico se utiliza para dar sustentação à sua
história. Ela, a roca, representa a memória do que passou. Na tessitura dos panos, que vão
sendo manualmente produzidos por D. Arminda, depois por Ana Terra e posteriormente por
Bibiana, vão sendo repassadas as lembranças de outros tempos. A roca, ao girar,
produzindo seus tecidos representa o tempo cíclico, traz lembranças numa relação de
circularidade que reconduz ao presente, as lembranças do passado. É também a
representação da história que, no romance, é transmitida de uma geração a outra,
simbolizada nesses objetos, que são tão caros a essa família e que têm a conotação de
instinto de preservação da vida, da história, das lembranças.
A roca, como a tesoura são simbologias femininas, são legadas de geração a
geração, como se depreende do exemplo seguinte:
175
No momento em que cravara a última cruz, Ana teve uma dúvida que a deixou apreensiva. Só agora lhe ocorria que não tinha escutado o coração dum dos escravos. (...) Ela estava tão cansada, tão tonta e confusa que nem tivera a idéia de verificar se o pobre do negro estava morto ou não. Tinham empurrado o corpo para dentro da cova e atirado terra em cima... Ana olhava sombria para as sepulturas. Fosse como fosse, agora era tarde demais. "Deus me perdoe" - murmurou ela. E não se preocupou mais com aquilo, pois tinha muitas outras coisas em que pensar. (...) Começou a catar em meio dos destroços do rancho as coisas que os castelhanos haviam deixado intactas: a roca, o crucifixo, a tesoura grande de podar - que servira para cortar o umbigo de Pedrinho e de Rosa, - algumas roupas e dois pratos de pedra. Amontoou tudo isso e mais o cofre em cima dum cobertor e fez uma trouxa. (ERICO, 1999, v. 1, p. 126)
Ao tomar essas atitudes e seguir em frente, abandonando o rancho, Ana Terra rompe
um ciclo de sua vida e inaugura um outro, completamente novo. É um novo tempo, é a
esperança de uma nova vida. Ela chegará ao povoado de Santa Fé com o filho, a cunhada e
a sobrinha, como fugitivas do ataque castelhano, mas ninguém jamais saberá o que
realmente aconteceu. São os segredos da alma que não interessam a todos, são questões de
foro íntimo. São os sótãos ou os alçapões da vida de cada um!
Quanto ao punhal, que pertencera a Pedro Missioneiro, e que antes fora do padre
Alonzo, faz parte das heranças masculinas, como se pode extrair da conversa entre Ana
Terra e seu filho Pedro:
Um dia surpreendeu o menino a brincar com o punhal de prata. - Posso ficar com esta faca, mãe? Ela sorriu e sacudiu a cabeça afirmativamente. E Pedro dali por diante começou a riscar com a ponta do punhal os troncos das árvores, fazendo desenhos que surpreendiam a mãe. (ERICO 1999, v. 1, p. 119).
O punhal representa a simbologia de ser um objeto masculino E, no desenrolar de O
176
Continente, constata-se que ele passa sempre para um descendente homem. Schüler apud
CHAVES (1981, p. 166) infere que
Juvenal Terra, um de seus sucessivos donos, limpa com ele despreocupadamente as unhas, sem lhe dar consideração. O Capitão Rodrigo, vendo a arma, observa que é um bonito punhal. Juvenal olha o presente do avô, como se o visse pela primeira vez.
Através dessa observação de Schüler podemos compreender que, para as
personagens da obra de Erico, embora o punhal tenha toda essa representatividade
masculina, assim como a tesoura representa o lado feminino, e apesar dele estar há tantos
anos no seio da família Terra, ele não caracteriza um elo de ligação que lhes desperte
emoções do passado.
As personagens fazem do tempo o veículo de suas lembranças e vamos encontrar
em Bibiana Terra Cambará o símbolo do tempo. Ela é a "imagem arquetípica de esteio do
lar, das virtudes da casa, da família" e "na ausência do Capitão Rodrigo, tudo providencia,
tudo suporta" (MAROBIN, 1997, p. 106-7).
Bibiana é a espera eterna da volta do marido. Ela vê o tempo passar dia-a-dia, mas
mantém-se "firme" numa espera constante.
Porém, o tempo em O Continente é marcado na sua maior parte por
"acontecimentos funestos: praga de gafanhotos, invernos rigorosos, peste"76.
Schüler (1981, p. 164, op. cit.) explica que o romance de Erico "move-se entre dois
pólos, entre o que permanece e o que é destruído". Um dos elementos de permanência,
como já dissemos, é o vento que, assim como o tempo, tem uma importância capital na
obra de Erico, a ponto de misturar-se à vida das personagens, entre elas Ana Terra. Em
nossa ótica entendemos que a não limitação do tempo percorre o romance de Erico de ponta
177
a ponta, resgatando nas suas personagens lembranças as mais diversas e marcando, dessa
forma, sua inexorabilidade, rompida apenas pela presença da Teiniaguá, que se apresenta
em muitos momentos do romance e que, por isso, resiste ao tempo.
Quando Erico vale-se da história, inserindo-a em sua narrativa, ele é preciso quanto ao
tempo cronológico. “Em princípios de 1833, Santa Fé foi sacudida por
uma grande novidade: a chegada de duas carroças conduzindo duas
famílias de imigrantes alemães, as primeiras pessoas dessa raça a pisarem
o solo daquele povoado.”
Assim, podemos observar, mais uma vez, que a arte e a ciência não mantêm
fronteiras intransponíveis; são apenas quesitos próprios de cada uma, mas que não
impedem que o literário e o erudito se entrelacem, a não ser o tempo ficcional e o real para
as coisas da arte e as da ciência, respectivamente.
Às vezes o tempo é implacável, colocando em cheque e em choque determinadas
pessoas, como podemos perceber nessa situação extraída da obra de Erico, através da
conversa das personagens Florêncio e o Dr. Winter.
- Mas como é que duas pessoas que se odeiam assim podem viver
debaixo do mesmo teto? - Estão jogando uma carreira. - Como? - Sim, uma carreira (...). A raia de chegada é a morte. Só que
nessa carreira quem chegar primeiro perde.. - Perde? - O Sobrado e o menino
(...)
- Mas eu não compreendo então por que ela continua no Sobrado. - Muito simples. Se ela deixa o Sobrado, perde o neto. Pense
76 Schüller, Donaldo. O Tempo em "O Continente". In. CHAVES, Flávio Loureiro (org.) O Contador de Histórias. In. 40 Anos de Vida Literária de Erico Verissimo. Porto Alegre: Globo, 1981.
178
bem, Florêncio. Se Luzia morrer, o problema se resolve. D. Bibiana fica com o menino e com o Sobrado e pode assim governar os dois como bem entender. Florêncio sacudia a cabeça com obstinação.
- Vosmecê está enganado. Tia Bibiana é uma mulher de bom coração.
- D. Bibiana é uma mulher prática. Aguinaldo Silva tomou a terra do pai dela por meio duma hipoteca. Ela recuperou a terra por meio dum casamento. (1999, v. 2, p. 487)
O tempo aqui tudo devora, representa a destruição, a ruína até a morte. Mas é
também um tempo cíclico sobre o qual outras gerações de Terra e de Cambará ocuparão o
Sobrado, o espaço deixado pelos ancestrais. E é também um demonstrativo de que esperar,
como fez Bibiana, é uma qualidade única das mulheres de O Continente.
O tempo, assim como o vento, não têm fronteiras, não delimitam espaços, não
escolhem por onde vão soprar, não determinam a quem vão assombrar ou alegrar, mas
deixam marcas. Tempo e vento, na obra de Erico, "caminham" pari passu.
A simbologia do vento é tratada como a recordação do passado, um período que, na
grande maioria das vezes, as personagens não gostariam de recordar. Mas, como interpreta
Schüler apud CHAVES (1981, p. 165), "o sopro do vento atravessa o romance de ponta a
ponta (...). O vento não preserva os sentimentos que se prendem a ele. Sopra indiferente a
tudo". Afinal, o vento, aqui, é uma simbologia de que ele sempre retorna ao mesmo ponto,
apesar das mudanças que se operam nos lugares e na vida das pessoas.
Em O Continente, o tempo presente e o tempo passado muitas vezes estão juntos,
por força das lembranças das personagens, o que significa dizer que esse recurso, usado por
Erico, determina a pendularidade de que tratamos no subcapítulo 1.1.
O tempo de O Continente tem um período específico: vai de 1745 a 1895. São cento
e cinqüenta anos que mostram as gerações se sucedendo, as mudanças ocorrendo mas sem
179
esquecer a tradição. Durante esse tempo são tecidas as teias da trama do romance - é o
vento, o qual passa pelas personagens num sentido oscilatório, numa estrutura pendular,
pois assim como se trata do que ocorre no tempo presente do romance, também os retornos
ao passado são constantes, através das lembranças das personagens.
Toda a vez que uma das personagens de O Continente se reporta às suas
lembranças, ela está, ao mesmo tempo, vivenciando o tempo presente e o tempo passado.
Erico elucida a questão:
Foi no ano de 1811. Contava-se que na Banda Oriental havia barulho, porque os platinos queriam se ver livres da Espanha. Quem é que ia entender aquela confusão? Diziam também que D. Diogo de Souza, comandante das forças portuguesas na Capitania do Rio Grande, estava acampado em Bagé com seus exércitos. Tudo indicava que estava preparando a invasão. (1999, v. 1, p. 151)
O tempo presente é pontual, é exato. Sabe-se quando ele ocorre, ainda que, muitas
vezes, a personagem se reporte ao passado, como no exemplo acima.
Uma terceira categoria que pode ser trabalhada é o que denominamos tempo de
guerra e paz. Na história do Rio Grande do Sul há uma alternância constante entre guerra e
paz e, como Erico narra a história do estado, através de seu romance, o enfoque que é dado
a essas situações é constante. Um exemplo de Erico demonstra a relação entre os tempos
de guerra e paz:
Foi naquele quente e abafado dezembro de 1869 que chegaram de volta a Santa Fé alguns voluntários que a guerra deixara inválidos. Entre eles estava Florêncio Terra, que recebera um balaço no joelho. Desceu da carroça apoiado em muletas. Estava tão barbudo, tão magro e sujo, que a própria mulher não o reconheceu no primeiro momento.
(...) Caminharam para casa, parando aqui e ali quando conhecidos vinham cumprimentar Florêncio. Queriam saber (...) como ia a guerra; quando vinha a paz; se era verdade que Solano Lopez estava morto... (1999, v. 2, p. 479)
Como se depreende da citação de Erico, guerra e paz são tempos que convivem
amiudemente, na história do Rio Grande do Sul. Há um tempo de paz, onde há
180
prosperidade e os santa-fezenses "levam" a vida. Mas há também os tempos de guerras, que
são muitos, e que desestruturam toda a vida do estado, representado, no romance, pelos
acontecimentos do povoado de Santa Fé. Logo no início de O Continente constatamos a
invasão que os castelhanos desferem sobre o rancho de Ana Terra. É uma luta desigual,
devido à superioridade humana e bélica dos castelhanos.
É uma luta desigual também por que viola o corpo de Ana Terra, numa simbologia
de terra arrasada. "A violação de Ana Terra pelos castelhanos é simbólica, pois é como se
eles tivessem violado a terra. Esse elemento exterior rompe com o mundo mítico dos Terra
e Ana, Pedrinho e os demais sobreviventes ao massacre tiveram de ir rumo à cidade".77
Essa situação, que obriga Ana Terra a emigrar com o que restou de sua família, para
Santa Fé, que tratamos no subcapítulo 2.1, representa também que a paz existente nas
"reduções jesuíticas, foi quebrantada pela violência da guerra, assim como o mundo idílico
dos Terra foi destruído pelo assassinato de Pedro e pela posterior matança dos Terra pelos
castelhanos.”78 Reforça-se, aqui, o entendimento de que no tempo mitológico há sempre um
pagamento pelos erros cometidos.
O deslocamento de Ana Terra para um outro lugar enseja uma mudança das mais
significativas. Não só a vida da personagem toma outros rumos, como a idéia de tempo
mítico-circular apaga-se e inicia-se um novo tempo, um tempo em que os elementos
histórico -sociais, como a guerra e a violência estruturam a trama do romance.
Ao tratarmos de tempo de guerra e tempo de paz queremos clarificar que eles não
se atêm somente à luta armada e aos acordos de paz que são firmados entre os participantes.
77 Cf. SURO, J. R. Op. cit. , p. 166 78 Cf. SURO, J. R. Op. it. P. 163.
181
Há também um constante conflito interno, de cunho pessoal, nas personagens
verissimianas. As lutas interiores, os medos, os segredos que cada personagem guarda
dentro de si correspondem a um conflito interior que também precisa ser vencido, para dar
continuidade à vida. Essa, em nossa ótica, simboliza a vitória do bem sobre o mal - produto
do tempo ciclico-mítico - a vitória da alegria sobre a tristeza. Guerra e paz são dois pólos
em que o ser humano se debate constantemente, seja nas questões de foro íntimo, seja numa
amplitude social.
É através desses tempos que vemos a obra de Erico toda permeada pelos
acontecimentos que marcaram a história do Rio Grande do Sul. Há uma mudança
significativa, nesse novo tempo, representado pela figura de Ana Terra que, ao deparar-se
com os horrores da guerra, e as decisões que precisa tomar, abandona a fatalidade e passa a
encarar a vida de forma realista. Ou seja, a sina de que falamos quando abordamos o tempo
mítico-cíclico, vai, aos poucos, perdendo sua significância, para dar lugar à "teoria
providencialista" (SURO, p. 167).
Embora nosso trabalho se restrinja a O Continente, ao analisarmos o tempo cíclico-
mítico dessa parte do romance, não podemos deixar de considerar que ele, o tempo, assim
se apresenta, baseado nas últimas palavras da trilogia de O Tempo e o Vento as quais são as
mesmas do início. "Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilizavam sobre a cidade
de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado"(O
CONTINENTE, 1999, v. 1, p. 1)
Essa maneira de Erico conduzir seu romance, iniciando e terminando com a mesma
frase, caracteriza, em nossa ótica, a repetição que se processa a cada nova geração de Terra
e de Cambará, que se sucedem na trama.
Mas, ao analisarmos os muitos momentos históricos, que Erico não se furta em
182
narrar em sua obra, observamos a preocupação do autor com a veracidade dos fatos,
buscados junto a membros do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, com
os quais ele mantinha boas relações de amizade, conforme analisamos no subcapítulo 1.3.
Percebemos que o tempo mítico, que reduz a vida das pessoas ao isolamento e ao
fatalismo, convive, ao longo do romance com o tempo histórico, que determina a sucessão
e que portanto suplantará aquele, modificando a paisagem da cidade e a vida das pessoas.
Santa Fé deixará de ser um simples povoado, transformando-se em cidade. A família
Amaral "cederá" gradativamente seu poder político aos Terra-Cambará.
Historicamente observamos que as mudanças estruturais que ocorrem no mundo
real dão suporte à escrita do romance de Erico. Quando, por exemplo, os latifúndios
perdem espaço para a indústria transformação, que se opera no Brasil a partir da década de
1930, esta transformação também atinge Santa Fé, que se moderniza. Quando a alternância
política percorre a cena política brasileira, ela também se presentifica em O Continente
através das divergências entre os Amaral e os Terra-Cambará, opondo, no mundo real,
simpatizantes dos monarquistas e dos republicanos, respectivamente.
A marcha do tempo conduzirá as mudanças; afinal são duzentos anos da história do
Rio Grande do Sul, que dão o suporte para a história de O Tempo e o Vento, narrada com a
maestria de Erico Verissimo que localiza primeiramente a história do estado, num tempo
mítico, especialmente quando trata da questão das Missões Jesuíticas, de Pedro Missioneiro
e de toda a crença nos fatos sobrenaturais, que se opera no início de O Continente.
Posteriormente, com a saída de Ana Terra de sua estância, rumo a Santa Fé, o que
se observa é a destruição desse tempo mítico, cíclico, circular e o início do tempo histórico
que presentifica o passado junto ao presente. É uma mudança que se opera não apenas no
romance, cujas personagens vão tendo uma outra compreensão do mundo, mas uma
183
transformação na história do Rio Grande do Sul, que se envolve, constantemente, nas lutas
de fronteiras contra os castelhanos e nas guerras internas para se integrar junto aos demais
estados da Federação Brasileira.
Nessa mudança radical do entendimento do tempo, registramos também um tempo
de paz e um tempo de guerra, presenças muito fortes e que se alternam não apenas no
desenrolar do romance de Erico, mas fatos presentes na própria história rio-grandense.
Entre os movimentos destacamos as Guerras das Missões (ainda no século XVIII), a
Campanha da Cisplatina, em 1811, a Revolução Farroupilha de 1835, a Revolução
Federalista de 1893, todos ensejando tempos difíceis para o estado, mas também tempos de
glória, onde finalmente o Rio Grande do Sul se impôs como um estado pertencente à nação
brasileira.
184
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao procedermos ao balanço final de nossa pesquisa, constatamos que, embora tenha
sido um trajeto árduo e difícil, foi também como uma emblemática volta ao lar, às leituras
já feitas na adolescência, e as quais regressamos na maturidade. Embora ao findarmos a
dissertação, permanece ainda uma sensação de que mais poderia ter sido feito. Mas foi
também um trabalho que nos trouxe muito prazer em gestá-lo, e nos saciou uma vontade
antiga: a de trabalhar com literatura e História, que, em nossa ótica, são dois campos do
conhecimento que respondem muito bem, e de forma muito agradável, à aproximação de
temas complexos.
É o caso da temática por nós escolhida. Entendemos que ao analisarmos a questão
das fronteiras e das identidades do Rio Grande do Sul, a partir de O Continente,
conseguimos mostrar que não há uma fronteira intransponível entre essas duas áreas do
conhecimento, mas sim uma aproximação entre elas.
Deparamo-nos com algumas dificuldades como as interpretações e questionamentos
que são feitos sobre o autor e de sua obra, como por exemplo a discussão a respeito de ser o
O Tempo e o Vento e também O Continente, um romance de fundo histórico, discussão que
já aparece em nosso primeiro capítulo. Outra dificuldade referiu-se à fortuna crítica de
Erico Verissimo, que é bastante extensa, e como nossa área de formação não é a literatura e
o nosso tempo era exíguo, selecionamos algumas obras, significativas claro, tanto no
cenário historiográfico quanto no literário.
Essa dissertação pretendeu contribuir para a reflexão acerca da questão das
fronteiras étnico-culturais especificamente, e a busca pela identidade sul-rio-grandense.
185
Para tanto buscamos compreender também o que se processava no Brasil e no Rio Grande
do Sul, nas décadas de 1930 e 1940, tanto política, social, cultural como economicamente
para compreendermos o porquê dessa obra só ter sido publicada após a ditadura do Estado
Novo, que Getúlio Vargas instalara no Brasil, em 1937 e que perdurou até 1945, com o
término da Segunda Guerra Mundial.
Pretendemos, com essas análises, observar as questões entre a literatura e a História,
contemplando o que dizia a intelectualidade literária a respeito do romance de Erico e os
representantes do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRS), órgão
criado com a finalidade de estudar, debater e esclarecer questões de cunho histórico.
Trabalhando em dois contextos, o historiográfico e o literário, tivemos a pretensão
de inferir que esses dois campos do conhecimento, respectivamente, um tratado com o rigor
científico que a disciplina exige, e o outro com a liberdade que a arte lhe possibilita, não
estabelecem entre si uma fronteira, mas sim um campo de aproximação, especialmente
quando se trata de romance histórico, como é essa obra de Erico Verissimo e que, ao
mesmo tempo, mescla o caráter ficcional, tanto de personagens como da própria cidade de
Santa Fé, palco do desenrolar das venturas e desventuras de seus sujeitos, com a situação
real que acontecia no Brasil e no Rio Grande do Sul.
Entendemos que a produção historiográfica que era discutida nas décadas de 1930-
1940, no Rio Grande do Sul, notadamente em Porto Alegre, e a produção literária que Erico
orquestrava no mesmo período, foram encontros extremamente felizes e complementares,
guardadas, pois enriqueceram a literatura, que pode "chamar" os fatos históricos para
dentro de um romance. É aí que entendemos que O Tempo e o Vento, como um todo e O
Continente, em particular, é romance histórico, oportunizando, na mesma medida à história,
valer-se da literatura para discutir as questões de fronteiras e identidades do Rio Grande do
186
Sul, tomando por base o romance de Erico, bem como os lugares, os tempos, os contextos
literário e historiográfico, que cercam a relação entre a História e a literatura.
Ao adentrarmos na questão das matrizes de formação da sociedade sul-rio-
grandense, outro de nossos enfoques, e que em última instância redunda na questão das
identidades, tanto a lusa como a platina, tivemos a oportunidade de discustir também a
questão do eu e do outro, numa zona limítrofe que são as divisas territoriais entre o Brasil,
e a região platina, mas que oportunizam o nosso ponto de enfoque, as fronteiras étnico-
culturais.
O castelhano era visto como o outro da fronteira através do olhar do gaúcho
estabelecido no Continente de São Pedro, situação que se propala num período em que o
Rio Grande do Sul desejava ser reconhecido como brasileiro. Daí o porquê de manter-se,
por tanto tempo, a idéia de que a matriz de formação étnico-cultural da sociedade sul-rio-
grandense foi, exclusivamente, a matriz lusa. Felizmente a história é dinâmica e essa
temática foi totalmente superada.
Uamos em nossa pesquisa, não apenas historiadores e literatos – que deram o suporte
teórico-metodológico para esta dissertação – mas também autores da Antropologia.
Quermeos esclarecer que esse fato deve-se à discussão que propusemos, qual seja a das
fronteiras étnico-culturais. Achamos relevantes buscar subsídios nessa área do
conhecimento para embasar nosoos entendeimento sobre essas questões.
Nosso trabalho não teve por objetivo ensejar um debate a respeito das fronteiras
geográficas do Rio Grande do Sul. Entretanto, para tratarmos das fronteiras étnico-
culturais, veio à tona, forçosamente, a localização geográfica do estado e as implicações
que a movimentação no âmbito das fronteiras causava para os habitantes de ambos os lados
187
da mesma, o que, em última instância, vai gerar a inter-relação cultural nesses povos.
Nossa penúltima discussão referiu-se à questão do espaço, cenário imprescindível
quando se discutem questões históricas, pois há que se ter um lugar definido para explicar
onde e como os fatos ocorrem, onde e de que maneira os sujeitos vivem, onde planejam
suas batalhas, onde discutem seus termos de paz. Mas o espaço, em nossa dissertação,
representou também a terra.
A terra, em O Continente, exibe a estrutura social, o poder econômico e político da
classe dominante de Santa Fé. Ou seja, a ficção se reveste do que ocorria no Brasil e no Rio
Grande do Sul, no século XIX e ainda nos começos do século XX. Por outro lado, a perda
da supremacia política dos Amaral para os Terra representa, na história, a queda dos ideais
monárquicos que são vencidos pelos republicanos. Com isso, a mudança de uma estrutura
política e de mando, ficcionalmente, em Santa Fé, historicamente, no Brasil.
O enfrentamento econômico, retratado pelo latifúndio e seus grandes proprietários,
é um dos grandes motes do romance de Erico. Contudo, ao ser suplantado pela
industrialização, que cresce no Brasil a passos largos, a partir das décadas de 1930-40, ele
vai, aos poucos, se desconfigurando. Entretanto, valendo-se da historiografia, Erico deixa
claro que essa "aristocracia" gaúcha não morreu, apenas delegou, aos seus descendentes,
culturalmente letrados, sua continuidade no poder.
Em nossa pesquisa, o espaço forneceu-nos o mote para a discussão sobre a
representatividade da casa e do Sobrado - construção amplamente destacada na obra de
Erico Verissimo, ocupando sete capítulos de O Continente. É uma edificação que não se
resume apenas a uma mera construção arquitetônica, mas reproduz o marco familiar,
político e o lugar que ao mesmo tempo em que representa a força e o poder dos Terra-
Cambará, é também o lar, o lugar onde seus moradores podem sempre se abrigar, se
188
refugia, se proteger.
A análise procedida sobre esses espaços permitiu-nos compreender a relação que
Erico fez da casa com a noção de feminino, com o materno que em seu seio aconchega e
em seu útero abriga seus filhos, que os protege das tempestades – as reais e as imaginárias
- que lhes confere segurança. Embora sendo a mesma construção, o Sobrado - apesar de
bonito, passa-nos a imagem de frieza, de imponência, de austeridade, fatores que a imageria
popular da época em que se passa a obra de Erico, consagrou como a idéia de masculino.
Transpondo-se as portas do Sobrado penetra-se na casa, onde podemos encontrar o riso, o
choro, as disputas e a compreensão, a aparente fragilidade das mulheres, guardiãs da casa e
do Sobrado, e a força dos homens.
Nosso último segmento referiu-se ao tempo, matéria-prima exemplar da História
que, aliada ao vento, representa dois signos desdobrados por Erico em seu romance e que
estão presentes no título da obra O Tempo e o Vento, com toda sua pujança e destaque.
Abordamos três categorias de tempo, que julgamos serem as mais presentes na obra
de Erico e através das quais pudemos discutir a história junto com a literatura. Ao
levantarmos a questão do tempo cíclico-mítico, encontramo-lo, como já dissemos, no início
da obra do autor, nos capítulos A Fonte e Ana Terra, coerentemente com a idéia de
formação de um mundo em que o sobrenatural é muito presente; as explicações quando não
têm uma logicidade apelam para o fantasmagórico, para as lendas, para as crenças que são
passadas de uma geração a outra, para o fatalismo, onde se espera que as coisas aconteçam
mas pouco ou nada se busca para modificá-las. Há todo um envoltório mítico que cerca as
personagens e suas vidas.
Os tempos passado e presente que estabelecemos numa relação dialética aparece na
obra de Erico quando se rompe o ciclo do tempo mítico. A morte de Pedro Missioneiro,
189
causará a morte e a destruição da metade da família Terra, simbolizando o castigo que é
outra nuance do tempo mítico. Nesse momento, sem outra alternativa e com o medo de que
os castelhanos lhes ataquem outra vez, a personagem Ana Terra toma uma resolução: partir
em busca de novas paragens. É assim que chega, junto com a cunhada Eulália, o filho
Pedro Terra e a sobrinha Rosa, ao povoado de Santa Fé.
Em Santa Fé visualizamos as transformações que somente o tempo histórico,
representado pelo presente e pelo passado, rememorado pelas personagens verissimianas,
pode apresentar. Gradativamente o povoado se transforma em cidade, uma nova classe
social ali se instala. e os rumos econômicos se modificam. A estância, gradativamente passa
a dividir sua supremacia econômico-política com a indústria, mas não vai deixar de ter sua
representatividade junto ao mandonismo local. Em certa medida essa situação ocorria não
apenas no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil.
E há uma terceira categoria que denominamos tempo de guerra e paz, que não tratou
exclusivamente da luta armada. Referimo-nos a ela desde o início de nosso trabalho,
quando do equacionamento das fronteiras, que opunham brasileiros a castelhanos, para que
pudéssemos chegar a discutir as fronteiras étnico-culturais, sobre as quais também versou
esta dissertação. Em essência há todo o envolviemnto da história do Rio Grande do Sul e do
Brasil, traduzida nas ocorrências que envolvem a cidade fictícia de Santa Fé e seus
moradores. Ou seja, é a maneira de Erico “contar” essas histórias reais através da saga da
família Etrra-Cambará, desde a gênese até a vitória das forças republicanas, nas mãos de
Licurgo Terra Cambará, após o cerco do Sobrado, desferido pelas forças manarquistas
apoaidas, em Santa Fé, pela família Amaral.
O tempo de guerra e paz, a que nos referimos, também evidenciou as lutas interiores
que cada personagem travou consigo mesmo, seus fantasmas, seus medos, suas disputas
190
com outras personagens - como foi o caso de Bibiana Terra Cambará e Luzia Silva
Cambará, ao discutirem desde a educação de Licurgo, neto e filho respectivamente, até a
posse das terras do Angico e o Sobrado. Mas também tratamos da paz interior,
constantemente buscada. Esse tempo de guerra e paz interior pode ser encontrado também
no subcapítulo 2.1., destinado especificamente a tratar das personagens ficcionalizadas por
Erico Verissimo, que são as enriquecedoras do romance, são as protagonistas que dão vida
à obra e que transportam o leitor para os cantos mais obscuros da alma humana, assim
como o colocam diante dos acontecimentos históricos mais importantes, que fizeram do
Rio Grande do Sul um dos mais prósperos estados do Brasil.
Erico Verissimo, o "contador de histórias", nos motiva e nos provoca uma íntima
investigação: a dos desvãos da alma humana que, como em O Tempo e o Vento, e na
simbologia da tesoura e do punhal, revelam que a condição humana, em sua diversidade e
em sua multiplicidade, permite combinar a criação literária e as circunstâncias históricas,
como um cruzamento harmonioso entre ficção e realidade, entre literatura e História.
191
BIBLIOGRAFIA
AGUIAR, Flávio; MEIHY, José Carlos Sebe Bom; Vasconcelos, Sandra Guardini T. (Orgs.). Gêneros de fronteira: cruzamento entre o histórico e o literário. São Paulo: Xamã, 1997. ALMEIDA, Marlene Medaglia. Introdução ao estudo da historiografia sul- rio-grandense: Inovações e recorrências do Discurso Oficial (1020 - 1935). Dissertação (Mestrado em Sociologia) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1983. 273p. ALVES, Francisco das Neves; TORRES, Luiz Henrique (Orgs.). Pensar a Revolução Federalista. Rio Grande: EdFURG, 1993. ANGELONI, Celita Irene Campos. Rodrigo Cambará: um herói muito problemático e suas mediações. Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Federal de Santa Catarina, 1981. ARISTÓTELES. Poética. Ed. Bilingüe de la Universidad Autónoma de México, 1945, IX, p.14. In RAMA, Carlos. La Historia Y La Novela. Madrid: Tecnos, 1975, p. 12. BACHELARD, Gaston. A poética do wspaço. São Paulo: Martins Fontes, 1996. BARROSO, Vera Lúcia Maciel. Povoamento e urbanismo no Rio Grande do Sul: a fronteira como trajetória. In: GÜNTER, Weimer (Org.). Urbanismo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1992. BAUMGARTEN, Carlos Alexandre. Literatura e História: o entrecruzamento de discursos. In: ALVES, Francisco das Neves & TORRES, Luiz Henrique (orgs.). Pensar a Revolução Federalista. Rio Grande: EdFURG, 1993. BAZCO, Bronislaw A Imaginação Social.. In Einaudi - Anthropos, 1986. Apud SOUZA, Celia Ferras. A representação do Espaço na obra de Erico Verissimo: O Tempo e o Vento. In GONÇALVES, Robson Pereira (org.) O Tempo e o Vento: 50 Anos. Santa Maria, RS: UFSM; Bauru, SP: EDUSC, 2000. BERTASO, José Otávio. A Globo da Rua da Praia. São Paulo: Globo, 1993. BIASOLI, Vitor. "A Fonte", de Erico Verissimo: uma aproximação entre a literatura e a história. In: QUEVEDO, Júlio (org.). Rio Grande do Sul: quatro séculos de história. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1999. BORDINI, Maria da Glória. O drama das Missões no Novo Mundo: a arte imagina a história. In. NUNES, Luiz Arthur. A fonte, por Luiz Arthur Nunes. Porto Alegre: IGEL/IEL, 1990.
192
_______. Criação Literária em Erico Verissimo. Tese (Doutorado em Letras). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1991. _______. Criação Literária em Erico Verissimo. Porto Alegre: L&PM, 1995, p. 124-136. _______. (org.). Atas do Seminário Internacional Erico Verissimo: 90 Anos. Cadernos do Centro de Pesquisa, Literária, da PUCRS, Porto Alegre, v. 2, n. 3, nov./1996. _______. A Liberdade de Escrever: entrevistas entre literatura e política. Porto Alegre. Ed.Univ. UFRGS/EdiPUCRS, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. BOUTIER, Jean & JULIA, Dominique (Orgs.). Passados recompostos: campos e canteiros da história. Rio de Janeiro: EdUFRJ: EdFGV, 1998. BRASIL, Luiz Antônio de Assis. Tratado mínimo das grandes famílias.In GONZAGA, S. & FISCHER, L. A. Nós os gaúchos. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1998. BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais. Lisboa: Presença, 1986. P. 14, 17, 37. BRAUDEL, Fernand. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, trad. de S. Reynolds, 2. ed., Londres, 1972-3, 2. V. apud BURKE, Peter (org.). A Escrita da história: Novas Perspectivas. São Paulo: UNESP, s/d. p. 12. CESAR, Guilhermino. História do Rio Grande do Sul: Período colonial. Porto Alegre: Globo, 1956. CESAR, Guilhermino. O contrabando no sul do Brasil. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul. Porto Alegre: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, 1978. CHARTIER, Roger. Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. Trajectories et questions"apud PESAVENTO, Sandra J. Com os Olhos de Clio ou a Literatura sob o Olhar da História a partir do conto O Alienista, de Machado de Assis Rev. Bras. de Hist. São Paulo, v.16, nº 31 e 32, pp. 1089-118, 1996. CHAVES, Flávio Loureiro (Org.). O contador de histórias: 40 Anos de vida literária de Erico Verissimo. Porto Alegre: Globo, 1972. _______. Erico Verissimo: realismo e sociedade. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1981 _______. Na Fronteira do Texto. In. CHAVES, Flávio Loureiro. História e Literatura. Porto Alegre: EdUFRGS, 1990. _______. Matéria e Invenção (ensaios de literatura). Porto Alegre: EdUFRGS, 1994.
193
_______. Erico Verissimo: O Escritor e seu Tempo. Porto Alegre: Escola Técnica/UFRGS, 1996. CHEVALIER, Jean. Dicionário de Símbolos. Rio de Janeiro: J. O., 1989. Apud MAROBIN, Luiz. As Fronteiras Regionais e Universais de Inspiração em "O Continente". Verso e reverso: Ano VI, nº 11, Julho/Dezembro, 1992, p. 47- 64.
CHIAPPINI, Lígia. Tal Campo, Qual Cidade: A Fundação da regionalidade na Obra de Erico Verissimo. In: Homenagem a Erico Verissimo. Nova Renascença/ Fundação Eng. António de Almeida. Primavera/Verão de 1995. N. 57/58. Vol. 15, p. 299-337. CHIPPIANI, Ligia e AGUIAR, Flávio Wolf (orgs.). Literatura e História na América Latina. Seminário Internacional, 9 a 13 de setembro de 1991. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1993. CORONEL, Rogelio Rodríguez. Um Diálogo com a História: Romance e Revolução. In: CHIAPPINI, Ligia e AGUIAR, Flávio Wolf (orgs.) Literatura e história na América Latina. Seminário Internacional, 9 a 13 de setembro de 1991. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1993. COSTA, Rogério Haesbaert da. Latifúndio e identidade regional. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988. COSTA PORTO. Pinhrrio Machado e seu tempo. Tentativa de interpretação. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951. DACANAL, José Hildebrando. O Romance de 30. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986. DELEUZE, Gilles. Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987. ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 1972. FAUSTO, Bóris. História concisa do Brasil. São Paulo: Ed.Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 2001. FELIX, Loiva Otero. Coronelismo, borgismo e cooptação política. Porto Alegre: Universidade/UFRGS, 1996. FERREIRA, Antonio Celso. A Epopéia Bandeirante: Letrados, Instituições, Invenção Histórica (1870-1940). São Paulo: UNESP, s/d. FLORES, Moacyr (org.). Negros e Índios: Literatura e História. Porto Alegre: EdPUCRS, 1994. FLORES, Moacyr. Dicionário de história do Brasil. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.
194
FONSECA, Suzana Job Borges da. Floriano Cambará - personagem de O Tempo e o Vento. Dissertação (Mestrado em Letras).Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1985 FRESNOT, Daniel. O Pensamento Político em Érico Veríssimo. Rio de Janeiro: Graal, 1977. GAY, Peter. O estilo na história. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 167. GOLIN, Tau. As Fronteiras. Porto Alegre: L&PM, 2002. GONÇALVES, Robson Pereira (org.). O Tempo e o Vento: 50 anos. Santa Maria: UFSM; Bauru: EdUSC, 2000. GONZAGA, S; FISHER, L. A. (orgs.). Nós, os gaúchos. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1998, p. 136 - 38. GÜNTER, Weimer (org.). Urbanismo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: EdUniversidade/UFRGS, 1992. GUTFREIND, Ieda. Historiografia rio-grandense. Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS, 1992. HARTOG, François. A Arte da Narrativa Histórica. In: BOUTIER, Jean e JULIA, Dominique (orgs.). Passados Recompostos. Campos e Canteiros da História. Rio de Janeiro: Ed.UFRJ; EdFGV, 1988, p. 193 - 202. HARTOG, François. O Espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro. Belo Horizonte: EdUFMG, 1999. HELENA, Lucia. Figuração e Questionamento da Nação em O Tempo e o Vento. In: BORDINI, Maria da Glória (org.). Atas do Seminário Internacional Erico Verissimo: 90 Anos. Cadernos do Centro de Pesquisa Literária da PUCRS. Porto Alegre, v. 2. n. 3, novembro/1996. HOHLFELDT, Antônio. O Gaúcho: ficção e realidade. Porto Alegre: Antares, 1982. _______. Pelas veredas da literatura. Porto Alegre: IEL/EDIPUCRS, 1994. _______. Literatura e vida social. 2. ed. Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS, 1998. Homenagem a Erico Verissimo. Nova renascença. Fundação Eng. António de Almeida. Primavera/Verão de 1995. N. 57/58. Vol. 15. INDURSKY, Freda e CAMPOS, Maria do Carmo. Discurso, memória, identidade. Porto Alegre: Sagra Luzzaato, 2000. ISABELLE, Arsène. Viagem ao Rio Grande do Sul, 1833 - 1834. Trad. e notas de Dante de Laytano. 2. ed. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1983.
195
KERN, Arno Alvarez. Missões: Um processo de transculturação no passado, uma possibilidade de integração no presente. VERITAS, Porto Alegre, v. 35, n. 140, dez, p. 635 - 645. _______. A Fonte: Memória e História das Missões Jesuítico-Guaranis. In: BORDINI, Maria da Glória (org.). Atas do Seminário Internacional Erico Verissimo: 90 Anos. Cadernos do Centro de Pesquisas Literárias da PUCRS, Porto Alegre, v. 2. n. 3, novembro/1996. _______. Utopias e Missões Jesuíticas. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1994. KOOGAN/HOUAIS. Enciclopédia e Dicionário Ilustrado. Rio de Janeiro: Delta, 1993. KÜHN, Fábio. A fronteira em movimento: relações luso-castelhanas na Segunda metade do século XVIII. Estudos Ibero-Americano, PUCRS, v. XXV, n. 2, p. 91 - 112, dezembro/1999. LEENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatahy (orgs.). Discurso Histórico e narrativa literária. Campinas, SP: Ed.UNICAMP, 1998. LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Livreiro, 1995, p. 45-6. LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: EdUNICAMP, 1990. LEITE, Ligia Chiappini Moraes e WOLF, Flávio. Literatura e História na América Latina: Seminário Internacional, 9 a 13 de setembro de 1991. São Paulo. Ed. da Universidade/USP, 1993. LEITE, Ligia Chiappini Moraes e WOLF, Flávio. O Foco Narrativo (ou A polêmica em torno da ilusão). São Paulo: Ática, 1997. LYMAN, S. M., DOUGLAS, W. Ethnicity: Strategies of Collective and Individual Impression Management. Social Research, v. XL, p. 344-65, 1972. In. POUTIGNAT, Philippe & STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. Seguido de Grupos Étnicos e suas Fronteiras de Fredrick Barth. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. LUKÁCKS, George. La Novela Histórica. Barcelona: Grijalbo, 1976. Apud SANTOS, Pedro Brum. In: GONÇALVES, Robson Pereira. O Tempo e o Vento: 50 Anos. Santa Maria: UFSM; Bauru: EDUSC, 2000, p. 106. MAROBIN, Luiz. A Literatura no Rio Grande do Sul: aspectos temáticos e estéticos. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1985. _______. As Fontes Regionais e Universais de Inspiração em "O Continente". Verso e Reverso. Ano VII. N. 11 Julho/Dezembro/1992. P. 47-64. UNISINOS
196
_______. Imagens Arquetípicas em O Continente, de Erico Verissimo. São Leopoldo: Ed.UNISINOS, 1997. MARTINS, Rui Cunha. Fronteira, referenciabilidade e visibilidade. Brasil: 500 Anos. Estudos Ibero-Americanos. PUCRS, Edição Especial, n. 1. p. 7 - 19, 2000. MAUSS, Marcel. Citado por OLIVEN, Ruben George. Modernidade e identidade nacional. In KERN, Arno Alvarez (org.). Sociedades ibero-americanas. Reflexões e pesquisas recentes. EDIPUCRS, 2000, p. 153-154. Apud GOLIN, Tau. As Fronteiras. Porto Alegre: L&PM, 2002. MIGNOLO, Walter. Lógica das Diferenças e Política das Semelhanças da Literatura que parece História ou Antrpologia, e Vice-Versa. IN: CHIAPPINI, Lígia e AGUIAR, Flávio Wolf (orgs.). Literatura na América Latina. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1993. MONTEIRO, Charles. História, Literatura e Memória do Espaço Urbano na Ficção de Moacyr Scliar. IN: Estudos Ibero-Americanos. PUCRS, v. XXIV, n. 1, p. 181-199, junho/1998. MONTEIRO, Charles. Porto Alegre e suas Escritas: História e Memória (1940 e 1972). Tese (Doutorado em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2002. 459 p. MORAES, Carlos Dante de. A tradição rio-grandense na obra de Erico Verissimo. IN: MORAES, Carlos Dante de. Figuras e ciclos da História do Rio Grande. Porto Alegre: Globo, 1959. MORIN, Edgar. Transcrito em MÉLO, José Luiz Bica de. Reflexões conceituais sobre fronteira. In: CASTELO, Iára Regina (org.). Fronteira na América Latina: espaços em transformação. Porto Alegre: EdUFRGS, 1997, p. 71. Apud GOLIN, Tau. A Fronteira. Porto Alegre: L&PM, 2002. NUNES, Luiz Arthur. A fonte, por Luiz Arthur Nunes. Porto Alegre: IGEL/IEL, 1990. OLIVEN, Ruben George. Modernidade e identidade nacional. In: KERN, Arno Alvarez (org.) Sociedades ibero-americanas. Reflexões e pesquisas recentes. Porto Alegre: EDIPUCRS, p. 154. Apud GOLIN, Tau. A Fronteira. Porto Alegre: L&PM, 2002. PADOIN, Maria Medianeira. Cultura rio-grandense - o gaúcho e a identidade regional. In. QUEVEDO, Júlio (org.). Rio Grande do Sul: quatro séculos de história. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1999, p. 368-376. PESAVENTO, Sandra Jatahy. RS: a economia & o poder nos anos 30. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1980.
197
_______. Com os Olhos de Clio ou a Literatura sob o Olhar da História a partir do Conto O Alienista de Machado de Assis. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 16, n. 31 e 32, pp. 108-118, 1996. _______. A Narrativa Pendular: As Fronteiras Simbólicas da História e da Literatura em "O Tempo e o Vento", de Erico Verissimo. São Paulo: Nova Alexandria, 2001. POUTIGNAT, Philippe e STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. Seguido de Grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrick Barth. Trad. Elcio Fernandes. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. QUEIROZ DA SILVA, Elza Elisabeth Maran. Na passagem do tempo, a fronteira como representação étnico-cultural. Revista História - UNICRUZ. Departamento de Estudos Humanos e Sociais da Universidade de Cruz Alta. Curso de História. n. 2 (dez/2001). Cruz Alta: UNICRUZ, 2001. Anual. QUEVEDO, Júlio (org.). Rio Grande do Sul: quatro séculos de história. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1999. RAMA, Carlos M. La Historia y La Novela. 2. ed. Madrid: Tecnos, 1974. REICHEL, Heloisa Jochins. A Identidade Sul-rio-grandense no Imaginário de Erico Verisimo. In. GONÇALVES, Robson Pereira. O Tempo e o Vento: 50 anos. Santa Maria, RS: UFSM; Bauru, SP: EDUSC, 2000. REVERBEL, Carlos. O Gaúcho: aspectos de sua formação no Rio Grande e no Rio da Prata. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 1996. RICOUER, Paul. Temps et Récit. Paris: Seuil, 1983-85. Tomes I, II, III. Apud BUMGARTEN, Carlos Alexandre. Literatura e História: O entrecruzamento de Discursos. In. ALVES, Francisco das Neves & TORRES, Luiz Henrique (orgs.) Pensar Revolução Federalista. Rio Grande: EdFURG, 1993. RIEDEL, D. C. (Org.) Narrativa: Ficção e História. Rio de Janeiro: IMAGO, 1988. SANTOS, Volnyr Silva dos. Apontamentos de literatura gaúcha. Porto Alegre: Sagra, 1990. SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem ao Rio Grande do Sul. Tradução de Adroaldo Mesquita da Costa. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997. SCHÜLER, Donald. O Tempo em "O Continente". In CHAVES, Flávio Loureiro (Org.) O Contador de História: 40 anos de vida literária de Erico Verissimo. Porto Alegre: Globo, 1981. SEITENFUS Vera Maria & DE BONI, Luís A. (orgs.) Temas de Integração Latino-Americana. Petrópolis: Vozes, 1990.
198
STAROBINSKI, Jean. A literatura, o texto e o intérprete. IN: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre SÜSSEKIND, Flora. Tal Brasil. Qual Romance? Rio de Janeiro: Achiamé, 1984. TORRES, Luiz Henrique. Historiografia Sul - Rio - Grandense: O Lugar das Missões Jesuítico-Guaranis na Formação Histórica do Rio Grande do Sul (1819 - 1975). Porto Alegre, 1996. Tese (Doutorado em História do Brasil) - Pontifícia Universidade Católica do rio Grande do Sul. TORRESINI, Elisabeth Wenhausen Rochadel. Editora Globo: Uma Aventura Editorial nos Anos 30 e 40. São Paulo: EDUSP: Com - Arte: Porto Alegre: EdUFRGS, 1999. TOYNBEE, A. J. Um estudio de la historia. Buenops Aires: Emecé, 1951, t. I.Apud. RAMA, Carlos M. La Historia Y La Novela. Madrid: Tecnos, 1974, p. 13 VELLINHO, Moysés. O Rio Grande e o Prata: contrastes. S/l: Instituto Estadual do Livro. Divisão de Cultura. Secretaria de Educação e Cultura. Cadernos do Rio Grande XII, 1962. VELLOSO, Mônica Pimenta. A Literatura como Espelho da Nação. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, p. 239-263. VERISSIMO, Erico. O romance de um romance. Lanterna Verde. Rio de Janerio: Sociedade Felipe D'Oliveria, julho de 1944. _______. A liberdade de escrever: entrevistas sobre literatura e política. BORDINI, M. da Glória (Org.). Porto Alegre: ed.UFRGS/EdPUCRS, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1973. _______. Ana Terra. Porto Alegre: Globo, 1977. _______. Solo de Clarineta: memórias. Porto Alegre e Rio de Janeiro: Globo, 1981, v. 1. _______. O Tempo e o Vento: O Continente I. 39. ed. São Paulo: Globo, 1999. _______. O Tempo e o Vento: O Continente II. 32. ed. São Paulo: Globo, 1999. VERISSIMO, Luis Fernando. A Fonte: vertente de "O Tempo e o Vento". In: NUNES, Luiz Arthur et. al. Programa da peça A Fonte. Porto Alegre: PPH, s.d. p. 5. apud: KERN, Arno Alvarez. Atas do Seminário Internacional Erico Verissimo: 90 Anos. Porto Alegre: PPGL, 20 a 24/01/95, p. 18. VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Brasília: UNB, 1982. XAVIER, Silvia Helena Niederauer. Gaúchos e Castelhanos: sem linha divisória. A
199
imagem do castelhano na literatura sul-rio-grandense.. Dissertação (estrado em Letras). Universidade Federal de Santa Maria, 1993 YOUNG, Theodore Robert. O Questionamento da História em O Tempo e o Vento de Erico Verissimo. (Tese de Doutorado em Filosofia). Haward University, 1993. WEIMAR, Günter (org.). Urbanismo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS, 1992. WEINHARDT, Marilene. O Tempo e o Vento: um diálogo entre ficção e história. In. GONÇALVES, Robson Pereira. O Tempo e o Vento: 50 Anos. Santa Maria/RS; Bauru/SP: EDUSC, 2000, p. 98. ZILBERMAN, Regina. Do Mito ao Romance: tipologia da ficção brasileira contemporânea. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, Porto Alegre: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, 1977. _______ . A Literatura no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1980. _______. Mito e literatura brasileira. In: FLORES, Moacyr. Negros e índios: história e literatura. Porto Alegre: EdPUCRS, 1994, p. 115 - 133. _______. O Tempo e o Vento: História, Mito, Literatura. IN: LENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatay (Orgs.). Discurso Histórico e Narrativa Literária. Campinas: EdUNICAMP, 1998. _______. Roteiro de uma literatura singular. 2. ed. Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS, 1998.
200
FONTES
Jornais: Correio do Povo, Porto Alegre: Caderno de Sábado, 22/11/1980. Correio do Povo, Porto Alegre: Caderno de Sábado, 29/11/1980. Zero Hora, Porto Alegre: Segundo Caderno, 14/12/1999. Periódicos: Revista Realidade. Ano I. N. 8. Novembro/1966. Ed. Abril Cultural. Revista Veja. 30 de janeiro de 1974. Revista Brasileira de História, nº 31 e 32, 1996 ALEV – Arquivo Literário Erico Veríssimo.





















































































































































































































![Ovidio Coelho ]os6 Queiroz Clpidio Pereira maranhAo Anno ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321d1daae0f5e8191059ef0/ovidio-coelho-os6-queiroz-clpidio-pereira-maranhao-anno-.jpg)