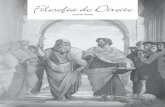REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO KAFKA E OS PARADOXOS DO DIREITO: DA FICÇÃO À REALIDADE
2 FONTES DO DIREITO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2 FONTES DO DIREITO
2 FONTES DO DIREITO
2.1 Conceito
Fonte, expressão de sentido metafórico tradicional no estudo do Direito (atribuída à época de Cícero), significa,nas palavras de Venosa (2004, p. 139), "nascedouro, nascente, origem, causa, motivação das várias manifestaçõesdo Direito".
Fonte do direito, como metáfora, pode ser entendida ‘por extensão do termo, as imediações do ponto de emergência de um curso d'água natural, o lugar onde passa de invisível a visível, onde sobe do subsolo à superfície', ou seja, a forma que o pré-jurídico toma no momento em que se torna jurídico (GUSMÃO, 2008).
Conforme os ensinamentos de Rizzatto (2005), a fonte, que designa a origem, a procedência de alguma coisa, é reveladora de alguma coisa que estava oculta, daquilo que ainda não havia surgido, uma vez que é exatamente o ponto de passagem do oculto ao visível. Por isso que, para o referido autor, "fonte do direito é o local de origem do Direito: é, na verdade, já o próprio Direito, mas saído do oculto e revelado ao mundo" (p. 85).
Para que se possa falar em fonte, Reale (1999) entende ser necessária a presença do poder de decisão. Estabelecido isso, o consagrado doutrinador (1999, p. 14) afirma que:
Fonte do direito implica o conjunto de pressupostos de validade que devem ser obedecidos para que a produção de prescrições normativas possa ser considerada obrigatória, projetando-se na vida de relação e regendo momentos diversos das atividades da sociedade civil e do Estado.
Ainda, acresce que, segundo a teoria tridimensional do direito, fonte de direito é uma estrutura normativa
capacitada a instaurar normas jurídicas em função de fatos e valores, graças ao poder que lhe é inerente (REALE, 1999).
Assim, como toda fonte pressupõe uma estrutura de poder, para o eminente mestre (1999), quatro são as fontes do direito: a legal (decorrente do Poder Legislativo); a consuetudinária (oriunda do poder social); a jurisdicional (oriunda do Poder Judiciário) e a negocial (originada do poder negocial ou da autonomia de vontade
Para Dimoulis (2008, p. 201), "o termo fonte do direito possui vários sentidos, entre os quais os mais relevantes são os de fonte material e de fonte formal".
Nesse sentido, as fontes materiais de direito são as que dão conteúdo às normas jurídicas, enquanto as formais dão as formas de que se revestem as primeiras.
Diniz (2004, p. 287) assim define fontes materiais:
As fontes materiais não são, portanto, o direito positivo, mas tão-somente o conjunto de valores e de circunstâncias sociais que, constituindo o antecedente natural do direito,contribuem para a formação do conteúdo das normas jurídicas, que também encerram potencialmente as soluções que devem ser adotadas na aplicação das normas jurídicas.
Em suma, as fontes materiais consistem no conjunto de fatossociais determinantes do conteúdo do direito e nos valores que o direito procura realizar fundamentalmente sintetizados no conceito amplo de justiça.
As materiais, nas palavras de Gusmão (2008, p.102, grifo doautor), são:
[...] constituídas por fenômenos sociais e por dados extraídos da realidade social, das tradições e dos ideais dominantes, com os quais o legislador, resolvendo questões
que dele exigem solução, dá conteúdo ou matéria às regras jurídicas, isto é, fontes formais do direito [...].
As fontes materiais de direito se confundem com os fatores sociais do direito, quais sejam, fatos econômicos, fatos sociais, problemas demográficos, clima, fatores geográficos, moral, religioso, técnico.
O conceito de fontes materiais, contudo, não é pacífico, pois Venosa (2004, p. 140) as conceitua como:
As instituições ou grupos sociais que possuem capacidade deeditar normas, como o Congresso Nacional, as assembléias legislativas estaduais ou o Poder Executivo, em determinadas hipóteses. Sob esse sentido, fonte é vista sobo prisma da autoridade que pode emitir legitimamente o Direito.
Outro autor que destoa dos posicionamentos apresentados acima é Reale, (2001) pois, segundo este, é indispensável oemprego do termo fonte do direito para indicar apenas os processos de produção de normas jurídicas.
A utilização da expressão para identificar quais foram os motivos lógicos ou morais que guiaram o legislador, para ele, compete aos filósofos, por se tratar de pesquisa de natureza filosófica. Portanto, fonte do direito (sem divisão em material ou formal), para Reale (2001, p. 140, grifo do autor), são "os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto deuma estrutura normativa".
Sendo mais específico, Hübner Gallo apud Nader (2008, p. 142), divide as fontes materiais em diretas e indiretas. Sendo estas identificadas com os fatores jurídicos, e aquelas "são representadas pelos órgãos elaboradores do Direito Positivo, como a sociedade, que cria o Direito
consuetudinário, o Poder Legislativo, que constrói leis, e o Judiciário, que produz a jurisprudência".
Embora as fontes materiais tenham importância e relevância para o Direito, a doutrina pátria se ocupa mais em abordar as fontes formais, pois aquelas são objeto da sociologia dodireito e, em parte, da teoria do Estado e da ciência política.
Dito isso, passa-se ao estudo das fontes formais do direito.
As fontes formais são "os meios ou as formas (lei, costume,decreto etc) pelos quais a matéria (econômica, moral, técnica etc), que não é jurídica, mas que necessita de disciplina jurídica, transforma-se em jurídica" (GUSMÃO, 2008, p. 104).
Ainda, as fontes formais do direito podem ser divididas em estatais (ou de direito escrito) e não estatais. Dentre as estatais há as leis, e dentre as não-estatais o costume, a doutrina, o tratado internacional, ou seja, aquelas que independem da atividade legislativa do Estado.
Além da legislação, Rizzatto (2005) engloba nas fontes estatais a jurisprudência e os princípios (especialmente aqueles existentes no plano constitucional).
Para Gusmão (2008, p. 109) as fontes estatais do direito "são formadas de normas jurídicas escritas, promulgadas e garantidas pelo poder público, válidas no território do Estado".
Outrossim, subdividem-se as fontes formais em primárias, imediatas ou diretas e secundárias ou mediatas. Fontes primárias são aquelas que, de per si, têm potencial suficiente para gerar a regra jurídica, enquanto as fontes mediatas ou secundárias são aquelas que esclarecem a regra jurídica.
Gusmão (2008) faz referência a fontes voluntárias e não voluntárias. Para esse renomado doutrinador, as primeiras são as que expressam uma vontade dirigida especificamente à
criação de uma norma jurídica (lei, jurisprudência e a doutrina). As segundas surgem independentemente de se buscar a criação de uma norma, como o costume e os princípios gerais de direito.
2.2 Fontes do direito na tradição da CommonLaw e na tradição do direito romano canônico
O que se pretende aqui é demonstrar, de forma breve, o papel da decisão judicial e da lei em cada um desses dois grandes sistemas, especialmente sob o prisma das fontes de direito, apontando eventuais traços comuns, realçando as diferenças e demonstrando as mútuas influências.
Outrossim, observe-se que se discorrerá mais sobre o sistema da Common Law, posto que sobre a Civil Law, por ser adotado pelo Brasil, tem-se um conhecimento aprofundado e mais popularizado.
Primeiramente, oportuno abordar polêmica existente quanto ànomenclatura, pois, não raro se vê a Common Law ser chamada de direito inglês, direito anglo-saxão ou, ainda, direito Grã-Bretanha. Para os estudiosos que se dedicam ao tema, essas variações de nome são, porém, um absurdo, pois tratar-se-iam apenas espécies do tema Common Law (PORTO, 2008).
Dito isso, passa-se à análise dos traços fundamentais da tradição anglo-saxônica, que, conforme ensina Ferraz Jr. (2008), são: 1) os tribunais inferiores estão obrigados a respeitar as decisões dos superiores, que, por sua vez, se obrigam a suas próprias decisões; 2) toda decisão relevantede qualquer tribunal é um forte argumento para que seja levada em consideração pelos magistrados; 3) o que vincula no precedente é o princípio geral de direito que temos de colocar como premissa para fundar a decisão, podendo o juizque a invoca interpretá-la conforme sua própria razão; 4) um precedente nunca perde sua vigência.
Reale (2001, p. 142) acerca da tradição anglo-america ensina:
[...] o Direito se revela muito mais pelos usos e costumes e pela jurisdição do que pelo trabalho abstrato e genérico dos parlamentos. Trata-se, mais propriamente, de um Direitomisto, costumeiro e jurisprudencial. [...] O Direito e, ao contrário, coordenado e consolidado em precedentes judiciais, isto é, segundo uma série de decisões baseadas em uso e costumes prévios.
No que tange aos precedentes judiciais, segundo artigo publicado por Porto (2008, p. 09, grifo do autor), a doutrina norte-america elenca uma série de explicações parasua utilização, quais sejam:
(a) Primeiro, em decidindo as demandas, os juízos devem dirimir questões de direito. Na mesma jurisdição, o direitodeve dar a mesma resposta para as mesmas questões legais. Para desenvolver o direito uniformemente e através do sistema judicial, as Cortes devem respeitar as resoluções hierarquicamente superiores. Trata-se, pois, do prestígio ao valor ‘segurança jurídica'. (b) Em segundo lugar, justiça imparcial e previsível significa que casos semelhantes serão decididos da mesma forma, independentemente das partes envolvidas, numa homenagem ao princípio da isonomia. (c) Em terceiro lugar, se na práticafosse de outra forma, isto é, não fossem as decisões judiciais previsíveis, o planejamento nas demandas iniciaisseria de difícil concepção. (d) Em quarto lugar, stare decisis representa opiniões razoáveis, consistentes e impessoais, aqual incrementa a credibilidade do poder judicante junto a sociedade. (e) Em quinto lugar, além de servir para unificar o direito, serve para estreitar a imparcialidade eprevisibilidade da justiça, facilitando o planejamento dos particulares, em face do padrão pré-fixado de comportamentojudicial.
A propósito, segundo Ugo Mattei apud Porto (2008, p.14), o precedente se manifesta quando há:
(1) identidade de fato; (2) quando já tenha sido adotado emCorte da mesma jurisdição; (3) quando não tenha sido o precedente modificado ou revisto, isto é, não tenha sido superado por entendimento mais atual e (4) quando a matériajurídica se apresenta idêntica.
Partindo das idéias expostas acima, verifica-se que as decisões jurisdicionais, no sistema da common law vinculam o juízo futuro, devendo ser seguidas pelo próprio juízo prolator e pelas cortes hierarquicamente inferiores, em havendo reconhecimento pelo juízo posterior da identidade de casos.
Há que se distinguir o sistema da CommonLaw do sistema continental (direito romano canônico).
O sistema romanístico é caracterizado, em primeiro, pela não vinculação dos juízes inferiores aos tribunais superiores em termos de decisões; em segundo, os juízes nãose vinculam às decisões proferidas pelos demais juízes da mesma hierarquia, pelo que é possível decidir casos semelhantes de maneira distinta; terceiro, o juiz e o tribunal podem mudar de orientação, não se vinculando a suas próprias decisões - princípio do livre convencimento (FERRAZ JR., 2008).
Sobre o sistema jurídico romanista, as sábias palavras de Coelho (2004, p. 264):
[...] desenvolveu-se a convicção generalizada de que o direito está contido na lei e que a função jurisdicional é interpretativa, integrativa e aplicadora dos preceitos gerais contidos na lei. [...] Os juristas continentais, aferrados a seu dogma de que o direito equivale à lei, não pensaram, como os insulares, que a jurisprudência seria o único fenômeno juridicamente decisivo e, portanto, não interpretaram o fenômeno como denotando a obrigatoriedade jurídica dos julgados precedentes, mas como puro fato, ao
qual se referiam os juízes por comodidade ou rotina. A tendência que ora se observa, porém, é no sentido de um prestígio crescente da jurisprudência como fonte.
Reale (2001, p. 141-142, grifo do autor), sobre a tradição romanística, leciona:
[...] caracteriza-se pelo primado do processo legislativo, com atribuição de valor secundário às demais fontes do direito. A tradição latina ou continental (civil law) acentuou-se especialmente após a Revolução Francesa, quandoa lei passou a ser considerada a única expressão autêntica da Nação, da vontade geral, tal como verificamos na obra deJean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social.
Vistas as principais características de cada sistema, imperativo se mostra elencar alguns países1 que adotam o Direito romano-canônico e o Common Law2.
O sistema romano-germânico é seguido pelos países da América do Sul, com exceção da Guyana, pela América Central, com exceção de Belize, Groelândia, na África, entre outros, Argélia, Congo, Angola, Moçambique, a maioriana Europa, com exceção da Inglaterra, Irlanda (etc), grandemaioria dos países da Ásia. Observe-se que nos continentes mencionados contêm países que adotam outros sistemas, que não os ora abordados
O sistema anglo-saxão, por outro lado, é adotado, dentre outros países. pelo Canadá (com exceção de Quebec), EstadosUnidos da América (com exceção do Estado da Lousiana), Kênia, Nigéria, Índia, Paquistão, Nepal, Austrália.
Assim, constata-se que no sistema da CommonLaw, os usos e costumes e o precedente judicial são fontes principais do direito. No sistema continental, por outro lado, a lei é considerada a fonte principal do direito, dado valor secundário às demais fontes do direito.
Outra diferença entre os dois sistemas, além terem como fonte principal dois institutos diversos, é a coisa julgada. No Common Law ela representa os efeitos de uma decisão judicial sobre todos os litígios subseqüentes, com força de fonte do direito apta a regular o novo caso concreto. No instituto da Civil Law a coisa julgada limita-sea estabilizar a lide entre as partes litigantes, gerando apenas uma referência comportamental para futuros casos (PORTO, 2008).
Para Secco (2007, p. 305) "a diferença existente entre a nossa Jurisprudência e o precedente do sistema inglês é que, para nós, uma decisão única não cria propriamente a regra a predominar".
No mesmo sentido, as lições trazidas por Coelho (2004, p. 264, grifo do autor):
Na obrigatoriedade da jurisprudência em relação à lei, radica uma das diferenças essenciais entre o sistema jurídico da commom law e o sistema romanista. Na Inglaterra, país de commom law por excelência, a força construtiva das decisões judiciais é, em princípio, absoluta, aplicando-se a regra do stare decisis, que vincula osjulgados ao precedente. Deve-se, porém, ressalvar que a evolução do direito inglês tem se processado no sentido de atenuar a regra, como se pode observar em algumas fases de desenvolvimento do sistema da commom law, a exemplo da instituição de tribunais equity, com a finalidade de corrigir a rigidez da commom law e a unificação jurisdicional por meio do Judicature Act, de 1875.
Apesar de, num olhar superficial, consoante visto acima, asduas tradições possam parecer distantes, com um olhar mais atento no nosso próprio ordenamento jurídico, é possível afirmar que há circulação de soluções e propostas entre o sistema romano-germânico (do qual faz parte o sistema pátrio) e o sistema do Common Law.
Anúncios Google
Sobre esse cruzamento de características, Porto (2008) falaem um fenômeno chamado "commomlawlização", que seria tendência a valorização da "jurisprudência criativa" como fonte de direito, e cita como exemplo a introdução da súmula de efeito vinculante no ordenamento jurídico.
Conclui, por fim que "ambos os sistemas estão se desenvolvendo no sentido de unificação; por um lado, pela atenuação da obrigatoriedade do precedente na common law; por outro lado, pelo fato da crescente prestígio dos precedentes judiciais" (COELHO, 2004, p. 265, grifo do autor).
Por derradeiro, nada melhor que encerrar o tema com a liçãode Reale (2001, p. 142-142, grifo do autor, grifo do autor)sobre esses dois grandes institutos:
Temos, pois, dois grandes sistemas de Direito no mundo ocidental, correspondentes a duas experiências culturais distintas, resultantes de múltiplos fatores, sobretudo de ordem histórica. O confronto entre um e outro sistema tem sido extremamente fecundo, inclusive por demonstrar que, nessa matéria, o que prevalece, para explicar o primado desta ou daquela fonte de direito, não são razões abstratasde ordem lógica, mas apenas motivos de natureza social e histórica.
Seria absurdo pretender saber qual dos dois sistemas é o mais perfeito, visto que não há Direito ideal senão em função da índole e da experiência histórica de cada povo. [...] Na realidade, são expressões culturais diversas que,
nos últimos anos, têm sido objeto de influências recíprocas, pois enquanto as normas legais ganham cada vez mais importância no regime do common law, por sua vez, os precedentes judiciais desempenham papel sempre mais relevanteno Direito da tradição romanística.
Dessarte, embora cada uma tenha suas peculiaridades, as duas tradições sofrem influências recíprocas, cada uma com suas vantagens e desvantagens, pelo que não se pode afirmarpela maior perfeição de ou outro.
2.3 As fontes do direito no sistema brasileiro
A doutrina jurídica não é uniforme quanto ao estudo das fontes do direito, especialmente no tocante ao seu elenco.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro apresenta como fontes, em seu artigo 4º, a lei, a analogia,os costumes e os princípios gerais de Direito.
A doutrina brasileira tradicional, por sua vez, aponta a lei e o costume como fontes formais primárias ou imediatas e a doutrina e a jurisprudência como fontes secundárias ou mediatas (GUSMÃO, 2008).
Posicionando-se de forma um pouco distinta, Secco (2007) aponta como fonte imediata do direito a lei; e a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito, a doutrina, ajurisprudência, e equidade, tratados internacionais e os atos e negócios jurídicos como fontes mediatas do direito.
Dessa forma, embora sem unanimidade na doutrina pátria, é possível afirmar que a lei e os costumes são fontes primárias, e a doutrina, a jurisprudência, a analogia, os princípios gerais de direito e a equidade postam-se como fontes secundárias.
Passa-se, agora, a analisar detidamente as fontes do direito uma a uma.
2.3.1 Lei
A lei é a fonte do direito sobre a qual não se encontra divergências no tocante a sua classificação como fonte formal primária.
No que tange ao conceito, Ferraz Jr. (2008, p. 195) conceitua legislação, lato sensu, como "modo de formação de normas jurídicas por meio de atos competentes".
Esse insigne doutrinador alerta para a distinção entre lei e norma, sendo esta uma prescrição e aquela "a forma de quese reveste a norma ou um conjunto de normas dentro do ordenamento". Em complemento, conclui que "a lei é fonte dodireito, isto é, o revestimento estrutural da norma que lhedá a condição de norma jurídica" (FERRAZ JR., 2008).
No tocante à lei em sentido estrito, Nader (2008, p. 148, grifo do autor) ensina que "é o preceito comum e obrigatório, emanado do Poder Legislativo, no âmbito de sua competência". Prosseguedizendo que "a lei possui duas ordens de caracteres: substanciais e formais. 1º) Caracteres Substanciais – Como a leiagrupa normas jurídicas, há de reunir também os caracteres básicos destas: generalidade, abstratividade, bilateralidade, imperatividade, coercibilidade. É indispensável, ainda, que o conteúdo de lei expresse o bem comum. 2º) Caracteres Formais – Sob o aspecto de forma, a lei deve ser: escrita, emanada do Poder Legislativo em processode formação regular, promulgada e publicada".
Ainda, a lei pode ser classificada em a) lei em sentido formal; b) lei em sentido formal-material; c) lei substantiva; d) lei adjetiva; e) leis de ordem pública.
Nesta senda, lei em sentido formal é aquela que atende os requisitos relativos à forma; em sentido formal-material, alei, além de preencher os requisitos de forma, possui
conteúdo próprio do Direito, reunindo todos os caracteres substanciais e formais.
Lei Substantiva ou material, por sua vez, é a que regula osdireitos e obrigações das pessoas; lei adjetiva ou formal, ao revés, regula o procedimento a ser adotado no andamento das questões forenses.
Em outras palavras: caracterizada pela forma, lei formal é expressão que designa um modo de produção de normas. Caracterizada por sua natureza, lei material designa seu conteúdo (FERRAZ JR., 2008).
Frise-se que essa distinção entre lei material e lei formalnão é usada de modo uniforme pela doutrina. Parte dela emprega a expressão "lei material" para designar aquela queregula o bem da vida, o direito substantivo, e o direito formal como o meio judicial de que se deve valer o cidadão para buscar os direitos e obrigações.
As leis de ordem pública, por derradeiro, tutelam interesses fundamentais da sociedade, prevalecendo independentemente da vontade das pessoas.
Sobre a lei (ou legislação) como fonte do Direito, Ferraz Jr. (2008, p. 193, grifo do autor) leciona:
Quando, porém, dizemos que a lei é fonte do direito, tomamosa palavra "lei" no sentido de regra estrutural, isto é, de regra que institucionaliza a entrada de uma norma no sistema, dentro do qual ela será reconhecida como legal ou lei no sentido estrito. A doutrina das fontes, nesses termos, ao consagrar a ‘lei' (ou a legislação, de modo geral) como fonte, está-se valendo (e até consagrando) a regra input que diz aproximadamente o seguinte: toda norma que se reveste do caráter de "lei" (fonte) deve ser considerada como pertencente ao ordenamento na forma de norma legal ou lei stricto sensu.
Do exposto acima, é possível concluir que, embora mudem algumas especificidades no tratamento da lei como fonte do
direito, é pacífico o entendimento de que a lei é, de fato,fonte primária do direito
2.3.2 Costume
O costume, mesmo no sistema vigente no Brasil, desempenha importante papel, isso porque a lei não tem condições de predeterminar todas as condutas e fenômenos passíveis de concretização na sociedade, em que pese a prevalência da legislação.
Assim, diante da impossibilidade de antever as condutas passíveis de regulamentação aliada à necessidade de soluçãodos conflitos que se apresentam diariamente ao Judiciário, o costume ganha relevo e valor no preenchimento das lacunasdeixadas pela lei.
Partindo dessas constatações, é possível afirmar que o costume somente tem aplicação quando excluídas todas e quaisquer possibilidades de aplicação da lei (interpretaçãoque está em conformidade com o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). E é isto que revela seu caráter de fonte subsidiária, reconhecido pelo próprio ordenamento legal (DINIZ, 2004).
Como forma de expressão do Direito, o costume é definido por Nader (2008, p. 156) como "um conjunto de normas de conduta social, criadas espontaneamente pelo povo, através do uso reiterado, uniforme e que gera a certeza de obrigatoriedade, reconhecidas e impostas pelo Estado".
Nessa linha de raciocínio, o Direito costumeiro é integradopelo uso reiterado de uma prática ou conduta, mesmo sem saber precisar exatamente a sua origem ou seus autores. Para poder ser chamado de costume, porém, é necessário que esse uso seja obrigatório.
Gusmão (2008, p. 146) bem leciona a respeito das características do costume e de sua conversão em lei:
Para que o uso possa ser considerado costume é fundamental que ocorra uma prática constante e repetitiva, durante prazo mais ou menos longo de tempo. O costume leva tempo e instala-se quase imperceptivelmente no seio da sociedade. Assim nasceu, por exemplo, toda a teoria da letra de câmbioe dos títulos de créditos, cuja origem está nas feiras e nas cidades medievais. Há um momento no qual o legislador entende ser necessário que o costume seja trasladado para alei.
No mesmo sentido, Nader (2008, p. 158, grifo do autor):
Para que o costume alcance força jurídica é necessário, em primeiro plano, que esteja previsto no ordenamento jurídicocomo forma de expressão do Direito. Uma vez incluído no elenco das fontes formais, é indispensável que reúna dois elementos: material e psicológico. O primeiro [...] consiste na repetição constante e uniforme de uma prática social. O costume pressupõe, assim, a pluralidade de atos, um longo tempo, uma única fórmula. Faltando um destes elementos a norma social não apresentará valor jurídico. [...] O elemento psicológico, subjetivo ou interno, [...] é o pensamento, a convicção de que a prática social reiterada, constante e uniforme, é necessária e obrigatória. É a certeza de que a norma adotada espontaneamente pela sociedade possui valor jurídico."
Aprofundando-se um pouco mais no tema, Secco (2007) entendeque os costumes podem ser de três espécies: a) contra legem; b) secundum legem; e, c) praeter legem.
O costume contra legem, por se opor à lei, não é admitido no direito brasileiro. O costume secundum legem, por estar de acordo com a legislação vigente, serve-lhe de interpretaçãoe de reforço, esclarecendo-a. O costume praeter legem é o utilizado quando a lei for omissa, para que seja preenchidaa lacuna. É, portanto, este último considerado fonte (subsidiária) do direito (SECCO, 2007).
Segundo o mesmo doutrinador (2004), dois requisitos são tidos com imprescindíveis para o costume, um de ordem objetiva (corpus), traduzido no uso continuado, na exterioridade, na percepção tangível de uma prática ou conduta; outro de ordem subjetiva (animus), consistente na consciência coletiva de obrigatoriedade da prática.
Seguindo essa linha de compreensão, as lições do renomado Ferraz Jr. (2008, p. 207, grifo do autor), leciona que:
A doutrina discute o costume, procurando estabelecer-lhe a origem dessa força compulsória, falando, em geral, em dois requisitos: o uso continuado e a convicção da obrigatoriedade (opinio necessitatis sive obligationis), com o que quer distinguir o simples uso do costume.
Ainda, digna de nota é a distinção entre as Regras de TratoSocial e os costumes jurídicos feita por Nader (2008, p. 157, grifo do autor), in verbis:
Os costumes jurídicos, consuetudo, não se confundem com as Regras de Trato Social. [...] Tal consideração revela que, na prática, a única distinção objetiva que deve existir entre ambos consiste no fato de a lei ser sempre escrita e o costume ser oral, pois a genuína fonte e o conteúdo devemser iguais. Segue-se daí a conclusão de que, uma vez escrita, a norma deixa de ser costumeira para incorporar-seà categoria do Direito codificado.
Conforme entendimento desse autor, o costume baseia-se na crença e na tradição, sob a qual está o argumento de que algo deve ser feito, e deve sê-lo porque sempre foi dessa forma. A autoridade do costume repousa, pois, nessa força conferida ao tempo e ao uso contínuo como reveladores de normas, as normas consuetudinárias.
Coelho (2004), por sua vez, sustenta a existência de três formas de direito consuetudinário: o costume delegante, o
delegado e o derrogatório. Nesta esteira, veja-se parcial transcrição da teoria desenvolvida pelo doutrinador:
O costume delegante autoriza determinada instância a criar direito escrito – como as constituições consuetudinárias, princípios e standards jurídicos que, não obstante não estarem escritos, estão na base de alguns documentos de natureza constitucional, como no direito inglês.
O costume delegado verifica-se quando a própria lei remete ao costume para solução de controvérsias, ou ainda quando ele se refere a matérias não reguladas por lei. [...]
O costume derrogatório é denominado desuetudo. É o desuso da lei pelo costume, a situação de leis que não ‘pegam' – permanecem válidas no ordenamento, mas não são cumpridas (COELHO, 2004, p. 264, grifo do autor)
Para Ferraz Jr. (2008, p. 206), em razão da ausência de um ato sancionador como aquele presente na lei, "o costume, nos direitos positivados de nossos dias, tem, como fonte, uma importância menor que teve no passado".
Além do mais, o imperativo da segurança jurídica acarretou a diminuição de sua força e utilização, pois não é fácil a verificação da presença dos requisitos que distinguem o usodo costume, o que é agravado pelo fato de ser uma fonte nãoescrita.
2.3.3 Doutrina
A doutrina, também chamada de Direito Científico, compõe-sede estudos e teorias, desenvolvidos pelos operadores do direito, com o fito de sistematizar e interpretar as normas
vigentes e de conceber novos institutos jurídicos, reclamados pelo momento histórico (NADER, 2008).
Conceituada por Secco (2007, p. 302) como "uma forma expositiva e esclarecedora do Direito", a doutrina, segundoo eminente doutrinador, admite três espécies: a) dogmática;b) técnica; e, c) crítica.
Nesta esteira, a dogmática é essencialmente criadora, acompanha a evolução da sociedade, analisa as várias instituições jurídicas, insere aperfeiçoamentos, introduz novas teorias, conceitos e normas. A técnica, por sua vez, é aquela que esclarece, revela e interpreta o Direito. A crítica, por fim, aponta lacunas e as deficiências da legislação, tem por objetivo o aperfeiçoamento e atualização do Direito frente à evolução social (SECCO, 2007).
Outrossim, a doutrina pode ser secundum legem, se resulta deum texto legal; pode ser praeter legem, quando dela podem serextraídas soluções para as lacunas do direito; e, pode ser contra legem, se contrária ao disposto na lei vigente (GUSMÃO, 2008).
Em nosso país, a doutrina segue, basicamente, quatro métodos de exposição: a) análise de instituto jurídico; b) comentários e artigos de leis; c) verbetes; e, d) comentários a acórdãos e tribunais. O primeiro dá uma visãomais coerente e profunda da questão; as demais modalidades citadas são complementares, ou seja, recorre-se a um verbete no dicionário ou enciclopédia jurídica apenas para um primeiro conhecimento do instituto; recorre-se ao comentário de um artigo de lei ou ao exame de julgados quando o fenômeno jurídico já é bem conhecido (NADER, 2008).
A doutrina está inserida dentre as fontes subsidiárias do Direito que não são unanimemente aceitas. Para alguns doutrinadores - Ferraz Jr. (2008), por exemplo, no sistema romanístico, ela não chega a ser fonte do direito, porém, éreconhecida sua autoridade como orientação para a interpretação do direito.
Indo ao encontro dessa ideia, Nader (2008) defende a tese de que os estudos científicos, por não obrigarem os juízes e por não possuírem estrutura de poder (indispensável à caracterização das formas de expressão do Direito), não sãoconsiderados fontes formais.
Há casos, entretanto, em que ela é reconhecida como fonte mediata. É o que ocorre quando ela é:
[...] responsável pelo aparecimento de standards jurídicos, fórmulas interpretativas gerais que resultam de valorações capazes de conferir certa uniformidade a conceitos vagos e ambíguos como mulher honesta, justa causa, trabalho noturno, ruído excessivo, etc. Os Standards não são normas, são fórmulas valorativas que uniformizam a interpretação dos mencionadosconceitos, mas sem força de fonte do direito (FERRAZ JR. 2008, p. 212, grifo do autor).
Por ser constantemente invocada pelos magistrados e advogados como fundamento do que, respectivamente, decidem e pedem, Coelho (2004) entende que não mais pode ser ignorada como fonte do direito, embora seu valor não decorra da obrigatoriedade (como as demais fontes do direito), mas sim da livre adesão manifestada pelos operadores do direito.
Assim, por mais controversa que seja a matéria, não se podedesconsiderar a importância da doutrina para o Direito e seus operadores.
2.3.4 Analogia
Analogia é definida, no dicionário Aurélio, como o "ponto de semelhança, entre coisas diferentes" (FERREIRA, 2005, p.12).
A analogia, conforme doutrina de Nader (2008, p. 194), "é um recurso técnico que consiste em se aplicar, a uma
hipótese não-prevista pelo legislador, a solução por ele apresentada para uma outra hipótese fundamentalmente semelhante à não-prevista".
Ao conceito dado, aludido autor acrescenta que não se tratade fonte formal, posto que não é criadora de normas jurídicas, apenas conduz o intérprete ao encontro da norma aplicável ao preceito concreto.
Secco (2007, p. 291) explica que a analogia "implica em existir uma semelhança entre a hipótese tomada como padrão (aquela que está disciplinada por lei) e a hipótese a ser resolvida (sem que haja norma disciplinadora a respeito). Alei existente para uma situação é ‘arrastada' para suprir afalta de lei na outra".
E vai além o mesmo autor ao dividir a analogia em "analogia legis" e "analogia juris". A primeira é resultado da utilização de determinada lei aplicável à hipótese semelhante em um caso que não esteja disciplinado em lei específica. A segunda, por sua vez, é a que resulta da aplicação de princípios jurídicos em casos similares.
Os exemplos tradicionais de utilização da analogia, elencados por Hermes Lima apud Secco (2007, p. 292), são:
‘a) se a lei diz que o indivíduo que causa prejuízo a outrem deve reparar o dano, o mesmo princípio deve estender-se, por analogia, às pessoas jurídicas;
b) a garantia da evicção aplicável aos contratos de compra e venda, analogicamente, se aplica aos contratos translativos a título oneroso;
c) se a lei admite influência do dolo como causa de nulidade dos contratos, analogicamente, alicará a mesma regra aos negócios jurídicos'.
Embora esteja expressamente elencada no artigo 4º da Lei deIntrodução às Normas do Direito Brasileiro, Ferraz Jr.
(2008) entende que não seja, propriamente, fonte do direito, mas sim, instrumento técnico de que se vale o juizpara suprir a lacuna, pelo que a norma dele resultante é norma jurisprudencial praeter legem.
Venosa (2004, p. 160) assevera que "a analogia não constitui propriamente uma técnica de interpretação [...], mas verdadeira fonte do Direito, ainda que subsidiária e assim reconhecida pelo legislador no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil".
Frise-se que o juiz, mesmo aplicando o instituto jurídico ora em comento, ainda está adstrito ao Direito Positivo, não possuindo liberdade de escolher a norma jurídica aplicável.
Outros autores, tais como Gusmão, Dimoulis e Coelho, ao tratarem do tema "fontes do Direito", sequer citam a analogia no elenco de fontes que apresentam em suas obras.
2.3.5 Princípios gerais de Direito
A definição ideal de princípios gerais de direito é feita por Miguel Reale, reproduzida textualmente por Secco (2007,p. 300):
A nosso ver, princípios gerais de direito são enunciações normativas de valor genético, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas. Cobrem, desse modo, tanto o campo da pesquisa pura do Direito quanto o de sua atualização prática.
[...] A maioria dos princípios gerais de direito, porém, não constam de textos legais, mas representam contextos doutrinários ou dogmáticos fundamentais.
Ferrara apud Coelho (2004, p. 268) apresenta duas espécies de princípios gerais: "os do direito positivo, incorporadosaos textos, e os fundamentos do ordenamento jurídico, que orientam o trabalho legislativo e, portanto, são informadores do desenvolvimento do direito positivo".
Os princípios gerais de Direito são encontrados por meio dainterpretação das normas jurídicas escritas, porém, Dimoulis (2008, p. 231) faz crítica à aplicação dos mesmos:
Por serem vagos e imprecisos, os princípios gerais de direito permitem a aplicação do direito conforme as exigências de segurança jurídica. O juiz que, por ordem legal expressa, em caso de omissão do legislador, deve recorrer à aplicação de tais princípios, necessita estar consciente dessas dificuldades, tentando limitar ao máximo o subjetivismo. Para tanto, deve fundamentar sua decisão deforma detalhada e completa, permitindo aos interessados controlar como e por quais razões foi aplicado determinado princípio de direito.
Imperioso se mostra o registro da necessidade de duas características para que determinada "regra" possa ser enquadrada como princípio geral de direito, quais sejam: abstração e generalidade (DIMOULIS, 2008).
Ferraz Jr. (2008) defende que, ainda que possam ser aplicados diretamente na solução de conflitos, não se tratam de normas, mas apenas e tão somente de princípios.
Os princípios gerais de Direito, por serem muito amplos, têm aplicação complexa na solução de litígios, o que exige dos julgadores maior atenção à regra da fundamentação das decisões para não infringir o princípio da segurança jurídica.
2.3.6 Fontes negociais
A doutrina, de modo geral, reconhece a vontade dos particulares ou o poder negocial como fonte formal do direito.
O que distingue esta espécie de fonte das demais é que, enquanto as autoridades estatais criam normas de forma unilateral, impondo-as a todos, os particulares só podem vincular quem houver acordado nesse sentido. Outra distinção que é necessário que se faça constar é que o poder negocial dos particulares é limitado por normas estatais, que regulam a manifestação de vontade dos particulares (DIMOULIS, 2008).
Para Reale (2001), a fonte negocial é caracterizada pela convergência da a) manifestação de vontade de pessoas legitimadas a fazê-lo; b) forma de querer que não contrariea exigida em lei; c) objeto lícito; e, d) paridade (ou certa proporção) entre os partícipes da relação jurídica.
No tocante às fontes negociais merecem destaque as convenções coletivas de trabalho, conforme bem explanado por Dimoulis (2008, p. 233):
Trata-se de acordos concluídos, geralmente após trabalhosasnegociações, por representantes dos empregados e dos empregadores de determinado setor da atividade econômica, no intuito de resolver, sem intervenção estatal, conflitos relativos às condições e à remuneração do trabalho. As convenções coletivas são hierarquicamente superiores a futuros acordos individuais entre empregados e os empregadores cobertos pela convenção, desde que estes acordos não sejam mais favoráveis ao trabalhador (princípioda ‘norma favorável').
Chironi e Abello apud Diniz (2004) afirmam que o contrato não pode ser considerado fonte do direito objetivo, mas simfonte do direito subjetivo, sendo, porém, ilógico elevá-lo ao mesmo patamar da lei, dando-lhe igual força e significação, por sua posição jurídica ser restrita a determinados casos concretos.
Embora alguns doutrinadores incluam as fontes negociais entre as fontes do direito, grande maioria dos estudiosos não se atêm muito a elas, sendo breves seus comentários acerca do assunto.
Por fim, para concluir este capítulo, nada melhor que a transcrição parcial da crítica feita pelo renomado Ferraz Jr. (2008, p. 214, grifo do autor) à teoria das fontes:
[...] Isso posto, seria conveniente distinguir entre a razão jurídica (doutrina, princípios gerais do direito, equidade, analogia) como conjunto de regras estruturais, e as fontes stricto sensu como elementos do repertório, isto é, normas-origem do sistema (a lei, o costume, os atos negociais, a jurisprudência). Entre essas últimas, algumas são normas-origem gerais, outras são individuais (atos negociais e jurisprudência que, na estrutura do sistema anlgo-saxônico, também produzem normas gerais e, na do sistema romanístico, só em casos muito excepcionais). As regras estruturais não são, assim, propriamente fontes no sentido da dogmática, mas respondem pela coesão global do sistema, ao qual conferem sentido geral da imperatividade [...], e são assim uma espécie de ‘fonte' de segundo grau.
2.3.7Jurisprudência
Jurisprudência é a coletânea das decisões proferidas pelos Tribunais, resultantes da manifestação do pensamento
coletivo, a que se chega através do voto individual de cadaintegrante da Turma Julgadora, convergente e no mesmo sentido dos votos dos demais membros (SECCO, 2007).
É, também, "a interpretação dada à lei pelos julgadores, estabelecendo, de certa forma, o parâmetro pelo qual deverão ser julgados todos os casos idênticos" (SECCO, 2007, p. 306).
Outrossim, designa, segundo orientação dada por Coelho (2004, p. 264), "o conjunto de princípios e doutrinas contidos nas decisões dos juízos e tribunais".
Assevera Gusmão (2008, p. 127, grifo do autor) ser a jurisprudência "a regra jurídica extraída de julgados, reiterados e uniformes sobre determinada questão jurídica, dos tribunais em um Estado ou de um tribunal internacional".
Importante fazer constar, ainda, a distinção entre jurisprudência em sentido amplo e jurisprudência em sentidoestrito. Trata-se a primeira de coletânea de decisões proferidas pelos juízes ou tribunais sobre determinada matéria jurídica. Este conceito comporta a jurisprudência uniforme – quando a interpretação judicial oferece idênticosentido e alcance às normas jurídicas; e a contraditória – ocorre divergência quanto à aplicação das normas. A jurisprudência em sentido estrito, por sua vez, consiste noconjunto de decisões uniformes, prolatadas pelos Órgãos do Poder Judiciário, acerca de determinada questão jurídica (NADER, 2008).
Por outro lado, a jurisprudência é classificada por Secco (2007) em: a) secundum legem; e, b) praeter legem. A primeira éa interpretação dada à lei pelos juízes, com harmonia entreo texto legal e o sentido atribuído a ele. A segunda preenche as lacunas deixadas pela lei, é a considerada, efetivamente, fonte subsidiária do Direito.
No que tange à classificação da jurisprudência como fonte do direito, a doutrina pátria é controversa.
Ferraz Jr. (2008) nega essa autoridade a ela e fundamenta essa negativa na (a) ausência de vinculação dos juízes
inferiores aos tribunais superiores em termos de decisões, (b) na possibilidade de decisão de casos iguais de maneirasdiversas e (c) no livre convencimento dos magistrados, princípio vigente no País.
Muito embora negue a autoridade de fonte do direito à jurisprudência, o renomado autor supramencionado reconhece sua importância ao lecionar:
Apesar disso, é inegável o papel da jurisprudência romanística na constituição do direito. Se é verdade que o respeito à lei e a proibição da decisão contra legem constituem regras estruturais fortes do sistema, não podemos desconhecer, de um lado, a formação de interpretações uniformes e constantes que, se não inovam a lei, dão-lhe um sentido geral de orientação; é a chamada jurisprudência pacífica dos tribunais, que não obriga, mas de fato acaba por prevalecer. De outro lado, contudo, indo mais além, é conhecida a elaboração de verdadeiras normas jurídicas gerais em casos de lacunas que constituem uma espécie de costume praeter legem. [...]
Mais recentemente, porém, temos assistido ao aparecimento de fenômenos novos, como é caso da uniformização da jurisprudência por força da própria lei processual e das súmulas dos tribunais superiores. [...] As Súmulas do Supremo Tribunal Federal, que também não vinculam os tribunais inferiores e representam assentos de jurisprudência que têm também força de fato na interpretação do direito, foram criação regimental com o objetivo prático de dispensar, nos arrazoados, a referênciaa outros julgados no mesmo sentido, permitindo ao ministro-relator do processo arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso quando contrariem a orientação predominante no tribunal. Em ambos os casos, porém, não chegamos a ter precedentes no sentido do sistema anglo-saxônico(FERRAZ JR., 2008, p. 211, grifo do autor).
Ao final, o eminente autor encerra afirmando que a jurisprudência, no sistema romanístico, é, sem dúvida, "fonte" interpretativa da lei, mas não chega a ser fonte do
direito. No caso da criação normativa praeter legem, quando se suprem lacunas e se constituem normas gerais, temos antes um caso especial de costume(FERRAZ JR., 2008).
Para Nader (2008), sob o argumento de que sua função é a deinterpretar o Direito à luz dos casos concretos e não a de criar normas jurídicas, a jurisprudência não constituiu umafonte formal.
Venosa (2004) também atribui à jurisprudência papel de fonte (subsidiária) do direito, destacando o importante papel que desempenha no preenchimento das lacunas da lei e na sua interpretação.
Portanto, na doutrina encontram-se posicionamentos tanto defendendo a jurisprudência como fonte (subsidiária) do direito quanto se opondo a tal teoria. Porém, parece ser maioria aquela que a classifica como fonte.
Dessa forma, verifica-se que a classificação das fontes do direito na doutrina brasileira não é pacífica, e que, dificilmente, alcançar-se-á um entendimento unânime sobre otema.
REFERÊNCIAS
COELHO, Luiz Fernando. Aulas de Introdução ao Direito. São Paulo: Manole, 2004.
DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 2. ed. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
FERRAZ Jr.,Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito.6. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2008.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio daLíngua Portuguesa. Paraná: Positivo, 2005.
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
PORTO, Antonio de Paiva. Súmula Vinculante e seu regramentopela Lei nº 11.417/06. Juris Plenum, ano IV, n. 19, jan. 2008.
REALE, Miguel. Fontes e Modelos do Direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1999.
______. Lições Preliminares de Direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
RIZZATTO, Nunes. Manual de Introdução ao Estudo do Direito.6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2005.
SECCO, Orlando de Almeida. Introdução ao Estudo do Direito.10. ed. Rio de Janeiro: Lumin Juris, 2007.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Introdução ao Estudo do Direito: primeiras linhas. São Paulo: Atlas, 2004.
processo Legislativo ComumO seu navegador não suporta frames incorporados ou está actualmente configurado para não exibi-los. O conteúdo podeser visualizado no código fonte da página: /glue/AN_Navigation.jsp? .. Processo Legislativo Comum
A iniciativa legislativa cabe aos Deputados ou aos Grupos Parlamentares - neste caso chamam-se projectos de lei e também ao Executivo - neste caso chamam-se propostas de lei.
Depois de ser admitida pelo Presidente da Assembleia, a iniciativa é objecto de um parecer da Comissão especializada a quem foi distribuída, seguindo-se o seu debate na generalidade, sempre feito em Sessão Plenária,
que termina com a votação na generalidade (sobre as linhas gerais da iniciativa).
Segue-se um debate e votação na especialidade (artigo por artigo), que pode ser feito em Plenário ou em Comissão.
Há matérias cujo debate e votação na especialidade é obrigatório em Plenário. São, por exemplo, as que se referem às eleições para os titulares dos órgãos de soberania, ao referendo, aos partidos políticos, à criação ou modificação territorial.
O texto final é submetido a uma votação final global semprefeita em Plenário.
A iniciativa aprovada chama-se Decreto da Assembleia Nacional.
O Decreto, assinado pelo Presidente da Assembleia Nacional,é enviado ao Presidente da República para promulgação. Apósa promulgação, o decreto assume a designação de Lei. Depoisé remetido à Imprensa Nacional para publicação na 1ª série do Diário da República.
O Presidente da República pode exercer o seu direito de veto, ou por considerar que o diploma aprovado pela Assembleia Nacional contem normas que contrariam a Constituição (requerendo então o parecer do Tribunal Constitucional), ou por razões políticas que deverão constar de mensagem fundamentada.
No caso de haver normas consideradas inconstitucionais, a Assembleia pode aprovar alterações ao diploma, enviando-o, de novo, para promulgação. No entanto, qualquer que seja a razão do veto, a Assembleia Nacional pode sempre confirmar o texto do diploma anteriormente aprovado por maioria absoluta dos Deputados em funções (ou maioria de 2/3 para certas matérias). Se assim for, o Presidente da República tem, obrigatoriamente, de promulgar o diploma, no prazo de 8 dias.
Esta página ou secção foi marcada para revisão, devido a inconsistências e/ou dados de confiabilidade duvidosa. Se tem algum conhecimento sobre o tema, por favor verifique e melhore a consistência e o rigor deste artigo. Pode encontrar ajuda no WikiProjeto Ciências sociais.
Se existir um WikiProjeto mais adequado, por favorcorrija esta predefinição. Este artigo está para revisão desde janeiro de 2013.
O direito público se refere ao conjunto das normas jurídicas de natureza pública, compreendendo tanto o conjunto de normas jurídicas que regulam a relação entre o particular e o Estado, como o conjunto de normas jurídicas que regulam as atividades, as funções e organizações de poderes do Estado e dos seus servidores.
Por se tratar de um conceito classificatório em relação ao conteúdo da norma jurídica, distingue-se das normas jurídicas de natureza privada.
Índice 1 Divisão entre direito público e direito privado 2 Origem da divisão entre direito público e direito
privado 3 Critérios para divisão entre direito público e
direito privado 4 Críticas da divisão entre direito público e direito
privado e críticas aos critérios da divisão 5 Os ramos do direito público 6 Princípios ordenadores do direito público 7 Direito misto 8 Obras Magnas e referências para o estudo do direito
público e do direito privado 9 Referências 10 Ligações externas
Divisão entre direito público e direitoprivado
A divisão entre direito público e direito privado decorre de uma necessidade do estudo do direito, sobretudo em relação ao conteúdo da norma jurídica.
Trata-se da exigência de uma classificação ou de uma tópicajurídica. 1 .
A divisão entre direito público e direito privado também é o eixo para a organização das faculdades de direito e dos programas de graduação e pós-graduação.
Origem da divisão entre direito públicoe direito privadoA origem da divisão entre direito público e direito privadoremonta ao Direito Romano, sobretudo a partir da obra de Ulpiano (Digesto, 1.1.1.2) no trecho: Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem. (O direito público diz respeito ao estado da coisa romana, à polis ou civitas, o privado à utilidade dos particulares.)
A divisão também resulta da separação entre a esfera pública e a privada, do lugar da ação e do lugar do labor. Tércio Sampaio Ferraz corrobora o entendimento afirmando que, Quando Ulpiano, pois, distinguia entre jus publicum e jus privatum certamente tinha em mente a distinção entre a esfera do público, enquanto lugar da ação, do encontro dos homens livres que se governam, e a esfera do privado, enquanto o lugar do labor, da casa, das atividades voltadas à sobrevivência.2 .
A tradição do Estado Moderno também representa a distinção a partir da separação entre o Estado e a sociedade. Sustenta-se, assim, que existem, na vida social, duas esferas com diferentes finalidades eregras de funcionamento: por um lado, a esfera privada, em que os indivíduos atuam livremente segundo sua vontade e interesse; por outro lado, a esfera pública, em que os cidadãos decidem de forma coletiva sobre assuntos de interesse geral.3 .
Direito público só pode ser feito o que está escrito em lei, diferente do direito privado que pode fazer tudo o quenão está sendo proibido em lei
Critérios para divisão entre direito público e direito privadoPara o fim de analisar e caracterizar a divisão entre direito público e direito privado, importa estabelecer uma série de critérios objetivos para compreender a relação jurídica em questão. Destacam-se os seguintes critérios:
Quanto ao conteúdo da relação jurídica: importa para esse critério verificar qual é o interesse predominante na relação jurídica. De maneira geral, seo interesse tutelado se referir ao particular o domínio será do direito privado, ou caso seja o interesse público será pertencente ao domínio do direito público.
Quanto ao tipo da relação jurídica: será considerada uma relação jurídica de direito privado quando ocorre uma relação de coordenação dos sujeitos, isto é, quando as partes se encontram em situação de igualdade. Caso contrário, caso seja uma relação de imposição, na qual uma das partes pode sujeitar a outra a sua vontade, será pertencente ao direito público.
Quanto à forma da relação jurídica: de maneira geral, a norma que apresenta um caráter imperativo (ius cogens)e, portanto, obrigatória para todos deverá pertencer ao domínio do direito público. Ao contrário, caso prevaleça a autonomia da vontade e dos interesses dos particulares será o domínio do direito privado.
Críticas da divisão entre direito público e direito privado e críticas aos critérios da divisãoA dicotomia entre direito público e direito privado tornou-se um lugar comum ao estudo do direito, não conferindo bases sólidas e rigorosas para uma orientação.
As principais críticas da divisão são:
A divisão entre direito público e direito privado comoum conceito abrangente: essa crítica indica a falta deprecisão ao distinguir o direito em dois grandes ramose, ao mesmo tempo, sustenta a necessidade de uma melhor classificação dos ramos dogmáticos capazes de se ajustar às suas finalidades próprias.
A inexistência da divisão entre direito público e direito privado: essa crítica se baseia na ideia dos direitos metaindividuais, sobretudo tendo em vista a necessidade de especificar os direitos de uma dada coletividade. A compreensão é que a distinção entre interesses públicos de privados, que em certa época era o suficiente para expressar toda a gama de interesses da coletividade, acabou por se tornar insuficiente para abranger o espectro de interesses que a sociedade moderna manifestava.
A divisão do direito público e direito privado como simplificação do direito como fenômeno jurídico complexo: essa crítica se fundamenta na simplificação da divisão a partir dos manuais de direito (ou apostilas de cursos preparatórios para ingresso em carreiras públicas). O fato é que nesses materiais de estudo, são apresentados aos estudiosos simplificaçõesde um de um fenômeno complexo como o direito, eliminando as importantes porosidades e a real dinâmica e prática do direito.
A grande maioria das críticas apresentadas se fundamentam apartir da insuficiência de critérios claros para justificara divisão entre direito público e direito privado.
Destacam-se as seguintes críticas aos critérios apresentados:
Crítica do critério quanto ao conteúdo da relação jurídica: distinguir a relação a partir do interesse predominante é insatisfatório já que existem inúmeros interesses particulares albergados pela Constituição Federal e integrantes no domínio do direito público (p. ex., proteção dos direitos fundamentais).
Crítica do critério quanto ao tipo da relação jurídica: a dificuldade desse critério resulta na analise da sujeição das partes, isto porque em muitos
casos no direito privado há imposição de obrigações àspartes (p. ex, contrato de adesão).
Crítica do critério quanto à forma da relação jurídica: Em muitas normas de direito privado possuem o caráter imperativo e em outras normas de direito público possuem certo respeito e atenção à autonomia da vontade.
Os ramos do direito públicoCompreender o fenômeno do direito público exige identificarfronteiras entre tipos de direitos e obrigações que não sãomuito bem definidas e necessitam de uma análise cuidadosa. Nesse sentido, é impossível uma indicação precisa dos ramosdo direito público.
José Eduardo Faria sublinha sobre esse ponto que, (...) as fronteiras tendem a se tornar mais porosas, e os espaços tradicionalmente reservados ao direito e à política tendem a não mais coincidir com o espaço territorial. Com isso, a atenção agora se volta à questão da atualidade, do alcance e da efetividade da soberania do Estado.4
O direito público, mais que um ramo autônomo, é um conjuntode sub-ramos com especificidades próprias. É possível distinguir os ramos da seguinte maneira:
Direito público externo (ou direito internacional público)
Direito público interno, sendo este subdividido nos seguintes ramos:
o Direito constitucional o Direito administrativo o Direito processual o Direito penal o Direito financeiro e tributário
Princípios ordenadores do direito públicoÉ possível identificar alguns princípios que ordenam o direito público:
O princípio da autoridade pública diz respeito à atuação do Estado para resguardar e executar a vontadegeral, isto é, o interesse público. Destacam-se dois meios para efetivá-los, primeiro pelo ato unilateral de cumprimento da conduta (lei, sentença ou ato administrativo) ou através da atribuição de direitos. Trata-se de uma relação vertical entre particular e Estado, onde este usa um instrumento previsto no Estado de Direito para atingir um consenso comum do povo.
O princípio da submissão do Estado à ordem jurídica corresponde ao mecanismo do Estado de Direito, onde o agente público cumpre um dever previsto pelo Direito enão um ato volitivo. Por isso quando o Estado desempenha as atividades legislativas, administrativase jurisdicionais deve sempre e obrigatoriamente observar a lei.
O princípio da função é o poder de agir, cujo exercício constitui um verdadeiro dever jurídico, que só se legitima quando atinge uma especifica finalidade, anteriormente prevista. Desta forma tal principio implica num dever e não numa faculdade, sempre atento a boa-fé, a moralidade, a razoabilidade,e a proporcionalidade.
O princípio do devido processo é a sucessão de atos e fatos encadeados ordenamente, visando à formação da vontade do Estado, cujos fins são regulados juridicamente.
O princípio da publicidade decorre da razão de ser do Estado externa, visto que este desempenha uma vontade geral em nome da sociedade como um todo, logo não há vontade íntima estatal, exceto no caso previsto no art. 5°, inc. LX.
O princípio da responsabilidade objetiva corresponde aobrigação do Estado de responder por seus atos lícitosou ilícitos, conforme previsto no art. 37, § 6.
O princípio da igualdade das pessoas políticas corresponde na distribuição de competências pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com total igualdade e sem hierarquia.
Direito misto
O direito misto pode ser caracterizado como o conjunto de normas jurídicas que possuem natureza pública e privada, tais como as regulamentações das relações dos produtores e consumidores ou dos empregadores e empregados.
Trata-se de ramos do direito que assumem ambas as naturezas, próprias do direito social. É o caso do direito do trabalho, direito do consumidor, direito agrário entre outros.
Todavia, a justificativa do direito misto recebeu diversas críticas pelas doutrinas tendo em vista que uma categoria mista não especifica e determina nenhum conteúdo jurídico.
Os autores que se referem ao direito misto não definem satisfatoriamente uma categoria ou uma classificação nova.
Tendo em vista que a categoria mista não auxilia a distinguir o direito público e o direito privado e, ao contrário, acaba produzindo confusão, a doutrina prefere afastar essa classificação.
Obras Magnas e referências para o estudo do direito público e do direito privado
Fontes clássicas
Personalidade jurídicaOrigem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa
A Wikipédia possui o:Portal do Direito
Personalidade jurídica é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações.1 Ideia ligada à de pessoa, é reconhecida atualmente a todo ser humano e independe da consciência ou vontade do indivíduo: recém-nascidos, loucose doentes inconscientes possuem, todos, personalidade jurídica. Esta é, portanto, um atributo inseparável da pessoa, à qual o direito reconhece a possibilidade de ser titular de direitos e obrigações.
Também é atribuída a entes morais, constituídos por agrupamentos de indivíduos que se associam para determinadofim (associações e afins) ou por um patrimônio que é destinado a uma finalidade específica (fundações e congêneres): as chamadas pessoas jurídicas (ou morais), poroposição aos indivíduos, pessoas naturais (ou físicas).
O direito não concede personalidade a seres vivos que não sejam humanos, nem a seres inanimados, o que os impede de adquirir direitos.
O instituto da personalidade não deve ser confundido com o da capacidade de fato.
Índice 1 História 2 Natureza 3 Começo e fim 4 Ver também 5 Notas 6 Bibliografia
HistóriaNem sempre a personalidade jurídica foi universalmente reconhecida a todos os seres humanos. No direito romano, o escravo era considerado coisa, desprovido da aptidão para adquirir direitos; se participasse de uma relação jurídica,fazia-o na qualidade de objeto, não de sujeito. A condição do escravo não foi muito diferente ao longo da história, enquanto persistiu aquele instituto.
No passado, alguns países previam o término da personalidade devido à "morte civil", que ocorria quando uma pessoa perdia a aptidão para adquirir direitos, por exemplo, ao tornar-se escravo (caso da capitis deminutio maximaromana) ou ao adotar uma profissão religiosa (na Idade Média).
NaturezaOs doutrinadores não costumam considerar a personalidade jurídica como um direito em si, mas entendem que dela derivam direitos e obrigações. O patrimônio - conjunto das situações jurídicas individuais economicamente apreciáveis -, por exemplo, é uma projeção econômica da personalidade. Há também os chamados "direitos da personalidade", relativos ao indivíduo e somente a ele, como o seu nome, estado civil, condições familiares e a sua qualidade de cidadão.
Começo e fimEm geral, entende-se que a personalidade jurídica tem início com o nascimento com vida. A este binômio, alguns países acrescentam a exigência de que o nascido com vida seja viável (isto é, esteja apto a continuar a viver), ou que tenha "forma humana". A personalidade das pessoas jurídicas começa com a sua constituição, geralmente feita mediante registro junto às autoridades competentes.
A personalidade do indivíduo extingue-se com a morte.2 A das pessoas jurídicas, com a sua dissolução.
2