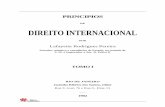REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO KAFKA E OS PARADOXOS DO DIREITO: DA FICÇÃO À REALIDADE
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO KAFKA E OS PARADOXOS DO DIREITO: DA FICÇÃO À REALIDADE
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
KAFKA E OS PARADOXOS DO DIREITO: DA FICÇÃO À REALIDADE
André Karam Trindade*
Resumo: O presente ensaio busca (a) introduzir os pressupostos que caracterizam os estudos jusliterários, destacando a importância das narrativas para a formação dos juristas; (b) apresentar a corrente teórica que aborda o direito na literatura; e, por fim, (c) demonstrar a relevância das obras de Franz Kafka para a compreensão do direito do século XXI. Palavras-chave: direito e literatura – teoria do direito contemporâneo – Kafka Abstract: This essay aims to (a) introduce the assumptions that characterize the studies of the interdisciplinary connections between law and literature, highlighting the importance of narratives in the training of the jurist; (b) present the law in literature theory, and, finally; (c) demonstrate the relevance of the works of Franz Kafka for understanding the law in the XXI century. Keywords: law and literature – contemporary theory of law – Kafka
Repensar o direito, neste início de século, é o desafio que se impõe aos juristas. E,
dentre as inúmeras e mais variadas alternativas que se apresentam na atualidade, o estudo do
direito e literatura assume especial relevância. Além do destaque que confere à
interdisciplinaridade, na medida em que se baseia no cruzamento dos caminhos do direito
com as demais áreas do conhecimento – fundando um espaço crítico por excelência, através
do qual seja possível questionar seus pressupostos, seus fundamentos, sua legitimidade, seu
funcionamento, sua efetividade, etc.1 –, a possibilidade da aproximação dos campos jurídico e
literário permite que os juristas assimilem a capacidade criadora, crítica e inovadora da
literatura e, assim, possam superar as barreiras colocadas pelo sentido comum teórico,
* Doutor em Teoria e Filosofia do Direito (Università degli Studi Roma Tre/Itália). Mestre em Direito Público (Unisinos). Professor de Direito Constitucional do CESUCA. Coordenador de Pesquisa da Escola de Direito da Faculdade Meridional. Coordenador do KATHÁRSIS – Centro de Estudos em Direito e Literatura da IMED. Produtor Executivo do Programa “Direito & Literatura” (TV JUSTIÇA). Membro Fundador e Pesquisador do Instituto de Hermenêutica Jurídica (IHJ). E-mail: [email protected]. 1 Cf. CHUEIRI, Vera Karam de. Direito e literatura. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (Org.). Dicionário de filosofia do direito. Rio de Janeiro/São Leopoldo: Renovar/Unisinos, 2006. p. 233-235: “Direito e Literatura é um novo campo de possibilidades para questões formais e materiais que afligem tanto o Direito quanto a Literatura. Porém, no campo da crítica do Direito, incorpora às demandas políticas e éticas de reconstrução de um mundo mais igualitário e justo a sensibilidade estética do gosto literário”. Na mesma linha, ver FREITAS, Raquel Barradas de. Direito, linguagem e literatura: reflexões sobre o sentido e alcance das inter-relações. Breve estudo sobre dimensões de criatividade em direito. Working Paper 6/02. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 1990, p. 22-23, para quem “a relação entre o Direito e a Literatura, ao nível metodológico, que não ao nível substancial, é não só concebível como desejável, numa fase interparadigmática de busca, como a que se nos apresenta neste momento. O Direito apresenta-nos, hoje, desafios cuja resolução se não basta já com os modelos puramente legalistas, de concepção do jurídico e também da realidade social”.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
reconhecendo a importância do caráter constitutivo da linguagem no interior dos paradigmas
da intersubjetividade e intertextualidade.
Todavia, o estudo do direito e literatura – seja do direito contado na literatura, seja do
direito entendido como narrativa –, em que pese o prestígio mantido, ao longo do século XX,
junto às faculdades, programas, cursos, centros e institutos de pesquisa norte-americanos e
europeus2, é uma prática pedagógica ainda pouco comum na cultura (jurídica e literária)
brasileira, não obstante todos os esforços e avanços realizados nos últimos anos3.
Neste contexto, o presente trabalho busca (1) introduzir os pressupostos que
caracterizam os estudos jusliterários, destacando a importância das narrativas para a formação
dos juristas; (2) apresentar a corrente teórica que analisa o direito na literatura; e, por fim, (3)
demonstrar a relevância das obras de Franz Kafka para a compreensão do direito do século
XXI.
1. A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA PARA O ESTUDO DO DIREITO
Com efeito, a construção de uma ponte entre direito e literatura, nos termos propostos
por Marí, tem como pressuposto a existência de uma ligação – marcada, sobretudo, pela
influência recíproca – entre ambas as disciplinas4.
Nesse contexto, em que a literatura assume grande importância, parece conveniente
aprofundar um pouco, entre tantos aspectos, aqueles ligados (1.1) à sua dimensão criadora e
crítica, (1.2) à sua dimensão lingüística e, por fim, (1.3) às convergências e divergências que
se podem estabelecer entre direito e literatura.
1.1 A dimensão criadora e crítica da literatura
2 Ver, para tanto, OST, François. Contar a lei. As fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos, 2004, p. 49 e 59, JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Literatura & direito: uma outra leitura do mundo das leis. Rio de Janeiro: Letra Capital, 1998, p. 21; em que se destaca a importância que o estudo do Direito e Literatura vem assumindo Estados Unidos, onde atualmente integra o programa de mais de 40% das faculdades de direito, entre elas a famosa Harvard Law School, e na Europa, especialmente na França, Bélgica, Itália, Espanha e Portugal. 3 Registre-se, nesse sentido, o programa de televisão “Direito & Literatura”, exibido desde 2008, em rede regional pela TVE/RS e, em rede nacional, pela TV JUSTIÇA. Em seus cinco anos, foram produzidos mais de 160 (cento e sessenta) programas, que se encontram disponíveis, gratuitamente, no site: www.unisinos.br/direitoeliteratura. 4 Cf. MARI, Enrique. Derecho y literatura. Algo de lo que sí se puede hablar pero en voz baja. Doxa. Cuadernos de Filosofia del Derecho, Alicante, n. 21, p. 251-287, 1998, p. 254-255, para quem “ni el derecho, ni la literatura (o cualquier outra expresión de la estética), tienen la más mínima posibilidad de convertirse en campos sobre los que se pueda construir algo racional, asociando racional con empírico y lógico-metodológico. Si vinculamos ahora a nuestro autor Ludwig Wittgenstein y su famoso punto 7 – De lo que no se puede hablar mejor es callar [Wovon man nicht sprechen kann, daruber mus man schweigen] – debemos concluir que el puente entre ambas disciplinas es algo de lo hay que callar, ante la imposibilidad de hablar de él”.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
Quando se considera o caráter disruptor e crítico da obra literária, há de se levar em
conta que ela – ao contrário da obra jurídica – é uma obra de arte, na medida em que se
caracteriza pela maravilha do enigma e por sua inquietante estranheza, que são capazes de
suspender as evidências, afastar aquilo que é dado, dissolver as certezas e romper com as
convenções. A obra de arte produz, mediante a imaginação, um deslocamento no olhar, cuja
maior virtude está na ampliação e fusão dos horizontes, de modo que tudo se passa como se,
através dela, o real possibilitasse o surgimento de mundos e situações até então não pensados.
Com ela, as formas são plenas de significação, e esta se dá em um evento singular. Trata-se,
com efeito, de um gesto próprio da idéia de poiesis – um sentido que adquire forma. Ocorre
que esse gesto surge espontaneamente e seu sentido mostra-se original, o que o torna a
expressão mais segura de uma liberdade em ato. E, assim sendo, a obra de arte pode ser
entendida, em uma primeira análise, como uma liberdade que se exerce num sentido que
adquire forma5.
Nesse contexto, Ost afirma que a obra de arte – no caso, a narrativa literária –
testemunha, desse modo, que o real não é senão uma modalidade do possível, ou seja, se,
antes, dizia-se que a obra de arte dá forma ao possível; agora, percebeu-se que esse possível
constitui justamente a condição de possibilidade do real que surgiu em seu acontecimento
singular6.
Já Gadamer refere que a obra de arte é um jogo que só se efetua no acolhimento que
lhe reserva o espectador: entre o mundo do texto e o mundo do leitor, ocorre um confronto, às
vezes uma fusão de horizontes, visto que o intérprete não é como uma tábula rasa, mas, sim,
um ser já envolvido em outras histórias, um ser em busca de sua própria identidade narrativa7.
Isso para não falar que a realidade da obra de arte e sua força declarativa não se deixam
limitar pelo horizonte histórico originário, no qual o criador da obra e o contemplador eram
efetivamente simultâneos. Mais do que isso, Gadamer refere que parece fazer parte da
experiência artística o fato de que (a) ela sempre tenha seu próprio presente, (b) ela mantenha
em si, mas somente até certo ponto, sua origem histórica e, especialmente, (c) ela seja
expressão de uma verdade que, de algum modo, coincide com o que o autor espiritual da obra
propriamente tenha figurado8.
5 Cf. OST, op. cit., p. 32. 6 Cf. OST, op. cit., p. 34. 7 Ver, para tanto, GADAMER, Hans-Georg. Verdad y método I. 10. ed. Salamanca: Sígueme, 2003, p. 31-222; e, também, GADAMER, Hans-Georg. Verdad y método II. 5. ed. Salamanca: Sígueme, 2002. 8 Nesse sentido, ver GADAMER, Hans-Georg. Estética y Hermenéutica. Madrid: Tecnos, 1996.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
Tudo converge, ao fim e ao cabo, para os ensinamentos que se podem extrair das
lições de Gadamer, segundo as quais, no atual momento histórico, o significado filosófico da
arte reside no modo de pensar da filosofia, de modo que cada lembrança da arte é uma
correção ao caráter unilateral da moderna orientação do mundo 9; de Adorno, para quem a
obra de arte é, antes de tudo, resistência10; e, ainda, de Steiner, que defende a tese de que a
obra de arte sempre é uma contra-criação, isto é, ela representa, de um lado, o desafio ao
mundo herdado, à natureza circundante, enfim, ao legado cultural; e, de outro, a aposta de que
ainda está por ser pensado algo essencial capaz de transformar o mundo em algo novo11.
Ademais, não se pode esquecer a Aula de Barthes, segundo a qual o poder se inscreve,
desde sempre, na linguagem, à qual o homem não escapa, pois nela está inscrito12. E, assim
sendo, a língua – entendida como desempenho de toda linguagem – é fascista, na medida em
que, quando não impede de dizer, obriga a fazê-lo13.
Assim, se a ciência é grosseira, de um lado, porém a vida é sutil, de outro, a literatura
mostra-se imprescindível para corrigir essa distância, visto que o saber que ela mobiliza nunca
é inteiro, definitivo, derradeiro, mas tem a capacidade de transformar o mundo através da
subversão da língua14.
Por isso, é preciso concordar com Barthes quando ele afirma que, àqueles que não são
cavaleiros da fé e tampouco super-homens, resta trapacear com a língua, pois apenas assim se
pode ouvir a língua fora do poder, dar voz ao recalcado, no esplendor de uma revolução
permanente da linguagem – essa trapaça salutar, para Barthes, é o que se chama de
literatura15.
9 Cf. GADAMER, Estética..., op. cit., p. 9. 10 Ver, para tanto, ADORNO, Theodor W. Teoria estética. São Paulo: Martins Fontes, 1982. 11 Cf. STEINER apud OST, op. cit., p. 32-33. 12 Nesse mesmo sentido, ver também FOCAULT, Michel. A ordem do discurso. 10. ed. São Paulo: Loyola, 2004, para quem (a) ainda na Idade Média, o discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual era preciso submeter-se, porque ele reinava, era o discurso pronunciado por quem de direito e conforme o ritual requerido; era o discurso que pronunciava a justiça e atribuía a cada qual sua parte; era o discurso que, profetizando o futuro, não somente anunciava o que ia se passar, mas contribuía para a sua realização, suscitava a adesão dos homens e se tramava assim o destino; um século mais tarde, a verdade mais elevada já não reside no que era o discurso, ou no que ele fazia, mas sim no que ele diz: chegou a época em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, de enunciação, para o próprio enunciado: para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação a sua referência; (b) o discurso não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar; (c) o poder está presente nos mais diversos e singelos mecanismos de intercâmbio social: não somente no Estado, nas classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos espetáculos, nos jogos, nas informações, nas relações familiares e privadas, e até mesmo nos impulsos liberadores que tentam contestá-lo, incluindo-se as ciências e, sobretudo, seus discursos. 13 Cf. BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 1980, p. 10-14. 14 Cf. BARTHES, op. cit., p. 19 e 24. 15 Cf. BARTHES, op. cit., p. 16.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
Aliás, nesse sentido, não é à toa a postura assumida por Barthes no sentido de que, se
todas as disciplinas exceto uma, devessem ser expulsas do ensino, essa disciplina a ser salva
deveria ser a literatura, tendo em vista que todas as ciências estão presentes no monumento
literário16.
Ora, tendo por base as lições de Barthes, pode-se concluir que a literatura assume,
nitidamente, uma função de subversão crítica, na medida em que se converte em um modo
privilegiado de reflexão filosófica – que ultrapassa o marco das disciplinas científicas
(sociologia, antropologia, psicologia ou economia jurídicas) que se ocupam de estudar o
direito desde diversos âmbitos –, possibilitando, assim, que se trate dos problemas mais
primários e, ao mesmo tempo, mais complexos da história do direito17.
À literatura, portanto, atribui-se a difícil missão de possibilitar a reconstrução dos lugares do sentido, que no direito estão dominados por senso comum teórico18 que amputa, castra, tolhe as possibilidades interpretativas do jurista, na medida em que opera com um conjunto de pré-conceitos, crenças, ficções, fetiches, hábitos, estereótipos, representações que, por intermédio da dogmática jurídica e do discurso científico, disciplinam, anonimamente, a produção social da subjetividade dos operadores da lei e do saber do direito, cuja tradição é no sentido de que “nenhum homem pronuncia legitimamente palavras de verdade se não é (reconhecido) de uma comunidade científica, ou de um monastério de sábios”19.
Nesse sentido, Aguiar e Silva afirma que a literatura constitui um ágio para os juristas,
na medida em que lhes possibilita a perspectiva de mundos que são alternativos àquele
tradicional, permitindo-lhes experimentar – de modo seguro – a complexidade da vida
mediante a participação nas escolhas, decisões e submissões de personagens que, na verdade,
são autênticas provocações. Ocorre que, não obstante todo o sentimento empático propiciado
pela literatura, isso não implica, necessariamente, que os atores jurídicos se tornem
(moralmente) melhores – na mesma linha de Posner –, tendo em vista que o conhecimento
adquirido a partir de determinadas situações não tem o condão de determinar as atitudes a
serem tomadas diante de casos similares. No entanto, conclui a autora lusitana, é preciso
reconhecer que a literatura torna os leitores pessoas mais críticas, o que é fundamental à
prática do direito20.
16 Cf. BARTHES, op. cit., p. 18. 17 Cf. TALAVERA, Pedro. Derecho y literatura. Granada: Comares, 2006, p. 59. 18 Cf. WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito. A epistemologia jurídica da modernidade. Porto Alegre: SAFE, 1995. v. 2, p. 68 e 96, para quem o “sentido comum teórico” deve ser entendido como “um sistema de produção da subjetividade que coloca os juristas na posição de meros consumidores dos modos instituídos da semiotização jurídica”. 19 Cf. WARAT, Introdução geral ao direito II..., op. cit., p. 57-99. 20 Cf. AGUIAR E SILVA, Joana. A prática judiciária entre direito e literatura. Coimbra: Almedina, 2001, p. 122-123. Ainda sobre o tema, consultar RÍOS, op. cit., p. 219, para quem “un buen libro de literatura u obra cinematográfica [ambas são narrativas] puden sacudir nuestras creencias morales y dejar una profunda huella en nuestras vidas”.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
Na mesma linha, Sansone refere que a literatura é marcada por sua capacidade de
orientar a visão do mundo, definir normas e estilos de vida, entrar no espaço dos valores
coletivos, enfim, conduzir o leitor – no caso, os juristas – a outros mundos possíveis,
ampliando seu horizonte de sentido21.
Observa-se, dessa maneira, que o discurso literário deve ser entendido como meio
privilegiado de domínio, manifestação e manipulação da linguagem, visto que a literatura tem
a vocação de fazer ressaltar, precisamente, as virtualidades da linguagem, criando realidades
paralelas e universos alternativos, nos quais o leitor se vê inserido na dimensão que mais lhe
aprouver22.
Dito de outro modo, ainda com Freitas23, a literatura exsurge como um veículo de
criatividade no direito, na medida em que possibilita alargar os horizontes referenciais dos
juristas, permitindo-lhes construir soluções a que não chegariam caso se mantivessem nos
limites do direito posto. Assim, não obstante o fato de o direito e a literatura operarem em
universos distintos, ambas as disciplinas encontram-se em potencial convergência visto que
têm de lidar inevitavelmente com a interpretação24.
Em suma, o momento é ainda de superação do atual modo-de-produção do direito e,
portanto, de repensar o direito. Para isso, especialmente nestes tempos de pós-positivismo, a
teoria da literatura deve ser vista como uma forte aliada, inclusive porque, conforme já
explicitado por Shelley, no longínquo ano de 1821, em seu The Defense of Poetry, não há
como negar que poets are the unacknowledged legislators of the world.
1.2 A dimensão da linguagem e a intertextualidade
Ao se considerar as contribuições que, do ponto de vista da linguagem, a produção e
os estudos literários podem oferecer ao direito, parece evidente que, em nenhuma outra
21 Cf. SANSONE, op. cit., p. 142; e, também, GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Breve introdución sobre derecho y literatura. In: GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Ensayos de filosofia jurídica. Bogotá: Temis, 2003, p. 366, para quem a literatura é, dentre as ciências humanas, uma das principais formas capazes de recuperar uma perspectiva integral do ser humano, de sua natureza, suas necessidades, suas vontades, seus medos, etc., a partir da qual é possível valorar e criticar as insuficieêcias e defeitos do direito, de seu míope e cúmplice ponto de vista acerca das opressões sociais mais diversas. 22 Cf. FREITAS, op. cit., p. 5., onde a autora conclui que a literatura é “uma forma de realização das várias aspirações do ser humano, como veículo e fruto das suas próprias construções e motivações, numa realidade que pode não ser a sua, que pode não ser a do Direito”. 23 Cf. FREITAS, op. cit., p. 22-23, para quem “não existe nada pior para um jurista, a não ser uma deficiente preparação técnica, do que a estreiteza de horizontes. A literatura alarga os horizontes do jurista”. 24 Ver, para tanto, DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 217.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
disciplina do conhecimento, se demonstra de forma tão clara – como ocorre na literatura – que
o homem é formador de mundo, como afirma Heidegger25.
Com a morte do positivismo, adiada ou não, é impossível deixar de reconhecer a
importância que a linguagem assume no século XX, especialmente no que diz respeito à
compreensão e análise dos fenômenos jurídicos, haja vista que o direito é constituído pela
linguagem; o direito é uma forma discursiva, de maneira que “compreendê-lo e construí-lo
diariamente como tal são tarefas que implicam desafios que não podem virar os olhos aos
recentes desenvolvimentos da filosofia da linguagem e da teoria da literatura”26.
Por isso, a necessidade de se reconhecer que uma das grandes conquistas alcançada
com o pós-positivismo é, precisamente, a abertura e ampliação dos horizontes, o que
possibilita a intersecção entre as mais variadas áreas do conhecimento, dentre as quais a
literatura exsurge como uma aliada potencial para o estudo do direito27.
Isso porque, na esteira do que afirma Ost28, se acredita que a literatura seja capaz de
devolver ao direito uma dimensão cultural que, ao longo da história, foi esquecida – ou
recalcada –, a fim de que a ele possa ser restituído o importante papel de ator da
transformação social. A cultura – aqui entendida como aquilo que resta quando não se recorda
mais nada acerca das coisas, da lei, da justiça, do poder, etc. – é justamente o que possibilita a
reinvenção de tudo.
Ora, não se pode olvidar que o ceticismo com o qual o século XX – seja a filosofia,
seja a ciência – encarou os dogmas e as práticas positivistas oitocentistas de pensar, de agir e
de estar, redundou não apenas na rejeição de qualquer fundamentalismo, mas sobretudo em
um renascer do vínculo ancestral que o conhecimento mantém com a realidade lingüística. Do
mesmo modo como ocorreu com outros saberes, o direito também foi submetido a essas
influências, de maneira que se voltou, ao menos em uma primeira fase, de caráter
25 Cf. HEIDEGGER, Martin. Conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude e solidão. Rio de Janeiro: Forense, 2003, em especial capítulo 6. Aliás, não se pode deixar de mencionar, aqui, a clássica passagem heideggeriana: “A linguagem é a casa do ser. Nesta habitação do ser mora o homem. Os pensadores e os poetas são os guardas desta habitação” (cf. HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. 5. ed. Lisboa: Guimarães Editores, 1998, p. 31). Sobre o tema, ver também ECO, Umberto. Kant e o ornitorrinco. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 36: “O que nos revelam os poetas? Eles não afirmam o ser, procuram simplesmente rivalizá-lo: ars imitatur naturam in sua operatione. Os poetas assumem como tarefa a substancial ambigüidade da linguagem e procuram explorá-la para dela fazer surgir, mais do que um excesso de ser, um excesso de interpretação. A substancial multivocidade do ser impõe logo um esforço para dar forma ao disforme. O poeta rivaliza com o ser propondo-lhe novamente a viscosidade, procurando reconstituir o disforme originário, para induzir-nos a prestar contas de novo com o ser. Mas não nos diz sobre o ser, propondo-nos o Ersatz [substituto], mais que o ser nos diz ou o que lhe fazemos dizer, isto é, muito pouco”. 26 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 130; e, também, FREITAS, op. cit., p. 24. 27 Cf. FREITAS, op. cit., p. 15. 28 Cf. OST, op. cit., p. 58.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
metodológico, às análises lingüísticas do discurso jurídico, entendido como discurso
introjetado na linguagem cotidiana29.
Ocorre que toda a efervescência doutrinal e jurisprudencial que se tem verificado nos
últimos anos deve ser entendida como reação ao positivismo jurídico, isto é, a esse modelo
normativista, marcado por um pensamento excessivamente formal e abstrato, calcado na
racionalidade lógico-matemática30.
Com efeito, a necessidade de reestabelecer, de alguma maneira, os valores da
legitimidade e da autoridade – cuja falência se consuma com o positivismo – e de imprimir,
novamente, coerência e estabilidade à realidade jurídica resulta no interesse dos pós-
positivistas pela elaboração de novas teorias para o direito contemporâneo. Essas novas
teorias do direito, no entanto, devem ser capazes de dar conta das narrativas do direito,
contribuindo, assim, para a construção de decisões dotadas, em alguma medida, de certeza e
previsibilidade, afastando, desse modo, todo e qualquer subjetivismo e decisionismo
judicial31.
Nesse contexto, a interpretação aparece como uma questão central, especialmente em
razão da invasão da filosofia pela linguagem32 e do desenvolvimento da teoria literária, que
influenciaram e enriqueceram “estudos congêneres levados a cabo pelos teóricos do direito,
que rapidamente se aperceberam das vantagens que havia em usufruir de todo esse patrimônio
entretanto acumulado”33. Cabe lembrar, aqui, Aguiar e Silva quando refere que, considerando
o novo estatuto reconhecido à interpretação – especialmente no direito –, parece legítimo ao
menos tomar conhecimento a respeito dos avanços desenvolvidos pela teoria literária, que
leva inegável vantagem neste domínio – seja em sua extensão, seja em sua intensidade – e
vem, de há muito, enriquecendo consideravelmente o panorama interpretativo34.
Além disso, há uma insistência cada vez maior no reconhecimento de uma
racionalidade emocional e empática que atravessa uma parcela significativa de juízos no
campo jurídico. Trata-se, com efeito, da necessidade de se “estabelecer formas alternativas de
racionalidade prática que permitam uma mais genuína e mais justa resolução dos problemas
que esse mesmo pulsar envolve”35.
29 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 125. 30 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 125. 31 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 126. 32 No sentido descrito por STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 61-64. 33 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 126. 34 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 63. 35 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 129-130.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
Com efeito, o estudo interdisciplinar do Direito e Literatura parece alcançar a mais
plena expressão e legitimidade, uma vez encarado como uma possibilidade capaz de produzir
o acesso a esse conhecimento empático do outro, a partir do fomento dessa identificação
emocional com (a situação d)o outro36.
Nessa mesma linha, White afirma que a ficção “estimula a capacidade do leitor para
imaginar outras pessoas, noutros universos”37, reconhecendo toda a potencialidade de que
dispõem os textos literários relativa à promoção de uma inteligência empática e imaginativa,
que ainda é tão cara e fundamental aos juristas. Por isso, justamente, o apelo de West no
sentido de uma jurisprudência narrativa, capaz de proporcionar a formação de quadros morais
que possam ser operados como instância crítica do direito38.
Isso tudo porque, conforme destaca Aguiar e Silva39, mergulhar em hábitos da leitura e
refletir sobre as narrativas literárias pode contribuir decisivamente para que o jurista opere
com estas formas alternativas de racionalidade, na medida em que, assim, desenvolve tanto
sua capacidade imaginativa como também sua inteligência empática. Como se sabe, o
conhecimento através da experiência com os outros mundos proporcionados pela ficção, bem
como o contato por ela estimulado a partir de situações complexas e delicadas, através das
quais se fomenta a identificação do leitor com as personagens envolvidas, constituem um
verdadeiro ágio para os juristas, que terão inevitavelmente de enfrentar, ao longo da vida
profissional, uma série de questões éticas e morais, cujas respostas não se encontram nos
manuais e muito menos nos códigos.
Em suma, ainda na esteira de Aguiar e Silva, o estudo do Direito e Literatura, nas suas
mais diversas modalidades, não pode ser menosprezado, tendo em vista que ele apresenta um
enorme potencial formativo e didático: “Muitos são certamente os alunos que chegam ao
primeiro ano de um curso de Direito sem jamais terem pegado num Código Civil, mas já
serão raros aqueles que aí chegam sem terem pelo menos folheado algumas das mais
fundamentais obras da Literatura universal [embora, talvez, isso não se confirme no caso
brasileiro, haja vista a precariedade de nosso ensino]”40. E esta é a diferença que pode fazer a
diferença no ensino jurídico, caso se pretenda realmente formar juristas ao invés de simples
técnicos e burocratas, meros operadores do direito.
36 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 120-121. 37 Cf. WHITE apud AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 120. 38 Cf. WEST apud AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 121. 39 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 130-131. 40 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 131-132.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
1.3 Entre convergências e divergências
Partindo da idéia de que é preciso reconhecer que, com a revolução ocorrida na
filosofia no início do século XX, a linguagem perde seu caráter meramente instrumental e
deixa de ser considerada uma terceira coisa que se interpõe entre um sujeito cognoscente e o
objeto a ser conhecido, ou seja, não se pode ignorar que ela passa a constituir a verdadeira
condição de possibilidade de todo processo compreensivo, assumindo uma dimensão
instituidora, na medida em que nela – na linguagem – ocorre a mediação simbólica na qual se
dá a relação do homem com o mundo41.
Nesse contexto, em que se verifica a onipresença da linguagem e a instalação do
paradigma da intersubjetividade, Ost afirma que, se é verdade que a ninguém é admitido
ignorar a lei, não se pode olvidar um pressuposto ainda mais fundamental, lembrado por
Valéry: a ninguém é admitido ignorar a linguagem42. E, uma vez sendo a linguagem
reconhecida como instância que funda através da palavra todo e qualquer discurso, parece ser
impossível negar a existência de alguns elementos comuns entre o direito e a literatura, isso
para não dizer do fato de serem ambas textuais, na medida em que atendem aos sete critérios
de textualidade que os lingüistas costumam estabelecer: coesão, coerência, intencionalidade,
aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade43.
Dentre os pontos de aproximação entre o direito e a literatura, cabe inicialmente
destacar que a linguagem pré-existe à realidade – inclusive à realidade jurídica – e, portanto, a
todo discurso que sobre ela incide, uma vez que o pensamento, vá em que direção for, sempre
terá que passar pela palavra e, conseqüentemente, “o mundo do direito é um mundo
perpassado pelo poder da palavra. E da palavra mágica, fecunda, criadora”44.
Nesse mesmo sentido é a relação estabelecida por Nussbaum ao falar da necessária
vinculação entre literatura e conteúdo filosófico como parte essencial da busca pela verdade,
uma vez que algumas concepções de mundo e de como se deve viver nele não podem ser
explicadas de maneira completa e adequada pela linguagem da prosa filosófica convencional,
41 Ver, STRECK, op. cit., passim; e, ainda, Na mesma linha, ver AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 9-15, para quem “é
através da linguagem que o homem se relaciona com o mundo exterior, com os outros, até consigo mesmo. É através dela que o homem pensa o mundo”.
42 Cf. OST, op. cit., p. 22. 43 Cf. PÉREZ, Carlos. Derecho y literatura. Isonomia. Revista de Teoria y Filosofia del Derecho. México, n. 24, p. 135-153, abr. 2006, p. 136. 44 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 9-15. Na mesma linha, ver FREITAS, op. cit., p. 7-8: “Há quem afirme, em conseqüência desta tarefa da linguagem, que a sua primeira função é a de dar ao homem a possibilidade de pensar”.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
dependem, assim, da literatura, de sua linguagem e formas criativas, por si mesmas mais
complexas, mais conotativas, que prestam maior atenção aos detalhes45.
Assim sendo, tanto o direito quanto a literatura encontram-se intimamente
relacionados à linguagem, pois operam fundamentalmente com a palavra, o texto, o discurso,
a narração.
De um lado, o direito é marcado pela necessidade de estabelecer relações com todas as
demais linguagens – científica, matemática, econômica, política, sociológica, psicológica,
antropológica, etc. –, devendo traduzir cada um destes discursos de modo que seja possível
operá-los no âmbito jurídico46. Isso porque, na linha do que refere Freitas, o direito é uma
disciplina eminentemente humana e, como tal, atravessada pela linguagem: “o mundo
jurídico, nas suas diversas manifestações e instâncias, efectiva-se através da linguagem, de
uma linguagem que se pretende universal ou universalizável”47. Ou melhor, como ensina
Kaufmann, “o direito não é um objeto como as árvores e as casas. O direito é, pelo contrário,
a estrutura das relações nas quais os homens estão uns perante os outros e perante as coisas”48.
De outro lado, a literatura igualmente se encontra ligada a esta mesma ontologia das
relações de que fala Kaufmann, visto que as relações humanas também constituem seu objeto
central, embora privilegiando sua natureza estética. Como toda e qualquer expressão artística,
a literatura é uma transfiguração do real, isto é, a realidade recriada e retransmitida pela
narrativa, através de metáforas e metonímias. Assim, do mesmo modo como ocorre com o
discurso jurídico – que pretende dar conta da realidade –, a narrativa, por mais ficcional que
seja, é produzida inevitavelmente a partir daquilo que lhe é fornecido pelo mundo da vida49.
Nesse sentido, Aguiar e Silva entende que o estudo do Direito e Literatura apresenta
dois aspectos comuns a ambas as disciplinas: (a) tanto uma quanto a outra, embora de forma e 45 NUSSBAUM, Martha C.: El conocimento del amor: ensayos sobre filosofía y literatura. Madrid: A. Machado Libros, 2005, p. 25-26.
46 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 19. 47 Cf. FREITAS, op. cit., p. 10. 48 Cf. KAUFMANN, Arthur. HASSEMER, Winfried (Orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: Gulbenkian, 2002, p. 42. 49 Nesse exato sentido, ver MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Faustino. Derecho común y literatura: dos ejemplos de los siglos XVI y XVII. Anuario Mexicano de Historia del Derecho, v. 17, p. 113-210, 2005, p. 113: “¿Existe algún aspecto de la vida que pueda quedar al margen del derecho?, ¿existe algún otro campo de la vida que puede verse postergado por la literatura, que pueda quedar al margen de un projecto literario cualquiera que sea sua manifestación externa: teatro, ensayo, poesía, novela, cuento..? ambas disciplinas, artes o ciencias, según los casos e las visiones que se defiendan, extienden su influencia e su visión sobre la totalidad de las conductas humanas, lógico es pensar en las más que posibles interferencias que se puedan dar entre ambas por el mero hecho de compartir campos comunes que se refieren indefectiblemente al humano actuar o al humano pensar”. Ainda na mesma linha, ver FREITAS, op. cit., p. 24: “O jurista como especialista do saber global (Baptista Machado). A sua formação passa por um conhecimento tão vasto quanto possível da natureza humana. A Literatura como espelho e manifestação da mesma; como veículo de conhecimento de diferentes linguagens e de mundos paralelos ao, por vezes circunscrito, mundo dos juristas, no momento concreto da aplicação do Direito”.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
com finalidades diferentes, lidam com as relações humanas, o que pressupõe um apurado
conhecimento da natureza/condição humana; (b) ambas atribuem necessariamente um papel
central à palavra, o que vincula a atividade de juristas e literários à interpretação de textos50.
Isso tudo não significa, entretanto, que não haja diferenças importantes entre as
disciplinas jurídica e literária, embora tais diferenças não tenham o condão de colocar em
xeque, evidentemente, a validade do estudo do Direito e Literatura. Cinco são, portanto, as
principais diferenças que normalmente se estabelece entre o direito e a literatura:
(a) se, por um lado, o discurso jurídico codifica a realidade através de formas e
procedimentos, instituindo-a através de uma rede de significações convencionadas e de um
sistema fechado de obrigações e interdições; por outro, a literatura carece de qualquer
dimensão formal, assim, liber(t)a as possibilidades, subvertendo a ordem (im)posta, na
medida em que suspende as certezas instituídas, fulmina as categorias que encerram a
realidade e rechaça as convenções estabelecidas, desobstruindo, desse modo, o caminho da
imaginação rumo a utopias criadoras51.
(b) se, de um lado, a função do direito é estabilizar as expectativas sociais, em busca
da segurança jurídica, o que resulta no congelamento do tempo, no aprisionamento dos
sentidos e no extermínio fálico das emoções e dos afetos; de outro, a literatura tem uma
função fundamentalmente heurística, voltada para criar, inovar, criticar, imaginar,
surpreender, espantar, deslumbrar, perturbar, chocar, desorientar, enfim, emocionar52.
(c) se, por um lado, do direito se aguarda o comando, a ordem, a medida, a decisão, o
mandado, etc.; por outro, da literatura se espera o belo, a imaginação, o lúdico, a dúvida, a
transgressão, etc53.
(d) se, de um lado, o direito produz sujeitos de direito, conferindo-lhes direitos e
obrigações convencionadas, bem como investe pessoas em papéis normatizados cujo
comportamento exemplar deve servir como estatuto das condutas e padrões esperados dos 50 Cf. AGUIAR E SILVA, op. cit., p. 73-74. 51 Cf. OST, op. cit., p. 13-14; e TALAVERA, op. cit., p. 56-57. Segundo Cortina, no prólogo da obra de Talavera (op. cit., p. XIII), “o direito nasce de um corpo legislativo que parece alheio ao mundo da vida, isto é, a esse mundo que se faz com as biografias e com as histórias dos povos, enquanto a literatura lida com o universo da criação livre, a terra da fantasia, o terreno poético, onde o que importa, antes de tudo, é sintonizar-se com os leitores para os levar além de suas vidas, a relatos de vidas alheias com as quais podem compreender melhor as suas. Esse é o continente dessa particular racionalidade que não se sustenta em silogismos, nem mesmo em raciocínios indutivos, mas sim no argumento vivo de uma narração”. 52 Cf. OST, op. cit., p. 15-16. Um bom exemplo nesse caso – talvez o mais clássico deles – seja Alice no país da maravilhas (1865), de Lewis Carroll. 53 Ver, para tanto, WHITE, James Boyd. From Expectation to Experience. Essays on Law and Legal Education. Ann Arbor University of Michigan Press, 2000, cuja principal tese é no sentido de que entre o imperativo jurídico não deves e o tudo é possível da narrativa literária existe tanta interação quanto confronto. Ainda sobre o mesmo tema, consultar FERREIRA DA CUNHA, Paulo. Direito e literatura: introdução a um diálogo. Themes Revue de la Bibliothèque de Philosophie Comparée, Paris, v. I, avr. 2007.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
demais indivíduos na vida em sociedade, como, por exemplo, o pai de família, a mulher
honesta, o concorrente leal, o profissional diligente, etc.; de outro, a literatura cria
personagens literários, isto é, seres de papel – como denomina Barthes –, e a ambivalência de
sua natureza combina, geralmente, apenas com a ambiguidade das situações singulares que
lhe são colocadas, de maneira que sua identidade é o resultado de sua trajetória experimental
em busca de si mesmo54.
(e) se, por um lado, o direito volta-se para a generalidade e abstração, normalmente
atribuídas à lei; por outro, a literatura se atém no particular e no concreto, tendo em visa que
toda história mostra-se irredutivelmente singular55.
Essas diferenças, todavia, ao invés de denunciarem uma incompatibilidade entre as
duas disciplinas, evidenciam uma relação dialética imprescindível ao estudo do Direito e
Literatura. É justamente por isso que Ost afirma que não se pode limitar a constatar um
simples “diálogo de surdos entre um direito codificado, instituído, instalado em sua
racionalidade e sua efetividade, e uma literatura rebelde a toda convenção, ciosa de sua
ficcionalidade e de sua liberdade”, quando, na verdade, o que há “são empréstimos recíprocos
e trocas implícitas”56.
2. O DIREITO NA LITERATURA
O estudo do direito e literatura abarca abordagens e perspectivas bastante distintas e,
em vista de tal diversidade, a maioria dos teóricos que com ele trabalham costumam distinguir
três campos diversos de pesquisa:
(a) o direito na literatura (law in literature), corrente desenvolvida sobretudo na Europa e
ligada ao conteúdo ético da narrativa, através da qual se examinam aspectos singulares
da problemática e da experiência jurídica retratados pela literatura – como a justiça, a
vingança, o funcionamento dos tribunais, à ordem instituída, etc. –; entendida como
obra literária, isto é, como documento de aplicação do direito e da consciência
54 Cf. OST, op. cit., p. 16-18. 55 Cf. OST, op. cit., p. 18. Ainda nesse sentido, ver FREITAS, op. cit., p. 19-20, para quem “Não é o texto literário vinculativo, ainda que possa ter uma função normativa. O texto jurídico, por seu turno, é, por definição, vinculativo e, sempre, normativo. A normatividade de um texto não resulta necessariamente da sua vinculatividade. A primeira pode existir sem a segunda, sendo, como o é no texto literário, nesse caso, uma normatividade potencial. Quando seja vinculativo, como o é o texto jurídico (a norma por antonomásia), será efectivamente normativo”. 56 Cf. OST, op. cit., p. 23.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
jurídica, a partir da idéia de que a virtualidade representada pela narrativa possibilite
alcançar uma melhor compreensão do direito e seus fenômenos – seus discursos, suas
instituições, seus procedimentos, etc. – colaborando, assim, com a formação da cultura
e da comunidade jurídica57.
(b) o direito como literatura (law as literature), corrente dominante nos Estados Unidos e
ligada à dimensão hermenêutica, à perspectiva retórica e à forma da narrativa58, pela
qual se observa a qualidade literária do direito, mas, sobretudo, se examinam os textos
e os discursos jurídicos a partir de análises literárias, isto é, a extensão da aplicação
dos métodos de análise e de interpretação, elaborados pela crítica literária, à análise da
racionalidade das construções realizadas no âmbito das decisões judiciais59.
(c) o direito da literatura (law of literature) – categoria que talvez não corresponda
propriamente a uma corrente vinculada àquilo que se vem denominando Direito e
Literatura, mas configure uma aproximação transversal na medida em que se limita a
reunir questões específicas e de caráter eminentemente normativo –, mediante o qual
se investiga a regulação jurídica dada à literatura60, isto é, as disciplinas de direito
privado, no que diz respeito à propriedade intelectual, aos direitos autorais, copyrights,
etc.; de direito penal, tendo em vista os crimes de imprensa e demais crimes praticados
pelos meios de comunicação, os crimes contra a honra, etc.; e de direito constitucional,
cuja matéria está ligada à liberdade de expressão, à censura, etc.; e, ainda, de direito
administrativo, naquilo que se refere às regulações do exercício da atividade
profissional literária, às diretrizes dos programas escolares, às regulamentações das
bibliotecas públicas, etc61.
Entre tais abordagens, a corrente do direito na literatura é aquele que vez
conquistando mais espaço nos estudos justiletrários brasileiros. Sob tal perspectiva, como já 57 Cf. OST, op. cit., p. 55-58; e, ainda, CHUEIRI, op. cit., p. 234. 58 Segundo Talavera (op. cit., p. 46), sempre na esteira de Ost, seria equivocado pensar que apenas os juízes norte-americanos ostentem o monopólio da perspectiva hermenêutica e/ou narrativa. A jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos demonstra que os juízes continentais, inspirando-se no patrimônio comum, ideais e tradições políticas, de que fala o preâmbulo da Convenção Européia de Direitos Humanos, elaboraram também sentenças estruturadas na forma de relatos morais, reelaboração imaginária das significações sociais instituintes da história da Europa democrática. 59 Cf. OST, op. cit., p. 51-55; e CHUEIRI, op. cit., p. 234. 60 Ver, por todos, POSNER, op. cit., p. 381-412. 61 Cf. OST, op. cit., p. 50-51; TALAVERA, op. cit., p. 10, nota 8; SANSONE, op. cit., p. 76-77; CHUEIRI, op. cit., p. 234.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
referido, analisa-se o direito a partir da literatura, com base na premissa de que certos temas
jurídicos encontram-se melhor formulados e elucidados em grandes obras literárias do que em
tratados, manuais e compêndios especializados62.
Isto porque a literatura constitui uma espécie de repositório privilegiado através do
qual se inferem informações e subsídios capazes de contribuir diretamente na compreensão
das relações humanas que compõem o meio social, isto é, o caldo de cultura no qual, ao fim e
ao cabo, opera o direito.
Segundo Talavera, a literatura apresenta-se como um rico manancial de fontes para a
reflexão crítica do direito, através do qual ainda é possível retirar as vendas com as quais o
positivismo normativista cega incessantemente os juristas, na medida em que o estudo do
direito através da literatura permite, justamente, o desvelamento do sentido do direito e de sua
conexão com a justiça63.
Mais do que isso: a literatura pode servir como importante instrumento mediante o
qual ocorre o registro – histórico e temporal, evidentemente – dos valores de um determinado
lugar ou época – dentre os quais se inscreve a representação do sistema jurídico, do poder, da
justiça, das leis, das funções jurisdicionais, etc. – no interior do imaginário coletivo e social.
Destaque-se, contudo, que não compete à literatura a tarefa de explicar, propriamente,
o direito ou quaisquer outros campos da atuação humana. Sua contribuição – embora ligada
mais nitidamente a uma dimensão sociológica e antropológica – é no sentido de auxiliar na
compreensão do direito e seus fenômenos.
Conforme Talavera, o interesse que suscita o conhecimento da literatura para o direito
reside na sua singular capacidade de elucidação e reflexão crítica de questões transcendentais
que se colocam no campo jurídico, conectando o essencial de suas raízes e origens às suas
formulações mais avançadas64.
Nesse contexto, merece destaque aqui o fato de que, normalmente, os juristas
aprendem que “o direito se origina no fato” (ex facto ius oritur), enquanto a reflexão proposta
62 Ver, para tanto, SANSONE, op. cit., p. 77-79; RÍOS, op. cit., p. 218; e, também, OST, op. cit., p. 55. Aliás, talvez por esta razão, Ascarelli afirme que “o problema do direito é um problema que cada homem se coloca cotidianamente; quiçá por isso, para encontrar respostas, antes que aos estudiosos convenha recorrer aos sábios, antes destes, é melhor recorrer aos poetas” (ASCARELLI apud TALAVERA, 2006, p. 7). 63 Cf. TALAVERA, op. cit., p. 5 e 10, onde o autor chama a atenção para o fato de que, a partir da adoção de um ponto de vista interno, o direito pode ser considerado o tema central de inúmeras narrações literárias que possibilitam a produção de valiosas reflexões críticas a respeito da multiplicidade de seus postulados normativos, das suas origens, da sua interpretação e aplicação, etc. 64 Cf. TALAVERA, op. cit., p. 55.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
por Ost é, justamente, no sentido de reformular tal aforismo: “do relato é que advém o direito”
(ex fabula ius oritur)65.
Além do mais, não se pode esquecer que a fábula permite que o leitor seja conduzido –
muitas vezes sem nem mesmo se dar conta – da narração à norma66, isto é, de uma história à
reflexão sobre um determinado preceito do mundo da vida – aqui entendido como verdadeiro
leitmotiv do direito.
Por isso, a idéia de que a ficção constitui uma mina de saberes à qual as ciências
humanas – especialmente o direito – deveriam obrigatoriamente se voltar, conforme o alerta
de Ost, para quem a prosa livre do literato possibilita geralmente a não só uma maior
aproximação de temas ligados aos mais diversos saberes acadêmicos, mas também dissolve
freqüentemente sua complexidade: “essa indisciplina literária que se insinua nas falhas das
disciplinas excessivamente bem instituídas realiza assim um trabalho de interpelação do
jurídico, fragilizando os pretensos saberes positivos sobre os quais o direito tenta apoiar sua
própria positividade”67.
Nesse sentido, merece destaque a lição de Bruner, para quem as fábulas expressam
através da narrativa a construção cultural da psicologia popular. Isso porque a literatura
contribui não apenas para estruturar a realidade, mas para estruturá-la a partir do universo das
possibilidades, de maneira que se deve considerar sempre aquilo que poderia ter sido, para
além daquilo que existe. E, assim sendo, o exercício de contar histórias através da memória
literária e dos textos que a alimentam permite, portanto, ampliar a percepção histórica e
humana, para além do mero conhecimento dos fatos, até que isso coincida com o puro prazer
literário – que, segundo o autor, é o que transforma a narrativa em uma coisa verdadeiramente
séria68.
Em vista disso, precisamente, é que Ost toma emprestada de Ricoeur a teoria da
tríplice mímesis – o dado prefigura; o artista configura; o intérprete refigura –, segundo a qual
é possível extrair três conclusões para o estudo do direito na literatura: (a) reduz o abismo 65 Cf. OST, op. cit., p. 24, para quem: “tudo se passa como se, entre toda a gama dos roteiros que a ficção imagina, a sociedade selecionasse uma intriga tipo que ela normatiza a seguir sob forma de regra imperativa acompanhada de sanções. Mas as coisas não param por aí: tão logo estabelecidas, essas escolhas são discutidas, matizadas, modificadas – nos bastidores judiciários em particular, que são como a antecâmara de uma legalidade mais flexível. A intriga jurídica, assim que se estabiliza, retorna à fábula da qual se origina: os personagens reais vão além do papel convencionado das pessoas jurídicas, ao mesmo tempo em que peripécias imprevistas obrigam o autor a modificar o script”. Na mesma linha, ver TALAVERA, op. cit., p. 9, onde afirma que não parece absurdo pensar, pois, que o direito e a literatura estejam ligados ambos no imaginário coletivo, de maneira que um complicado jogo de espelhos (tradições, interpretações, histórias, políticas...) torna difícil distinguir qual é o discurso da ficção e qual é aquele da realidade. 66 Cf. CARBONNIER apud OST, op. cit., p. 12. 67 Cf. OST, op. cit., p. 14-15. 68 Ver, para tanto, BRUNER, Jerome. La fabbrica delle storie: diritto, letteratura, vita. Roma-Bari: Laterza, 2002.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
aberto pelo pensamento analítico, desde Hume, entre os mundos do ser e do dever ser – ou
melhor, entre fato e direito –, tendo em vista que o ser sempre aparece já interpretado; (b) a
experiência do contar constitui, precisamente, a mediação entre o descrever e o prescrever; (c)
a literatura deixa de ser considerada uma ornamentação, gratuita e exterior, passando a ser
entendida como “o modo mais significativo de assumir essa estrutura pré-narrativa da
experiência comum e suas avaliações implícitas”69.
É a partir disso que Ost propõe uma teoria do direito contado, na qual os casos
exsurgem na sua singularidade, ao invés de uma teoria do direito analisado70 – originado a
partir de fundamentos hipotéticos, articulado em torno de pirâmides de normas, marcado pela
atemporalidade metafísica, e, paradoxalmente, cúmplice de discricionariedades –, ainda
predominante no ensino jurídico, cujo caráter analítico, de inspiração legalista e positivista,
mantém o jurista refém do sentido (demasiadamante) comum teórico71, sem que ele consiga
dar-se conta da crise de dupla face – paradigma liberal e paradigma da filosofia da
consciência – na qual o direito se encontra mergulhado72.
Segundo Ost, não obstante as críticas que são freqüentemente dirigidas ao direito
contado – às vezes pelos promovedores do movimento Law and Literature, às vezes pelos
defensores do direito analisado – é justamente nessa dialética reconstrutiva das narrativas que
se pode encontrar o melhor estudo do Direito e Literatura73.
Na mesma linha, a posição assumida por Talavera, que se filia à corrente do direito na
literatura, visto que sua principal virtude é a de oferecer, justamente, uma aproximação com o
direito, sob um enfoque crítico, próprio da filosofia do direito, aportando, assim, uma reflexão
plenamente radicada nas coordenadas reais da tradição jurídica continental74.
No entanto, para o autor hispânico, a realidade continental ainda se apresenta bastante
distinta da anglo-saxã, tendo em vista o predomínio de uma concepção analítica do direito se
comparado à pouca expressão que tem a concepção narrativa do direito, especialmente nas
faculdades e cursos de direito europeus.
Assim sendo, continua Talavera, o desenvolvimento de uma teoria do direito contado,
nos termos propostos por Ost, ainda não passa de um sonho no atual cenário jurídico, o que,
69 Cf. OST, op. cit., p. 36-37. 70 Cf. OST, op. cit., p. 41. 71 Ver, para tanto, WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito. Porto Alegre: SAFE, 1994. v. 1, p. 13-18; WARAT, Introdução geral ao direito II..., op. cit. p. 57-99; e, ainda, WARAT, Epistemologia..., op. cit. 72 Ver, por todos, STRECK, Hermenêutica jurídica..., op. cit., passim. 73 Cf. OST, op. cit., p. 48. 74 Cf. TALAVERA, op. cit., p. 55-56.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
nesse caso, reforça ainda mais a necessidade de apontar, de um lado, as limitações do direito
analisado e, de outro, as valiosas contribuições de um direito narrado.
Por isso, conclui Talavera, a necessidade de se aprofundar, definitivamente, o estudo
de uma concepção narrativa do direito, mediante a qual seja possível reabilitar essa face
simbólica do direito, potencializando o papel pedagógico que o simbólico exerce através do
direito, a partir da proclamação de sua conexão com os valores trazidos pela literatura75.
Nesse sentido, ainda, Sansone refere que a análise de temas jurídicos retratados no
âmbito das obras literárias responde à pergunta acerca da capacidade de a literatura contar –
com particular eficácia – os valores do direito, tendo em vista (a) a natureza da poesia –
entendida como forma de conhecer – e as noções literárias de verdade e de universal; (b) a
possibilidade da arte de promover a disponibilidade do leitor de refletir acerca das maiores
temáticas humanas, sociais e existenciais, entre as quais estão o nascimento e a morte, a paz e
a guerra, a igualdade e a justiça, a distribuição dos bens e dos recursos; (c) o papel das
emoções – medo, cólera, alegria, prazer, compaixão – na persuasão do leitor; (d) a força do
exemplo, oferecido pela representação literária dos personagens entregues à prática e aos
costumes do justo76. Nesse contexto, portanto, é possível analisar as mais diversas questões e temáticas
jurídicas a partir dos textos literários, a começar pela própria Bíblia, cuja função normativa
mostra-se determinante na evolução da história, na medida desempenhou papel fundamental
no desenvolvimento e consolidação da mais eficaz forma de controle social: a igreja católica.
Por fim, não se pode olvidar que, como refere Sansone77, o estudo do direito na
literatura se desenvolve, ulteriormente, na direção do aprofundamento do conteúdo ético – o
que, na tradição norte-americana, resultará no chamado Law and Literature as etical
discourse –, destacando o papel da literatura na afirmação e críticas dos valores culturais e
éticos da sociedade e do direito, a partir da natureza axiológica das escolhas morais
subentendidas nas regulamentações jurídicas. Isso ocorre – e ganha importância – em face da
capacidade da obra literária de incitar o sentimento de empatia do leitor em relação aos
acontecimentos narrativos e às personagens das histórias contadas, o que lhe possibilita
participar – de maneira segura – da vida dos outros, experimentar outras situações e,
75 Cf. TALAVERA, op. cit., p. 47-50. 76 Cf. SANSONE, op. cit., p. 141-142. 77 Ver SANSONE, op. cit., p. 77-79.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
conseqüentemente, refletir e posicionar-se criticamente a respeito de questões fundamentais
do mundo prático78.
3. KAFKA E OS PARADOXOS DO DIREITO
“Eu preciso de grande eloquência diante de um juiz tão altamente colocado, tão
familiarizado com toda forma e conteúdo, e que, por sua posição, estará sempre no topo da
humanidade”. Esta é a legenda que Honoré Daumier (1808-1879) escreve ao pé de uma de
suas litografias – a terceira de quatro gravuras intituladas La comédie humaine (1843),
publicadas em 1843 no periódico parisiense Le Charivari, em alusão à obra de Balzac –, na
qual um jovem advogado gesticula diante da figura imaginária de um magistrado,
representado por um cabo de vassoura com um chapéu e uma toga.
Quanta realidade se encontra nas ficções? E quanta ficção conforma nossa realidade?
Segundo Oscar Wilde, “a literatura sempre antecipa a vida”. Com isto, o escritor
defende que a literatura não é apenas uma “expressão de seu tempo”, como se diz, mas o
processo de criação de um novo tempo. Tanto é assim que afirma: “O século XIX, como o
conhecemos, é em boa parte invenção de Balzac”79.
Se isto é verdadeiro – e tudo indica que o é –, então também é possível dizer que “o
direito do século XX, como o conhecemos, é em boa parte invenção de Kafka”. Isto porque,
de certo modo, suas narrativas antecipam e desnudam os principais dilemas que atravessam o
direito contemporâneo.
Como se sabe, evitando adentrar no campo da abordagem genética80, Franz Kafka
tematizou questões que, de algum modo, nos permitem (re)pensar os paradoxos do Direito,
especialmente a partir dos romances O processo (1914) e O castelo (1922), das novelas Na
colônia penal (1914) e A metamorfose (1912) e, ainda, dos contos Diante da lei (1915) e A
preocupação de um pai de família (1917).
Segundo Ost, Kafka é um “arqueólogo da lei”81. Na verdade, o romance O processo é
um desdobramento do conto Diante da lei. Em ambos, o que se observa é a articulação de um
78 Ver SANSONE, op. cit., p. 78. 79 Cf. WILDE, Oscar. The Decay of Lying. In: WILDE, Oscar. Intentions. London: Methuen & Co., 1913. 80 Cf. OST, op. cit., p. 397-400. 81 Cf. OST, op. cit., p. 394.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
dos maiores desafios da teoria do direito contemporâneo: a discussão acerca da verdadeira
impossibilidade de se acessar a Lei82.
Tal problemática decorre do fato de a obra de Kafka (con)formar, de certo modo, a
chamada literatura do absurdo, da qual também fazem parte Camus, Beckett e Sartre. É neste
mesmo contexto, que Kafka desnuda, de uma maneira singular, o império da irracionalidade
(jurídica).
Desde a crise dos anos 20, agravada pela Segunda Guerra Mundial, aumenta a
sensação da total falta de sentido da existência humana, o que implica reconhecer, em larga
medida, os fracassos da metodologia cartesiana, as arbitrariedades do positivismo, as
inconsistências das ciências e das epistemologias, as superficialidades das inúmeras tentativas
metafísicas de explicar e conhecer o mundo83.
Segundo Monod, a velha aliança se quebrou e, finalmente, o homem sabe que está só,
na imensidão indiferente do universo, onde ele apareceu por acaso; agora ele sabe que, “como
um cigano, está à margem de um universo onde tem de viver, universo surdo à sua música,
indiferente às suas esperanças, bem como aos seus sofrimentos ou seus crimes”84.
A obra de Kafka trata dos paradoxos que habitam a teoria e a filosofia do direito,
conforme destaca Vera Karam de Chueri: “qualquer manifestação de autoridade depende de
um sistema de regras ou convenções jurídicas que conferem tal autoridade. Entretanto, para as
regras e convenções existirem, deve haver uma fonte investida de autoridade para criá-las”85.
Esta é a razão pela qual todos os juristas deveriam iniciar sua formação pela leitura
dos textos Kafka, especialmente de O processo. A prosa kafkiana nos mostra que há sempre
alguma coisa que não pode ser compreendida, mas que isto não nos exime da incessante tarefa
de, a cada leitura, desconstruí-la e reinterpretá-la. Kafka é infinito e, certamente, mais
importante para o estudo do direito do que grande parte dos manuais jurídicos.
82 Ver, para tanto, COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org.). Direito e psicanálise. Intersecções a partir de “O processo” de Kafka. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 83 Nesse sentido, aliás, Camus afirma: “O século XVII foi o século das matemáticas, o século XVIII o das ciências e o século XIX o da biologia. O nosso século XX é o século do medo... o que mais efectivamente nos chama a atenção neste mundo em que vivemos é, em geral e em primeiro lugar, que a maioria dos homens [...] não tem futuro algum. Nenhuma vida é válida sem projecção no futuro” CAMUS, Albert. Actuais. Lisboa: Livros do Brasil, [s. d.], p. 163-164). 84 Cf. MONOD apud PRIGOGINE, Ilya. O reencantamento do mundo. In: MORIN, Edgar; PRIGOGINE et al. A sociedade em busca de valores. Para fugir à alternativa entre o cepticismo e o dogmatismo. Lisboa: Piaget, [s.d.], p. 229. 85 Cf. CHUEIRI, Vera Karam de. Kafka, kavka, K.: do nebuloso ao que se revela como surpresa. In: TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta M.; COPETTI NETO, Alfredo (Orgs.). Direito & Literatura: ensaios críticos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 88.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADORNO, Theodor W. Teoria estética. São Paulo: Martins Fontes, 1982.
AGUIAR E SILVA, Joana. A prática judiciária entre direito e literatura. Coimbra:
Almedina, 2001.
BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 1980.
BRUNER, Jerome. La fabbrica delle storie: diritto, letteratura, vita. Roma-Bari: Laterza,
2002.
CALVO, José. Derecho y narración: materiales para una teoria y crítica narrativista del
derecho. Barcelona: Ariel, 1996.
CHUEIRI, Vera Karam de. Direito e literatura. In: BARRETTO, Vicente (Org.). Dicionário
de filosofia do direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 233-235.
CHUEIRI, Vera Karam de. Kafka, kavka, K.: do nebuloso ao que se revela como surpresa. In:
TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta M.; COPETTI NETO, Alfredo (Orgs.).
Direito & Literatura: ensaios críticos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 63-90.
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org.). Direito e psicanálise. Intersecções a partir de “O processo” de Kafka. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. DERRIDA, Jacques. Acts of literature. New York-London: Routledge, 1992.
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
ECO, Umberto. Os limites da interpretação. São Paulo: Perspectiva, 1995.
ECO, Umberto. Kant e o ornitorrinco. Rio de Janeiro: Record, 1998.
FOCAULT, Michel. A ordem do discurso. 10. ed. São Paulo: Loyola, 2004.
FREITAS, Raquel Barradas de. Direito, linguagem e literatura: reflexões sobre o sentido e
alcance das inter-relações. Breve estudo sobre dimensões de criatividade em direito. Working
Paper 6/02. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 1990.
GADAMER, Hans-Georg. Verdad y método I. 10. ed. Salamanca: Sígueme, 2003.
GADAMER, Hans-Georg. Verdad y método II. 5. ed. Salamanca: Sígueme, 2002.
GADAMER, Hans-Georg. Estética y Hermenéutica. Madrid: Tecnos, 1996.
JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Literatura & direito: uma outra leitura do mundo das leis. Rio
de Janeiro: Letra Capital, 1998.
KAFKA, Franz. O processo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
KAFKA, Franz. O veredicto / Na colônia penal. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
KAFKA, Franz. A metamorfose. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
KAFKA, Franz. A preocupação de um pai de família. In: KAFKA, Franz. Um médico rural.
São Paulo: Companhia das Letras, 1999. pp. 43-45.
KAUFMANN, Arthur. HASSEMER, Winfried (Orgs.). Introdução à filosofia do direito e à
teoria do direito contemporâneas. Lisboa: Gulbenkian, 2002.
MARI, Enrique. Derecho y literatura. Algo de lo que sí se puede hablar pero en voz baja. Doxa. Cuadernos de Filosofia del Derecho, Alicante, n. 21, p. 251-287, 1998. NUSSBAUM, Martha. El conocimento del amor: ensayos sobre filosofía y literatura. Madrid:
A. Machado Libros, 2005.
NUSSBAUM, Martha. Il giudizio del poeta. Imagginazione letteraria e vita civile. Milano:
Feltrinelli, 1996.
OST, François. Contar a lei. As fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos, 2004.
PÉREZ, Carlos. Derecho y literatura. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofia del Derecho.
México, n. 24, p. 135-153, abr. 2006.
PRIGOGINE, Ilya. O reencantamento do mundo. In: MORIN, Edgar; PRIGOGINE et al. A
sociedade em busca de valores. Para fugir à alternativa entre o cepticismo e o dogmatismo.
Lisboa: Piaget, [s.d.].
SANSONE, Arianna. Diritto e letteratura. Un'introduzione generale. Milano. Giuffrè, 2001. STEINER, George. Linguaggio e silenzio. Milano: Garzanti, 2006.
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007.
TALAVERA, Pedro. Derecho y literatura. Granada: Comares, 2006.
TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI NETO, Alfredo
(Orgs.). Direito & Literatura: reflexões teóricas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI NETO, Alfredo
(Orgs.). Direito & Literatura: ensaios críticos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI NETO, Alfredo
(Orgs.). Direito & Literatura: discurso, imaginário e normatividade. Porto Alegre: Nuria
Fabris, 2010.
WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito. Porto Alegre: SAFE, 1994. v. 1.
WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito. A epistemologia jurídica da
modernidade. Porto Alegre: SAFE, 1995. v. 2.
WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito. O sonho acabou. Florianópolis:
Boiteux, 2004. v. 2.
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
ISSN 2316-2112
C E S U C A
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro Colinas – Cep.: 94940-243 | Cachoeirinha – RS | Tel/Fax. (51) 33961000 | e-mail: [email protected]
WARAT, Luis Alberto. Territórios desconhecidos. A procura surrealista pelos lugares do
abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade. Florianópolis: Boiteux, 2004. v. 1.
WILDE, Oscar. The Decay of Lying. In: WILDE, Oscar. Intentions. London: Methuen, 1913.
ZIZEK, Slavoj. Diritti umani per Odradek? Roma: Nottetempo, 2005.