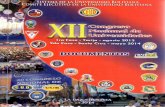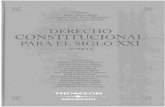XII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of XII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación ...
1
XII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana
Historia de las prácticas, instituciones y saber pedagógico en Iberoamérica
Eje temático N° 8 Infancia(s) y juventud(es) entre la memoria y los olvidos en
la historia de la educación y la pedagogía.
2
Facultad de Educación Universidad de Antioquia Grupo historia de la práctica pedagógica en Colombia Red Colombiana de Historia de la educación y la pedagogía REDCHEP Historia de las prácticas, instituciones y saber pedagógico en Iberoamérica Alberto Martínez Boom Alcira Aguilera Morales Alejandro Álvarez Gallego Ana Cristina León Palencia Andrés Klaus Runge Peña Bárbara García Sánchez Carlos Jilmar Díaz Dora Lilia Marín Díaz Elizabeth Castillo Guzmán Javier Guerrero Barón Jhon Henry Orozco Tabares Juan Carlos Echeverri Luis Alfonso Alarcón Meneses María Isabel González Terreros Oscar Pulido Cortés Oscar Saldarriaga Vélez Rafael Ríos Beltrán Yeimy Cárdenas Palermo Víctor Manuel Rodríguez Compiladores VÍCTOR ALEXANDER YARZA DE LOS RÍOS Edición Primera edición 2016 Universidad de Antioquia Calle 67 #53 - 108, Medellín, Antioquia Colombia. Página web: www.udea.edu.co Medellín, Colombia 57(4) 2198332 El contenido de los textos que se incluyen en este libro es responsabilidad exclusiva de los autores de cada investigación y no representan a la Universidad de Antioquia ni a las entidades colaboradores en el Congreso. Realizado en Medellín, Colombia ISSN: 2539-2603
4
Presentación
En 1992 se comenzó con el Congreso Iberoamericano de la Historia de la Educación Latinoamericana en la ciudad de Bogotá. Después de 24 años retorna al país de origen, a la ciudad de Medellín, manteniendo el propósito de contribuir a la comprensión de las relaciones entre la educación, la cultura y la sociedad a lo largo del tiempo, reflexionando sobre sus debilidades y fortalezas, sus similitudes y diferencias. Ha sido un espacio para reflexionar acerca de los sujetos de la educación, su pluralidad y heterogeneidad, y las formas en que ha contribuido a la generación de identidades y procesos de autonomía en América Latina. También ha buscado propiciar el debate en torno a los enfoques y metodologías que se utilizan en la historia de la educación y la pedagogía, la discusión historiográfica, el análisis comparativo e internacional, el encuentro entre investigadores, la participación de jóvenes, la formación de grupos de investigación y de redes académicas, así como la consolidación de espacios de investigación y docencia sobre la historia de la educación iberoamericana. Después de un proceso de consulta en la comunidad nacional de historia de la educación y la pedagogía, así como con algunos colegas de Iberoamérica, se decidió que la temática general para el presente CIHELA será Historia de las instituciones, prácticas y saber pedagógico en Iberoamérica. Un rasgo distintivo de las tradiciones historiográficas educativas en Colombia ha consistido en problematizar el saber pedagógico y la pedagogía, en el contexto Iberoamericano. Pues bien, se pretende volver a mirar lo acontecido con las instituciones, en su entrañable relación con la multiplicidad de prácticas y saberes construidos por sujetos de saber pedagógico y de la educación: maestros, directivos, políticos, líderes sindicales, madres comunitarias, organizaciones civiles, educadores populares, indígenas, afrodescendientes, entre otros. Objetivo general del evento Favorecer la reflexión y el intercambio de la comunidad académica de historia de la educación y la pedagogía en Iberoamérica a propósito de la historia de las instituciones, prácticas y saber pedagógico Objetivos específicos
Contribuir a la comprensión de las relaciones entre la educación, la cultura y la sociedad a lo largo del tiempo, reflexionando sobre sus debilidades y fortalezas, sus similitudes y diferencias
Generar espacios de debate, construcción de conocimiento y apropiación social para la problematización del presente en las sociedades latinoamericanas
Propiciar el encuentro académico intercultural de grupos e investigadores en torno a la historia de la educación y la pedagogía.
5
Comité organizador Coordinación general Alexander Yarza de los Ríos, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. Grupo historia de la práctica pedagógica en Colombia. Red Colombiana de Historia de la educación y la pedagogía. REDCHEP. Comité Científico y Académico Nacional Alberto Martínez Boom, Universidad Pedagógica Nacional. Alejandra Taborda, Universidad de Córdoba. Alejandro Álvarez Gallego, Universidad Pedagógica Nacional. Ana Cristina León Palencia, Universidad Pedagógica Nacional. Andrés Klaus Runge Peña, Universidad de Antioquia. Bárbara García Sánchez, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Carlos Ernesto Noguera, Universidad Pedagógica Nacional. Carlos Jilmar Díaz, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Carlos Hernando Valencia, Universidad de Caldas. Dora Lilia Marín Díaz, Universidad Pedagógica Nacional. Elizabeth Castillo Guzmán, Universidad del Cauca. Humberto Quiceno, Universidad del Valle. Javier Guerrero, Asociación Colombiana de Historiadores, Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia. Jhon Henry Orozco, Universidad Pedagógica Nacional. Juan Carlos Echeverri, Universidad Pontificia Bolivariana. Luis Alfonso Alarcón Meneses, Universidad del Atlántico. María Isabel González Terreros, Universidad Pedagógica Nacional. Miguel Ángel Gómez Mendoza, Universidad Tecnológica de Pereira. Oscar Pulido Cortés, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Oscar Saldarriaga Vélez, Universidad Pontifica Javeriana. Rafael Ríos Beltrán, Universidad del Valle. Víctor Manuel Rodríguez, Universidad Pedagógica Nacional. Yeimy Cárdenas Palermo, Universidad Pedagógica Nacional. Comité Científico Internacional José Gondra, Brasil. Gabriela Ossenbach Sauter, España. Alicia Civera, Carlos Escalante, Salvador Camacho, Elsie Rockwell, México. Antonio Romano, Uruguay. Comité Honorario Jesús Alberto Echeverri, Universidad de Antioquia. Martha Cecilia Herrera, Universidad Pedagógica Nacional. Comité Administrativo Carlos Arturo Soto Lombana, Decano Facultad de Educación, Universidad de Antioquia
7
“A CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E INFÂNCIA NA DISCIPLINA LITERATURA
INFANTIL (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, BRASIL 1935 –
1938)”1.
Aline Santos Costa (Doutoranda/ PROPed - UERJ).
1. Introdução:
No Brasil, a aproximação da Literatura Infantil com o ambiente escolar, no Brasil,
data de finais do século XIX e início do século XX (LAJOLO & ZILBERMAN:2007). Nos
primeiros anos da República, autores como Olavo Bilac, Manuel de Bonfim e Júlia Lopes
de Almeida escreveram livros voltados ao público infantil. O Livro Através do Brasil (de
Olavo Bilac e Manuel de Bonfim) foi adotado como livro de leitura em escolas públicas,
principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Este livro, assim como
alguns outros que circularam no mesmo período são chamados de “Literatura Cívica
Pedagógica” (HANSEN, 2011:52),uma vez que apresentavam franca preocupação com
a formação moral dos leitores, bem como o incentivo ao “amor à pátria”. No que se
refere à estética, a preocupação com a língua portuguesa (correta, rebuscada) e com a
criação de personagens exemplares (crianças obedientes aos adultos, bondosas) era
comum a maioria desses livros (ZILBERMAN & LAJOLO: 2007; 40).
Durante a primeira metade do século XX, a preocupação em oferecer às crianças
livros com exaltação à “boa conduta moral” permaneceu. Se, aos poucos, a linguagem
adotada ficou mais coloquial, os valores socialmente exaltados (culto ao trabalho, ao
amor à pátria, à obediência aos mais velhos, a caridade, etc) permaneciam presentes
nos livros escritos especificamente para crianças. Exemplo disso são os livros do
escritor Thales de Andrade. Seu livro “El Rei D. Sapo” (escrito em 1917), trazia o
discurso da Escola como salvadora, instituição capaz regenerar e salvar as futuras
gerações da ignorância (apontada por muitos como o grande mal do Brasil)2. Dessa
1 Este artigo apresenta parte da pesquisa desenvolvida sobre a construção da disciplina Literatura Infantil no Instituto de Educação do Distrito Federal, durante a década de 1930. Esta pesquisa é um desdobramento da pesquisa sobre a Comissão de Literatura Infantil, criada em 1936, no Brasil, pelo então ministro da Educação Gustavo Capanema (pesquisa que culminou na dissertação de mestrado em História Social, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Brasil, intitulada “A Comissão Nacional de Literatura Infantil e a formação do público leitor infantil no Governo Vargas (1936- 1938)”). A atual pesquisa, intitulada “A Literatura Infantil como disciplina no Instituto de Educação do Distrito Federal (1934 – 1938)” tem por objetivo o desenvolvimento da tese de doutoramento em Educação, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 Ver: SOARES, Gabriela Pellegrino. Semear horizontes: uma história da formação de leitores na Argentina e no Brasil, 1915-1954. Belo Horizonte: Editora UFMG/ FAPESP, 2007
8
forma, em sua coleção “Encantos e Verdades”, Tales de Andrade demonstrou de forma
clara a preocupação em educar a partir das histórias fictícias.
Um escritor que trouxe contribuições fundamentais para a Literatura
infantojuvenil brasileira foi Monteiro Lobato, que também teve seus livros infantis
adotados por algumas escolas. Escrevendo para crianças em finais da década de 1910
e durante a década de 1920, Lobato trouxe uma nova perspectiva à literatura para
jovens e crianças. Sua obra fugia do modelo formal, tanto no que se refere à linguagem
(em seus livros, a linguagem era simples, acessível aos pequenos leitores), quanto à
própria história. Sua representação do universo infantojuvenil se distanciou das
preocupações “adultocêntrica”, privilegiando a fantasia, a curiosidade e a
espontaneidade das crianças. De todo modo, os livros de Lobato também foram
adotados por escolas públicas, sobretudo as paulistanas3.
Apesar da expansão da literatura voltada para as crianças e da aproximação
desta literatura com a escola, vale ressaltar que os estudos específicos que visavam
definir seus predicativos e características eram escassos. Até finais do século XIX, os
textos que tinha alguma conotação teórica eram aqueles que vinham como prefácio nos
livros infantis, em geral, esses textos eram assinados pelos editores e se dirigiam aos
adultos, aqueles que seriam os mediadores entre os livros e as crianças (OLIVEIRA;
2014: 44). Já nas primeiras décadas do século XX, três textos podem ilustrar o
desenvolvimento de estudos “teóricos” sobre a “Literatura Infantil”: “esboço provisório
de uma biblioteca infantil”, de Alexina de Magalhães Pinto, publicado em seu livro
intitulado Provérbios populares, máximas e observações usuais (1917); o ensaio
“Literatura Infantil”, de Júlio Afrânio Peixoto, publicado no livro Ensinar a ensinar:
ensaios de Pedagogia aplicada á educação nacional (1923) e o capítulo “Literatura
Infantil”, de Alceu Amoroso Lima, parte de seu livro Estudos – 1° série (1927).
Em ambos os livros ressaltava-se o papel educador que a Literatura Infantil
deveria ter. No primeiro, Alexina de Magalhães4 oferece uma lista de livros que seriam
3 SOARES, Gabriela Pellegrino. Semear horizontes: uma história da formação de leitores na
Argentina e no Brasil, 1915-1954. Belo Horizonte: Editora UFMG/ FAPESP, 2007.
LAJOLO, Marisa. Literatura infantil brasileira: história e crítica. São Paulo: Ática, 1984
4 Alexina de Magalhães Pinto (1870 – 1921): Nasceu no estado de Minas Gerais (Brasil). Foi professora e durante sua vida, dedicou-se, além do magistério, às pesquisas sobre folclore e sobre Literatura Infantil. Seus trabalhos sobre Literatura Infantil são considerados pioneiros. Em 1917 Alexina de Magalhães escreveu o livro Provérbios populares, máximas e observações usuais (1917)”, nele encontra-se uma lista de livros considerados de qualidade, pela educadora, para serem lidos pelas crianças. Alexina de Magalhães faleceu na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, em um acidente de trem.
9
“adequados” às crianças. No segundo texto, Afrânio Peixoto disserta sobre a
importância da literatura para a formação moral e intelectual das crianças. Defendia
também que para lograr o objetivo pedagógico, os livro infantis deveriam lançar mão da
fantasia, de gravuras, de histórias bem construídas que ganhassem a simpatia das
crianças. Por sua vez, as personagens das histórias deveriam sempre apresentar
qualidades morais (caridade, amor ao trabalho, amor à família,etc) e as histórias ideais
apresentariam situações com uma fantasia controlada, sempre a serviço do cultivo de
“bons sentimentos” e “formação de bons hábitos”. Ressalta, contudo, que os elementos
educativos deveriam ser parte “natural” dos livros infantis, sem imposições ou destaque
em detrimento à qualidade narrativa da história.
Já Alceu Amoroso Lima, por sua vez, além de defender o papel educativo da
Literatura Infantil, ressalta também que se poderiam considerar como literatura infantil
livros e poesias escritos por crianças. O poeta, então, ressalta o protagonismo infantil,
apontando a criança como capaz de criar. No mesmo ensaio, Amoroso Lima critica a
maior parte dos livros infantis do período, afirmando que traziam excesso de
pedagogismo, uma vez que eram escritos por professores. Outro problema seria a falta
de habilidade de outros escritores, que não conseguiam escrever livros que cativassem
o público leitor em formação. Crítica semelhante também foi feita, posteriormente, pela
poetisa Cecília Meireles5, em 1931, em sua coluna “Paginas de Educação”, do jornal
Correio da Manhã.
Maiores informações ver: http://diretodesaojoaodelrei.blogspot.com.br/2012/07/alexina-pinto-deu-educacao-sao-joao-del.html 5 Cecília Benevides Meireles (1901 – 1964): Cecília Meireles nasceu em 07 de novembro de 1901, filha de Carlos Alberto de Carvalho Meireles, um funcionário do Banco do Brasil e de Matilde Benevides Meireles, professora municipal. Seu primeiro livro de poesias, Espectros, foi publicado em 1919. Casou-se em 1922 com o pintor português Fernando Correia Dias, com quem teve três filhas. A escritora passou então a conciliar a vida literária com o magistério, onde não apenas lecionou, como também fez alguns estudos, como o Inquérito de Leituras Infantis (1931), sob encomenda da Direção de Instrução Pública do Distrito Federal. Em 1932 participou do grupo de educadores que assinou o Manifesto da Escola Nova. Entre 1931 e 1936, Cecília Meireles escreveu crônicas sobre Educação para a coluna Páginas da Educação, do jornal Correio da manhã. Durante esse período também escreve para revistas de educação e sobre literatura infantil (escreve também livros para crianças); em 1936, chegou a contribuir, durante algum período, com a Comissão Nacional de Literatura Infantil. Dentre os livros mais conhecidos de Cecília Meireles estão: Crianças, meu amor... (1923); Saudação à menina de Portugal (1930); A festa das letras (1937); Romanceiros da inconfidência (1953). Já os trabalhos não literários, estão Batuque, Samba e Macumba (1935) livro sobre os ritmos brasileiros de influência africana; Problemas da Literatura Infantil (1950). Para Maiores informações, consultar a tese de Jussara Santos Pimenta, publicada em forma de livro em 2011: PIMENTA, Jussara Santos. Leitura, arte e educação: a biblioteca infantil do Pavilhão Mourisco (1934 – 1937). Curitiba: CRV Editora; 2011.
10
É no contexto dos debates educacionais, da primeira metade do século XX que
nosso objeto de estudos se circunscreve. As falas de Afrânio Peixoto, Amoroso Lima e,
já em 1931, de Cecília Meireles, ilustram uma certa percepção em torno da literatura
infantil e, sobretudo, do público leitor almejado. Essa percepção, por um lado, guarda
ainda aproximações com aquela comum ao final do século XIX, sobretudo no que se
refere ao alcance educativos da Literatura Infantil. Por outro, afasta-se da primeira, uma
vez que valoriza elementos como a fantasia e, sobretudo, encaram a criança como ser
capaz de criar e se expressar. Essa sutil, mas significativa mudança na percepção sobre
a criança e, consequentemente, a Literatura Infantil, norteará a construção da disciplina
Literatura Infantil, ministrada no Curso Normal do Instituto de Educação do Distrito
Federal.
2. A disciplina no Instituto de Educação do Distrito Federal: a Literatura Infantil
em tempos de Escola Nova.
Criado em 1932, o Instituto de Educação do Distrito Federal teve como
característica principal o estudo e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que
teriam como pressupostos teóricos do movimento denominado “Escola Nova”6. A partir
de 1935, chegou a elevar seu curso de formação de professores a nível superior,
passando este a compor a Faculdade de Educação da Universidade do Distrito Federal
(UDF)7. Criado na gestão do educador Brasileiro Anísio Teixeira, quando este estava à
frente da Direção de Instrução Pública do Rio de Janeiro, o Instituto de Educação do
Distrito Federal tinha como principal característica uma formação voltada para o ensino
6 Importante ressaltar que, embora tenha esta denominação, o movimento escolanovista comportava, em si, diferentes pensamentos pedagógicos. No Brasil foi assinado, em 1932, o chamado “Manifesto da Escola Nova”, por alguns membros da Associação Brasileira de Educação. A criação do Manifesto, além de seu caráter simbólico na construção da memória dos autodenominados “Renovadores” do ensino, também marcou o saída de intelectuais católicos da ABE. Essa saída rompe com o discurso que a própria Associação buscou construir para si, a de que constituía-se de intelectuais com perspectivas homogêneas, em prol da Educação. Ver: CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Molde Nacional e Fôrma Fisica: higiene, moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira de Educação (1924 – 1931). São Paulo: EDUSF; 1998. 7). O principal objetivo da UDF era o incentivo à pesquisa cientifica e à formação de professores do ensino secundário. É importante salientar que a UDF não foi a primeira universidade no Rio de Janeiro, pois desde 1920, com a união das faculdades de Direito e Medicina, além da Escola Politécnica, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro48. No entanto, foi com a UDF que a universidade – que até então vinha desempenhando o papel de formar bacharéis e médicos – passou a se preocupar com a formação de professores e pesquisadores. A UDF, no entanto, passou a ser alvo de duras críticas, principalmente advindas dos intelectuais católicos, que acusavam seu idealizador, Anísio Teixeira, de ser um comunista e exigiam intervenção do governo na universidade. Em 1939, a UDF foi fechada. A Universidade do Brasil passou por uma reestruturação e começou a oferecer cursos antes oferecidos pela universidade fechada. Foi o caso, pro exemplo, do curso de História. No entanto, a importância da formação de pesquisadores ficou em segundo plano, dando lugar à formação mais erudita, focada nos conteúdos disciplinares.
11
prático, técnico. Ao contrário do que ocorria até então, nas escolas de formação de
professores, algumas disciplinas mais eruditas, como o ensino de Latim, Grego
Clássico, foram abolidas. Dava-se preferência às disciplinas como “psicologia da
Educação”, “Estudos Sociais”, “História do Brasil”, “Leitura e Linguagem” e “Literatura
Infantil”.
A disciplina Literatura Infantil passou a constar no currículo do Curso de
Formação de Professores do Instituto de Educação do Distrito Federal a partir de 1933.
Essa disciplina fazia parte do núcleo denominado “matérias de Ensino”, que foi criado
para favorecer o diálogo entre “teorias educacionais” e “práticas pedagógicas”8. A
preocupação em criar esse núcleo de disciplinas aponta para uma determinada maneira
de conceber a formação de professores primários, defendida, sobretudo, pelo educador
Anísio Teixeira9, principal idealizador do Instituto de Educação do Distrito Federal10.
Tendo por referência o modelo formação docente adotado pelos Estados Unidos da
América, Anísio Teixeira defendia a necessidade de se estudar tanto os aspectos
teóricos das disciplinas, quanto formas de ensiná-las às crianças em idade escolar. Sob
uma perspectiva pautada no desenvolvimento psicológico da Criança (e tendo-a como
centro das ações pedagógicas), outro educador que também defendia a importância das
“Matérias de Ensino” foi Lourenço Filho11 (que dirigiu o Instituto de Educação do Distrito
Federal de 1932 a 1938).
8 Ver: LOPES, Sônia de Castro. “O Currículo como representação de uma nova cultura pedagógica:A ‘Escola de Professores’ do Instituto de Educação do Rio de Janeiro (1932 – 1939)”. In: FERREIRA, Marcia Serra; XAVIER, Libânia; CARVALHO, Fábio Garcez (org). História do Currículo e História da Educação: Interfaces e diálogos. Rio de Janeiro: QUARTET;2013. 9 Anísio Spindola Teixeira (1900 – 1971): O Educador Anísio Teixeira nasceu na Bahia (estado brasileiro). Estudou em escola jesuíta e chegou a querer ser padre na juventude. No entanto, por insistência de seu pai foi estudar na capital federal, Rio de Janeiro. Após se graduar na Faculdade de Direito, Anísio Teixeira foi nomeado, em 1920, Diretor Geral de Instrução Pública do estado da Bahia. Devido ao trabalho e aos estudos realizados no âmbito educacional, foi para a Europa em 1925 e em 1927 foi aos Estados Unidos da América fazer cursos na área de assuntos educacionais, chegando a ser aluno de John Dewey. Regressou ao Brasil em 1928 e procurou implementar projetos educacionais pautados nas ideias da chamada “Escola Nova”. Diante de seu trabalho na Instrução Pública da Bahia, Teixeira foi convidado a assumir a Direção de Instrução Pública do Distrito Federal (1931). Em 1935, o educador saiu do cargo, após sofrer perseguição política de seus adversários (sobretudo por parte dos intelectuais católicos), que o apontavam como simpatizante do Comunismo. Após uma vida dedicada a atividade intelectual e política, Anísio Teixeira faleceu, em 1971, em plena vigência da Ditadura Militar Brasileira. Estudos recentes apontam que o educador foi, possivelmente, assassinado pela repressão, embora o laudo oficial ateste morte por acidente em um elevador.
Ver: http://www.infoescola.com/biografias/anisio-teixeira/
10 Idem. 11 Manuel Bergström Lourenço Filho (1897 – 1970): O Educador Lourenço Filho nasceu no
12
Nesse sentido, torna-se importante pensar a disciplina Literatura Infantil a partir
de uma perspectiva comum às “Matérias de Ensino”. As características comuns a esse
grupo de disciplinas, isto é, a preparação para o exercício do magistério primário e a
articulação entre “prática pedagógica” e os teóricos da chamada psicologia
experimental, se fazem presentes, já no programa de ensino da disciplina12, assinado
por Elvira Nizynska13, professora assistente do núcleo “Matérias de Ensino”. A primeira
característica pode ser vislumbrada nos objetivos gerais explanados no programa:
estado brasileiro de São Paulo, em 1897. Estudante do curso de medicina, Lourenço Filho abandonou a faculdade no segundo ano, para se dedicar aos estudos da Educação. Assumiu dois cargos de Diretor de Instrução Pública. Em 1922, no estado do Ceará, dirigiu uma reforma na instrução pública. Já em 1931, em São Paulo, assumiu a direção de instrução pública e promoveu também uma reforma educacional naquele estado. Assim como Anísio Teixeira, assinou o Manifesto da Escola Nova (1932). No mesmo ano, com a abertura do Instituto de Educação do Distrito Federal, Lourenço Filho foi nomeado diretor da instituição, cargo no qual permaneceu até 1937. Em finais da década de 1930 e durante a década de 1940, o educador também assumiu a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), órgão do governo federal ligado ao Ministério da Educação e Saúde Pública. Faleceu em 1970. 12 Idem. 13 Elvira Nizynska da Silva (1896 – 1964): Filha de poloneses, Elvira Nizynska da Silva nasceu no Rio de Janeiro, na época, Distrito Federal. Estudou na Escola Normal do Distrito Federal, entre 1911 e 1913. Em 1920 Elvira Nizynska casou-se com o comerciante português Domingos José da Silva, que possuía uma frota de carros de aluguel. O casal não teve filhos e, em 1922, aos 26 anos de idade, Elvira foi diagnosticada como portadora de doença cardíaca, no entanto, apesar de algumas limitações e recomendações médicas, não deixou de trabalhar. Além de lecionar, Nizynska também atuou como Diretora Adjunta da Escola Rodrigues Alves, no Catete (hoje extinta) entre 1928 – 1932. No mesmo período, filiada à Associação Brasileira de Educação (ABE) a professora Elvira Nizynska participou de vários debates em torno do livro infantil, juntamente com Juracy Silveira, que era sua amiga pessoal. A partir de 1933, Elvira Nizynska foi nomeada professora assistente da cadeira de Matérias de Ensino, do Instituto de Educação do Distrito Federal.A educadora permaneceu no Instituto de Educação até 1938, neste período, Nizynska lecionou as disciplinas “Literatura Infantil” e “Leitura e Linguagem”. Ao longo dos anos, Elvira tornou-se estudiosa e especialista em Literatura InfantoJuvenil, tanto em 1936, foi convidada a compor a Comissão de Literatura Infantil, criada pelo ministro de Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema. Nela desempenhou importante função técnica, procurando apresentar pesquisas e estudos recentes, à época, sobre o assunto. Além do contato próximo com alguns dos professores que trabalharam no Instituto de Educação como, por exemplo, o professor Lourenço Filho, Elvira Nizynska costumava receber a visita de alguns professores da ABE. A educadora faleceu em 1964, em casa, na companhia do marido, em decorrência do problema cardíaco que a acometia. Para maiores informações ver: COSTA, Aline Santos. A Comissão Nacional de Literatura Infantil e a Formação do público leitor infanto-juvenil no Governo Vargas (1936 – 1938). Dissertação defendida para obtenção do título de Mestra em História Social, pelo Programa de Pós Graduação em História Social (PPGHIS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no ano de 2011. COSTA, Aline Santos. “ ESCOLA NOVA E LITERATURA INFANTIL:a atuação de Elvira Nizynska como educadora e pesquisadora dos livros infantojuvenis nos anos de 1930”. In: PIMENTA, Jussara Santos; DINIZ, Aires Antunes; PIMENTA, Thales Henrique; COSTA, Aline Santos. Diálogos sem fronteiras: Educação, História e Interculturalidades. Curitiba: Editora CRV; 2012. p. 59 – 76.
13
Ao lado dos objetivos de pura informação como o da significação social da
leitura, sua finalidade, gêneros literários, etc., a matéria possui
uma função educativa geral que pode ser assim discriminada:
a) A literatura, como aprendizagem de apreciação, tendo por finalidade o
cultivo de sentimentos; educação estética e a formação de ideais da ação.
b) A literatura e sua relação com as outras disciplinas; auxílio que presta à
motivação de outras aprendizagens, e à aquisição de certas habilidades.
( SILVA, 1937).
Os objetivos da disciplina parecem divididos em “geral”, no qual o caráter
informativo é ressaltado. As alunas do Curso Normal, então, conheceriam as principais
funções sociais da leitura, os gêneros literários, bem como a finalidade conferida à
Literatura Infantil. Para além dessas informações gerais, outros objetivos conferem à
disciplina um caráter técnico e voltado para a formação do magistério. Nos objetivos
subdivididos em “a” e “b”, percebemos finalidades mais complexas. Isso porque,
analisada da perspectiva de uma disciplina escolar, poderíamos apontar nela uma
preocupação com a formação moral e educativa, sendo isso o que diferenciaria as
disciplinas do Ensino Básico daquelas ministradas no Ensino Superior (CHERVEL:
1990; 193). Todavia, Tal distinção, no caso da disciplina Literatura Infantil, torna-se um
pouco mais complexa. Se, por um lado, ela tende a ser informativa e, ao mesmo tempo,
ensinar às futuras professoras como escolher os livros infantis que seriam, futuramente,
utilizados por elas em sala de aula, por outro, as práticas avaliativas, a maneira como a
disciplina organizava sua construção de saber, mostra-a mais próxima das disciplinas
acadêmicas.
Como já salientado no início deste artigo, durante o período de construção da
disciplina, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, não havia um livro teórico
específico sobre Literatura Infantil. Diante disso, organizou-se uma bibliografia, na qual
estavam presentes entre os livros selecionados, trabalhos de estudiosos do
desenvolvimento infantil. A bibliografia do curso dividia-se em “Livro texto”; “Livros de
consulta para estudos comparativos e discussão” e “Leituras recomendáveis”.
BIBLIOGRAFIA PARA OS ALUNOS: a) Livros Textos: - Roland de Carvalho – Pequena História da Literatura Brasileira. - Arthur Motta – História da Literatura Brasileira - Basílio de Magalhães – O Folclore no Brasil. - Gustavo Barroso – Ao Som da Viola; - Gustavo Barroso – A Ronda dos Séculos.
14
B) Livros de consulta para estudo comparativo e discussão: - Claparède – Psicologia Del niño; - Helena Antipoff – Ideias e interesses das crianças de Belo Horizonte; - Marcel Brawnschvid – (Revista do Brasil – Outubro de 1921) – A Literatura Infantil; C) Leituras recomendáveis: - Sampaio Dória – Educação; - Kilpatrick – Educação para uma civilização em mudança; - Binet – Les ideés modernes sur lês enfants; - Claparède – Educação Funcional. - Dewey – Como pensamos; - Piaget – Langage ET La pensée chez l’enfant.
Elvira Nizynska da Silva (Assistente da seção de Matérias de Ensino)14
Ao observar a bibliografia do curso, nota-se a presença de alguns livros de
estudiosos europeus e norte-americanos que procuraram, durante a primeira metade do
século XX, compreender como funcionava o desenvolvimento infantil. Dentre os autores
citados estão Claparède, Jean Piaget e Binet, estes são os autores que mais buscaram
compreender a criança e a infância. Isso apontaria, então, para a aproximação entre
esses conhecimentos sobre a Literatura Infantil e o movimento denominado “Escola
Nova”. A preocupação em formar professores a partir de uma concepção técnica e
teórica diferente daquela que havia sido a base da formação de professores até, pelo
menos, a década de 1920 (estudos “humanistas” de História antiga, ensino de oratória,
de latim, de grego, etc), foi uma marca do Instituto de Educação do Distrito Federal.
Segundo estudos da historiadora da educação, Diana Vidal, para levar adiante
o projeto de formar professores que dialogassem com os teóricos e, com isso,
aperfeiçoassem suas práticas, foram construídos laboratórios de química, física e
biologia, museus escolares, além de uma biblioteca destinada não apenas para os
alunos (do curso de formação de professores ou da escola elementar, anexa ao
Instituto), mas também aos professores. A partir dessas estratégias, acreditava-se ser
possível formar um professorado primário que dialogasse com as novas “tendências
pedagógicas”. A biblioteca, por sua vez, era parte importante da formação dessas novas
professoras uma vez que era lá onde se realizariam as pesquisas, voltadas geralmente
à formação profissional. Tal importância está representada na fala de uma ex-aluna do
Instituto, que concedeu entrevista à Historiadora Diana Vidal (que elaborou uma tese
acerca do Instituto de Educação durante a década de 1930). Na entrevista, a ex-aluna,
a Professora Helena Silva de Oliveira:
14 SILVA, Elvira Nizynska da. “Literatura Infantil”. In: Arquivos do Instituto de Educação. Dez/1937, p. 337. Documento localizado no acervo do Centro de Memória da Educação Brasileira, localizando dentro do Instituto de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ).
15
“Quando era... no tempo do ginásio, nós tínhamos que ir para fazer pesquisa que alguns professores mandavam, mas a gente só podia ir quando tinha hora vaga [...] Não havia previsão de hora da biblioteca. E no Normal, nós tínhamos a previsão de hora de biblioteca (...) Quando nós ficamos já no finalzinho do curso Normal, por causa de preparar material . Eles queriam que a gente fosse à Biblioteca para fazer consulta naqueles determinados livros que a professora tinha separado. (...) A biblioteca recebia o comunicado de em tal hora assim, assim, a turma da D. Fulana... da Alfredina ou da Elvira Nizinska... [...]” (OLIVEIRA: 1994; Apud VIDAL: 1995;p. 138).
Através do trecho supracitado, é possível perceber, na fala da ex aluna do
Instituto de Educação do Distrito Federal, um pouco das práticas cotidianas realizadas
no curso de formação de professores. O uso constante da biblioteca para pesquisas,
bem como a realização de trabalhos em forma de inquéritos, era então parte do que
podemos classificar como “Cultura Escolar” do Instituto de Educação do Distrito Federal,
durante o período estudado. Em estudo de Dominique Julia, o conceito de cultura
escolar é definido como “A cultura escolar é descrita como um conjunto de normas que
definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses
comportamentos.”15 Os procedimentos de pesquisa, bem como as disciplinas
lecionadas no curso de formação de professores (Também chamado de Curso Normal)
fazem, assim, parte da cultura escolar no Instituto.
Ao pensarmos sobre a criação da disciplina Literatura Infantil podemos
estabelecer diálogos com os teóricos André Chervel e Dominique Julia. O caso da
disciplina Literatura Infantil mostra-se complexo, pois não era “porta voz” de um
conhecimento prévio já consagrado sobre a Literatura Infantil, mas que, ao contrário,
vinha se construindo dentro e fora do Instituto, podemos dizer, então, que esta disciplina
constrói um saber específico acerca da literatura infantil. Este saber constrói-se a partir
de questões internas do Instituto de Educação, estando ligado à cultura escolar da
instituição. Uma vez se tratando de uma instituição que forma professores primários, o
plano de curso apresenta como um dos objetivos a formação de professores capazes
de escolher os livros infantis de acordo com critérios analisados e estabelecidos na
disciplina e de trabalhar tais livros com os alunos do ensino elementar. Nesse sentido,
o saber construído estaria voltado, então, para um papel educativo atribuído à Literatura
Infantil e aos professores em formação. Para melhor trabalhar os livros infantis tendo
15 JULIA, Dominique. “A Cultura Escolar como objeto Histórico”. In: Revista Brasileira de História da Educação. N°1Jan/Jun.2001. (Tradução: Gizele de Souza).
16
em vista a formação moral e estética das crianças, a disciplina lançou mão de inquéritos
realizados com crianças e uma bibliografia de estudos específicos sobre a criança e o
universo infantil.
Uma vez que há apenas dois trabalhos sobre Literatura Infantil e, na mesma
subdivisão da bibliografia, o livro Psicologia Del niño, de Edouard Claparède, o
subtópico “Livro para consulta e estudos comparativos” serão as fontes analisadas neste
trabalho. Tal escolha se justifica por ser o subtópico no qual as alunas se embasavam
teoricamente para construir saberes sobre a criança e a literatura infantil de forma
interligada.
3. A Criança , a Infância e a Disciplina Literatura Infantil.
Conforme ponderou Philippe Ariès, o reconhecimento da Infância enquanto fase
da vida humana na qual o indivíduo possui características data aproximadamente do
século XVIII. Em estudos sobre a representação da Criança na arte, o historiador aponta
para a construção da noção de Infância, que se altera de acordo com o período
estudado, bem como os grupos sociais analisados. Uma vez considerando o caráter
histórico da infância, propomos uma análise do artigo “A Literatura Infantil”, de Marcel
Brawnschvid (1921); Alguns capítulos do livro “Psicologia del niño” de Edouard
Claparède, o artigo “Problemas da Literatura Infantil” da Professora Elvira Nizynska da
Silva ( que ministrada a disciplina no período analisado) e alguns pareceres desta
educadora, produzidos quando esta participou da Comissão Nacional de Literatura
Infantil (CNLI), criada pelo Ministro da Educação e Saúde Pública, do Brasil, em 1936.
Uma vez que não foram encontrados vestígios dos estudos realizados nas aulas da
disciplina Literatura Infantil, para apreender a possíveis ideias acerca da criança
produzidas no âmbito da disciplina, lançaremos mão, então, desses trabalhos
produzidos pela educadora em outros espaços.
No livro presente na bibliografia , o teórico Edouard Claparède faz um minucioso
estudo acerca do desenvolvimento físico e psicológico das crianças. Defendendo a
complexidade do crescimento e desenvolvimento humano, Claparède afirma que ocorra
tal desenvolvimento, a criança lança mão de alguns instrumentos, sendo os mais
importantes a brincadeira (juego) e a imitação. Ao categorizar esses jogos, o teórico
também contempla a contação de histórias, os livros infantis. Claparède assim divide os
tipos de brincadeira e o que, em geral, desenvolve nas crianças: “juegos sensibles”
(aguçam as sensibilidades, os sentidos, ex: fazer sons de animais, de instrumentos
musicais, cheirar flores, tocar objetos diferentes); “Juegos motores” (desenvolvem a
habilidade de correr, a noção espacial, a força física. Ex: jogo de bola, corrida, saltar);
17
“juegos psíquicos”, que ajudariam no desenvolvimento cognitivo e psicológico das
crianças. O autor divide esse tipo de brincadeira em dois: “juegos intelectuales” (que
desenvolvem noções de lógica, a imaginação criadora. Ex: xadrez, dominó, invenção de
histórias e desenhos) e “juegos afectivos” (desenvolve as emoções, a “sensibilidade
estética”. Ex: música, pintura, desenho, invenção de histórias)16.
Sobre os “juegos intelectuales” Claparède pondera que:
Los juegos intelectuales son aquellos que hacen intervenir la comparación ó el reconocimiento (lotería, dominó), la asociación por asonancia(reinados, «yo te vendo mi canastilla»); el razonamiento (ajedrez); la reflexión ó la invención(enigmas, adivinanzas, jeroglíficos); la imaginación creadora (invenciones de historia, dibujos). [...]La imaginación juega un papel importantísimo en ,la vida del niño; .se mezcla en todas sus ocupaciones. Como ocupa un lugar de primer ordenen la vida mental del hombre, importa que se ejercite desde muy temprano. La imaginación creadora es la que eleva al hombre por encimade la naturaleza, permitiéndole agrupar los elementos en nuevas combinaciones. (CLAPARÈDE, 1927: 118 – 119).
. A imaginação, segundo Claparède é uma das características mais evidentes da
infância. É no exercício da imaginação, sobretudo a partir do ato de brincar, que a
criança desenvolve a características que mais difere os seres humanos dos outros
animais, possibilitando, assim, que o ser humano possa inventar, criar elementos novos
e exercer ação consciente sobre a natureza. A defesa da imaginação como uma
característica própria e importante da infância nos remete a fala de alguns educadores
que defendiam a importância do desenvolvimento da imaginação através dos elementos
de fantasia, contidos nos livros infantis. No mesmo trabalho, Claparède chama a
atenção para outro tipo de brincadeira que classifica como sendo do tipo “psicológica”,
é o “juego afectivo”.
En los juegos afectivos se encuentra placeren suscitar emociones, aunque sean desagradables. [...]El sentimiento estético es desarrollado por muchos juegos (dibujo, pintura, modelado, música). El miedo produce también algunos juegos:historias de bandidos que erizan el cabello;[...] (CLAPARÈDE, 1927: 121 – 122).
Nesse sentido, é possível inferir que para Edouard Claparède a contação de
histórias, os desenhos e demais manifestações de “brincadeiras psicológicas”
auxiliavam no desenvolvimento intelectual e emocional das crianças. Também
16 Ver: CLAPARÈDE, Edouard. Psicologia del niño y Pedagogia experimental. Madrid, España. Librería de Francisco Beltrán; 1927. p. 115 – 120.
18
possibilitavam a educação estética, ajudando-as a desenvolver sua criatividade e
imaginação.
Salientar a importância da imaginação durante a fase da infância foi também
uma preocupação apresentada por Marcel, em seu artigo “A Literatura Infantil”, que
também faz parte das leituras que seriam usadas para estudo comparativo. O autor
inicia seu trabalho afirmando que:
É sobretudo pela leitura de obras literárias apropriadas ao gosto e à intelligencia da creança que se lhe pode cultivar a imaginação. Muitos educadores, entretanto, desconfiando dessa faculdade de erro e da mentira, quereriam que, em logar de lhe favorecer o desenvolvimento da alma infantil, se cuidasse ao contrario de lhe cortar o vôo. (BRAUNSCHVIG; 1921)
Em ambos os casos a imaginação é apontada como um elemento natural da
infância. Todavia, alguns educadores, como salienta Braunschvig ainda viam-na como
algo pernicioso, que atrapalharia o desenvolvimento da criança. Mais adiante o mesmo
autor afirma que:
“Mas, objectam esses austeros pedagogos, a felicidade da creança também é o nosso fim; apenas, a nossa previdência vae mais longe que a vossa: não pensaes senão na alegria presente que lhe dá a imaginação, ao passo que nós queremos arrancar da alma da creança essa faculdade imaginativa que mais tarde será tormento e o perigo de sua vida... Estreita psycologia, a desses racionalistas educadores! Oh! Sim, a imaginação encerra perigos: engendra a illusão enganosa, alimenta a paxão devastadora. Mas se lhe devemos a amargura das decepções e o abrazamento das paixões, devemos-lhe também as illusões fortalecedoras e os sonhos encantadores, os enthusiasmos fecundos e a própria flammma de nossa actividade mais pura[...]” (BRAUNSCHVIG; 1921)
Em crítica àqueles que condenavam a presença dos elementos fantásticos e o
estimulo à imaginação, Braunschvig evocava a psicologia e outros estudos já realizados
sobre o universo infantil. Pondera, no trecho acima, que embora a imaginação e a
fantasia possam levar a uma visão falseada da realidade, por outro lado, é através da
imaginação que o ser humano, já adulto, age sobre o mundo, “é ela quem semeia toda
a beleza e toda virtude no mundo”. Nesse aspecto as falas de Braunschevig e Claparède
se aproximam, uma vez que ambos defendem que a imaginação é parte fundamental
do desenvolvimento infantil e, futuramente, é ela quem faz do ser humano diferentes
dos outros seres da natureza.
19
Em ambos os casos, os autores defendem também a ideia da infância como fase
do desenvolvimento humano, que possui especificidades que devem ser respeitadas e
orientadas. Edouard Claparède faz, em Psicologia del niño, uma observação inicial
acerca da infância, que norteará todo o estudo apresentado no livro. Segundo ele:
El desenvolvimiento psicológico no se realiza solo; es decir, que no es simplemente el resultado del desenvolvimiento de fuerzas innatas que el recién nacido ha recibido en herencia. No; el niño debe desenvolverse él mismo. Los dos instrumentos á los cuales recurre instintivamente para realizar esta obra, son el juego y la imitación.(CLAPARÈDE, 1927: 104)
Uma vez considerando a infância como fase fundamental do desenvolvimento
humano, com especificidades e como preparação para a vida adulta, o pesquisador
refuta a ideia de que a criança é um “adulto em miniatura”. Tal percepção seria
endossada por estudos datados do século XVII, que apontavam para um
desenvolvimento e crescimento uniforme do ser humano, transformando a criança
(pequena) em adulto (grande)17. Os estudos trazidos por teóricos da chamada Escola
Nova, dentre os quais estava Claparède, possibilitaram um novo olhar sobre a criança
e o universo infantil. Esses estudos serviram de base também para o surgimento de
uma perspectiva diferenciada sobre a Literatura Infantil. Os discursos apresentados nas
exposições promovidas pela ABE já davam conta da importância de uma literatura
adaptada aos temas de interesse particulares das crianças (nas diferentes faixas
etárias), bem como adequar o tipo de histórias e a linguagem para esse público leitor
específico.
Os Inquéritos são exemplos dessas novas técnicas de pesquisa, que visavam
direcionar as ações educativas. No artigo escrito para a Revista Infância, de junho de
1936, a Professora Elvira Nizynska da Silva aponta para a prática desses inquéritos,
mencionando como foram realizados, bem como os objetivos e resultados desses
trabalhos.
“Tendo iniciado o trabalho pelo estudo dos inquéritos norte-americanos e franceses, depois de comparar esses resultados com os realizados no Brasil, as alunas da Escola de Educação, de que sou assistente da cadeira de Literatura Infantil, resolveram fazer observações em crianças de suas casas e da Escola Elementar do Instituto de Educação, para verificar, especialmente, quais as idades em que o interesse pela ficção predomina. Os resultados colhidos dessas observações só têm o valor da sinceridade com que o trabalho foi realizado e o
17 Ver: CLAPARÈDE, Edouard. Psicologia del niño y Pedagogia experimental. Madrid, España. Librería de Francisco Beltrán; 1927. p. 84.
20
desejo de dar à Literatura Infantil o lugar que lhe compete na educação; representam o início de pesquisas futuras, de maior vulto, e das quais talvez possa resultar alguma coisa de mais positivo e útil.
Foi observado: até 8-9 anos o interesse pelo maravilhoso é muito acentuado; as crianças se sentem empolgadas pelas personagens de ficção, agradando-lhes extraordinariamente que os animais e objetos tenham dons sobrenaturais. É curioso notar, porém, que embora haja esta ânsia de fantasia, [...] as crianças distinguem o real do fantástico [...]” (SILVA, 1936).
Nesse trecho do artigo, parece oportuno salientar duas questões principais.
Primeiro, a forma como ocorreram os inquéritos realizados pela disciplina. Embora
circunscrito apenas a um circulo pequeno de crianças (familiares das alunas e
estudantes da Escola Elementar do Instituto de Educação), esta consegue responder
ao questionamento inicial, que visava entender em quais idades específicas a criança
possuía maior interesse em histórias fantásticas. Pensar o desenvolvimento cognitivo e
psicológico das crianças a partir de faixas etárias aponta para as contribuições que os
pensadores construtivistas trouxeram para a Literatura Infantil. Nely Novaes Coelho
salienta essa contribuição, sobretudo nos anos de 1930 e 1940. Os estudos de Jean
Piaget e Edouard Claparède sobre o desenvolvimento infantil trouxeram novas
perspectivas para a relação entre Educação e Literatura Infantil. Assim, como pondera
a educadora no trecho citado do artigo, busca-se dar à Literatura Infantil um lugar na
Educação, todavia, esta é feita de forma diferente18.
Considerando a ideia da criança enquanto ser em formação, em um processo
complexo de desenvolvimento psicológico e intelectual, não basta escrever livros de
Literatura Infantil a partir de um projeto pedagógico e nacionalista. Era necessário,
também, ouvir o público leitor, entender seus interesses, e direcioná-los para o projeto
educativo. Este projeto seria a formação de um futuro cidadão para ser atuante em uma
sociedade liberal e democrática. Em parecer à Comissão Nacional de Literatura Infantil,
cujo tema era os predicativos que um livro infantil deveria ter, Nizynska pondera que:
[...] Um critério eclético: as combinações dos critérios indicados [ 1) critério pautado no gosto infanto-juvenil; 2) critério seguindo as indicações dos adultos e especialistas em literatura infanto-juvenil] talvez possa permitir normas de seleção que, a par dos respeito pelo interesse normal das crianças venha proporciona-lhes também aquele material de leitura capaz de desenvolver o gosto e de concorrer para a boa formação mental, espiritual e
18 Ver: COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: Teoria, Análise, Didática. São Paulo: Editora Moderna; 2000.
21
social das novas gerações. Estudado um padrão que contenha os pontos essenciais a considerar em um livro desejável para as crianças, será necessário observar cuidadosamente os interesses normais de cada idade, as capacidades de vocabulário e compreensão, as preferências relativamente a gravuras e aspecto geral dos livros de modo a tornar o livro igualmente desejável pelas crianças. Como já foi dito nesta comissão, um problema é o da fiscalização do gênero, outro, o da dieta conveniente. [...] (SILVA, 1936).
Nesse trecho destacado do parecer, voltamos, mais uma vez, na definição de
predicativos para a Literatura Infantil. Um livro feito sob medida para as crianças e,
principalmente, com alcance (para usar um termo da época) educativo, levava em
consideração as especificidades de seu público leitor. Pensava-se em seu
desenvolvimento cognitivo. Educava-se sem deixar de lado (ou, ao menos, pretendia-
se não deixar) a fantasia, os elementos ficcionais, dos livros infantis.
4. Conclusões:
O artigo aqui apresentado busca suscitar, assim, algumas reflexões e inflexões
acerca das concepções de Infância e Criança veiculadas pela disciplina Literatura
Infantil, durante o período de 1935 – 1938. Essas reflexões serão, assim, melhor
desenvolvidas no primeiro capítulo da tese em andamento, cujo título provisório é “A
LITERATURA INFANTIL COMO DISCIPLINA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (1933- 1938)”. As análises
provisórias, assim, apontam para concepções de criança e infância pautadas nos estudos
sobre psicologia e desenvolvimento cognitivo infantil. Buscou-se, assim, compreender o
público leitor infantil, seus anseios, seus gostos e interesses para que, a partir disso,
fossem elaborados critérios para uma classificar os livros como apropriados ou não para
a infância, levando-se, também, em consideração as idades dos pequenos leitores.
Ademais, vale ressaltar que mesmo com uma concepção em que a criança é o centro das
ações, que ela é autônoma para dizer seus gostos e interesses literários, a preocupação
com a formação do “caráter moral” infantil era ainda uma preocupação apresentada pela
professora que ministrava a disciplina.
Referências Bibliográficas:
Fontes:
22
- Parecer de Elvira Nizynska Silva à Comissão Nacional de Literatura Infantil; “Literatura
infantil e sua delimitação”. Rio de Janeiro, 7 de maio de 1936. – GC g 1936.04.29 p. 416
– 417. rolo 42. fot. 814 a 1006
- Parecer de Elvira Nizynska sobre a seleção de livros para a lista de livros infantis mais
favoráveis às crianças. Rio de Janeiro, 4 de junho de 1936. – GC g 1936.04.29 p. 427.
rolo 42. fot. 814 a 1006
- Artigo de Elvira Nizynska escrito em 5 de agosto de 1936. Arquivo Lourenço Filho. LFt
LIT. INF. Rolo 7. fot. 80 a 138.
- BRAUNSCHVIG, Marcel. “A Literatura Infantil” In: Revista do Brasil; outubro de 1921.
- CLAPARÈDE, Edouard. Psicologia del niño y Pedagogia experimental. Madrid,
España. Librería de Francisco Beltrán; 1927
- SILVA, Elvira Nizynska da. Os problemas da Literatura Infantil. In: Revista Infância.
Julho de 1936
Referências bibliográficas:
ARIÈS, Philippe. História Social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC editora,
1981.
ARROYO, Leonardo. Literatura infantil brasileira: ensaio de preliminares para a sua
história e suas fontes. São Paulo: Melhoramentos, 1967.
CHERVEL, André. “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de
pesquisa”. In: Teoria & Prática: 1990; n°2, 177 – 229.
- COSTA, Aline S. A Comissão Nacional de Literatura Infantil e a formação do público
leitor. Dissertação de Mestrado. UFRJ/ PPGHIS; 2011.
________. “A Escola Nova e a Literatura Infantil: a atuação de Elvira Nizynska como
educadora e pesquisadora dos livros infantojuvenis nos anos de 1930”. In: PIMENTA,
Jussara.S.(org). Diálogos sem fronteiras: Educação, História e Interculturalidades.
Curitiba: Editora CRV; 2012.
FERREIRA, Marieta de Moraes. “A REAÇÃO REPUBLICANA E A CRISE POLÍTICA DOS ANOS 20”. In: Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.6,n°11,1993,p 9 – 23.
23
GONDRA, José G. História, Infância e Escolarização. Rio de Janeiro: Ed. 7 Letras; 2002.
- HANSEN, Patrícia dos Santos. Brasil, um país novo: literatura cívico-pedagógica e a
construção de um ideal de infância brasileira na Primeira República. PUC SP; 2007
- HUNT, Peter. Crítica, Teoria e Literatura Infantil. São Paulo: Cosac Naify; 2010.
- LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil brasileira: História e
Histórias. São Paulo: Editora Ática; 2007.
MIGNOT, Ana Chrystina Venancio. BAÚ DE MEMÓRIAS, BASTIDORES DE
HISTÓRIAS: O LEGADO PIONEIRO DE ARMANDA ALVARO ALBERTO. Bragança
Paulista: EDUSF; 2002.p. 204
- OLIVEIRA, Fernando Rodrigues de. História do ensino da literatura infantil nos cursos
de formação de professores primários no estado de São Paulo, Brasil (1947 – 2003).
Tese de doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista. São Paulo; 2014.
PIMENTA, Jussara Santos. Leitura, arte e educação: a biblioteca infantil do Pavilhão
Mourisco (1934 – 1937). Curitiba: CRV Editora; 2011
- SOARES, Gabriela Pellegrino. Semear horizontes: uma história da formação de
leitores na Argentina e no Brasil, 1915-1954. Belo Horizonte: Editora UFMG/ FAPESP,
2007.
- VIDAL, Diana Gonçalves. O exercício disciplinado do olhar: livros, leituras e práticasde
formação docente no Instituto de Educação do Distrito Federal (1932-1937). Tese de
Doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo; 1995.
A CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DE JUIZ DE FORA-MG (1907-1929)19
Tatiana Aparecida Pereira20
19 Esse trabalho configura-se como parte da pesquisa de Mestrado. 20 Mestranda em Educação do Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora
24
Universidade Federal de Juiz de Fora
Introdução:
Para a reflexão sobre os grupos escolas em Juiz de Fora, se faz necessário,
destacarmos um pouco sobre a história da cidade em questão, visto que a mesma teve
um expressivo papel no estado de Minas Gerais. Juiz de Fora é um município brasileiro,
localizado no estado de Minas Gerais, criado em 31 de maio de 1850, a partir do Arraial
de Santo Antônio do Paraibuna, contudo só foi instalado em 1853, seu crescimento
econômico se deu a partir da cafeicultura na região.
Ao longo dos nossos estudos, podemos constatar que as pesquisas sobre
os projetos de criação dos Grupos Escolares são difíceis, já que muitas das fontes e
documentações primárias, que deveriam ser encontradas nas próprias instituições,
perderam-se com o passar dos anos, um problema comum a muitas instituições, sobre
isso Vidal (2000) elucida, que é um desafio que “precisa ser urgentemente enfrentado
pelos pesquisadores, sob risco de legarmos ao futuro o que o passado nos legou” (p.28).
Dessa forma, temos como objetivo ainda que inicial investigarmos como se
deu o processo de consolidação das primeiras instituições na cidade de Juiz de Fora-
MG. O recorte temporal do trabalho compreende o período de 1907, ano de instalação
do primeiro grupo escolar da cidade, já 1929 é o marco final, visto que é o período da
mudança e construções de alguns prédios importantes.
Beraldo e Yasbeck (2006) elucidam que cidade em questão era o principal
centro industrial, além de ser destaque cultural e referência para outras cidades, foi
denominada por muitos como “Manchester Mineira”. Miranda (2009) ainda enfatiza três
fatores que induzem de certa forma a ampliação da cidade; o sistema viário, a
acumulação de capitais e um mercado urbano em potencial o que ocasiona
posteriormente a atividade industrial. Segundo a autora Juiz de Fora cresce
consideravelmente após os anos 50, tal crescimento é exposto ainda no Álbum do
Munícipio de Juiz de Fora, segundo Albino Esteves o recenseamento feito em 1880,
demonstra que o município contava com 55.185 habitantes, já o de 1907 verifica-se que
o município de Juiz de Fora, tinha 85.450 habitantes.
Para esse trabalho se faz necessário à utilização da imprensa da cidade, de
certa forma ela tem contribuído amplamente nas pesquisas de história da educação
“dando-lhe contornos e vitalidade há pouco não observados. Há que se ressaltar ainda
a potencialidade que tal modalidade de fonte revela para os estudos histórico-
educacionais de caráter regional e local”. (ARAÚJO, 2002, p. 59).
25
No caso de Juiz de Fora, Musse (2008), aponta que o surgimento da
imprensa e Juiz de Fora está fortemente ligado à concretização do núcleo urbano, na
segunda metade do século XIX e no início XX, a autora ainda destaca que os relatos
nas publicações revelam nitidamente “a presença de um ideal de construção do lugar.
Observa-se o tom ufanista, quando se trata de falar das possibilidades da cidade. Juiz
de Fora não era mais apenas uma nova fronteira, mas um “Eldorado”, que acenava com
possibilidades para todos”(MUSSE. 2007,P.3).Nesse sentindo o periódico é um
documento fundamental para compreender o que estava acontecendo naquele
momento, tanto na cidade, quanto nas instituições educacionais.
A emergência dos Grupos Escolares em Juiz de Fora:
O processo de criação dos grupos escolares no Brasil sucedeu dentro de
um projeto republicano de educação popular, o ensino primário era visto como
propagador dos princípios da república. Teve início a partir da última década do século
XIX, como destaca Souza (1998). Surgiram em São Paulo e posteriormente se
disseminaram em outros estados, representando assim mudança na organização
escolar do país, eram tidos como uma grande inovação e progresso. Nesse sentido
elucida ainda Carvalho (2000, p.225):
A escola paulista é estrategicamente erigida como signo do progresso que a República instaurava; signo do moderno que funcionava como dispositivo de luta e de legitimação na consolidação da hegemonia desse estado na Federação. O investimento é bem sucedido e o ensino paulista logo organiza -se como sistema modelar em um duplo sentido: na lógica que presidiu a sua institucionalização e na força exemplar que passa a ter nas iniciativas de remodelação escolar de outros estados.
Faria Filho (2000), elucida que os grupos escolares representavam muito
mais que uma nova organização de ensino, já que moldavam práticas e propunham
metodologias, eram muitas vezes vistos como um mecanismo de avanço e mudança.
Diante disso, o autor afirma que:
A criação dos grupos escolares era defendida não apenas para “organizar” o ensino, mas principalmente, como uma forma de ”reinventar” a escola, objetivando tornar mais efetiva a sua contribuição aos projetos de homogeização cultural e política da sociedade e dos sujeitos sociais, pretendida pelas elites mineiras. Reinventar escolas significava, dentre outras coisas, organizar o ensino, suas
26
metodologias e conteúdos; formar, controlar e fiscalizar a professora; adequar espaços e tempos ao ensino; repensar a relação com as crianças, famílias e com a própria cidade. (Faria Filho, 2000, p. 31)
O primeiro Grupo Escolar construído em Juiz de Fora21 foi inaugurado em
04 de fevereiro de 1907, pelo Decreto nº1. 886, com 470 alunos matriculados. A notícia
da instalação pode ser observada através do Jornal do Commercio22. Já o segundo, foi
instalado em 23 de março de 1907, com 396 educandos registrados. Os dois grupos
estavam sob a direção de José Rangel e funcionavam no mesmo prédio, o Palacete de
Santa Mafalda23, em horários distintos. Em 1915, o primeiro grupo passou a ser
denominado ”Grupo Escolar José Rangel” e o segundo “Grupo Escolar Delfim Moreira”,
conhecidos também como Grupos Centrais. Ambos os grupos irão ter o número de
alunos elevado a entorno de 500, devido a matrículas extra-regulamentares.
Sobre os Grupos Centrais da cidade, Yazbeck (2010) expõe que tais
instituições nasceram com a função de formar bons trabalhadores. Era uma proposta
vista com bons olhos, já que a mesma se firmava como cidade de vocação industrial.
De forma geral, os Grupos Escolares, ao proporcionarem instrução para os filhos de
classe desprovida em Juiz de Fora, garantiam êxito e maior abrangência do projeto de
educação existente na cidade.
Os estudos de Junqueira (2010) revelam que por os Grupos Centrais
funcionarem em turnos distintos, acarretava expressivas modificações tanto nos
horários das aulas como nos hábitos familiares, gerando, assim, um grande
descontentamento para a população. Contudo as instituições foram de suma
importância, pois a partir delas surgem um novo ordenamento escolar destinado a
institucionalizar saberes elementares transmitir valores cívico-patrióticos e consolidar,
nas gerações seguintes, princípios morais com o auxílio, sobretudo, da religião.
O terceiro grupo escolar criado na cidade de Juiz de Fora foi denominado
inicialmente de Mariano Procópio. Instalado oficialmente em 12 de junho de 1909,
situava-se no antigo edifício do Conselho Distrital, à rua Bernardo Mascarenhas. A
22 Jornal do Commercio, 04/02/1907, p.1 A insttrução. 23 O Palacete Santa Mafalda foi construído pelo Comendador Manoel do Valle Amado, em 1861, para presentear o Imperador D. Pedro II que viria a Juiz de Fora devido à inauguração da Estrada de Ferro União Indústria. O Imperador recusou o presente e pediu para que tal ambiente fosse usado para fins de caridade. O prédio fica fechado por mais de quarenta anos, quando somente em 1904 é doado para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, após a morte do filho do Comendador, o Barão de Santa Mafalda. Ali seria abrigada a primeira Escola Normal Oficial da cidade, mas em 1907, após um acordo firmado entre a Santa Casa de Misericórdia e o Governo do Estado, o local passa a pertencer ao Estado sendo no mesmo ano a Escola Normal desativada, e a inauguração dos dois grupos escolares.
27
instituição era dirigida por Francisca Lopes e contava com 168 alunos. Posteriormente
foi nomeado como “Grupo Escolar Antônio Carlos.
O grupo representava um importante serviço para a cidade de Juiz de Fora
já que traria um notável melhoramento para aquele bairro, pois como noticia o periódico
da época Jornal do Commércio.
Realizou-se hontem, a 1 hora da tarde, a insttalação do grupo escolar em Mariano Procópio, creado a esforços do sr. dr. Antônio Carlos, illustre presidente da Camara e agente executivo municipal. Esse novo estabelecimento de ensino representa mais um importante serviço que s. exc. Presta á cidade e notavel melhoramento para aquelle bairro. O grupo está installado no antigo edifícil do conselho districtal, á rua Bernardo Mascarenhas, cedido pelo sr. dr. Antônio Carlos ao governo de Minas. Esse edificil acha-se dividido em quatro amplas salas, possuindo excelente mobiliário escolar. [...] A solenidade compareceu o sr. dr. Antônio Carlos, representando o sr. dr. Estevam Pinto, secretario do Interior, Belmiro Braga, inspector escolar, representantes da imprensa, grande numero de exmas. Senhoras e cavalheiros. [...] Depois foi aberta a sessão, presidida pelo sr. dr. Antônio Carlos, que declarou que alli comparecia representando o dr. Estevam Pinto, afim de installar o grupo. Ao faze-lo, devia assignar que é mais um grande melhoramento que os srs. drs. Wencesláu Braz e Estevam Pinto prestam ao município. (Jornal do Commercio, 13 de junho de 1909, p.1. nº 3956)
Após a sua instalação o edifício começou a apresentar problemas em sua
estrutura. Segundo Braga (2010) a edificação escolar transformou-se em pouco tempo
um agente propício para a transmissão de doenças devido ao acúmulo de crianças no
mesmo espaço e a insalubridade do ambiente. Em 1913 aconteceram reparos no prédio
original do Grupo Escolar, que já não se encontravam em devidas condições para o
ensino. Durante esse período, os alunos estudavam em um prédio, que da mesma forma
não apresentava as condições exigidas pelas normas sanitaristas. As reclamações
eram constantes, por conta da falta de limpeza dos pátios, do estado lastimável de sua
fachada, pela rua sem calçamento, no período de chuvas espalhava lama na frente do
edifício, sujando-a inteira além de um grande número de goteiras e paredes
extremamente estragadas. Durante os anos seguintes, foram feitos orçamentos para
reparos, mas nenhum chegou a ser efetivado de fato. O Grupo Escolar de Mariano
Procópio somente foi modificado, com a mudança para o novo prédio que entra em
funcionamento no ano de 1929. Em uma visita a Juiz de Fora, o então presidente do
Estado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, participou de várias solenidades24.
24 Ver: Diário Mercantil, 26 de junho de 1929. p. 1. Nº 5454
28
O quarto grupo escolar da cidade de Juiz de Fora, nomeado inicialmente
Grupo Escolar de São Matheus, passou por intensos debates sobre a construção da
instituição, destacam-se alguns nomes importantes do cenário educacional e político
que revelavam a existência de interesses distintos entre os vários segmentos sociais
envolvidos - políticos, professores, inspetores, jornalistas e a população em geral- onde
cada um deles queria fazer valer seu ponto de vista, favorável ou não a criação deste
estabelecimento de ensino.
É fundamental destacar que a partir de 1914, encontramos nos periódicos
supracitados reportagens, notícias ou notas sobre o qual importante e necessário era
para aquela região de São Matheus, um grupo escolar. É necessário destacar que em
muitas das matérias não havia assinatura ou se colocava apenas as iniciais dos nomes.
Fala-se com insistência, na cidade que o governo do Estado talvez mande brevemente estabeleça um Grupo Escolar no pitoresco bairro de São Matheus, a exemplo quase da Mariano Procópio. Não sei que procedência possa ter semelhante notícia , se ella é verdadeira ou se não passa de um simples boato sem fundamento. O que sei é que, na realidade veria o governo crear o grupo em questão. Apesar de termos numerosos estabelecimentos de instrução pública primária, não se pode ainda dizer que o ensino esteja perfeitamente disseminado em Juiz de Fóra. Bairros há, e populosos que não tem escolas de espécie alguma .Do que servem dois, ou três, ou quatro grupos estabelecidos no centro da cidade, se pelos arrebaldes falta completa de instrucção? Não seria melhor e mais proveitoso espalhar equitativamente os estabelecimentos existentes por toda [?]?Não seria esse o ideal a atingir?Parece que sim. É dessa maneira, a possibilidade ad creação de um grupos escolar em São Matheus não pode ser coisa de espantar. O governo se isso fazer, terá procedido rigorosamente dentro de uma orientação naturalíssima, perfeitamente lógica.Enquanto persistirem em collocar escolas e grupos apenas no centro da cidade, o problema do ensino ficará por resolver. Gasta-se muito dinheiro, perde-se muito tempo e todo permanecerá na mesma [on] pouco há de melhorar.Que a notícia, portanto tenha seu fundamento; que o grupo escolar de São Matheus seja, dentro em pouco, uma realidade-tal esperança daqueles que desejam ver a instrucção nessa terra, proveitosamente proporcionada ao povo. G. de A 25
Em muitas das notícias como vimos acima, os articulistas elucidam que a
maioria das instituições de ensino estão localizadas no centro da cidade e que a
instrução pública deixa muito a desejar nas regiões periféricas como no caso o bairro
São Matheus.
25 Ver: O Pharol, 03-07-1914 p1,col.5, nº 155-Pouca Prosa
29
Entre os defensores da criação do grupo escolar no bairro São Matheus,
estava o político Antônio Carlos Ribeiro de Andrada26. Candiá (2007) afirma que o seu
papel foi importante para a aprovação do projeto de criação do referido grupo, já que o
mesmo intercedeu positivamente através de um ofício juntamente com o engenheiro
Clorindo Burnier encaminhado a Secretaria do Interior, expondo o quando era
importante para aquela região um Grupo Escolar.
No entanto é fundamental destacar como Candiá & Ferreira (2007) revelam
em seu trabalho, que Estevam de Oliveira, publicou no jornal Correio de Minas em
artigos no qual acusava o Antônio Carlos de criar o grupo de Mariano Procópio, em
1909, com a intenção apenas de angariar votos para as eleições federais27. Por esse
ponto de vista, podemos pensar a mobilização do político em 1917 com a intenção não
somente de auxiliar os moradores da região de São Matheus, mas também em busca
de prestígio político.
Apesar dos diferentes interesses que envolveram a criação do Grupo
Escolar de São Matheus é fundamental destacar o apoio da população a favor de sua
criação. Apoio demonstrado por meio de ações concretas como a doação de materiais
para a edificação do prédio: “O major Solano Braga dará 100 carros de pedras para a
construção do edifício escolar, doando também o Sr. Mário Pacheco 10000 tijolos”28. E
por meio de abaixo-assinados como destacado abaixo, enviado a Secretaria do Interior,
por Pelino Cyrillo.
Os moradores a rua de São Matheus , abaixo assignados vêem solicitar a V. Exc. A criação de um grupo escolar alli, onde se elevam a algumas centenas de creanças em idade escolar, muitas das quaes ainda analphabetas, por falta de casas de instrucção no bairro referido. A necessidade da existência do grupo escolar solicitado que é aspiração antiga dos juiz –forenses, tem sido posta e em evidencia por varias vezes achando-se nessa secretaria as estatísticas levantadas em épocas diversas, não só por particulares como pelos funccionários do governo estadoal, todas ellas garantidoras do perfeito funccionamento do grupo em questão.Já as escolas isoladas não resolveriam o problema,visto ser muito avultado o número de crianças e já que a população local acostumada com o ensino de grupo, incontestavelmente de resultados, mais positivos, quando se encontra este bem organizado. Empenhando em diffundir o mais possível o ensino primário,espero os abaixo assignado V. Ex. torne realidade o
26Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, nasceu em Barbacena em 1870, advogado e político, atuando como prefeito de Belo Horizonte, senador e presidente do estado. Em Juiz de Fora atuou como vereador , professor e também como colaborador e proprietário do Jornal do Comércio, fundando também o Diário Mercantil 28 Ver: Correspondência enviada ao Sr. Américo Lopes, em 28/09/1916, pelo Sr. Pelino Cyrillo de Oliveira- SI 3943- Papeis Findos, Arquivo Público Mineiro (APM)
30
seu ardente e louvável desejo, embora com algum sacrifício, justificado pelas vantagens que delle resultaram para o engradecimento da Terra Mineira.Os grupos escolares de Viçosa, Curvello, creados recentemente a junta-se o de São Matheus,e assim terá V. Exc. prestado relevante serviço à causa patriótica do combate ao analphatismo contemporâneo.29
José Rangel30, diretor dos grupos centrais da cidade foi aos jornais se
posicionar contra a criação do grupo escolar em São Matheus, sendo favorável a criação
de escolas reunidas no bairro.
Acho que, de momento, a creação de duas escolas, reunidas em um mesmo predio, satisfaz ás necessidades do ensino primario na rua de S. Matheus. E’ esse aliás, o pensamento do governo, que nesse sentido, já iniciou as providencias para a construcção do prédio escolar, o qual será disposto de fórma a se apropriar, quando possível, á installação de um grupo.31
José Rangel no fim da entrevista enfatiza sobre uma preocupação com as
dificuldades que a Secretaria do Interior enfrentaria para a construção dos grupos
escolares em Botanágua e São Matheus, sua posição era em partido a criação do grupo
escolar de Botanágua, para ele o bairro necessitava mais de uma escola, do que o de
São Matheus, já que era visto por ele mais populoso. Rangel ainda sobre a construção
do Grupo Escolar de São Matheus expõe que a mesma poderia causar uma serie de
descontentamento, nesse sentido finaliza dizendo:
Dotar um núcleo de população com o serviço completo, em detrimento e com preterição de outro, com egualdade de direitos e de condições, seria medida injusta e odiosa. Oxalá, possamos em breves dias ver o analphabetismo extincto entre nós! Procedamos, porém, com critério e segurança, afim de evitarmos procedentes queixas e descontentamentos. Para o caso, a velha sabedoria de Salomão.32
O Grupo Escolar de São Matheus apesar dos intensos debates foi criado em
7 de maio de 1917, pelo governador Delfim Moreira da Costa Ribeiro com o auxílio da
influência de Antônio Carlos de Andrade e diversos políticos da cidade. No mesmo mês
e ano o jornal Diário Mercantil informa que o Sr. Américo Lopes, Secretário do Interior
29 Ver: Correspondência enviada a Secretaria do Estado de Minas, em 08/06/1916, pelos moradores do bairro de São Matheus -SI 3943- Papeis Findos, Arquivo Público Mineiro(APM). 30 José Rangel foi o primeiro diretor dos Grupos Escolares de Juiz de Fora,atuou também como redator no jornal do Commercio e colaborador no jornal O Pharol, foi um dos fundadores da Academia Mineira de Letras em 1909.
31 Ver Livreto: As Entrevistas do O DIA, sobre o Grupo Escolar de S. Matheus. Juiz de Fora: Typ. Americana, 1918, p.11. Acervo da Biblioteca Municipal de Juiz de Fora, p.9 e 10. 32 Ver Livreto: As Entrevistas do O DIA, sobre o Grupo Escolar de S. Matheus. Juiz de Fora: Typ. Americana, 1918, p.11. Acervo da Biblioteca Municipal de Juiz de Fora, p.11 e 12.
31
do Estado, já tinha ordenado a construção do grupo escolar, na rua do mesmo nome. O
periódico ainda informa que a importância do estabelecimento de ensino primário
naquela região é indiscutível, já que tanto o bairro quanto aquela rua tinha uma grande
população.33
É fundamental elucidar que apesar das muitas discussões envolvendo tanto
o Grupo Escolar de São Matheus quanto o Grupo Escolar de Botanágua, o que os
jornais destacam é que apenas o primeiro foi consolidado naquele período, contudo o
desejo pela instituição do grupo de Botanágua continuou sendo proclamado nos jornais,
como veremos abaixo:
Aspiração justíssima é, sem dúvida, a dos moradores do bairro
Botanágua, procurando dotar aquella parte da cidade com um
grupo escolar.Os bairros de S. Matheus e de Mariano Prócopio,
que talvez não sejam mais populosos do que o Botanagua, já
possuem há muito tempo semelhante melhoramento. O governo
do Estado certamente attenderá ao justo pedido que é
endereçado.A população escolar do bairro Botanagua é grande,
sendo que numerosas creanças dali não recebem instrução,
devido as dificuldades do transito diário para o centro da cidade,
onde se acham os estabelecimentos de ensino. A distancia é
enorme para ser vencida diariamente pelos pequenos
estudantes.Um grupo escolar no Botanagua é indispensável
para q perfeita disseminação do ensino público em Juiz de
Fora.34
As reivindicações por melhoramentos nos grupo escolares e para
construções de novos espaços prosseguiram nos anos posteriores principalmente na
imprensa, contudo apenas em 1927 com a Reforma, quando Antônio Carlos ocupava a
presidência do estado, é que os novos prédios seriam construídos para o grupo de
Mariano Procópio, Botanágua e de São Matheus. Esses modernos projetos de Grupos
Escolares, eram diferentes dos primeiros, ou seja, dos grupos Centrais e até mesmo do
antigo grupo de São Matheus.
Esses novos prédios, foram inaugurados em junho de 1929 apresentariam
cerca de 1.500m² de área coberta, com o valor estimado em trezentos e cinquenta
contos, contavam com um número de dez classes, em apenas um turno. Essas
edificações eram muito bem iluminadas, havendo também outros espaços como saguão
de entrada, portaria, sala de espera, secretaria, gabinetes para diretora, médicos,
33 Ver: Diário Mercantil, 09-05-1917 p.2, nº1728-Grupo Escolar de São Matheus. 34 Ver: O Pharol, 29-08-1919 p1,col.2, nº 202-Pouca Prosa.
32
assistência dentária e professores, sala de trabalhos manuais, museu, biblioteca, 24
gabinetes sanitários, pátios, galpões para ginástica, terraços de recreio e descanso.
Segundo o Diário Mercantil os novos edifícios apresentam melhores condições, tendo
já passado por inspeção de higiene e verificado que a mesma é segura de acordo com
as regras da engenharia sanitária, ”apresenta-se sem ostentação architetônica, mas
com aspecto de attrahente simplicidade linhas de elegante singeleza”35.
Conclusão:
Refletir os debates em torno das criações dos grupos escolares é tentar
compreender o ensino e as políticas daquele período histórico. Buscou-se nesse
trabalho discutir alguns dos diferentes posicionamentos dos envolvidos acerca da
criação do grupo escolar em Juiz de Fora, sendo eles políticos, professores, inspetores,
jornalistas e a população em geral.
Podemos constatar que os primeiros grupos escolares de Juiz de Fora,
assim como alguns outros instalados no estado e no país, apesar de não apresentarem
a mesma arquitetura ou luxuosidade, representaram para a cidade um grande avanço
e prestígio.
Em vista dos argumentos apresentados, o estudo em questão permitiu
reconstruir, ainda que em fase inicial, parte da história dos primeiros grupos escolares
de Juiz de Fora, esses e outros tantos foram de suma importância para a cidade, de
certa forma viu na solidificação da instituição o desejo por melhores condições
educacionais em seu processo de escolarização.
Ainda há muito que descrever sobre esse e outros grupos que merecem
destaque, no entanto, é necessário mais tempo para discernir a gama de informações
para que a historiografia das escolas brasileiras sejam retratadas, permitindo
descobertas, reflexões e inferências sobre a sua história.
FONTES:
35 Ver: Diário Mercantil, 21-07-1927 p.1, nº4867-Grupos Escolares.
33
Arquivo da Biblioteca Murilo Mendes. Jornal do Commercio - Juiz de Fora/MG. 1916-
1928.
Arquivo da Biblioteca Murilo Mendes. O Dia – Juiz de Fora/MG. 1918.
Arquivo da Prefeitura de Juiz de Fora. Diário Mercantil – Juiz de Fora/MG.1917 a 1930.
Livreto: As Entrevistas do O DIA, sobre o Grupo Escolar de S. Matheus. Juiz de
Fora: Typ. Americana, 1918. Acervo da Biblioteca Municipal de Juiz de Fora.
REFERÊNCIA
ARAÚJO, José Carlos Souza. A imprensa, co-participe da educação do homem. In: Revista Cadernos de História da Educação. v. 1, n.1, p. 59-62, jan/dez. 2002.
BERALDO, Ana Maria; YASBECK, Dalva Carolina de Menezes. Primeiros Grupos Escolares de Juiz de Fora. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS, 2., 2003, Uberlândia, MG. [Anais...] Uberlândia, MG: Universidade Federal de Uberlandia, 2003.
BRAGA, Marina F. Arquitetura e espaço escolar na “Atenas Mineira”: Os grupos escolares de Juiz de Fora (1907-1927). Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Paraná.
CANDIÁ, M. A. A. O Artífice do Consenso: Antônio Carlos Ribeiro de Andrada no cenário educacional de Juiz de Fora (1907/1930). Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro, 2007
CANDIÁ, M. A. A.; FERREIRA, R. V. J. O processo de criação do grupo Mariano Procópio na imprensa de Juiz de Fora: projetos em Disputa (1908-1910). In: IV CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS, 2007, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: UFJF/FACED, 2007
CARVALHO, Marta Maria Chagas. Reformas da Instrução Pública. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia Greive (Orgs.). 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte:Autêntica, 2000.
ESTEVES, Albino Munícipio de Juiz de Fora. Juiz de Fora 1915. (org). Álbum do
JUNQUEIRA, Lígia de Souza (2010). A educação como propagadora e mantenedora da fé: representações das práticas educativas religiosas nos grupos escolares José Rangel e Delfim Moreira do município de Juiz de Fora (1945-1960). Dissertação de Mestrado. São João Del Rei: Faculdade de Educação- UFSJ..
MUSSE, Christina Ferraz .A trajetória do Diário Mercantil: alter ego da cidade de Juiz de Fora. Disponível em:< http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-0491-1.pdf> Acesso em: 01-06-2012.
34
NÓVOA, Antônio. A Imprensa de educação e ensino: concepção e organização do repertório português. In: CATANI, D. B; BASTOS, M. H. C. (Org.) Educação em revista – a imprensa periódica e a história da educação. São Paulo: Escritura Editora, 2002.
OLIVEIRA, Luís Eduardo de. Os trabalhadores e a cidade: a formação do proletariado de Juiz de Fora e suas lutas por direito (1877-1920): Funalfa; Rio de Janeiro: Editora FGV,2010).
SOUZA, Rosa Fátima de. Lições da escola primária. In: SAVIANI, Dermeval, ALMEIDA, Jane Soares de, SOUZA, Rosa Fátima De. O Legado Educacional do século XX no Brasil. Campinas: Autores Associados LTDA., 2004, p.109-161.
SOUZA, Rosa Fátima de. Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no Estado de São Paulo (1890-1910). São Paulo: UNESP, 1998.
VIDAL, Diana Gonçalves. Fim do mundo do fim: avaliação, preservação e descarte documental. In: FARIA FILHO, L. M. de. Arquivos, fontes e novas tecnologias: questões para a história da educação. Campinas: USF, 2000.
YAZBECK, Dalva Carolina de Menezes. Formando bons trabalhadores: os primeiros grupos escolares em Juiz de Fora, Minas Gerais. In: Cadernos de História da Educação, nº 02- Universidade Federal de Uberlândia- janeiro a dezembro de 2003,p.99-106
___________. Um projeto modernizador: o grupo escolar numa cidade de vocação industrial. In: VIDAL, D. G. (org.). Grupos Escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância no Brasil (1893-1917). Campinas: Mercado de Letras, 2006.
________.Sementes da Inclusão: Grupos Escolares de Juiz de Fora 1907-2007.Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2007
YAZBECK, Dalva Carolina de Menezes; SILVA, Marília Neto Kappel da. Imprensa & Educação: concepção e trajetória do primeiro ano de funcionamento dos Grupos Escolares de Juiz de Fora do município de Juiz de Fora.In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS, 4., 2007, Juiz de Fora, MG .[Anais...].Juiz de Fora, MG: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2007.[
YAZBECK, de Dalva Carolina de Menezes; CAPPELLE, Rosana Vidigal Santigo. A reforma de 1927 e as práticas do cotidiano dos Grupos Escolares em Minas Gerais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: O ENSINO E A PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 5.,2008.Aracaju, SE[ Anais...] Aracaju, SE: Universidade Federal do Sergipe,2008.
A EDUCAÇAÕ DAS CRIANÇAS NO BRASIL NO ‘ESTADO NOVO’ (1937-1945): POLÍTICAS E PRÁTICAS.
Ariclê Vechia.
Universidade Tuiuti do Paraná. [email protected]
35
Introdução.
As politicas de assistência e de educação da criança, de forma sistematizada, tiveram
inicio no Brasil, no final do século XIX e inicio do XX, durante a chamada Primeira Republica
(1889-1930). Em 1889, Carlos Artur Moncorvo Filho realizou uma grande campanha em
defesa da criança e da “raça” e fundou o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio
de Janeiro, que se tornou modelo para o país. Em 1919, criou o Departamento da Criança do
Brasil com a intenção de promover estudos científicos sobre a maternidade e a infância. Em
1922 organizou o Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção `a Infância conjuntamente com
o Terceiro Congresso Americano da Criança, nos quais ficou decidida a introdução do ensino
de higiene e puericultura nas escolas. Em 1923 foi criada dentro do Departamento Nacional
de Saúde Pública , uma Inspetoria de Higiene Infantil, que teve um funcionamento precário.
Outras medidas também foram tomadas em outros âmbitos. Políticos e educadores
brasileiros foram influenciados também por um conjunto de ideias educacionais advindas do
movimento que se convencionou designar Escola Nova. As ideias escolanovistas,
permeadas pelas diferentes vertentes do pensamento brasileiro nortearam as políticas de
assistência e educação da infância, as reformas educacionais e as práticas educativas das
décadas de 20 do século XX. Neste período, foi criada a Associação Brasileira de Educação
(ABE) que promoveu uma serie de Conferências Nacionais para discutir a Educação, de
maneira geral e a educação da infância de forma particular, considerada “grande problema
nacional”. Muitas das ideias ali debatidas foram consubstanciadas em reformas do ensino
primário em diversos estados brasileiros, tais como em São Paulo em 1920, no Ceará 1922/3,
no Rio de janeiro, então Distrito Federal em 1925/6 além das efetuadas em Pernambuco,
Minas Gerais, Paraná e Bahia.
Em decorrência de um movimento revolucionário em 1930, Getúlio Vargas assumiu o
cargo de Chefe do Governo Provisório. Durante o primeiro período de seu governo ( 1930 a
1937) a questão da Assistência e Educação da Infância foi objeto de muitos debates e do
estabelecimento de politicas que lançaram as bases da politica que seria adotada e
consolidada no segundo período de seu governo. A educação e a saúde do povo,
principalmente das crianças vistas como questões interligadas foi um assunto perseguido
em todo o período do governo Vargas. A maneira do Estado olhar para o adulto - o
trabalhador, e para a criança – futuro trabalhador, expressa a vontade de transforma-los em
seres sadios e uteis ao progresso da nação.
Em 1937, com o pretexto de acabar com a instabilidade política e de impedir um “Complô
Comunista”, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, instalando um novo regime político
centralizado no Poder Executivo. O chamado Estado Novo instaurado em 1937 durou até
1945. Neste período, Brasil viveu sob o chamado ‘Estado Novo’- um regime totalitário
36
embasado no militarismo e no nacionalismo ufanista que fora buscar inspiração nos regimes
fascistas europeus. Sob este novo regime, a educação das crianças até então adotada no
Brasil passou a ser duramente criticada, sob a justificativa de ser fundamentada em
princípios liberais e buscar o desenvolvimento do individuo em detrimento do
desenvolvimento da nação.
A comunicação tem como objeto de estudo a analise das políticas e das práticas
educativas que configuraram a educação das crianças brasileiras durante o regime do
Estado Novo. Trata-se de um estudo documental e bibliográfico que se insere na vertente da
História Sócio - Cultural. As principais fontes utilizadas foram: Leis e Decretos – Lei que
nortearam a educação das crianças, livros- didáticos, a imprensa escolar, bem como
bibliografia especializada. O estudo demonstra que o programa educacional adotado pelo
novo regime politico, previa que “ os filhos da nação” deveriam ser forjados segundo um
modelo ideal de cidadão: ordeiro, disciplinado, saudável e trabalhador e, que colaborassem
com o desenvolvimento da nação e fossem imbuídos dos ideais do Estado Novo.
A proteção e a educação da criança de 1930 a 1937: estabelecendo as bases para a educação
do Estado Novo.
Ao tomar posse como Chefe de um governo Provisório, em novembro de 1930, Vargas
anunciou um “programa de reconstrução nacional”, no qual estava incluída a criação de um
ministério que deveria tratar de assuntos da educação e da saúde públicas e ter por finalidade
o saneamento físico e moral da população e a difusão do ensino publico.( VARGAS, 1938b,
p. 72). A criação do Ministério da Educação e Saúde em 14 de novembro de 1930 estava em
consonância com o ideário politico de Vargas: buscar a centralização das questões
educacionais e vincular os assuntos de educação e saúde. Uma concepção ampla de
educação e proteção das crianças, assentada na melhoria das condições mentais e morais
foi expressa em 1932, num pronunciamento oficial feito pelo Presidente Vargas . Ao se referir
a questão de amparo á maternidade e à Infância declarou:
“[...] nenhuma obra patriótica, intimamente ligada ao aperfeiçoamento da raça e ao
progresso do pais excede a esta, devendo constituir por isso, preocupação verdadeiramente
nacional.[...] o amparo à criança, sobretudo quanto a preservação da saúde e ao seu
desenvolvimento físico e mental, é um problema de maior transcendência, chave de nossa
opulência futura, principalmente em nossa terra, onde, mais talvez do que nas outras , se
acumulem fatores nocivos à formação de uma raça forte e sadia.[..] A hora impõe-nos zelar
pela nacionalidade, cuidando das crianças de hoje, para transformá-la em cidadãos fortes e
capazes”.( BOLETIM DNCr. 1944. Nº 14 .p. 43-47)
37
Na Mensagem lida à Assembleia Constituinte em 1933, Vargas colocou mais
nitidamente o tom da politica educacional para a infância que queria imprimir:
“Todas as grandes nações, assim merecidamente consideradas, atingiram nível superior de
progresso, pela educação do povo. Refiro-me à educação, no significado amplo e social do
vocábulo: física, moral, eugênica e cívica, industrial e agrícola, tendo por base a instrução
primaria de letras e a técnica e profissional.” ( VARGAS, 1938 a. p.124).
Houve também, intenso debate e enfrentamentos de posições ideológicas conflitantes
em torno da educação das crianças. Um destes embates se dava entre liberais, defensores
do escolanovismo e católicos de posição mais conservadora. O movimento da Escola Nova,
baseado em princípios liberais, tinha como foco o desenvolvimento das potencialidades
individuais e trazia novas compreensões sobre como ensinar, colocando a criança como o
centro do processo educativo. Este movimento de renovação educacional incorporou ainda
ideias decorrentes do desenvolvimento cientifico da segunda metade do século XIX. Os
educadores brasileiros, procuraram desenvolver políticas públicas para resolver os problemas
nacionais, via educação e saúde , utilizando os conhecimentos em voga. As escolas passaram
a ser entendidas como “clínicas” nas quais os males sociais poderiam ser curados, via
educação das crianças que eram submetidas a baterias de testes de “ inteligência” ,
antropométricos e recebiam ainda noções de higiene. Novas disciplinas foram incluídas quer
no ensino elementar quer nos cursos de formação de professores tais como a Higiene Escolar,
a Educação Física, a Biologia Educacional, a Psicologia Educacional, a Sociologia
Educacional e a Puericultura, inserindo-se de forma duradoura na cultura escolar da época.
Estes posicionamentos, iriam entrar em choque com a politica educacional de Vargas e se
agravou depois de instalado o “Estado Novo”.
Comandantes do Exercito, educadores e políticos, defendiam a necessidade de um
governo forte e teciam críticas à democracia liberal e à educação de cunho liberal. Segundo
eles, os métodos de ensino adotados conduziram ao excessivo desenvolvimento da
personalidade. Ao propagar a liberdade, a autonomia dos alunos e a limitação do poder do
professor, a escola matou o que é fundamental na democracia: a ordem e a
disciplina( HORTA, 2012.pp. 85-88).
Depois do levante comunista de 1935, a Educação, além de continuar sendo
relacionada com a Saúde, passou a ser enfocada como um instrumento de saneamento
preventivo das ideias comunistas - que como um vírus, se infiltrou e contaminou o ambiente
( HORTA,2012.p. 131).Em 1936, com o intuito de utilizar a educação para legitimação da
politica autoritária que estava subjacente em seu governo, o Ministro da Educação fez um
Inquérito aplicado em todo o pais com o objetivo de formular um Plano Nacional de Educação.
38
Diversos educadores católicos apontaram para a necessidade da nacionalização do ensino
ao mesmo tempo em que refutavam a “ pedagogia liberal” por considera-la, laica, inibidora da
formação de valores nacionais e da consciência cívica. ( HORTA,2012 p.40,41).No mesmo
ano, a educação foi vinculada à questão de Segurança Nacional, sendo defendida a
necessidade da elaboração de um Plano Nacional de Educação sob a coordenação poder
central. Este plano deveria ser elaborado sob as premissas de que a educação é um
instrumento de preservação da ordem, da disciplina, daí a necessidade de educação moral,
cívica e física. Este plano estava em tramitação na Câmara dos Deputados quando foi
instalado o Estado Novo.
A Assistência e a Educação das crianças durante o Estado Novo.
O chamado Estado Novo foi instaurado, por um Golpe de Estado, em 10 de novembro
de 1937 e durou até 1945. Vargas impôs uma nova Constituição, fechou o Congresso
Nacional e as Assembleias Legislativas. O novo regime suspendeu todos os direitos políticos,
aboliu os partidos e as organizações civis e empreendeu perseguição a todos aqueles
pessoas ou organizações, que não se enquadrassem na ideologia do Estado, considerados
uma ameaça à “paz da nação”. Francisco Campos, o ideólogo do Estado Novo e redator da
Constituição de 1937, justificava o fechamento do Parlamento apelando para os perigos
inerentes ao jogo democrático. Seu pensamento político estava comprometido com o
fortalecimento do poder central e com o autoritarismo. Suas ideias impregnavam os discursos
e textos oficiais. Defendia que o mandatário da nação gozava de legitimidade não apenas
como chefe do povo, mas como representante legitimo. Estava-se diante de um regime
totalitário embasado no militarismo e no nacionalismo ufanista que fora buscar inspiração nos
regimes fascistas europeus( CAMPOS,1941.p.65).
“A Constituição de 1937, conferia à União o direito de “traçar as diretrizes a que se deve
obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da juventude e ao Estado a
responsabilidade de “ promover a disciplina moral e o adestramento da juventude e prepará-
la para a defesa da pátria”( CAMPOS, 1941. p.65).
Francisco Campos criticava o sistema educativo “ de fundo liberal”, até então adotado
no Brasil e os princípios defendido pelos escolanovistas. Segundo ele esta educação não
tinha uma finalidade definida, era “ uma educação para o que der vier, como se estivéssemos
preparando uma equipe de aventureiros” Para Campos, a educação deveria ser um
instrumento de propagação da ideologia do Estado Novo entre as crianças. (CAMPOS,
1941, p.66).
39
O Ministro da Educação, Gustavo Capanema, mesmo tendo divergências com
Francisco Campos, então Ministro da Justiça, aderiu aos princípios do Estado Novo. Passou
a defender que a Educação não poderia ser neutra, conforme os princípios da Escola Nova;
deveria se colocar a serviço da Nação. Enfim, a disposição geral era de educar a infância e a
juventude dentro da doutrina do Estado Novo, via sentimento ( HORTA.2012.pp.151,152).
O Estado Novo, perseguindo os princípios defendidos por Vargas desde o inicio de seu
governo, manteve a vinculação entre educação e saúde, estabeleceu um amplo programa
de amparo e conformação da infância aos seus ideais. Educação e Saúde eram
considerados veículos de controle, regulação , integração e adaptação das crianças, futuros
trabalhadores, à nova organização sócio –politica que estava sendo implantada. Através da
criação de instituições educacionais e sanitárias, o Estado procurou desenvolver hábitos
sadios na população, combater os desvios morais e sociais, promover a higiene dos
indivíduos e garantir o fortalecimento da raça ( HORTA, 2012.p.4)
O Decreto-Lei n.2.024 de 17 de fevereiro de 1940 criou o Departamento Nacional da
Criança ( DNcr), ligado ao Ministério da Educação e Saúde. O DNcr, baseado em preceitos
científicos, deveria desenvolver politicas de combate á mortalidade infantil, de amparo pré-
natal às mães, de formação e conscientização dos bons preceitos morais e higiênicos, visando
o aprimoramento da raça, assim como Vargas propusera em 1932. Só assim nasceriam
crianças mais fortes, para no futuro impulsionar o crescimento econômico da nação. `A saúde
era delegada a tarefa de melhorar o ambiente social combatendo a má alimentação, a falta
de higiene de segmentos da população e cuidados corporais; à educação caberia a formação
moral e de hábitos higiênicos e a inculcação de valores do Estado Novo.( VIEIRA.G.2003).
O DNcr tinha caráter assistencialista e suas atividades se efetivavam mediante vários
órgãos: Por exemplo, nos Postos de Puericultura deveria ser dado acompanhamento para
todas as mães desde o início de gravidez e, posteriormente à criança até a idade escolar.
Nesta instituição a figura principal era a do médico que deveria orientar as mães quanto a
alimentação, higiene e cuidados em geral e tentar erradicar concepções advindas da
ignorância materna. O mesmo Decreto previa a criação de estabelecimentos educacionais
entre eles: a Creche que deveria receber crianças de até 02 anos, principalmente os filhos de
operarias; a Escola Maternal que deveria atender crianças de 02 a 04 anos nas questões
de socialização e do desenvolvimento físico. Tal tipo de escola deveria propiciar um ambiente
de carinho, no qual a professora substituísse a mãe. A Escola Maternal deveria estar equipada
com sala de brinquedos, sala de repouso, cozinha dietética, banheiros, rouparia, jardins,
solário e sala do médico. As crianças de 04 a 07 anos deveriam ser atendidas em Jardins da
Infância, onde continuariam a brincar, mas já com rudimentos de educação formal, como o
reconhecimento do alfabeto, dos números e a silabação. ( PARADA;MEDEIROS,2010)
40
A partir dos 07 anos, a criança deveria frequentar a Escola Primária. Para os médicos
puericultores, a Escola Primária deveria deixar de ser um aparelho meramente instrutivo e se
transformar num “sistema plasmador de personalidades ajustadas e produtivas “ capaz de
fazer frente ao mundo real" ( VIEIRA, 2003.p.85)..As atribuições da Escola Primária eram
inúmeras: promover a melhoria social, a assistência física, incluindo alimentação e
atendimento médico, além do educacional que deveria abranger, dentre outros, o
desenvolvimento dos aspectos: físico, emocional, sanitário, intelectual, moral e cívico das
crianças. Neste contexto merece destaque a figura da professora. Na sua condição feminina,
era moldada para a dedicação ao outro. Além do conhecimento intelectual, deveria ter
conhecimentos sobre puericultura, higiene, comportamento e recreação, enfim deveria ser
capaz de formar o futuro chefe de família e a futura mãe .Este amplo programa de assistência
à saúde e à educação visava formar bem “ os filhos da nação” que deveriam ser forjados
segundo um modelo ideal de cidadão: ordeiro, disciplinado, saudável e trabalhador- que
pudesse colaborar com o desenvolvimento da nação e imbuído dos ideais do Estado Novo.
As funções delegadas à educação e à saúde se concretizavam na reprodução do
discurso eugênico , que buscava legitimar o regime autoritário através de um projeto que
procurava eliminar as doenças, os desvios morais e sociais. A educação e a saúde eram tidos
como elementos de controle, regulação, integração e adaptação das crianças, futuras
trabalhadoras, às mudanças e às novas formas de sociedade que se buscava construir.
O Ensino Primário a serviço do Estado Novo (1937-1945).
Desde 1930, a política educacional no Brasil visava o estabelecimento de uma
educação nacional, centralizada no governo Federal. Esta ação era considerada necessária,
uma vez que até então, cada Estado da Federação responsável pelo ensino primário e
secundário. O estabelecimento de um Plano Nacional de Educação era a “ bandeira” tanto
daqueles que integravam o Movimento da Escola Nova, quanto daqueles que aderiram aos
ideais e as políticas de Vargas, porém partiam de concepções diferentes e defendiam
finalidades diferentes para a educação.
Segundo Bomeny (1999, p139) o projeto educacional elaborado traduzia de forma clara
o ideário do Estado Novo: Formar um “ homem novo” para um Estado Novo, conformar
mentalidades e criar o sentimento de brasilidade, fortalecer a identidade do trabalhador, ou
por outra, forjar uma identidade positiva no trabalhador brasileiro, tudo isto fazia parte de um
grande empreendimento cultural e politico para o sucesso do qual contava-se
estrategicamente com a educação por sua capacidade universalmente reconhecida de
socializar os indivíduos nos valores que as sociedades , através de seus segmentos
organizados, querem ver internalizados.
41
O Estado Novo defendia dois princípios para a educação da infância: a uniformização
e a nacionalização. O primeiro visava eliminar as diferenças regionais, nutridas até então em
cada Estado, bem como eliminar divergências ideológicas e os nacionalismos nutridos pelos
grupos de imigrantes principalmente na região Sul do Brasil. Se o projeto estadonovista
estava alicerçado no ideal da unidade nacional era imperativo abrandar as diferenças
regionais e mais do que isto, eliminar ou pelo menos amainar as diferenças culturais e os
nacionalismos cultivados pelos grupos de estrangeiros ou “alienígenas” e seus descendentes
nas regiões de imigração.
O Estado Novo implementou uma politica de Nacionalização das “escolas dos imigrantes”.
As escolas existentes nas regiões de imigração, via de regra, eram mantidas pela comunidade,
os professores e diretores eram imigrantes ou seus descendente, ensinavam na língua da terra
de origem e segundo os valores de sua cultura. As culturas estrangeiras, principalmente alemã,
polonesa e italiana, eram consideradas “ exóticas” e inimigas da ideologia nacionalista brasileira.
Enfim, tudo o que era estrangeiro representava perigo para o Brasil.
O Decreto – Lei nº 406 de 4 de maio de 1938, conhecido como “ Lei da Nacionalização”,
no Art. 85 estabelecia que em todas as escolas rurais do pais, o ensino de qualquer matéria seria
ministrado em português[...]; que todos os professores e diretores fossem brasileiros natos,
proibia o ensino de idiomas estrangeiros a menores de 14 anos; os livros destinados ao ensino
primário deveriam ser exclusivamente em língua portuguesa. A aplicação do disposto neste
Decreto significava a extinção de escolas mantidas pelos grupos de imigrantes que, na sua maio
ria localizavam-se nas zonas rurais.
Para Schwartzman (2000) o “abrasileiramento” destes núcleos de imigrantes era visto
como um dos elementos cruciais do grande projeto cívico a ser cumprido através da educação,
tarefa que acabou exercendo de forma mais repressiva do que propriamente pedagógica, mas
na qual o Ministério da Educação se empenhou a fundo.
Vargas defendeu a expansão do ensino primário por todo o país, de acordo com o
estabelecido pela Constituição, porém, esta educação deveria ser aos moldes do regime
recém-estabelecido: uniforme, nacionalista, militarista e arma de luta ideológica. O ensino
primário devia ser “caracterizado como “nacional” nos seus objetivos, na sua organização e
no funcionamento das escolas”.( GAZETADO POVO, Curitiba, 23 de maio de 1939).
O Decreto-lei nº 868 de 18 de novembro de 1938, criara a Comissão Nacional do Ensino
Primário que deveria coordenar uma Campanha Nacional de combate ao analfabetismo que
se daria pela difusão da escola primária, em obediência aos preceitos da nova Constituição.
Além de alfabetizar esta escola tinha por finalidades expressa, incutir nas crianças o
sentimento nacional: “Não se cogitará apenas alfabetizar o maior numero possível, mas
também de difundir princípios uniformes de disciplina cívica e moral, de sorte a transformar a
42
escola primaria em fator eficiente na formação do caráter das novas gerações, imprimindo-
lhe rumos de nacionalismo sadio”. ( Gazeta do Povo, Curitiba, 23 de maio de 1939).
O ensino primário passou a ser visto como um problema de ‘segurança nacional’ que
implicava na uniformização de currículo, métodos de ensino, livros didáticos e material
escolar. Segundo Vargas, só desta maneira o ensino primário teria uma feição nitidamente
nacionalista.( HORTA, 2012, 159).
A Educação, de maneira geral deveria ser também, uma arma de luta ideológica contra
os inimigos internos e externos da nação. Para tanto, era mais importante infundir nas
crianças e nos jovens os preceitos de moral e civismo, o sentimento de Pátria, do que instruir-
lhes com noções , teorias e técnicas, enfim, transmitir-lhes o conhecimento culturalmente
acumulado. A Educação segundo os preceitos do Estado Novo, deveria ser um elemento
decisivo na “ luta contra o comunismo e outras ideologias que pretendiam contrariar e
subverter o ideal de nacionalidade e de nossas inspirações cívicas”. ( VARGAS, 1940 ).
No intuito de construir uma educação “nacional” varias ações deveriam tomadas. O
Instituto Nacional do Livro, criado em dezembro de 1937, por iniciativa do Ministro Gustavo
Capanema visava estimular a edição de obras literárias que tratassem da formação cultural
da população brasileira visando forjar uma cultura uniforme. A criação da Comissão Nacional
do Livro Didático, criada pelo Decreto_Lei nº 1006 de dezembro de 1938, tinha por objetivo
uniformizar a publicação de livros didáticos em todo o país; servia como um instrumento de
censura, uma vez que interferia na produção e controlava os conteúdos veiculados, evitando
que fosse feita qualquer critica ao regime político ou ao seu chefe. Somente os livros
autorizados poderiam ser utilizados nas escolas.
Para além disso, o Departamento Nacional de Propaganda (DNP), e posteriormente, o
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) passou a publicar Cartilhas/ Catecismos
Cívicos, enfim, livros de leitura que visavam a inculcação da ideologia do regime e de
exaltação da figura de Vargas direcionados quer para as crianças e a juventude: Dentre
muitos livros publicado destacam-se :O Brasil é Bom e O Catecismo Cívico publicados em
1938 pelo DNP, Getúlio Vargas: o amigo das crianças (1940), A juventude e o Estado Novo
(1942) publicados pelo DIP. A meta era forjar na mente de toda a população a ideologia do
Estado; para tanto, era necessário penetrar no ambiente da fabricas, nas escolas e no lar. As
crianças, mais suscetíveis de inculcação ideológica serviram como instrumento de difusão da
ideologia dentro do lar, conforme previa o livro O Brasil é Bom:
“Menino: “Le este livrinho com atenção. Aprende estes ensinamentos. Se teu pai e
irmãozinhos sabem ler, faze com que o leiam contigo. Se eles não sabem ler, prestarás um
serviço ao teu Brasil, lendo-o em voz alta para que eles o ouçam e aprendam o que nele se
ensina”. ( DNP, 1938) .
43
Enfim segundo o próprio Vargas destacava no livro “Getúlio Vargas - o amigo das
crianças” publicado em 1940, “é preciso plasmar na cera virgem, que é a alma da criança, a
alma da própria Pátria”. ( DIP, 1940).
Os conteúdos contidos nestes livros de caráter didático, além contemplar aspectos da
organização do Estado, fazer propaganda do regime e de seu Chefe, tratava de identificar os
“inimigos” internos e externos da nação e de rechaçá-los. Um dos “inimigos mais atacados
era a Aliança Nacional Libertadora, uma organização comunista , porém o Integralismo, os
imigrantes e seus nacionalismos também eram alvo de ataques contundentes. ( VECHIA ;
FERREIRA, 2009).
Vargas fazia questão de se auto – promover, fazendo-se coincidir a boa ação do Estado
com a figura agregadora e paternal. Sua imagem sempre estava associada com a de uma
pessoa amorosa para com as crianças e a juventude. Suas fotos ilustravam os livros
direcionados à infância e à juventude que eram publicados pelo DNP e pelo DIP.
Em 8 de março de 1940, o Decreto 2072, estabeleceu a adoção da educação moral,
cívica e física para a infância e juventude brasileiras visando a formação da consciência
patriótica, o amor ao dever militar, a aquisição da disciplina e de hábitos e práticas higiênicas.
A educação física, tinha por finalidade, não somente fortalecer a saúde das crianças e dos
jovens, tornando-os resistentes a qualquer espécie de invasão mórbida e aptos para os
esforços continuados, mas também dar-lhes ao corpo solidez, agilidade e harmonia.
O mesmo Decreto criava uma instituição denominada ”Juventude Brasileira” destinada
a promover dentro e fora das escolas, a educação cívica, moral e física da juventude e da
infância brasileira. A Juventude Brasileira sob a vigilância do Presidente da Republica deveria
servir de base e complemento da educação ministrada pela escola, visando desenvolver a
consciência de seus deveres para com a Pátria. A inscrição nesta instituição de caráter
nacional era obrigatória para crianças de 7 aos 18 anos que estivessem frequentando a
escola, deveria prestar culto constante à Bandeira Nacional e ao Hino Nacional. Entre as
suas atribuições estava também a formação de Centros Cívicos nas escolas e a
obrigatoriedade da formatura geral, desfiles e demais cerimônias cívicas..( Decreto –Lei, n.
2072, arts. 1º -4º;5º-10ºe 14º- 16º.) A identidade nacional precisava ser formada com
elementos comuns como a língua, a cultura e o sentimento de pertencimento. As
demonstrações públicas de civismo também eram feitas pelas autoridades, evocando a
formação de uma juventude nacionalista.
O escotismo, considerado “uma escola pratica de civismo” foi cooptado pelo governo
introduzido nos Estados principalmente da região Sul, como mais um elemento de formação
cívica das crianças e da juventude, iniciando-a nos “mais tenros anos, no templo incomparável
do amor à Pátria “. Como doutrina educacional completa, consegue sem militarizar, criar
44
uma juventude com consciência altamente patriótica, “orgulhosa de sua nacionalidade e apta
física e moralmente, a derramar seu sangue pela soberania de sua Pátria.”( BETHLEM, 1939,
88-90).
O movimento escoteiro, apoiado pelo Exercito, entendeu seus braços por todos os
núcleos de colonização estrangeira no Paraná e em Santa Catarina. Em 1939, já eram mais
de seis mil participantes, que visavam criar nos filhos dos imigrantes e seus descendentes,
uma mentalidade cívica brasileira. A criança educada aos moldes do escotismo, seria um
agente nacionalizador que se infiltraria no lar e abalaria um dos baluartes dos “agentes
dissociadores”. ( BETHLEM, 1939,92-93)
O Estado Novo procurava imprimir nas mentes das crianças e dos jovens a sua
ideologia por diversos meios. Um deles era a imprensa escolar. Desde a instalação do Estado
Novo, foi estimulada a publicação de Jornais escolares. Este instrumento além de inculcar
nas crianças ideias do governo, fazia a ponte entre a escola e a família. O objetivo principal
destes jornais era o de incutir na cabeça das crianças conceitos nacionalistas e mistificar a
figura de Vargas. Os jornais eram publicados preferencialmente em datas históricas , em
especial as comemorativas à Proclamação da Republica.
Um texto do jornal escolar Visões do Internato, órgão dos alunos do Instituto
Paranaense, destacava de maneira clara o significado do Estado Nacional:
“Apoiado pelo Exercito, o Dr. Getúlio Vargas [...], mandou queimar as bandeiras dos Estados,
porque temos uma só gloriosa e altiva flâmula a tremular nos céus: a Bandeira Brasileira.
Proibiu os hinos estaduais, porque deve ressoar do Chuí ao Oiapoque tão somente o Hino
Nacional. Assim o preclaro fundador do Estado Novo nos legou um Brasil integro e indiviso” (
MARO, 1941).
Depois de demonstrar que num Estado Nacional o Chefe aglutinava todos os poderes
e as grandes decisões, fazia-se necessário construir a imagem deste Chefe que era
responsável pelos rumos do país. A política de propaganda do Estado Novo era voltada para
a produção de um verdadeiro culto a Getúlio Vargas. Textos publicados em periódicos de
diferentes escolas destacavam as qualidades excepcionais do presidente Vargas, como
exemplificado no texto dos alunos do periódico O Colegial, órgão da Escola de Aplicação de
Curitiba:
“É para o futuro que o Snr. Getúlio Vargas lança as suas vistas de administrador impecável
[....].Quando Sua Excia. fala do Brasil e para o Brasil, sempre tem uma palavra para as
crianças; uma palavra que demonstra bem a sua confiança na juventude. São estas palavras:
”Crianças! Aprendendo, no lar e nas escolas, o culto da Pátria trareis para a vida prática as
45
probabilidades do êxito”. “Só o amor constrói, e, amando o Brasil; forçosamente o conduzireis
aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento
aninhados em cada coração Brasileiro”
Todos os jornais das escolas primárias e secundárias, públicas e particulares do
estado do Paraná, publicavam matérias de exaltação à figura de Getúlio Vargas, o Chefe
Supremo e ao Estado Novo e seus feitos. A grande maioria, trazia artigos sobre a
necessidade do uso da língua portuguesa, da higiene pessoal e social, os grêmios cívicos
literários.. Os artigos eram de autoria de alunos ou de alunos junto com suas professoras e
de professores e Diretores dos estabelecimentos de ensino. Para, além disto, eram
reproduzidas falas do Presidente, frases de efeito publicadas pelo DIP e por intelectuais,
sempre louvando as ações do Presidente e do Estado Novo.
O calendário escolar ficou marcado por inúmeros feriados para realização de
cerimonias cívico-patrióticas. Comemorava-se a Semana da Pátria; o aniversario do
presidente; data da implantação do Estado Novo; o Dia do trabalho, de Tiradentes (patrono
da Independência), de Duque de Caxias (patrono do Exército), da Bandeira, da Raça, e
do Soldado. Estas datas, em geral eram comemoradas com grandes desfiles de militares
e de escolares pelas ruas das cidades. Estas comemorações seguiam à risca um ritual
programado pelo governo Federal. Geralmente os desfiles eram abertos por grupos de
alunos e/ou militares que levavam bandeiras e estandartes, seguidos por batalhões de
militares e de crianças e jovens de todas as escolas e o ritmo era marcado por Bandas de
Música do Exército. Estes desfiles, marcados pela ordem, hierarquia, e disciplina se
transformavam em espetáculos apoteóticos. Todos os participantes deveriam estar
impecavelmente uniformizados, perfeitamente enfileirados e seguir o ritmo da marcha. Isto
implicava em treinamento rígido, em sacrifico do corpo pela Pátria. O objetivo era o de
incutir o ideário do Estado Novo, a veneração do presidente e a inculcação do sentimento
nacional.
O estudo demonstrou que desde o inicio do século XX as instituições de Assistência
e Proteção à Infância no Brasil estavam em conformidade com as ideias em voga na época,
quais sejam, as ideias higienistas e eugenistas. Na chamada Era Vargas ( 1930-1945) as
politicas públicas adotadas em relação a Infância vinculavam a educação e a saúde. A
educação era entendida numa visão abrangente: física, moral, eugênica e cívica, industrial
e agrícola, tendo por base a instrução primaria de letras e a técnica e profissional. A
criança, vista como um futuro trabalhador, deveria receber atendimento medico / higiênico
e escolarização para se tornar um trabalhador forte e sadio visando o progresso da Nação.
Estas politicas estavam assentadas nas ideias de melhoria da ‘raça’ conforme explicitou o
próprio Vargas em um pronunciamento feito em 1932.
46
Já durante o Extado Novo, o governo Vargas ao criar o Departamento Nacional da
Criança visava formar, no futuro, uma raça forte e sadia de trabalhadores visando o
progresso na nação. A Instituição então criada e seus diversos órgãos tinham como meta
atender a mãe e a criança desde a concepção, com tratamentos médico preventivo de
higiene, alimentação e cuidados. A educação escolarizada mantinha a pratica de
distribuição de merenda escolar e o ensino de hábitos higiênicos e de puericultura, visando
a formação de futuros trabalhadores sadios.
Porém, é na escola primaria que atendia as crianças a partir dos 7 anos de idade
que o projeto do governo Vargas se fez presente de maneira incisiva. Duas ideias
pedagógicas foram colocadas em confronto: uma de cunho liberal que estava centrada no
desenvolvimento individual da criança e a outra de cunho autoritário, que foi colocada em
prática pelo governo. A escola primária tinha passou a ter por finalidade promover a
melhoria social das crianças de acordo com a nova organização sócio-política. O ensino
primário até então sob responsabilidade de cada Estado passou a seguir as normas do
Poder Central. À União cabia traçar as diretrizes relativas á formação física, intelectual e
moral das crianças. Enfim fez deste nível de ensino, um instrumento de propagação da
ideologia do Estado Novo. Por meio de Decretos-lei o Poder Central buscava padronizar
os conhecimentos e as praticas educativas em todas as escolas do país. Enfim, a finalidade
era a de forjar o futuro cidadão para ser um adepto e um defensor da ideologia do Estado
Novo, personalizada na figura do presidente – Getúlio Vargas.
Referencias Bibliográficas.
Livros e Artigos.
BETLEM, H. (1939) Vale do Itajaí : Jornadas Cívicas. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio
Editora.
BOMENY,H.M.B. (1999). Três Decretos e um Ministério: a proposito da educação no
Estado Novo. In: PANDOLFI,D.(org.).Repensando o Estado Novo. Rio de janeiro:
Fundação Getúlio Vargas.
CAMPOS, F.(1941) O Estado Nacional, sua estrutura, seu conteúdo ideológico. Rio de
Janeiro: Livraria José Olympio Editora
HORTA, J.S.B. O Hino, o Sermão e a Ordem do dia: regime autoritário e educação no
Brasil (1930-1945).
MARO,S. (15/11/1941). Estado Novo. Visões do Internato- órgão dos alunos do Internato
paranaense de Curitiba.
47
PARADA, M.; MEDEIROS,H.R.(2010). Puericultura e politicas Públicas de Assistência
maternidade e à Infância (1930-1945).In: XIV Encontro Nacional Anpuh-Rio. Rio de
Janeiro. CDROM.
SCHWARTZMAN, S.(2000). Tempos de Capanema. São Paulo: FGV/Paz e Terra.
VARGAS, G.(1938 a). A nova política do Brasil III: A realidade nacional em 1933 -
Retrospecto das realizações do Governo 1934 .Rio de Janeiro: Livraria José Olympio
Editora.
VARGAS, G.(1938 b) Nova organização administrativa do país – discurso de posse na chefia
do governo Provisório. In: VARGAS, G. A nova politica do Brasil.vol.I Rio de Janeiro: Livraria
José Olympio Editora.
VARGAS, G.(1940).Getúlio Vargas o Amigo das Crianças. Rio de janeiro. DIP.
VECHIA.A; FERREIRA,A.G. Communism, Integralism, and Nationalisms: internal and
external Enemies of Brazil, 1930-1945.In: DJUROVIC, A; MATTES,E.(org). Freund-und
Feindbilder in Schulbüchern. Germany: Klinkhardt.
VIEIRA,G.F. (2003). A ação do Departamento Nacional da Criança no Estado Novo:
educação Saúde e Assistência. ( Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Juiz
de Fora.
Fontes:
BOLETIM Trimestral do Departamento Nacional da Criança. nº 14, 1944.
DECRETO-LEI nº 406 de 14 de maio de 1938.
DECRETO-LEI nº 868 de 11 de novembro de 1938.
DECRETO-LEI nº 1006 de dezembro de 1938.
DECRETO-LEI nº 2072 de 8 de março de 1940.
GAZETA DP POVO. Curitiba: 23 de maio de 1939.
A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS NO HOSPITAL DE CRIANÇAS DE
CURITIBA, 1956-1988
Claudinéia Maria Vischi Avanzini
Resumo
Neste artigo pretende-se analisar aspectos do processo social e cultural que resultou na estruturação do atendimento educacional hospitalar no Hospital de Crianças de Curitiba nas últimas décadas do Novecentos a luz da teoria de E. P. Thompson e de Certeau. A opção pelo estudo das ideias e ações que resultaram na organização deste atendimento
48
no Hospital (micro) acaba por auxiliar o entendimento do macrocosmo (sociedade curitibana) e, por sua vez, auxilia a compreensão da forma como as crianças, principalmente as mais pobres eram percebidas no século XX na capital do estado do Paraná. O recorte temporal é balizado pela fundação por médicos e voluntários da Associação Hospitalar de Proteção à infância Dr. Raul Carneiro no ano de 1956, e pelo ano de 1988, quando é firmado convenio com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação para liberação de professores que realizariam atendimentos educacionais às crianças internadas no Hospital em questão. Este estudo buscará suas fontes na biblioteca do próprio Hospital: relatórios de atividades (em tópicos e resumos), gráficos temporais/anuais das atividades desenvolvidas pelo Hospital; históricos da instituição; um livro comemorativo. Também serão pesquisados os jornais curitibanos que circularam de maneira mais constante no período estudado: Diário da Tarde (1927-1932, 1938 e 1940), Diário Popular de Curitiba (1946) e Gazeta do Povo (1930-1988) e excerto do Diário Oficial do Estado do Paraná; além de leis e decretos, de relatórios da Faculdade de Medicina do Paraná e de Secretários de Estado paranaenses, de mensagens de Presidentes do Paraná e de estatísticas sanitárias, bem como as revistas Arquivos (do Hospital de Crianças “Cesar Pernetta”), Archivos Paranaenses de Medicina, Paraná Medico e Revista Médica do Paraná e da publicação dos Annaes da Faculdade de Medicina do Paraná. Portanto, através deste artigo, teve-se a intenção de investigar facetas do múltiplo processo da organização do atendimento educacional hospitalar no Hospital de Crianças, percebendo como se explicitava, entre 1956 e 1988, a preocupação (de médicos e outros membros da sociedade) com a saúde das crianças, quais as ideias que permeavam os debates sobre o tema e que ações educacionais relacionadas ao cuidado com a saúde e educação marcaram esse processo, que contou com a participação da Faculdade de Medicina do Paraná.
Palavras-chaves: Saúde. Educação. História Social
1. O Hospital de Crianças Cesar Pernetta e suas práticas
No entanto, o “real” representado não corresponde ao real que determina sua produção. Ele esconde por trás da figuração de um passado, o presente que organiza.
CERTEAU, 2011, p.49
Analisar uma estrutura institucional tal como se configura um hospital de
crianças, requer do pesquisador uma postura crítica, cultural e social. O Complexo
Hospitalar do Pequeno Príncipe integra três edifícios principais que se interligam com
mais quatro outros edifícios anexos, ocupando uma área superior a 17 mil metros
quadrados. O prédio mais novo do complexo, inaugurado em 1971, pela Associação
Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, foi o primeiro hospital brasileiro
projetado inteiramente para o atendimento às crianças e recebeu o nome de Hospital
Pequeno Príncipe. A Associação, fundada em 1956 por médicos e voluntários, tinha
como principal objetivo ajudar na manutenção do Hospital, que havia sido inaugurado
em 1930 pela Cruz Vermelha Paranaense e se chamava Hospital de Crianças de
49
Curitiba. A partir de 1951, o Hospital de Crianças passa a se chamar Hospital de
Crianças César Pernetta36. Atualmente, o Complexo Pequeno Príncipe, conta com 390
leitos de internação, dos quais 62 são de Unidade de Terapia Intensiva e semi-intensiva.
Em 2011 foram mais de 24 mil internamentos com uma taxa de ocupação de leitos
próxima dos 80%37.
Essa instituição sempre voltada ao atendimento da saúde, atendeu também,
implicitamente às questões educacionais, educando as mães, formando médicos e
difundindo as ideias higienistas e eugênicas no início do século XX.
Desenvolver um artigo numa instituição de saúde, que mesmo indiretamente,
traz como linha condutora a educação, instiga o pesquisador a aprofundar os
conhecimentos sobre a instituição.
Segundo Eric Hobsbawm:
Não há nada de novo em preferir olhar o mundo por meio de um microscópio em lugar de um telescópio. Na medida em que aceitamos que estamos estudando o mesmo cosmo, a escolha entre micro e macrocosmo é uma questão de selecionar a técnica apropriada. É significativo que atualmente mais historiadores achem útil o microscópio, mas isso não significa necessariamente que eles rejeitem os telescópios como antiquados (1998, p. 206).
Desta forma, o estudo do microcosmo que se referem às ideias e ações que
desencadearam na estruturação do Hospital de Crianças acaba por auxiliar o
entendimento do macrocosmo (sociedade curitibana), e, por sua vez, auxilia a
compreensão da forma como a educação das crianças era entendida e valorizada no
século XX na Capital do estado do Paraná.
Segundo Certeau, a História é uma prática e um discurso, ao mesmo tempo um
período (meados do século XX), um objeto (a história da educação hospitalar
paranaense) e um lugar (o Hospital de Crianças Cesar Pernetta). “A evidenciação da
particularidade deste lugar de onde falo, efetivamente prende-se ao assunto de que se
vai tratar e ao ponto de vista através do qual me proponho examiná-lo” (CERTEAU,
1982, p. 31).
Desta forma os três "postulados" que Certeau descreve em seu texto, a escrita
da História são respeitados, pois a análise da história da educação num hospital de
Curitiba implantada em meados do século XX é realizada respeitando a singularidade
desta análise. “Sem dúvida, a história é o nosso mito. Ela combina o "pensável" e a
36 Cesar Pernetta era pediatra, 11º Professor Titular da cadeira de Pediatria da Universidade Federal do Paraná e muito trabalhou para a efetivação do funcionamento do Hospital de Crianças Cesar Pernetta (ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO, 1993). 37 Cf.: http://www.hpp.org.br Acesso: 01/07/2015.
50
origem, de acordo com o modo através do qual uma sociedade se compreende”
(CERTEAU, 1982, p. 32).
O Hospital de Crianças de Curitiba, entre 1930 e 1932, recebeu crianças e jovens
cuja idade variou do 0 mês aos 15 anos. Foi inaugurado em 1930, depois de
aproximadamente treze anos de construção (1919 e 1932). Em 1932 começa a
funcionar as primeiras três enfermarias do Hospital, a partir de um múltiplo processo
marcado por organizações relacionadas ao cuidado com as crianças e sua saúde e a
educação de mães e seus filhos: o Instituto de Higiene Infantil, a Escola de Puericultura
e uma Creche, iniciam seu funcionamento e acabam traduzindo a preocupação de
vários grupos sociais curitibanos, e não somente os médicos e autoridades
governamentais, com a saúde das crianças, especialmente as mais pobres.
Na década de 1930, o Hospital de Crianças, que prestava “(...) bom serviço com
o dispensario infantil e o internamento de crianças em suas enfermarias” (FACULDADE
DE MEDICINA DO PARANÁ, 1935, p.4), passou por um processo de reestruturação
administrativa. Até 1934 o Hospital de Crianças foi administrado por membros da Cruz
Vermelha Paranaense e da Faculdade de Medicina do Paraná que compunham um
Conselho Administrativo autônomo, mas, conforme consta do Registro nº 3204, folhas
72 Lb n.º4, do Cartório de Registros de Títulos e Documentos de Curitiba, em 1935, o
Hospital foi cedido em usufruto pela Cruz Vermelha Paranaense para a Faculdade de
Medicina do Paraná em contrato firmado entre o Desembargador Manoel Bernardino
Vieira Cavalcanti Filho, Presidente da Cruz Vermelha Paranaense no período e doutor
Victor Ferreira do Amaral, Diretor da Faculdade de Medicina do Paraná (GODOY, 1992,
p. 2; FACULDADE DE MEDICINA DO PARANÁ, 1935, p.4).
A importância da cedência do Hospital de Crianças para a Faculdade é
destacada no Relatório do ano de 1935 da Faculdade de Medicina do Paraná.
A Cruz Vermelha Paranaense, filiada à Brasileira, teve a generosidade de ceder, em contrato de uso fruto, o seu belo e confortavel edificio do Hospital de Crianças, a esta Faculdade, que já nele mantinha um consultorio para a infancia desvalida, com cosinha dietetica e enfermarias para o internamento dos pequenos doentes (FACULDADE DE MEDICINA DO PARANÁ, 1936, p.5).
No Relatório do ano de 1936, eram escritas palavras de elogio aos serviços
disponibilizados no Hospital de Crianças, que resultariam dos muitos “esforços
empregados” na instituição hospitalar, assim como também evidenciava a continuidade
da prática de doações, realizada por cidadãos curitibanos, associações da Capital e
autoridades governamentais, para a manutenção do Hospital de Crianças.
51
HOSPITAL DE CRIANÇAS Sob a direção dos Drs. Euripedes Garcez do Nascimento e João Alfredo Silva, o Hospital de Crianças funcionou com toda regularidade, tendo aumentado os seus serviços de modo a poder atender prontamente a todos os seus inumeros clientes, constituidos da infancia pobre de nossa cidade. O movimento clinico, (...) atesta o resultado satisfatorio dos esforços empregados nesta instituição. Para a manutenção do Hospital de Crianças recebemos os seguintes auxilios: do Governo do Estado 30:300$000, da Prefeitura Municipal 16:840$000; da Associação Feminina de Proteção à Infancia 17:100$000; de Diversos donativos 18:182$000; e da Receita da Farmácia 3:804$600" (FACULDADE DE MEDICINA DO PARANÁ, 1937, p. 3).
De acordo com Macedo (1978, p.16), “para auxiliar a manutenção do Hospital
de Crianças foi fundada em 1935, por senhoras da melhor sociedade curitibana, a
benemérita Associação Feminina de Proteção à Infância, que no mesmo ano já
concorria para essa finalidade com a importância de R$ 3:577$700".
No final de 1937, apesar das informações serem contraditórias, pode-se afirmar
que o contrato que cedia temporariamente o Hospital para a Faculdade de Medicina do
Paraná se encerrava e o senhor Manoel Ribas, Interventor do Estado, toma posse do
Hospital de Crianças, e acaba deixando, mesmo depois que o hospital foi doado para o
Estado, a sede da Cruz Vermelha Paranaense no próprio Hospital (MACEDO, 1978,
p.18; 22). No dia 19 de janeiro de 1938, o Hospital foi oficialmente doado pela Cruz
Vermelha Paranaense ao Estado do Paraná (GODOY, 1992, p. 2; 1995, p.1; MACEDO,
1978, p. 17).
Desde 1929, quando a conclusão das obras do hospital foi assumida pelo Estado
e foi criado pelo governo do Paraná o Serviço de Proteção à Infância, a relação do
Hospital de Crianças com o governo paranaense havia se estreitado bastante (Lei nº.
2628, de 22 de março de 1929) (Diário Oficial do Estado do Paraná, 02/04/1929, p.1).
A inclusão do Hospital de Crianças em discussões e propostas sobre cuidados amplos
(inclusive asilares) com as crianças e jovens curitibanos “desvalidos” era constante
nesse período (PARANÁ, 1929, p. 107).
A paulatina ampliação dos atendimentos, da complexidade das ações prestadas
pelo nosocômio, que “já tem vida própria”, segundo Relatório do ano de 1937 da
Faculdade de Medicina do Paraná (GODOY, 1992, p. 2; FACULDADE DE MEDICINA
DO PARANÁ, 1938, p.3), estariam sinalizando outros rumos (também plurais) para o
tratamento da questão da saúde das crianças em Curitiba?
No início do século XX os jornais curitibanos afirmavam que várias crianças eram
encontradas perambulando pelas ruas, muitas delas abandonadas, outras realizando
trabalhos especialmente em pequenas fábricas e oficinas. Essa realidade acabava por
expor essas crianças a situações insalubres e perigosas, que concorriam para os altos
índices de mortalidade na faixa etária da população paranaense entre 0 e 5 anos.
52
Os termos criança e infância não são sinônimos, pois infância é uma construção
social, determinada por critérios estabelecidos socialmente. Criança, por sua vez, é
compreendida como o indivíduo biológico, representado por suas necessidades e
direitos. Maiores informações sobre estes termos podem ser encontrados nos estudos
de Ariès (1981), Kuhlmann Jr. (2000; 2004), Demartini (2001) e Ferreira e Gondra
(2007).
Como escreveu Martins, desde a segunda metade do século XIX, havia uma
crescente preocupação com a criança devido a “onda de humanitarismo e a formulação
da crítica social pelo movimento filantrópico e pelos movimentos políticos de cunho
socialista, mais atuantes na segunda metade do século” (2008, p. 138). Essa
preocupação com a saúde da criança, notadamente em seus primeiros anos de vida,
ganhou especial atenção dos médicos brasileiros no início do século XX, que
reivindicavam um novo papel social como promotores da higienização, da boa formação
física e mental das crianças. Nesse contexto, programas para educar as mães também
se destacam.
Quando, em 1919, Moncorvo Filho fundou o Departamento da Criança no Brasil, espalhou-se a idéia de que a assistência poderia ser científica também e, com isso, resolver problemas ligados à pobreza com base no conjunto de conhecimentos mais adiantados que circulavam naquele contexto. (...) Isso acontecia à medida que os homens que falavam em nome da ciência divulgavam a idéia de que os pobres, se não fossem disciplinados e amparados, fatalmente entrariam no mundo do crime ou da vadiagem (LOPES; MENDES; FARIA, 2005, p. 20).
A maioria das instituições para crianças e jovens chamados “desvalidos”,38
surgidas no Brasil no início do século XX, percebia-os como seres que necessitavam de
assistência para não degenerarem ou para serem recuperados (NEGRÃO, 2004;
PANDINI, 2006; MARCILIO, 2006; TURINA, 2010). Nesse universo, ações que tinham
como alvo a organização de instituições que cuidassem especificamente da saúde de
crianças e, paralelamente, investissem na educação higiênica dos “pequenos” e de suas
mães, foram uma parcela mais particular. Entre as iniciativas mais implantadas,
embasadas nas ideias de Moncorvo Filho, estavam: a inspeção e regularização das
amas de leite; estudos sobre a vida de crianças pobres que pretendiam apontar
diferentes práticas para sua proteção; inspeção escolar e iniciativas para fiscalização do
trabalho fabril de mulheres e crianças (WADSWORTH, 1999). Este projeto, tenta
38 No final do século XIX e início do século XX, “desvalido” era uma criança sem sorte ou riqueza, um enjeitado, um menino de rua, etc. Criança no limite: vítima do abandono, possível transgressor da ordem (SILVA, 2010, p. 14).
53
analisar facetas do processo de educação incorporadas no interior de uma das
instituições diferenciadas: o Hospital de Crianças de Curitiba.
2. O Hospital de Crianças pelo viés da nova História
La leçon majeure de Certeau consiste dans la pratique alternée de la réduction et de l'irréduction, l'une à l'autre critique39. BOUREAU, 2002, p. 140
Esta análise das discussões e empreendimentos que resultaram na estruturação
do Hospital de Crianças é norteada pelo seguinte questionamento: quais ações
influenciaram e/ou contribuíram para a ampliação do tratamento da saúde num hospital
para crianças em Curitiba no século XX? E qual a importância da educação nesse
processo de efetivação dos atendimentos médicos às crianças curitibanas? Assim,
fundamentado por Chartier, este artigo pretende trabalhar com a ideia de uma história
problema, onde seu objeto é construído, suas hipóteses devem ser explicitadas e seus
procedimentos conhecidos (1996, p. 64).
Portanto, neste artigo, procura-se perceber como se explicitava, entre 1956 e
1988, a preocupação com a saúde de crianças, notadamente as mais pobres, como a
organização do Hospital de Crianças ampliou seus atendimentos, quais os rumos que o
tratamento da questão da saúde das crianças em Curitiba acabou adotando e que ações
educacionais dirigidas aos sujeitos do universo hospitalar relacionadas ao cuidado com
a saúde de crianças marcaram esse processo, mesmo que de forma sutil.
Os pontos principais da pesquisa são a história do atendimento educacional
hospitalar através da observação da assistência a saúde para as crianças. O presente
artigo anseia contribuir para a produção de conhecimento sobre o atendimento à
criança, compreendendo-a como integrante de um processo histórico e cultural que
envolve a produção de saberes e práticas educativas. Assim este artigo poderá
contribuir com uma análise da educação de maneira mais ampla e concreta sugerindo
mudanças em suas produções e saberes. A necessidade desta pesquisa é apontada,
pois a questão não foi abordada até a presente data e mostra-se como um tema
relevante e que necessita ampliar seu campo de pesquisa e investigações vista a
limitada quantidade de material produzido na área.
Para tanto, os principais objetivos deste artigo são:
39 A principal lição de Certeau consiste na prática alternada pela redução e irredução, uma à outra crítica (Tradução livre da autora.).
54
Entender quais ações influenciaram e/ou contribuíram para a estruturação de um
hospital para crianças em Curitiba no início do século XX;
Identificar a importância da educação para os sujeitos do universo hospitalar no
processo de efetivação dos atendimentos médicos às crianças curitibanas;
Observar o objetivo da assistência à saúde para as crianças curitibanas através
da estruturação do Hospital de Crianças;
Investigar até que ponto a filantropia e a assistência à saúde infantil acabaram
influenciando os atendimentos do Hospital de Crianças;
Identificar os rumos adotados pelo tratamento da questão da saúde das crianças
em Curitiba; e
Levantar dados históricos sobre o Hospital Pequeno Príncipe.
Segundo Marc Bloch, “a história não é a acumulação dos acontecimentos, de
qualquer natureza, que se tenham produzido no passado, ela é a ciência das sociedades
humanas, [pois a história é] a ciência dos homens no tempo” (BLOCH, 2001, p. 54).
Conforme escreveram Bertucci, Faria Filho e Oliveira, o historiador francês
afirmava que a história não é a ciência do passado, mas o resultado de uma relação de mão dupla: de questões do presente que nos instigam ao estudo do passado e do passado que pode nos ajudar a compreender (não solucionar) inquietações que temos no presente. Isto é, questões que nos mobilizam hoje sobre qualquer período da história [pela sua singularidade, diferença, resultados, permanências, mudanças ou aparente novidade] são o ponto de partida para a busca histórica (2010, p. 18).
Desta forma, o chamado “método regressivo” de Bloch é elaborado a partir da
ideia segundo a qual um fenômeno histórico deve ser estudado também em suas etapas
de transformação, mas “este método (regressivo) não caminha no sentido de um
começo explicativo, mas de uma “filiação plural” que não deve ser confundida com “a
origem” – as filiações ou origens (plurais) devem ser percebidas como algo dinâmico:
próprias da sociedade humana” (BERTUCCI; FARIA FILHO; OLIVEIRA, 2010, p. 95).
Assim, a estruturação do Hospital de Crianças de Curitiba será estudada a partir
dessa proposta metodológica de Bloch, isto é, esse artigo procura perceber a
estruturação do Hospital a partir de suas múltiplas determinações, sociais, e portanto
marcadas por contradições, concordâncias, divergências e combinações, próprias da
sociedade humana (BLOCH, 2001, p.51-68). Essa perspectiva, com ênfase no social e
cultural, também é tributária de leituras da obra de Edward P. Thompson (1981; 1998)
e Michel de Certeau (1982, 1994, 2011).
Com relação aos documentos históricos, Certeau descreve duas problemáticas
nas quais se fundamenta est e artigo, a primeira
55
(...) examina sua capacidade de tornar pensáveis os documentos de que o historiador faz um inventário. (...) Esta perspectiva, cada vez mais comum hoje em dia, leva o historiador às hipóteses metodológicas de seu trabalho, à sua revisão através de intercâmbios pluridisciplinares, aos princípios de inteligibilidade suscetíveis de instaurar pertinências e de produzir "fatos" e, finalmente, à sua situação epistemológica presente no conjunto das pesquisas características da sociedade onde trabalha” (CERTEAU, 1982, 46).
Entretanto, uma segunda tendência privilegia “a relação do historiador com um
vivido, quer dizer, a possibilidade de fazer reviver ou de "ressuscitar" um passado. Ela
quer restaurar um esquecimento e encontrar os homens através dos traços que eles
deixaram” (CERTEAU, 1982, 46).
Assim, fundada sobre o corte entre um passado, que é seu objeto, e um presente, que é o lugar de sua prática, a história não para de encontrar o presente no seu objeto, e o passado, nas suas práticas. Ela é habitada pela estranheza que procura, e impõe sua lei às regiões longínquas que conquista, acreditando dar-lhes a vida (CERTEAU, 1982, 46).
Nesta mesma direção, Chartier finaliza seu texto intitulado Escribir las práticas,
chamando a atenção para o fato de que “a operação histórica, se trata de séries e
indícios, assim como a realidade referencial que constituem os vestígios, a população
de mortos - personagens, mentalidades ou preços – que a escrita historiadora pretende
encenar40” (1996, p. 96).
Desta forma, o estudo da educação no Hospital de Crianças de Curitiba, busca
em diversos documentos encontrar estes indícios ou vestígios que corroborem para
trazer à vida essa “população de mortos” e auxiliem na produção historiográfica da
temática e possam, a partir dos dois aspectos descritos por Certeau para a escrita,
exercer o papel de rito de sepultamento, exorcizando a morte, “introduzindo-a no
discurso” como prerrogativa de seu sentido etnológico, assim como a sua função
simbolizadora, que “permite a uma sociedade situar-se, dando-lhe na linguagem, um
passado, e abrindo assim, um espaço próprio para o presente” (1982, p. 107) e desta
forma identificar os caminhos percorridos pelo Hospital de Crianças para a implantação
de um atendimento educacional para as crianças ali hospitalizadas.
Certamente essa representação do fazer história (...) procede, incessantemente, à reparação das dilacerações entre o passado e o presente; assegura um “sentido” que supera as violências e as divisões do tempo; (...) Como afirmava Michelet, ela é o trabalho de vivos para “acalmar os mortos” e reunir toda uma espécie de aparatos em uma aparência de presença que é a própria representação (CERTEAU, 2011, p. 51).
40 Tradução livre da autora.
56
Assim, privilegia-se, neste artigo, dentre as quatro questões principais a ser
observada na produção historiográfica indicadas por Certeau, “uma historicidade da
história, que implicava a ligação entre uma prática interpretativa e uma prática social;” e
que “a história oscila entre o real e o texto que organizava sua inteligibilidade” (VIDAL,
2005, p. 270).
Sobre as fontes, Bloch também afirmou, “seria uma grande ilusão imaginar que
para cada problema histórico corresponde um tipo único de documentos, específico para
tal emprego” (2001, p. 80). A pesquisa histórica exige, portanto, a análise de várias
fontes, seu entrelaçamento. Desta forma, o estudo sobre as ideias e ações que
concorreram para a estruturação do Hospital de Crianças e a influência da educação
nas atividades desenvolvidas no hospital buscará suas fontes na biblioteca do próprio
Hospital: relatórios de atividades (em tópicos e resumos), gráficos temporais/anuais das
atividades desenvolvidas pelo Hospital; históricos da instituição; um livro comemorativo.
Também serão pesquisados os jornais curitibanos que circularam de maneira mais
constante no período estudado: Diário da Tarde (1927-1932, 1938 e 1940), Diário
Popular de Curitiba (1946) e Gazeta do Povo (1930-1988) e excerto do Diário Oficial
do Estado do Paraná; além de leis e decretos, de relatórios da Faculdade de Medicina
do Paraná e de Secretários de Estado paranaenses, de mensagens de Presidentes do
Paraná e de estatísticas sanitárias, bem como as revistas Arquivos (do Hospital de
Crianças “Cesar Pernetta”), Archivos Paranaenses de Medicina, Paraná Medico e
Revista Médica do Paraná e da publicação dos Annaes da Faculdade de Medicina
do Paraná.
Fonte amplamente utilizada pelos historiadores nas últimas décadas, o jornal é
um locus privilegiado para os pesquisadores da educação perceberem os meandros
cotidianos dos processos educativos, no caso das questões relacionadas à saúde isto
se evidencia em vários estudos, entre outros os de Bertucci (2003, 2004), Ganz (1997),
Marques (2003), Sigolo (1998). Como lembra Vieira, “o jornal – entendido como lugar
de produção, veiculação e circulação dos discursos – assume uma função importante
no processo de formação das representações sobre o mundo” (2007, p.16).
Ainda sobre o estabelecimento das fontes, Certeau chama a atenção para o fato
de que “não se trata apenas de fazer falar estes “imensos setores adormecidos da
documentação” e dar voz a um silêncio, ou efetividade a um possível” a pesquisa
histórica deve operar uma redistribuição do espaço, dando-se um lugar “(...) por uma
ação instauradora e por técnicas transformadoras” (1982, p. 83).
Desta forma, a presente pesquisa
57
(...) não mais parte de “raridades” (restos do passado) para chegar a uma síntese (compreensão presente), mas (...) parte de uma formalização (um sistema presente) para dar lugar aos “restos” (indícios de limites, e portanto, de um passado que é produto do trabalho) (CERTEAU, 1982, 83).
A opção pelo recorte temporal, 1956 a 1988, é balizada pela fundação por
médicos e voluntários da Associação Hospitalar de Proteção à infância Dr. Raul
Carneiro no ano de 1956 e se encerrará em 1988, ano do convênio entre a Associação
Hospitalar Dr. Raul Carneiro e as Secretaria de Estado da Educação e Secretaria
Municipal de Educação de Curitiba que implantam o projeto de educação para a criança
hospitalizada.
A inauguração oficial do prédio do Hospital de Crianças na rua Silva Jardim, entre
as ruas Desembargador Motta e Brigadeiro Franco em Curitiba, aconteceria no início de
1930 (FACULDADE DE MEDICINA DO PARANÁ, 1929, p.42). Em novas instalações,
com a estreita parceria entre a Cruz Vermelha Paranaense e a Faculdade de Medicina
do Paraná, o número de pacientes aumentou e a complexidade dos tratamentos
também, o que concorreu para que seções/consultórios diferenciadas de atendimento
especializado fossem organizadas no Hospital. Paralelamente, atividades filantrópicas
continuaram a permear as ações para a saúde de crianças capitaneadas pela Cruz
Vermelha Paranaense, tais como distribuição de remédios e comida e a instrução de
mães e filhos.
Segundo Marcílio (2006) o termo “filantropia”, de forma geral, ilustra “o conjunto
das obras sociais, caritativas e humanitárias de iniciativa privada”. Essas obras,
confessionais ou não, não teriam, de forma especifica, finalidade missionária
(MARCÍLIO, 2006, p. 73). Discussão minuciosa sobre caridade, filantropia e
assistencialismo, foi realizada, além de Marcílio, 2006, por Kuhlmann Jr., 2004.
No caso do Instituto de Higiene Infantil e das instituições a ele associadas, e
depois do Hospital de Crianças, a participação médica e a colaboração estatal se
evidenciam.
É preciso considerar que, no período dessas organizações múltiplas, diferentes
ideias sobre criança permeavam as ações que eram debatidas e implantadas, o que nos
leva a questão da classificação das idades da vida; classificações que variaram ao longo
dos séculos e que “passaram a ser associadas não apenas a etapas biológicas, mas
também a funções sociais [como a chamada infância]” (FERREIRA; GONDRA, 2007, p.
129). No século XIX, uma das mais difundidas classificações das etapas da vida é a de
Hallé, que foi formulada em 1787 por Jean-Noël Hall, higienista e professor da
Faculdade de Medicina de Paris (FERREIRA; GONDRA, 2007, p. 133), segundo a qual
a primeira infância compreende as idades de 1 a 7 anos e a segunda infância (puerícia)
58
as idades de 7 a 15 anos para os meninos e de 7 a 13 anos para as meninas. Becquerel,
professor agregado da Faculdade de Medicina e médico do Hospital de Paris em 1864
(FERREIRA; GONDRA, 2007, p. 132), por sua vez, indica como primeira fase a época
do nascimento, como segunda fase ou primeira infância, o período que vai de 0 aos 2
anos, e como terceira fase ou segunda infância, dos 2 aos 12/15 anos. Segundo
Monarca (2001, p. 1), entre o final século do XIX e início do XX a infância compreendia
o período de zero aos sete anos e era caracterizada por “um período da vida humana
em que a criança é incapaz de falar de si mesma e de discernir, encontrando-se
totalmente dependente do adulto.” Será este o público mais atendido no Instituto de
Higiene Infantil que precederia o Hospital de Crianças da Cruz Vermelha Paranaense.
Para Faria, “educação e assistência são complementares, pelo menos quando
se fala dos pobres no capitalismo, e principalmente quando se trata de criança pequena”
(1999, p. 73). Especialmente na segunda metade do século XIX, as transformações na
medicina, pouco a pouco, concorreram para que se ampliasse a atenção com a criança
e se estruturasse a relação médico-criança-mãe, que extrapolou o tratamento de
enfermidades e adentrou o campo educacional.
Em Curitiba, o atendimento médico disponibilizado à população nas primeiras
décadas do século XX, perpassava este complexo de preocupações filantrópicas que
envolvem médicos, estado, crianças e mães, imprimindo à educação um papel
determinante e fundamental. É nessa perspectiva que podemos entender a
transferência, em 1930, da Escola de Puericultura, que priorizava a instrução das mães
no cuidado com a alimentação e a saúde de seus filhos, para o novo prédio construído
para atender às crianças: o Hospital de Crianças da rua Silva Jardim. A Escola de
Puericultura sofreria modificações e seria efetivamente instalada no local no dia 1º de
junho com o nome de Escola de Mãezinhas (Gazeta do Povo, 31/05/1930, p.6;
MACEDO, 1978, p. 12).
3. A guisa de conclusões
A historiografia (...) consiste em fazer com que o discurso seja dotado de referencialidade, em levá-lo a funcionar como “expressivo” em autorizá-lo pelo viés do “real” e, enfim, em instituí-lo como suposto saber. Sua lei é ocultar o nada, preencher os vazios. O discurso não deve aparecer separado das coisas, nem deve ser revelada a ausência ou a perda a partir da qual ele se constrói.
CERTEAU, 2011, p. 111
59
Apesar das fontes divergirem, jornais curitibanos informam como data de
inauguração do Hospital de Crianças o dia 2 de fevereiro de 1930, relato da Associação
Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro (1993, p.1), indica o dia 31 de janeiro
de 1930; já Macedo (1978, p. 12) e Godoy (1992, p. 1; 1995, p.1) indicam o dia 11 de
fevereiro de 1930. Neste artigo a data utilizada para marcar a inauguração do Hospital
de Crianças será 2 de fevereiro de 1930. Sobre as razões que podem ter motivado a
divergência das datas, veja Avanzini, 2011. Segundo Macedo (1978, p.14), o Hospital
de Crianças, atendeu (apenas nos consultórios?), no primeiro ano de funcionamento,
1.258 crianças, período que também foram feitos 2.690 curativos (depois de consulta
ou não?) e 1.342 “exames bacteriológicos”. Difícil calcular o número geral de
atendimentos realizados no Hospital. Além disso, os médicos distribuíram 3.557
receitas, dado que induz a suposição que vários pacientes podem ter obtido mais de
uma receita ao longo do ano. Em 1932, o Hospital de Crianças teve, finalmente, suas
três primeiras enfermarias inauguradas, marcando definitivamente seu atendimento
hospitalar (isto é, com a realização de internamentos) e não apenas ambulatorial.
Macedo informa que, “no ano seguinte após a inauguração [destas enfermarias],
registrava-se o internamento de 277 crianças” (1978, p. 14).
Após alguns anos de efetivo funcionamento das enfermarias, entre 1935 a 1937,
o Hospital de Crianças é cedido à Faculdade de Medicina do Paraná pela Cruz Vermelha
Paranaense. Com o encerramento do contrato, em 1938, o Hospital é doado,
definitivamente ao Estado do Paraná. Anos depois, em 1951, o governo do Estado
sanciona a Lei nº 633 que dá o nome de Hospital de Crianças Cesar Pernetta ao antigo
Hospital de Crianças da Cruz Vermelha.
O Centro de Estudos do Hospital de Crianças Cesar Pernetta é inaugurado em
junho de 1954, e em 1956 é instalada e fundada a Associação Hospitalar de Proteção
à Infância “Dr. Raul Carneiro”, que tinha por objetivo “promover meios para manutenção
e aprimoramento do Hospital de Crianças Cesar Pernetta” (GODOY, 1992), além de
proteger e assistir a “infância hospitalar, zelando pela saúde, o bem estar e as
necessidades da criança” (ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA
DR. RAUL CARNEIRO, 1993, p. 04).
Com o passar dos anos, outra nova grande ampliação do hospital é deflagrada
em 1971, quando é construído o Hospital Pequeno Príncipe no terreno anexo ao
Hospital Infantil Cesar Pernetta, à Avenida Iguaçu, terreno este solicitado para a
Secretaria da Saúde do Estado do Paraná e doado pelo Primeiro Secretário da
Assembléia de Deputados, o senhor Anibal Khuri (ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE
PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO, 1993, p. 05). Depois de oito anos, em
1979, o Hospital Infantil Cesar Pernetta é cedido em comodato pelo governo estadual à
60
Associação Hospitalar Dr. Raul Carneiro, que administrará os dois hospitais: Hospital
Pequeno Príncipe e Hospital Infantil Cesar Pernetta.
Em 1988 é firmado um convênio entre a Associação Hospitalar Dr. Raul Carneiro
e as Secretaria de Estado da Educação por intermédio do Secretário Belmiro Valverde
Jobim Castor41 e Secretaria Municipal de Educação de Curitiba com a liberação de uma
professora que iniciaria o atendimento educacional à criança hospitalizada. Como esta
prática de educação dentro de um hospital se desdobra? Quem eram esses professores
que atuavam dentro do nosocômio? Como o atendimento educacional acontecia
efetivamente? Outra parte da história do Hospital de Crianças de Curitiba que vale a
pena ser investigada e relatada.
Fontes e Referências
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO. Histórico de Família da obra: Hospital Pequeno Príncipe. Curitiba, (mimeo), 1993. (Biblioteca Hospital Pequeno Príncipe).
AVANZINI, C.M.V. As origens do Hospital de Crianças. Saúde e educação em Curitiba, (1917-1932). Curitiba, 2011. Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná. Mestrado (Dissertação em Educação).
BERTUCCI-MARTINS, L.M. “Conselhos ao povo”, educação contra a influenza de 1918. Cadernos Cedes. Vol. 23 nº. 59, p. 103-117, 2003
BERTUCCI, L.M. Influenza, a medicina enferma. Campinas: Ed. Unicamp, 2004.
BERTUCCI, L.M.; FARIA FILHO, L.M. de; OLIVEIRA, M.A.T. de. Edward P. Thompson: história e formação. 1. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
BLOCH, M.L.B. Apologia da história ou o ofício de historiador, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2001.
BOUREAU, Alain. Croire. Et croyances. In: DELACROIX, Charles et al. (dir.) Michel de
Certeau. Les chemins d’histoire. Bruxelas: Éditions Complexe, 2002, p. 125-140.
CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Artes de Fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
CERTEAU, Michel de. A história, ciência e ficção; Psicanálise e história e O “romance” psicanalítico. História e literatura. In: _______. História e psicanálise: entre ciência e ficção. Belo Horizonte: Autentica, 2011, p. 45-117.
CHARTIER, Roger. Estrategias y tácticas. De Certeau y las “artes de hacer”. In: Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin. Buenos Aires: Manantial, 1996, p. 55-72.
41 PARANÁ, 1989.
61
DELACROIX, Charles et al. Pourqoui Michel de Certeau aujourd’hui?. In: _____. (dir.) Michel de Certeau. Les chemins d’histoire. Bruxelas: Éditions Complexe, 2002, p. 13-22.
DEMARTINI, Z. de B.F. Crianças como agentes do processo de alfabetização no final do século XIX e início do XX. In: MONARCA, C. (org.) Educação da infância brasileira. Campinas: Autores Associados, 2001, p. 121-156.
Diário da Tarde 1938 e 1940 (Biblioteca Pública do Paraná).
Diário Popular de Curitiba 1946. (Biblioteca Pública do Paraná).
Diário Oficial do Estado do Paraná 1929. (Arquivo Público do Paraná).
FARIA, A.L.G. de. Educação pré-escolar e cultura: para uma pedagogia da educação infantil. Campinas: Ed. Unicamp; São Paulo: Cortez, 1999.
FACULDADE DE MEDICINA DO PARANÁ. Relatório do anno de 1929 apresentado à Congregação pelo Prof. Dr. Victor F. do Amaral e Silva, Diretor, em sessão de 3 de janeiro de 1930, p.36 - citação; mapas n.6 e n.11 – anexos (Biblioteca Pública do Paraná).
_________. Relatório do ano de 1934 apresentado à Congregação pelo Dr. Vitor F. do Amaral e Silva, Diretor, em sessão de 25 de janeiro de 1935. Curitiba: Tip. João Haupt & Cia, 1935 (Biblioteca Pública do Paraná).
_________. Relatório do ano de 1935 apresentado à Congregação pelo Dr. Vitor F. do Amaral e Silva, Diretor, em sessão de 10 de janeiro de 1936. Curitiba: Tip. João Haupt & Cia, 1936 (Biblioteca Pública do Paraná).
_________. Relatório do ano de 1936 apresentado à Congregação pelo Dr. Vitor F. do Amaral e Silva, Diretor, em sessão de 6 de janeiro de 1937. Curitiba: Tip. João Haupt & Cia, 1937 (Biblioteca Pública do Paraná).
_________. Relatório do ano de 1937 apresentado à Congregação pelo Dr. Vitor F. do Amaral e Silva, Diretor, em sessão de 4 de janeiro de 1938. Curitiba: Tip. João Haupt & Cia, 1938 (Biblioteca Pública do Paraná).
FERREIRA, A.; GONDRA J. Idades da vida, infância e a racionalidade médico: higiênica em Portugal e no Brasil (séculos XVII-XIX). In: LOPES, A., FARIA FILHO, L.M.; FERNANDES, R. Para a compreensão histórica da infância. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
Gazeta do Povo, Curitiba, 1932-1935, 1941. (Biblioteca Pública do Paraná e Museu Paranaense).
GANZ, A.L. Mães dialogam com médicos. In: TRINDADE, E.M. de C.; MARTINS, A.P.V. (org.) Mulheres na história: Paraná século 19 e 20. Curitiba: UFPR/DEHIS/Curso de Pós Graduação, 1997, p. 77-94.
GARCIA, Patrick. Un “praticant” de l’espace. In DELACROIX, Charles et al. (dir.) Michel de Certeau. Les chemins d’histoire. Bruxelas: Éditions Complexe, 2002, p. 219-234.
GODOY, O. F. de. Históricos do hospital - Resumos de 1917 a 1956. Curitiba, (mimeo.), novembro, 1992. (Biblioteca Hospital Pequeno Príncipe).
______________________. Hospital de Crianças Cesar Pernetta - Resumo de 1922 a 1995. Curitiba, (mimeo.), out. 1995. (Biblioteca Hospital Pequeno Príncipe).
62
HOBSBAWM, E. O sentido do passado; A volta da narrativa. In: Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 22-35; 201-206.
HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE, HPP. Histórico da fundação e números. Disponível em http://www.hpp.org.br. Acesso em 01/07/2015.
KUHLMANN JR, M. Histórias da educação infantil brasileira. Revista Brasileira de Educação. Fundação Carlos Chagas, São Paulo, nº.14, p.05-18, 2000. Disponível em: http://www.anped.org.br/rbe/numeros_rbe/revbrased14.htm. Acesso em 17/02/11.
______________________. Infância e Educação Infantil uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 2004.
LESTRINGANT, Frank Lectures croisées de Jean de Léry: à propôs du bréviaire de l’ethnologie. In: DELACROIX, Charles et al. (dir.) Michel de Certeau. Les chemins d’histoire. Bruxelas: Éditions Complexe, 2002, p. 55-75.
LOPES, K.R.; MENDES, R.P.M. & FARIA, V.L.B. de (org.) Livro de Estudo. Coleção Pró Infantil Unidade 3. Brasília: MEC. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2005.
MACEDO, Heitor Borges de. Hospital de Crianças Cesar Pernetta. Subsídios para a História do Hospital de Crianças. 1ª Parte, Período 1919 – 1956. Curitiba: [s.n.], 1978.
MAIGRET, Eric. Les trois héritages de Michel de Certeau. Un projet éclaté d’analyse de la modernité. Annales, mai-juin, 2000, nr. 3, p. 511-549.
MARCÍLIO, M.L. História Social da Criança Abandonada. 2ª Edição. São Paulo: HUCITEC, 2006.
MARQUES, V.R.B. História de higienização pelo trabalho: crianças paranaenses no Novecentos. Cadernos Cedes. Vol. 23 nº. 59, p.57-78, 2003.
NEGRÃO, A.M.M. Infância, educação e direitos sociais: “Asilo de Órfãs” (1870-1960). Campinas: Publicações CMU/UNICAMP, 2004.
PANDINI, S. A Escola de Aprendizes Artífices do Paraná: “Viveiro de homens aptos e úteis” (1910-1928). Curitiba, 2006. Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná. Mestrado (Dissertação em Educação).
PARANÁ. Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Estado do Paraná pelo Doutor Affonso Alves de Camargo, presidente do Estado, ao instalar-se a segunda sessão da 19ª legislatura. 1º de fevereiro de 1929. Curityba. (Arquivo Público Paraná).
PARANÁ. Mensagem à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná de 1988. Álvaro Dias, governador do Estado. 1989. Curitiba. (Arquivo Público Paraná).
SIGOLO, R.P. A saúde em frascos. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1998.
SILVA, S.C.H.P.da. De órfãos da gripe a trabalhadores. O Asilo São Luiz de Curitiba, 1918-1937. Curitiba, 2010. Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná. Mestrado (Dissertação em Educação).
THOMPSON, E.P. A miséria da Teoria ou um planetário de erros – uma crítica ao pensamento de Althusser. Editora Zahar, Rio de Janeiro, 1981.
_______________. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
63
TURINA, K.F.R. Escola Maternal: história, assistência e escolarização da infância em Curitiba (1928-1944). Curitiba, 2010. Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná. Mestrado (Dissertação em Educação).
VIDAL, Diana Gonçalves. Michel de Certeau e a difícil arte de fazer história das práticas. In: FARIA FILHO, Luciano Mendes (Org.) Pensadores Sociais e História da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, v. 1, p. 257-284.
VIEIRA, C.E. Jornal diário como fonte e como tema para a pesquisa em História da educação: um estudo da relação entre imprensa, intelectuais e modernidade dos anos de 1920. In: OLIVEIRA, Marcus, A. T. (org.) Cinco estudos em história e historiografia da educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 11-40.
WADSWORTH, J. E. Moncorvo Filho e o problema da infância: modelos institucionais e ideológicos da assistência à infância no Brasil. Revista Brasileira de História. Vol.19, nº. 37, set. 1999. <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010201881999000100006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 20/04/ 2011.
ZANCARINI-FOURNEL, Michelle. La prise de parole: 1968, l’événemente et l’écriture de l’histoire. In DELACROIX, Charles et al. (dir.) Michel de Certeau. Les chemins d’histoire. Bruxelas: Éditions Complexe, 2002, p. 77-86.
A INFÃNCIA EM FOCO: O CÓDIGO DE MENORES E OS MODELOS DE
INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NOS JORNAIS NA DÉCADA DE 1920
Profª Drª Sônia Camara Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em História da Educação e Infância (LIEPHEI)
Introdução
Sem ar, sem alimentação, Helena sacrificando os seus olhos e a sua saúde, trabalhava noite e dia, a agulha entre os dedos, como tantas costureirinhas, como milhares de outras costureirinhas, para a fortuna da elegante casa da Avenida e para enriquecer o generoso turco das prestações... Com sacrifício da mocidade e da existência da pequena Helena, o mundo não deixava por isso, de rodar, sobre si mesmo, todos os dias... Mas como uma flor que murchasse, a pequena operária ia impalidecendo, pouco a pouco, e ao redor dos seus olhos, grandes e largas manchas arroxeadas iam se formando. Magra, muito magra, muito anêmica, Helena tinha aspecto de velhice precoce, essa velhice que as próprias crianças miseráveis e mal alimentadas têm... Era uma velha antes de ter sido uma moça! (Constallar, 1995, p. 66).
A emergência do problema da infância, a partir de finais do século XIX e início
do XX, passou a compor o arsenal de questões que mobilizou a atuação de
64
reformadores sociais, médicos, escritores e advogados, envolvidos em pensar a
sociedade e, em particular as crianças vistas como vítima das ausências e dos
excessos por parte daqueles que lhes deveriam prestar proteção e cuidado. Se, por
um lado, as ausências se adjetivavam pelas faltas de escolas, de educação e de
assistência; por outro, os excessos se materializavam no abandono, na
criminalização precoce, no alto índice de mortalidade, no analfabetismo e na
exploração compulsória do trabalho e nas injustiças a que estavam submetidas as
crianças, especialmente, nos grandes centros urbanos onde a realidade social
plasmava um quadro de desamparo. Exemplar nesta direção é a crônica intitulada
A pequena operária, de Benjamim Constallat em que o autor "denunciava", nas
páginas do Jornal do Brasil, a realidade social de crianças e do seu abandono,
corporificada na história de Helena, pequena costureirinha que, como tantas outras
meninas pobres, trabalhava para sobreviver como operária.
A crônica expõe aspectos de uma realidade subterrânea que passou, a partir
de finais do século XIX, a ser percebida como um problema social. Neste contexto,
observa-se uma crescente sensibilização por parte de diferentes setores sociedade
com relação à situação da infância. Esta sensibilização indicia uma mudança de
mentalidade assente na idéia de que era imperioso denunciar, mas também agenciar
ações intervencionistas capazes de transformar a realidade social vigente.
Embora situações envolvendo abandono, delinquência e violência contra
crianças fizesse parte da cena urbana das cidades, desde o período colonial, com a
proclamação da República, em 1889, a questão recebeu um tratamento
diferenciado, mobilizada pelo desejo de se instituir a modernização e o progresso do
país. Embebidos por este ideal de transformação, projetos foram arquitetados, por
setores da elite, tencionando modificar o panorama social, político e econômico que
se descortinava como inóspito e desregrado.
Na cidade capital, a belle époque se afigurava como condição necessária
para a construção e incorporação de uma vida elegante e própria às elites. O ideal
de país que se descortinava dos escombros das demolições era avesso à desordem,
à pobreza e à feiura. Entusiasta deste novo tempo, alguns jornais anunciavam o
alvorecer de um novo dia, onde: “temos ordem no progresso e as ordens prosperam.
Dissiparam-se os fantasmas que assustavam a burguesia. Ninguém mais está
preocupado com atentados ora que as companhias teatrais oferecem tantas
tentações [...] O Brasil vaga sereno e galhardamente em mar de rosas [...]” (apud
Needell, 1993, p. 39). Se, por um lado, o entusiasmo caminhava evolutiva e
progressivamente, a realidade, por outro lado, dava indícios do seu arrefecimento à
65
mudança sendo preciso superar as contradições sociais que marcavam a cena
urbana da capital do país.
Nesta direção, as reformas não deveriam se limitar apenas a paisagem
urbana, com a construção de ruas, de avenidas, de boulevard e o desmonte de
morros e casarões, era preciso incidir sobre os atores sociais incorporando-os ou
excluindo-os do convívio social. Se o cenário era favorável para as elites que viam
plasmar uma nova cena carioca, para os setores pobres da sociedade a cena era de
intervenção compulsória sobre suas formas de vida vistas como desregrada e
imprópria. Deste modo, o cenário da cidade capital, eivado por mazelas sociais,
envolvendo abandono e delinquência da infância contribuía, sobremaneira, para a
urgência na elaboração de ações intervencionistas e assistenciais acionadas pelo
crescimento da pobreza, da criminalidade e do medo. Nesta direção, afirma Mineiro
que:
A importância vital desse magno problema, a necessidade urgente de resolvê-lo, despertaram por toda parte o máximo interesse, que se vem desenvolvendo há cerca de três quartos de século, preocupando os sociólogos e os criminalistas, sendo objeto dos congressos de proteção à infância, dos penitenciários, dos de beneficência, os quais propuseram e votaram múltiplas e complexas soluções; e tem merecido em todos os países progressistas a decretação de leis especiais, a criação de iniciativas particulares fecundas, os cuidados de uma ação social sistemática, visando o nobre fim de amparar, preservar, educar e regenerar os menores abandonados e delinquentes, para os tornar membros úteis e honrados da sociedade (1929, p. 17).
Nesta direção, projetos foram concebidos visando provocar efeitos
preventivos e corretivos sobre a infância. No cenário internacional as questões
relacionadas à infância assumiram centralidade e importância como problema a
serem enfrentados pelas nações cultas e civilizadas. No Brasil, a questão foi pautada
pela intelectualidade que, afinada com essa bandeira, fez ecoar projetos
direcionados a promover sua assistência e proteção.
Foi neste contexto que ações visando constituir uma legislação própria para
a infância plasmaram-se. Mobilizadas pela atuação de Lopes Trovão, em 1902; de
João Chaves, em 1912; de Alcindo Guanabara, em 1906 e 1917 construíram-se
esforços objetivando compor a elaboração de um ordenamento jurídico com relação
ao Direito da criança no Brasil. As propostas elaboradas por estes legisladores
configuraram-se como as primeiras tentativas efetivas em direção à composição de
uma legislação destinada à infância. Embora relegadas ao arquivamento pelas
comissões legislativas da Câmara de Deputados e do Senado, as idéias que as
66
organizaram no que tange a institucionalização, assistência e proteção à infância
permaneceram alimentando as discussões e os debates nos meios científicos e
políticos das décadas de 1910 e 1920.
Deste modo, compreendendo a infância abandonada como a "sementeira do
crime” (Mineiro, 1929, p. 17), setores da elite perspectivaram o futuro como
possibilidade de se construir um destino glorioso ou infame para as crianças do país.
Mediante uma atuação sistemática e orientada a ser realizada pelo Estado brasileiro,
defenderam e argumentaram em prol de ações de intervenção sobre o “presente”
lastimável e condenável das crianças. Adepto desta corrente de pensamento, o ex-
delegado de polícia do Distrito Federal, Alfredo Pinto que assumiu o Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, na gestão do Presidente Epitácio Pessoa (1919-1922),
pôde compor condições favoráveis para a promoção de leis protetoras da infância.
Consideramos que a implementação de um movimento embrionário em
direção à composição do Código de Menores de 1927, bem como para o convite
formulado ao ex-deputado, professor, advogado e criminalista, José Cândido de
Albuquerque Mello Mattos para subscrever uma proposta de substitutivo ao projeto
que tramitava na Câmara dos Deputados, apresentado, anteriormente, por Alcindo
Guanabara, deve ser compreendida e pensado na injunção destes acontecimentos.
O projeto, de autoria de Mello Mattos, foi submetido a uma comissão,
composta pelos professores Carvalho Mourão e Esmeraldino Bandeira, pelo
desembargador Nabuco de Abreu, pelo Juiz Alfredo Russel, pelo Pretor Edgar
Costa, pelos advogados Astholpho Rezende, Evaristo de Moraes e Baltazar da
Silveira; pelo Médico Moncorvo Filho, pelo Deputado Federal Deodato Maia e pelo
Diretor da Escola Quinze de Novembro, importante instituição de atendimento à
infância da capital do país, Franco Vaz. Após a adoção de emendas por esta
comissão, o substitutivo foi aprovado (Mineiro, 1929, p. 20).
Em sua formulação, o substitutivo previa a criação de instituições e de
aparatos legais no âmbito da proteção, da assistência e da regeneração do menor.
O decreto número 16.272 de 20 de dezembro de 1923, autorizou o governo a
organizar o Serviço de Assistência e Proteção à Infância Abandonada e Delinquente
estabelecendo, também, a criação do Juízo de Direito Privativo de Menores, do
Abrigo para recolhimento dos “menores” e de outros dispositivos complementares.
Por intermédio de aparatos, incorporados ao projeto, instituíram-se um corpo de
regras e procedimentos que, aplicados, constituíram-se nas primeiras ações em
direção à afirmação de uma legislação geral de proteção à infância tendo como
67
canteiro inicial de sua implementação à cidade do Rio de Janeiro, então capital do
país.42
Para efeito deste artigo interessa-nos menos os debates políticos travados
no Senado e na Câmara dos Deputados, ou ainda as negociações e enfrentamentos
que, de certo, estas questões causaram na cena política nacional. Interessa-nos,
especialmente entender a tessitura tramada pela intelectualidade envolvida com
este debate naquilo que foi dado a ver pela imprensa da época no que tange a
institucionalização da infância. Para o interesse desse artigo priorizamos as matérias
que circularam no período de efervescência dos debates acerca do Código de
Menores (1926-1927). Nesta perspectiva interpretativa, estaremos mapeando os
debates que circularam pelos jornais cariocas, em particular as discussões
relacionadas a elaboração e a implantação do Código de Menores, nos anos
anteriores a sua promulgação em 1927. Com esse intuito procuramos captar a
atuação e as redes de sociabilidades tecidas pelos intelectuais que, a exemplo de
Mello Mattos mobilizaram esforços em nome da proteção e da salvaguarda da
infância fazendo da imprensa, da época, um veículo privilegiado de circulação de
idéias.
Assim, a análise dos jornais de época nos permitem afiançar que as idéias e
as ações propostas, a partir dos debates que culminaram com a promulgação do
Código de Menores, encontravam-se em consonância com as discussões realizadas
no Brasil e em diferentes países da Europa e das Américas por intelectuais
envolvidos com a causa da infância. De tal modo, o trabalho de sistematização, de
leitura e de problematização das matérias publicadas em jornais de época, como: O
Paiz, Vanguarda, A Noite, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, O Brasil, Gazeta de
Notícias, A Notícia, O Imparcial, Jornal do Commercio, A Cruz, entre outros,
possibilitam compor uma interpretação que consideram o papel assumido pela
imprensa na produção de representações das infâncias, do juiz, bem como das
ações tutelares e educativas implementadas pelo Estado durante a década de 1920.
As fontes documentais, as quais este artigo busca enfatizar são constituídas
por catorze álbuns de recortes de jornais do antigo Juízo Privativo de Menores,
localizado no Rio de Janeiro. As matérias selecionadas na composição dos álbuns
trazem como balizas temporais: julho de 1918 a maio de 1957. Com organização
inicial promovida pelo primeiro Juízo Privativo de Menores do País, os álbuns
reúnem 2.076 recortes de jornais distribuídos por cerca de vinte órgãos de imprensa.
Entre as temáticas tratadas pelas matérias é possível identificar, entre outros
42 Para o aprofundamento desse debate, conferir o trabalho de Camara (2010).
68
aspectos, a situação da infância pobre na cidade, os debates e os embates
intelectuais acerca do tema, as iniciativas adotadas pelo Juízo em “prol da infância”
delinquente, abandonada e pobre, as instituições criadas, entre outros temas
associados a questão em foco.
A demarcação de 1918, do álbum de número 1, aparece de maneira pontual
com a presença de uma única matéria publicada pelo jornal português, A Época,
datado de 03 de junho, sob o título “Uma grande deferência ao Brasil – o convite
feito ao senhor dr. Mello Mattos”. Com apenas seis linhas, a notícia da conta de
informar o convite feito ao advogado brasileiro que se encontrava em Portugal para
colaborar na elaboração do projeto das escolas correcionais daquele país. Parece-
nos que a presença dessa notícia, fixada na parte superior direita do livro, logo após
uma sucessão de cinco materiais referentes a atuação de Mello Mattos no Instituto
Benjamim Constant, pode indiciar a preocupação em se registrar e enfatizar o
envolvimento e o compromisso do futuro Juiz, quando atuava, concomitantemente,
como diretor do Instituto Benjamim Constant e redator do projeto em discussão na
Câmara e no Senado brasileiro.
Vale destacar, todavia que, o recorte de jornal que abre o livro é uma
fotografia de Nossa Senhora da Criança, produzida e publicada pelo O Jornal. A
fotografia registrava a entronização da imagem da Santa na Casa Maternal Mello
Mattos, instituição criada pelo Juiz, em 1924. Procurando articular esses e outros
fios que surgiram com o trabalho, defendemos que a análise mais geral do material
abre variadas frentes de pesquisa no que se refere a compreensão das instâncias
de atendimento à infância na cidade, bem como dos debates, das estratégias e das
tensões que envolveram a produção e elaboração do Código.43 Em sua organização
inicial não é possível identificar a autoria dos álbuns de recortes, no entanto pela
presença de matérias que antecedem a criação do Juízo (1918), trabalhamos com
a hipótese que a idéia de sua organização tenha partido do Juiz ou de sua esposa
Dona Francisca Mello Mattos e, permanecido, após a sua morte, em 1934, por
funcionários do Juízo. Aspecto que nos ajuda a explicar a sua abrangência (1918-
1957).
Estaremos, então, trabalhando com a hipótese de que a composição dos
álbuns de jornais podem trazer indícios significativos acerca do movimento instituído
pelo juiz no sentido de captar os efeitos de sua atuação. Nesse sentido, a análise do
material não somente indicia a preocupação do Juiz em manter-se informado quanto
43 Atualmente o grupo de pesquisa que coordeno vem se dedicando na produção do inventário desse
material, bem como da análise minuciosa das matérias reunidas nos álbuns. Todo o material já foi digitado
e sistematizado pela equipe de pesquisa.
69
aos debates e repercussões das medidas implementadas na cidade, constituindo-
se num aspecto importante para redimensionar suas estratégias de ação, mas
também como intenção de construir uma “memória” acerca das iniciativas
empreendidas à frente do Juízo. Nas duas direções expostas, acreditamos que as
iniciativas surtiram efeito. A análise do material permite acompanhar diversas
respostas produzidas pelo juiz às críticas recebidas por jornais que se colocavam
acéticos as medidas encampadas pelo Juízo; por outro o material permite, ainda, de
maneira significativa trazer à luz aspectos referentes aos debates enfeixados
durante a sua magistratura, bem como as iniciativas implementadas na remodelação
dos serviços de assistência aos “menores” abandonados e delinquentes nas
primeiras décadas republicanas no país, sendo sensível as falas que ecoaram
destes sujeitos anônimos: as crianças.
A construção da legitimidade: Como os jornais anunciavam a questão?
Acaba de ser nomeado, em virtude da reforma judiciaria, agora posta em execução o Dr. José Candido de Albuquerque Mello Mattos. A individualidade agora nomeada para a magistratura local é uma daquelas que se impõem à admiração de seus compatriotas, pelos seus altos dotes de espírito e de coração. Desde cedo o Dr. Mello Mattos ingressou na magistratura. Mal terminara o seu curso jurídico, foi nomeado promotor público da comarca de Queluz, Minas Gerais. Ali pouco se demorou. Era em breve nomeado para idêntico lugar na Capital da República. O Rio era um campo vasto para o jovem magistrado se expandir. Dotado de um talento superior, de uma solida cultura, com o espírito cheio de entusiasmo, apaixonou-se pela vida agitada do foro, pelo brilho da política (Gazeta de Notícias, 03/02/1924).
Reconhecido por sua atuação no campo do Direito e por suas iniciativas em
defesa da infância, bem como pelas relações políticas enfeixadas, Mello Mattos
assumiu, a 02 de fevereiro de 1924, o cargo de primeiro Juiz de Menores do Distrito
Federal e, por conseguinte, do Brasil. A matéria publicada pelo jornal A Gazeta44,
no dia de sua nomeação, enfatizava as características exemplares personificadas
na figura do eleito para assumir o lugar de Primeiro Juiz. Com o subtítulo Uma
acertada escolha do governo, o jornal apresentava à população carioca, leitora do
vespertino, uma biografia que abarcava a sua atuação como Juiz de Direito,
advogado criminal, político, professor e benemérito da infância. A sua autoridade e
competência advinham da trajetória construída a partir da articulação dos
44 Outros jornais também seguiram essa orientação, como O Paiz, o Jornal do Brasil.
70
conhecimentos teóricos, acumulados com estudos, formação acadêmica e prática
forjada no exercício do Direito e da docência.
No entanto, é interessante observar, que as qualidades destacadas pela
imprensa não foram atributos “suficientes” para mobilizar a aprovação do seu projeto
no Senado. O espaço da política exigiu dele outras competências próprias a este
campo, sendo necessário articular uma rede de sociabilidade (Sirinelli, 2003) que
envolvia os senadores simpáticos à questão, entre eles, Mendonça Martins, Silvério
Nery, Pereira Lobo, Euzébio de Andrade e Eurípedes de Aguiar. A partir dessa
composição o projeto que, com base no Decreto de 1923, ampliava o campo de
atuação dos órgãos já constituídos, criando instituições disciplinares destinadas ao
atendimento dos menores delinquentes e abandonados, foi aprovado (O Paiz,
09/07/1925).
Às qualidades enaltecidas pela imprensa foram associadas as que Mello
Mattos defendia como essenciais ao juiz. Para ele, o juiz deveria ter uma formação
dotada, não somente de conhecimentos jurídicos, mas também, psicológicos,
psiquiátricos, pedagógicos e sociológicos. Assim, a justiça que se pretendia
corporificar na cidade, com a criação do Juízo e de suas instituições
complementares, envolvia a intenção de promover a intervenção no social através
de um esforço, não somente em demarcar a infância como território de sua
competência, mas também como forma de normalizar as relações sociais por
intermédio de medidas protetoras, preservativas e regeneradoras. Deste modo, o
Juízo Privativo de Menores foi organizado como órgão centralizador na elaboração
de iniciativas de intervenção, controle disciplinar e normatizador dos assuntos
atinentes à infância.
Partindo desta compreensão, Mello Mattos asseverava que a justiça para as
crianças não poderia ser feita de direitos, mas também de caridade, indulgência e
bondade, uma vez que, era imperioso suprir as suas carências fundamentais. Ao
firmar o caráter de caridade às práticas implementadas, o que ocorreu foi a
transmutação do que deveria caracterizar-se como direito da criança em favor. Deste
modo, as ações empreendidas pelo Juiz Mello Mattos investiram-se fortemente de
um caráter assistencial a ponto de ser denominado como “o pai das crianças pobres”
(Revista da Semana, 18/12/1926). Imbuindo-se desta missão e tendo como "bordão
de sua judicatura, a máxima cristã, Deixai virem a mim as criancinhas" (Revista da
Semana, 18/12/1926 apud Camara, 2010), o Juiz Mello Mattos personalizou as
iniciativas no campo da proteção e assistência à infância, constituindo-se, a partir de
então, como referência e padrão a ser seguido pela justiça privativa de “menores”,
no país. Neste particular, a criação da imagem de Mello Mattos como “pai”, “ protetor”
71
e “guardião” da infância, personagem-símbolo45da proteção e assistência à infância,
constituiu-se, em minha compreensão como parte do processo de legitimação das
ações intervencionistas por parte do Estado.
Com matéria intitulada, O que vai pelo Juízo de Menores, o Jornal A Esquerda
de 11 de agosto de 1927, procurou descrever a rotina de um dia de trabalho do
Juízo, demonstrando a movimentação de pessoas que desfilavam diante do Juiz
com as mais diferentes reivindicações. Estas se desdobravam em pedidos de
providência, de conselhos, de emprego, de remédio, de esmola, bem como na
apresentação de queixas, pedidos de esclarecimentos de dúvidas e de internação,
na expectativa de facultar ao filho o acesso às primeiras letras e à aprendizagem de
um ofício ou, ainda, na falta de condições de mantê-los sob sua guarda. Ademais,
as crianças abandonadas, delinquentes e órfãos que chegavam ao Juízo era preciso
atender, também, as que, em função das dificuldades dos pais em educá-las, cuidar
e discipliná-las, solicitavam internação. Além da demanda diária do Juízo, com sua
dinâmica de audiências, despachos e processos, o Juiz empreendia um movimento
de exteriorização do Juízo, através das ações desenvolvidas nas diligências, visitas
e fiscalizações desempenhadas.
Atuando em várias frentes, visitando favelas, hospitais, organizando
diligências, fiscalizando as instituições de atendimento as crianças e as fábricas,
“capturando” “menores”, comunicando suas idéias e intenções pela imprensa,
divulgando os procedimentos com relação às denúncias de maus tratos, violências
e abandono, encabeçando campanhas para arrecadar recursos para criar
instituições, o Juiz Mello Mattos buscou reafirmar o seu poder e competência na
tutela da infância. Neste processo, alargou-se também a atuação do Juiz sobre as
famílias pobres num esforço preventivo que visava “cercar” o corpo delituoso ou em
risco de “vir a ser”. Com a implementação destas práticas na cidade, Mello Mattos
procurou demonstrar que sua atuação pautava-se pela proteção da causa da
infância. Ilustrativa desta intenção foi à imagem publicada na Revista da Semana.
Com título O pai das crianças pobres, a imagem suscita a idéia da proteção e do
amparo como tônicas presentes na ação do Juiz.
Com a materialização das medidas de assistência e proteção encaminhadas,
a partir de 192546, objetivou-se redimensionar o poder do Estado com relação às
45Quanto à noção de personagem-símbolo, cf. FREIRE, Américo, op. cit., p.121-122.
Neste movimento de criação da personagem-símbolo, Freire afiança que a imprensa assumiu um papel
fundamental tendo em vista a sua importância na produção de bens simbólicos identificados com o projeto
civilizador do poder central, p. 119.
46 Pelo Decreto 4.793, de 1924 ratificaram-se os dois decretos anteriores, passando estes a adquirirem força
72
famílias, estabelecendo a prevalência do juiz na salvaguarda, especialmente das
crianças da primeira idade. Neste processo, ocorreu a mudança do eixo de ação do
castigo identificado como forma de punir as crianças desviadas, abandonadas e
criminosas, para a noção de preservação, cuidado e recuperação do menor. Novos
critérios foram acionados a partir dos quais se conceberam a criação de espaços
educativos associados à lógica de preservação e de regeneração da infância.
No contexto dos debates pela sua aprovação o crescimento dos índices de
criminalidade, de abandono e de exploração a que estavam expostas às crianças,
apareciam como elementos capazes de justificar a adoção das ações judiciais e
tutelares por parte do Estado brasileiro. Nesse cenário, proliferaram discursos
“aguerridos” em nome da cruzada protetora da infância. Assim, o Código de Menores
não deve ser compreendido apenas como produto, strito sensu, dos debates
encampados pelo campo jurídico. A sua produção evidencia o predomínio desse
campo de saber na direção do processo de composição das legislações, sem deixar
de esboçar a confluência de propostas e intensões que estiveram inscritas e
associadas aos movimentos empeendidos em defesa de uma legislação para a
infância.
Deste modo, o Código de Menores constituiu-se como documento síntese
das idéias e lutas políticasque se realizaram no interior do campo jurídico e fora dele.
As concepções professadas, ao assumirem estatuto de lei foram içadas ao status de
legitimas e legais, configurando-se como expressão das aspirações de diferentes
setores da sociedade envolvidos com projetos de assistência social. Neste sentido,
a assistência social que se pretendia realizar, com as leis e ações empreendidas
pelo Estado, diferenciava-se da sua ideia original, onde segundo Mineiro:
[...] em nosso país como nos demais, originou-se do exercício da caridade, virtude privada, cujo funcionamento era assegurado por associações religiosas ou leigas, cujos recursos provinham das liberalidades dos particulares. Entendia-se que o Estado não tinha a obrigação de assistir aos desgraçados, aos que sofrem de qualquer das multiplas formas da miséria ou da doença. Atualmente, porém, e já desde algum tempo, está reconhecido e consagrado em leis dos paíse mais cultos, que é do poder geral do Estado dar uma assistência aos doentes e necessitados, mediante organização admitrativa, cuja extensão e aplicação serão determinadas em lei (Mineiro, 1929, p. III).
legal. Ainda em 1924, foram sancionados os Decretos 16.388, que criou o Conselho de Assistência e
Proteção aos Menores, como órgão complementar de assistência social, e o Decreto 16.444, que
regulamentou o Abrigo Provisório de Menores. Todos os projetos apresentados a partir de 1921 estiveram
sob a redação de Mello Mattos. Carvalho, Francisco Pereira. Reforma do Código de Menores. Rio de
Janeiro: Editor Borsoi, 1970, p. 8.
73
Para Mineiro, a assistência social a ser realizada não se confundia com a
beneficência privada. Nesta prerrogativa, cabia ao Estado o papel de guardião e protetor
das crianças, bem como de órgão competente na manutenção de uma rede de
assistência que deveria envolver diferentes modalidades de atendimento. O critério que
balizava a realização da lei encontrava-se fundado na sua proposição de conformar os
sujeitos ao fim que a lei se propunha, fosse pelas inclusões e ou exclusões construídas.
Firmando-se como uma legislação basilar, o Código procurou instituir uma organização
específica para a proteção à criança. Além de um abrangente sistema de normalização
das ações a serem encaminhadas pela justiça, designou os mecanismos que o Estado
deveria lançar mão para tecer uma rede de assistência de caráter preventivo, punitivo e
tutelar, corporificada pela ideia de criação de um movimento de regeneração da criança.
Neste particular, o Código de Menores pode ser compreendido como um regulador das
relações sociais.
Sustentado em uma compreensão da lei como um dispositivo capaz de
assegurar a funcionalidade das relações sociais, o Código de Menores foi concebido no
contexto de ações de manutenção da ordem e do bem estar social. Ao fixar os critérios
de judicialização da infância, o Código de Menores pretendeu prescrever e sistematizar
os aspectos voltados para a institucionalização da infância e das instituições
reafirmadoras de um projeto de nação e de construção de identidades.
As "crianças que matam" e as instituições assistenciais à infância
Mas é assombrosa a proporção do crime nesta cidade, e principalmente do crime praticado por crianças! estamos a precisar de uma liga para a proteção das crianças, como a imaginava o velho Júlio Valles... - Que houve de mais? - indagou Sertório de Azambuja, estirando-se no largo divã forrado de brocado cor de ouro velho. - Vê o jornal. Na Saúde um bandido de treze anos acaba de assassinar um garotinho de nove anos. É horrível! -Crime sem interesse... A menos que não se dê um caso de genialidade, um homem só pode cometer um belo crime, um assassinato digno, depois dos dezesseis anos. Uma criança está sempre sujeita aos desatinos da idade. Ora, o assassinato só se torna admirável quando o assassino fica e realiza integralmente a sua obra. Desde Caim nós temos na pele o gosto apavorador do assassinato (Rio, s.d. p. 38). Grifos nossos.
Em crônica intitulada As crianças que matam, João do Rio revela o olhar do
flâneur que percorrendo as ruas e os esconderijos da cidade captou, como Dante,
as profundezas do inferno47. Sua crônica nos permite captar aspectos relacionados
47 A referência é ao poeta Dante Alighieri em A Divina Comédia. O poeta foi evocado pelo cronista
74
a situação de abandono e naturalização do crime envolvendo as crianças pobres.
No livro Histórias da gente alegre, o cronista além de registrar o movimento das ruas
em suas múltiplas feições, expõe as concepções de infâncias circulantes e
atravessadas por contornos que passaram a caracterizar as crianças que deveriam
ser regeneradas e as que necessitariam ser protegidas. A representação de uma
infância como "desprotegidos da sorte", demonstra a consciência do observador que
atento as desigualdades sociais não deixou de registrar, documentar com sua escrita
a situação das prisões para onde muitas dessas crianças eram encaminhadas.
Apresentadas como "escolas de todas as perdições e de todas as
degenerescências", as detenções não se configuravam como espaço apropriados
para as crianças durante a década de 1920.
Pela imprensa denúncias foram veiculadas expondo o caráter preservativo
das medidas encaminhadas pelo Juízo de Menores com relação a situação das
prisões e a necessidade de instituições especificas para as crianças. Quanto às
práticas de castigos e de violências nos institutos disciplinares, observava-se ações
de resistência forjadas pelos “menores”. Estas se expressavam em fugas,
insubordinações e indisciplinas. Embora o Código de Menores negasse a sua
aplicação, estas foram perpetradas em diversos institutos disciplinares ligados ao
Juízo. Na esteira das denúncias noticiadas pela imprensa, os episódios envolvendo
a Escola João Luiz Alves e o Abrigo de Menores assumiram ampla repercussão,
exigindo do Juiz, medidas exemplares na investigação.
No caso da Escola de Reforma João Luiz Alves, as denúncias referiam-se
aos castigos realizadas pelo diretor do Estabelecimento, o Doutor Mário Dias que
adotava à palmatória em seus “alunos” como medida corretiva. Quanto ao uso da
palmatória nos internos, este alegou que o seu uso visava incutirmos “menores” o
receio em cometer atos considerados de indisciplina e de resistência escolar. De
posse da denúncia, o Juiz procedeu à abertura de inquérito, chamando os internos,
vítimas dos castigados e os que foram testemunhas das ações sofridas para
deporem (O Jornal, 10/04/1927).Diante da confirmação das denúncias, o Presidente
da República Washington Luís exonerou o Doutor Mário Dias do cargo de Diretor.
A ação empreendida visava dar mostras da imediata atuação do Juízo na
apuração dos fatos, bem como da mais rápida punição dos culpados. Aspecto como
este denegria a imagem construída acerca das medidas que vinham sendo
colocadas em curso no Distrito Federal, podendo, inclusive comprometer a
promulgação definitiva do Código que estava sendo votado no Senado. Neste
em seu movimento de descida ao inferno dos submundos da cidade-capital.
75
sentido, era importante reforçar o caráter “firme” e “imparcial” da Justiça, no
encaminhamento da questão (A Noite, 26/04/1927). É importante observar, ainda,
que em todos os casos analisados, a figura do Juiz aparecia preservada de qualquer
crítica, sendo elogiada a postura investigativa e “imparcial” apresentada. Um mês
após as denúncias de castigos, realizados na Escola João Luís Alves, vieram à tona
alguns casos envolvendo o Abrigo de Menores, dirigido pelo Doutor Raul Leite que
foi suspenso de suas funções pelo Ministro da Justiça.
É a esse magistrado que inúmeras criancinhas outrora atiradas a criminoso abandono devem hoje o abrigo e o zelo que lhes são dispensados. Graças a sua ação humanitária e enérgica, aqueles entesinhos que há largos passos marchavam para o abismo do crime, no qual fatalmente se precipitariam, estão salvos e serão criaturas úteis à pátria. Agora mesmo tendo ordenado a abertura de rigoroso inquérito sobre o espancamento de dois menores recolhidos no Abrigo de Menores, a Rua Francisco Eugênio, o aludido magistrado terminou por apurar a responsabilidade criminal de alguns funcionários daquele estabelecimento, funcionários que imediatamente foram demitidos, sendo que o respectivo diretor foi suspenso por trinta dias.
Bem, se vê, portanto, que a atitude do Doutor Mello Mattos, em favor das criancinhas que lhes são confiadas, é verdadeiramente irrepreensível (O Brasil, 19/05/1927).
Além das denúncias de castigos, o Abrigo de Menores, criado como instância
intermediaria do Juízo,vinha sendo alvo de críticas da imprensa que, em observância
ao que determinava o Código de Menores, chamava atenção para as formas como
a instituição funcionava. Segundo O Jornal, o que se tinha no Abrigo era um triste,
vergonhoso e reprovável espetáculo, onde “menores” inocentes eram condenadas
a viver na mais completa “comunhão” com “menores” viciosos e delinquentes,
transformando-se numa escola de corrupção. Com superlotação, encontravam-se
os “menores”, ali internados, sujos, malvestidos, rotos, descalços, mal alimentados
e sem camas para dormirem. Nesta situação, muitas crianças eram obrigadas a
dormirem no chão, expostas à umidade, poeiras e “[...] a emanações do assoalho
imundo, que raramente era varrido. O Diretor [...] apertado pela falta de lugares nos
dormitórios, chegou a permitir que dois e três menores dormissem no mesmo leito,
imoralidade que cessou devido à intervenção do Juiz [...]” (O Jornal, 12/05/1927).
A aprovação do Código de Menores representou, enfim, a possibilidade de
se firmarem as leis de assistência e proteção à infância, consolidando e
prescrevendo medidas premonitórias, pedagógicas e normatizadoras, todavia era
preciso assegurar a observância dos direitos a que as crianças passavam a ter.
Nesse sentido, o código buscou asseverar a importância das instâncias legais de
intervenção sobre a infância pobre, delimitando o terreno de atuação jurídica e
76
assistencial, bem como as competências dos órgãos e instituições na ordenação das
relações sociais. Implementaram-se, assim, novas práticas sociais que assentes
sobre princípios moralizantes, pedagógicos, higiênicos e regeneradores visavam
estabelecer um movimento de intervenção tutelar sobre a infância.
O Código de Menores ocupar-se-á da Assistência e proteção destes, desde o nascimento até a maioridade, habilitando a autoridadepública a acompanhá-los em todas as fases do seudesenvolvimento e educação, amparando-os nas dificuldades da vida acudindo aos maltratados, preservando dos mauscontágios os inocentes, arrancando os pervertidos dos vícios e dos crimes (O Paiz, 09/07/1925).
Paralelamente aos embates produzidos no Senado, pela aprovação da Lei,
jornalistas, juristas e médicos realizavam campanhas e congressos em prol da causa
da infância. Nesses eventos, firmaram, entre as suas disposições, a importância em
se organizar uma legislação de assistência e proteção à infância para o país.
Exemplares nesta direção, foram o Primeiro Congresso Brasileiro de Assistência e
Proteção à Infância e o Congresso Jurídico Comemorativo da Independência do
Brasil, ambos realizados por ocasião dos festejos comemorativos do Centenário da
Independência, no Rio de Janeiro, em 1922. Por outro lado, cotidianamente, os
jornais noticiavam casos de abandono, de exploração e de maus tratos envolvendo
os “deserdados da sorte” que perambulavam errante spela cidade, bem como da
urgência em se urdir uma legislação protetora para a infância.
A esse respeito, observam-se, nos periódicos em circulação destaque especial
para as situações envolvendo a infância considerada deserdada da sorte,
particularmente para a que se encontrava em situação de abandono. Procurando
compreender seus comportamentos, lançaram explicações acerca do seu devir, de
seu lugar na sociedade, instituindo os referenciais mediante os quais as
representações acerca da infância marginal encontravam-se associadas ao
desenvolvimento e alterações das normas e valores da sociedade.
O que considero importante afirmar, é que na composição do mosaico social
em que estiveram entrelaçadas diferentes concepções de infância, a imprensa
assumiu um papel fundamental na produção de determinadas representações de
infância, bem como na socialização do “terror”, como aspectos, a partir dos quais,
práticas discricionárias foram justificadas em prol de um projeto civilizador para o país.
Publicações, invariavelmente, davam conta da insatisfação da população com os
comportamentos indesejáveis das crianças que proferindo palavrões e apedrejando
pessoas, reuniam-se nas vias públicas, promovendo desordens à moralidade das
famílias, como também provocando prejuízos aos interesses privados.
77
Portanto, as ocorrências envolvendo crianças, povoavam o imaginário da
época reforçando a idéia de que era preciso reprimir os maus exemplos, o abandono
e a exploração, expressas pela indústria da esmola e pelo caftismo disfarçado a que
estavam expostas e subordinadas as crianças. Nesta direção, o caso do menino de
oito anos de idade que, acometido de uma grave deformidade, era levado a esmolar
frequentemente em companhia de uma mulher que o tomara para criar quando órfão
de mãe e abandonado pelo pai, transformando-o em “fonte de renda, [...] pelo horror
que causava o seu aspecto”, é indicador do caráter de denuncia promovido pela
imprensa, mas permite também captar as artimanhas de que os setores populares
lançavam mão na luta subterrânea pela sobrevivência (Diário Carioca, 22/05/1929).
O clima político, municiado pelas condições em que se encontrava a infância,
como também, pelos conflitos sociais e crise econômica do país, davam mostras da
importância e da emergência que as questões em torno das medidas de proteção e
assistência à infância assumiam, como é demonstrativo o fragmento extraído da
Revista ABC de 16 de agosto de 1924, quando afirma ser urgente se definir uma
legislação que " [...] de acordo com os modernos criminalistas e sociólogos", criasse
”uma jurisdição nova e racional para a infância abandonada e delinquente excluindo
do Direito judiciário das tramas do nosso obsoleto Código Penal para um regime de
proteção e reforma moral" (Revista ABC, 16/08/1924).
Como veículo de circulação e de promoção dos ideais civilizatórios, a
imprensa assumiu, por um lado, o papel de “agente produtor de bens simbólicos”
(Freire, 2003) e pedagógico, uma vez que possibilitou promover e fazer circular os
debates acerca da legislação e da produção das representações das infâncias; por
outro atuou como “porta voz” dos discursos voltados para a sua “salvaguarda”. Deste
ponto de vista, o problema da infância constituiu-se como urgente e, portanto, como
pedra fundamental de um projeto de modernização do país.
Neste sentido, a análise dos jornais selecionados, indiciam a existência de
tendências que se esboçavam, em minha compreensão, em pelo menos três
direções: a primeira relativa a um caráter crítico presente no pensamento jurídico,
da época. Esta crítica se direcionava a um amplo leque de questões que se
materializavam nas precárias condições das instituições de atendimento à infância
existente no Brasil, aos malefícios causados pelas prisões comuns à infância, às leis
penais em vigor, a exemplo do Código Criminal de 1890. A segunda direção referia-
se à compreensão de que a saída para o problema existente encontrava-se
assentada na organização de legislações especiais para a infância e na promoção
e tutela do Estado na proteção e assistência à infância como elemento de progresso
do país. Com este propósito defendia-se a atuação dos setores públicos e privados
78
em prol da causa da infância e em nome do bem estar social. Por fim, a terceira
direção indiciava a importância atribuída pelo campo jurídico à educação e ao
trabalho como elementos capazes de realizar a regeneração, preservação e
proteção à infância.
É preciso que o estado institua e organize obras de assistência, de previdência e de beneficência sociais, destinadas a zelarem os interesses materiais e morais da população. Em todos os países cultos de uns trinta anos numerosas obras têm sido feitas com o intuito de socorrer as partes fracas da sociedade, leis tendentes a diminuir a miséria humana, imbuídas de espírito cristão. [...] Obedece a tão elevada e salutar ordem de desígnios a fundação do Juízo de menores, cuja missão é exatamente a assistência, proteção, defesa, vigilância, educação dos menores abandonados, material ou moralmente, martirizados, vadios, vagabundos, mendigos, viciosos e delinquentes, de ambos os sexos até a idade de 16 anos (Jornal do Brasil, 12/02/1924).
O título de Código de Menores, para a legislação, expressava a intenção de
seu elaborador, no sentido de criar uma lei que unificasse todas as disposições
legislativas e regulamentares com relação aos menores. Entre os princípios centrais
deste esforço condensador, firmou-se a abolição da tese do discernimento como
base de julgamento; a regulamentação do trabalho da criança; a modificação do
pátrio poder; a primazia do Estado como instância legítima na proteção e guarda da
infância; a preponderância do Juiz de Menores, como autoridade competente e
autorizada; a extinção da pena; a supressão da prisão e sua substituição por
institutos disciplinares, bem como a concessão da liberdade vigiada. Concebidas
como medidas de segurança e proteção, tais iniciativas visavam suplantar o sentido
penal revestindo-se de caráter pedagógico e tutelar (Mattos apud Mineiro, 1929, p.
VIII).
A assistência pública proposta pelo código, como esclarece Mello Mattos,
distanciava-se do exercício da caridade ou da virtude privada, associada às
associações religiosas ou leigas. Firmava-se, então, o predomínio do Estado,
mediante a organizaçãoadministrativadeterminadaporlei, sem, no entanto, dispensar
o papel da beneficência privada como auxiliar ao processo. Portanto, além de se
prestar auxílio e proteção legal à criança dever-se-iam criar instrumentos capazes
de intervir, por meio das medidas preventivas e corretivas, na regeneração das
crianças em nome dos interesses da nação. Ao objetivar tecer os argumentos
racionais e científicos que alicerçavam o Código e afirmavam a suapremência, o Juiz
Mello Mattos traçou uma cartografia minuciosa sobre o problema e as causas
principais que contribuíam para o abandono e a delinqüencia, indicando, assim, as
79
terapêuticas para tratar, preparar, instruir e educar a criança (Mattos apud Mineiro,
1929, p. IV).
Os fatores predominantes são: a desorganização da família, ouirregularmente constituida,outaradapelaenfermidade e pelovício, ou torturada pelamiséria, ou aviltada pelaimoralidade, ou premiada pelas exigências do industrialismo que afasta os pais do larpara a oficina, deixando os filhossem fiscalização, entregues à vadiagem e aos perígos da rua; a falta o insuficiência da instução elementar, a vadiagem, as ocupações exercidas na viapública, como a venda de jornais, bilhetes de loterias, doces, etc..., a de engraxadores, e outras quenospaísesmais adiantados são proibidas aos menores de 16 anos e quetambém deviam sê-lo nesta cidade, porque a experiência tem demonstrado que a rua é um dos meiosmais corruptores da criança (Mattos, 1924).
No movimento de localização e definição da infância a ser interditado, o
Código de Menores associou os elementos que permitiam promover a identificação
e a produção de um estereótipo de infância menorizada abandonada ou delinquente.
Buscando demarcar o campo de competência das leis de assistência, o Código
firmou as distinções entre as regras ordinárias, concernentes à instrução e ao modo
de proceder das partes envolvidas, prescrito na forma ritualística e solene do
processo e, por outro lado, as regras decisórias que se fundaram como base para
as deliberações quanto aos litígios envolvendo as crianças. Os atos ordinários
referiam-se às formalidades do processo, já os atos decisórios compreendiam os
aspectos que influíam na decisão, ou seja, as concepções que alicerçavam as
compreensões e as decisões proferidas como “fiel da balança” nos julgamentos e
sentenças realizados (Mineiro, 1929, p. 27-28).
Para além de sua composição formal, a lei comportava intenções. Isto implica
concebê-la, não apenas, como mero formalismo de artigos e alinhas prescritivas,
mas sim como expressão de ideários que se firmaram como estatuto de poder
impositivo nas pessoas. A compreensão da lei, a partir dos dispositivos de forma e
de fundo que lhe compõem, constitui-se da maior importância, tendo em vista as
possibilidades que esta análise enlaça na articulação entre os conteúdos manifestos
e latentes da lei, sem deixar de considerar, por outro lado, as dimensões que a
transcendem.
Neste movimento, é importante entender o Código de Menores não apenas
como uma fonte de idéias e representações quanto à infância abandonada e
delinqüente, mas como ummensageiro de relações sociais. A partir dos dispositivos
acionados e implementados com a sua materialização, enquanto texto legal e
legítimo, tencionou-se formalizar e ordenar práticas direcionadas às crianças, às
famílias e às instituições de assistência e proteção à infância. Este movimento
80
envolveu um esforço concentrado de ingerência sobre as instâncias públicas e
privadas no tratamento e na regulação da criança e de suas relações sociais. Para
este esforço legitimador da lei - junto aos sujeitos a que se pretendia representar -
era preciso comunicar seus sentidos, divulgando seus pertencimentos, seus deveres
e seus direitos. A palavra impressa e autorizada da lei para assumir legitimidade
como poder modificador das relações sociais precisava ser reconhecida, socializada
e naturalizada como parâmetro norteador, internalizado de forma capilar ao viver das
pessoas. Nesta direção, os jornais assumiram um papel significativo na sua difusão.
Referências bibliografia
CAMARA, Sônia. Sob a Guarda da República: a infância menorizada no Rio de
Janeiro da década de 1920. Rio de Janeiro: Quartet, 2010.
CARNEIRO, Levi. A nova legislação da infância. Rwelatório sobre as leis e
tendências legislativas em favor da infância, contemporâneas da guerra europeia.
Registro civil. Regulamento de menores abandonados. Rio de Janeiro: Empresa
Bibliográfica, 1923.
CARVALHO, Francisco Pereira. Reforma do Código de Menores. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1970. COSTALLAT, Benjamim. Mistérios do Rio. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1995.
FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia Greive. A Infância no Sótão.
BeloHorizonte: Autêntica, 1999.
FREIRE, Américo. A fabricação do prefeito da capital: estudo sobre a construção da
imagem pública de Perreira Passos. Revista Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 10,
maio/agosto, 2003.
Gazeta de Notícias, 03/02/1924.
Jornal A Noite, 26/04/1927
Jornal Diário Carioca, 22/05/1929
Jornal do Brasil, 12/02/1924.
Jornal O Jornal, 10/04/1927.
Jornal O Jornal, 12/05/1927
Jornal O Paiz, 09/07/1925.
MATTOS, J. C. Mello entrevista ao O Jornal de 20/06/1924.
MINEIRO, Beatriz. Código dos Menores dos Estados Unidos do Brasil – Comentado.
São Paulo: Cia editora Nacional, 1929.
Revista ABC, 16/08/1924.
Revista da Semana, 18/12/1926.
81
RIO, João. A Alma Encantadora das Ruas. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de
Documentação e Informação Cultural Divisão de Editoração, 1995.
__________. Histórias da gente alegre. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio
Editora, s.d.
SIRINELLI, Jean-François. Os Intelectuais. RÉMOND, René (org.) Por Uma História
Política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
A JUVENTUDE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA:
RESIGNIFICANDO CONCEPÇÕES E GARANTINDO DIREITOS.
MARCOS ANDRÉ FERREIRA ESTÁCIO48 Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) [email protected]
O entendimento de onde se inicia, e, possivelmente, termina a condição juvenil, no contexto brasileiro, tem passado por (re)discussões e resignificação, tanto na seara social quanto no ordenamento jurídico do Brasil. O presente estudo, teve por objetivo, analisar a concepção de juventude na legislação brasileira - história e desenvolvimento -, e os mecanismos de garantia dos seus direitos sociais, em especial a educação, a partir da promulgação da Emenda Constitucional n.º 65/2010 (também conhecida como Emenda Constitucional da Juventude) e da Lei n.º 12.852, de 5 de agosto de 2013, a qual instituiu o Estatuto da Juventude. A natureza da pesquisa foi qualitativa, o método adotado o histórico crítico e o tipo de pesquisa foi a documental. A Emenda Constitucional n.º 65/2010, alterou a denominação do Capítulo VII, do Título VIII, da Constituição Federal e modificou o artigo 227, com a finalidade de cuidar dos interesses da Juventude brasileira. Já a Lei n.º 12.852/2013, dispôs sobre os direitos dos jovens, os princípios e as diretrizes das políticas públicas de juventude e sobre o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve), definindo que jovens são as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, assegurando-os o direito a uma educação de qualidade, bem como à educação profissional, tecnológica e superior. Compreende-se que a incorporação dos jovens, na legislação brasileira, enquanto sujeitos de diretos, com especificidades da sua condição juvenil, representou uma mudança de postura do Estado, passando a compreendê-los como pessoas que demandam diretos civis, políticos, individuais e coletivos, expressos no direito à vida digna, à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, à participação social e política e à informação.
Palavras-chave: Juventude; Legislação; Conceito; Brasil. El entendimiento donde empieza y posiblemente termine la condición juvenil en el contexto brasileño, ha pasado por (re)discusión y replanteamiento tanto en la cosecha social como el marco legal de Brasil. Este estudio tuvo como meta analizar el diseño de la juventud bajo la ley brasileña - la historia y el desarrollo - y garantizar mecanismos de sus derechos sociales, en particular la educación, desde la promulgación de la Enmienda Constitucional 65/2010 (también conocido como Enmienda Constitucional de la Juventud) y la Ley 12.852, de 5 de augusto de 2013, que establece el Estatuto de la Juventud. La naturaleza de la investigación fue cualitativa, el método adoptado la historia crítica y el tipo de investigación fue documental. La Enmienda
48 Graduado em pedagogia, mestre em educação, doutorando em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), no Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos Pós-Graduados do Estado do Amazonas – RH-DOUTORADO. Atualmente é professor assistente da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).
82
Constitucional 65/2010, cambió el título del Capítulo VII, Título VIII de la Constitución Federal y modificó el artículo 227, con el fin de velar por los intereses de la juventud brasileña. Ya la Ley 12.852/2013 establece sobre los derechos de los jóvenes, los principios y directrices de las políticas públicas para la juventud y el Sistema Nacional de la Juventud (Sinajuve), indicando que los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 29 año, lo que garantiza el derecho a una educación de calidad, así como la formación profesional, técnica y superior. Se entiende que la integración de los jóvenes y la ley brasileña, como sujetos de directa, como personaje específico de su condición juvenil, representado un cambio de la postura del gobierno, empezando a entenderlos como personas que requieren directos civiles, política, individual y colectiva, expresada en el derecho a una vida digna, la salud, la educación, el trabajo, la cultura, el ocio, la participación social y política y la información.
Palabras clave: Juventud; Legislación; Concepto; Brasil.
INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, os/as jovens têm sido tratados de modo ambíguo, pois
em certos momentos são vistos enquanto crianças e em outros como adultos.
Entretanto, os compreendemos enquanto sujeitos de direitos e em formação, com
capacidades e necessidades específicas, ou seja, são, parcialmente, independentes e
dependentes.
O entendimento de onde se inicia, e, possivelmente, termina a condição
juvenil, no ordenamento jurídico brasileiro, tem passado por resignificações. Na
Constituição Federal de 1988, até o ano de 2010, o termo juventude ou mesmo jovem,
somente aparecia uma única vez na Carta Magna, fato alterado com a promulgação da
Emenda Constitucional nº 65 (também conhecida como Emenda Constitucional da
Juventude), a qual modificou a denominação do Capítulo VII,49 do Título VIII, da
Constituição Federal e motificou o artigo 227, com a finalidade de cuidar dos interesses
da(s) juventude(s) brasileira (BRASIL, 2010), evidenciando uma mudança de postura do
estado no que tange aos direitos e garantias desta parcela da população do Brasil.
Muitos foram do fatores que contribuíram para essa mudança: as discussões
no meio acadêmico, as muitas formas de organização e protesto da população juvenil,
as lutas de organizações em defesa da causa dos jovens, as reivindicações para que
os compreendam enquanto sujeitos de direitos e atores capazes de ação e interlocução
política (SPOSITO, 2009), e, não menos importante, o quantitativo da população de
jovens brasileiros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil possui uma populção de 190.755.799 habitantes.50 No que se refere
aos jovens, estes representam 26,91% da população do Brasil (IBGE, 2015a, 2015b).
49 Este capítulo que antes denominava-se: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, a partir da Emenda Constitucinoal nº 65, passou a ter a seguinte redação: Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso (BRASIL, 1988). 50 Estimativa realizada pela Coordenação de População e Indicadores Sociais (Copis) da Diretoria de Pesquisas (DPE) do IBGE, tendo como data de referência o dia 1o de julho de 2015, apontam para uma população brasileira de 204.450.649 habitantes (IBGE, 2015c).
83
O presente estudo, teve por objetivo, analisar a concepção de juventude na
legislação brasileira - história e desenvolvimento -, e os mecanismos de garantia dos
seus direitos sociais, em especial a educação, a partir da promulgação da Emenda
Constitucional n.º 65/2010 (também conhecida como Emenda Constitucional da
Juventude) e da Lei n.º 12.852, de 5 de agosto de 2013, a qual instituiu o Estatuto da
Juventude.
A natureza da pesquisa foi qualitativa, que trabalha com significados, crenças,
valores..., buscando discutir espaços e relações, dos processos e dos fenômenos
sociais. O método adotado, foi o histórico crítico, o qual proporcionou um guia, um
quadro geral, uma orientação para o conhecimento da realidade – e, em cada realidade,
necessita-se apreender as suas contradições peculiares, o seu movimento peculiar, a
sua qualidade e as suas transformações.
O tipo de pesquisa foi a documental, onde a fonte de coleta de dados baseou-
se em documentos legais, constituindo-se em fontes primárias. Os dados documentais
dessa etapa do trabalho foram coletados a partir do sítio do Palácio do Planalto do
governo brasileiro, na Biblioteca Digital e Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos
Deputados, na Biblioteca Digital do Senado Federal e no sítio Congresso Nacional.
A pesquisa, inserida na perspectiva histórica do tempo presente, fundamenta-
se nos estudos de Brito Lemus (1998), Cannon e Bottini (1998), Dayrell (2003), Feixa e
Leccardi (2010), Freitas (2005), Henriques e Novaes (2007), León (2005), Pais (2003)
e Sposito (2009). Ressaltamos que partimos da compreensão de que a juventude não
pode ser considerada uma característica que se perde com o tempo, e sim uma
condição social com qualidades específicas que se manifesta de diferentes maneiras
segundo as características históricas sociais de cada indivíduo (BRITO LEMUS, 1998).
Por conseguinte, os/as jovens não tem para si a mesma significação etária e
por esta razão, não se pode estabelecer um critério de idade universal que seja válido
para todos as classes sociais e todas as épocas: a idade se transforma, em algumas
situações, somente em um referente demográfico (LEÓN, 2005).
1 CONCEITUANDO JUVENTUDE(S)
O debate em torno do termo “juventude” ou mesmo das “juventudes”, é amplo
e empreende aspectos que envolvem faixa etária, período da vida, categoria social, e
também, a geração de contingentes populacionais singulares. Neste sentido, o que
significa o termo juventude? Como definir a(s) juventude(s) frente as demais gerações
ou categorias sociais?
Conforme afirma Freitas (2005), seja uma faixa etária, um período da vida, um
contingente populacional, uma categoria social, ou mesmo uma geração, todas essas
84
definições se vinculam, de alguma forma, à dimensão de fase do ciclo vital entre a
infância e a maturidade.
E, nesse sentido, acreditamos haver um consenso, pois a pesar da ideia de
juventude(s) não se restringir ao aspecto etário, e este não podendo ser definido previa
e rigidamente, “é a partir dessa dimensão também que ganha sentido a proposição de
um recorte de referências etárias no conjunto da população, para análises
demográficas” (FREITAS, 2005, p. 6), e como tal, não pode ser desconsiderado.
Na mesma direção, e de forma complementar à questão etária, a perspectiva
da geração envolve o debate da juventude, a partir das experiências dos sujeitos em
determinado momento histórico, e que vivem os processos das diferentes fases do ciclo
de vida sob os mesmos condicionantes das conjunturas históricas (FEIXA, LECCARDI,
2010). A singularidade destas experiências é responsavel em grande medida pela
constituição da(s) juventude(s) enquanto categoria social.
No campo político-institucional, conforme as orientações da Organização das
Nações Unidas (ONU) e da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco), o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013),51
define como “jovem”, no Brasil, as pessoas que estiverem entre 15 a 29 anos de idade.
Tal lei foi promulgada para dispor sobre as políticas públicas referente a essa categoria
no País, e acreditamos que seja um importante mecanismo de garantia de direitos e
visibilidade institucional para os/as jovens brasileiros/as.
Pois a incorporação dos/as jovens, na legislação brasileira, enquanto sujeitos
de diretos, com especificidades da sua condição juvenil, representa uma mudança de
postura do Estado, passando a compreendê-los enquanto pessoas que demandam
diretos civis, políticos, individuais e coletivos, expressos no direito à vida digna, à saúde,
à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, à participação social e política, à
informação, dentre outros. Ou seja, significou um avanço do Estado brasileiro, o qual
incluiu a questão, ou melhor, as questões das juventudes do Brasil, dentro das suas
prioridades.
No entanto, como aponta León (2005), a complexidade do termo “juventude” é
ampla e abarca uma grande diversidade de conjuntos de grupos sociais. Como afirma
o autor, há diferentes “adolescências” e “juventudes”, dependendo de suas relações
históricas, culturais, políticas, econômicas e sociais, ou seja, uma categoria em
permanente construção e passível de ressignificações de acordo com o meio e contexto
em que estiver inserida.
51 A Lei nº 12.852/2013 dispôs sobre os direitos dos jovens, os princípios e as diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve) (BRASIL, 2013). Outra importante conquista para a(s) juventude(s), foi a publicação da Emenda Constitucional nº 65.
85
Na última década, no Brasil, várias iniciativas governamentais propuseram um
olhar mais amplo no que tange a participação e visibilidade desses atores sociais, ações
interinstitucionais como a realização de conferências nacionais de juventude e a criação
do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve)52 foram importantes iniciativas e marcos
regulatórios.
O que não significa dizer que sejam suficientes para abarcar a
heterogeneidade desse público. Isto porque, os novos cenários, tanto no campo
nacional como no internacional, precipitam a necessidade de incluir socialmente esses
atores e seus diversos universos, com demandas amplas, específicas e urgentes.
Um passo importante para essa compreensão é discutir as necessidades da(s)
juventude(s) (para além das “amarras” institucionais e/ou governamentais) e como,
afirmam Henriques e Novaes (2007, p. 6) compreender “a dinâmica geracional e
intergeracional para se perceber as demais relações de exclusão e inclusão vigentes
em nossa sociedade”.
Neste artigo, optamos pelo conceito de juventude empreendido por Bourdieu
(2000) apud León (2005, p. 10), como sendo
uma construção social, histórica, cultural e relacional, que através das diferentes épocas e processos históricos e sociais vieram adquirindo denotações e delimitações diferentes: “la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos”.
Tal concepção parte do pressuposto de que não existe a juventude em si, mas
sim, juventudes, a qual deve estar associada as diversas formas de expressão do ser
jovem, e relaciona-se, entre outros, aos marcadores de gênero, raça, cor, etnia, origem
e condição social.
E assim, constitui-se enquanto categorial social não homogênia,
apresentando-se de forma diversa e distinta a depender do contexto a qual estes
sujeitos estão inseridos. Afinal,
A noção mais geral e usual do termo juventude, se refere a uma faixa de idade, um período de vida, em que se completa o desenvolvimento físico do indivíduo e ocorre uma série de transformações psicológicas e sociais, quando este abandona a infância para processar sua entrada no mundo adulto. No entanto, a noção de juventude é socialmente variável. A definição do tempo de duração, dos conteúdos e significados sociais desses processos se modificam de sociedade para sociedade e, na mesma sociedade, ao longo do tempo e através de suas divisões internas. Além disso, é somente em algumas
52 A Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, ao instituir o Progrma Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), ao mesmo tempo criou o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e a Secretaria Nacional de Juventude, ambos vinculados a Secretaria-Geral da Presidência da Repúbluca (BRASIL, 2005).
86
formações sociais que a juventude configura-se como um período destacado, ou seja, aparece como uma categoria com visibilidade social (ABRAMO, 1994 apud LEÓN, 2005, p. 13).
Vale ressaltar que o debate sobre a(s) juventude(s), dar-se-á, também, a partir
da luta por direitos e políticas públicas. Neste sentido, parte-se da perspectiva de que
a(s) juventude(s) e os/as jovens são condições e sujeitos sociais que constroem modos
de vida juvenis tanto na vida cotidiana quanto no conjunto de relações e processos
formadores de sistemas de sentidos, os quais dizem algo sobre eles, sobre eles no
mundo e sobre os outros (DAYRELL, 2003).
Os/as jovens devem ser vistos enquanto sujeitos capazes de levanterem
questões significativas, proporem soluções e ações relevantes, criarem e manterem
uma relação dialógica com outros atores sociais, e desta feita, manifestarem suas
opiniões com relação aos problemas sociais que vivenciam e os afetam.
2 A JUVENTUDE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
A(s) juventude(s), como já afirmado, tem sido tratada de modo ambíguo, isto
porque em certos momentos são visto enquanto crianças e em outros como adultos
(CANNON; BOTTINI, 1998). Entretanto, compreendemos que são capazes de
decidirem, até certos pontos, sobre seus futuros, mas que necessitam de proteção
contra abusos e explorações, ou seja, são, parcialmente, independentes e dependentes.
O entendimento de onde se inicia, e, possivelmente, termina a condição
juvenil, no ordenamento jurídico brasileiro, tem passado por resignificações. Na
Constituição Federal de 1988, até o ano de 2010, o termo juventude ou mesmo jovem,
somente aparecia uma única vez na Carta Magna:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] XV - proteção à infância e à juventude; [...] (BRASIL, 1988, p. 12, grifo nosso).
Por oportuno, compreendemos que a Constituição Federal de 1988, introduziu
um conceito cronológico dessa fase da vida, ao proibir o trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, aos menores de 18 anos, e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade (Art. 7.º, Inc. XXXIII) e ao facultar
o alistamento eleitoral e o voto para os maiores de 16 e menores de 18 anos (Art. 14, §
1.º, Inc. II, alínea “c”).
87
Já para o Estatudo da Criança e do Adolescentes (ECA),53
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade (BRASIL, 1990, p. 1).
Em 2005, a Lei n.º 11.129, de 30 de junho, ao instituir o Progrma Nacional de
Inclusão de Jovens (Projovem)54, ao mesmo tempo que criou o Conselho Nacional da
Juventude (CNJ)55 e a Secretaria Nacional de Juventude,56 ambos vinculados a
Secretaria-Geral da Presidência da República,57 passou a afirmar que jovens eram
aquelas pessoas “na faixa etária entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos” (BRASIL,
2005, p. 2-3).
Aos 13 de julho de 2010, foi publicada a Emenda Constitucional n.º 65,58 a qual
alterou a denominação do Capítulo VII,59 do Título VIII, da Constituição Federal e
motificou o artigo 227, com a finalidade de cuidar dos interesses da Juventude brasileira.
Originada da Proposta de Emenda à Constituição n.º 138/2003, de autoria do Deputado
Sandes Júnior (PP/GO), esta previa o acréscimo do seguinte artigo a Carta Magna de
1988:
Art. 230-A. O Estado protegerá os direitos econômicos, sociais e culturais dos jovens, mediante políticas específicas, visando a assegurar-lhes: a) formação profissional e o desenvolvimento da cultura;
53 Lei. n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. 54 O Projovem, inicialmente, destinado a jovens com idade entre 18 e 24 anos (BRASIL, 2005), a partir do ano de 2008, passou a destinar-se aqueles com idade de 15 a 29 anos (BRASIL, 2008), compreendo assim, a faixa etária da Juventude explicitada no ordenamento jurídico brasileiro. 55 As finalidade do CNJ são: formular e propor diretrizes da ação governamental voltadas à promoção de políticas públicas de juventude, fomentar estudos e pesquisas acerca da realidade socioeconômica juvenil e o intercâmbio entre as organizações juvenis nacionais e internacionais (BRASIL, 2005). 56 A Secretaria Nacional da Juventude compete articular todos os programas e projetos destinados, em âmbito federal, aos jovens na faixa etária entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, ressalvado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2005). 57 A Medida Provisória nº 696, de 2 de outubro de 2015, transformou a Secretaria-Geral da Presidência da República em Secretaria de Governo da Presidência da República (BRASIL, 2015a). Vale ressalatar que o Decreto nº 8.579, de 26 de novembro de 2015, vinculou o Conselho Nacional de Juventude a estrutura básica do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e acrescentou ainda, enquanto não entrar em vigor o decreto da estrutura regimental do referido Ministério, a Secretaria Nacional de Juventude integrará a estrutura da Secretaria de Governo da Presidência da República (BRASIL, 2015b). 58 Também conhecida como Emenda Constitucional da Juventude. 59 Este capítulo que antes denominava-se: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, a partir da Emenda Constitucinoal n.º 65, passou a ter a seguinte redação: Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso (BRASIL, 1988).
88
b) acesso ao primeiro emprego e à habitação; c) lazer; d) segurança social (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2003, p.1).
Para fundamentar sua propositura o Deputado Sandes Júnior (PP/GO),
apresentou a seguinte justificativa:
a vigente Constituição trouxe grande inovações ao Direito pátrio ao dar proteção ao adolescente e ao idoso. Como conseqüência disso surgiram o Estatuto da Criança e do Adolescente e o recente Estatuto do Idoso. [...] Todavia, [...] restou uma lacuna no nosso ordenamento jurídico que diz respeito ao trato do jovem. Pôr fim a esta lacuna é o principal objetivo da proposta [...] (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2003, p.1).
Em 16 de novembro de 2004, a Câmara do Deputados criou uma Comissão
Especial com a finalidade de emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n.º 138/2003. Esta Comissão discutiu e aprovou um substitutivo à Proposta de Emenda
à Constituição n.º 138/2003. E, aos 13 de julho de 2010, as Mesas da Câmara do
Deputados e do Senado Federal, promulgaram a Emenda Constitucional n.º 65, a qual
seguiu o texto substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição n.º 138/2003.
Essa Emenda Contitucional assim determina:
Art. 1º O Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal passa a denominar-se "Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso". Art. 2º O art. 227 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: .............................................................................................................. II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. .............................................................................................................. § 3º ....................................................................................................... .............................................................................................................. III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; ..............................................................................................................
89
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. .............................................................................................................. § 8º A lei estabelecerá: I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas” (BRASIL, 2010, p. 1, grifos nossos).
Outro importante marco no ordenamento jurídico do Brasil, foi o advento da Lei
n.º 12.852, de 5 de agosto de 2013, a qual instituiu o Estatuto da Juventude e dispôs
sobre os direitos dos jovens, os princípios e as diretrizes das políticas públicas de
juventude e o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve). Esta lei define que jovens são
“as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade” (BRASIL,
2013, p. 1).
Vale ressaltar que
Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto, quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente (BRASIL, 2013, p. 1).
No que tange as políticas públicas para a juventude, o artigo 2.º determina que
elas devem ser regidas pelos seguintes princípios:
I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens; II - valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de suas representações; III - promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País; IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares; V - promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem; VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude; VII - promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação; e VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. Parágrafo único. A emancipação dos jovens a que se refere o inciso I do caput refere-se à trajetória de inclusão, liberdade e participação do jovem na vida em sociedade, e não ao instituto da emancipação disciplinado pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (BRASIL, 2013, p. grifos no original).
90
A lei prevê também, que o jovem tem direito à participação social e política na
formulação, execução e avaliação da políticas públicas de juventude (Art. 4.º). E
acresecenta que, para os efeitos legais, participação juvenil é:
I - a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir da sua concepção como pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição central nos processos políticos e sociais; II - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham por objetivo o próprio benefício, o de suas comunidades, cidades e regiões e o do País; III - a participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem a defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens; e IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito a voz e voto (BRASIL, 2013, p. 3).
No que tange a outros direitos dos jovens, a Lei n.º 12.852/2013, estabelece
que eles tem direito:
a uma educação de qualidade, bem como à educação profissional,
tecnológica e superior;
à profissionalização, trabalho e renda, exercidos com liberdade,
equidade, segurança e proteção social;
à diversidade, igualdade de direitos e oprtunidades, sem
discriminação de etnia, raça, cor, cultura, origem, idade, sexo,
orientação sexual, idioma, religião, opinião, deficiência, condição
social ou econômica;
à saúde e qualidade de vida, sendo considerado suas
especificidades, na dimensão da prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde integral;
à cultura, identidade, diversidade cultural e memória social, com a
livre criação, acesso aos bens e serviços culturais e participação
nas decisões de política cultural;
à comunicação, livre expressão, produção de conteúdo (individual
ou colaborativo) e ao acesso as tecnologias de informação e
comunicação;
à prática desportiva, destinada ao seu pleno desenvolvimento;
ao território e à mobilidade, com políticas de promoção de moradia
e circulação, tanto no campo quanto na cidade;
à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
com o dever de defendê-lo e preservá-lo; e
91
de viver em um ambiente seguro, sem violência, com a garantia da
sua incolumidade física e mental.
Assim, a incorporação dos jovens, na legislação brasileira, enquanto sujeitos
de diretos, com especificidades da sua condição juvenil, representou uma mudança de
postura do Estado, passando a compreendê-los como pessoas que demandam diretos
civis, políticos, individuais e coletivos, expressos no direito à vida digna, à saúde, à
educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, à participação social e política, à informação,
dentre outros. Ou seja, significou um avanço do Estado brasileiro, o qual incluiu a
questão, ou melhor, as questões das juventudes do Brasil, dentro das suas prioridades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que o termo juventude(s) tem sido permeado por inúmeros embates
teóricos, desde a concepção de uma fase da vida (corrente geracional) associada a
descoberta ou rebeldia; a noção de uma etapa cronológica; sua compreensão a partir
da ênfase das desigualdades sociais (corrente classista) (PAIS, 2003); até seu
entendimento enquanto categoria social, a qual é também construída sócio-
historicamente, partindo do pressuposto de que a(s) juventude(s) devem estar
associada(s) as diversas formas de expressão do ser jovem, bem como relacionar-se
com as questões de gênero, raça, cor, etnia, origem e condição social.
Esta última concepção vai ao encontro do entendimento das juventudes
desenvolvida neste texto, pois os jovens são sujeito sociais, que constroem um
determinado modo de ser e estar no mundo e com o mundo, ao mesmo tempo que na
vida cotidiana estabelecem múltiplas e diversas relações de significados e sentidos
sobre si, os outros e o contexto no qual está inserido.
No tocante a participação política e social de jovens, tem-se que as diversas
formas de apoio à organização e participação das juventudes, tem contribuído para a
ampliação das suas capacidades de reivindicação, interlocução e conquista de direitos
junto ao mundo político, sendo impossível negar a construçãos das novas estratégias
de participação juvenil, as quais tem possibilitado pactos sociais inovadores, capazes
de fazer frente aos processos de desigualdade.
Entretanto, compreendemos ser importante ressaltar que mesmo diante das
conquistas já alcançadas, é imperioso ficar sempre alerta e em defesa dos direitos das
juventudes brasileiras, pois ainda há muito que se avançar, principalmente quando se
trata da inclusão dos jovens nos processos decisórios, dando-lhes vez e voz quando
das decisões que os afetem diretamente.
Diante disso questiona-se: como propiciar, cada vez mais, a mobilização e a
participação das juventudes? como envolver na participação e na mobilização os ainda
92
não participantes e não mobilizados? como expandir os espaços de debate sobre as
juventudes? como efetivar os direitos dos jovens já garantidos na legislação? Estas são
questões que possivelmente sejam relevantes de serem discutidas, e assim buscarmos
construir e reivindicar políticas públicas, verdadeiramente, democráticas.
REFERÊNCIAS
BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é participação. 7ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1992. (Coleção primeiros passos, nº 95). BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 20 set. 2015. ______. Emenda Constitucional nº 65, de 13 de julho de 2010. Altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227, para cuidar dos interesses da juventude. Diário Oficial da União, Brasília, ano CXLVII, n. 133, p. 1, 14 jul. 2010. Seção 1. ______. Medida Provisória nº 696, 2 de outubro de 2015. Extingue e transforma cargos públicos e altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Diário Oficial da União, Brasília, ano CLII, n. 190, p. 1-3, 5 out. 2015. Seção 1. ______. Decreto nº 8.579, 26 de novembro de 2015. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Secretaria de Governo da Presidência da República, altera o Anexo II ao Decreto nº 5.135, de 7 de julho de 2004, o Decreto nº 8.364, de 17 de novembro de 2014, o Decreto nº 6.884, de 25 de junho de 2009, o Decreto nº 8.414, de 26 de fevereiro de 2015, o Decreto nº 4.376, de 13 de setembro de 2002, o Decreto no 8.373, de 11 de dezembro de 2014, e o Decreto nº5.490, de 14 de julho de 2005, e remaneja cargos em comissão. Diário Oficial da União, Brasília, ano CLII, n. 227, p. 17-24, 27 nov. 2015. Seção 1. ______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, ano CXXVIII, n. 135, p. 13.563-13.577, 16 jul. 1990. Seção 1. ______. Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. Diário Oficial da União, Brasília, ano CL, n. 150, p. 1-4, 6 ago. 2013. Seção 1. ______. Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008. Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; altera a Lei no10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, 10.940, de 27 de agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 2005; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, ano CXLV, n. 110, p. 1-2, 16 jun. 2008. Seção 1.
93
______. Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, ano CXLII, n. 125, p. 1-2, 1º jul. 2005. Seção 1. BRITO LEMUS, Roberto. Hacia una sociología de la juventud. Algunos elementos para la deconstrucción de un nuevo paradigma de la juventud. Última Década, Chile, n. 9, p. 1-7, 1998, Centro de Estudios Sociales Valparaíso (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). CALIARI, Hingridy Fassarella. Um ensaio sobre participação política da juventude brasileira. Vitótia: UFES, 2009. Dissertação (Mestrado em Política Social) – Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2009. CAMARA DOS DEPUTADOS. Proposta de Emenda a Constituição nº 138/2013, de autoria de Sandes Júnior - PP (GO). Dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=156158&filename=PEC+138/2003>. Acesso em: 20 jan. 2016. CANNON, L. R. C.; BOTTINI, B. A. Saúde e juventude: o cenário das políticas públicas no Brasil. In: BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Jovens acontecendo na trilha das políticas públicas. Brasília: CNPD, 1998. p.397-416. v.1. DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 24, p. 40-52, set./dez. 2003. FEIXA, Carles; LECCARDI, Carmem. O conceito de geração nas teorias sobre juventude. Revista Sociedade e Estado, Brasília, v. 25, n. 2, p. 185-204, maio/ago. 2010. FREITAS, Maria Virgínia (Coord.). Juventude e adolescência no Brasil: referências conceituais. São Paulo: Ação Educativa, 2005. HENRIQUES, Ricardo; NOVAES, Regina. Apresentação. In: ABRAMOVAY, Miriam; ANDRADE, Eliane Ribeiro; ESTEVES, Luiz Carlos Gil (Orgs.). Juventudes: outros olhares sobre a diversidade. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; Unesco, 2007. p. 6-8. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sinopse do Censo Demográfico 2010: Tabela 1.4 - População nos Censos Demográficos, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 1872/2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/sinopse_tab_brasil_zip.shtm>. Acesso em: 10 ago. 2015a. ______. Sinopse do Censo Demográfico 2010: Tabela 1.12 - População residente, por sexo e grupos de idade, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/sinopse_tab_brasil_zip.shtm>. Acesso em: 10 ago. 2015b. ______. Estimativas da População residente no Brasil e Unidades da Federação com data de referência em 1º de julho de 2015. Disponível em:
94
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2015c. LEÓN, Oscar Dávila. Adolescência e juventude: das noções às abordagens. In: FREITAS, Maria Virgínia (Coord.). Juventude e adolescência no Brasil: referências conceituais. São Paulo: Ação Educativa, 2005. p. 9-18. MISCHE, Ann. De estudantes a cidadãos: redes de jovens e participação política. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 5 e 6, maio/set. 1997, set./dez. 1997. p. 134-150. MÜXEL, Anne. Jovens dos anos 90: à procura de uma política sem rótulos. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 5 e 6, maio/set. 1997, set./dez. 1997. p. 151-166. PAIS, José Machado. II. Correntes Teóricas da Sociologia da Juventude. In: ______. Culturas Juvenis. 2ª ed. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 2003. p. 47-82 SPOSITO, Marilia Pontes. A pesquisa sobre Juventude na Pós-Graduação: um balanço da produção discente em Educação, Serviço Social e Ciências Sociais (1999-2006) In: ______ (Coord.). Estado da Arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: educação, ciências Sociais e Serviço Social. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009, p. 17-56. (volume 1). ______. Algumas hipóteses sobre as relações entre movimentos sociais, juventude e educação. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 13, jan./abr. 2000. p. 73-94.
A REVISTA O TICO-TICO E O BELO SEXO: A FORMAÇÃO DAS MENINAS BRASILEIRAS PARA O LAR, O CASAMENTO E A MATERNIDADE60
Luciana Borges Patroclo
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) [email protected]
Introdução
O Tico-Tico é considerada a primeira revista ilustrada infantil e a pioneira na
publicação de histórias em quadrinhos destinadas às crianças brasileiras. Lançada em
11 de outubro de 1905 pelos intelectuais - Cardoso Júnior, Luiz Bartolomeu de Souza
e Silva, Manoel Bomfim e Renato de Castro – tornou-se peça importante na formação
de leitores até fevereiro de 1962, quando foi extinta. Pertencente à Sociedade Anonyma
60 Este texto aborda temas e questões presentes na tese de Doutorado As Mães de Famílias
Futuras: a revista O Tico-Tico na formação das meninas brasileiras (1905-1921) defendida no
âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação da Pontifica Universidade Católica do Rio
de Janeiro em 2015.
95
O Malho, estava imersa ao processo de modernização e de estruturação da imprensa
de caráter empresarial e segmentada (HANSEN, 2008; VELLOSO, 2006). O impresso
brasileiro seguia o modelo e conteúdos presentes em publicações francesas como: Le
Jeudi de La jeunesse (1902), La Jeunesse Illustrée (1903), Les Belles Images (1903),
Le Petit Journal Illustré de La Jeunesse (1904) e La Semaine de Suzette (1905). A
revista era vendida nas ruas do Rio de Janeiro, sempre às quartas-feiras61, ao preço de
200 reis62. Com formato tabloide, 23x32,5 cm (CARDOSO, 2008), sua tiragem inaugural
alcançou os 10 mil exemplares. Em razão do sucesso de vendas, a Sociedade Anonyma
Malho imprimiu uma segunda leva de 30 mil revistas (AZEVEDO, 2005).
No início do século XX, a revista ilustrada se constituiu no veículo jornalístico
alinhado a um novo modelo de imprensa. Tornou-se o símbolo do novo jornalismo
brasileiro caracterizado por novas técnicas de edição e impressão que possibilitaram o
barateamento e a ampliação da produção de jornais e revistas (SEVCENKO, 2003). Ela
era consumida pelas camadas alfabetizadas da população, um grupo restrito e
pertencente, em sua maioria, às elites brasileiras. Retratam as mudanças socioculturais
voltadas à “homogeneização das consciências pelo padrão burguês universal da Belle
Époque (...)” (Ibidem., p.123). Como observam Diogo (2005) e Velloso (2010), é através
de suas páginas que os leitores conheceram novas linguagens e vivenciaram o ritmo da
modernidade:
Capas atraentes, imagens inusitadas, diagramação elegante e moderna, cores, qualidade do papel, enfim, todos esses fatores acabaram se constituindo em poderosos atrativos que cativaram definitivamente os leitores. Inaugurando uma nova linguagem jornalística, as revistas apresentam uma estética moderna, apoiada no recorte, na colagem, no fragmento, justapondo fotografias a poemas, crônicas e comentários na apresentação da modernidade carioca. Numa conjuntura em que se impunha, inicialmente, a valorização de “ser moderno”, seguida da “ser brasileiro”, as revistas souberam cativar, conquistar o leitor, fazendo-o sentir-se identificado com esse universo de valores simbólicos (LINS; OLIVEIRA; VELLOSO, 2010, p.42).
No Brasil, a área central do Rio de Janeiro passava por importantes mudanças.
Apelidada de Bota-Abaixo, a reforma liderada pelo Prefeito Pereira Passos (1902-1906)
inebriou a Capital da República com um ar cosmopolita. As ruas estreitas e a arquitetura
colonial deram lugar a edifícios e a vias largas e arborizadas como a Avenida Central
(1904). As pessoas passaram a circular de bonde elétrico. A cultura erudita ganhou um
espaço de excelência com a inauguração do Teatro Municipal (1909). A cidade festejava
61A partir da edição de agosto de 1941, a publicação passou a ser publicada mensalmente. 62Uma moeda de 200 réis era o que se costumava pagar aos meninos por pequenos serviços como o de entregador. ROSA, Zita de Paula. O Tico-Tico: meio século de ação recreativa de pedagógica. Bragança Paulista: EDUSF,2002. p.25-26.
96
sua modernidade na Exposição Nacional (1908) em homenagem ao centenário da
Abertura dos Portos. O Rio civiliza-se e relegava ao passado as memórias da Cidade
Febril (CHALHOUB, 1996) com seus cortiços e as epidemias de febre amarela63.
Segundo Sevcenko (2006), os novos modos eram justificados pelo fato da
Capital da República ter se transformado no “eixo de irradiação e caixa ressonância das
grandes transformações do mundo” (p.522), o local no qual as novidades eram
cunhadas e, posteriormente, divulgadas para o restante do país. Papel que a cidade já
havia desempenhado, com as devidas diferenças, durante o Império. O centro do Rio
de Janeiro, por exemplo, passou a ser identificado como o lugar ideal para ver e ser
visto. Constituiu-se no palco de encenações de uma sociedade que almejava ser
civilizada. As mulheres passeavam pela Avenida Central trajando roupas fechadas,
luvas e grandes chapéus. Vestuário mais adequado às temperaturas amenas da Europa
do que ao clima carioca. As reformas urbanas ampliaram os espaços de circulação das
mulheres das elites. Elas podiam flanar elegantemente pelas ruas centrais da cidade.
Embora houvesse certo encantamento com os ares franceses do Rio de Janeiro da Belle
Époque, torna-se imperativo ressaltar que a maior parte da população não vivenciou
este sonho republicano64.
Os bons cidadãos republicanos eram aqueles que aderissem a esta concepção
de civilidade compartilhada pelas elites. Para que as reformas na ordem social brasileira
não adquirissem caráter pontual, as elites intelectuais visavam estabelecer meios para
garantir o seu o futuro. O regime republicano ainda estava em processo de
consolidação, mas já se tornava necessário garantir que as gerações futuras estivessem
imersas nos parâmetros de civilidade e homogeneização propagados pelas elites.
Assim, tornava-se imperativo investir na formação da infância brasileira. Como salienta
Camara (2010), nada mais natural que um regime, que ainda engatinhava, escolhesse
a criança como principal alvo de ações voltadas à conformação de nova uma sociedade
civil brasileira.
Segundo Hansen (2007), a partir das décadas finais do século XIX, emergiu na
sociedade brasileira “um tipo de sensibilidade que colocava a criança no centro das
atenções, tanto no âmbito da vida privada como na esfera pública” (p.29).
Compartilhava-se a perspectiva dos petizes como guardiães do futuro da nação. O
63 As estimativas apontam que a incidência de febre amarela, durante a epidemia ocorrida no verão de 1849-1850, atingiu cerca de 1/3 dos 266 mil habitantes do Rio de Janeiro, então Município Neutro da Corte. De acordo com os dados oficiais, 4.160 pessoas morreram da doença. Chalhoub. S. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras: 1996 p.61. 64 Cf.:CARVALHO, J.M.. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. 3.ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
97
modelo ideal da infância republicana possui um caráter excludente. Constituído pela
criança branca, proveniente de família nuclear estruturada e pertencente às classes
urbanas mais abastadas (ROSA, 2002). Para Lajolo e Zilberman (2007), no final do
século XVIII e no decorrer do século XIX, a burguesia se impões como classe social e
suas bases de poder fortalecidas: a família, a escola e a criança. A estrutura familiar
passa a se configurar em um espaço legitimado de preservação da infância. Como
forma de normatização das práticas familiares determinou-se que a mãe tinha a
responsabilidade de cuidar do lar e o pai de prover o sustento da família. Segundo
Perrot (2009) e Vincent (2009), a nova estrutura familiar concedeu aos filhos: o status
de figuras centrais do lar. Tornam-se objeto de investimento, pois cabia aos pais garantir
a eles um crescimento sadio. A concepção temporal linear, calcada na perspectiva de
futuro, introduziu a representação dos filhos como herdeiros, aqueles que teriam a
responsabilidade de garantir a sobrevivência do patrimônio e do sobrenome da família:
No final do século XIX, a criança passou a ser valorizada; tornou-se o “reizinho da casa”, no lugar do pai. A família acompanhava a gravidez, preparava-se o enxoval, e era imprescindível que a mãe costurasse, bordasse ou tricotasse uma peça para o pequeno, símbolo do amor materno. A escolha de nome era determinada pela tradição familiar. O pai agora acompanhava o parto do lado de fora – cedera lugar ao médico, coisa rara até então. A perda de um filho era considerada um golpe irreparável (PRIORE, 2013. p.132).
No contexto brasileiro, a centralidade social da criança acarretou em certo
afrouxamento dos laços que consolidavam a família patriarcal na qual seus membros
se reuniam “em torno de um chefe, pai e senhor forte e temido, que impunha sua lei e
ordem nos domínios que lhe pertenciam” (Ibidem, p.12).
O lançamento de O Tico-Tico coincidiu com o período de consolidação da
literatura infantil escrita por autores nacionais e especialmente direcionada à criança
brasileira. Segundo Arroyo (1968), Bastos (2004), Gouvêa (2007), Hallewell (2005),
Hansen (Op.cit.), Lajolo e Zilberman (Op.cit), Silva (2010), foi entre as últimas décadas
do século XIX e o início do século XX que a intelectualidade se imbuiu de tal missão,
pois tinha-se o propósito de suprir uma lacuna na imprensa nacional, insistente em não
produzir publicações que privilegiassem os anseios e as necessidades da infância.
Criticava-se a comercialização de livros classificados como infantis, mas que, na prática,
continham histórias destinadas ao deleite dos adultos.
Hansen (Op.cit.) identifica os meninos como público preferencial da literatura
infantil deste período. Inicialmente, O Tico-Tico também foi identificada como um
impresso que privilegiava o sexo masculino, pois tinha o menino Chiquinho como
personagem principal. Em 16 de setembro de 1905 foi publicado em O Malho um
98
anúncio referente ao lançamento de O Tico-Tico, no qual foram apresentava as regras
de participação do primeiro concurso da revista intitulado O que é que o menino quer
ser? De acordo com as instruções, só poderiam mandar soluções crianças do sexo
masculino com até 12 anos. Em uma leitura inicial, pode-se pensar que O Tico-Tico é
uma revista voltada a formação apenas dos meninos. Acerca do concurso, a não
participação feminina pode estar vinculada a perspectiva de que a mulher deveria
apenas se preocupar com o casamento e a administração do lar. Assim, elas não
poderiam enviar respostas sobre futuras profissões. Como afirma o texto publicado na
edição do O Malho de 23 de setembro de 1905 sobre o referido concurso: “O pequenino
bello sexo que não se magôe nem vá agora ficar maguado ou fazer pirraça. Para esse
bello sexo, ainda em botão, abriremos muitos concursos depois” (p.13).
Ressalta-se o fato de O Tico-Tico fazer da tradução e da reprodução de
conteúdos provenientes da revista francesa La Semaine de Suzette. Algumas das
histórias de sua personagem mais famosa, a camponesa Bécassine, foram impressas
com o título de Aventuras de uma criada na qual possui o nome de Narcisa. Em outras
narrativas foi nomeada Felismina65. (CAGNIN,2005; LUYTEN,2005; SANTOS, 2012). A
publicação francesa, lançada pela editora Gautier-Languereau em 2 de fevereiro de
1905, direcionava-se às meninas e às jovens, de 8 a 14 anos, pertencentes às famílias
burguesas. Diferencia-se de O Tico-Tico por ter mulheres na função de chefe da
redação66. Os exemplares eram vendidos sempre às quintas-feiras. Os conteúdos
abarcam poesias, jogos, concursos, narrativas ilustradas, peças de teatro, receitas de
cozinha e moldes para costura (COUDERC, 2005). O impresso esteve em circulação
até 1960.
Com o passar das décadas, O Tico-Tico ampliou os conteúdos dedicados ao
público feminino. Criaram-se seções destinadas especialmente a elas: Secção para
meninas, Secção para nossas leitoras, Figurinos para nossas leitoras, Para nossas
leitoras e outros espaços. Mesmo nas seções direcionadas aos leitores em geral
algumas edições privilegiam diversões consideradas próprias às meninas. Exemplares
de Páginas de armar trazem bonecas de papel e roupinhas para serem montadas pelas
leitoras. Ao longo de suas edições, a revista publicou, de forma corriqueira, conteúdos
destinados às meninas. “Coerentes com a missão da revista, buscavam, também em
65 Na edição de O Tico-Tico de 1 de maio de 1907, foi publicado o quadrinho O que se deve imitar/ O que não se deve imitar. Uma reprodução textual e imagética de Ce qu’il faut imiter/ Ce qu’il ne faut pas imiter, presente na edição inaugural de La Semaine de Suzette de 2 de fevereiro de 1905. 66 Destacaram-se neste cargo, as jornalistas Jacqueline Rivière e Madeleine-Henriette Giraud.
99
relação às matérias dirigidas às meninas, atender ao tripé ‘recrear, informar e formar”
(VERGUEIRO,2005, p.177)67.
1. O Belo Sexo e O Tico-Tico
A revista O Tico-Tico de 28 de março de 1906, publicou o resultado do Concurso
n.28 - Um passeio de baixo d’água. Na atividade semelhante a um quebra-cabeça, as
crianças tinham que recortar as partes desenhadas e formar as imagens de um peixe e
de um sapo. Os vencedores ganhariam prêmios de 10$000. Em razão da facilidade, a
publicação recebeu inúmeras cartas com a solução correta. Os ganhadores foram
decididos por sorteio:
No sorteio entre os que mandaram solução exacta as meninas desta vez passaram a perna nos meninos. A sorte escolheu-as a ellas, mas por certo o pequeno sexo forte é sufficientemente amavel para não se zangar com isso” (p.16).
As expressões utilizadas para justificar a sorte das leitoras, suscitaram questões
sobre as relações de gênero presentes O Tico-Tico: Se os meninos eram o pequeno
sexo forte, as meninas eram o pequeno sexo frágil? Quais eram os padrões sociais
considerados femininos e masculinos? De que modo tais modelos sociais se traduziam
no comportamento das personagens femininas e no conteúdo das seções informativas?
Segundo Priore (Op.cit.), as expressões sexo belo e sexo frágil foram forjadas
pelo pensamento científico com o intuito de consolidar os parâmetros de inferioridade
do corpo feminino. Posteriormente, estas adjetivações romperam as barreiras dos
compêndios médicos e emergiram como categorias no mundo social:
Cristalizada pela forma de pensar de uma sociedade masculina, a evocação de imagens do corpo e da identidade feminina, na pluma de diferentes autores, refletia apenas subordinação: ela era menor, os ossos pequenos, as carnes moles e esponjosas, o caráter débil (p.177).
Para Chartier (1995), a suposta superioridade dos homens frente às mulheres
foi construída pela por meio da legitimação social. O discurso médico atestava
cientificamente a “diferença sexual (que é sujeição de umas e dominação de outros) “
(p.43). Cita a categoria violência simbólica68, cunhada por Pierre Bourdieu, para a
67 O desenvolvimento desta pesquisa envolveu a análise documental de mais de 800 exemplares
da revista O Tico-Tico, cujo acervo digitalizado pertencente à Hemeroteca Digital Brasileira da
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/
68 Cf.: BOURDIEU, P.. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
100
compreensão do processo de internalização das representações femininas como
indivíduos menores.
No capitulo Amando do livro Trabalho, Lar e Botequim, Sidney Chalhoub (2001)
ressalta a influência do conhecimento científico na conformação dos papéis sexuais de
homens e mulheres, definidos pela ótica burguesa das elites do Rio de Janeiro do início
do século XX. Chalhoub cita o estudo de Jurandir Freire Costa (1979) sobre as teses
defendidas na Faculdade de Medicina, Rio de Janeiro e Bahia, no século XIX. Costa
pesquisou os discursos da diferença sexual centrados nas análises das características
anatômicas. Os trabalhos acadêmicos visavam compreender como cada um dos sexos
lidava com seus sentimentos. Em razão da fragilidade física, as mulheres foram
descritas como delicadas e dóceis. Os homens foram caracterizados como indivíduos
viris:
Criatura fraca por natureza, as principais virtudes femininas passam a ser a sensibilidade, a doçura, a passividade e a submissão. (...) O homem ao contrário, caracterizava-se pelo vigor físico e pela força moral. Dominado pela sua virilidade, o homem amava menos que a mulher e seu interesse estava mais voltado para o gozo puramente sensual. O homem era mais seco, racional, autoritário e duro (p.178).
As oscilações hormonais e o período menstrual também foram vistos como sinais
da inferioridade do sexo feminino:
Esse discurso de que a mulher é frágil, possui instável humor por causa da menstruação, delicada, era uma forma de fazer com que a desigualdade entre homens e mulheres fosse mantida e muitas vezes agravada. Por isso, o trabalho fora do lar não lhe era considerado adequado (PERROT, 2005., p.177-178).
Estes discursos impuseram às mulheres, a prescrição do espaço privado do lar
e a proteção do marido, como os remédios ideais para garantir o bem-estar feminino.
Reforçavam a existência de relações dicotômicas e assimétricas entre os sexos.
Representações que ganharam força na literatura e na imprensa. Havia diferentes
representações das mulheres em circulação na sociedade brasileira: as liberais, as
tradicionais, as recatadas, as do lar e as da rua. Enfim, uma pluralidade de modos e
jeitos de se exercer a condição feminina. No entanto, diante de uma sociedade
conservadora, determinados modelos eram vistos como tipos ideais e outros como tipos
desviantes. Os conteúdos publicados em O Tico-Tico tinham como referências, as
representações calcadas na definição da mulher como alguém devotado à maternidade,
ao casamento e ao lar.
101
2. Páginas em defesa da futura mãe e esposa
No exemplar de 3 de fevereiro de 1909, foi publicado o informativo Uma
conferência infantil cujo conteúdo é o texto intitulado A mulher perante a sociedade
moderna. Uma transcrição do discurso proferido pelo menino Renato Nogueira, de 12
anos, em 24 de dezembro de 1908, durante a estadia na fazenda de seu pai, o Tenente
Eduardo Nogueira, localizada na cidade de Cravinhos, interior de São Paulo.
A MULHER PERANTE A SOCIEDADE MODERNA Minhas senhoras e meus senhores – Como quanto seja ainda muito cedo para tomar parte no movimento de progresso – que se manifesta por toda a parte, nestes tempos em que a humanidade caminha com passos de gigantes para alcançar o seu ideal, eu não posso ficar indifferente...Permitti que eu saia do meio destes pés de café para ter a ousadia de vos dirigir a palavra...O assumpto que escolhi para minha palestra: A mulher perante a sociedade moderna, é um assumpto que deveria ser tratado por uma intelligencia mais desenvolvida. [...] A mulher na actualidade esta destinada a fazer a felicidade, não só de um homem, como das nações!...A mulher mãi é o mais sagrado dos destinos... O’ homem, quem és tu? de onde vens, para onde vais?
A mulher esposa Qual de vós podeis negar que a esposa, a escolhida do vosso coração não é o manancial de gozos e de consolações?!!...Não podeis negar a influencia da mulher na sociedade moderna. Ella influencia sobre o bem, sobre a felicidade da familia e das nações. Ella é pela natureza, encarregada pela educação do homem, por isso que, recebendo-o n’um estado de innocencia e ignorância, ella ensina a balbuciar a primeira lettra d’esse grande alphabeto!!! O gráo de civilisação dos povos se marca pelo valor da mulher entre elles...[...] Mas ah! é preciso convir, império da mulher, ahi é que ella mais se distingue; o seu fim principal é dar cidadão ao mundo e mãis verdadeiras á humanidade.(...) (p.6).
O vocabulário rebuscado e a estrutura elaborada, estabeleceram
questionamentos quanto a sua real autoria do texto. Um menino de apenas 12 anos
poderia ter escrito aquele discurso? O garoto apenas leu o discurso feito por um adulto?
A autoria foi creditada a uma criança apenas para que o texto pudesse sair em O Tico-
Tico? No entanto, não foram publicadas informações complementares sobre o evento
ou o suposto autor.
Apreende-se a existência de um discurso vinculado à representação da mulher
com alguém dotado da aptidão para ser mãe. Ela carrega sob os ombros a
responsabilidade de criar cidadãos que possam contribuir para o engrandecimento da
nação. A categoria mulher-mãe-esposa se torna o padrão feminino por excelência.
102
Segundo Camara (2013), este modelo fora amplamente difundido entre as
décadas finais do século XIX e início do século XX. Estava vinculado à perspectiva da
família como um dos eixos de sustentação da República. A escola era o espaço oficial
da formação intelectual e cívica, mas é no seio familiar que meninas e meninos deveriam
formar seu caráter. O lar era um dos fronts do de ação dos defensores de uma nação
moderna e civilizada.
Como célula reprodutora, ela produz as crianças e proporciona-lhes uma primeira forma de socialização. Garantia da espécie, ela zela por sua pureza e saúde. Cadinho da consciência nacional, ela transmite valores simbólicos e a memória fundadora. A “boa família” é o fundamento do Estado e, principalmente para os republicanos (PERROT, Op.cit., p.91).
Para D’ Incao (2009), a ascensão burguesa à condição de classe dirigente,
instituiu um processo de reorganização “das vivências familiares e domésticas, do
tempo e das atividades femininas; e por que não, a sensibilidade e a forma de pensar o
amor” (p.223). O crescimento e a modernização das cidades, com destaque para o Rio
de Janeiro, estabeleceram novos padrões de comportamento. “(...) toda a sorte de
expressões locais e de relações sociais que não fossem consideradas civilizadas eram
combatidas pela imprensa e proibidas por lei” (Ibidem.,p.226). As moradias também se
modificaram e por consequência, relações familiares. As casas passaram a ser isoladas
e não mais pertencentes a lotes comunitários. O convívio entre os vizinhos se tornou
mais distante. Cada vez mais, as famílias passam a contar apenas com seus próprios
membros. O processo de interiorização do lar, acarretou na necessidade de dividir os
espaços de atuação entre cada um de seus componentes. Coube à mulher, a tarefa de
cuidar do lar e dos filhos, e ao homem o papel de provedor e a inserção no mundo do
trabalho.
A valorização da família nuclear resultou na instituição da categoria da “família
feliz” (CAMPOS,2009, p.9). Este modelo exigia que mães e pais, preenchessem os
requisitos idealizados de “esposas afetivas, sadias, belas, instruídas e castas,
companheiras perfeitas para um marido também idealizado, laborioso, esforçado,
portador de hábitos regrados, enfim” (Ibidem., p.90). Em consonância a tal pensamento,
Maluf e Mott (2006) afirmam: “A arquitetura do lar feliz aprisionou homens e mulheres
dentro de uma moldura estritamente normativa"(p.382).
A aprovação do Código Civil, Decreto nº. 3017 - 1º de janeiro de 1916, reforçou
a condição da mulher como dona de casa e mãe. Ele instituiu, sob bases jurídicas, os
direitos e os deveres de homens e mulheres. No exercício da função marital, o esposo
era considerado o chefe da família. Cabia ao homem ser o representante legal dos bens
familiares e, dependendo do regime de casamento, dos bens particulares da esposa. A
103
escolha do domicílio também era prerrogativa masculina. O marido tinha o poder de
autorizar ou proibir que a esposa trabalhasse e dormisse fora do lar, quando o emprego
exigisse tal condição.
E os direitos e deveres da mulher?
Art. 240. A mulher assume, com o casamento, os apelidos do marido e a condição de sua companheira, consorte e colaboradora dos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. (...) Art. 247. Presume-se a mulher autorizada pelo marido: I.Para a compra, ainda a crédito, das coisas necessárias à economia doméstica. II. Para obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. III. Para contrair as obrigações concernentes à indústria, ou profissão que exercer com autorização do marido, ou suprimento do juiz.
A promulgação do Código Civil de 1916, constituiu-se como um meio formal de
garantir à ordem familiar e definir, em bases legais, quais os papéis sociais destinados
aos homens e às mulheres. Ratificava uma construção de gênero baseada na existência
de relações de poder assimétricas entre os sexos. Mott e Maluf (Op.cit.) apontam esta
iniciativa também era uma forma de se defender das mudanças no comportamento
feminino que tanto assustavam os conservadores. Segundo Priore (Op.cit.), os
conservadores difundiram discursos de culpabilização das mulheres trabalhadoras:
A preocupação era convencer a mulher de que o amor materno era inato, puro e sagrado, e que apenas por meio da maternidade e da educação dos filhos ela realizava sua “vocação natural”. Sanear a sociedade por intermédio das mulheres era a meta (p.136).
O sexo feminino deve aprender a ser menina. Correr, brigar ou andar
despenteada era visto como uma ameaça à feminilidade, uma das principais virtudes da
mulher. O Tico-Tico tinha o costume de publicar narrativas que salientavam o papel da
mãe, como a detentora de dons naturais para cuidar dos filhos. A mãe postiça69 é uma
história na qual se faz referência aos papéis do ser mulher e do ser homem. A esposa
precisa sair e pede ao marido que cuide do filho do casal. Quando o bebê começa a
chorar, o pai não sabe o que fazer para acalmar o menino. Como solução, o homem
fantasia um manequim com as roupas da mulher. Desta forma, a falsa mãe ninaria a
criança. Demonstra-se que a figura paterna não tinha as aptidões naturais e necessárias
para cuidar dos filhos.
69 O Tico-Tico,14/05/1913,p.31
104
A história em quadrinhos O inimigo das mulheres70 trata da mesma temática,
porém com personagens infantis. São feitos questionamentos sobre o valor social da
mulher. A personagem feminina não tem nome próprio. Durante a leitura, destacam-se
as ofensas deferidas por Lulu contra a irmã. Outro aspecto é o fato do menino se
vangloriar da superioridade do homem frente à mulher. Lulu apenas toma consciência
do valor da mulher quando se machuca e precisa de cuidados e de atenção. A irmã
prontamente lhe faz curativo.
Como observa Vergueiro (Op.cit.):
A preocupação com a formação das meninas em O Tico-Tico em coerência sob a égide da visão dominante da época sobre o papel da mulher na sociedade brasileira, ou seja, a de baluarte do ambiente familiar, responsável pela educação das crianças e pelas tarefas domésticas (p.177).
No impresso infantil, a figura materna tem a função de aconselhar e corrigir os
comportamentos inapropriados dos filhos. Cabe a ela fazer as crianças refletirem sobre
seus atos e assim internalizarem as boas ações e cultivar os bons sentimentos. A mais
generosa apresenta uma mãe de ilibado comportamento. Questiona a filha sobre o fato
dela se gabar por ter doado uma pequena quantidade de dinheiro a uma pobre mulher.
No decorrer da história, a garota aprende a diferença entre soberba e os verdadeiros
atos de caridade e generosidade. Situação semelhante ocorre em O Livro e a bola71.
Nesta sequência, a mãe ensina à filha sobre a importância de ajudar ao próximo. Em
Flagrante72, a preguiçosa Lina conta uma mentira para evitar arrumar o próprio quarto.
Após descobrir a mentira, a mãe lhe proíbe de usar um valioso presente dado por sua
madrinha73. Na história Mamãi já não gosta mais de mim74, Lili entende as repreendas
de sua mãe como sinais de desamor. Após uma longa conversa, a filha compreende
que tais censuras tinham o propósito de evitar os maus comportamentos. O papel das
mães é o de demonstrar aos filhos a importância da honestidade e da dedicação aos
estudos. Elas devem ser exemplos de ilibada conduta.
Scott (1991) descreve que as mulheres sempre trabalharam e exerceram as
mais diferentes funções, desde costureiras até polidoras de metais. No entanto, no
decorrer do século XIX, a categoria mulher trabalhadora passou a ser alvo de debates:
70 O Tico-Tico, 30/06/1909, p.1 71 O Tico-Tico, 14/02/1917,p.1 72 O Tico-Tico,16/02/1916,p.1. 73 Na ausência materna, as histórias de O Tico-Tico traziam as tias, as avós e as irmãs mais
velhas como as responsáveis por fazer as crianças trilharem o bom caminho. Em As trez
caixinhas, a avó faz um desafio às netas com o intuito de descobrir qual delas era a mais digna
de receber seu anel valioso. O Tico-Tico, 16/09/1916, p.1.
74 O Tico-Tico, 14/08/1912, p.2.
105
A mulher trabalhadora foi um produto da revolução industrial (...) A visibilidade da mulher trabalhadora resultou da sua percepção como um problema, um problema de criação recente e que exigia solução urgente. Esse problema implicava o próprio sentido de feminilidade e a sua compatibilidade com o trabalho assalariado; foi posto e debatido em termos morais e categoriais. (...) deve a mulher trabalhar por um salário? Qual o impacto do trabalho assalariado no corpo feminino e na sua capacidade de desempenhar as funções maternais e familiares? Que gênero de trabalho é adequado a mulher? (p.443).
No cerne da questão estava a mudança do local de trabalho feminino. As
atividades anteriormente realizadas pelas mulheres estavam vinculadas,
prioritariamente, ao espaço do lar. Supunha-se que conseguiam combinar perfeitamente
a maternidade e suas ocupações produtivas. No entanto, com a Revolução Industrial,
as mulheres teriam que se dividir entre a casa e a fábrica, situação que prejudicaria a
criação dos filhos e a administração do lar:
O resultado segundo se dizia, era que as mulheres só poderiam trabalhar durante curtos períodos das suas vidas, abandonando o emprego remunerado depois de casarem ou terem filhos, voltando ao trabalho mais tarde só caso de os maridos não serem capazes de sustentar a família. Daí advinha ficarem confinadas a certos empregos não especializados, reflexo da prioridade das suas obrigações domésticas e maternais sobre qualquer identificação profissional ao longo prazo (Ibidem, p.444).
Ganhou espaço, o discurso de que os indivíduos do sexo masculino não
interrompiam sua carreira, ao contrário das mulheres que engravidavam e precisavam
se dedicar à família. Na prática, tal argumento não se sustentava, pois os homens
ficavam doentes e passavam por períodos de desemprego. Scott (Ibidem) ressalta que
“(...) o sexo era oferecido como a única razão para a diferença entre homens e mulheres
no mercado de trabalho” (p.445).
Para Perrot (Op.cit.), o século XIX se caracterizou pela acentuação da divisão
do mundo do trabalho entre homens e mulheres. A eles foram destinados os afazeres
nas fábricas e a elas os cuidados com lar e a família. O sexo masculino seria
remunerado por seus serviços, a mulher não. Constituía-se a perspectiva de que o
trabalho feminino era uma missão.
A realidade demonstrava que grande parte das mulheres precisava trabalhar.
Neste sentido, instituiu-se a seguinte questão: O que é um trabalho de mulher? Em uma
sociedade marcada pelo discurso da fragilidade feminina, os trabalhos destinados a elas
se caracterizavam por
106
Qualificações reais fantasiadas como “qualidades” naturais e submissas a um atributo supremo, a feminilidade: tais são os ingredientes da “profissão da mulher”, construção e produto da relação entre os sexos (Ibidem, p.253). A identificação da mulher com certo tipo de empregos e como mão-de-obra barata foi formalizada e institucionalizada de várias maneiras durante o século XIX, de tal modo que se tornou axiomática, uma questão de senso comum. (SCOTT, Op.cit. p.454).
As personagens femininas de O Tico-Tico em sua maioria eram donas de casas,
em uma perspectiva de sintonia com o modelo feminino defendido por setores mais
conservadores das elites burguesas (VERGUEIRO, Op.cit.).
Na revista, o trabalho feminino fora do lar era visto com complacência apenas
quando estivesse relacionado ao próprio sustento e da família. As profissões deveriam
se restringir a empregos que estivessem vinculados à própria natureza da mulher. Como
salienta Campos (Op.cit.) as funções consideradas apropriadas ao sexo feminino eram
(...) extensão pública dos papéis sociais historicamente delegados às mulheres, pois requeriam qualidades supostamente constitutivas do sexo frágil, como paciência, docilidade, sensibilidade e disposição intrínseca à submissão (p.83).
Em Correspondência do Dr. SabeTudo de 2 de setembro de 1914 e 19 de maio
de 1915, Dr. SabeTtudo aconselha suas leitoras a seguirem o magistério ao invés de
optar pela carreira de farmacêutica ou musicista:
Qualquer uma das duas é bôa carreira para uma moça que deseja ser independente; mas se não conta com pessoa de sua absoluta confiança, que lhe reserve um logar de pharmaceutica, deve preferir o magisterio, pois com elle irá lidar com creanças o que fica bem a uma moça e não te arrisca a ter que trabalhar em qualquer laboratorio entre desconhecidos (p.19).
A carreira musical é talvez mais brilhante; a do magistério, mais modesta e trabalhosa, é porém mais segura. E não impede que cultive sua vocação musical. Ao contrario, isso será para minha bôa amiguinha mais uma vantagem (p.17).
A restrição a determinados tipos de emprego foi narrada em Os sonhos da Lili75.
A menina que desejava ser uma princesa ou uma rainha quase foi nomeada General.
No entanto, ela acordou e a realidade se fez presente. No início do século XX, não havia
a possibilidade das mulheres pertencerem às Forças Armadas. Este contexto apenas
se modificou em 1980 com a criação do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha,
Decreto Lei n. 6807 – 7 de julho de 1980. Embora já tivesse ocorrido exceções. Em
75 O Tico-Tico, 06/06/1906, p.1.
107
1823, Maria Quitéria76 se vestiu de soldado para combater as tropas portuguesas na
província da Bahia que não reconheciam a Independência do Brasil.
A possibilidade do sexo feminino alçar outros caminhos, para além daqueles
defendidos por setores das elites da sociedade brasileira, costumava ser combatida em
inúmeras frentes. Priore (Op.cit.) cita a preocupação do poder público com as operárias
brasileiras. Para convencer a trabalhadora a abandonar o emprego e retornar ao lar,
foram distribuídos cartilhas e boletins sobre a importância da mulher se dedicar
integralmente aos cuidados dos filhos. Foram criados os Concursos de Robustez no
qual as mães que provassem, ter amamentado o filho até o sexto mês de vida, eram
premiadas. Utilizou-se o discurso a favor da amamentação como forma de legitimar o
papel da mulher como mãe, esposa e administradora do lar.
Na prática, cabia à mãe burguesa educar os futuros líderes da nação e às
mulheres menos abastadas creditou-se a função de formar os trabalhadores que
ajudariam no crescimento da economia nacional.
3. Considerações Finais
O Tico-Tico é composta de histórias em quadrinhos, personagens e seções que,
por meio da diversão e da ludicidade, tinham o propósito de auxiliar na conformação de
comportamentos e papéis sociais consonantes a um projeto de sociedade, calcado no
desejo reformador das elites brasileiras. Entre as instâncias a serem normatizadas,
pode-se claramente apontar às relações de gênero. De forma contrária a perspectiva de
que O Tico-Tico centrava suas atenções apenas na formação dos meninos, a revista
também se dedicava a formar as meninas brasileiras. As elites tinham a preocupação
de reforçar o modelo social no qual eles tinham de ser preparados para o mundo
trabalho. Assim como, elas aprenderiam sobre prendas domésticas e os cuidados com
o lar. Reflexo de um meio social, marcado por fortes traços conservadores e machistas,
que vinculava o sexo feminino às representações de fragilidade e de submissão.
4 - Bibliografia
A MÃE POSTIÇA. O Tico-Tico, 14/05/1913, p.31.
76 Maria Quitéria nasceu em Salvador no ano de 1792. Recebeu a condecoração Ordem do Cruzeiro do
Imperador D.Pedro I por ter . Embora reconhecida por sua atuação nos combates pela consolidação da
Independência do país, não pôde seguir carreira militar. Sua condição de excepcionalidade foi realçada por
sido permitido que vestisse um saiote por cima do uniforme de soldado durante os combates. Nas
referências iconográficas sobre a personagem histórica, ela é retratada com a referida vestimenta. Maria
Quitéria faleceu aos 61 anos, em 1853 na cidade de Salvador. No ano de 1996 foi nomeada Patrona do
Quadro Complementar dos Oficiais do Exército brasileiro. VAINFAS, Ronaldo. (Org.). Dicionário do
Brasil imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p.523-525.
108
A MULHER NA SOCIEDADE MODERNA. O Tico-Tico, 03/02/1909,p.6. ARROYO, Leonardo.. Literatura infantil brasileira: ensaio de preliminares para a sai história e as fontes. São Paulo: Melhoramentos, 1968. AS TREZ CAIXINHAS. O Tico-Tico,16/09/1916, p.1. BASTOS, M. H. C.. Cuore, de Edmundo de Amicis (1886). Um sucesso editorial.. In: XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO: COMUNICAÇÃO, ACONTECIMENTO E MEMÓRIA. 1.,2004, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: [s.n], 2004, p. 1-16. Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2004/resumos/R0767-1.pdf. Acesso em: 22.mar.2015.
BOURDIEU, P.. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
BRASIL. Decreto Lei n.6807, de 7 de julho de 1980.Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L6807.htm. Acesso em: 23.fev.2014.
_____________..Decreto nº. 3017, de 1º de janeiro de 1916. Dispõe sobre a promulgação do novo Código Civil brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. Acesso em. 19.nov.2014.
CAGNIN, Antonio Luiz. Chiquinho, Buster Brown, a mais brasileira das personagens americanas. VERGUEIRO, Waldomiro; SANTOS, Roberto Elísio dos..O Tico-Tico: centenário da primeira revista em quadrinhos do Brasil. São Paulo: Opera Graphica Editora,2005.p.29-34. CAMARA, Sônia.. Reinventando a escola: a reforma Fernando de Azevedo no Distrito Federal de 1927 a 1930. 1. ed. Rio de janeiro: Quartet, 2013.
____________________..Sob a Guarda da República: a infância menorizada no Rio de Janeiro da década de 1920. Rio de Janeiro: Quarter. 2010.
CAMPOS, Raquel Discini..Mulheres e crianças na imprensa paulista (1920-1940). São Paulo: UNESP, 2009.
CARDOSO, Athos Eichler. Le Petit Journal Illustré de la Jeunesse: A verdadeira origem francesa d’O Tico-Tico.In: XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação,1.,2008, Natal. Anais...Natal: [s.n],2008,p.1-14 Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-1506-1.pdf .Acesso:30.mar.2015.
CARVALHO, J.M.. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. 3.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
CE QU’IL FAUT IMITER/ CE QU’IL NE FAUT PAS IMITER. La Semaine de Suzette. 02/02/1905, s/p.
CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque. 2.ed. Campinas-SP:UNICAMP,2001.
109
___________________. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996.
CHARTIER, Roger.. Diferenças entre os sexos e dominação simbólica. Cadernos Pagu, Campinas-SP, v.4, p.37-47, 1995.
CONCURSO N.28 - UM PASSEIO DE BAIXO D’ÁGUA. O Tico-Tico, 28/03/1906, p.16.
CORRESPONDÊNCIA DO DR. SABETUDO. O Tico-Tico, 02/09/1914,p.19.
___________________. O Tico-Tico, 19/05/1915, p.17.
COUDERC, Marie-Anne. La Semaine de Suzette: histoires de filles. Paris: CNRS Editions, 2005.
D’ INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. In: PRIORE, M.L. M..(Org); BASSANEZI, Carla. (Coord. de texto). História das mulheres no Brasil. 9.ed .São Paulo: Contexto:2009.p.223-240.
DIOGO, Marcia Cezar. O Moderno em Revista na cidade do Rio de Janeiro. CHALHOUB, Sidney; NEVES, Margarida de Souza; PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. (Org.). História em Cousas Miúdas. Campinas- SP: Editora da Unicamp, 2005. p.459-489. EM FLAGRANTE. O Tico-Tico,16/02/1916,p.1. GOUVÊA, M.C.S.. A literatura como fonte para a história da infância: possibilidades e limites. In: LOPES, Alberto; FARIA FILHO, L. M.;FERNANDES, R..(Org.). Para a compreensão histórica da infância. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
HALLEWELL, Laurence..O livro no Brasil: a sua história. São Paulo: EDUSP,2005
HANSEN, P. S.. A arte de formar brasileiros: um programa de educação cívica nas páginas da revista O Tico-Tico.. In: MAGALDI, Ana Maria Bandeira de Mello; XAVIER, Libânia Nacif. (Org.). Impressos e História da Educação: usos e destinos.. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008,p. 45-58. LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina.. Literatura infantil brasileira: história e histórias. 7.ed. São Paulo: Ática, 2007.
LINS, Vera; VELLOSO, Monica Pimenta; OLIVEIRA, Cláudia.. O Moderno em Revistas:
Representações do Rio de Janeiro de 1890 a 1930. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.
LUYTEN, Sonia M. Bibe.. A geração de meninos traquinas. In: VERGUEIRO, Waldomiro; SANTOS, Roberto Elísio dos.. O Tico-Tico: centenário da primeira revista em quadrinhos do Brasil. São Paulo: Opera Graphica, 2005. p.41-49.
MALUF, Marina; MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundo feminino. In: SEVCENKO, Nicolau. (Org.). História da Vida Privada no Brasil - República: da Belle Époque à Era do Rádio.v.3. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.p. 367-421.
MAMÃI JÁ NÃO GOSTA MAIS DE MIM. O Tico-Tico, 14/08/1912, p.2.
110
O INIMIGO DAS MULHERES. O Tico-Tico,30/06/1909, p.1.
O LIVRO E A BOLA. O Tico-Tico, 14/02/1917,p.1.
O QUE SE DEVE IMITAR/ O QUE NÃO SE DEVE IMITAR. O Tico-Tico, 01/05/1907.
O TICO-TICO, O Malho, 16/09/1905, p.40. Disponível em: http://www.casaruibarbosa.gov.br/omalho/revista.asp?rev=157&ano=1905. Acesso: 13.mai.2014.
O TICO-TICO, O Malho, 23/09/1905. Disponível em: http://www.casaruibarbosa.gov.br/omalho/revista.asp?rev=158&ano=1905. Acesso em: 16.fev.2014..
OS SONHOS DE LILI. Tico-Tico, 06/06/1906, p.1.
PERROT, Michelle.. Funções da família. In:_________________.(Org.). História da vida privada: da Revolução Industrial à Primeira Guerra. v.4.São Paulo:Companhia das Letras,2009.p.91-106.
____________________. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru-SP: EDUSC, 2005.
PRIORE,M.L.M Histórias e conversas de mulher. São Paulo: Planeta, 2013.
ROSA, Zita de Paula. O Tico-Tico: meio século de ação recreativa de pedagógica. Bragança Paulista: EDUSF,2002. p.25-26.
SCOTT, J.. A mulher trabalhadora. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle. (Org.). História das mulheres no Ocidente: o século XIX.v.3. Porto: Edições Afrontamento. p.443-475.
SEVCENKO, Nicolau..A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio de Janeiro. In:________________.(Org.). História da Vida Privada no Brasil - República: da Belle Époque à Era do Rádio. v.3. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.p. 513-619.
_________________Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 2.ed.São Paulo: Companhia das Letras,2003.
SILVA, M. C.. Infância e Literatura. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2010.
VELLOSO, Monica Pimenta. As distintas retóricas do moderno. In: LINS, Vera;_______________; OLIVEIRA, Cláudia. O Moderno em Revistas: Representações do Rio de Janeiro de 1890 a 1930. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.p.43-110.
__________________. Percepções do moderno: as revistas do Rio de Janeiro. In: NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das; MOREL, Marco; FERREIRA, Tania Maria Bessone da C.(Org.). História e imprensa: representações culturais e práticas de poder. Rio de Janeiro: DP&A, FAPERJ, 2006.p.312-331.
VAINFAS, Ronaldo. (Org.). Dicionário do Brasil imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.
111
VERGUEIRO, Waldomiro.. A publicidade em O Tico-Tico. In:________________;SANTOS, Roberto Elísio dos.(Org.).Tico-Tico – 100 anos: Centenário da primeira revista em quadrinhos do Brasil. São Paulo: Opera Graphica Editora, 2005.p.131-140.
VINCENT, Gérard. Segredos de família. In: PROST, Antoine;_________________.(Org.). História da vida privada: da Primeira Guerra a nossos dias. v.5. São Paulo: Companhia das Letras: 2009.p.223-281.
A SITUAÇÃO EDUCACIONAL DA CRIANÇA NA AMAZÔNIA DO SÉCULO
XX: UMA ANÁLISE NA OBRA CHOVE NOS CAMPOS DE CACHOEIRA77
Maria do Socorro Pereira Lima- SEMEC/ UFPA [email protected]
Laura Maria Silva Araújo Alves – UFPA
Introdução
Este artigo é uma parcial de uma tese desenvolvida no campo da história social
da infância na Amazônia paraense, que teve com objetivo central analisar a infância, a
educação e a criança paraense, entre o final do século XIX os primeiros decênios do
século XX, objeto que teve como sua principal fonte de análise duas obras literárias
produzidas por escritores paraenses.
Especialmente para este artigo, nos dispusemos a recortar da tese a situação
educacional da criança que viveu nos anos iniciais do século XX, na ilha do Marajó,
especificamente, em Vila de Cachoeira, segundo a narrativa do romance Chove nos
Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, romancista moderno que escreveu essa
obra como uma forma de mostrar a decadência social pelo que passavam os
interioranos do Pará, após o período áureo de domínio da borracha que trouxe muitos
benefícios ao estado, inclusive no campo da educação e da arte. Porém, pelas
77 Resultado parcial da tese de Doutorado em Educação, intitulada “Infância, Educação e Criança: um estudo histórico-literário nas obras Serões da mãe preta e Chove nos campos de Cachoeira (1897-1920)”, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Ciências da Educação, da UFPA.
112
condições com que o autor relata os fatos, os benefícios da boa economia parecem que
recaíram mais no solo da capital, Belém, a qual teve como modelo de urbanização a
cidade de Paris, na França.
Amparada nos pressupostos teóricos da Nova História Cultural, tendo como seu
maior representante Roger Chartier, a pesquisa é configurada como histórico-literária
por reconhecer a literatura como uma fonte passível de análise histórica de um
determinado objeto, assim como os historiadores, servindo-se de obras de escritores
possam percebê-las como construções mentais reveladoras de tensões e conflitos
presentes na sociedade, tendo em vista que os escritores são testemunhas do seu
tempo, transformam os fatos históricos em literários. É nessa perspectiva que se deve
atentar para o retorno da história sobre si mesma, pensando na sua dimensão literária,
alegando que é preciso enfatizar a “literatura como objeto possível ou necessário da
investigação histórica” (CHARTIER,1999 p. 91).
Do mesmo modo, o romance Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio
Jurandir, nas páginas do qual se percebe as marcas da situação educacional da criança,
esta representada na relação que o escritor teve com o lugar onde ele ambienta a sua
obra e de onde extrai os seus personagens, que é a ilha de Marajó, localizada nas
regiões das ilhas no interior do estado do Pará, onde o escritor viveu intensamente sua
infância.
Considerada um dos mais ricos e preservado santuário ecológico da Amazônia,
a ilha do Marajó representada por Dalcídio Jurandir, na obra, se contrasta pela pobreza
dos seus habitantes, entre os quais as crianças as quais constituem-se num núcleo de
sujeitos que padecem pelo descaso público, quando se constata no lugar a falta de
moradia adequada, as precárias assistência à saúde pública, a falta de alimentação a
muitas famílias, a constante presença da morte, além das condições inadequadas das
escolas, lugar onde as crianças eram submetidas até a castigos corporais mediante uma
metodologia ultrapassada, contrapondo-se aos investimentos que se tinha, na mesma
época, na capital do estado, ou seja, a cidade de Belém, onde a educação era
prioridade.
Com o objetivo de colocar em questão esta situação apontada na referida obra,
este artigo está organizado em três partes, sendo que, na primeira, discorre do período
investigado, com brevidade sobre a infância na cidade de Belém, onde a educação e
assistência à criança, pela situação econômica do estado, passava a ser prioridade,
sendo uma das principais meta do governo republicano, que tinha o propósito de
extinguir as escolas isoladas e expandir por todo o estado do Pará os grupos escolares
com todas as condições de funcionamento, garantido assim, uma educação digna e de
113
qualidade à população paraense, em especial, às crianças, como garantia de futuro
promissor à nação brasileira.
No segundo momento, será apresentado ao leitor, o núcleo infantil de
personagens na obra, de modo a identificá-los como sujeitos de direitos, porém, sem
garantias, segundo a fonte literária analisada. Por fim, serão analisadas algumas cenas
que mostram a infância em Vila de Cachoeira, na ilha de Marajó e a situação
educacional da criança nesse lugar a partir do ponto de vista do protagonista infantil.
Por fim, seguem as considerações finais.
O olhar à infância: Belém, no início do século XX
O período era significativo para a nação brasileira que, desde à sua condição de
colônia, visava uma nação independente e moderna. O estado do Pará experimentava
um desenvolvimento sem precedente em toda a sua história. No plano político-
administrativo, ganhava impulso o desenvolvimento urbano da cidade de Belém, fruto
do extrativismo da borracha em plena ascensão. “Era preciso adequar a cidade às
transformações capitalistas, investindo na capital e diversificando suas aplicações em
outras atividades”, acrescenta Sarges (2002), que, por conta dessas mudanças, “se
engendrou todo um processo de modernização da cidade de forma a facilitar o
escoamento da produção e de divisas para os países centrais” (SARGES, 2002, p. 75).
Nesse movimento, buscavam-se mudanças no setor educacional que
atendessem aos novos princípios e valores difundidos, principalmente pela
intelectualidade da época. Portanto, reformar o ensino significava criar uma mentalidade
nova que se adequasse às exigências do tempo. Nesse contexto, a escola
desempenharia um papel fundamental, na medida em que caberia a ela se organizar e
difundir as novas ideias que serviam de base para a transformação que se desejava
operar no país (FRANÇA, 2004).
Nesse contexto, várias ações se multiplicavam em prol do embelezamento da
cidade. Entre as muitas ações, as práticas dos médicos higienistas identificam-se com
o movimento filantrópico que tratava de um embate com os representantes da ação
caritativa que passaram a ser vistas como forma de extinguir determinados
comportamentos que viessem a comprometer o atraso do país. Neste sentido, a criança
passava a ser vista como
[...] o fulcro desse empreendimento, pois constituirá um dos principais instrumentos de intervenção do estado na família, atingindo os transgressores da ordem no nível mais individual e privado possível (RIZZINI, 2011, p. 25).
114
Sobre essa mesma questão, Gondra (2002) ressalta que, nesse período, o
tratamento dispensado à infância pobre buscava formular, a partir dos conhecimentos
da medicina, um programa de atendimento às crianças desamparadas que idealizava a
criação de um lugar para internação destas, uma espécie de hospício no qual a criança
pobre seria resguardada, protegida e educada, levando-se em consideração princípios
filantrópicos e higiênicos, em que a “[...] ação do Estado, dos homens da ciência e da fé
cristã se consorciam, objetivando dirigir o destino dos infelizes” (GONDRA, 2002, p.
307).
Rizzini (2011) assegura que nesse contexto, os cuidados dos higienistas
ramificariam para além da saúde, pois atenderiam diretamente no âmbito doméstico,
dando assistência psicológica e pedagógica às famílias para que estas passassem a
controlar os seus filhos. E caso as crianças que não tivessem esse amparo familiar,
ficariam sob a tutela do estado, que as educaria aos moldes de uma nação moderna.
No interior dessas práticas assistencialistas, foi-se elaborando um imaginário de
infância adequado a uma nação que se pretendia civilizada, que se relacionava tanto às
ações governamentais e instituições de produção da criança, esta foco de atenção dos
adultos, principalmente dos moralistas, educadores, médicos e juristas, num período
que houve uma maior valorização do futuro da criança do que do seu presente, o que
provocou a perda do seu anonimato.
Entretanto, por volta dos anos 20, o estado do Pará teve que enfrentar a crise na
produção do látex determinada pela concorrência asiática e pela produção da borracha
sintética em laboratórios europeus e norte-americanos (SARGES, 2010), levando a
magnífica Belém dos álbuns impressos na Europa, não se sustentar mais pelos
seringais. A cidade projetada ao modelo parisiense, nas duas décadas do século XX,
apresentava sinais de empobrecimento, que se refletiam na vida dos paraenses com
uma população em decréscimo, pelo término da produção do látex (PENTEADO, 1968).
Essa crise é refletida no contexto social de produção no romance Chove nos
Campos de Cachoeira, que garantiu ao seu criador o primeiro lugar no Concurso
Literário Nacional, instituído pelo jornal Dom Casmurro e pela Editora Vecchi, após
escrita entre as duas Guerras Mundiais. Sua contextualização histórica se remete à
época pós-ciclo da borracha quando o apogeu já era coisa do passado e onde também
se via a crise da goma interferir na vida da população, principalmente nos espaços que
nem sequer foram atingidos pelo processo de reurbanização, como em Vila de
Cachoeira, na ilha do Marajó, local que ambienta o romance Chove nos campos de
Cachoeira, do escritor paraense Dalcídio Jurandir. Nesse lugar, a infância é marcada
pelo sentimento de devastação.
115
A infância em Chove nos campos de Cachoeira
O romance Chove nos Campos de Cachoeira materializa muito das condições
em que as crianças se submeteram à vida de pobreza na ilha do Marajó, especialmente
em Vila de Cachoeira, em pleno movimento que defendia o retorno às liberdades
democráticas. Talvez a obra represente o caos moderno pela extrema pobreza da
população que se contrasta à exuberância da natureza local que reside no imaginário
popular.
Na obra, a infância é marcada por situações de abandono e descaso público
para com as crianças que vivem em precária falta de saneamento básico, pobreza
material e espiritual, que inspiraram o escritor Dalcídio Jurandir a transportar tais
características para os seus personagens e dá-lhe voz como sujeitos históricos que
sentem os efeitos negativos de uma visível desigualdade social, que faz com que esses
personagens se sintam inferiores aos que, por ventura, tiveram a oportunidade de sentir
o efeito de um progresso tão anunciado na Belle Époque, como os habitantes da cidade
de Belém, que tiveram a oportunidade de sentir, à época, o efeito do desenvolvimento
e do progresso, amparados pela boa economia do estado.
Com total apropriação do contexto social, político, cultural e educacional da Vila
de Cachoeira, Dalcídio Jurandir recria esse lugar pelo viés da sua percepção literária e
poder criador. Descreve o modo de vida dos grupos e subgrupos de indivíduos que
viviam em rios – as populações ribeirinhas, e campos secos, alagados ou alagáveis.
A infância em Chove nos campos de Cachoeira representada uma realidade
onde liberdade e sofrimento se confundem, explicado pela relação que grande parte das
crianças tem com o lugar, com exceção do protagonista que, por ser caracterizado pelo
narrador como um menino que vive em um constante estado de liminaridade, sempre
se sentindo inferior, mas com grande capacidade criativa de poder sobre os menos
favorecidos economicamente. Como figura central da trama, seu maior desejo é sair da
Vila de Cachoeira para estudar na capital, enquanto que as outras crianças, apesar de
bem pobres, conseguem se deslocar do mundo real de sofrimentos e viver sua infâncias
correndo livremente pelos campos, tomando banho de igarapés, subindo em árvores,
criando suas próprias brincadeiras.
Apresentado como uma criança que tem pelo lugar uma relação diferente das
demais crianças na obra, o protagonista empreende a busca romanesca própria do herói
emblemático, que ao longo do enredo sempre se expõe à expectativa de sair da Vila e
ir para Belém e realizar o seu sonho, com o apoio da mãe, que temia pelo futuro do filho
que desejava romper com o destino de miséria inevitável no Marajó. Mudar para Belém
116
significava alterar o próprio futuro e construir uma nova realidade. O sonho acalentado
incluía a efervescência de uma cidade grande, o acesso aos estudos, e principalmente
o contato com expressões culturais, com as quais tivera contato através dos livros e
catálogos colecionados por seu pai e pelas informações advindas de pessoas que
viajavam para Belém.
De certo modo, é compreensivo que o universo do imaginário da criança que
vive em áreas afastadas da capital como a Vila de Cachoeira, no Marajó, a cidade de
Belém representasse uma nova perspectiva de vida, pois é na cidade grande que o
progresso, a educação e a civilidade acontecem e é isso que o menino almejava, assim
como muitos que residem nos interiores das capitais.
Por outro lado, as outras crianças que transitam na narrativa, embora muito
pobres, sendo que algumas pediam sobras de comida nas casas, que padecem, sofrem
com doenças e fome sem perspectiva de melhorar a vida, assim como a pequena
Marialva, que diariamente pede esmolas nas casas e se submete a humilhações para
poder ter o que comer.
[...] A pequena abria os olhos remelentos. A sua cara era encardida e gasta. Menina ainda e parecia uma velha. Gaga, quase todos os dias vem com aquele saco sujo, de pano, que D. Amélia enchia de farinha.
[...] Marialva só fez foi esfregar com a costa da mão os olhos remelentos e coçar as eternas corubas do braço... Mas Alfredo sempre imitava a sua gagueira, negava a farinha, mandava que fosse pedir ao bispo [...] (JURANDIR, 1941, p.120-121).
No entanto, apesar dessa condição que descreve a situação da menina, as
crianças que vivem uma infância pobre e sem esperança não são de todo marcas de
uma única representação da infância que Dalcídio Jurandir traz da realidade para a sua
obra. O autor adentra a outra face dessa infância marcada pela pobreza de Cachoeira,
onde a criança como sujeito social, significa o mundo dialogando com os elementos da
cultura do lugar, apropriando-se a partir de uma lógica diferenciada – a lógica infantil.
Como conhecedor dos fatos e da intimidade dos personagens, o narrador de
Chove consegue penetrar no universo infantil de seus personagens para mostrar a
relação da criança com a cultura do lugar, a cultura aqui entendida com “inseparável da
luta, da guerra” e a maneira como ela é posta em prática pelos sujeitos (CERTEAU,
1985, p.8), considerando o modo particular pelo qual os sujeitos se apropriam de
representações do mundo, usando a tática da reinvenção, como a capacidade de resistir
às situações postas e de crer nas possíveis mudanças.
Sendo assim, em Chove nos Campos de Cachoeira, Dalcídio Jurandir, pela
intensidade como descreve e apresenta ao leitor os seus personagens, demonstra um
117
profundo conhecimento não só da dor deles como também do lugar de onde narram sua
experiências como produtores de cultura, apesar das dificuldades impostas pela
pobreza e que revelam uma infância que se passa a largos passos de uma concepção
idealizada, plasmada pela ideia de uma fase feliz da vida da criança.
Ainda desse modo, em meio a pobreza na Amazônia paraense retratada na obra,
as personagens crianças se apropriam de sua condição para recriarem a realidade de
Cachoeira por meio da liberdade e do devaneio, estes concebidos por Bachelard
quando defende o olhar da criança em relação ao mundo. Para esse autor, “[...] a criança
enxerga grande, a criança enxerga belo. O devaneio voltado para a infância nos restitui
à beleza das imagens primeiras”. (BACHELARD, 1996, p.97).
Tal recorrência pode ser evidenciada em curtas narrativas em Chove, seja no
tempo presente da criança em ação na narrativa, seja pelo recurso da memória do
narrador, mas são experiências de infância lúdicas experimentadas por personagens
crianças da fictícia Vila de Cachoeira.
A exemplo de infância pobre, porém, livre, o autor narra sobre as meninas do
Cícero Câmara, que “eram como figuras de cromo de folhinha”, segundo o onisciente
narrador.
- As do Cícero Câmara brincavam nos algodoeiros, com os joelhos na terra, mascando batatarana. Corriam atrás das jacintas, de borboletas andavam pela beiro do rio. Eram quase ruivas, branquinhas, bancando na rua e pulando corda [...] Tomavam banho na chuva, se atiravam nas velas e eram ruivas para Alfredo logo as julgar superiores a ele (JURANDIR, 1941, p. 225).
Ao mostrar esse momento lúdico em que se percebe a forte relação das crianças
com a cultura do lugar, Dalcídio talvez não tivesse se dado conta disso, mas ele contribui
com a ideia de que “[...] as culturas infantis constituem, com efeito, o mais importante
aspecto na diferenciação da infância” (SARMENTO, 2000, p. 157), ou seja, as crianças
da Amazônia sobem em árvores, tomam banho de chuva, brincam nos rios, se
relacionam com os bichos, etc., o que outras crianças de outros lugares talvez não
façam esse tipo de atividade porque vivem outras infâncias e produzem diferentes
culturas lúdicas, como as que viviam na cidade de Belém, por exemplo, as quais não
tinham acesso aos rios, aos campos, etc.
No decorrer da narrativa, nota-se que esses momentos de liberdade próprios da
criança, não se inserem na vida do protagonista, que, provavelmente, pelo seu desejo
de sair de Vila de Cachoeira para estudar em Belém, tenha limitado o narrador a relatar
momentos de possíveis alegrias na infância desse personagem, da mesma forma que
118
relatara a de outras crianças. Contudo, é através do protagonista que se pode refletir
sobre a situação educacional retratada na obra.
A situação educacional da criança, em Chove nos Campos de Cachoeira
Apesar de o protagonista demonstrar ser uma criança pouco ou quase nada
humilde, pois tem dificuldade de se relacionar com as outras crianças e despreza o lugar
de origem, ele é um personagem que se difere dos demais principalmente pelo olhar
crítico que faz da realidade de Vila de Cachoeira, mostrando-se inconformado com
várias situações que fazem desse lugar um espaço “derruído”. Entre as várias situações
que o desapontava, a precária educação ofertada para as crianças é a que mais
compromete a realização do seu sonho de ascender socialmente.
A proposta educacional idealizada pelo governo republicano desde o final do
século XIX, com maior visibilidade na capital paraense, onde houve todo um
investimento nessa área, principalmente na formação da criança, na formação dos
professores, na construção de prédios próprios para o funcionamento das escolas, bem
como equipamentos adequados, etc., enfim tudo o que se contrapõe à educação de Vila
de Cachoeira, segundo a fonte literária, mostra que a educação desse lugar é totalmente
o inverso do imaginário republicano, a começar pelas instalações e métodos.
Segundo Coelho (2009), as construções dos grupos escolares em Belém e nos
municípios do interior seguiam a mesma premissa da visibilidade do grupo José
Veríssimo, o primeiro grupo escolar inaugurado em 1900. Ou seja, os grupos deveriam
ser vistos e percebidos como um lugar apropriado para a educação, onde deveriam ser
observadas todas as exigências da higiene e da moderna pedagogia.
Entretanto, essa premissa não se observa nas escolas de Vila de Cachoeira, que
funcionavam na casa dos professores. Segundo pistas dadas pelo narrador, quando
lembra de uma situação em que a mãe do personagem João, colocara-o para aprender
a carta de abc com o seu Zé Paiva. Porém, não houve meio do menino aprender as
letras. “[...] Era medo, era o grito do mestre, era a fama do homenzinho terrível”.
(JURANDIR, 1941, p. 277). A mãe o colocara nessa escola porque o encontrara
brincando na beira do poço. Mas João não aprendeu, ficou adulto e analfabeto, se
transformou primeiro numa criança delinquente, era espancado pela mãe; se regenerou,
virou ajudante de vaqueiro, se desiludiu novamente, voltou a roubar, e não aprendeu a
ler e nem a escrever.
Sua mãe botou ele com o seu Paiva e depois foi um nunca acabar de castigo, de não sair do A, de passar a tarde inteira amarrado num banco para não fugir da escola. E por fim, quando seu Paiva sumiu
119
para dentro da casa, João quis desamarrar a perna do banco. Não pode. O nó estava bem feito (JURANDIR, 1941, p. 277).
A situação desse personagem é um pouco do que o protagonista, de certo modo,
questiona e denuncia a precariedade da educação na Vila de Cachoeira. Condições
inadequadas, método ultrapassados, humilhações e castigos, enfim, posturas que não
coadunam com uma educação digna às crianças que poderiam ver na escola um meio
de mudança na vida delas.
A obra de Dalcídio Jurandir traz muito da representação que ele faz da realidade
marajoara, pois, como literato, não deixa escapar nada da Vila de Cachoeira e nem da
intimidade de seus personagens. Entretanto, como jornalista, teve atuação significativa
na área educacional como inspetor de ensino e como secretário da Revista Escola,
órgão do professorado estadual. Com esse envolvimento, suas percepções do universo
escolar são visíveis no seu registro literário, não só em Chove nos campos de
Cachoeira, mas em grande parte de sua obra. Sem, contudo, falar que esse tema ocupa
muito espaço nas obras, como é o caso de Chove, cujo tema é narrado a partir do ponto
de vista de um protagonista infantil.
As inquietações desse personagem com o ambiente escolar onde as crianças
estudavam, sobre método de ensino, a utilidade do saber institucionalizado e as
referências ao sonho de educar-se para ascender socialmente, surgem como
discussões que possibilitam observar alguns dos conflitos e antagonismos no processo
de conformação social na fictícia Vila de Cachoeira.
O contexto educacional retratado nesse lugar está situado entre os anos 20 e
30, um período marcado por uma série de acontecimentos intelectuais, culturais e
políticos nos quais sobressai a tensão entre a realidade agro - exportadora brasileira e
as novas demandas de um capitalismo urbano-industrial que se consolidava no Brasil e
que interferiram na estrutura educacional do país.
Segundo Romanelli (1998),
Essas emergentes questões político econômicas colocam em cheque certos aspectos da estrutura educacional brasileira, destacando-se o número insuficiente de escolas nas regiões rurais, os métodos de ensino baseados no enciclopedismo e na generalidade dos conteúdos, a desarticulação entre os saberes difundidos na escola e as necessidades do mundo do trabalho (ROMANELLI, 1998, p. 94).
As questões apontadas no trecho podem ser reforçadas pelas percepções que
Dalcídio fazia sobre o modelo de educação escolar, como expressado em artigo escrito
na Revista Escola, em 1935.
A primeira coisa que se ensina á creança é o dever com a lettra grande. Mas dever? Sim, um dever que é a ferrugem deprimindo, corroendo e destruindo o vigor, a alegria e a saúde das creanças e dos
120
adolescentes. O que se deve fazer da creança é uma criatura humana. A educação não tem sido mais do que um processo policial. Policiar é sempre mais fácil do que educar. Por que educar é exigir a pensar e Anatole France dizia que muita gente não gostava do Hamleto porque o merencoreo príncipe obrigava a pensar [...]. Educar é construir e hoje o processo é destruir e conservar em poeira, as raridades inúteis ou ferozes como o Dogma, o Preconceito, o ensino religioso e o collarinho de pontas viradas [...] (ESCOLA, 1935, p. 43).
Grande parte do artigo recai no modelo de escola do seu Proença, professor que
castigava as crianças, humilhando-as, por não cumprirem suas ordens e
consequentemente por não conseguirem aprender através do sem método de ensino,
em que a palmatória era uma forma de intimidar as crianças.
Como a escola funcionava na casa desse professor, a ideia é de que se trata de
uma das escolas isoladas78que ficaram funcionando após o projeto de expansão dos
grupos escolares, construídos com o objetivo de substituir esse modelo de escola
isolada. Muitos municípios do interior foram beneficiados, mas as escolas isoladas não
foram suprimidas, ainda ficaram funcionando em várias localidades do interior
paraense79. As escolas isoladas funcionavam numa casa alugada, onde apenas um
professor ministrava aula para alunos de diferentes idades e avanços também distintos.
Não há detalhes sobre a descrição física das escolas da Vila de Cachoeira como
a do Seu Proença e do Zé Paiva, e nem se funcionavam em outros turnos além do turno
da tarde, turno que o protagonista estudava. Mas, como os membros da família
presenciavam as humilhações sofridas pelas crianças, é possível que realmente se trate
de uma escola isolada.
Uma tarde, foi nos primeiros tempos de escola, ele foi posto nu pelo Proença [...] mas Flor, Flor, olha o pipi dele. O pipi Flor! [...] Era diante dos alunos. [...]. E então Alfredo via nos olhos já definidos de Flor uma censura azul que era para o menino qualquer coisa de humilhante, de cínico, de pior do que o riso, o olhar, os gritos de Proença (JURANDIR, 1941, p.187).
Além desse tipo de prática, o protagonista questionava o método usado por seu
Proença, que era um homem com um perfil de louco, cínico, gritava, dava gargalhadas,
78 O programa das escolas isoladas era composto pelo ensino de leitura, escrita, língua nacional,
aritmética e cálculo mental, de rudimentos de geografia e história pátria, da educação social e doméstica,
de noções gerais sobre higiene e profilaxia, canto e desenho, além de proporcionar ensino profissional, ao
incluir estudos elementares de agricultura e aprendizado dos ofícios mais comuns ao local de cada escola
(PARÁ, 1929).78.
79 Segundo relatório apresentado ao senhor Presidente da República, pelo coronel Joaquim de Magalhães
Cardoso Barata – interventor federal (1944), até 1940, foram construídos trinta grupos escolares nas sedes
dos municípios do interior e dezesseis na cidade de Belém. Além desses grupos, ainda ficaram
funcionando 250 escolas isoladas nas sedes dos municípios.
121
possuía olhos vidrados, ásperos e ferozes que ficavam observando Flor lendo o “Tico-
Tico”80 e tomando a lição dos alunos. Castigos e atitudes como as descritas no excerto,
talvez fossem os castigos menos dolorosos fisicamente, porque ele ainda costumava
deixar os alunos de joelhos e batia com palmatória nas mãos deles.
Era preciso sair daquela escola do seu Proença, da tabuada, do argumento aos sábados, da eterna ameaça da palmatória embora nunca tenha apanhado, daqueles bancos duros e daqueles colegas vadios que todo dia apanham e ficam de joelhos, daquela D. Flor (JURANDIR, 1941, p. 110-111).
Como crítico, assim como o protagonista, Dalcídio Jurandir considerava que a
escola constituía espaço elevado de formação, tanto na aquisição de conhecimentos
quanto na formação de hábitos e valores, porém, via um problema nesses preceitos em
relação à realidade onde eles atuariam como afirma:
[...] Não devemos manter o antagonismo entre a escola e o meio, a educação e a vida. O problema educacional está ligado ao problema da miséria, da fome, da pauperização das massas e da proletarização das populações urbanas e rurais (ESCOLA, 1935, p. 42).
Na citação, Dalcídio reforça que a instituição se encontrava sob o domínio de
preceitos e normatizações que a afastavam da realidade social, como seria o caso das
escolas mencionadas de Cachoeira onde a educação era concebida como métodos
disciplinares rigorosos e práticas de humilhações às crianças. Essas situações
observadas era o que o desmotivava e o impulsionada o protagonista a querer declinar
do lugar.
Portanto, o que se observa nas páginas do romance Chove nos Campos de
Cachoeira, é a tradução de um cenário em que a educação no Pará, na segunda década
do século XX, não se revelava um direito garantido da criança que morava em espaços
rurais do estado, apesar da situação econômica, segundo essa fonte histórica.
É importante ainda ressaltar, que na visão do protagonista, é pela inteligência
que a criança pobre vai conseguir mudar o rumo da sua vida para melhor, o que faz da
escola um campo de tensão e disputa para quem procura ascender socialmente como
é o seu caso, em que ele não vê outra saída para um futuro promissor que não seja a
educação. Além disso, a falta de condições financeiras da sua família implicava atraso
80 Tico-Tico foi a primeira revista em quadrinhos destinada ao público infantil, lançada no Brasil em
1905 e teve sua última publicação em 1962. A revista O Tico-Tico é um marco na indústria editorial
brasileira, sendo a mais longeva publicação periódica dirigida à infância no País, editada por 56 anos.
Desde o início, a revista destacou-se por uma seleção de seções, apresentando matérias com teor
informativo, educativo, cívico e moral.
Fonte: http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/viewFile/42300/45971
122
na sua formação educacional, bem como, nesse período, por volta dos anos 20 e 30, já
era visível a preferência das famílias ricas de colocarem seus filhos para estudar em
escola particular e não na escola pública, o que de fato, se consolida até então.
A obra Chove nos Campos de Cachoeira é a escrita de uma Amazônia em que
se funde a fascinação poética e desencanto com a representação que o escritor faz da
Vila de Cachoeira, onde a questão educacional que descreve as várias situações que
envolvem as crianças e a falta de perspectiva na vida delas é sugestiva à reflexão de
que a falta de atenção do poder público com a educação da criança é parcial e não
extensiva às que habitam em áreas de difícil acesso como os moradores de Vila de
Cachoeira, no Marajó, no início do século XX.
Considerações finais
Chove nos campos de Cachoeira é um romance permeado de situações que
envolvem a criança nas relações com os adultos e em frustradas experiências escolares
que ocorrem num contexto de pobreza que comprometeram a qualidade de vida da
criança na Amazônia paraense, no pós- auge da borracha
No decorrer de vários capítulos da extensa obra, nota-se que as crianças viviam
suas infâncias em meio aos problemas sociais representados pela pobreza do lugar
onde os habitantes padeciam pela falta de estrutura básica, falta de habitação
adequada, ausência de assistência à saúde e elevado índice de mortalidade infantil.
Dentre essas questões, a situação educacional destinada à infância é descrita pelo
narrador como ultrapassada, cujos métodos de ensino são repressores, humilhantes,
provocando no personagem central, de apenas 12 anos incompletos, o desejo de fugir
o desejo de fugir do lugar pela falta de perspectiva.
Além da análise em questão, com o estudo da obra, fica entendido o quanto a
infância e a literatura guardam aí uma relação espetacular quando constroem uma
representação de infância através da narrativa, possibilitando uma compreensão
histórica e social da representação da criança na sociedade brasileira, do ponto de vista
da criação literária que encontra um meio de fazer com que o leitor escute a voz dos
personagens, em especial, das crianças.
A literatura desse escritor expressa exatamente a Amazônia decadente após o
auge do ciclo econômico da borracha, ou seja, ele faz referência às duas primeiras
décadas do século XX, época em que a crise econômica inundou a região com um surto
de progresso ilusório cujos benefícios, principalmente na educação paraense, recaíram
somente à capital.
123
Referências
BACHELARD, G. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1996. CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Tradução de Maria Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: as artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
COELHO, Maricilde Oliveira. Proclamar cidadãos: moral e civismo nas escolas públicas paraenses (1890-1910). Mestrado em Educação, Programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
JURANDIR, Dalcídio. Educação. ESCOLA – Revista do professorado do Pará. Directoria Geral da Educação e Ensino Público. Anno I. Setembro de 1935. JURANDIR, Dalcídio. Chove nos campos de Cachoeira. 1. ed. Rio de Janeiro: Casa Editora Vecchi LTDA, 1941. GONDRA, J. G. Homo hygienicus: Educação, higiene e a reinvenção do homem. Cadernos CEDES, 2003. 23, 25-38 PENTEADO, Antonio da Rocha. Belém do Pará – Estudos de Geografia Urbana. Coleção Amazônica / Série José Veríssimo. Belém, UFPA, 1966. SARGES, Maria de Nazaré. Belém: Riquezas Produzindo a Belle Époque (1870 - 1912). 2. ed. Belém: PakaTatu, 2002. SARMENTO, Manuel Jacinto & GOUVEA, Mª Cristina Soares de. Estudos da Infância: educação e práticas sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. SARMENTO, Manuel. As culturas da Infância na encruzilhada da segunda modernidade. In: SARMENTO, M; CERISARA, Ana Beatriz. Crianças e miúdos: perspectivas sociopedagógicas da infância e educação. Porto: Asa, 2004. RIZZINI, Irene. O Século Perdido. Raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2011. ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 9ª ed. Petrópolis. Vozes, 1998.
Algunos usos de Pestalozzi, Fröebel y Montessori para la educación de la tierna
edad y de los párvulos en Colombia, entre 1870 y 193081
81 El desarrollo la ponencia hace parte de los resultados de la investigación De las escuelas primarias a las escuelas infantiles: la configuración de un saber escolar para la educación de la tierna edad y de los párvulos en Colombia, 1870-1930 para optar al título de Magíster en Educación, Línea Formación de Maestros, bajo la asesoría de la profesora Mg. Lina Marcela
124
Miguel Angel Martínez Velasco82
1. Apropiación del pensamiento pedagógico de Pestalozzi
La apropiación de la pedagogía pestalozziana como piedra angular de la reforma
instruccionista (1870-1886) y del proyecto de recristianización instalado por la
pedagogía católica (1886-1930), se constituyó en un acontecimiento que permitiría la
consolidación de un discurso para la formación del hombre, bajo una concepción del
sujeto que se desarrolla armónicamente desde lo moral, lo físico y lo intelectual y que
tendría mayor resonancia desde 1870 para la consolidación del Estado-nación por parte
de los liberales para el ejercicio de sus funciones como Estado docente. Desde esta
concepción armónica del desarrollo sería posible por parte del Estado republicano el
control del alma y del cuerpo a través del ejercicio de la función educativa.
1.1Salas de asilo, lecciones de cosas e instrucción elemental: la configuración de
las salas de asilo como preparatorias para el ingreso a la escuela primaria
Las salas de asilo se configuraron discursivamente en el olimpo radical (1870-1886)
como parte de las estrategias que los liberales radicales instalaron como coordenadas
del naciente sistema de instrucción pública, en un intento por desplazar la moral católica
como eje de la educación que se venía consolidando desde la colonia por una moral
política a través de la instrucción, a partir de la desconfianza que las prácticas
domésticas producían para llevar a cabo los fines de la reforma instruccionista. Se
propuso entonces en el artículo 158 del decreto orgánico:
Correjir los vicios de la educación doméstica, formar el carácter de los niños i
prepararlos para su entrada en las escuelas primarias, [en el que] se harán
constantes ejercicios para infundir en los alumnos hábitos de orden, silencio,
atención, disciplina i sumisión voluntaria. (Jaramillo, 1980).
Quintana Marín. 82Licenciado en Pedagogía Infantil, Universidad de Pamplona, Magíster en Educación, Universidad de Antioquia. Docente de cátedra en los departamentos de Pedagogía y Educación Infantil-Facultad de Educación y asesor de Trabajo de Grado en las Licenciaturas en Educación Artística y Pedagogía Infantil, adscritas a las Facultades de Artes y Educación-UdeA respectivamente. Miembro del Grupo de Investigación Interuniversitario Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia. Miembro del Seminario Internacional El Magisterio como Productor de Saberes: 1890-1950, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-CIESAS-. Coordinador del Semillero de Investigación en Pedagogía-SIP. Correo electrónico: [email protected]
125
La objetivación de los niños y niñas de dos a seis años se produjo en el marco de las
prácticas de la escolarización que instaló la reforma instruccionista desde muy temprana
edad como parte de las estrategias que desplegaron los liberales para la conducción de
sus conductas y hacer de ellos una población útil para llevar a cabo la consolidación del
naciente Estado-nación en doble vía, por un lado se propone en el artículo 149, numeral
1 “El cuidado i educación de los niños que no pueden durante el día ser asistidos por
sus madres, i que por su edad no son admitidos en las escuelas primarias” (Jaramillo,
1980) y por otro lado, en el Artículo 149, numeral 2: “Aprovechar la tierna edad de los
niños para la formación de su carácter; previniendo i corrijiendo los vicios que la
ignorancia, el descuido o la induljencia de las familias, i el contacto diario con los criados
hace inherentes a la educación doméstica” (Jaramillo, 1980).
El funcionamiento del sistema de instrucción pública se configuró según el artículo 3 del
DOIPP en tres ramas: la inspección, la administración y la enseñanza. La desconfianza
depositada sobre los hogares fue intervenida por parte de los liberales radicales,
haciendo como propio uno de los principios que sustenta la enseñanza en las escuelas.
En el artículo 30 se aclara que “no se limitará [exclusivamente] a la instrucción, sino que
comprenderá el desarrollo armónico de todas las facultades del alma, de los sentidos i
de las fuerzas del cuerpo” (Jaramillo, 1980, p). Para ello se emplearían de acuerdo al
artículo 154 “tres clases de ejercicios, los cuales tendrán por objeto el desarrollo físico,
moral e intelectual de los niños” (Jaramillo, 1980). La concepción tríadica de Pestalozzi
como soporte discursivo de la reforma instruccionista se convirtió en uno de los puntos
de quiebre entre la familia y la escuela, dado que los liberales radicales amparados en
las funciones docentes que le corresponde ejercer al Estado no sólo instruye sino
también educa, aún por fuera de los márgenes de la obligatoriedad escolar. Esto le
permitiría escolarizar a la tierna edad que se desarrolla al interior de las prácticas
domésticas a partir de la desconfianza que instaló para el buen funcionamiento del
sistema de instrucción público.
La organización de la instrucción al interior de las salas de asilo se hizo por medio de
un plan de enseñanza, allí se incluyeron una serie de ejercicios atendiendo a la
concepción tríadica de sujeto que propone Pestalozzi para la educación del hombre.
Para el desarrollo físico en el artículo 155 se propone desarrollar “ejercicios corporales
[que] consistirán principalmente en juegos variados i proporcionados a la edad de los
niños, i en los movimientos a que den lugar las diversas lecciones indicadas por los
reglamentos” (Jaramillo, 1980). El desarrollo moral se llevaría a cabo: “por medio de
reflexiones i de buenas palabras dichas oportunamente, mezcladas con narraciones e
126
historias que fijen la atencion de los niños; i sobre todo con el ejemplo constante de
caridad, paciencia i de piedad sincera” (Jaramillo, 1980, Art. 156).
El desarrollo intelectual se soportaría en los saberes clásicos de la episteme racional.
No se trata de trasladar los contenidos propios de la instrucción primaria a la sala de
asilo, sino de enseñar a la tierna edad los saberes elementales necesarios para ingresar
a la escuela primaria:
La instrucción [y] se limitará a los siguientes rudimentos: silabeo, trazos de escritura,
conocimiento de las cifras i modo de hacerlas; contar, sumar i restar de memoria;
conocimiento de los colores i sus combinaciones; líneas i formas jeométricas i sus
trazos, i la tabla de Pitágoras […] incluyendo “lecciones sobre objetos, para el
desarrollo en jeneral de la inteligencia de los niños. (Jaramillo, 1980, Art.157).
Parte de las preocupaciones propias de las salas de asilo además de la educación a
través de la instrucción incluía el cuidado de los niños a través del discurso de la higiene.
A las directoras les correspondía dar “inmediatamente que se requiera, todos los
cuidados de aseo e hijiene necesarios a la salud de los niños” (Jaramillo, 1980, Art.162),
vacunar a los niños que no lo estén (Jaramillo, 1980, Art. 152) y estar atentas a “los
movimientos de los niños i los juegos apropiados a su edad, serán dirijídos i vijilados de
manera de prevenir toda disputa i cualquier accidente”. (Jaramillo, 1980, Art.163). No
sólo se conduce para regular el cuerpo de la tierna como individuo a través de la
disciplina sino también como etapa de la vida que requiere ser intervenido como parte
de los procesos que se despliegan para su regulación como especie, empleando para
ello los discursos de la higiene y de la biología como vías para la disminución de los
índices de mortalidad infantil, que para finales del siglo XIX representaban el mayor
número de defunciones. Y es que el panorama de salubridad pública de nuestro país
era lamentable. En Bogotá por ejemplo en el año de 1886 las defunciones fueron de
2754, de las cuales 1756 eran de adultos y 978 correspondieron a niños, lo que equivale
que el 48,3% de la totalidad era población infantil (Arias, 1890, p.110).
Dentro de la reglamentación se van configurando algunas de las características que
debería poseer quien fuera a ocupar el cargo de directora: deberán poseer “conducta
intachable, que reúnan la intelijencia, instrucción i suavidad de carácter indispensables
para el cuidado i enseñanza de niños de tierna edad” (Jaramillo, 1980, Art. 165). La
instrucción y el amor maternal delimitarían las posiciones de sujeto de la directora en
torno al disciplinamiento del cuerpo y la regulación de la vida como población a conducir.
Vale la pena destacar como la relación instrucción-enseñanza-educación se va
configurando como objeto que va delimitando el oficio de la directora y quien cumple
127
simultáneamente las funciones de maestra desde la pedagogía pestalozziana para la
conducción de la tierna edad, cuya finalidad es el desarrollo armónico de sus facultades
para su ingreso a la escuela primaria y por otro lado como la relación cuidado-higiene
va configurando sus roles desde el amor maternal, allí se hibridan la concepción
religiosa de la mujer como madre que educa y cuida ya no al niño como individuo sino
a la especie que requiere el Estado.
Las salas de asilo como parte de las instituciones que configuraron el sistema de
instrucción público para la escolarización de la tierna edad, fueron a la vez centros de
experimentación de los métodos de enseñanza que se impartían en las escuelas
normales, allí se desarrollarían las clases de pedagogía práctica que definían los planes
de estudios para la formación de maestros. En el artículo 135 del DOIPP se señala se
debe fundar “anexas a la Escuela central i a cada una de las Escuelas normales, habrá
una Escuela primaria i una sala de asilo para el ensayo de los métodos de enseñanza”.
El decreto también las incluía como parte de los contenidos examinar a los alumnos
maestros, según el artículo 207, numeral 2 se debe tener conocimiento “sobre la
dirección i gobierno de las salas de asilo”. Según el historiador Gilberto Loaiza (2007)
estas instituciones fueron escenarios para que las alumnas-maestras “aplicaran los
métodos de los jardines infantiles de Fröebel y de Marie Pape-Carpentier” (p.79).
2. Apropiación del pensamiento pedagógico de Fröebel
En este apartado se describe y se analiza dos formas de existencia del discurso de
Fröebel para educar a la tierna edad y a los párvulos: la primera da cuenta durante la
reforma instruccionista (1870-1886) de algunas tensiones que se produce al interior de
la sociedad payanesa, cuando circula un discurso protestante y no católico para llevar
a cabo la educación religiosa y moral de los niños más pequeños y la segunda se sitúa
en la reforma educacionista (1900-1930) en la que se apropia el kindergarten como
institución que permitiría mejorar la instrucción primaria colombiana.
2.1 Deísmo, doctrina católica y kindergarten: la educación religiosa en la tierna
edad
En las ediciones número 14 y 19 del periódico El Escolar, órgano oficial de instrucción
pública del Estado del Cauca, se publicó el año de 1875 el Catecismo de moral y religión
y que hizo parte de una obra titulada Educación infantil en los jardines de niños,
divulgada inicialmente en el Educador Popular de New York. De autoría del pedagogo
cubano Luis Felipe Mantilla, discípulo y amigo del también pedagogo José Martí, fue
profesor de lengua y literatura española en La Habana y en la Universidad de New York,
128
miembro de la Real Academia Española, colaborador en la América Española, autor del
Libro de lectura, editado por primera vez en New York, siendo un referente muy
importante en Iberoamérica para la enseñanza de la lectura, la escritura y la
pronunciación.
Su publicación fue objeto de impugnación por parte de la sociedad católica payanés y
no era para menos, pues el mismo según la lectura hecha por el señor Fernando Angulo
en el documento titulado Un paseo al kinderganden del señor Mantilla publicado en el
año de 1876, allí se estaría desconociendo la doctrina católica para la enseñanza de la
moral y la religión, dado que se reconoce a un Dios de origen protestante que se
manifiesta en la naturaleza y no como un ser supremo, omnipotente, omnipresente y
omnisciente:
En dicho Catecismo han visto otros una peregrina lucubración, en que se ha
percibido la maligna intentona, de embaucar a los niños inocentes y a la gente
ignorante, enseñando con simulado candor, y abusando de las formas y de las
palabras cristianas, un absurdo y fanatismo deísmo. (Angulo, 1876, p.4).
Para el señor Mantilla la educación religiosa del niño no requiere de la mediación de
rituales litúrgicos ni de ritos ceremoniales tal y como los propone los católicos para
establecer una relación espiritual con Dios, basta con reconocerlo en la naturaleza y en
él mismo para encontrarlo, de la mano de la educación física e intelectual. Dicho plan
“tiende a elevar el alma del niño para que aprecie las manifestaciones de Dios en la
naturaleza, y las relaciones que tenemos con los seres que nos rodean; todo lo cual es
eminentemente religiosa” (Mantilla, 1875, p.448).
Desde el orden de la enseñanza religiosa se produce una serie de tensiones para
desarrollar el sentimiento religioso no sólo teológico sino también del orden pedagógico,
en cuanto se refiere a los métodos que se deben emplear y la definición del momento
en que se debe iniciar. El señor Mantilla propone basándose en Fröebel que “debemos
valernos simplemente de impresiones, y el niño mismo indicará cuando está dispuesto
a recibir las lecciones del maestro” (Mantilla, 1875, p.449). Se pregunta el señor Angulo
(1876)
(…) ¿De qué impresiones se trata porque se habla vagamente? Las lecciones
orales y la lectura están o no comprendidas en esas impresiones? Según el señor
Mantilla, no deben entrar porque el plan que se sigue quiere que el desarrollo
religioso venga sólo por la contemplación de las obras de la naturaleza. (…)
Además, como se ha sentado como principio, que el mismo niño indique cuando
129
esté dispuesto a recibir la instrucción religiosa, no comprendo lo que le deba
hacerse cuando el muchacho sea de mala índole y perezoso. (p.8).
Junto a la tensión entre la experiencia subjetiva de corte protestante y la objetiva de
naturaleza católica para conocer de Dios vista a través de los medios a emplear se hace
visible la que se produce por la elección de los contenidos a enseñar. Mientras que el
señor Mantilla (1875) propone:
(…) enseñarles (a los niños) una breve jaculatoria con palabras cuyo significado
comprendan sin esfuerzo alguno! Frases como estas: “gracias a Dios, si Dios
quiere, espero en Dios, Dios nos ayude”, etc., repetidas por los padres en
momentos oportunos, dan más instrucción religiosa que todas las oraciones del
devocionario. (p.449).
El punto álgido de la tensión por los contenidos a enseñar se hace visible por la dirección
que se hace de ellos, dado que la versión protestante del señor Mantilla desconoce la
condición amoral de la infancia que instaló la pedagogía católica para llevar a cabo la
salvación del alma, pone en manos de los niños tiernos la libertad de discernir entre lo
bueno y lo malo y no los condena a estar en permanente desconfianza y los libera de la
culpa que les produce eternamente la práctica del pecado que se ha reproducido desde
el jardín del Edén:
¡Horrible blasfemia! Si la culpa primitiva es un hondo misterio, no repugna en nada
a la razón, y su enlace con toda la economía religiosa, hace de ella una de las
verdades más sublimes, más admirables y más consoladoras. La libertad fue dada
para que el hombre pudiera merecer. El hombre pecó libremente y la previsión de
Dios no influyó en manera alguna el pecado. (Angulo, 1876, p.13).
Otro de los puntos críticos que señala el señor Angulo como obstáculos para el
desarrollo de la subjetividad del niño de tierna edad junto a la libertad y la culpa, es el
desconocimiento del diablo y del infierno como mecanismos condenatorios que permite
a la Iglesia regular y controlar su estado amoral:
Perjudicial en extremo y casi siempre contraproducente es aterrar a los niños con
amenazas de diablos y penas en el infierno, pues el miedo nunca produjo sino
esclavos o hipócritas, y jamás fue origen de los grandes hechos que más honra a la
humanidad. Rodeada la inocente criatura de objetos que solo revelan profundo
amor, viendo la imagen de Dios en el cariño de sus padres, tiene el alma de las
tiernas impresiones que produce esta educación, a qué contristarla con dogmas que
le hagan considerar la existencia como don peligroso que él no había pedido ni
aceptado? (Mantilla, 1875, p.449).
130
El espacio del kindergarten fue objeto también de consternación, pues allí a través de
las pinturas que lo ambientan se ratificaba la exclusión de la tradición de la Iglesia
católica para la enseñanza de la religión en los primeros años de vida. Si bien el señor
Angulo no tuvo la oportunidad de conocer directamente estos espacios, empleando los
relatos de otras personas que sí pudieron estar allí describe los contenidos que
transmiten estas obras de arte. Se critica la marcada tendencia oriental por parte del
pintor Monsieur Renan , al excluir aquellas pinturas que representen la pasión, muerte
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su Ascensión al cielo y la venida del Espíritu
Santo sobre el Colegio apostólico, la ausencia del “Gloria in excelsis Deo” (Agudelo,
1875, p.15) en el cuadro de la navidad, la ausencia de aureola en Jesús y la expresión
“divina” (Agudelo, 1875, p.16) en sus cuadros, pero en especial del despojo de su
relación con Dios (Agudelo, 1875).
A partir de la apropiación del catecismo del señor Mantilla en la ciudad de Popayán se
pueden hacer visibles algunos de los usos que se le dieron al pensamiento de Fröebel
al interior de la práctica pedagógica colombiana desde finales del siglo XIX hasta la
tercera década del siglo XX, en el que primó la rejilla de la moral católica como filtro
discursivo para la selección, recorte e hibridación de un conjunto de discursos y
prácticas para llevar a cabo la educación moral de la tierna edad.
2.2 Preparación de maestros, tierna edad y enseñanza primaria: la configuración
del kindergarten como institución preparatoria para el ingreso a la escuela
primaria
En el año de 1917 en el número 222 del periódico El Institutor, órgano de la dirección
de instrucción pública del departamento de Boyacá, se transcribe la columna del señor
José Miguel Rosales, publicada inicialmente en el periódico el Nuevo Tiempo de la
ciudad de New York en el mes de septiembre del mismo año, titulada El sistema
kindergarten y la enseñanza primaria, como parte de los informes que produjo en su
calidad de comisionado del ministerio de instrucción pública de Colombia en los Estados
Unidos de América. Su estadía inició en 1914 y finalizó cuatros años después. El
resultado final de sus estudios sería publicado en la Revista de la Biblioteca Nacional,
en el año de 1927, en su calidad de director bajo el título de La Escuela Educativa. Allí
condensó su trabajo en cuatro temas: la educación en la escuela primaria, el
kindergarten, el sloyd o trabajos manuales en madera y la escuela rural.
Como director de la Biblioteca Nacional de Colombia fue promotor de la construcción de
un “fondo pedagógico” que contribuyera a la preparación de maestros. En palabras del
señor Rosales:
131
De grande importancia es la formación de un departamento compuesto de obras
sobre la didáctica, textos modernos de enseñanza primaria y secundaria, mapas,
cartas murales, gráficos, dones froebelianos, [cursivas añadidas] etc., en suma un
centro educacional en donde los maestros, catedráticos y demás personas
interesadas en la educación de los niños colombianos, puedan ponerse al
corriente de los métodos y sistemas que hoy se usan en los países más
adelantados, así en la escuela como en el hogar. A este fin se ha pedido ya obras
y elementos necesarios para establecer esta sección en un salón aparte, tan
pronto como dispongamos del espacio requerido”. (República de Colombia, 1927,
p.102.)
La inauguración del fondo pedagógico se llevó a cabo en el mes de octubre del año de
1927, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional bajo el nombre Ricardo Carrasquilla,
poeta, orador profundo e insigne pedagogo, padre del religioso, educador y escritor
Rafael María Carrasquilla, contó con un total de tres mil volúmenes, proveniente de las
tradiciones pedagógicas germana, francófona y angloamericana. Se destacan
publicaciones de Pestalozzi, Herbart, Fröebel, Davidson, Compayré, Chabot,
Montessori y Decroly. Su propósito era educar al pueblo colombiano desde el hogar y
desde la escuela y hacer del fondo “un centro de información y de estudio, a donde los
catedráticos, maestros y padres de familia acudan en busca de conocimientos y nuevas
ideas en el arte de educar a los niños y a los jóvenes” (República de Colombia, 1927b,
pp.138-139).
Se evidencia en el comisionado, señor Rosales, un profundo interés por mejorar las
condiciones de la educación, empleando para ello la “escuela elemental como centro
educativo; es decir, como el lugar donde debe atenderse de preferencia al desarrollo de
las cualidades físicas, intelectuales y morales del niño” (República de Colombia, 1927a,
p.116). Durante su estadía en los Estados Unidos reiteró el papel de la escuela primaria
como la columna vertebral del sistema de instrucción pública, pues allí es donde se
deben canalizar todos los esfuerzos políticos, económicos y pedagógicos que
permitirían garantizar que la nación se desarrollara por el horizonte del progreso.
Para el profesor Rosales si la nación aspiraba a constituir la educación como el eje que
permitiera “el desarrollo de nuestras industrias y comercio, el mejoramiento físico e
intelectual de nuestra raza” (República de Colombia, 1927a, 116), era necesario transitar
de los usos de la educación que “ponen al niño que sepa saludar con finura y elegancia;
(…) [que prepara su] columna dorsal para que sea flexible a las exigencias sociales”
(República de Colombia, 1927a, p.117), “(…) [que educan para] atiborrar al niño de todo
tipo de conocimientos de todo género, (…) sin ninguna aplicación a las múltiples
132
necesidades de la vida” (República de Colombia, 1927a, p.117), a una educación que
permita potenciar el desarrollo del niño. Se trata entonces de asumir la educación según
el pensamiento de Locke, Pestalozzi Froebel y Mann, quienes tienen por objeto
despertar todas las energías del niño, fortalecerlas y desarrollarlas, a fin de ponerlas en
disposición de que el niño, al convertirse en hombre, pueda llegar a cumplir su misión
de ciudadano útil, laborioso y honrado. (República de Colombia, 1927a).
Si bien la educación debe iniciarse por el hogar, es la escuela la que garantiza que la
cultura llegue a estos por medio de sus hijos y se haga extensiva a todos los rincones
de la sociedad, pues es lo que garantizaría que las personas asumieran y ejercieran los
roles que les fueron conferidos:
Muchos dirán que la educación se aprende en el hogar, y así es en efecto, pero es
después de que la escuela educa a varias generaciones cuando su influencia
benéfica penetra en los hogares. Viéndolo bien la cultura va de la escuela al
hogar; no del hogar a la escuela, y es en esta, donde los hijos de lo que constituye
el conjunto de nuestro pueblo, pueden y deben adquirir una sólida educación, que
les ponga en capacidad de desempeñar bien el puesto que han de ocupar el
mundo. (República de Colombia, 1927b, p.194)
Uno de los medios que el señor Rosales propone para llevar la cultura a los hogares es
la implementación del sistema kindergarten, del pedagogo alemán Federico Fröebel
para la educación de los niños de tierna edad que aún no habían ingresado a la escuela
primaria. Este sistema tiene por objeto la preparación del niño menor de siete años,
empleando para ello el juego y la educación perceptiva de procedencia pestalozziana:
El fin del kindergarten es educar a los alumnos, guiando su actividad natural por
medio del juego. La educación consiste, pues, en ejercitar las facultades
perceptivas del niño, dirigiendo su atención para construir, así como por romper
(pues ambas cosas se relacionan estrechamente), a fin de crear en su
imaginación conceptos claros y precisos de la forma, color, tamaño y de las
relaciones numéricas.
Se aprende asimismo, en el kindergarten los rudimentos de las virtudes sociales, a
respetar los derechos de los demás y a prestarse mutuo auxilio, puesto que el
orden, el sistema y la armonía son las bases sobre las que descansa la sociedad,
aun en su estado más limitado, como únicamente lo concibe el niño. (República de
Colombia, 1927b, p.194).
133
Junto al juego, la percepción ocupa un papel importante para llevar a cabo el desarrollo
intelectual de la tierna edad, indispensable para la posterior instrucción primaria, pues
permite
No solamente el desarrollo de la inteligencia, sino [que ayuda a] adquirir los dones
inestables de la “atención” y del “estudio”, de la “investigación” y el “raciocinio”,
todo lo cual se aprende sencillamente y con agrado por medio de la percepción y
dentro de los límites de las inteligencias infantiles. (República de Colombia, 1927b,
p.195).
La selección de estos contenidos es estratégica, pues lo que se espera con este sistema
es garantizar los propósitos de la escuela primaria y a su vez asegurar las base que
sostienen el proyecto de orden y progreso del pueblo, ya que “si de la escuela primaria
sale el niño sin hábitos de higiene y de cultura, desmayado de cuerpo y de espíritu, sin
la conciencia del deber, la suerte futura de la nación estará en gravísimo peligro”
(República de Colombia, 1927b, p.195)
Con la implementación del kindergarten en nuestro sistema educativo se aspira por un
lado a mitigar los efectos de la ausencia de preparación de los niños de tierna edad y
por otro lado, potenciar el desarrollo del niño en su paso por la escuela primaria:
Los niños de nuestro país [Colombia] y en general de la América Española, van al
primer grado de la escuela primaria, pública o privada, en estado primitivo, inerme,
y naturalmente todo lo que oyen y ven, es para ellos exótico e incomprensible.
Luego, tras de un año de enseñanza deficiente, vuelven los unos al taller o al
campo, pasan al colegio los otros; todos mal preparados, física e intelectualmente.
(República de Colombia, 1927b, p.195).
Previendo las dificultades económicas que su implementación puede tener en nuestro
país, el señor Rosales propone que el sistema del kindergarten se incluya en la
preparación de los maestros en las escuelas normales:
Creemos que no sería difícil ni costoso establecer una clase de kindergarten en
las escuelas normales de la República, a fin de que los maestros y las maestras
puedan enseñar este curso, si quiera por seis meses, como preparación a las
tareas del primer año. Sería una medida redentora para la educación de las
generaciones venideras” (República de Colombia, 1927, p.195)
Lo expuesto aquí permite hacer desde el lugar que ocupó como comisionado en los
Estados Unidos y como director de la Biblioteca Nacional la preparación del maestro
como un objeto de estudio determinante para llevar a cabo la reforma educativa del país
y por esta vía hacer visible las ventajas que representaría la creación de instituciones
134
como el kindergarten para materializar los propósitos de una educación que permitiera
conducir a la nación hacia el progreso y la modernidad. Para ello, recurrió a los discursos
y prácticas que circularon en la tradición pedagógica angloamericana, y desde allí puso
a operar una rejilla que permitiría: la apropiación e institucionalización de algunos de los
saberes que se estaban produciendo en las tradiciones pedagógicas germana y
francófona, para el funcionamiento del kindergarten como la primera institución anexa a
la escuela primaria, para llevar a cabo la educación infantil del niño de tierna edad en
nuestro país.
3. Apropiación del pensamiento pedagógico de Montessori
En este apartado se intenta establecer algunas de las relaciones discursivas que se
produjeron con la tradición pedagógica italiana apropiada vía catalana a partir de la
creación de una escuela Montessori en la costa atlántica colombiana. Esta primera
aproximación si bien es limitada por los escasos documentos que registren el lugar de
saber que ocupó la pedagoga catalana Josefa Roig de Pujol a su llegada a nuestro país,
se recuperan algunos documentos primarios en catalán que permiten situarnos histórica
y pedagógicamente con algunas de las procedencias que fueron configurando su
pensamiento para llevar a cabo la educación infantil y desde allí aproximarnos a la
tradición pedagógica italiana.
3.1 Escuela Montessori, Josefa Roig de Pujol y educación infantil: un bosquejo
para historiar la tradición pedagógica italiana a partir de las relaciones colombo-
catalanes.
Son pocos los registros que permitan reescribir la institucionalización de dicha escuela,
en la construcción del archivo de la investigación sólo se logró recuperar un documento
oficial y corresponde a un informe de instrucción pública del año de 1925 en el que se
registra que en la ciudad de Barranquilla funcionó una escuela Montessori, regentada
por la institutora Josefa Roig de Pujol. En ella “se aplica el más moderno y tal vez el más
científico de los métodos pedagógicos implantados hasta ahora” (Goenada, 1925, p.6)
desarrollado a través del material elaborado por la médica y pedagoga italiana María
Montessori. Siguiendo la ruta metodológica propuesta por la pedagoga e historiadora
colombiana Olga Lucía Zuluaga Garcés (1999) se “desarticuló el texto, en búsqueda de
sus condiciones de existencia” (p.175). El itinerario del viaje histórico-pedagógico fue el
siguiente: Barranquilla- Barcelona-Roma y Roma-Barcelona-Barranquilla. En estas
rutas se pudo establecer que la señora Roig de Pujol fue “Mestra elemental; ha fet
practiques de ensenyança a les Escoles Mossèn Cinto, y a la de Ateneu de Cultura de
la Barceloneta. Professora titular Montessori, per haver cursat a Roma el Mètode,
135
pensionada per la Excellentíssima Diputació Provincial de Barcelona” (Goenada, 1914,
p.18).
La maestra Roig de Pujol en el año de 1914 viaja junto con otro grupo de colegas a la
Ciudad de Roma para participar del II curso internacional Montessori becades por el
ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona. A su regreso se incorporan a la recién creada
Consell d'Investigació Pedagògica liderado por el también pedagogo Joan Palau Vera,
quien fuera el traductor del italiano al castellano del libro Método de la pedagogía
científica aplicado a la educación de la infancia en la casa dei bambini, La autoeducación
en la escuela y Antropología Pedagógica. Este grupo de maestras de la mano de Palau
se estableció un curso para la enseñanza del método de Montessori y estuvo dirigido en
especial “a les mestres de pàrvuls, a les institutrius i a les mares, doncs en ell se
presenta degudament elaborada i aplicada la importantíssima teoria de la disciplina per
la llibertat de la infància” (Consell d'Investigació Pedagògica, 1914, p.4).
Además de participar en la formación de maestras e institutoras de párvulos, la señora
Roig de Pujol publicó en el año de 1914 su experiencia luego de haber estudiado de la
mano de Montessori. Los roles de madre y maestra se fusionan para romper con la
figura de autoridad que representa la escuela, en su defecto hace uso de su maternidad
para dirigir al niño, su propósito es conducirlos para que puedan por ellos encontrar el
propósito de su existencia:
La mestra, plena d'humilitat y paciència, no's presentarà jamai davant d'aquests
petits ab actitud autoritària, sino que serà sempre per ells la mare indulgent, la
protectora carinyosa, la directora intel•ligent, desitjosa sempre de que tots puguin
alcanzar aquelles finalitats a que la vida y la naturalitza’ls tenen destinà is” (Roig,
1914, párr.9).
Se evidencia en el discurso que sustenta la educación infantil italiana visto a luz de
Montessori el gobierno del niño como un hombre en formación como una regularidad
que también se hace visible en nuestra práctica pedagógica colombiana. Los afectos,
en especial el amor que proporciona la maestra-madre son determinantes para culminar
dicho proceso:
No veurà may en els petits a sers dèbils y inferiors, a l'esclau, despullat y inerme,
sino a l'home en formació, a la humanitat de demà que serà, de segur, molt mes
perfecta que la nostra. El nen déu esser tractat sempre ab respecte, y sobre tot ab
amor. Sant Francesch de Sales, el gran campió deis procediments de amor y
suavitat, diu: «tot per l'amor, res peí temor” (Roig, 1914, párr.10).
136
El pensamiento pestalozziano se hace presente a través del amor maternal,
metafóricamente representa la fuente del saber que le permite a la maestra-madre
ejercer su oficio para educar al niño física, moral e intelectualmente: “En tal faula hi hau’l
concepte de que l'amor matern pot modificar el cós del fill, ajudant-lo ab els primers
piscívors estímuls psíquichs, ab les carícies, ab els concells, fentlo hermós d'ánima y
fins fentlo evolucionar corporalment vers l'armonía de la forma exterior” (Roig, 1914,
párr.13). El amor maternal posibilita la reivindicación del sujeto infantil en el marco de la
escuela nueva: ¡Ah, cóm es decisiva aquest a qüestió de i'amorper l’èxit de la Escola
nova! (Roig, 1914, párr.1).
La maestra-madre tiene por objeto salvar al hombre desde temprana edad empleando
para ello el amor maternal, sólo así puede perfeccionar la obra entregada por Dios. En
Montessori no se reconoce el pecado original, muy en la vía rousseauniana la
imperfección del hombre es producto de la cultura y no responsabilidad del niño:
Tots sabem que l'infant es el ser mes perfecte de la naturalesa, segons immortal
sentencia del bon Jesús: “si voleu salvarvos, heu de ser com aquest” y'ls mostraba
una tindrà criatura. Els delectes, doncs, son deis grans, nó deis petits. Si els petits
adquireixen defectes, ¡quina responsabilitat la nostra! Nosaltres y no ells som els
culpables” (Roig, 1914, párr. 7).
Para el ejercicio de la libertad infantil se requiere de la maestra-madre conocimiento de
la psicología experimental, dado que le proporciona las habilidades de la observación y
experimentación para conducir al niño manteniéndose al margen de la experiencia que
este produce:
Ja que a l'Escola peí régim de Ilibertat els escolars poden manifestar les seves
naturals tendencies, la feyna de la mestra déu lenir per base l'observació y
l'experiment. Tant millor será la mestra com mes iniciada está en els estudis
psicològics experimentáis” (Roig, 1914, párr.1).
El ejercicio de la disciplina el auto no se impone, todo lo contrario posibilita que el niño
aprenda a regularse así mismo a partir del conocimiento propio:
S'ha de teñir present que la doctora Montessori no té per disciplinat al nen questa
callat artificialment com un mut, ni quiet com un paralític. Axó es un no aniquilat,
nó disciplinat. El mètode que té per base la Ilibertat no consent tal passivitat; tot ell
es activitat. La doctora té per disciplinat al petit qu'es amo absolut deis seus actes,
pot disposar de sí y sab seguir una determinada regla de vida” (Roig, 1914,
párr.3).
137
La apropiación del pensamiento pedagógico de Montessori vía catalana permitió
suavizar la rejilla de la moral católica de principios del siglo XX, al incorporar como parte
de las prácticas educativas infantiles el reconocimiento positivo que el niño hace de sí
mismo como parte de las prácticas que despliega la maestra-madre para su gobierno,
en contraste con el discurso de desconfianza que se desplegó sobre los procesos de
subjetividad infantil, dado que instalan la regulación como una práctica direccionada por
ellos mismos y no bajo la mirada vigilante latente del adulto, sin mencionar la
desconfianza que representa para el clero el uso de este método basado en discursos
experimentales para la conducción de los niños.
Fuentes primarias
Angulo, F. (24 de Febrero de 1876). Un Paseo Al Kinderganden del señor Mantilla. 3-
25. Popayán, Estado Soberano del Cauca, Estados Unidos de Colombia.
Consell d'Investigació Pedagògica. De la Diputació provincial de Barcelona. (Jul-Ago de
1914). Curs del Mètode Montesori. Escola D´Istiu de Barcelona, I. Barcelona,
España.
Guerrero, I. (Octubre de 1922). Como debe ser la lección de la maestra en una escuela
de párvulos. Revista de instrucción Pública de Barranquilla, VII(120), 370-380.
Jaramillo, J. (1980). Decreto Orgánico de Instrucción Pública del 1° de Noviembre de
1870. (C. d. Nacional, Ed.) Revista Colombiana de Educación(5).
Mantilla, F. (11 de Febrero de 1875). El Catesismo del Señor Mantilla. Educación Infantil.
En los Jardines de Niños. IX. El Escolar. Periodico Oficial de Instrucción Pública
del Cauca , I(19), págs. 448-451.
República de Colombia (Junio de 1904). Decreto 491 del 3 de junio de 1904, por el cual
se reglamenta la Ley 89 de 1903, sobre Instrucción Pública. Diario Oficial N° 12,
122 jueves 14 de julio de 1904. Recuperado el 13 de diciembre 2013, de
Ministerio de Educación: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
102515_archivo_pdf.pdf
República de Colombia. (Junio de 1927a). Informe del Director de la Biblioteca Nacional
al Señor Ministro de Instrucción y Salubridad Pública, sobre la marche del
Instituto a su cargo desde Diciembre de 1926 hasta la fecha. (J. Rosales, Ed.)
Revista de la Biblioteca Nacional de Bogotá, II(15), 97-105.
República de Colombia. (Octubre de 1927b). Discurso del Doctor José Miguel Rosales,
Director de la Biblioteca Nacional. (J. M. Rosales, Ed.) Revista de la Biblioteca
Nacional de Colombia, II(16), 138-146.
Restrepo, L., & Restrepo, M. (1905). Elementos de Pedagogía. Obra Adoptada como
Texto para las Escuelas Normales de Colombia y Recomendada para la
138
enseñanza de la Materia en el Ecuador por el Consejo General de Instrucción
Pública. Bogotá: Imprenta Eléctrica.
Roig, J. (27 de Septiembre de 1914). Lo qués el sistema pedagogich de la doctora
Montesori. (I. Catalana, Ed.) Revista Feminal(90).
Referencias
Loaiza, G. (Juli-Dic de 2007). El Maestro de Escuela o el Ideal Liberal de Ciudadano en
la Reforma Educativa de 1870. (F. d. Departamento de Historia, Ed.) Historia
Crítica(34), 62-69.
Marín, D. (2012). Interés por el Gobierno y Gobierno a través del Interés: Constitución
de la Natureleza Infantil. (Y. Cárdenas, & D. Marín, Edits.) Pedagogía y
Saberes(37), 37-48.
Martínez, M. (2015). De las escuelas primarias a las escuelas infantiles: la configuración
de un saber escolar para la educación de la tierna edad y de los párvulos en
Colombia, 1870-1930. Tesis de maestría, Universidad de Antioquia, Facultad de
Educación. Medellín (Sin publicar).
Zuluaga, O. (1999). Pedagogía e historia. La historicidad de la pedagogía. La
enseñanza, un objeto de saber. Bogotá: Editorial Universidad de Antioquia, Siglo
del Hombre, Antrhopos.
Zuluaga, O., & Herrera, S. (2006). Relaciones entre saber pedagógico, práctica
pedagógica y memoria activa del saber pedagógico. En Territorios pedagógicos:
espacios, saberes y sujetos (Vol. I, págs. 91-102). Bogotá: Universidad
pedagógica Nacional; Instituto Nacional Superior de pedagogía.
Zuluaga, O., & Marín, D. (2006). Memoria colectiva, memoria activa del saber
pedagógico. Educación y Ciudad(10), 60-87
APROXIMACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA UNA LECTURA CRÍTICA
DE LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN COLOMBIA.83
Diana Alejandra Aguilar Rosero
Universidad de Antioquia
i. Introducción
83 Esta ponencia se enmarca en el proyecto de tesis doctoral “Primera Infancia en Colombia una lectura desde la gubernamentalidad”
139
Esta ponencia se enmarca en el proyecto de tesis doctoral “Primera Infancia en
Colombia una lectura desde la gubernamentalidad” y pretende esbozar algunas
reflexiones acerca del interés social por la atención y protección de los niños y las niñas,
desde la categoría de gubernamentalidad, reconociendo como el gobierno de los niños
más pequeños ha tenido presencia en Colombia desde hace varias décadas. Por
consiguiente, en un primer momento se plantea una conceptualización general sobre la
categoría de gubernamentalidad. Luego se retoman algunas investigaciones históricas
para mostrar el vínculo que el interés por la atención y protección de los niños y niñas
ha tenido con los propósitos económicos y políticos del Estado, y las prácticas y
discursos que sustentaron el gobierno de niños y niñas en la historia colombiana para
finalmente situar la reflexión y las preguntas de investigación en el presente.
ii. La gubernamentalidad
Entre las críticas realizadas al trabajo de Michel Foucault respecto a la relación saber-
poder, se encontraba el cuestionamiento a la categoría de poder, como concepto
omnipresente que no dejaba muchas posibilidades para pensar el lugar de los sujetos
en relación con las prácticas de dominación, pues éstos al ser concebidos como efecto
de la relación saber-poder se encontraban “sujetados” a unas disciplinas y a unos
discursos de verdad.
En este marco de críticas, el filósofo francés se interesó por encontrar una forma de
análisis que le permitiera ampliar su mirada más allá de las dos categorías por él
desarrolladas, saber y poder, y de esta manera abrir su horizonte analítico; la
subjetividad se constituye, entonces, en esa tercera categoría que no se reduce al poder
ni al saber, puesto que aporta otro aspecto al análisis Foucaultiano que consiste en
reconocer las prácticas de libertad y las posibilidades de resistencia.
En este sentido el concepto de gubernamentalidad recoge las tres categorías de saber,
poder y subjetividad, que permite romper con el binomio dominación- resistencia, puesto
que la gubernamentalidad no se reduce a un asunto de control y dominación del
soberano o de las prácticas disciplinares, sino que esta categoría reconoce las prácticas
de libertad de los individuos, como lo afirma Castro-Gómez:
Foucault distinguió una quinta familia tecnológica que denominó tecnologías
de gobierno, y que ubicó como una especie de bisagra entre las tecnologías
de dominación y las tecnologías del yo […] Las tecnologías de gobierno
aparecen como un nuevo conjunto que se diferencia de las tecnologías de
dominación porque no buscan simplemente determinar la conducta de otros,
sino dirigirla de un modo eficaz, ya que presupone la capacidad de acción
140
(libertad) de aquellas personas que deben ser gobernadas. Pero también se
diferencian de las tecnologías del yo, pues aunque los objetivos de gobierno
son hechos suyos libremente por lo gobernados, no son puestos por ellos
mismos sino por una racionalidad exterior (2010, p.38-39)
Como se puede ver el concepto de gubernamentalidad abre una posibilidad analítica
que articula las categorías planteadas por Foucault en sus estudios iniciales (saber-
poder) con la pregunta por las prácticas de libertad, presente en la categoría de
subjetividad, de este modo se rompe con la idea determinista que planteaba la categoría
de poder, al asumir el saber y la subjetividad como derivaciones de este.
Asimismo la categoría de gubernamentalidad permite el análisis de la configuración
histórica de racionalidades, prácticas, tecnologías, formas de subjetivación que se
articulan para desplegar una forma particular de gobierno, de conducción de las
conductas de los hombres; lo que posibilita problematizar “la singularidad de nuestro
presente” al llevarnos a comprender por qué somos gobernados de tal manera y por qué
nos conducimos de cierta forma y no de otra.
En el curso del 1977-1978, titulado Seguridad Territorio y Población, Foucault expresa
su interés por analizar la biopolítica, lo que le lleva a plantear el análisis de los
dispositivos de seguridad que a su vez lo remitieron al problema de gobierno. Es así,
como a partir de la cuarta clase en adelante, aborda el tema de lo que llamó historia de
la gubernamentalidad. Esta decisión se sustentó en parte por el interés que para el
filósofo francés representó la emergencia de una nueva racionalidad en el ejercicio del
poder, que se visibilizó, en el siglo XVI.
Lo que Foucault muestra al referirse a la historia de la gubernamentalidad es el proceso
en el cual el Estado se gubernamentalizó, es decir, la manera como incorporó una razón,
unas prácticas, saberes y dispositivos particulares para gobernar a los hombres; este
proceso, según lo plantea Foucault encuentra sus brotes iniciales en el pastorado
cristiano (Foucault, 2006, p.193). Se puede afirmar entonces, que el filósofo francés
delimita la gubernamentalidad como “objeto de investigación” (Cortes, 2011), que le
permite analizar la emergencia del Estado Moderno desde las prácticas, al respecto Él
afirma:
La decisión de hablar o partir de la práctica gubernamental es, desde luego,
una manera muy explícita de dejar de lado como objeto primero, primitivo,
ya dado, una serie de nociones como, por ejemplo, el soberano, la
soberanía, el pueblo, los sujetos, el Estado, la sociedad civil: todos esos
universales que el análisis sociológico, así como el análisis histórico y el
141
análisis de la filosofía política, utilizan para explicar en concreto la práctica
gubernamental. Por mi parte me gustaría hacer justamente lo contrario, es
decir, partir de la práctica tal como se presenta, pero al mismo tiempo, tal
como se refleja y se racionaliza para ver, sobre esa base, cómo pueden
constituirse en los hechos unas cuantas cosas sobre cuyo estatus habrá que
interrogarse, por supuesto, y que son el Estado y la sociedad, el soberano y
los súbditos. (2007, p.17)
Es a partir de las prácticas y no de la preexistencia del Estado como institución, que se
identifican tecnologías y racionalidades en momentos históricos específicos, como: la
Razón de Estado, el Liberalismo y el Neoliberalismo. No obstante, la gubernamentalidad
no solo se entiende como objeto de conocimiento sino también como “instrumento de
análisis” (Cortes, 2011, p.29), que implica una abstracción de la categoría de
gubernamentalidad del contexto histórico particular de emergencia para servir como
herramienta analítica que permite dar cuenta de las racionalidades políticas y las
tecnologías de poder. Muestra de esto son los estudios de la gubernamentalidad, que
“recoge un significado amplio sobre las formas de gobierno que no necesariamente se
hallan atadas al Estado-nación” (Dean, 2008, citado por Castro-Gómez, 2010).
Desde esta perspectiva es importante retomar la categoría de gubernamentalidad para
comprender las prácticas y tecnologías que se han desplegado en lo concerniente al
cuidado y atención de los niños y las niñas, a continuación se retoman algunos trabajos
históricos que permiten identificar algunos elementos desde esta perspectiva.
iii. El Gobierno de la Infancia. Preocupación Central de los Estados en
América Latina y Colombia.
Preguntarse por los modos de emergencia, funcionamiento e institucionalización de la
primera infancia, implica considerar algunas premisas; en primer lugar, la infancia es
una categoría social e históricamente construida; como lo planteó Ariés (1987), la
infancia es una “invención”, que tiene lugar en un momento histórico particular, no
obstante no ha permanecido inmutable, por el contrario y como lo afirma Villalta (2014)
es una categoría dinámica, variable culturalmente y además política, puesto que
produce formas de intervención y organización no solo de la vida infantil sino también
del mundo social; en este sentido la delimitación de la primera infancia cómo objeto y
sujeto de intervención podría asumirse como un modo de actualización de las formas
de clasificación de la infancia que tiene implicaciones sociales importantes que se hace
necesario analizar.
142
En segundo lugar, cabe destacar que los discursos sobre la infancia se tejen en medio
de luchas y tensiones, que intervienen en la producción de saberes, prácticas,
instituciones, posiciones de sujeto, y en la definición de nuevos “problemas” sociales,
los cuales se visibilizan como preocupaciones públicas que requerirían intervención. Al
respecto Villalta explica que:
“Desde fines del siglo XIX en distintos países de América Latina la preocupación pública
por la niñez comenzó a delinearse y a materializarse en iniciativas de distinto orden. La
educación, la salud y las características de la crianza fueron recortándose muy
gradualmente como asuntos en los cuales el Estado –a través de específicos
organismos y agentes- debía intervenir y como temas pasibles de ser abordados desde
la pedagogía, la medicina, el saber jurídico y/o la asistencia social.” (2014, s.p.)
Particularmente, en lo que respecta a la primera infancia, hoy se observa cómo se
concentra la preocupación sobre la importancia de la atención integral de niños y niñas
en una franja etaria entre los 0 y los 5 años, a partir de la cual se pareciera garantizar el
éxito y fracaso de toda intervención pública, con repercusiones sociales a gran escala,
como la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el progreso nacional.
En tercer lugar, es importante traer a colación la afirmación de Sandra Carli cuando
plantea que la cuestión de la infancia se configura como un analizador de la cultura
política (2005, p.35), es decir, que los discursos respecto a la infancia dan cuenta no
solo de las formas de estructuración y transformación del Estado, sino también de la
configuración de lo social, puesto que las maneras de intervenir sobre la infancia
permiten reconocer tanto las formas en que se ha constituido el Estado en nuestra
región, como las formas de gobierno que se despliegan en la sociedad, las cuales no se
reducen a medidas estatales. Muestra de esto se observa en la intervención de
Organismos No Gubernamentales y del sector productivo en lo que respecta a la
atención a los niños y niñas pequeños, a sus familias y a la población en condición de
vulnerabilidad.
De acuerdo a las anteriores premisas vale la pena considerar a grandes rasgos cómo
se posicionó en América Latina, a finales del siglo XIX y principios del XX, la
preocupación pública por la infancia, y así mismo reconocer aquellos enunciados que
sustentaron las formas de intervención sobre los niños y niñas, para poder identificar
elementos que permitan interrogar nuestro presente en lo concerniente a la primera
infancia en Colombia.
La preocupación pública por la infancia en la región tuvo un considerable incremento en
las primeras décadas del siglo XX, en el marco de los debates sobre cómo se deberían
143
desarrollar las naciones en el camino de la modernidad y en el perfeccionamiento de la
civilización, como lo señala Silveira Netto Nunes (2013), en este contexto la infancia se
consideraba el material humano moldeable sobre el cual sentar las bases para la
realización del ideal de nación. En esta dirección una expresión de la materialización de
estas preocupaciones fue el Primer Congreso Panamericano del Niño (PCPN) ,
realizado en Buenos Aires, Argentina, en 1916, donde se pretendía concentrar los
estudios y propuestas respecto a la vida infantil, y plantear a los Estados y a las
sociedades acciones destinadas a los niños y niñas. En este evento fueron
protagonistas diversos intelectuales desde los campos médico, jurídico, pedagógico y
asistencial en los cuales se identificaba a la infancia como el porvenir de las naciones.
Según Silveira Netto Nunes (2013) el posicionamiento de la infancia como un asunto
social estratégico en Latinoamérica se tejió en un momento donde tenía lugar la
consolidación de los Estados nación, la expansión económica, el aumento poblacional,
la llegada masiva de inmigrantes, el desarrollo de las ciudades y la concentración
urbana, lo que marcó mayor diferenciación entre lo rural y lo urbano (p.275); en este
escenario surge el interés por reconocer la realidad de la región y definir rutas para su
transformación, aunado a esto se encontraban las comunidades científicas que se
conformaron en este periodo a nivel nacional e internacional, que comenzaron a trabajar
con fuerza temas relacionados con la infancia tales como: la salud infantil, la pediatría y
la educación; esta elite científica posibilitó la introducción, en la agenda académica, de
estos temas en la región, a partir de la organización de congresos y publicaciones (p.
277). Todo lo anterior contribuyó a que el interés por la infancia alcanzará una dimensión
estratégica para el progreso nacional y del continente en tanto se vislumbraba su
relevancia política para garantizar el futuro de las naciones (p.289)
Como se mencionó antes en el marco de estos desarrollos se concreta el Primer
Congreso Panamericano del Niño (PCPN) en 1916, que dio lugar en años siguientes a
muchos otros congresos de su naturaleza, a partir de los cuales se gestó la creación del
Instituto Americano de Protección a la Infancia (IAPI), en 1927, que como lo asevera
Silveira Netto Nunes, tenía como propósito: “institucionalizar y hacer más eficaz el
movimiento de profesionales y de políticas gubernamentales de las Américas en los
diversos campos del conocimiento relacionados con la problematización de la vida
infantil” (2013, p.274) y de esta manera contribuir al progreso del continente. A partir de
la movilización en torno a la infancia, promovida por la realización de los CPN y las
acciones lideradas por el IAPI, se delimitan unas concepciones particulares sobre la
infancia que direccionarán las decisiones políticas y los mecanismos de intervención
sobre la población infantil.
144
Al respecto Silveira Netto Nunes señala que el interés de los intelectuales y actores
sociales que participaban de los debates radicaba principalmente en:
“actuar sobre el individuo mismo desde antes de su nacimiento hasta su juventud, en
el sentido de formar, sea por medio de la salud e higiene, de la escolarización y
educación, o por medio de la asistencia, un determinado tipo de ciudadano futuro,
caracterizado como laborioso, civilizado, biológicamente saludable, apto para la vida
moderna como trabajador —en el caso de los sectores populares— o como conductor
de los destinos sociales —en el caso de los sectores de la elite”. (2014, p.275)
Desde esta perspectiva el niño era valorado por el adulto que llegaría a ser y se concebía
como un sujeto en tránsito, era por un lado objeto del porvenir y por otro objeto de
estudio de varias disciplinas, convirtiéndose así en un problema científico, político,
económico y social, en el cual se concentraban las esperanzas de la civilización del
continente, puesto que se esperaba formar una nueva raza y de este modo superar una
raza vieja, representada tanto en la raza autóctona americana como en la del viejo
continente europeo. Es así como se posiciona el asunto de la infancia en la agenda
política y social de América Latina, al otorgarle, no solo por parte de las instancias
gubernamentales, sino también por los intelectuales y sociedades científicas, una
dimensión estratégica en el desarrollo de las naciones.
Estas iniciativas entre muchas otras dan cuenta de la emergencia de la cuestión de la
infancia como “objeto social estratégico” de los Estados, lo que dio lugar a mecanismos,
instituciones, prácticas, discursos expertos sobre la atención y educación de los niños y
las niñas y de igual manera a una racionalidad particular. Si bien esto derivó en un
despliegue de mecanismos de gestión de la vida de los niños y niñas, también se
respondía a un interés estatal de gobernar la población en general, por consiguiente, la
emergencia de este interés por la infancia también responde a unas formas particulares
de reconfiguración del Estado.
El Interés Público Por La Infancia En Colombia
En Colombia la emergencia del interés público por la infancia tiene similitudes con el
proceso Latinoamericano, como lo muestran Sáenz, Saldarriaga y Ospina (1997);
durante el periodo comprendido entre 1903 a 1946, en Colombia tuvo lugar un proceso
de apropiación del discurso moderno que condujo a la transformación particularmente
de los saberes y prácticas pedagógicas que influyeron en la educación pública del país,
desde la apropiación de Pestalozzi hasta la apropiación de la pedagogía activa, dando
lugar a nuevas formas de gobierno de la infancia, en el marco de intereses más amplios.
Fue entonces que la construcción escolar de la infancia se constituyó en un asunto
145
central en lo que respecta a la invención de la individualidad moderna (Saldarriaga y
Sáenz, 2007).
Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX en Colombia tuvo lugar una serie de
discontinuidades en torno a la forma de concebir e intervenir la infancia, las cuales
fueron posibilitadas, según Saldarriaga y Sáenz por cuatro acontecimientos, a saber: “la
teoría de la degeneración de la raza colombiana, la medicalización de la escuela pública,
la apropiación de las ciencias de la vida en la pedagogía colombiana y la
institucionalización de las prácticas de la Escuela Activa o Escuela Nueva” (2007,
p.406). Estos acontecimientos guiaron la mirada para comprender y encontrar un
remedio a los problemas biológicos de la raza considerada degenerada, lo cual
implicaba medidas regenerativas de orden moral y social, “la población colombiana era
considerada un pueblo atávico, ignorante, inferior, con grandes taras genéticas y
culturales” (Amador, 2009, p. 242), por tanto se instaura “la desconfianza en un pueblo
producto de una raza enferma y violenta que era considerada poco digna de confianza
para guiar la infancia e incidir en la regeneración de la raza” (Sáenz y otros, 1996: xvi);
alrededor de estos discursos se configuraron prácticas y dispositivos que buscaban
mejorar los problemas biológicos, razón por la cual “el dispositivo higiénico penetró y dio
nuevos sentidos a la vida íntima y privada de las personas y, en efecto, las tocó y
moldeó” (Pedraza, 2012).
En esta dirección, como lo señalan Saldarriaga y Sáenz la escuela se consideró el
escenario ideal para identificar y combatir la degeneración de la población y la infancia
se entendió como la etapa más importante para garantizar el desarrollo, además de
considerarse “el blanco privilegiado de las estrategias de regeneración y civilización”
(2007, p.407), con el fin de hacer del menor, considerado primitivo y degenerado, un
niño moderno y civilizado que encarnara la esperanza del progreso nacional, que incluía
la productividad económica y el orden social (2007, p.408). Al interior de la escuela “el
niño era observado, medido, examinado, clasificado, seleccionado, vigorizado,
medicalizado, moralizado y protegido por métodos naturales de enseñanza y por
ambientes formativos propicios para revertir las taras” (Sáenz y otros, 1997: 25, vol2).
En este sentido la infancia se constituyó en un recurso estratégico para la
transformación de la población colombiana, especialmente la población pobre, a través
de la implementación por parte del Estado de estrategias sociales y éticas.
A partir de la década del 30, se configuró un conjunto de reformas liberales que
“pretendían convertir la escuela en un eficaz medio de las transformaciones de las
costumbres populares y de aprendizaje de la democracia” (Sáenz y otros 1997, p. xxiv).
146
Se introdujeron nuevos saberes sobre el país, la infancia y la población pobre, los cuales
ya no partían del problema de la raza sino de un interés por el contexto económico,
cultural y político, con el propósito de transformar la manera como la población
(especialmente campesina) percibía el mundo, encaminarla a la modernización y llevar
a cabo el proyecto de nación (Sáenz y otros, 1997). Por su parte, la familia pasó de ser
considerada nociva por la degeneración orgánica que se le adjudicaba, a constituirse en
“el estandarte de la nación, en la célula de la sociedad, en el micro escenario en el que
se inyectan los valores nacionales” (Amador, 2009: 250).
Como lo plantea Saldarriaga y Sáenz (2007) la introducción de esta nueva concepción
social y cultural, tuvo lugar gracias a la apropiación de las ciencias sociales en las
instituciones formadoras de maestros y en el discurso estatal, además de la apropiación
de autores como J. Dewey y el posicionamiento de la educación como un asunto de
relevancia política. Desde esta nueva perspectiva “ser niño suponía incorporarse a las
nuevas fuerzas vigorosas de la nación y distanciarse del mundo bajo de la delincuencia,
de los salvajes sociales, de aquellos que no tenían más remedio que resocializarse o
recluirse”. (Amador. 2009 p.249)
En las décadas siguientes tendrá lugar el discurso sobre los derechos del niño y se
propondrá la necesidad de crear programas para su protección, especialmente de la
infancia abandonada, el niño se concibe como objeto de intervención de un conjunto
amplio de prácticas, como advierte Amador, prácticas medicalizantes, psicologizantes,
judicializantes y educalizantes, que según el autor dan cuenta de un agenciamiento
biopolítico del cuerpo social (2009, p.252), que seguirán entrelazándose con nuevos
discursos, como las teorías del desarrollo, el discurso de los derechos, los discursos
económicos, entre otros.
Como se puede observar, si bien el gobierno de la infancia en América Latina y en
nuestro País ha tenido sus principales despliegues desde comienzos del siglo XX, los
dispositivos de gobierno se actualizan continuamente en relación a unas racionalidades,
fines y tecnologías particulares que se configuran históricamente y que apuntan a refinar
y volver más efectiva la gestión de la vida.
iv. La Emergencia de una Particularidad: la Primera Infancia como
Constructo Particular para el Gobierno de la Población.
Según Absalón Jiménez la delimitación de la primera infancia en Colombia estuvo
vinculada a la masificación del preescolar:
147
“En las últimas décadas del siglo XX el preescolar, con su irrupción masiva, se
constituyó en un nuevo dispositivo de poder y saber cuyo objeto era la infancia entre los
cero y seis años de edad; y la delimitación [de] la infancia como concepto y como
categoría que llevó a cabo este dispositivo fue una de las condiciones de posibilidad
para que décadas después irrumpiera la infancia contemporánea, dueña de una
sensibilidad, de unos sentidos, de una relación particular con el entorno”. (2012, p.209)
Esta masificación estuvo acompañada del reconocimiento de la relevancia social de la
educación preescolar, la cual fue impulsada por los discursos de especialistas y
educadores que cuestionaban si era necesario esperar hasta los 6 años para el ingreso
a la escuela, y además promovían la importancia de establecer una alianza entre la
familia y la escuela (Jiménez, 2012). Para Jiménez, a finales de la década del 70 en
Colombia la primera infancia emerge como una nueva objetivación (p.202), sustentada
en un discurso singular que reconocía en los niños y niñas menores de 6 años su
subjetividad, percepción y sentidos, creatividad, expresión artística y otras inteligencias,
en el marco de la educación preescolar. (2012, p. 194), es así como el autor afirma la
constitución de una maquinaria particular de gobierno de la infancia en el país. (p.195)
Por su parte, Sara Eloísa del Castillo (2009) coincide con Jiménez en afirmar que en
Colombia a partir de la década del 70 toma fuerza el interés por la atención de los niños
más pequeños, sin embargo, señala que esta atención sobrepasa los límites
institucionales convencionales y se apunta a un enfoque más abarcador para responder
a las problemáticas que afectaban a la infancia pobre , entre las cuales se destacaba la
alta tasa de desnutrición. Según la autora fue en la década de los 80’s que el tema de
la atención a la primera infancia logra viabilidad y coincide con la creación del Programa
de Hogares Comunitarios de Bienestar (2009, p.102), siendo la primera vez que en el
país se establecía un servicio masivo no formal para la atención de los niños y niñas.
(p.112)
El Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, como lo afirma Castillo, se
constituyó en parte de la estrategia de lucha contra la pobreza y se articuló con apuestas
internacionales que se empezaban a posicionar en toda América Latina como fue la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que muestra nuevamente la
relación entre las formas de intervención sobre los niños y niñas y los intereses por el
progreso y desarrollo social, proceso que continuó tomando fuerza en las siguientes
décadas, como lo muestran la movilización por la primera infancia a nivel nacional en
2002, en la que participaron diferentes organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, académicos y organismos internacionales, y la definición de una
148
política pública de primera infancia, planteada en el Consejo Nacional de Política
Económica y Social en el 2007.
Al respecto, Julia Simarra (2010) explica que en el año 2002, a partir de la creación de
la Alianza por una Política Pública de Infancia y Adolescencia, la cual articuló
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y entidades Estatales,
se empiezan a promover las políticas públicas con un enfoque poblacional para la niñez
y la adolescencia, y se crean las condiciones para la realización en el año 2003 del
Primer Foro Internacional Primera infancia y desarrollo: El desafío de la década, el cual
fue precedido de otros foros internacionales que acompañaron el Programa de Apoyo
a la Formulación de la Política de Primera Infancia que permitió concretarla y
oficializarla en el CONPES 109 de 2007.
Durante el periodo comprendido entre los años 80 hasta la actualidad la configuración
de las practicas discursivas y no discursivas sobre la primera infancia se han entretejido
con la introducción en América Latina de políticas de corte neoliberal, que no solo
tendrían incidencia en el mercado, a partir de acciones como “la privatización de
empresas y servicios públicos, recortes a la inversión social, racionalización del gasto
público y políticas de apertura económica” (Martínez, 2004) sino que también
intervendrían en los ajustes de otros sectores como el educativo. Igualmente en estas
décadas tiene lugar la apropiación de diferentes discursos entre los que se destacan
teorías económicas como el capital humano, la perspectiva de derechos, el desarrollo
humano, el desarrollo infantil temprano y la calidad de vida de la población infantil,
además de la apropiación de teorías de las neurociencias sobre el desarrollo cerebral,
entre otras; saberes que se articulan con prácticas, instituciones y posiciones de sujeto,
que dan cuenta de complejas relaciones configuradas en medio de tensiones,
contradicciones y luchas que conforman lo que hoy entendemos por primera infancia en
el país.
Aunque no podría afirmarse como novedad el interés estatal por intervenir sobre la
infancia con el fin de responder a propósitos más amplios como el progreso de la nación
o el desarrollo económico, si cabe señalar que en las últimas décadas en el país se
instaló un discurso que podría dar cuenta de una racionalidad de gobierno y una
producción particular de tecnologías de gobierno que han tenido como fundamento
central la delimitación de una población particular como es la primera infancia y con ella
el despliegue de unas formas de gestión de la vida de la población no solo infantil sino
de la denominada vulnerable o en riesgo.
149
Si bien y tal como se mencionó antes, la categoría de infancia, muestra en su devenir
histórico modos específicos de intervenir sobre ella con miras a resolver problemas
sociales, la noción de primera infancia, por su parte, da cuenta de unas relaciones
particulares que han favorecido la producción de prácticas, saberes, instituciones,
relaciones de fuerza, tecnologías y posiciones de sujeto, que se articulan con unos fines
y una racionalidad de gobierno.
v. Consideraciones Finales
De acuerdo a lo presentado anteriormente se derivan unas consideraciones finales que
recogen algunos elementos teóricos y metodológicos para orientar una lectura crítica de
la atención de la primera infancia en Colombia:
Un elemento importante para la lectura crítica de la primera infancia, consiste en
distanciarse de una concepción de infancia como objeto natural, dado o ahistórico,
puesto que es una categoría históricamente construida, que responde a condiciones
sociales y culturales particulares, las cuales requieren ser estudiadas y analizadas para
ampliar la mirada sobre nuestro presente y sobre el lugar que ocupan los niños y las
niñas hoy, lo que permitiría superar explicaciones que asumen los discursos respecto a
la primera infancia como una evolución o progreso social que alcanzó un reconocimiento
que antes no tenían. Estas explicaciones de alguna manera invisibilizan las luchas y
tensiones que continuamente operan y que contribuyen a la configuración de los
saberes, fines, problemas, racionalidades y dispositivos en lo concerniente a la gestión
de la vida de los más pequeños y a su relación con el mundo social.
En coherencia con el punto anterior se considera que una categoría que posibilitaría una
lectura crítica respecto a la configuración de la primera infancia, sería la noción de
gubernamentalidad propuesta por Foucault (1999, 2006, 2007), que en su sentido
metodológico permite centrarse en las formas de gobierno a partir del estudio de las
racionalidades políticas, de sus tecnologías y sus procesos de subjetivación (Cortes,
2011 y De Marinis, 1999) que han configurado las prácticas discursivas y no discursivas
respecto a la primera infancia en Colombia. El concepto de gubernamentalidad permite
interrogarse por la forma como gobernamos y somos gobernados y por la relación entre
el gobierno de nosotros mismos, de otros y el gobierno del Estado (Castro-Gómez 2010,
p. 243).
Desde esta perspectiva se plantea un significado amplio sobre las formas de gobierno
que no necesariamente se hayan ligadas al Estado nación, también se apunta a analizar
las formas de gobierno prescindiendo del Estado, es decir, se concibe al Estado como
“un resultado inestable de una multiplicidad de prácticas históricas que deben ser
150
estudiadas en su singularidad” y busca dar cuenta del tipo de tácticas, técnicas y formas
de conocimiento que son puestos en marcha para gobernar (2010, p.245). En este
sentido, analizar desde esta perspectiva los discursos sobre la primera infancia implica
identificar no solo de las formas de estructuración y transformación del Estado, sino
también las formas de configuración de lo social, puesto que, como se mencionó en
líneas anteriores, las maneras de intervenir sobre la infancia permiten reconocer tanto
las formas en que se ha constituido el Estado en nuestra región como las formas de
gobierno que se despliegan en la sociedad.
En el marco de la pregunta por la gubernamentalidad, se entiende la primera infancia
como una delimitación poblacional que al ser objeto y sujeto de intervención, da cuenta
de modos de actualización de las formas de clasificación de la infancia y no solo de su
gobierno sino del gobierno de otros grupos poblacionales como la población en
condición de vulnerabilidad. El análisis de estos procesos cobra importancia en tanto
contribuye a la comprensión de nuestro presente, de lo que somos, de lo que nos
constituye y nos permite problematizar las prácticas que sustentan nuestras certezas.
A partir de este interés, se formulan las siguientes preguntas, las cuales guiarían un
análisis desde este enfoque: ¿cómo se han actualizado las formas de gobierno de la
infancia en Colombia considerando el posicionamiento de la primera infancia? ¿Qué
transformación de la racionalidad política, de sus fines y de sus tecnologías de gobierno
tienen lugar, en relación con la primera infancia? ¿A qué necesidad responde este
recorte de la población? ¿Qué hace que no sea suficiente la delimitación poblacional de
infancia? ¿Qué es lo que se quiere refinar en el gobierno de los otros? ¿Qué procesos
de subjetivación tienen lugar en el gobierno de la primera infancia?
Por último y de acuerdo a lo sugerido en este artículo la primera infancia en Colombia
se concibe como un conjunto de prácticas singulares respecto a las formas de gobierno
que se han producido en el país, que dan cuenta de una forma de gestión de la vida no
solo de los más pequeños, sino de los pobres y de la población en general. Por
consiguiente, un elemento central del análisis de la primera infancia, consiste en partir
de las prácticas y de su heterogeneidad.
Desde Foucault las prácticas se consideran acontecimientos que emergen en un
momento histórico particular y son entretejidas en unas relaciones de poder. Las
prácticas existen en red y al mismo tiempo son singulares y múltiples pero deben ser
estudiadas en sus articulaciones y en función de unas reglas específicas, pues sus
relaciones no son arbitrarias. Las prácticas son el lugar en el cual lo que se dice y se
hace, se unen en función de unos efectos de jurisdicción y de veridicción, es decir, de
151
unas prescripciones que orientan aquello que está por hacer y unas codificaciones de
lo que está por saber (Foucault, 1982).
En este sentido, abordar la primera infancia desde el enfoque de la gubernamentalidad,
implicaría reconocer el ejercicio real, material, el cómo del poder, codificado y expresado
por racionalidades políticas, y desplegado y efectivizado en tecnologías de gobierno.
(De Marinis, 1999, p.14). Por lo tanto, aquí no se contrapone discursos y prácticas, ni
tampoco se busca verificar si los discursos propuestos respecto a la primera infancia
tienen su efectivo cumplimiento o no. Lo potente de esta perspectiva consistiría en
visibilizar las formas de funcionamiento de las prácticas discursivas y no discursivas y
los efectos de realidad que produce, como lo fue por ejemplo el funcionamiento de la
infancia como recurso estratégico para la transformación de la población pobre en
relación con los ideales de nación en la primera mitad del siglo XX.
Referencias bibliográficas
Amador, J. C. (2009) La Subordinación De La Infancia Como Parámetro Biopolítico Y Diferencia Colonial En Colombia (1920-1968). Nómadas. (31), 240-256.
Ariés, P. (1987) El niño y la vida familiar en el antiguo regimen. España: Taurus. 548p.
Carli, S. (2005) Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina. 1880-1955. Editorial Miño y Dávila, Buenos Aires.
Castro-Gómez, S. (2010) Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás.
Castillo, S. E. (2009). La Génesis del Programa de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recuperado en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20130225051642/tcastillosara.pdf. Consultado el 07 de octubre de 2013.
Cortes, A. (2011). La noción de gubernamentalidad en Foucault: Reflexiones para la
investigación educativa. En: Gubernamentalidad y educación: discusiones
contemporáneas. Bogotá: Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico -IDEP-. 151 p.
De Marinis, P. (1999). Gobierno, Gubernamentalidad, Foucault y los Anglofoucaultianos.
(O: un ensayo sobre la racionalidad política del neoliberalismo). Ramos y
García (Comps.) Globalización, Riesgo y Reflexividad. Tres temas de la teoría
social contemporánea. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Foucault, M. (1982) El polvo y la nube. La Imposible Prisión: Debate con Michel
Foucault, Barcelona: Editorial Anagrama. Pp. 37-54
Foucault, M. (2006). Seguridad, Territorio, Población: curso en el College de France
(1977 - 1978) Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 484 p.
Foucault, M. (2007).El Nacimiento de la Biopolítica: curso en el College de France:
(1978-1979) México: Fondo de Cultura Económica, 401 p.
152
Foucault, M. (1999). Gubernamentalidad. En: Estética, ética y hermenéutica: obras
esenciales. Barcelona: Paidós. Pp. 175-198
Jiménez, A. (2012). Emergencia de la Infancia Contemporánea, 1968-2006. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Martínez, A. (2004) De la escuela expansiva a la escuela competitiva. España: Anthropos Editorial. 459 p.
Pedraza, Z. (2012) La disposición del gobierno de la vida: acercamiento a la práctica biopolítica en Colombia. En: Revista de Estudios Sociales. No 43. Agosto. Pp. 94-107 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res43.2012.08
Sáenz, J.; Saldarriaga, O y Ospina, O. (1997) Mirar la infancia: Pedagogía, Moral y Modernidad en Colombia, 1903-1946. Medellín: Universidad de Antioquia.
Saldarriaga O. y Sáenz J. (2007) La construcción escolar de la infancia: pedagogía, raza y moral en Colombia, siglos XVI-XX. Rodríguez, P. y Manarelli, M. (Coords.) Historia De La Infancia En América Latina. Universidad Externado de Colombia. Pp. 390-415
Silveira Netto Nunes, E. (2013). La infancia latinoamericana y el Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia (1916-1940). Sosenski, Susana y Jackson Albarrán, Elena (Coords.) Nuevas miradas a la historia de la infancia en América Latina: entre prácticas y representaciones, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 273-302.
Simarra, J. (2010). Panorama de las Políticas Públicas de Primera Infancia en Colombia. Miscelánea Comillas. 132 (68), 397-417.
Simarra, N. y Madariaga, C. (2011). Colombia y sus Compromisos con la Primera Infancia. Palobra. (12), 236-249.
Villalta, C. (2014) Los debates sobre la protección de la infancia. La creación de problemas sociales y de dispositivos de intervención. Curso virtual: Infancias y juventudes de América Latina y el Caribe: derechos y disputas por lo público. Clase 2. Clacso.
APUNTES SOBRE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR ARGENTINA EN EL SIGLO XX:
UNA RECORRIDA POR SU IDEARIO84
Mónica Fernández Pais
UNLP
En este trabajo se indagan las prácticas en la educación inicial a mediados del siglo XX en una
Argentina atravesada por cambios culturales, políticos y económicos de un desarrollismo pujante.
Esos años son identificados como un momento de cambio y transformación en las prácticas que
84 Este trabajo es parte del avance de la tesis doctoral “ La educación inicial en Argentina a
mediados del siglo pasado: entre la renovación y el tecnicismo pedagógico (1957- 1977)”
153
modifica de modo estructural el trabajo cotidiano al ubicar al niño en el centro de la propuesta de
enseñanza. Es por ello que resulta pertinente estudiar los avances producidos en el período y
aportar a la historiografía sobre un nivel educativo cuyo desarrollo es aún incipiente.
A partir de la investigación sobre las experiencias en los jardines de infantes entre 1957 y 1977,
muestran indicios de que las transformaciones culturales no se trasladaron a las salas. Uno de los
principios que la renovación pedagógica ayudó a profundizar fue la flexibilidad del nivel para
adaptarse a los cambios sociales. Sin embargo, los primeros análisis muestran que el preescolar
contribuyó a transmitir un modelo de familia y de cultura infantil muy conservador.
La investigación recupera y analiza los discursos que han dado sentido a las prácticas en los
jardines de infantes en el pasado reciente y está inscripta en el campo de la historia de la educación
y de los estudios de la cultura escolar. En este sentido, consideramos a la cultura enseñada en el
jardín de infantes como cultura escolar más allá de las tensiones en torno a la incorporación más
o menos formal del jardín de infantes al sistema en el período estudiado.
Las fuentes que se seleccionaron permiten bucear en las lecturas del período y en los modos en
que estos se instalaban en el cotidiano. Se trabajó con textos de consulta, con publicaciones que
a modo de guías tenían circulación entre las docentes y con las actas de reuniones mensuales de
personal del Jardín de Infantes Mitre, anexo al Instituto de Profesorado Sara Eccleston. El acceso
al archivo de esta institución permitió conocer el cotidiano de la institución que al
complementarse con las entrevistas cobra nuevos sentidos. El corpus se completa con las lecturas
de la revista La Obra de amplia difusión que en el período dedicaba un apartado especial a los
jardines de infantes y del Monitor de la Educación Común, publicación del Ministerio de
Educación. Este trabajo de archivo y de poner a un lado, se pudo engarzar a partir de la realización
de entrevistas a informantes claves del período con la intención de recuperar el discurso
pedagógico para la primera infancia.
Trazando una cartografía
La intención de ordenar un relato sobre lo sucedido en la educación inicial desde fines de la década
del 50 y mediados de la del 70 en el campo educativo, nos lleva a otra periodización a la que
prestar especial atención. Siguiendo a Puiggrós, “en la década del 55-65 (década desarrollista en
América Latina) la pedagogía funcionalista (ligada directamente a la producción socio-
pedagógica, antropológica y pedagógica imperialista) se instaló como un producto de
importación, desligada de la tradición positivista pedagógica latinoamericana que, aunque
comprometida con las clases dominantes y nacida en el positivismo europeo, había adquirido
raigambre nacional.” (2015: 13) Seguir esta huella permite tener una perspectiva de análisis que
154
nos interroga acerca del impacto que tuvo en la educación inicial el funcionalismo en la medida
que como toda práctica educativa es producto de su época.
El desarrollismo pretendía una integración política sustentada en una reconciliación
suprapartidaria y un desarrollo sin conflictos, en el entendimiento de participar como argentinos
de un nacionalismo de los fines, abonado por una interpretación científica de la realidad, que el
propio presidente había desarrollado en sus épocas de intelectual radical.” (Gagliano y Cao,
1995:43) La desigualdad social a partir del desplazamiento de lo comunitario a lo individual se
apoyaba en la idea de capital humano. “Realismo, eficacia y racionalidad son las metáforas de la
agenda pública. Detrás de ellas una dominación arbitral del poder militar, a la promoción de la
Iglesia Católica en las políticas educativas favorecedoras del sector privado en educación.” (Ibíd.:
44)
Para remontarnos al comienzo del funcionalismo pedagógico latinoamericano, tenemos que
volver a la figura de John Dewey quien como se ha dicho, desde el “pragmatismo” cuestiona el
enciclopedismo y propone una educación que valore la experiencia, la democracia y el
pensamiento científico. (Ibíd.) Recordemos que su influencia llega a la educación inicial en este
período, mientras que los maestros de primaria accedieron a su obra en la década de 1930. Una
pista para saber cómo llega esta influencia nos la da el relato de Soledad Ardiles de Stein en su
autobiografía,
“En 1949, ya egresada como Maestra Normal Nacional de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi
de Tucumán, me designan Maestra Jardinera en la Escuela que se llamaba entonces Benjamín F.
Aráoz, y que estaba ubicada donde hoy está la Escuela Monteagudo de nuestra Ciudad, en la calle
Moreno quinta cuadra.
En esta tarea traté de aplicar los dones de Froebel y las ocupaciones Montessorianas que eran parte
de la metodología que se usaba para la enseñanza de los niños de Jardín de Infantes. Pero noté que
dichas prácticas realmente no hacían felices a los pequeños. Accidentalmente tuve contacto con
un libro que acababa de publicar la editorial Kapeluz que se llama Actividades para Jardines de
infantes de Patty Smith Hill, quien fuera pionera y la reformadora de la metodología y la
organización de los Jardines de Infantes en los Estados Unidos. Ella fue asimismo alumna de John
Dewey en la Universidad de Columbia en Nueva York.
Esta lectura generó en mí el deseo profundo o el sueño, por así decirlo, de viajar a los EEUU y
conocer la Didáctica Pre- Escolar del País.”(2005:4)
El texto en cuestión, publicado por Kapeluz en 1950, fue prologado por la Directora de la
Colección de “Biblioteca de Cultura Pedagógica”, Clotilde Guillén de Rezzano; y, en el año 1960
ya contaba con tres ediciones lo que nos permite inferir su amplia difusión e influencias sobre la
que volveremos luego. Ardiles de Stein, fue la responsable de iniciar desde los jardines de la
provincia de Tucumán un recorrido de transformaciones. Sin embargo, según se anuncia en el
Prólogo de la obra su introducción y colaboración en la traducción es de Josefina M. de Renard.
155
Volviendo a la problemática de lo que se conoció como pedagogía funcionalista en América
Latina, diremos que se ordena según una escala que permitía cuantificar los elementos que la
componen como son los alumnos, las instituciones educativas, los programas y los maestros, en
último lugar; y, considerando al sistema como poco desarrollado. La pedagogía convertida en una
de las muchas ciencias que se ocupan de la educación, se fundamenta en una psicología
conductista y se torna tecnología. El trabajo pedagógico se reducía entonces a la didáctica.
Didáctica dependiente para un modelo educativo dependiente. (Puiggrós, 2015: 15) Siguiendo
esta argumentación podemos decir que la educación inicial, estructurada según un método
produce ese desplazamiento de lo pedagógico a lo didáctico desde sus orígenes. En tanto, el lugar
del jardín en la sociedad se analizaba por sus funciones y por su impacto en la vida familiar. Así
mostraban el acercamiento a la cuestión de la fundamentación psicológica y la tecnología,
“El reconocimiento de que el Jardín de Infantes cumple funciones educativas e insustituibles
dentro del contexto socio-cultural de nuestros días, ha determinado su incorporación de hecho a
los sistemas escolares. La escuela primaria deja de ser, así, la primera escuela a la que concurre
el niño, correspondiendo este lugar al Jardín de Infantes.
Antes de señalar cuáles son esas funciones, resultará útil hacer algunas consideraciones acerca del
concepto que actualmente se tiene del niño, de las condiciones en que vive y de los cambios
ocurridos en la sociedad, determinantes de ese concepto y de esas condiciones.” (Bosch, 1985:
16)
“Dos procesos históricos peculiares de nuestra época han contribuido en las últimas décadas a
modificar sustancialmente el papel del Jardín de Infantes y, a la vez, su organización y
funcionamiento. Por un lado, debido a las formas de vida moderna, en sociedades
predominantemente urbanas o urbanizadas, muchas de las funciones que en un tiempo fueron
desempeñadas por la familia se han transferido de manera irreversible a instituciones
especializadas, que toman a su cargo una parte considerable de las tareas que otrora estaban
confinadas de modo exclusivo al ámbito familiar, al grupo de parentesco y a la pequeña comunidad
local; con esta nueva modalidad la educación como institución específica y organizada, interviene
en la vida del individuo desde una edad mucho más temprana y se prolonga hasta mucho más allá
que en cualquier otra época del pasado. Por otra parte, el conocimiento del hombre ha hecho
grandes avances y estos progresos han abierto nuevos horizontes y más amplias e impensadas
posibilidades a las ciencias de la educación.
El Jardín de Infantes de hoy puede considerarse en gran medida como el resultado de estos dos
grandes procesos de transformación; particularmente en lo que atañe a las bases teóricas de su
organización y funcionamiento, así como a la formulación de las técnicas y procedimientos
concretos a aplicar en su conducción y en las múltiples tareas que se desarrollan en su seno, los
aportes de las diferentes ciencias del hombre han sido decisivos.” (Germani, 1980:1)
Bajo el título Fundamentación pedagógica continúan diciendo Fritzsche y Duprat,
“Dice el profesor Luis Jorge Zanotti en su libro “Misión de la pedagogía”: “Carecemos hoy de una
teoría pedagógica, coherente, clara… Nos quedamos en la práctica y no ascendemos hasta su
escalón inmediato, la teoría, que es la culminación de toda acción… “
Las reflexiones que el profesor Zanotti hace sobre la necesidad de una teoría pedagógica que
fundamente la práctica docente y que al mismo tiempo resulte coherente, clara y sólida, lleva a
pensar en la necesidad de integrar concepciones que unificadas pueden interaccionar con la acción.
156
(…) Esta teoría está dada por los principios de la escuela nueva con bases filosóficas, sociológicas,
psicológicas y biológicas.
La interacción pedagogía-sociología como una comprensión de la realidad social del país en un
todo armónico y dinámico de ayuda a la familia y de integración de la institución preescolar a la
comunidad.”(1974: 2)
Consideramos que el discurso pedagógico se complejizó en el período al contar con nuevas
fundamentaciones para la práctica cotidiana apoyadas en la técnica y la planificación. Los
psicológico y sociológico es presentado en el texto de Fritzsche y Duprat al servicio del fin de la
educación. Mientras que para los equipos liderados por Germani y Boch, hay una mirada
predominante de lo social. La educación se tornaba entonces, ahistórica y los procesos se
consolidan a partir de categorías funcionalistas. (Ibíd.: 16) Esta tendencia creemos que reforzó el
relato nacional de la historia del nivel que ubicaba su origen en las experiencias de Fröebel y
Montessori. También incluyó en esas versiones los desarrollos del jardín de infancia en el mundo,
mientras mantenía disputas en el terreno educativo denunciando la falta de reconocimiento a las
ideas de Fröebel1 a principios de siglo sin mayores complejizaciones. Entendemos que de este
modo se produjo una suerte de desterritorialización de la educación inicial argentina abonando un
relato que aparece en los textos desde la década de 1940 hasta el texto de Bosch y Duprat del
2004, que reconocemos como producciones propias del nivel y componen el corpus de fuentes
secundarias disponible.
Las modificaciones en marcha
Quizás una de las normativas que más manifiestan la Resolución del 10 de agosto de 1961 (Expte.
Nº 18.074/C/1961) del Consejo Nacional de Educación acerca de los “Fines de la educación
preescolar y Programa sintético para los Jardines de Infantes”. Este trabajo da cuenta de un
cambio de época, al definir en primer lugar que
“Los jardines de infantes no son antesalas de la escuela común, ni instituciones filantrópicas; si
capacitan al niño a recibir, en el momento oportuno, las enseñanzas de la escuela común, no deben
anticiparse a ella ni sustituirla y, si constituyen en muchos casos una acertada solución de difíciles
problemas familiares, sobre todo en los centros urbanos, sus beneficios alcanzan por igual a los
niños a los pequeños del medio alegre y sano donde podrán desenvolver su actividad.” (5)
La década de los grandes cambios sociales a nivel mundial y nacional, ubica la educación de los
más chicos como inicio de la trayectoria escolar lo que nos permite situar este Programa como un
hito significativo para los años venideros. El plan plantea, también, dos cuestiones que deseamos
destacar. Por un lado, sostiene define el lugar del docente formada, ya no para seguir un método
sino teoría apoyada en campos disciplinares
“La maestra jardinera unirá a sus sólidos conocimientos de sicología infantil y de didáctica
especial, una definida vocación; su misión no es instruir sino educar, es decir, favorecer el
157
desarrollo integral del niño mediante la persuasión y la inducción, para crear hábitos y corregir
suave, pero firme y eficazmente, las desviaciones.” (Ibíd.)
Por el otro, define al jardín de infantes como la
“escuela activa, la escuela feliz donde los pequeños se desenvuelven dentro de un ámbito moral,
hecho de confianza, de seguridad,, de amor, de alegría y donde la disciplina deber ser consecuencia
natural de la actividad organizada de manera tal que los niños puedan actuar sin sentirse influidos
por su presencia.” (Ibíd.)
El plan define objetivos y un programa de trabajo según “Temas de conversación” a través de los
cuáles los niños y niñas podían acceder al conocimiento de un mundo ordenado en función de la
sociedad, la naturaleza y la Patria en línea con la preparación para la escuela primaria. Lo social,
partía de lo conocido a lo desconocido en una serie vigente hasta el presente: jardín de infantes –
familia – barrio – casa – oficios y trabajo, planteando la distinción entre rural y urbano. La
naturaleza incluye la distribución del tiempo para enseñar los ritmos vitales y los animales que
ayudan al hombre los que destruyen su trabajo.
La enseñanza se centraba de contar un mundo posible con la ayuda de los “Benefactores de los
jardines de infantes: Fröebel, Montessori, Decroly, Agazzi y Vera Peñaloza.” La incorporación
de la maestra argentina nos permite suponer la necesidad de reponer el sentido de lo local en el
imaginario de preescolar y de sumar los últimos avances obtenidos en la década anterior.
La influencia de los organismos internacionales
Una característica de la época es la presencia de los organismos internacionales. A fines de la
década del 50 la concepción acerca de la necesidad de planificación educativa estaba expandida
en América Latina y se consolidada por las recomendaciones dadas por la Conferencia de
Ministros de Educación realizada por la OEA y la UNESCO y los sucesivos encuentros que
promovían una mirada de lo educativo en términos de eficiencia desde la influencia economicista.
La UNESCO fue creada en 1948 luego de la segunda guerra mundial, dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas. Un cierre de ese ciclo inaugural se produce con el retiro de
los Estados Unidos e Inglaterra.
En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los países europeos que enfrentan
a la Alemania nazi y sus aliados se reunieron en Inglaterra en la Conferencia de Ministros Aliados
de Educación (CAME) preocupados por la reconstrucción de los sistemas educativos luego de la
guerra. Entre el 1º al 16 de noviembre de 1945, se reúnen representantes de 40 países en Londres,
en una Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una organización educativa
y cultural (ECO/CONF). Impulsados por Francia y del Reino Unido, los delegados crean una
158
organización destinada a establecer la "solidaridad intelectual y moral de la humanidad", para
impedir una nueva guerra mundial.
Como consecuencia de la reconstrucción europea tras la II Guerra Mundial, en “1946, Lady Allen
of Hurtwood (Reino Unido) y Alva Myrdal (Suecia), junto a otras personas de Francia, Dinamarca
y Noruega elaboraron un plan para crear una organización mundial que promoviera el bienestar,
los derechos y la educación de los niños pequeños. La Asamblea de UNESCO en París acogió el
plan con un efusivo apoyo, y los fundadores invitaron a representantes de 19 países de 5
continentes a una Conferencia Mundial sobre la Educación Preescolar en Praga en el año 1948.
En esa Conferencia, nació OMEP y Alva Myrdal fue elegida como su primera Presidenta
Mundial. Con posterioridad a este evento, esta nueva organización fue reconocida como el
principal mecanismo para congregar a personas de todo el mundo sin ningún otro criterio que el
objetivo de compartir información y emprender acciones en beneficio de los niños/as pequeños
en todo el mundo. La segunda Asamblea Mundial, en 1949, contó con la participación de
representantes de 33 países, lo que fue un indicador de la creciente fuerza de la recién creada
OMEP. La tercera Asamblea Mundial, en 1950, contó con la asistencia de observadores de
importantes entidades intergubernamentales con intereses afines, entre las que se incluyen
UNESCO, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS).” (OMEP, 2015)
En la República Argentina el Comité local de la OMEP fue reconocido y proclamado durante la
XI Asamblea Mundial realizada en París el 21 de julio de 1966. Cabe destacar que ya en 1965 se
había organizado el comité y se comenzó a trabajar hacia el reconocimiento internacional.
En el año 1958 se realiza en la República de Chile el Seminario Internacional de la OMEP, donde
participa como representante oficial de nuestro país la Profesora Marina Margarita Ravioli. El
destino de la OMEP se ve requerido por diferentes grupos, uno de ellos liderado por la Prof.
Martha Salotti, otro por el Dr. Florencio Escardó. Finalmente se recurre al Instituto Sara C. de
Eccleston, del que Margarita Ravioli era Rectora; acepta su organización, pero delega la
presidencia en manos de Beatriz Mendizábal. En 1968, ya con la Presidencia de la Prof. Margarita
Ravioli en la OMEP, se lleva a cabo el 1° Congreso Argentino “Los Derechos del Niño”,
editándose el primer Boletín.
Durante el gobierno de Frondizi se había creado la CONADE (Consejos Nacional de Desarrollo)
cuyo funcionamiento fue pautado por la CEPAL. Durante el gobierno de Illia se creó el sector de
Educación que trabajaba para articular los planes de desarrollo educativo con el desarrollo
nacional. Distintos eventos, capacitaciones y elaboración de documentos como el publicado en
1964 por la CONADE, "Educación, recursos humanos y desarrollo humano", con el apoyo de la
159
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) configuraron un escenario
particular que no fue ajeno a la educación inicial. (Southwell, 2003: 111)
La UNESCO ejercía una influencia directa sobre la CONADE como sobre todos los organismos
creados en los países latinoamericanos para impulsar las políticas desarrollistas. Preocupada por
el “rejuvenecimiento demográfico” en América Latina al aumentar de 38.000.000 en 1960 a
50.000.000 de niños en 1970, advertía sobre el agravamiento del problema económico por el
desfase entre los niños y los adultos en condiciones de mantenerlos. (Carli, 2000:15)
Argentina si bien tenía un sistema de educación pública de alcance nacional, no tuvo un desarrollo
de la educación inicial. El desarrollo de la sociología y el propio aporte de UNESCO, permiten
ver que las instituciones estadísticas preescolares entre 1950-1976, eran 461; en 1955, 126; en
1965, 2792 y en 1970 3808. (UNESCO, citado por Carli 2000:16). En un trabajo realizado en el
profesorado de Jardín de Infantes Sara Eccleston en 1965, por Matilde González Canda y Susana
Szulanski, se presentan las cifras provisorias85 de un informe presentado por el Ministerio de
Educación y Justicia, a través de su Departamento de Estadística titulado ““Enseñanza Pre-
primaria” años 1914-1964” constaba que en 1914 había 15 jardines de infantes con una matrícula
de 1203 alumnos, en 1938 había 19 jardines de infantes con una matrícula de 1943 alumnos, en
1948 había 188 jardines de infantes con una matrícula de 14722 alumnos y en 1964 había jardines
de infantes con una matrícula de 116376 alumnos. En el mismo las autoras ubican la situación
nacional en relación al “status en otros países”. Para ubicar el modo en el que se reconoce al
jardín, abrevan del informe presentado en el libro de Seavitt Jerome “Educación en el Jardín de
Infantes y Nursery” de 1954, en el que 15 países miembros de la UNESCO otorgan al jardín
significados diferentes. (1,3)
Esta perspectiva da cuenta de la centralidad del aporte de dicho organismo en la construcción del
discurso sobre el jardín de infantes, desde lo sistémico y teórico. Al mismo tiempo, siguiendo “la
fórmula de entonces (que) era la idea de inversión86 en los niños como causa del desarrollo
económico (UNESCO, 1965:18), vinculada con la idea de beneficio económico de la inversión.”
Como resultado de estas representaciones, se promovieron múltiples acciones educativas en los
ámbitos formales y en otros espacios. (Ibíd.: 17)
La cuestión de la infancia y el preescolar
Para poder comprender el proyecto educativo que se construyó entre 1958 y 1976 para la primera
infancia es necesario delimitar su singularidad. Las prácticas de cuidado, disciplina y encierro
85 Así lo plantean las autoras. 86 Destacado de la autora.
160
objetivan al niño y es en ese punto donde se reconoce el origen del discurso de la educación
preescolar. La infancia no está dada por instancia psíquica, es una construcción social,
comunitaria que exige pensamiento y que pone en evidencia lo innombrable. (Martínez Boom,
2008:12) Entonces, nos preguntamos, qué es lo no dicho en el período y qué lo enunciado como
verdad en tiempos de cambios y nuevos ordenamientos sociales. ¿Qué de “nuevo” trajeron los
niños y niñas de que poblaron los jardines en el período?
En el período que nos ocupa la ciencia hizo grandes esfuerzos por conocer mejor a la infancia;
sin embargo, no logró ni logrará inhibir la novedad, lo imprevisible de cada nacimiento. Como
dice Diker, “la infancia representa un límite de nuestro saber y poder”. Un límite a aquello que
no se deja atrapar por las categorías y prácticas conocidas. (2009:14-15). El destino de la
educación inicial no estaba marcado por lo seguro, sino todo lo contrario, la novedad lo imprevisto
que trae la infancia es aún más radical por la edad de los niños. Sin embargo, la educación de la
primera infancia se organizó en torno a un discurso que bregaba por lo creativo y dispuesto al
cambio mientras era tensionado por el control y la formalidad que lo estructuraba. Una fotografía
de estas escenas cotidianas aparece en el acta de una reunión de personal a propósito del cuidado
en la organización gradual del trabajo- juego que debía atender la maestra,
“La Sra. González Canda dice: que la Srta. Ravioli, pidió a la dirección un trabajo sobre cómo se
deba hacer el período trabajo-juego, ya que las graduaciones no deben realizarse sin gradaciones
por nivel. Al pasar por sala 10 y sala 1 se ve a las nenas con tacos, vestidas igual con el
característico cochecito. Liliana D’Onofrio: podrán vestirse igual pero dramatizan distinto. La
Srta. Margarita dice que en los informes de las ayudantes nunca están los tres momentos del
período juego-trabajo. González Canda: entonces se va a volcar en el trabajo del currículum.”
(Reunión de personal. Directoras Beatriz C. de Capalbo y Matilde González Canda, Jardín de
Infantes Mitre: 11 de agosto de 1976)
Duprat, retomaba en sus últimas producciones la tesis de Philippe Airès acerca de la construcción
moderna de infancia y luego a Frabboni. La fuerte influencia de Frabboni en el nivel a lo largo de
varias generaciones parece deberse al perfil de didacta que lo lleva a ocupar un lugar destacado
en la biblioteca de la época y cuya influencia llega hasta el presente. Frabboni, según Duprat,
plantea que antes de la Revolución industrial, “la infancia era concebida como “paréntesis de
espera”, “infancia negada”, sin identidad propia.” (2004: 31)
La autora plantea la subsidiariedad de la concepción de infancia del de familia desde una
perspectiva filosófica que da cuenta de la centralidad que el jardín otorga a la familia en su
producción teórica y en la práctica. La definición del carácter educativo o asistencial del nivel
aparece ligada hasta el presente a la ayuda a la familia en el cuidado de los hijos.
Ahora, nos interesa retomar la idea de infancia como construcción social, situada e histórica y
hacer mención al discurso de infancia que construyó el período. Mientras que el peronismo al
instalar una nueva cultura política con la expresión los únicos privilegiados son los niños, ubica
a la infancia como la depositaria de la acción social del Estado. La Revolución Libertadora no
proscribió este enunciado y la consolidación de la política de derechos para los más chicos
161
cristaliza la idea de niño con derecho, aunque en la primera infancia no a la educación con la
misma convicción que los sectores progresistas le otorgan en la actualidad.
Unos años antes de que Philippe Ariès publicara su tesis “El niño y la vida familiar en el Antiguo
Régimen” (1960) el Director del Instituto de Psicología y Ciencia de la Educación de Salta, Oscar
Oñativia, elabora una propuesta de asesoramiento a la Escuela Experimental de Salta que en 1957
le hace llegar a Mary Stein. A partir de su lectura Stein elabora el Comentario y Sugerencia
Didáctica Nº 1 que recibió la docencia tucumana con la intención de diferenciar el Jardín de
infantes del Nivel Primario. Allí afirma,
“En el régimen de educación imperante, le jardín está fagocitado por la estructura de la escuela, por
sus rutinas y por una concepción estereotipada y artificial del niño. Además la educación sigue siendo
tan intelectualista como antes, a pesar de que se quiera dar cabida en ella a una enseñanza intuitiva, en
pleno contacto con las cosas.
Y continúa,
¿Qué quiere decir esto? Que no existe concordancia con lo que se quiere hacer de la enseñanza
preescolar y lo que le niño es y aspira a esa edad. Esta disparidad manifiesta obedece a una falsa
concepción del niño, cuyas raíces provienen de la psicología atomista y asociacionista del siglo XIX.
Porque a pesar de la cantidad de materiales y quehaceres lúdicos con que se pretende adornar los
tópicos de la enseñanza demasiado abstractos, persiste la vieja concepción elementalista y sumativa de
la conciencia.
(…) Con arreglo a esta concepción, artificial como los laboratorios de análisis mentales que la
produjeron, el niño es algo así como un adulto en miniatura, más simple e indeferenciado, en vía de
estructuración creciente. Como una película virgen, está dispuesto para recibir un sinnúmero de
impresiones que comienzan por los sentidos.
La educación debe cuidar que estas impresiones y sus sucesivas asociaciones se efectúen ordenadas y
coordinadamente a los fines de una concepción del mundo y de la vida que se adapte a la sociedad de
sus mayores.” (2005:25-27)
Stein buscaba transmitir la singularidad de la infancia; y, más precisamente de la primera
infancia. Sin embargo, si bien advertía de los riesgos de pensar en los niños del siglo XX como
si fueran los del siglo XIX y denunciaba la llegada de la medición y la ciencia para comprenderlos,
mantenía una mirada del niño como un adulto en potencia cuyas hojas en blanco se comienzan a
escribir en el jardín en un primer momento a través de los sentidos. Así, la herencia de la década
de 1940 que proponía mayor simetría entre adultos y niños (Carli, 2003:326) aparecía en este caso
como argumento a favor de la diferenciación del jardín de la primaria. En acta de reunión de
personal fechada el 19 de diciembre de 1969 se recomienda a las docentes leer detenidamente el
método Oñativia junto al de Smith Hill, lo que nos lleva a pensar que los modos en los que las
maestras se formaron para la renovación es muy variado y ecléctico.
Años más tarde, en el texto El jardín infantes hoy, Bosch y su equipo decían
“El medio físico y social en que viven los niños de nuestros días es muy distinto, por cierto, de
aquel en el que se desenvolvieron no sólo generaciones alejadas de la actual sino también el de las
más cercanas, el de las que los preceden.
162
Nada mejor para ilustrar lo que acabamos de señalar que una simple descripción del ambiente en
que se desarrolla actualmente el niño de la clase media de una gran ciudad. (…) La industria
permite que lleguen a sus manos los juguetes más variados e ingeniosos, cuando se cansa de estos,
las revistas de historietas y libros ilustrados le llenan los ojos con escenas que presiente o imagina.”
(1985:16-17)
La idea de infancia del jardín de entonces o al memos podemos decir la que divulgaban los libros
era la del niño de clase media citadina. El acceso a la televisión y el teléfono, al que se hace
referencia luego, da cuenta de que la idea de niño era el de una clase media alta con acceso a la
comunicación telefónica y a distintos medios de comunicación que daban a conocer las nuevas
formas de crianza apoyadas en la llegada del psicoanálisis como fue “Escuela para Padres” de
Eva Giberti, que comenzó a escribirse como columna del diario La Prensa, pasó por la televisión
y llegó a ser un libro que se distribuía por venta directa. Sin embargo, Bosch, más cercana al
desarrollo de la psicología diferenciaba al niño del adulto y lo ubicaba en su medio habitacional
y cultural.
La influencia de la psicología y el psicoanálisis
La influencia de la psicología y el psicoanálisis han sido importantes en la educación inicial y
para la pedagogía argentina. Nos interesa entonces ver cómo aparece reflejada en las fuentes y en
los testimonios orales que dan cuenta del clima de entonces. Las delgadas líneas divisorias entre
los cambios provenientes del método y de la mejor comprensión del niño y los desarrollos en
torno a cómo aprende evidencian las dificultades para analizar el período.
El jardín de infantes hoy plantea, citando a Debesse, “Oficialmente se admite que toda pedagogía
debe asentarse sobre bases psicológicas”. (Debesse citado por Bosch, 1985:36) Una psicología
que aportaba a la estructuración pedagógica y didáctica del jardín argumentos para su
fundamentación y no solo métodos o materiales específicos. El conocimiento de la personalidad
infantil habilitó nuevas intervenciones del docente; el conocimiento de las conductas definía
actividades en función de las posibilidades de aprendizaje de los niños según su edad.
El canon de la época reconocía tanto los aportes de las teorías de Bowly, Aberastury, Adler,
Erikson y Debesse, como el de la teoría psicogenética de Jean Piaget. El constructivismo aparecía
como lo bueno y esperable frente a un conductismo que era visto como amenaza latente. Según
Bosch,
“la teoría psicogenética de Piaget plantea que el conocimiento de la realidad resulta de un
reconstrucción de ésta en las estructuras mentales y no de una simple impresión en la mente de lo
que a ésta le llega a través de los sentidos. Esta idea básica, discutida, enfocada desde distintos
ángulos y enriquecida por teorías como las de Vigotsky, Bruner y Ausubel, entre otras, ha
permitido concretar para muchos aspectos de la enseñanza en el nivel inicial propuestas de acción
basadas en el constructivismo.” (2004: 75)
163
Nos interesa retomar este asunto, porque asumimos que es necesario no confundir los aportes de
un campo teórico con las adaptaciones forzadas producidas en su aplicación directa a las
actividades, tal como nos alertara Castorina. Piaget, fue adaptado a las propuestas del jardín de
infantes en las secuencias de y en las actividades, por ejemplo. (Entrevista realizada en febrero
2011)87 Decía Duprat al respecto,
“Ya entonces decíamos que el objetivo central de la unidad era que el chico conociera y organizara
la realidad. La diferencia era que le dábamos todo hecho, aunque no nos dábamos cuenta en ese
momento. Organizábamos tres momentos: iniciación, desarrollo y evaluación y establecíamos
después algunos elementos para evaluar a través de la misma actividad y de los cambios que se
operaban en la conducta infantil. Nuestros aportes tenían que ver con la psicología profunda y con
los aportes de Piaget.” (2005:24-25)
El interés por Piaget se vio reflejado en las distintas publicaciones del período y constituye la
fundamentación de los diseños curriculares provinciales de la educación inicial. El texto más
difundido en la formación docente unos años más tarde fue “Seis estudios de psicología” (1964).
Conocedoras del aporte piagetiano, tener a disposición que explicara cómo se aprende según los
estadíos era visto como una ayuda que alejaba en parte los fantasmas sobre las dificultades de su
lectura. Al mismo tiempo, el ginebrino definía una franja del desarrollo del sujeto específica del
jardín y el primer ciclo que consolidaba experiencias como la que de articulación de primero y
segundo grado bajo la órbita del jardín como fue la desarrollada en el Jardín de Infantes Mitre en
los primeros años de la década de 1970: La primera infancia de los dos a los siete años.
La Primera parte del libro: “El desarrollo mental del niño” describe cuatro etapas. Estas son: el
recién nacido y el lactante, que se consolidaba con trabajos como dijimos de René Spitz; La
primera infancia de los dos a los siete años; La infancia de dos a siete años y La adolescencia.
Piaget, traía junto a Wallon, Gesell, Lowenfeld, Stone y Church un corpus que ayudaba a
comprender qué y cuándo podemos enseñar y ver aprendizajes en los niños que presentan un gran
desafío por su aún precario desarrollo del lenguaje. De esta manera se vislumbraba como posible
pasar de la mera imitación manual a aprendizajes más sofisticados y con ello, el jardín mejoraba
sus argumentos en pos del carácter educativo de su tarea.
En el texto “La teoría de Piaget y la educación preescolar”, escrito por Constance Kamii y Rheta
De Vries, esta última advierte que “insistir en los estadios limita la teoría de Piaget a sus aspectos
estructurales (es decir, el resultado del desarrollo) y pasa totalmente por alto la importancia de la
teoría: el constructivismo (el proceso de desarrollo). Los estadios estructurales no nos
proporcionan una descripción de cómo el niño pasa de un estadio al siguiente.” (1991:124) Es por
ello que decimos que la adaptación local de la teoría es una cuestión que excede al jardín de
infantes y a los pedagogos nacionales.
87 En este punto coincidía Hilda Weissman en una entrevista citada por Caruso y Fairnstein (op cit.)
164
Al jardín llegaron los aportes de otras teorías no solo en Argentina sino en el mundo. En 1973,
escribía Faure para UNESCO
“Las aportaciones de la psicología y del psico-análisis, en la primera mitad del siglo, han puesto
de manifiesto la importancia de un desarrollo afectivo armonioso. Mientras que esta importancia
ha sido casi unánime o casi unánimemente admitida por los educadores contemporáneos, no ocurre
en cambio lo mismo en la cuestión del aprendizaje precoz de las nociones cognoscitivas y en el
estudio de las condiciones del desarrollo intelectual, que encuentran resistencias, como es casi
siempre el caso cuando se trata de ideas recibidas y muy especialmente en el dominio de lo
humano.
Las investigaciones más recientes permiten hoy suponer que: Los cocientes de desarrollo (que no
deben confundirse con el cociente de inteligencia) son casi los mismos para todos los niños,
considerados globalmente hasta la edad de 3 años.”(1973: 104)
De la mano del tecnicismo llegaba el conductismo y las mediciones de coeficiente intelectual
“Existe escasa correlación entre el cociente de inteligencia calculado de 0 a 1 año y el C. I.,
encontrado 1, 3, 6 ó 12 años más tarde. Trabajos recientes muestran las variaciones del C. I., según
el ambiente afectivo y la actitud de los educadores hacia el niño investigaciones en curso tenderían
a mostrar la relativa importancia del handicap socio-cultural, en relación a las actitudes familiares
profundas, un análisis más delicado de las causas de fracaso escolar permitiría revelar la
importancia de las conductas de los padres, que no están necesariamente ligadas a los ambientes
de origen (rigidez, tolerancia, autoridad, comprensión, diálogo, etc.). Se libra una batalla entre
educadores y tradicionalistas, preocupados en plegarse a las leyes de la maduración biológica,
determinante, en su opinión, los cuales quieren dejar que el niño progrese según su «trayectoria
natural», —entre ciertos investigadores que afirman que la evolución de un individuo depende, en
gran parte, de sus adquisiciones antes de la edad de 4 años—, entre otros, en fin, que estiman
demasiado «enteras» las dos primeras proposiciones y afirman —apoyándose en investigaciones
muy serias— que nunca hay nada definitivo en la vida de un ser humano.” (Faure, 1973: 104)
La tarea de la maestra jardinera de todos modos, se ve interpelada la necesidad de eficiencia y la
realización de mediciones, que reemplazarán las evaluaciones de procesos. La legitimidad de los
registros acumultativos-narrativos donde “contábamos todos los procesos que iban haciendo los
chicos en todos los aspectos de la conducta”, (Duprat, 2005: 25) parecía estar puesta en la lupa
porque con el avance de la década de 1970 se afianza la propuesta de planificaciones que permitan
enseñar en función de aprendizajes que los niños deben demostrar en conductas visibles.
En relación al psicoanálisis en 1960, se publica la segunda edición por Editorial Nova en Buenos
Aires el jardín de infantes de orientación psicoanalítica de Nelly Wolffheim. Como parte de una
Biblioteca que se ordenaba en torno a la pedagogía, la filosofía y la psicología, la traducción de
este texto parece seguir la tradición de titulares antecedidos del artículo que los nombra como
singularidad. El texto tensiona la centralidad de la pedagogía activa y se propone revisar la
pedagogía de Fröebel y Montessori a la luz del psicoanálisis. Recorre desde el complejo de Edipo
para analizar el lugar del jardín, hasta el sadismo del docente. En cuanto al juego, plantea
“La limitación de la libertad de juego del niño pequeño le significaría una dificultad en al vida. No
podemos exigir al niño una adaptación a la vida en el sentido de nuestro nivel de cultura sin darle
oportunidad para la transformación de sus deseos por medio de la fantasía.
(…) Es por ello que la postergación de la actividad de la fantasía en el sistema de la Montessori
nos deberá parecer un defecto grande y muy considerable. No podemos entrar aquí en una
confrontación detallada de nuestra concepción con la de Montessori. Pero se debe indicar cuán
diferente de su posición es la valoración del libre juego de fantasía que se basa en conocimientos
psicoanalíticos.” (1960:77)
165
La mirada del psicoanálisis abona el juego libre y relativiza en cierta medida la autoridad del
docente. Mientras la OMEP a instancias de UNESCO difundía a Montessori, otras voces eran
silenciadas. Sin embargo, según destaca Carli de una entrevista a Susana Galperín, la mayor
afinidad con el psicoanálisis en el país era con visiones menos ortodoxas como las de Florencio
Escardó y Eva Giberti, y el énfasis en una línea más yoica y sistémica. Al mismo tiempo, Galperín
reconocía que había una lectura de Melani Klein y Anna Freud y un aporte considerable de
Aberastury, como dijimos. (Carli, 2005: 271)
Lydia Bosch, ocupó un lugar importante en la llegada de la psicología de Piaget al nivel. En 1959,
se encontró con la primera lectura del ginebrino y desde ese momento se convirtió en bibliografía
obligada en la Cátedra de Didáctica del Jardín de Infantes de Filosofía y Letras en la UBA. Las
escuelas privadas como “Platero”, la “Jean Piaget” y la “Nueva Escuela Argentina 2000” se
posicionaban en torno al pensamiento piagetiano. (Caruso y Fairstein, 200: 175) También
Fritzsche, conocía a Piaget en los 1940. Más allá de analizar cómo se realiza la apropiación de la
psicogénesis y el constructivismo.
Como hemos señalado muchas de las propuestas innovadoras tienen lugar en el profesorado Sara
Eccleston y el Jardín Mitre, las competencias entre las protagonistas de la época, así como las
consultas que llegaban al instituto producían un efecto especial ya que se difundían algunas ideas
y otras se velaban. Este es el caso de la experiencia de Mary Stein en Tucumán, a la que Fritzsche
parecía negarla como antecedente de los cambios
“Bueno, no, las experiencias de Tucumán no son “antecedentes”, pues todo eso fue simultáneo con
el movimiento de Buenos Aires. La Sra. De Stein había ido a Estados Unidos y había traído una
forma de entender el juego en rincones, que no era la misma que entendíamos acá nosotras. Creo
que lo que en nuestras ideas sobresalía, como decíamos antes, esta idea de profundizar en los
fundamentos del juego. E insisto con esto de los fundamentos, pues en un sentido general los dones
de Fröebel eran también juegos, y las actividades que proponía la Dra. Montessori eran actividades
de juego, pero no era el mismo tipo de juego ni tenía la misma intencionalidad.” (Entrevista
realizada por Brailovski para Antes de Ayer)
Más allá de las inevitables rivalidades por cierto muy fuertes en el nivel, hasta el presente, lo que
Fritzsche planteaba, deja entrever, su afán cientificista, su búsqueda de sentido de la mano de la
psicología y la didáctica. En las actas de reuniones de personal del año 1965, se advierte que
trabajo de difusión de los cambios y de la comprensión de Piaget que ella y Szulanski lideran en
el Jardín Mitre y el profesorado. En ese sentido, fue clave el trabajo conjunto con Telma Reca que
realiza Celia Germani. Cabe señalar que Reca junto a la Dra. Coriat y Carolina Tobar García
fueron la stres pioneras en los estudios sobre la infancia.
Tal como plantean Caruso y Fairstein, tanto El jardín de infantes hoy, como Fundamentos y
estructuras, cobran una centralidad clara en el período que estudiamos. En ambos, a su vez, se
166
perciben las lecturas de Piaget realizadas por sus autoras; y, ambos a su vez son fundamento del
Currículum de 1972. Pero, ambas obras, también logran mixturar esta impronta constructivista
con una lectura estructuralista de Piaget que tenía en cuenta etapas, pasos, orden, lo que abonaba
la idea de producir una intervención sistemática que respetara la actividad como principio a partir
de la planificación de corte tecnocrático inspirada en la taxonomía de Bloom como consigna de
época. (181-183) Ambos textos avanzan en la articulación con la escuela primaria que desemboca
en la experiencia desarrollada en el Jardín Mitre que tuvo entre 1973 y 1977 un primero y segundo
grado, llamados “pasaje”. “Proponen, así, la extensión de su propuesta de “juego-trabajo” a los
aprendizajes sistemáticos como la lectoescritura: “transformar el trabajo de aprender a leer,
escribir y calcular es un juego de descubrimiento, es nada más y nada menos que un cambio total
en la actitud que guía el aprendizaje.”
La activa participación de Fritzsche en la experiencia da cuenta del proceso de estudio del
constructivismo que fue impactando en distintos aspectos de la enseñanza en las salas. Este
impulso se interrumpe cuando Cristina es perseguida y pasa a la clandestinidad. (Entrevista
realizada a Norma Ardanaz, marzo 2011) Esta experiencia muy rica como potencial en términos
de política educativa, no solo fue silenciada por la última dictadura, sino por el cuerpo docente
del Eccleston. Una vez que muere Ravioli, la intervención y la fuerte presencia de esposas de
militares que accedían a los cargos en la institución como parte de los traslados de los esposos
crearon un clima que cristalizó la tradición. El grupo liderado por Szulanski, Fritzsche,
acompañado por Duprat, Ardanaz a instancias de Ravioli y entre cuyas estudiantes se destacaban
Harf, Malajovich, fue señalado por espíritu subversivo. (Entrevista a Szlulanski, 2013) Debemos
recordar que durante la dictadura, Piaget, Marx y Freud, eran los espíritus diabólicos y peligrosos
que se debían exorcizar.
Palabras de cierre
Como planteaba Lydia Bosch en 1979, el estado de situación del jardín de infantes a fines de la
década de 1970 da cuenta de un desarrollo de la educación inicial en el país condensa de manera
ecléctica los aportes del pensamiento europeo y norteamericano sobre el desarrollo físico y
socioemocional del niño y la estimulación de sus capacidades intelectuales y creadoras y sobre el
aprestamiento para su posterior aprendizaje de las materias instrumentales y en la relación del
jardín con los padres. (Bosch, 1983:41) Los mayores esfuerzos de las mujeres que lideraron el
pensamiento de inicial estuvieron dedicados a la difusión del kindergarten como espacio de
enseñanza antes que como derecho de la niñez de todas las clases sociales. En los años de 1960
si bien se produce una transformación en las prácticas, la misma se extiende más allá de la Capital
Federal y la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires, lentamente.
167
El modelo tecnocrático confirmaba un modo de ordenar el trabajo escolar en la que el maestro
transmite como técnicos lo que un experto produce. En este caso, ya no eran las indicaciones de
la propuesta de Fröebel, Montessori, Agazzi o Decroly, apoyadas en el estudio conductual y la
preocupación moral sino que se trataba de una programación apoyada en el planeamiento. La
pregunta que surge, es quiénes ocuparon ese lugar de "expertos". En el caso nacional, se
impusieron las estudiosas de los saberes llegados desde el norte y muy conocedoras de la práctica
a partir de la formación docente. Esta característica fue consolidando un perfil que resultaba muy
cercano a las docentes que veían como expertas a quiénes habían sido sus profesoras lo que
consolidaba aún más su legitimidad.
De este modo el legado de estos años provee de argumentos a las prácticas actuales por lo que
tenemos mucho para revisar y seguir explorando.
Bibliografía
Bosch, L. P. de (1983) Tendencias actuales en la educación preescolar. En: El jardín de infantes
hoy. Buenos Aires, Librería del Colegio.
Bosch, L. P. de (2004) Aportes de las teorías del aprendizaje. En Duprat y Bosch. El nivel inicial.
Estructuración. Orientaciones para la práctica. Buenos Aires, Colihue.
Carli, S. (2000) La educación pública en la Argentina contemporánea. Una exploración de la
historia reciente (1960-1990). Revista del IICE, Facultad de Filosofía y Letras/UBA.
Carli, S. (2005) Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la
infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955. Buenos Aires, Miño y Dávila
Caruso, M. y Fairstein, G. (2005) Las puertas del cielo. Hipótesis acerca de la recepción de la
psicogénesis y el constructivismo de raíz piagetiana en el campo pedagógico argentino. En:
Puiggrós, A. (dirección) Dictaduras y Utopías en la historia reciente de la educación argentina
(1955-1983). Tomo VIII de la "Historia de la Educación en la Argentina". Buenos Aires, Galerna.
De Vries, R. (1991) Addendae de las autoras a esta edición en castellano. En: Kamii, c. y De
Vries, R. La teoría de Piaget y la educación preescolar.
Diker, G. (2009) ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? Los Polvorines, UNGS- Biblioteca
Nacional.
Duprat de San Martín, H. (2004) Evolución institucional. En Duprat y Bosch. El nivel inicial.
Estructuración. Orientaciones para la práctica. Buenos Aires, Colihue.
Duprat de San Martín, H. (2005) Del centro de interés a la unidad didáctica. En: Educación inicial.
Los contenidos de enseñanza. Buenos Aires, Novedades Educativas.
Faure, E. y otros (1973) Aprender a ser. UNESCO.
Fritzsche, C. y San Martín de Duprat, H. (1974) Fundamentos y estructura del jardín de infantes.
Buenos Aires, Ángel Estrada.
168
Gagliano, R. y Cao, C. (1995) Educación y Política: apogeo y decadencia en la historia argentina.
(1945-1990). En: Puiggrós, A. y Lozano, C. (comp.) Historia de la educación iberoamericana.
Buenos Aires, Miño y Dávila.
Germani, C. de, C. (1980) Teoría y práctica de la educación preescolar. Buenos Aires, Eudeba.
Martinez Boom, A. (2008) Proemio. En: Frigerio, G. La división de las infancias. Buenos Aires,
del estante editorial.
Puiggrós, A. (2015) Imperialismo y educación en América Latina. Buenos Aires, Colihue.
Stein de Ardiles Gray, S. (2005) Una Maestra Jardinera cuenta su historia. Tucumán, El graduado.
Southwell, M. (2003) “Algunas características de la formación docente en la historia educativa
reciente. El legado del espiritualismo y el tecnocratismo (1955-1976). En: Puiggrós, A.
(dirección) Dictaduras y Utopías en la historia reciente de la educación argentina (1955-1983).
Tomo VIII de la "Historia de la Educación en la Argentina". Buenos Aires, Galerna.
Wolffheim, N. (1960) El jardín de infantes de orientación psicoanalítica. Buenos Aires, Nova.
AS ORIGENS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM MATO
GROSSO DO SUL-BRASIL: FORMAS DE ATENDIMENTO E PRESENÇA
DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MONTESSORIANAS88
Magda Sarat
(UFGD)
No Brasil, a educação das crianças pequenas passou a ser responsabilidade
do Estado a partir da Constituição de 1988 e a integrar o sistema educacional nacional
a partir da LDB nº 9394/96, englobando as instituições responsáveis pela educação e o
cuidado das crianças de 0 a 6 anos de idade, ou seja, as creches e pré-escolas
denominada Educação Infantil, primeira etapa da educação básica.
Anterior a essa existência na legislação, tivemos um histórico controverso e de
ausência do atendimento às crianças. Desde o século XIX já existiam algumas
iniciativas que ficavam a cargo de ações de caráter familiar/particular e religioso em
instituições como asilos, escolas maternais, orfanatos, Casas de Roda, creches, que
acolhiam crianças em situações diversas: órfãs, pobres, abandonadas, filhos ilegítimos
ou cujas mães precisavam trabalhar fora. Historicamente essas são as origens da
Educação Infantil no Brasil.
No caso deste trabalho no Estado de Mato Grosso 89 a bibliografia nos informa
que ocorreu “a primeira iniciativa voltada para a escolarização das crianças de 3 a 6
anos foi através do Decreto nº 533 de 1910, no qual o poder executivo autoriza a
88 Este trabalho teve uma versão publicada na coletânea “História da Educação do Centro-Oeste: instituições educativas e fronteiras” organizada por FURTADO & SÁ, EdUfmt 2015. (ver bibliografia) 89 Em 1977, o estado de Mato Grosso foi dividido dando origem ao Mato Grosso do Sul, portanto, anteriormente a essa data, a história da educação dos dois estados são coincidentes.
169
reorganização da instrução publica”. (SÁ, 2012, p. 41). Tal perspectiva para crianças
maiores de 03 anos vai figurar nos chamados ‘jardins de infância’, que segundo a autora
estava previsto para ser instalado junto a Escola Normal e à Escola Modelo, mas a
implantação da referida instituição não ocorreu como o previsto. Demonstrando que
historicamente a educação das crianças pequenas passou por um processo de
ausências.
As primeiras iniciativas também indicavam forte presença de instituições de
cunho privado com caráter filantrópico e confessional, mantendo uma perspectiva
assistencialista que está na gênese da criação das instituições de atendimento à
infância Tais instituições vão direcionar suas práticas pedagógicas ao método
montessoriano, criado na Europa em meados do século XIX pela médica italiana Maria
Montessori e que chegou ao estado de Mato Grosso a partir das instituições
confessionais sendo posteriormente, implantado também em algumas instituições
públicas, conforme apontam investigações de Rosa e Silva (1997).
O método Montessori tem sistemática específica e foi largamente utilizado na
educação de um grande número de crianças do Estado, nas décadas de 60 e 70 do
século XX, período quando se instalam as primeiras instituições de atendimento à
infância; citamos: Creche e Lar Santa Rosa, 1963, em Corumbá; Creche Lar Santa Rita,
1965 em Dourados e Casa Escola Infantil do Bom Senso, 1970 também em Dourados.
Apresentaremos algumas características do trabalho desenvolvido em duas
dessas instituições: uma pública e a outra privada; a privada no município de Dourados
e a pública foi implantada em vários municípios do estado de Mato Grosso (Cuiabá,
Campo Grande, Dourados, Aquidauana e Corumbá). Em comum, elas têm a
metodologia do trabalho pedagógico fundado nos preceitos de Maria Montessori.
O Método foi elaborado pela médica e educadora italiana Maria Montessori
(1870-1952) no início do século XX e se espalhou por todo o mundo. Montessori criou
as Casa Dei Bambini, onde atendia crianças pobres e cujo ambiente físico era adaptado
ao tamanho e às necessidades das crianças; criou também uma série de materiais para
desenvolver sensações, percepções e o intelecto. Entre suas obras merecem destaque:
"Método da pedagogia Científica aplicada à educação" (1909), "Auto-educação nas
escolas elementares" (1912), "O método Montessori avançado” (1919), "A criança”
(1936), "Educação para um novo mundo" (1946) "A mente absorvente" (1949).
Tais ideias fazem parte do Movimento da Escola Nova – no Brasil ocorre nas
primeiras décadas do século XX, e ao criticar a educação tradicional propõe que a
mesma tenha como centro, os interesses e as necessidades da criança e as atividades
escolares estejam baseadas no caráter lúdico das atividades infantis. Dentre os
princípios filosóficos do método Montessori, podemos citar: a construção da
170
personalidade através do trabalho, o ritmo de desenvolvimento próprio de cada criança,
a liberdade, a ordem, o respeito e a normalização. As ideias de Montessori foram
divulgadas no mundo todo através de cursos, palestras e associações de educadores
que se identificam com seus pressupostos e sua metodologia.
Experiências no Mato Grosso do Sul na segunda metade do século XX 90
A "Casa-Escola Infantil do Bom Senso" foi um projeto implantado pela
Secretaria Estadual nas escolas de Mato Grosso91, durante a década de 1970, que
visava oferecer educação às crianças de 3 a 6 anos de idade e pode ser considerada a
primeira iniciativa pública de incentivo à educação pré-escolar no estado; sua proposta
pedagógica baseava-se na metodologia montessoriana. Sobre a nomemclatura “Casa-
Escola”, a despeito de todas as discussões que temos acerca do lugar da Educação
Infantil na atualidade, pesquisas apontam que a instituição de Educação Infantil –
creches e pré-escolas- não pode ser concebida como a ‘casa’ da criança, não são
‘hospitais’ de atendimento e nem ‘escolas’ de ensino fundamental, (Cerisara 1999).
Para Montessori essa perspectiva de escola como casa era parte de seu
método, e partia da premissa de um espaço de proximidade na educação da criança
pequena:
(...) A escola verdadeira não é a de quatro paredes, entre as quais as
crianças são confinadas, mas de uma casa onde possam viver em
liberdade para aprender a crescer. Essa ideia implica a necessidade
de preparar para as crianças um mundo seu, particular, onde elas
possam encontrar atividades condizentes com seu desenvolvimento
físico e mental. Numa escola montessoriana, o professor é um
convidado, ou alguém que tenha em mente estar a serviço de seus
alunos (MONTESSORI, 1961, P 17)
A implantação da Casa-Escola Infantil do Bom Senso ocorreu a partir de um
decreto do Governo Estadual de Mato Grosso e previa que os Centros Educacionais
das principais cidades do estado de Mato Grosso: Cuiabá, Campo Grande, Aquidauana,
Dourados, e Corumbá deveriam abrir espaço para o funcionamento do jardim da infância
90 Os dados aqui apresentados fazem parte de um trabalho de pesquisa mais amplo e foram coletados a partir de entrevistas com professoras que participaram do projeto, documentos e fotografias da época; ver Rosa e Silva, (1997). 91 Tal proposta foi muito importante para a história da educação do Estado sendo parte de um trabalho de pesquisa desenvolvido no âmbito do projeto “Inventário de fontes documentais: um estudo sobre a formação e a profissão docente no município de Dourados/MS e região (1959-1996)” sob a coordenação da profa. Dra. Alessandra Furtado no PGEdu da UFGD.
171
92. Para o projeto iniciar foram considerados três requisitos: a estruturação do espaço
físico, a formação das professoras e a dotação de materiais para as escolas. 93
O espaço físico foi pensado para as crianças satisfazerem suas necessidades
básicas com autonomia: as pias, os vasos sanitários, a lousa, as mesas, as cadeiras,
as estantes com os materiais tinham tamaño e peso que garantiam a livre movimentação
das crianças. As salas foram equipadas com mobiliário próprio seguindo a linha
montessoriana: mesas individuais, mesas duplas, mesas de quatro e mesa para o
lanche, o cabide da vida prática, a linha, as estantes na altura das crianças. A
metodologia montessoriana previa o espaço sendo ocupado, aos poucos, com a
participação das crianças e das professoras.
As professoras da Casa-Escola Infantil do Bom Senso foram introduzidas no
método a partir de cursos ministrados pela OBRAPE-RJ- Organização Brasileira de
Atividades Pedagógicas, do qual participaram uma professora de cada município (que
seriam as coordenadoras das unidades) e a equipe de coordenação do projeto da
Secretaria Estadual de Educação; esse grupo ficou responsável em treinar as
professoras e acompanhar o trabalho pedagógico nas cinco unidades.
Depois do treinamento, as salas de aula foram dotadas de uma grande
diversidade de material montessoriano - para o uso das professoras e das crianças. Na
concepção do método Montessori, esses materiais visavam promover a aprendizagem
nas diferentes áreas (sensorial, vida prática, linguagem, matemática); são auto-
corretivos, graduados, isolam as dificuldades; devem ser explorados segundo a lição
dos três tempos: informação, reconhecimento e fixação do vocabulário.
O grupo de trabalho era constituído por: duas professoras por sala que
trabalhavam em iguais condições; uma professora recreacionista era responsável pelas
atividades cotidianas de recreação (livres e dirigidas) e pelas festas comemorativas (dia
das mães, dos pais, festa da primavera); uma professora recepcionista era responsável
por receber as crianças na hora da entrada, encaminhá-las para suas salas, entregá-las
aos pais na hora da saída, dar e receber os recados aos pais e professoras. Havia
coordenadora, auxiliar de coordenação e/ou secretária, merendeira e servente.
Periodicamente, uma técnica da Secretaria Estadual observava in loco o
trabalho das unidades a fim de verificar as dificuldades das professoras e dar as
orientações necessárias para a continuidade do trabalho, o que ocorria através de
cursos com apostilas. Havia um planejamento bimestral elaborado pelas professoras e
acompanhado pela coordenadora da unidade que fazia os relatórios para a Secretaria
92 Apesar da 5692/71 já utilizar o termo "educação pré-escolar", a terminologia mais utilizada na época para determinar a escola para crianças menores de 7 anos de idade era "jardim da infância". 93 Montessori aponta três pontos exteriores para o sucesso da metodologia: ambiente adequado, professor humilde e material científico.
172
Estadual. E ainda, reuniões semanais para discussão dos problemas da Casa-Escola,
troca de experiências entre as professoras, planejamento das atividades e confecção
e/ou reparo do material pedagógico.
Toda a documentação da Casa-Escola - planejamentos, relatórios de
atividades, relatórios de gastos, lotação das professoras - era enviada diretamente para
a Secretaria, pois ela era autônoma em relação ao Centro Educacional no qual
funcionava, tanto que tinha dependências próprias para o funcionamento da parte
administrativa: secretaria, coordenação e almoxarifado. Essa autonomia da Casa-
escola foi bastante ressaltada pelas professoras entrevistadas que consideraram como
um ponto positivo do projeto;
A manutenção da Casa-Escola era garantida com recursos provenientes do
governo do Estado, como qualquer outra escola, e complementada por uma contribuição
financeira mensal dos pais que pagavam o que podiam. De tudo que se arrecadava,
40% ia para o Fundo Estadual de Educação (que mantinha uma conta bancária para
esse fim) e os outros 60% ficava para ser aplicado na própria Casa-Escola. Essa
contribuição era significativa e garantia a compra de mobiliário, materiais permanentes
e de consumo, e era muitas vezes o que garantia a qualidade do trabalho.
A clientela atendida se constituía de crianças de 3 a 6 anos de idade divididas
em turmas de maternal, jardim I e jardim II; com 30 alunos por sala. Em todas as cidades
pesquisadas a procura era muito grande; em alguns casos, se chegava a fazer fila de
madrugada para a matrícula. A composição sócio- econômica da clientela era
heterogênea: freqüentavam crianças oriundas das camadas baixa, média e alta. No
entanto, todas as professoras chamam atenção para o fato de que existiam muitas
crianças de classe média e alta. Tal questão pode ser destacada pelo fato de os Centros
Educacionais serem escolas públicas, a princípio destinadas a toda a população, porém,
as únicas escolas com jardim de infância, um nível de educação ainda pouco conhecido
pelas camadas populares, mas já valorizado pelas camadas alta e média.
As práticas pedagógicas e o cotidiano desta experiência
A base do trabalho a ser desenvolvido na Casa-Escola vinha dos cursos que
as professoras fizeram junto à OBAPRE. O material do curso se constituía de apostilas
com informações sobre os pressupostos teóricos de Maria Montessori, orientações a
respeito de como implantar as salas montessorianas (mobiliário e espaço físico), e o
173
desenvolver do trabalho: objetivo a ser alcançado, postura das professoras, conteúdo a
ser ensinado, uso dos materiais, enfim, a seqüência de todo o trabalho. 94
Este documento na sua introdução, destaca o caráter processual, contínuo, e
gradativo da educação. A criança é vista como um ser capaz de rever sempre suas
experiências anteriores, utilizando-as como base de suas novas aquisições. O material
é apresentado como uma proposta flexível, cabendo ao professor, "conhecendo seu
aluno, utilizar esse programa, explorando-o paralelamente ao processo de
amadurecimento da criança”. O material é composto por 4 (quatro) apostilas; a primeira
se refere aos aspectos mais gerais da escola montessoriana: divisão por faixa etária,
ambiente, características de um ambiente, ambientes necessários a uma Casa-Escola,
ambiente geral de classe, movimento, meios ou motivos de atividades, cuidados com o
ambiente interno, ambiente ao ar livre, exercícios de cuidados pessoais, relações
sociais.
As outras três apostilas se referem às áreas do conhecimento 95 e apresentam
uma lista de atividades a serem desenvolvidas; as idades próprias para a introdução de
cada atividade; a forma e a seqüência do desenvolvimento e ainda os respectivos
materiais a serem utilizados em cada atividade. O trabalho diário com as crianças era
organizado a partir do planejamento por atividades e poderiam ser desenvolvidas de
formas variadas: atividades individuais ou em grupo; na linha, no tapete ou nas mesas;
livres ou dirigidas; diversificadas ou únicas; fora ou dentro da sala.
Em todas as salas de aula existia a "linha pedagógica", um círculo pintado no
chão, onde eram realizadas várias atividades. No início do dia, os alunos sentavam na
linha para conversar, contar as novidades, contar estórias, conversar sobre os assuntos
novos, enfim, conversas informais. Era na linha, também que a professora apresentava
um material novo, descrevia suas características, demonstrava como era sua utilização
e passava para que cada criança o manuseasse. As atividades envolvendo movimentos
como andar, correr, pular (de várias formas) também eram desenvolvidas na linha. A
professora realizava os movimentos e as crianças a imitavam.
Todos os dias realizaba-se o "momento do silêncio". Segundo Montessori, o
silêncio não deve ser encarado como um meio para manter a ordem, mas um exercício
94O material é apresentado como um planejamento anual elaborado pela equipe do constructor sui , e
baseado em atividades e pesquisas educacionais junto às escolas montessorianas coordenadas pela
OBRAPE e no programa do curso internacional Montessori para a faixa pré-escolar desenvolvido em
Perugia, Itália.
95As áreas do conhecimento são as seguintes: 1. senso-moto-perceptivos (educação dos movimentos,
atividades psicomotoras, atividades lúdicas, educação dos sentidos); 2.Ciências (desenvolvimento da
matemática, atividades de ciências físicas-biológicas e interação social); 3.Comunicação e Expressão:
língua pátria e estrangeira.
174
de concentração e meditação para alcançar o autoconhecimento e o equilíbrio. Ela
relata que o exercício do silêncio nasceu de um momento em que entrou em sala de
aula carregando uma menininha de quatro meses, toda apertada em ataduras, mas
extremamente tranqüila, o que lhe causou uma sensação de profundo silêncio.
Comentando essa sensação com as crianças, disse: “ela não faz o mínimo
barulho” e ainda em tom de brincadeira acrescentou: “nenhum de vocês saberia
comportar-se assim”. E segundo a autora “naquele momento, fez-se um silêncio
impressionante. No qual se tornou audível o tique-taque do relógio, que habitualmente
não se escutava. Parecia que a menina trouxera consigo uma atmosfera de silêncio que
não existia na vida normal”. Aproveitando-se da descoberta utilizou-se o silêncio para
colocar à prova a acuidade auditiva das crianças. Assim, começou em chamá-las com
um tom de voz quase imperceptível, a levá-las a andar devagar, com cautela, evitando
esbarrar-se em algo. Assim, complementa Montessori:
Nossas crianças aprenderam a movimentar-se entre as coisas sem
esbarrar nelas, a correr sem produzir ruído, tornando-se espertas e ágeis.
E sentiam prazer na própria perfeição. O que lhes interessava era
descobrirem a si mesmas, as suas possibilidades, e se exercitarem numa
espécie de mundo oculto como é da vida que se desenvolve (p. 146).
Outras atividades bastante citadas pelas professoras foram os passeios
(realizados a pé ou de ônibus para praças, jardins, museus, e outros pontos da cidade),
as festas de aniversariantes do mês, onde se comemoravam os aniversários das
crianças e das professoras e as festas relativas às datas comemorativas.
O planejamento semanal das atividades era feito a partir da seleção dos
conteúdos a serem trabalhados (separados por disciplina) e o material montessoriano
utilizado como recurso para "fixar os conteúdos". As atividades gráficas sucediam as
atividades com os materiais concretos, "somente depois de bem explorados passava-
se para o papel" (Leudes). Eram atividades relacionadas à alfabetização, à matemática,
às artes plásticas (desenho, pintura, colagem).
As crianças do chamado jardim II deveriam ser alfabetizadas; porém, a forma da
alfabetização não seguiu um modelo único; em Corumbá e em Aquidauana, as
professoras relataram que trabalhavam a partir de livros confeccionados por elas
mesmas, com gravuras, palavras e pequenos textos relacionados a um tema e numa
ordem de graduação das dificuldades das crianças (da palavra para o texto). Em Campo
Grande, as professoras utilizaram o método "abelhinha" (fonético). A letra utilizada era
cursiva e o alfabetário era muito utilizado para que as crianças formassem o próprio
nome ou outras palavras já trabalhadas.
175
As atividades da "vida prática" bastante valorizadas pelas professoras; eram os
momentos em que as crianças realizavam tarefas (individualmente ou em grupo) como
varrer a sala, lavar seus guardanapos, passar a ferro pequenas roupas, lavar os
utensílios utilizados em sala, lavar as mãos, escovar os dentes, pentear os cabelos,
amarrar sapatos, abotoar camisas, trocar de roupa. Para a realização dessas atividades,
a sala de aula deveria se parecer com uma casa, possuindo um espelho, uma pia, um
tanque, uma tábua de passar roupa. Segundo Montessori, a criança necessita do
exemplo e da ajuda da professora somente no início das atividades, pois o segredo da
perfeição está na repetição dos exercícios e o objetivo deve ser o desenvolvimento da
responsabilidade, da independência e da capacidade de livre escolha das crianças.
A duração do projeto Casa-Escola Infantil do Bom Senso não foi a mesma nas
várias unidades; o projeto não teve um fim único, aos poucos, ele foi perdendo as
características originais. O governo do Estado, alegando contenção de gastos foi
diminuindo o número de pessoal nas escolas (eliminou o cargo de coordenação, da
professora recepcionista e manteve apenas uma professora por sala). As professoras
que entravam não tinham mais cursos, portanto não sabiam trabalhar com a
metodologia; não havia mais o acompanhamento do trabalho por parte da Secretaria;
os materiais não eram mais repostos. Enfim, apesar da resistência das professoras, o
projeto foi se descaracterizando e não teve mais condições de continuar no âmbito
público. No entanto como veremos a seguir a experiência também esteve presente em
outro município do Estado funcionamento em uma instituição privada.
O Método Montessoriano em Dourados/MS: escola Imaculada Conceição 96
A primeira experiência relata a história do método montessoriano na educação
pública, mas ele esteve presente também na formação feita pelos colégios
confessionais protestantes e católicos, de diferentes ordens religiosas, que foi uma das
marcas na História da Educação brasileira desde o século XVI, mais intensamente no
século XIX, com a chegada de missionários com projetos de educação específicos de
cada ordem (Sarat &Oliveira, 2009).
Nesse contexto, o ensino e as práticas escolares trazidos pelos religiosos
respondiam aos anseios da liderança política e tinham como objetivo a formação dos
96 Este trabalho integrou um projeto de pesquisa História da Educação no município de Dourados e região -1940-1990 que teve neste recorte a Educação Infantil, com uma pesquisa a partir da documentação
existente e da História Oral temática, entrevistamos docentes que trabalharam na instituição no período e que contaram suas trajetórias. Sobre a temática, temos três trabalhos monográficos desenvolvidos no curso de Pedagogia, sendo eles: Uma História da Educação Infantil no município de Dourados: Escola Franciscana Imaculada Conceição (Cristiane Quieregati Ribeiro); História e Memória da Educação Infantil na Escola Imaculada Conceição: o olhar da professora (Michele Adriana Pott) e História do Método Montessori e a Educação Infantil (Janice Rodrigues de Menezes). Tais monografias discutiram
a inserção das práticas pedagógicas e do Método Montessoriano, na instituição de E. Infantil.
176
quadros da elite local estando presente também no Estado de Mato Grosso, no caso
desta pesquisa, no município de Dourados atual Mato Grosso do Sul. Seguindo o
propósito de abertura das escolas confessionais em 15 de fevereiro de 1955, a Ação
Social Franciscana e seu Patronato de Menores instalam-se em Dourados e abrem uma
instituição dirigida pelas irmãs franciscanas que vindo do Rio Grande do Sul vão
trabalhar com educação e catequese.
O município de Dourados, localizado a sudoeste de Mato Grosso do Sul, faz
parte da faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai. Com uma população estimada em
21 de junho de 2010 em 189.762 mil habitantes é o segundo maior município do estado
e apresenta uma taxa de urbanização da ordem de 91,19% (IBGE, 2010).
A instituição, que atualmente é a Escola Franciscana Imaculada Conceição,
terá uma forte presença na história da educação da região a partir da Escola Normal e
também da Educação Infantil, se iniciou na década de 1970-1980 e tinha como proposta
pedagógica o método montessoriano, adotado em diversas escolas confessionais por
todo o país, segundo uma tendência característica das escolas católicas se difundiram
na região devido aos antigos institutos de educação.
A proposta pedagógica desta instituição confessional era voltada para os ideais
religiosos, o ensino de valores cristãos e a catequese. Apresentava uma valorização
das artes em geral como a música, o canto e o teatro que culminavam na organização
dos “festivais” que apresentavam as audições musicais e teatrais feitas pelos alunos/as
para seus pais e comunidades, funcionando também como uma resposta pública à
comunidade e nesse caso, a Educação Infantil era uma das oportunidades para divulgar
a escola e a iniciação das crianças pequenas na educação formal.
Uma das dificuldades da investigação foi o acesso a documentos e registros
do período anterior a implantação do Método Montessoriano, por diversos fatores, entre
eles o problema do descarte de material que muitos arquivos institucionais fazem, foi
uma das dificuldades em preservar as fontes documentais, portanto a pesquisa enfocou
a partir da década de 1970 utilizando imagens, entrevistas com professoras,
coordenadoras e material encontrado em arquivos pessoais como boletins, cadernos de
aluno, livros de professor entre outros.
Na década de 1970 ocorreu a implantação do Método Montessoriano na escola
e seu auge está entre as décadas de 1970-1980, quando todo e qualquer ato
pedagógico estava pautado exclusivamente por esta proposta. O espaço da escola era
organizado e adequado conforme o projeto de uma educação independente, livre e
individualizada. Assim todo material, mesas, cadeiras, armários, materiais pedagógicos,
brinquedos, bem como, arquitetura, representada por salas, janelas, portas, banheiros,
177
acompanhavam o conceito montessoriano - ser de tamanhos apropriados às crianças.
As salas eram compostas por “cantinhos”, com as atividades de vida prática.
A instituição tinha um programa para a formação das professoras e garantir a
eficiência do método enviando-as, a cada seis meses, para um encontro pedagógico no
estado São Paulo, essa ação permitia a atualização e a formação continuada das
mesmas. As professoras divididas em grupo revezavam-se nessa “viagem pedagógica”.
No retorno o grupo que viajou repassava as demais em reuniões de formação
organizadas regularmente pela coordenação pedagógica da instituição.
Nestes encontros pedagógicos o que era enfatizado, segundo as palavras da
Irmã Toninha em registro de uma das atas, era a extrema preocupação com a “sublime
e difícil tarefa de Educar”. (Ir. Toninha, 1981, ata nº20). A escola tinha o Método como
o centro de sua atividade pedagógica e o cuidado em divulgá-lo na comunidade a partir
de reuniões com os pais e com participação em atividades promovidas pela Secretaria
Municipal de Educação, conforme aponta os documentos e relatórios da escola.
Para haver êxito na formação dos pequenos a Secretaria de Educação
do Município de Dourados promoveu um curso de 120 horas que
funcionou em quatro etapas. O objetivo era dar orientação e
aperfeiçoamento às professoras do Pré-Escolar. Como o mesmo
objetivo foram promovidas pela coordenação do Pré-Escolar da EIC
quatro reuniões pedagógicas para Pais e Professores do Pré-Escolar.
Fez-se estudo, reflexão e troca de idéias sobre Psicologia Infantil de
crianças de 0 – 6 anos. As reuniões funcionam de 2 em 2 meses.
Igualmente, foram feitas reuniões de reflexão bimestralmente com os
Pais e Professores do 1º grau de 1ª e 4ª série de nossa Escola. As
quatro etapas do curso de Pré-Escola do Município realizaram-se
durante 3 dias no final de cada um dos meses: agosto, setembro,
outubro e novembro de 1980. Com o mesmo objetivo de bem êxito na
aplicação da Filosofia Cristã em nossa Escola promoveu-se uma
palestra de conscientização dos Pais dos alunos [...] (Ir. Toninha ata
nº 25 de 1980).
Havia um trabalho de informação e convencimento aos pais e a comunidade
sobre a eficiência do método desenvolvido na escola. Tais reuniões versavam sobre
temas como: demonstração musical, método fonético, importância da vida prática,
desenvolvimento infantil entre outros. Dando continuidade ao trabalho de divulgação da
proposta da escola para a comunidade estavam presentes as festividades nas datas
comemorativas (homenagem ao Dia das Mães, a Festa da Família, a Festa Junina, Dia
dos Pais, dentre outras).
Práticas pedagógicas e cotidiano da Escola Imaculada Conceição
178
A educação dos pequenos estava regulada pelas práticas propostas no
método. As crianças do jardim da infância, nomenclatura do período, não faziam filas e
eram recepcionadas pela professora na entrada das salas de aula. Na sala havia uma
organização do espaço para guardar os pertences da criança e estas eram acomodadas
na linha97 para os cantos e as conversas do início da aula. O dia iniciava com a
“normalização”, segundo a teoria Montessoriana seria “o ajustamento integrativo do
homem na ordem divina da natureza” (Machado apud Angotti, 2007, p 108), ou seja, na
experiência desta instituição este seria o momento no qual a professora junto às
crianças fazia uma oração e em seguida de acordo com o conteúdo a ser enfatizado no
dia, cantavam ou contavam histórias para introduzir o assunto.
Segundo uma das professoras entrevistadas na pesquisa, e que atuou na
instituição no período ela diz: “cantava-se muito com as crianças, tudo de alguma forma
estava relacionado com a música, datas comemorativas, os momentos no parque, a
hora do lanchinho, o aniversário de algum amiguinho” (Professora Luciana). Tais
atividades apontam a presença da religiosidade nas atividades diárias, representada
pela oração, a disciplina, a concentração e a contemplação necessárias ao método.
Segundo a professora todos os dias era realizado o “momento do silêncio”, quando a
professora começava com a diminuição do tom de voz, e as crianças também diminuíam
e concentravam-se mantendo a atenção na docente que diz: “neste momento sempre
se colocava uma música de fundo realizando um momento de relaxamento, algumas
crianças até dormiam” (Professora Luciana), conforme a experiência apontada acima,
na instituição pública, o método também foi aplicado com eficiência pois por ser muito
sistematizado, era possível seguir todos os seus passos.
Deste modo, percebemos a presença de atividades que remetem ao
desenvolvimento sensorial, parte do ambiente montessoriano, e prescrevia uma criança
mais observadora, que desempenhasse acuidade auditiva, autoconhecimento e
equilíbrio. Tais comportamentos eram favorecidos por atividades individualizadas
realizadas pelas crianças em seus “tapetes” que seguindo outra professora entrevistada
“havia uma forma correta de pegar, desenrolar e sentar no tapete, aquele aluno que não
fizesse os movimentos corretos deveria retornar e assim tentar novamente. Tudo
deveria acontecer com todos os movimentos corretos e com postura”. (Professora
Vanuza).
Tal normatização dos comportamentos esperados pelas crianças se estendia
ao mobiliário e a utilização dos espaços, dos brinquedos, conforme os relatos, “havia
também a forma correta de pegar as mesas e as cadeiras, evitando sempre o barulho e
97 Amplo círculo marcado por uma linha preta onde as crianças sentavam para realizarem a normalização e assim outros momentos como as próprias atividades pedagógicas.
179
também a má postura” (Professora Luciana). Interessante perceber que na fala das
docentes a presença da palavra postura, da correção dos comportamentos indicava
uma educação e uma disciplinarização dos corpos das crianças fazendo com que
mesmo em lugares com pouco espaço a criança soubesse movimentar-se. O cotidiano
foi permeado pela presença de um método rigoroso e sistemático, nas atividades
cognitivas, por exemplo, o “ditado mudo” onde eram estabelecidas lições. Cada lição
tinha uma quantidade de figuras e de palavras a serem montadas no dia, segundo a
professora:
Todos os dias havia uma seqüência nova de palavras, no entanto
algumas crianças não conseguiam escrever corretamente algumas
palavras permanecendo no mesmo ditado do dia. Por exemplo, se o
ditado do dia fosse a lição nº 8 a criança que não conseguisse
acompanhar não passaria para o ditado da lição nº 9 e assim
sucessivamente. (Professora Vanuza).
Tal perspectiva da aprendizagem por etapas está presente em todos os
conteúdos. Conforme os relatos as crianças após receberem a figura a ser trabalhada,
levantavam-se do tapete em silêncio apenas com a orientação da professora,
direcionavam-se ao alfabeto de madeira, pegando então uma letra de cada vez para
formar o nome da figura proposta e se “algumas crianças não conseguiam formar todas
as palavras corretamente, repetia a lição no dia seguinte. Aquela que conseguia
passava para a próxima lição e o que apresentasse novamente dificuldades tinha uma
atenção especial”. (Professora Luciana). Deste modo, as repetições e a espera sobre o
tempo da criança faziam parte do método.
A presença da organização do cotidiano estava no espaço físico, “as mesinhas
deveriam estar sempre forradas por uma toalhinha, a qual as crianças traziam em sua
mochila”, também dos momentos de brincadeiras e jogos, “havia vários cantinhos, o
cantinho da beleza com penteadeiras, escovas e pentes para se pentear, o cantinho da
cozinha onde se explorava alguns conceitos como o quente e o frio, o cantinho dos jogos
com quebra cabeça, monta-monta, [...]”. (Professora Vanuza).
Tudo se caracterizava pela disciplina e organização que, segundo uma
professora, as crianças apoiavam: “ao sairmos da sala formávamos uma fila e até
chegarmos à mesa do lanche cantávamos uma música, as crianças adoravam”.
(Professora Luciana).
Finalmente um último aspecto, considerando os relatos das professoras, diz
respeito aos comportamentos impostos e esperados para a criança e a sua percepção
da disciplina. Segundo elas na proposta com o método montessoriano obtinha-se mais
êxito com disciplina, pois as crianças seriam mais calmas, concentradas, dificilmente
havia gritos exagerados ou rebeldia. No entanto, uma das professoras menciona que
180
em caso de descumprimento das regras a criança ia pensar, “agora você vai ficar aqui
e pensar dois minutinhos no que fez e depois você vai me contar se a sua atitude foi
certa ou não” (Professora Luciana). Ou seja, desafios presentes na educação dos
pequenos que de alguma forma não estaria previsto pelo método, se considerarmos a
autonomia e a capacidade transgressora das crianças, mas essa é outra história que
não teríamos condições de discutir agora.
Concluimos apontando em tal aspecto a necessidade de apontarmos o caráter
formador e civilizador da infância como fase da vida humana em que se necesita forjar
comportamentos e costumes com referências que serão levadas para a vida adulta.
Para Norbert Elias, a criança é um indivíduo com um grau de maleabilidade e
adaptabilidade que precisa do “outro” para se formar; ou seja, uma criança precisa do
seu grupo social para se tornar fisicamente adulto e também para construir suas
concepções acerca da vida, do mundo e dos comportamentos. Na expressão de Elias,
com a presença simultânea de diversas pessoas inter-relacionadas, e com o diálogo
entre indivíduos formados e outros em formação que as referências sociais entre os
grupos poderão ser construídas, ou seja, para “tornar-se psiquicamente adulto, o
indivíduo humano, a criança, não pode prescindir da relação com seres mais velhos e
mais poderosos” (ELIAS, 1994, p.30). Deste modo, o método abarca uma educação que
indica a formação da individualidade da criança fundada em um espírito de
contemplação onde elementos como o silêncio e a obediência as regras se
estabelecem.
Algumas considerações
Em primeiro lugar, é preciso destacar que não é objetivo desse trabalho
questionar o Método Montessori, nem tão pouco verificar sua validade ou importância
no desenvolvimento das crianças. Não se trata de fazer apologia do método, nem tão
pouco de negá-lo; mesmo porque o que discutimos são duas experiências realizadas a
partir da apropriação e adaptação dos seus pressupostos.
A preocupação foi destacar a necessidade e as formas de se reconstituir a
história de experiências pioneiras na educação infantil e contribuir com o debate a
respeito da educação das crianças de 0 a 6 anos de idade. Portanto, é importante
apontar o pioneirismo da proposta como algo sistemático e organizado, imprimindo o
caráter de seriedade e cientificidade no trabalho com crianças pequenas.
Além disso, é fundamental afirmar que a implantação da Casa-Escola Infantil
do Bom Senso como proposta de educação das crianças pequenas significou um marco
para a educação infantil pública. A preocupação com o espaço físico, com a formação
das professoras e com o equipamento das salas (materiais e mobiliário) são três
181
aspectos que mereceram destaque na execução da proposta e que indicam que houve
a preocupação de garantir a qualidade do trabalho.
Outro ponto, importante é o pioneirismo em apresentar a perspectiva da
centralidade da criança na organização de espaços e mobiliários adaptados às suas
necessidades; isso evidencia a preocupação de se criar um espaço para as crianças
pequenas que fosse educativo, porém, diferente da escola tradicional e que se
parecesse com a sua casa, sem ser uma cópia do ambiente doméstico. Essa questão
é bastante atual quando discutimos os modelos de creche e pré-escolas e chamamos a
atenção para que essas instituições sejam de caráter educativo, porém, sem adotar o
modelo escolar. A proposta de educação infantil deve evitar o risco da antecipação da
escolaridade e a metodologia montessoriana parece nos indicar que essa era uma
preocupação.
As atividades da vida prática propostas pelo método Montessori, ou seja, a
associação de tarefas da vida cotidiana com trabalho cognitivo pode ser vistas como
uma tentativa de união do educar- cuidar, binômio considerado tão importante nas
discussões do trabalho com crianças de 0 a 6 anos de idade. Por mais que possam ser
criticadas e consideradas artificiais ou descontextualizadas por alguns autores,
gostaríamos de ressaltar a contribuição dessas atividades. Parece que ao incorporar as
atividades de higiene pessoal e do ambiente como atividades do dia-a-dia das crianças,
a proposta do método reforça a idéia de educação e assistência indissociáveis, pois são
duas dimensões que se constituem em direitos de uma mesma criança. Talvez, a
proposta de atividades da vida prática possa apontar para uma possibilidade de
superação das dicotomias tão discutidas e tão presentes na educação infantil, tais como
corpo/mente, educar/cuidar, educação/assistência, brincar/trabalhar,
Outra questão a ser destacada é que, tanto na experiência da Casa escola,
como na Escola Imaculada Conceição existia uma preocupação com a formação
continuada das professoras, que participavam de reuniões de planejamento e de cursos
de aperfeiçoamento periodicamente. Isso, efetivamente, é um dado que contribui com a
qualidade da educação.
Finalmente, é preciso elucidar alguns pontos da metodologia montessoriana
que consideramos passíveis de críticas. Primeiro, ser um método que valoriza muito o
individual, em detrimento do coletivo e das trocas e interação entre as crianças,
buscando uma autonomia ligada à individualidade. Segundo, ser um método tão aceito
pelas escolas confessionais - e mesmo que nessa pesquisa aponte sua extensão para
a escola pública – por favorecer a formação de indivíduos que tem suas atitudes
reguladas pelos pilares da formação religiosa como a contemplação, o desenvolvimento
182
interior, a educação sensorial e a busca do conhecimento numa perspectiva intimista.
No mais evidenciamos a importante contribuição a História da Educação local e regional.
Referências Bibliográficas
ANGOTTI, M. Maria Montessori: uma mulher que ousou viver transgressões. In:
OLIVEIRA-FORMOSINHO, J; KISHIMOTO, T. M & PINAZZA, M. A. Pedagogia(s) da
Infância; dialogando com o passado e construindo o futuro. Porto Alegre: Art Med, 2007.
ARAUJO, J. M. &ARAÚJO, A.A Maria Montessori: infância, educação e paz In: In:
OLIVEIRA-FORMOSINHO, J; KISHIMOTO, T. M & PINAZZA, M. A. Pedagogia(s) da
Infância; dialogando com o passado e construindo o futuro. Porto Alegre: Art Med, 2007.
ATA DA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, Livro III Número 25, Ano, 1980.
CERIZARA, A. B. Educar e Cuidar: por onde anda a Educação Infantil. Perspectiva,
v.17, n. Especial. Florianópolis, UFSC, 1999. (p. 11-21)
FURTADO, A & SÁ, E. “História da Educação do Centro-Oeste: instituições educativas
e fronteiras”. Cuiabá, Edufmt, 2015. P. 221-326.
MONTESSORI, M. A criança. São Paulo, Círculo do Livro, 1990.
MONTESSORI, M. Pedagogia Científica. Trad. Aury Brunetti. São Paulo: Flamboyant,
1965.
OLIVEIRA, L C. V. &SARAT. M. Educação Infantil: história e gestão educacional.
Dourados, MS; EdUFGD, 2009.
ROSA, M. da G. S. Memória da cultura e da educação em Mato Grosso do Sul.
Campo Grande, MS: UFMS, 1990.
ROSA, M. F.; SILVA, A. S. Recordando e colando: as origens da educação infantil
nas escolas públicas de Mato Grosso do Sul. IN: FREITAS, M. C. de (org). História
social da infância no Brasil. São Paulo, Cortez, 1997.
SÁ, E. As primeiras iniciativas da educação pré-primária em Mato Grosso. In:
ANDRADE, D. B. S. F & LOPES, J. J. M. (org) Infâncias e crianças: lugares em diálogo.
Cuiabá, Edufmt, 2012. P. 37-47.
ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO: AS INICIATIVAS CATÓLICAS NA EDUCAÇÃO PAULISTA NO INÍCIO DO SÉCULO XX
Miriam Fernandes Muramoto Mestranda em Educação FE- USP
183
1. INTRODUÇÃO:
Examinando o processo de criação e atuação da Congregação das
Pequenas Irmãs da Divina Providência como um espaço voltado para o
recolhimento, assistência e educação de “meninas órfãs e desvalidas”, o
presente trabalho98 se propõe a observar a ação dos sujeitos envolvidos no
desenvolvimento das propostas assistenciais na cidade de São Paulo,
analisando também a produção de discurso acerca da assistência à criança
pobre e os debates sobre a temática, no início do século XX.
Com base nos documentos produzidos pela instituição, procurou-se
aclarar os modos como uma instituição católica que recolhia meninas pobres
realizava um trabalho assistencial e educativo no seio de uma sociedade em que
os debates políticos, o desenvolvimento econômico começava a ganhar
importância. É neste contexto que as iniciativas voltadas para a instrução da
criança pobre, sobretudo financiada pela elite obtêm relevância.
Tentou-se assim, analisar como se constituía a assistência e a educação
“das meninas desvalidas” na cidade de São Paulo, por meio de suas instituições
de assistência, entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX. Tal
investimento procurou contribuir para a análise das representações do lugar das
crianças na sociedade no período, as quais, no âmbito da instituição em estudo,
deveriam ser moralizadas, educadas, disciplinadas e higienizadas para serem
mães de famílias pobres. Sendo assim, um dos objetivos da pesquisa foi o de
identificar as ações expressas nos documentos do asilo, bem como o significado
deste recolhimento em relação com as propostas de assistência.
No período em estudo, o termo órfão parece não se referir exclusivamente
às meninas que tinham um dos pais ou ambos falecidos. Aproxima-se, neste
sentido, do termo desvalidas, que remete àquelas que pertenciam a famílias de
baixo poder aquisitivo.
Assim, entende-se que a menina desvalida no período era sinonímia de
menina pobre, com total ausência de recursos financeiros ou de alguém que
pudesse lhe “garantir um valimento” (SCHUELER, 2001, p. 162).
98 Este artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento que se propõe a fazer uma reflexão sobre a questão da assistência e educação voltada às meninas pobres no inicio do século XX na capital paulista, sob a administração da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência com orientação da Profa. Maurilane de Souza Biccas.
184
Alguns estudos como o de Lapa (2008), sobre criança pobre em fins do
século XIX, adverte que, quando procuramos entender quem eram órfãos, no
período, nos defrontamos com crianças que eram supostamente pobres, que
perambulavam pelas ruas e, ainda, as que causavam desordem na cidade, como
vidraças quebradas, chafarizes depredados, etc. (p.98). Além disso, segundo o
autor, havia aqueles órfãos que estavam sob o amparo de parentes, em asilos,
cuidados por filantropos ou sob a “curadoria e tutelagem legitimados pela justiça”
(LAPA, 2008, p. 96).
Recorrendo aos estudos de Gondra (2004), destacamos que o conceito
“de infância pobre era no vocabulário oitocentista extenso e variado” (p.125). Nas
leituras de Valdez (2006), ela destaca que, no âmbito dos discursos médico-
higienistas, políticos, religiosos e jurídicos, as crianças pobres figuravam como:
“perigosos, ignorantes, decalidos, infelizes da sorte, desprotegidos, deserdados,
abandonados, desamparados, miseráveis, pobres, inocentes, enjeitados” (p.18).
Ainda de acordo com Valdez (2006), ao estudar as representações da
infância, ela destaca que, no Brasil, a ação “filantrópica liberal-ilustrada” se
construiu em meados do século XIX quando, a geração da independência
começou a construir o Estado Nacional. A filantropia praticada no século XIX era
uma espécie de “resposta assistencialista para os problemas da pobreza, pois
com base em conhecimentos científicos visava melhor adaptação dos indivíduos
à sociedade através de intervenções do Estado e de particulares” (VALDEZ,
2006, p.43).
Por sua vez, Kuhlmann Jr. (1998) destaca que a filantropia é a
coordenação da assistência feita de forma racional, em contraponto à caridade
que se destaca pela sensibilidade de seus praticantes. Segundo o autor, a
filantropia, nesse sentido, torna-se uma prática que isenta o Estado de suas
obrigações e, paralelamente, fortalece a “atuação de entidades privadas,
defendendo um atendimento fracionário em múltiplas instituições” (KUHLMANN
JR., 1991, p. 24). Ainda de acordo com este autor, ao Estado, nessa conjuntura,
era atribuído o papel de supervisor e subsidiário destas entidades.
Como se pôde averiguar nos documentos que se constituíram em fontes
para esta investigação, a institucionalização de meninas desvalidas fazia com
que a instituição se consolidasse como um espaço construído para uma resposta
aos problemas sociais. As fontes que estamos utilizando para fundamentar as
185
análises definidas para esta pesquisa são: fotografias, regimento interno,
estatuto, cartas (compiladas em livro da Congregação), todos esses documentos
fazem parte do acervo da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina
Providência. É importante destacar que grande parte das fontes citadas acima,
foi organizada pelos membros da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina
Providência, no período do processo de beatificação da Madre Superiora Teresa
Michel, portanto o acervo encontrado tem uma lógica específica, provavelmente
seguindo orientações do vaticano, utilizadas nestes casos. Existem outros
documentos referentes às congregações religiosas católicas instaladas no Brasil
e em São Paulo, tais como: manuais de “regras de conduta”, revistas, jornais
católicos, etc., que se encontram no acervo da Cúria Metropolitana de São Paulo.
Visando compreender as propostas de assistência e educação,
implantadas no âmbito do asilo, foram analisados o regimento interno da
instituição e o seu estatuto. Esses documentos constituem-se em importantes
fontes que permitiram problematizar as propostas do asilo e pensar como estas
meninas eram recolhidas, assistidas e educadas. Na análise dessa
documentação, foi importante considerar o alerta de Faria Filho (2000) quando
informa que:
Trata-se de um conhecimento produzido e, portanto, em contínua aproximação do real, o que implica que pode ser revisto, acrescido e até substituído por novos conhecimentos (p.101).
Estas fontes também possibilitaram pensar como se deu a iniciativa de
construção dessa instituição e a quem ela era destinada, permitindo observar as
razões que justificaram a criação de um asilo católico voltado para o objetivo de
oferecer assistência e educação a meninas órfãs e desvalidas da cidade.
É necessário observar que, no caso das fontes históricas pertencentes ao
arquivo da instituição, trata-se de documentos selecionados pelas dirigentes da
instituição. Esses textos são de interesse da própria instituição que quer
transmitir uma imagem de si para a construção de uma memória; trata-se então
de um “conteúdo controlado” (LEONARDI, 2008, p. 25).
A reunião dessa documentação leva-nos a pensar, que, “toda pesquisa
historiográfica e articula com o lugar de produção sócio-economico, político e
cultural” (CERTEAU, 2002, p. 66). Assim, devemos proceder à crítica
186
documental, levando em conta o lugar em que foi produzido e o conjunto de
práticas instauradas pelos sujeitos envolvidos com essas fontes.
Faz-se necessário entender, quem são os autores de determinado
documento e quais eram seus destinatários, pois como bem lembra Le Goff
(1992) “todo documento é monumento, e dessa forma ele não é neutro, devendo,
enquanto monumento, ser alvo de críticas do trabalho histórico” (p. 545).
Outra fonte que faz parte desse acervo é o regimento da Congregação
das Pequenas Irmãs da Divina Providência, que nos possibilitou entender sobre
como a madre pensava a assistência dessas meninas e como justificava a
missão filantrópica do asilo.
As fontes pesquisadas na congregação possibilitaram pensar os métodos
utilizados pela instituição na assistência e educação das “meninas órfãs” e, ao
mesmo tempo, ofereceram indícios para pensar como se constituía a “missão
filantrópica” do asilo.
A instituição analisada dispõe de um pequeno acervo fotográfico, que trata
do período estudado, podendo ser utilizado para análise das atividades
educativas e eventos sociais que ali tiveram lugar.
Quando apreciamos determinadas fotografias nos vemos, mergulhando
em seu conteúdo e imaginando a trama dos fatos e as circunstâncias que
envolveram o assunto ou apropria representação (o documento fotográfico) no
contexto em que foi produzido: trata-se de um exercício mental de reconstituição
quase que intuitivo.
(KOSSOY, 2000, p.132).
A originalidade do estudo sobre a Congregação é porque não há uma
investigação como esta que nos propusemos, focalizando a trajetória dessa
instituição que terá como objetivo cuidar das meninas órfãs daquela região da
cidade de São Paulo.
O estudo traz assim uma relevante contribuição para o campo da História
da Educação, inclusive pela ausência de qualquer pesquisa como essa, sobre
determinada Congregação, que lhe trace sua trajetória nas dimensões sócio-
educativas-culturais. Sendo assim, poderá certamente contribuir para
importantes discussões sobre diferentes temas: história da educação da infância
feminina, com foco na educação de órfãs desvalidas, a atuação das
187
congregações italianas no Brasil, a filantropia em São Paulo e ainda a questão
das políticas públicas básicas de atendimento integral à criança desvalida.
Cumpre dizer que nosso estudo pretende contribuir com o acervo da
historiografia de congregações religiosas femininas instaladas no Brasil, levando
em conta o que diz Leonardi (2010)
Se, por um lado há uma vasta bibliografia produzida pelas próprias ordens e congregações católicas a respeito de sua história e memória, a produção acadêmica sobre essas instituições é incipiente. Sabemos superficialmente da história dessas congregações e, comumente, a história das freiras também é negligenciada, sendo somente esboçada como pano de fundo para o estudo sobre seus colégios (p. 26-27).
A delimitação deste estudo abrange o período compreendido entre 1903
a 1923. A fronteira inicial da delimitação, 1903, deveu-se a tentativa de localizar
e datar a chegada das Pequenas Irmãs da Divina Providência ao Brasil para a
instalação de uma congregação em São Paulo e suas estratégias no campo da
assistência de desvalidas. Como ponto de referência para o limite final fixado em
1923, com a expulsão das irmãs italianas pelo então bispo de São Paulo, Dom
Duarte Leopoldo e Silva e quais impactos houve na instituição.
Para um melhor entendimento acerca da instalação da Congregação em
São Paulo, entendeu-se que seria necessário um recuo à Itália onde foi fundada
a primeira Congregação e onde nasceu a Madre fundadora, Madre Teresa
Michel, o contexto social e político do período, a fim de entender como as irmãs
que aqui chegaram se comportariam diante de uma ordem social já estabelecida.
Para o mestrado procuramos compreender quem são os sujeitos
envolvidos nas práticas educativas da instituição, bem como cotidiano e as
práticas, as regras disciplinares e as relações mantidas entre a comunidade local
e a assistência institucional. Cabe ressaltar que, nesta pesquisa, procuramos
fazer a análise sempre relacionada aos contextos sócio-político- econômicos,
bem como aos espaços culturais em que foram gerados os fatos da realidade.
Entendemos que a relevância da analise investigatória do asilo dirigido
pelas Irmãs da Divina Providência, centrou-se no fato de buscar resgatar o
percurso deste estabelecimento de ensino, nas dimensões socioeducativas
culturais. Estudar tal problemática buscou ser uma contribuição no âmbito da
educação da infância desvalida, dentro de um determinado contexto sócio-
188
histórico-cultural de São Paulo, possibilitando esclarecimentos a respeito da
assistência às órfãs atendidas pela instituição.
Pretendeu-se assim, oferecer à história da educação da infância feminina,
uma reflexão sobre a orfandade, não propusemos centrarmo-nos apenas na
instituição fechada como uma resposta filantrópica ideal e eficaz para a
problemática na assistência à infância desvalida. Tentou-se ainda vislumbrar se
a Congregação conseguiu suprir com a filantropia, a ausência de políticas
públicas básicas, de políticas de proteção, e de políticas socioeducativas,
destinadas às crianças mais desprotegidas, prevenindo a marginalização, e por
outro lado protegendo a comunidade da presença de crianças desassistidas nas
ruas, buscando sempre investigar a educação da orfandade pobre.
Essa pesquisa caminhou no sentido da construção da trajetória da
Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência, com suas
contradições para descobrir e entender como uma congregação religiosa
italiana, em contato com outra sociedade, tentou representar e exercer uma força
político-social e quais reflexos gerou no processo educacional e na vida das órfãs
desvalidas.
Leituras, teorias e ideias de inúmeros teóricos, professores e pensadores
contribuíram com uma parcela significativa para o entendimento do objeto de
estudo. Dentre as obras lidas, que ultrapassam em muito as citadas, algumas
foram mais próximas do objeto de estudo, não menosprezando as demais.
Dentre as obras que mais contribuíram para a elucidação das ideias,
podemos citar Leonardi (2008), em sua tese de doutorado, que traz uma análise
sobre duas congregações católicas francesas que vieram para o Brasil,
especificamente para São Paulo, sendo uma delas a Congregação de São José
de Chambéry e que mostra com clareza a estratégia da Igreja na sua tentativa
de retomada de um espaço perdido.
A leitura de A invenção do cotidiano feminino: Formação e Trajetória de
uma Congregação católica (1880-1909) (Custódio 2014) favoreceu a
compreensão das táticas e das estratégias utilizadas pelas Filhas da Imaculada
Conceição, para formar uma congregação religiosa que também atendia
meninas pobres e órfãs e o trabalho que essas irmãs desenvolveram com essas
meninas órfãs.
189
Negrão (2004) desvenda as estratégias da elite campineira para resolver
os problemas sociais, mantendo o seu status e ampliando seus privilégios, mas
também desvenda, ao ouvir as próprias órfãs, as táticas por elas desenvolvidas
para, no contato com as irmãs francesas, educarem-se e se prepararem para um
futuro no qual os anseios de ascensão social não estavam descartados.
Câmara (2010) propiciou alicerce para o entendimento acerca das
questões da infância, procurando mostrar o modo como forças distintas
(médicas, jurídicas, pedagógicas e religiosas) se uniram para delinear as
práticas dirigidas à infância abandonada.
Neste mesmo sentido, ainda sobre as questões da infância, (Kuhlmann
Jr.(1998 ) Gondra (2004) Moncorvo Filho (1926), muito nos elucidou no que
tange as políticas sociais voltadas para esse infância pobre.
Kuhlmann JR (1998), Valdez (2006), apresentam a filantropia como
alternativa à falta de políticas públicas de educação e assistência para o período.
Beozzo e Azzi (1992,1986,1975) ajudaram a contextualizar a história da
Igreja Católica no Brasil no século XIX. Nos dando clareza sobre as reações e
resistências no bojo desse processo, ou seja, quais as práticas elas teriam
utilizado para enfrentar o então bispo de São Paulo Dom Duarte Leopoldo e
Silva.
De significância ímpar: Marcílio (1998), Hilsdorf (2011) pertinentes à visão
adquirida sobre a história social da criança abandonada. Ainda Hilsdorf, nos traz
uma análise cuidadosa dos vários processos de educação das próprias freiras,
desde sua infância e suas práticas educacionais nas casas de meninas e
também em asilo de órfãs.
Os estudos de Faria Filho (2000), Le Goff (1992) Certeau (2002), também
subsidiaram os critérios de coletas de dados mediante história oral, história de
vida, relatos e critérios para sua leitura, decodificação, interpretação e
compreensão da história da congregação.
Para tratar das questões sobre a imigração italiana, recorremos à Franco
Ceni (2002) e Bertonha (2005) que muito nos auxiliaram.
Para contextualização do cenário de expansão pelo qual passava São
Paulo na época, recorremos à Rufinoni (2004), que trata da preservação do
patrimônio industrial na cidade de São Paulo no período, dissertação de
190
mestrado da FAU-USP, mostrando-nos como essas indústrias de imigrantes
italianos mudaram o cenário econômico e social da região da Mooca.
Ainda Simmel (1907) sobre os pobres e a pobreza, que trará uma
compreensão a respeito da passagem da noção abstrata da pobreza às formas
regulatórias da assistência e a sua objetivação social na forma de instituição
públicas e/ou privadas da assistência.
As constituições e regras das Pequenas Irmãs da Divina Providência que
elucidaram sobre o funcionamento de uma Congregação, dissertações de
Mestrado e Teses de Doutorado sobre o tema foram de fundamental relevância
para que esta investigação fosse possível.
O rastreamento do corpus documental da Congregação foi de grande
valia para a dimensão investigatória, pois forneceram dados elucidatórios a
respeito das asiladas, que propiciaram a familiaridade com a dimensão eclesial
no campo assistencial e na atuação da congregação religiosa.
A coleta dos dados valeu-se de depoimentos das irmãs que ali residem,
de pessoas que puderam contribuir com a investigação da realidade pesquisada
e das demais fontes consultadas: livros, documentos, fotografias, regulamento
do acervo da Congregação em São Paulo e em Niterói, arquivo da Congregação
das Pequenas Irmãs da Divina Providência, da Cúria Metropolitana de São
Paulo, Biblioteca da Faculdade de Educação da USP, consultamos também
algumas fontes referentes à asilo e recolhimento de órfãs, a história da
educação, à infância e algumas teses e dissertações que tratavam deste
assunto. Houve também consulta às fontes eclesiásticas, às regras da
congregação, trazendo elucidações a respeito da fé católica, para a
compreensão das estratégias educacionais de órfãs desvalidas.
Esta pesquisa busca apresentar e analisar as influências vigentes no
processo de constituição das instituições de assistência no início do século XX.
Propostas essas que derivam da articulação de várias personagens do cenário
social, sendo elas, empresariais, políticas, médicas e também de cunho
religioso. Questionando se havia uma relação entre o “assistencial” e o
“educacional”, quando bem sabemos que o assistencialismo foi identificado
como uma proposta educacional para a população pobre.
191
Embora haja uma diversidade de opiniões sobre as causas que levaram
a criação dessas instituições, pretendemos aqui situar a assistência como fruto
de forças empresariais, políticas, médicas e, sobretudo religiosa.
Este início dá-se focalizando o que seja o papel social atribuído à
assistência, torna-se de real importância desnaturalizar o que seja assistência,
ou seja, não é natural, há a ação do homem nesta questão, tem-se a impressão,
que o mundo tem problemas, tem pobres e quem de alguma forma correta ou
incorretamente os assiste, está fazendo assistência, e não é dessa forma que a
assistência ocorre. Assistência como o termo utilizado nesta pesquisa é a
“Assistência aos pobres”, e para esse universo há um vasto debate sociológico
sobre a pobreza e a questão dos pobres no Brasil.
O que se pretende mostrar é que a história do assistencialismo não é uma
sucessão de fatos que se soam, mas a interação de tempos, influências e temas,
onde o período de elaboração da proposta educacional assistencialista se
integra aos outros tempos da história.
As ações de caráter assistenciais, numa perspectiva de caridade,
historicamente são ações na qual o outro, detentor de necessidades, não é visto
como um detentor de direitos, sendo assim, as práticas assistenciais voltadas
para os segmentos mais pobres da população se caracterizam por gestos de
desqualificações, em que para receber o benefício ele perderá outros direitos de
cidadania. O atendimento à infância era visto não como um direito, mas como
uma dádiva dos filantropos.
A base da organização do ideário humanista e filantrópico que vai
subsidiar as ações sociais, especialmente aquelas de cunho assistencial, será
colocada numa concepção de desigualdade natural entre os homens e na
necessidade de hierarquia das relações sociais. Para o que não tivessem
desenvolvido plenamente suas capacidades individuais de acesso aos bens, a
sociedade organizaria os meios de ajuda, sobretudo através da filantropia e da
assistência social. Este sistema de ajuda e filantropia vai constituir um complexo
instrumento de acesso às camadas populares, mantendo-os sob um rígido
controle social.
Do ponto de vista médico higienista, o grande tema de assistência à
infância era a mortalidade infantil, e um outro fator que estava em voga e a
questão de saneamento, para que pudessem atingir a civilidade e a
192
modernidade. Aqui fica claro a preocupação existente à época sobre a criança
pobre, e não só nela, mas na população pobre, como uma ameaça à
tranquilidade das elites.
Um aspecto a ressaltar é que as instituições eram defendidas por isolar
as crianças de meios que pudessem contaminá-las e o principal deles era a rua,
onde poderiam se misturar com outras crianças já marginalizadas que rondavam
a cidade naquele momento.
Também vale lembrar, que estas instituições eram divididas por sexo, por
idade e por grau de moralidade, evitando qualquer contato entre os
marginalizados ou que já haviam cometido algum delito e os inocentes.
Uma outra realidade fazia parte destes estabelecimentos, a baixa
qualidade do ensino, e já era premeditado essa baixa qualidade, a fim de que
essas crianças pobres tivessem um ensino de acordo com sua realidade,
preparando para um destino que já era destinado a eles. Caso contrário eles
poderiam pensar mais sobre sua realidade e se rebelarem e não se sentirem
resignados de sua posição social. Ou seja, o dever social do asilo é retirar o
menor abandonado de um meio hostil e prover sua subsistência, ensinar-lhes
hábitos do trabalho, instruí-lo, mas sem jamais esquecer sua condição social, a
condição de pobre.
Já na concepção dos religiosos, eles apresentavam a Igreja como um
sustentáculo da sociedade capitalista, lembrando que a caridade sempre esteve
presente entre eles e que tinham conhecimento suficiente para gerir essa parcela
da sociedade que vivia na pobreza, por meio de suas obras assistenciais. De
acordo com Kishimoto (1988), esses asilos não fariam parte do sistema pré-
escolar, por não terem preocupações educativas.
O que podemos concluir nessa pesquisa é que as assistências foram
criadas para esse que nem nome tem, mas ao ver na prática não era bem assim.
Criou-se um paradoxo, ou seja, um substrato dos cadastrados, esse mundo de
assistência tornou-se um mundo que faz listas, e que acaba invertendo a lógica.
Entre várias coisas que mantém uma sociedade estável, apesar de suas
turbulências internas, uma delas é a assistência, o que aliás aparece em vários
discursos sociológicos, debates e críticas sobre o assistencialismo. O mundo da
assistência gerou várias tensões entre o público e o privado
193
A Assistência, foi ocupada por ordens religiosas, por congregações, e este
é um espaço ocupado principalmente por congregações femininas, cuidar
daquele que ninguém cuida, é algo presente na história da Igreja, o outro
universo é o cuidar pelo prazer, porque é bom fazer. Uma parte da sociedade
toma conta dessa parte da assistência, e as congregações estão inserindo nos
seus documentos fundantes, no seu carisma. Castel (1998) aponta para esse
paradoxo que há sobre a questão da assistência, ele olha para as ordens
religiosas, olha para quanto tempo essas pessoas estão chamando de virtuosa
a pobreza e ao mesmo tempo lutam para combater a pobreza.
No Brasil, é na condição de criança pobre, que tem sua visibilidade social
aprisionada à uma família fragilizada, à delinquência, à debilidade moral e
intelectual que ela terá seu caminho social traçado. Como uma pessoa que não
conseguiu construir seus próprios meios de sustentação e com isso não pode
usufruir todos os recursos que a sociedade lhe disponibiliza.
Na passagem do século XIX para o século XX, fica evidente a importância
dessas crianças empobrecidas, neste momento essa parcela da sociedade
revelava um problema social, e que necessitava com urgência sanar tal
problemática do país. E a solução que acharam para que fosse resolvido, era
moldá-los de forma que tornassem bons cidadãos, ou seja um sujeito ideal para
a nação. O interesse pela infância abandonada e delinquente, refletia a
preocupação existente com o futuro do país.
A criação do asilo da Divina Providência é parte de um conjunto maior de
iniciativas católicas do período, visando produzir um cidadão dentro dos moldes
que a sociedade da época esperava. Os responsáveis pela criação do Asilo
viam, neste fato, uma oportunidade para que começasse a se resolver os
problemas das crianças abandonadas e também uma oportunidade de
compensar a sua ausência no campo educacional. Alguns estudos revelam que
que crianças nascidas em situação de pobreza ou em famílias com dificuldades
em cria-los eram encaminhados para estas instituições, como se fossem órfãs
ou abandonadas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CÂMARA, S. Por uma ação preventiva e curativa da infância pobre: os discursos jurídico-educativos no Brasil e em Portugal nas décadas de 1910- 1920.
194
CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense-universitária,1982. CHAPOULIE, J. e BRIAND, J. P. A instituição escolar e a escolarização. Uma visão de conjunto. Educação e Sociedade, ano XV, nº 47, abril de 1994, p. 11-60. DEL PRIORE, Mary (org.). História das mulheres no Brasil. 6 ed. São Paulo: Contexto Educação. Campinas/SP: Autores Associados, n.º1, jan./jun. 2001, p. 09-43. FARIA FILHO, L. M. (org.) A infância e sua educação: materiais, práticas e representações. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 160-187. FARIA FILHO, L. M. de; FERNANDES, R. (orgs). Para a compreensão histórica da infância. Belo Horizonte: Autêntica. 2007. p. 263-282. FERREIRA, Tolstoi de Paula. Subsídios para a história da assistência social em São Paulo. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, São Paulo: Departamento de Cultura, v. 67, jun. 1940. FONSECA, Sérgio César da. A assistência à infância pobre na República Velha: comparações entre São Paulo e Ribeirão Preto (1900-1917). Cadernos de História da Educação. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, v. 8, n. 1, p. 203-220, jan.-jun. 2009. FRANCO, João Evangelista. O serviço de assistência aos menores no Estado de São Paulo. Revista do Arquivo Municipal. São Paulo, v. 97, ano 10, p. 7-44, set.-out 1944. FREITAS, M. C. de; KUHLMANN JUNIOR, M. (orgs). Os intelectuais na História da infância. São Paulo: Cortez. 2002. p. 11- 60. FREITAS, Marcus C. História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez,1997. GAETA, Maria Aparecida Junqueira Veiga. Percurssos do ultramontanismo em São Paulo no episcopado de D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho ( 1873-1894). Tese de mestrado. São Paulo, 1992. HISLDORF, M. L. S. “Tão longe, tão perto” As meninas do Seminário. In: STEPHANOU, Maria; Bastos, Maria Helena Camara (Org.). Histórias e memórias da educação no Brasil. Vol II: Século XX. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. KUHLMANN JR, M. Educando a infância brasileira. In: LOPES, E. et al 500 anos de educação no Brasil.3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p 469-496. _______________. Educando a infância brasileira. In: LOPES, E. et al. 500 anos de educação no Brasil. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p.469-496.
195
LE GOFF, Jacques. Memória. In: História e Memória. Campinas: Ed UNICAMP, 1994. LEONARDI, Paula. Além dos espelhos: memórias e trabalhos de duas congregações católicas francesas em São Paulo. Tese de doutorado. São Paulo. FEUSP, 2008. _______________. Congregações católicas docentes em São Paulo e a educação feminina. In: VI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, 2006, Uberlândia. Anais do VI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, 2006. MARCILIO, M. Luiza. História Social da Criança abandonada. 2ª. ed. São Paulo: HUCITEC, 2006. v. 1. 333. MOURA, Pe Laércio Moura. A Educação católica no Brasil. São Paulo: Edições Loyola,2000. RUFINONI, Manuela Rossinetti. Preservação do patrimônio industrial na cidade de São Paulo. São Paulo, FAUUSP, Dissertação de Mestrado, 2004. SCHELBAUER, Analete Regina. A constituição do método de ensino intuitivo na província de São Paulo (1870-1889). 2003. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. SILVA, Wesley. Por uma História sócio-cultural do abandono e da delinquência de menores em Belo Horizonte (1921-1941). Tese de doutorado, São Paulo, FEUSP, 2006. TORRIANI, Carlos. Madre Teresa Michel, fundadora da Congregação das “Pequenas Irmãs da Divina Providência”. São Paulo, Salesianas, 1989. VEIGA, C. G. A escolarização como projeto de civilização. In: Revista Brasileira de Educação, Set/Out/Nov/Dez, 2002, p. 90-170. VEIGA, C. G. A escolarização como projeto de civilização. In: Revista Brasileira de Educação, Set/Out/Nov/Dez, 2002, p. 90-170. WERNET, A. Os primórdios do ultramontanhismo em São Paulo (1851-1906): perspectiva de pesquisa. São Paulo: SBPH, 1985.p. 257-263. WERNET, A. Vida religiosa em São Paulo: Do colégio dos jesuítas à diversificação de autos e crenças (1554-1954): São Paulo: Paz e Terra, 2004.
COMO EDUCAR OS FILHOS NA CASA: A EDUCAÇÃO DOMÉSTICA NO JORNAL A MÃI DE FAMILIA
Maria Celi Chaves Vasconcelos Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj
196
Programa de Pós-Graduação em Educação - Proped [email protected]
RESUMO
O estudo trata da educação doméstica na Província do Rio de Janeiro na segunda
metade do oitocentos, com foco nas matérias publicadas no Jornal A Mãi de Familia,
lançado na Corte brasileira em janeiro de 1879. Partindo da premissa que a educação
doméstica era uma modalidade de ensino aceita e reconhecida no Brasil, no século XIX,
o objetivo central do estudo refere-se à realização de um “inventário” das matérias que
aludiam a essa forma de educar crianças e jovens, examinando aspectos discutidos
pelo redator-chefe do Jornal, o médico Carlos Costa e demais colaboradores que
escreviam no periódico, relativos à prática da educação doméstica, como era realizada,
seus agentes, o contexto histórico em que estava inserida e as diferentes concepções
sobre a sua aplicação pelas famílias. A metodologia utilizada remete a uma pesquisa
qualitativa, histórico-documental, cujas fontes são, essencialmente, os exemplares do
Jornal, no período em que circulou, de janeiro de 1879 a novembro de 1888,
particularmente, os números já digitalizados, acessados pela web. A oferta e demanda
desta modalidade educacional é verificada em editoriais que visavam aconselhar às
mães de família, procurando romper com supertições e hábitos considerados
inadequados ao zelo pela criação, saúde e educação de crianças e jovens. O referencial
teórico utilizado refere-se, especialmente, aos estudos de Vasconcelos (2005; 2014;
2015), Câmara (2014), Malta (2011), Andrade e Veiga (2004). Conclui-se que o Jornal
A Mãi de Familia pretendia dar um estatuto de cientificidade ao cotidiano das mães e
seus filhos, reconhecendo a importância da educação no ambiente doméstico e, por
vezes, tecendo críticas às escolas existentes. Nessa perspectiva, em 1881, o Jornal
publicava um "quadro synoptico", no qual procurava demonstrar como deveria ser a
educação de meninos e meninas de 1 até 21 anos de idade. Dirigindo-se às mães de
família, o autor do quadro sinótico informava saber que nenhuma mãe poderia levar a
educação de seus filhos até a idade proposta, mas julgava útil, assim mesmo, que as
mães tomassem conhecimento dele, para que procedessem à educação de seus filhos,
“segundo o plano seguido pelas mais altas famílias da Europa” e que abrangia o homem
como um todo, “physico, moral e intellectual”. A seguir, o autor ressaltava que “este
plano dispensa completamente os collegios e deve ser executado debaixo das vistas e
direcção dos pais”. Dessa forma, tratava-se de um plano para a educação doméstica, a
ser realizada nas casas e sob sua exclusiva responsabilidade, demonstrando como se
configuravam ensinamentos, formação, exercícios e a distribuição do tempo no
cotidiano doméstico, com especificidades para meninos e meninas.
Palavras-Chave: Educação Doméstica; Jornal A Mãi de Família; Rio de Janeiro
Oitocentista.
1. Introdução
Em janeiro de 1879 era lançado na Corte Imperial brasileira, a cidade do Rio de
Janeiro, um periódico que pretendia ser um "arauto" de modernidade e cientificidade, o
Jornal A Mãi de Familia.
197
Destinado às mães de família, ao mesmo tempo em que não englobava todas as
famílias, pois era necessário que as mães soubessem ler para usufruir das informações
do periódico, também não era adquirido especificamente pelas destinatárias, mas, muito
provavelmente, pelos senhores das casas que, ao assinar ou comprar o jornal, junto
com outros periódicos amplamente divulgados na Corte, permitiam que suas
informações chegassem até as mulheres de sua parentela, por vezes, mães, tias, avós
e demais agregadas, que faziam parte da extensa rede familiar que costumava habitar
as residências abastadas no Rio de Janeiro oitocentista.
Além disso, tratava-se de um período no qual as funções das mães de família
estavam sendo discutidas, pois se acreditava que deveriam ser mais bem instruídas,
tendo em vista que no formato da educação doméstica aspirada pelas camadas altas e
intermediárias da população, a mãe era a primeira mestra de seus filhos e filhas e devia
ter conhecimentos suficientes exercer esse papel.
Cabe ressaltar que as décadas de 1870 e 1880 vem surgir inúmeras discussões
registradas nos periódicos em circulação na Corte, sobre a modalidade de educação
mais apropriada às crianças e jovens, se na casa ou na escola, com o debate
estendendo-se, particularmente, à adequação de enviar às filhas mulheres à escola
particular ou de instrução pública (VASCONCELOS, 2005; 2011a; 2011b; 2013).
De toda forma, a educação doméstica conceituada como a educação formal dada
a meninos e meninas no ambiente da própria da casa, era realizada por agentes
contratados para esse fim, como preceptores que residiam com a família, quando se
tratavam de fazendas e casas em locais mais distantes, ou professores particulares que
davam lições a domicílio, com dia e hora acordados com a família, cuja atuação é
anotada nos jornais, com intensa oferta e demanda.
No que se refere à importância da educação doméstica tanto em Portugal, como
no Brasil, Fernandes afirma que:
Entre as famílias das classes superiores, a primeira educação era, em regra, doméstica. Reproduzia-se a prática seguida pela família real, cujos ilustres descendentes recebiam educação completamente isolados dos demais meninos. Tal instrução deveria ocorrer bem cedo (1994, p. 201).
Em relação aos conhecimentos ensinados, a educação doméstica era constituída
por matérias consideradas importantes como as descritas no anúncio do Jornal do
Commercio, do final dos anos de 1880:
PROFESSORA habilitada, lecciona em casas particulares as seguintes matérias: portuguez, arithmetica, geographia, francez, piano, desenho, pintura e bordados de toda a especie; recados na rua da Alfândega n. 89. (07/01/1889, p. 3).
198
Todavia, por ser um serviço individualizado, realizado na casa dos aprendizes,
não se pode afirmar que eram ensinadas disciplinas específicas ou grupos de matérias,
pois a escolha dependia dos desejos dos pais e de suas expectativas em relação aos
filhos e filhas.
No entanto, como se observa no Jornal A Mãi de Familia, para que as mães
pudessem fiscalizar os serviços de educação doméstica, ou até substituir os agentes
contratados para esse fim, ministrando elas mesmas educação formal aos filhos e filhas,
era preciso que estivessem preparadas para esse ofício. É nessa linha de persuasão,
entre outras orientações implícitas e explícitas, que o editor do periódico pretende
encaminhar suas leitoras.
Assim, o presente estudo tem como foco matérias, anúncios e conselhos sobre
educação doméstica presentes nas publicações do Jornal A Mãi de Familia, com
especial atenção aos artigos assinados pelo seu editor, o médico e redator-chefe, Carlos
Costa. O objetivo central, portanto, refere-se à análise das matérias que abordavam
essa forma de educar, examinando-se aspectos debatidos pelo editor e demais
colaboradores que escreviam no periódico. Em um plano mais específico aborda-se a
descrição da prática de educação doméstica, destacando-se como era realizada, o
plano de estudos utilizado, seus agentes e o contexto histórico em que estava inserida.
Os procedimentos metodológicos remetem a uma investigação essencialmente
qualitativa e histórico-documental (VASCONCELOS, 2010), baseada na leitura,
catalogação e análise das matérias dos exemplares existentes do jornal A Mãi de
Familia, no período de sua publicação, de janeiro de 1879 a novembro de 1888, em
especial, os números disponíveis digitalizados, acessados no acervo digital da
Hemeroteca da Biblioteca Nacional.
Para as análises, a revisão bibliográfica sobre o tema alude, especialmente, aos
estudos de Vasconcelos (2005; 2011a; 2011b; 2013), Camara (2014), Malta (2011),
Andrade e Veiga (2004), Carula (2011) e Costa (2012).
Vale salientar que o Jornal A Mãi de Familia constituía-se como uma publicação
voltada para uma parcela específica da população, com a principal finalidade de
oferecer orientações e aconselhamentos às mães, procurando romper com superstições
e hábitos considerados inadequados para criação, saúde e educação das crianças e
jovens, tornando-se um periódico desejado pelas mulheres oitocentistas, não apenas
pelas informações que continha, mas por sua própria materialidade que, com uma
diagramação delicada e ilustrações da família, mães e filhos, exercia fascínio sobre o
público feminino.
199
Cabe lembrar que a educação feminina considerada apropriada, era aquela dada
às mulheres para se tornarem boas esposas, mães de família e gestoras da casa, como
expõem diversos manuais oitocentistas que, segundo Malta (2011, p.42), passam a ser
publicados no Brasil, para a organização do lar ou da economia doméstica, "pois era
preciso preparar as futuras rainhas para ocuparem seu reino". De acordo com a autora
(MALTA, 2011, p.43-44) desde o período imperial os folhetins e os romances já se
dedicavam a assuntos sobre o asseio e a ordem do lar, a educação dos filhos, o
orçamento familiar e o trato com os empregados, tentando convencer as leitoras "da
responsabilidade do papel de mãe e esposa na formação do caráter e da saúde da
nação".
2. Um periódico para educar as mães de família
De acordo com Camara (2014, p.56-57) o Jornal A Mãi de Familia foi lançado em
janeiro de 1879 e publicado até novembro de 1888. Idealizado pelo médico e redator-
chefe Carlos Costa, é criado com natureza educativa, procurando abordar a necessária
preocupação com a educação e os cuidados que se deveria ter com a infância,
destacando o papel do médico e da imprensa para desenvolvimento e educação do
país, tendo como inspiração o jornal francês La Jeune Mére, criado pelo médico
Brochard.
O jornal era publicado quinzenalmente, composto por oito páginas em média e
tinha paginação ininterrupta de janeiro a dezembro de cada ano. Andrade e Veiga (2004)
destacam o valor da assinatura anual de 6$000 para a Corte e 8$000 para as demais
províncias, notadamente, São Paulo e Minas Gerais (CAMARA, 2014; CARULA, 2011).
De acordo com Carula, "consoante às palavras de Carlos Costa, A Mãi de Familia não
se restringiu aos 'centros civilizados', leia-se aqui a Corte, mas atingiu também os
'remotos lugares' do país" (2011, p. 2).
Do primeiro número, datado de janeiro de 1879 (Figura 1), constava o subtítulo
“Jornal Scientifico, Litterario e Illustrado – Educação da Infancia, Higiene da Familia”.
200
Figura 1: A Mãi de Familia, janeiro de 1879, ano 1, n.1, p.1. Fonte: Acervo digital da Hemeroteca da Biblioteca Nacional.
Segundo escreve o redator no editorial do volume inaugural, "a nova publicação
que offerecemos ás mãis de familia brasileiras", é impressa em bom papel e ilustrada
com numerosas gravuras. "Redigido per illustres pennas" tinha a colaboração dos
doutores José Ricardo Pires de Almeida, Alfredo Pìragibe, Brito e Silva, Pires Farinha,
K. Vinelli e Felix Ferreira, entre outros.
O jornal era destinado às mulheres, mães e futuras mães de família, pretendendo
ensinar a educar seus filhos física e intelectualmente para formar "os adultos de uma
nova sociedade". As matérias enfocavam temas como a higiene da primeira idade,
"conselhos dectados pela experiência e pela sciência, em relação aos cuidados de que
se devem rodear as crianças: habitação, alimentação, vestuario, etc". O editor Carlos
Costa concluía a apresentação do jornal às leitoras, informando que cada número
conteria uma "palestra do médico, artigos sobre educação, receitas, novellas, conselhos
sobre hygiene, etc", todos voltados para a instrução das mães.
No contexto em que o jornal é inaugurado, a educação doméstica é majoritária
entre as camadas mais abastadas da população, concebida como “o conjunto das
práticas educativas realizadas no âmbito do espaço doméstico ou da casa, que
antecedem e se desenvolvem paralelamente à construção, aceitação e afirmação da
escola” (VASCONCELOS, 2005, p. 10). Dessa forma, apresenta-se como uma temática
recorrente, seja nas orientações para a instrução formal dos filhos e filhas, bem como
nos cuidados e tarefas educativas que deveriam ser realizadas pelas próprias mães no
ambiente familiar.
201
O jornal cobria desde o nascimento dos bebês, até matérias sobre a idade adulta
dos filhos. “Tratemos agora do vestuário de nho-nhô”. Com essa frase, o jornal A Mãi
de Familia, em editorial assinado pelo médico Carlos Costa, intitulado Conselhos as
mãis, em 1880, ensinava as mães como deveriam tratar, cuidar e vestir suas crianças
desde recém-nascidas. O artigo é iniciado mostrando o que acontecia logo depois do
nascimento da criança:
A parteira toma a criança, volta-a para a direita e para a esquerda, lava-a, empoalha o corpo todo e veste-a, (...). Dá-lhe uma doze de óleo de amêndoas doces ou de xarope de
chicorea, adormece-a e passa-a para os braços da mãi com um sorriso de satisfação.99
A partir daí, cabia à mãe exercer o seu “ofício” e, para isso, ela deveria estar bem
informada sobre os cuidados com a criança, pois o “bem estar e o bom humor da criança
dependem essencialmente da maneira porque a vestirem” (Idem).
Além da vestimenta, o banho era uma prática que deveria ser aprendida,
desmistificando as supertições tão presentes nesse ato:
Para lavar a creança, segure-a com a mão esquerda, com firmeza, mas delicadamente, e com a mão direita esfregae-lhe devagar o corpo: nos primeiros mezes este processo é preferível á osponja e á flanella. Não é preciso muito sabão para lavar nho-nhô. Um pedaço de sabão branco espumoso, sem cheiro bastará para lavar-lhe a cabeça, o pescoço e as partes baixas do corpo. Quando não for possível banhal-o em boas condições, é melhor não banhal-o. (...) Enxuto e secco o corpo, passa a ser empoado, quer com pó de arroz de muito boa qualidade, quer simplesmente com polvilho muito fino, o que ainda é melhor.100
Não estava fora das preocupações do doutor Carlos Costa, nem mesmo orientar
as mães quanto aos brinquedos que começavam a ser vendidos na Corte. No jornal A
Mãi de Familia, no ano de 1880, ao detalhar os exercícios físicos essenciais à saúde
das crianças, o editor descreve alguns brinquedos, como o velocípede, mostrando a sua
correta utilização para a conservação da saúde, bem como seus inconvenientes.
Segundo o redator, os velocípedes constituíam um meio de divertimento muito
generalizado à época e não havia criança, pertencente à família mais “medíocre” em
seus recursos, que não o possuísse. Eram obtidos por um “preço módico” e tornavam-
se muito úteis como meio de desembaraçar os movimentos das crianças “e como que
prepara-las para a equitação”. Ressaltava o articulista que, para as meninas, havia
assentos apropriados e cômodos. Porém, também alertava que fossem utilizados os de
três rodas, pois os com apenas duas rodas eram perigosos e fáceis de virar “e só podem
99 A Mãi de Familia: jornal scientifico litterario e illustrado. Rio de Janeiro, março de 1880, ano 2, n. 7, p. 53. 100 Idem.
202
ser usados por adultos”101. A forma como o médico detalha os cuidados com os
brinquedos, além de demonstrar a popularidade desse tipo de diversão naquele
contexto, revela a sua percepção sobre a necessidade de informações às mães de
família.
Na visão do doutor Carlos Costa, "as mulheres em nosso paiz não cumprem tanto
quanto deviam os sagrados deveres de mãis"102. Tal circunstância, segundo o médico,
ocorria por vaidade, por pobreza, e, na maioria das vezes, por ignorância, o que fazia
com que as mulheres não desempenhassem como era esperado a sua "missão
sublime": a maternidade.
Entre os aspectos aferidos como constantes da "missão sublime" da maternidade,
estava a educação doméstica, ou seja, a fiscalização, supervisão e complementação da
educação formal dos filhos, mas, sobretudo, das filhas, que deveria ser realizada,
preferencialmente, na casa.
3. A educação doméstica no Jornal A Mãi De Familia
No jornal A Mãi de Familia, no ano de 1881, o redator Carlos Costa explicava como
deveria ser a educação das filhas, realizada nas próprias casas, sob a direção das
mães:
Assim nos pareceu útil e prudente confiar o rapaz á educação publica, assim como de toda a conveniência reter a moça no interior e deixal-a crescer ante os olhos maternos. Na vida dos homens a instrucção representa um grande papel e é uma boa parte da educação; pode-se portanto sacrificar-se-lhe tudo, ora não há instrucção satisfactoria senão nas Escolas Publicas. Porém para as moças a instrucção é muito menos importante e quando
ella o fosse mais, não poderia compensar o perigo da educação em commum.103
Em que pese não haver delimitação quanto aos conteúdos que deveriam estar
presentes na educação da mulher realizada na casa, pelo menos um ponto era decisivo
para o doutor Carlos Costa, as mães precisavam estar mais bem preparadas para poder
proceder à educação dos filhos, principalmente das filhas, sem precisar submetê-las a
mestres ou até à própria escola, que não era entendida como o melhor espaço para a
educação, particularmente de meninas e, especialmente, nos primeiros anos da criança.
A frase constante do Jornal A Mãi de Família exemplifica esse pensamento recorrente
101 A Mãi de Familia: jornal scientifico litterario e illustrado, Rio de Janeiro, junho de 1880, ano 2, n. 11, p. 82. 102 A Mãi de Familia: jornal scientifico litterario e illustrado. Rio de Janeiro, janeiro de 1879, ano 1, n. 1, p. 2. 103A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado. Rio de Janeiro, março de 1881, ano 3, n. 7, p. 51.
203
em oitocentos: “Não consenti que vosso filho e principalmente vossa filha se eduque
fóra de vossas vistas”104.
Assim, entendia-se que a mãe era a melhor educadora que os filhos e as filhas
poderiam ter e que cabia a ela o papel de mestra de suas crianças, considerando-se
que nenhuma outra pessoa, por mais habilitada que estivesse, podia substituí-la nessa
função.
Em dezembro de 1879, o redator doutor Carlos Costa afirmava:
A mãi deverá ser sempre a primeira mestra, são os seus preceitos, os primeiros recebidos, que perdurarão sempre. Se elles são máos dificilmente desaparecem as suas conseqüências. Se são bons, pelo contrario, os beneficos fructos colhidos são de inestimável valor. É mister portanto que a mulher seja educada convenientemente quando menina, para que possa quando mãi, ser a primeira mestra de seus filhos.105
Continuando o mesmo artigo, o redator apontava, ainda, algumas questões,
elucidativas do pensamento da época sobre a educação doméstica a cargo das mães e
a educação dada nos colégios:
Estarão na maior parte as mãis brasileiras nas condições de serem as mestras de seus filhos? Poderão ellas substituir os collegios? Não, e infelizmente temos exhuberantes provas disso. Mas de quem é a culpa? De nós mesmos. De nossos educadores, legisladores, etc. No nosso paiz não é comprehendida ainda a educação intellectual da mulher. Como já dissemos, somente se pensa nos meninos. As meninas são em geral mal guiadas em sua educação. Com a deficiência d’esses meios não poderão ser as mulheres completamente mãis.106
Dessa forma, supõe-se que, na mentalidade da época, os professores
particulares, os preceptores e os demais mestres que atuavam na educação doméstica,
bem como os próprios colégios, fossem considerados, muitas vezes, como uma
alternativa à falta de educação das mães para educarem seus próprios filhos e filhas.
Mas qual seria a educação considerada ideal pelo doutor Carlos Costa,
particularmente para as meninas? Um pista pode ser encontrada na carta da imperatriz
Maria Thereza da Áustria, endereçada à preceptora de sua neta de 6 anos, como
exemplo de instruções para a educação das crianças, publicada com destaque, em
1880, pelo Jornal A Mãi de Familia:
A Imperatriz Maria Thereza da Áustria estava tão convencida de que era necessário aplicar
com rigor a educação doméstica, que escreveu uma carta com instruções, endereçada à
104A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado. Rio de Janeiro, janeiro de 1881, ano 3, n. 12, p. 92. 105A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado. Rio de Janeiro, dezembro de 1879, ano 1, n. 24, p. 187. 106 Idem, ibidem, p. 187.
204
preceptora de sua neta, de 6 anos: Minha boa d’Herzelles. A respeito das instrucções que
me pede para a minha querida neta, só tenho a dizer-lhe: Que ao despertar deve ella
começar por uma intima oração a Deus; Que em seguida se levante; Que se prepare,
vista-se e almoce; tudo isto até 9 horas; Que consagre meia hora ao recreio, para depois
a camareira explicar-lhe o cathecismo allemão e ler-lhe um capítulo de Royaumont. Meia
hora de descanso, e em seguida lição de outra meia hora, de seu mestre de escripta.
Poderá de novo brincar até as onze horas. A meia hora seguinte consagrará ao cônego
Gurter. Das onze e meia ao meio dia, será permittido á archiduqueza a mais completa
liberdade. Empregará no jantar meia hora, podendo depois recrear-se até 2 horas. Três
quartos de hora para a lição de francez, se para tanto estiver disposta, seguindo-se recreio
até ás 4. Das 4 ás 5, jogos de cartas, livros ou figuras próprias para fazel-a aprender
phrases e vocábulos francezes. As 5 horas dansa emquanto não a aborrecer; depois
algumas orações, para se ir habituando a invocar o Senhor. Até 7 horas recreio, ceia. As
8 vestuario de dormir, oração intima e cama. Quando o tempo permittir, as cousas se farão
de modo que a archiduqueza possa dar um passeio de carro no inverno e a pé no verão.
Taes são as direcções que julgo essenciaes, minha querida d’Herzelles, para o melhor
desempenho de sua missão. Bem sabe o interesse que ligo a tal assumpto; espero, pois,
que ponha o maior cuidado em auxiliar fructuosamente a exacta observação de minhas
vistas. Maria Thereza. 24 de Outubro de 1767.107
Além dos conselhos da imperatriz Maria Thereza da Áustria para a educação
realizada na casa, o Jornal A Mãi de Familia publicava, em 1882, um "quadro synoptico",
no qual procurava demonstrar como deveria ser a educação de meninos e meninas de
1 até 21 anos de idade. Dirigindo-se às mães de família, o autor do quadro sinótico
informava saber que nenhuma mãe poderia levar a educação de seus filhos até a idade
proposta, mas julgava útil, assim mesmo, que as mães tomassem conhecimento dele,
para que procedessem à educação de seus filhos, “segundo o plano seguido pelas mais
altas familias da Europa” e que abrangia o homem como um todo, “phisico, moral e
intellectual”. A seguir, o editor, doutor Carlos Costa, ressaltava que “este plano dispensa
completamente os colégios e deve ser executado debaixo das vistas e direção dos pais”.
O quadro sinótico tratava-se de um plano para a educação doméstica, a ser
realizada nas casas e sob sua exclusiva responsabilidade, demonstrando como se
configuravam ensinamentos, formação, exercícios e a distribuição do tempo no
cotidiano doméstico, com especificidades para meninos e meninas.
QUADRO SYNOPTICO DE
EDUCAÇÃO E INSTRUCÇÃO COMPLETAS ACOMPANHANDO O HOMEM DESDE A INFANCIA ATÉ O EXERCICIO DE UMA PROFISSÃO DEFINITIVA108
Annos de
idade
Objectos e matérias da educação e instrucção
Emprego do tempo para cada dia
Physica Moral Intellectual
107 A Mãi de Familia. Jornal scientifico, litterario e illustrado. Rio de Janeiro, fevereiro de 1880, ano 2, n. 3, p. 18-19. 108 Reproduzido integralmente do original constante do periódico A Mãi de Família: jornal scientifico litterario e illustrado, 1882, ano 4, n. 20, 22, 23, p. 123-183.
205
1° A criança passa o seu primeiro anno ao seio de sua mãi; raríssimo e excepcional deve ser o emprego de ama de leite.
Educação progressiva dos sentidos, principalmente da vista, tacto e ouvido.
15 horas de somno no berço. 6 horas de alleitamento. 3 horas no ar livre, sobre uma esteira, tapete, etc.
2° ANDAR: primeiros ensaios de locomoção livre. Banhos frios, roupa folgada.
Primeiro desenvolvimento moral. Fallar com doçura, não espantar, não deixar contrahir o habito dos gritos, choros, etc.
Desenvolver os sentidos, os órgãos, as faculdades. Ensinar á criança bom numero de palavras correctas, mostrar-lhe muitos objectos pronunciando bem o nome.
14 horas de somno. 3 horas para refeições em horas variadas e regulares. 7 horas no ar livre.
3° Continuar os banhos frios; andar. Alimentação simples e a horas marcadas. Não dar vinho, nem chá ou café, (até a idade de 12 annos).
Acostumar a criança a não ter tudo o que deseja. Obediência, polidez.
Fallar com a criança em duas línguas: a materna e a franceza. Augmentar o numero de objectos, conhecidos, o que augmenta o numero das idéas e das palavras. Cuidar da boa pronuncia.
13 horas de somno. 3 horas para refeições. 8 horas a brincar, parte em casa, parte no ar livre.
4° Andar bastante, correr, pular, servir-se bem de ambas as mãos, isto é de cada uma conforme o seu destino natural.
Obrigar, com firmeza e doçura a um tempo, á completa obediência; inculcar sentimentos de justiça e razão; igualdade de humor, bondade e benevolência; polidez.
Ensinar a ler brincando. Aperfeiçoar o fallar nas duas línguas: materna e franceza.
12 horas de somno. 3 horas para refeições. 9 horas para correr, divertir-se, ler, etc.
5° Exercícios divertidos e úteis; primeiros ensaios de gymnastica, jogos instructivos, pular, correr, andar.
Os bons hábitos provem dos bons exemplos. Narrações attrahentes, d’onde se deve banir o sobrenatural.
Ler, escrever e contar brincando, mas já com regularidade; racicinios fáceis. Pelo fim do anno, calculo escripto.
12 horas de somno. 3 horas para as refeições. 9 horas para os vários exercícios physicos e intellectuaes.
6°
Percorrer lugares íngremes, galgar morros, pular, correr; gymnastica elementar.
Mostrar as vantagens do espírito de ordem; obrigar a criança a recolher nos lugares determinados os brinquedos, livros, etc.
Continuar a ler, escrever, contar, - ler com a maior facilidade, alto ou baixo, e sem movimento dos lábios, nomes geographicos e outros. Ler a letra estranha. Principiar o desenho.
12 horas de somno. 2 horas para as refeições. 10 horas para os exercícios physicos e trabalhos intellectuaes.
7° Banhos frios, corridas, jogos de força, agilidade e destreza.
Respeito á verdade; rigorosa observação da palavra dada; exemplos accompanhados de anecdotas, pelas quaes se pode principiar as lições de Historia. Civilidade.
Noções de astronomia, cosmo graphia e geographia. Exercícios próprios para despertar e regular a memória, nas duas línguas; obrigar o menino ou a menina a externar seu pensamento, narrar com ordem e expressões próprias.
11 horas de somno. 2 horas para as refeições. 7 horas para o banho, corridas, exercícios physicos. 2 horas sendo uma de manhã, 1 de tarde, para escripta e calculo, ou leitura e desenho. 2 horas 1 de manhã e 1 de tarde para geographia, cosmographia, e para exercícios de memória.
8° Continuação dos jogos, exercícios gymnasticos, banhos, etc.
Simplicidade, sobriedade, discrição, franqueza, urbanidade.
Primeiros elementos de historia natural. Principiar a fallar inglez. Continuação dos estudos precedentes, accrescentando o latim.
11 horas de somno. 2 horas para as refeições. 5 horas de exercícios physicos. 2 horas de passeios instructivos, isto é, conversando de astronomia e historia natural. 1 hora de geographia.
206
1 hora de calculo e escripta, leitura ou desenho. 2 horas para inglez e latim.
9° Princípios de natação, continuação dos outros exercícios, cultura de um jardim.
Emulação, sentimento da honra; benevolência e savoir-vivre.
Elementos de lógica, noções de physica, botânica; continuação da geographia, do inglez e da língua latina.
Mais ou menos como durante o oitavo anno.
10° Aos exercícios anteriores, accrescentar o manejo de armas de fogo. Para as meninas, a musica de piano e os trabalhos de agulha.
Humanidade; coragem educação moral em actos, mais do que em palavras. Visitar os pobres, os doentes, os hospitaes, etc.
Elementos de língua grega, noções de chimica, continuar a botânica e os outros estudos. Cuidar da orthographia nas varias línguas. É ponto importantíssimo. A bôa orthographia prova a bôa educação
11 horas de somno deitando-se as nove horas. 2 horas para as refeições. 5 horas para exercícios physicos. 1 hora para limpeza e natação. 2 horas para geographia e desenho, calculo e leituras. 3 horas para astronomia, physica, chimica e outros estudos.
11° Os mesmos exercícios, aos quaes para meninas accrescenta-se a dansa, a musica e os trabalhos de bordado. Cosinha e arranjos da casa.
Limitar suas necessidades, conhecer o ridículo da vaidade nos trajes. Polidez de coração e de maneiras.
Aperfeiçoar-se em latim e em grego, fallar tanto quanto for possível em inglez. Estudar em francez, todas ou quase todas as matérias do estudo. Geometria e geodesia. Primeiras noções de artes e officios.
11 horas de somno e refeição. 5 horas de exercícios gymnasticos, com dansa. 1 hora para toilette, limpeza e banho. 3 horas de passeio e conversa instructiva. 4 horas para os outros estudos.
12° Mesmos exercícios. As meninas aperfeiçoam-se no piano. Os meninos aprendem um officio: torneiro, marcineiro, relojoeiro, etc.
Conhecimento da religião; provas do sentimento universal das duas grandes verdades: existência de Deos, immortalidade da alma. Pensamento da morte.
Mathematicas; principia-se a álgebra. Redacção de narrações, accostumar-se a fazer extractos, a tomar notas. Classificação das sciencias e das artes. Mnemônica.
10 horas de somno e refeições. 4 horas de exercícios e trabalhos manuaes. 1 hora para toilette, limpeza e banho. 2 horas latim e grego. 7 horas aos outros estudos.
13° Alem dos exercícios e trabalhos manuaes do 12° anno, agricultura e jardinagem em certa escala para os meninos; cultura das flores, para as meninas; limpeza da casa, preparo dos alimentos.
Religião, moral, tolerância, caridade, cortesia, conversas com os visitantes.
Estudo das litteraturas comparadas; ler os bons autores na língua materna e depois em francez, inglez, traduzir latim e grego. Formar o gosto. Os vários ramos das mathematicas.
11 horas de somno e refeição. 2 horas de trabalho manual. 3 horas de exercícios do corpo e toilette. 1 hora de conversa. 2 horas de historia natural, astronomia. 2 horas de mathematicas. 3 horas de estudos das litteraturas.
14° Aos exercícios dos annos precedentes, accrescentar a equitação, e para as meninas, o governo da casa.
Vida moral em acção. Respeito á velhice e á infortuna. Ordem nas acções e nas despezas. Economia.
Visita ás officinas; conhecimentos geraes de hydraulica, mecânica, etc. Continuação das mathematicas e da litteratura. Língua italiana para ambos os sexos. Composições de estylo nas varias línguas estudadas. Vigiar sempre na perfeição orthographica, é detalhe indispensável.
8 horas de somno, podendo deitar-se ás 10 horas. 2 horas para refeições. 3 horas para exercícios do corpo. 3 horas de passeios instructivos, visitas ás officinas, hospitaes, casas dos pobres, museos, etc. 1 hora para rever os estudos de geometria, astronomia. 2 horas de desenho e mathematicas. 2 horas de litteratura.
207
1 hora de italiano e musica.
15° Praticam-se todos os ensinos da educação physica.
Aperfeiçoa-se a educação moral, pondo em pratica seus ensinos. Polidez para com todos.
Continuação dos passeios instructivos, de italiano, da musica. Estuda-se historia antiga e mythologia. Conhecimentos summarios das varias religiões.
9 horas de somno e refeições. 3 horas de exercícios. 2 horas de conversa com as visitas ou na família. 2 horas de litteratura e redação para formar o estylo. 3 horas de historia antiga. 1 hora de italiano e musica. 2 horas de passeios instructivos. 2 horas para desenho, geographia, etc.
16° Todos os exercícios precedentes, e, para os moços accrescentar a esgrima. As moças devem aprender a talhar e preparar a roupa de seu uso
Relações Moraes do homem com a sociedade. Deveres e responsabilidade. Sentimentos da perfectibilidade.
Alem dos passeios instructivos, estudar a historia da Idade media; fazer composições em prosa e em verso, nas varias línguas aprendidas. Rever toda a geographia.
Mais ou menos como durante o 15° anno.
17° Caçada e pesca. Passeios a cavallo. As moças dirigem successivamente as varias ocupações e arranjos da casa, iniciando-se com a economia domestica.
Conhecimento do mundo, prudência, espírito de conduta. Desejo de merecer a approvação, a consideração, a estima.
Historia moderna, economia política, influencia do commercio, das sciencias, artes, civilisação, legislação e religião sobre cada povo em particular e sobre a humanidade em geral.
Com poucas modificações, o emprego do tempo é distribuído como no anno anterior.
18° Serviço militar ou marítimo durante este anno. Aperfeiçoar-se nos exercícios physicos, estudar bem as manobras no mar ou os exercícios militares.
Obediência, disciplina; sciencia do mando. Preservativos contra os maos costumes.
Aperfeiçoamento nas mathematicas; estudar a theoria e a pratica do attaque e da defeza das praças; tomar noções exactas dos vários ramos da arte da guerra, ler as memórias militares mais afamadas.
O emprego do tempo é subordinado aos deveres, mas o que resta deve ser utilisado conforme os princípios dos annos precedentes.109
Sugerindo regras que, provavelmente, não eram seguidas integralmente, como o
próprio autor sinaliza: “melhor é para as nossas leitoras ter que supprimir alguma cousa,
do que se ver na contingência de accrescentar”, o quadro sinótico apresentava aquilo
que seria considerado o ideal de educação para meninos e meninas, realizada na casa,
sob a responsabilidade da família, que poderia dispor de mestres, quando assim
julgasse necessário para os conhecimentos específicos.
Além disso, demonstrava-se a importância atribuída aos exercícios físicos e à
preparação diferenciada de meninos e meninas para os lugares aos quais estavam
socialmente destinados.
109 O quadro sinótico segue apresentando as atividades físicas, morais e intelectuais, bem como o emprego do tempo até os 25 anos. Optei por transcrevê-lo até os 18 anos tendo em vista que é até quando está explicitada a educação doméstica.
208
Carlos Costa, não mais o médico e editor oitocentista, mas o autor do livro A
Revista no Brasil do século XIX: a história da formação das publicações, do leitor e da
identidade do brasileiro (2012, p.315), localiza o "auge da imprensa semanal ilustrada"
nos anos de 1876 e 1878, ou seja, foi provavelmente imbuído da popularidade desses
periódicos, que o Carlos Costa homônimo, tenha decidido editar o Jornal A Mãi de
Familia.
Embora o autor contemporâneo de nossos estudos não tenha enfocado o Jornal
A Mãi de Familia, ao tratar de outras publicações congêneres da mesma época, traça
um perfil de suas principais características, entre elas, o título que já informava que se
destinava às mulheres, a pretensão de "facilitar às mães de família uma leitura amena
que as iniciasse nos deveres de esposa e mãe" (COSTA, 2012, p.390-391), e a função
de "termômetro para aferir os costumes de uma época".
Dessa forma, o quadro sinótico, ainda que visivelmente copiado de um jornal
europeu não mencionado, encontrava no Brasil possibilidades de leitura e
entendimento, assim como viabilidade de execução, considerando-se a sua publicação
em partes, distribuídas entre os números 20, 22 e 23 do Jornal A Mãi de Familia, o que
pode significar uma forma de manter o leitor aguardando a continuidade da publicação.
Certo é que as detalhadas orientações do quadro sinótico foram lidas e, talvez,
incorporadas ao cotidiano de alguma casa nas províncias em que transitou, competindo
com a negação completa de suas determinações, que ocorria nas fazendas e solares
urbanos, nos quais as crianças das camadas mais altas da população, junto com seus
escravos e escravas, cuidadores, amas de leite e outros fâmulos, quando se livravam
da imobilidade dos cueiros, desfrutavam das histórias de assombração, dos banhos de
rios e açudes, do contato constante com animais domésticos e das brincadeiras que se
tornavam verdadeiras aventuras, como descreve Gilberto Freyre em seu Casa-grande
& senzala.
4. Considerações Finais
Conclui-se que o Jornal A Mãi de Familia pretendia dar um estatuto de
cientificidade ao cotidiano das mães e seus filhos, reconhecendo a importância da
educação no ambiente doméstico e, por vezes, tecendo críticas às escolas existentes.
Dirigindo-se às mães de família, o redator informava saber que nenhuma mãe
poderia levar a educação de seus filhos por todo o período de formação, mas julgava
útil, assim mesmo, que as mães tomassem conhecimento de um plano de estudos, para
que procedessem à educação de seus filhos, sob sua exclusiva responsabilidade.
209
Para tanto, o médico demonstrava por meio de um quadro sinótico copiado de
jornal europeu, como deveriam ser os ensinamentos, exercícios e a distribuição do
tempo nas casas em que cresciam meninos e meninas. No entanto, as descrições
apresentadas no quadro demonstram o quão distante estavam as crianças brasileiras
oitocentistas das propagadas fórmulas europeias, que começavam pela determinação
de que "raríssimo e excepcional deve ser o emprego de ama de leite", num contexto em
que as escravas exerciam constantemente esse papel, como uma distinção entre as
demais (FREYRE, 1997).
Embora alterando pouco o cotidiano das casas, após dez anos de publicação do
Jornal A Mãi de Familia, os articulistas delineavam um conceito de criança, que se
afastava do “pequeno adulto”, responsabilizado por suas atitudes e ações, revelando-
se uma concepção de infância voltada para a consideração de suas capacidades e
possibilidades, que atribuía aos mestres e, posteriormente, à escola, um papel relevante
de influência e responsabilidade sobre sua formação. Nesse contexto, a educação
passava a ser considerada como um aspecto fundamental, cuja influência, sugeriam os
autores do Jornal A Mãi de Familia, permitia até alterar as tendências hereditárias.
Quanto à educação doméstica, era considerada a forma mais adequada de se
educar, especialmente, as filhas mulheres, as quais deveriam se espelhar nas mães
para cumprir com o projeto de família e nação aspirado pelo governo imperial.
Referências bibliográficas
ANDRADE, Stela Cabral de. & VEIGA, Cynthia Greive. A condição de ser mulher
civilizada na revista “A Mãi de Família”. 2004. Disponível em:
sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo4/296.pdf Acesso 14 de
abril de 2015.
CAMARA, Sônia. O jornal “A Mãe de Família” como estratégia de intervenção: higiene
e educação da infância nos finais do século XIX. In: MIGNOT, Ana Chrytina Venancio;
SILVA, Alexandra Lima da; SILVA, Marcelo Gomes da. (orgs.). Outros Tempos. Outras
Escolas. Rio de Janeiro: Quartet / Faperj, 2014. p. 55-80.
CARULA, Karoline. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo,
julho 2011.
COSTA, Carlos. A Revista no Brasil do século XIX: a história da formação das
publicações, do leitor e da identidade do brasileiro. São Paulo: Alameda, 2012.
FERNANDES, Rogério. Os caminhos do ABC. Sociedade portuguesa e ensino das
primeiras letras. Porto: Porto Editora, 1994.
210
FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala. 32a ed. Rio de Janeiro: Record, 1997.
MALTA, Marize. O olhar decorativo: ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro: Mauad X: Faperj, 2011.
VASCONCELOS, Maria Celi Chaves. A Casa e seus Mestres: A Educação no Brasil de
Oitocentos. Rio de Janeiro: Griphus, 2005.
__________________. Pesquisas na história da educação: sujeitos, fontes e
instituições. In: VASCONCELOS, M. C. C. & FARIA, L. C. M. Histórias de pesquisa na
educação / Pesquisas na história da educação. Rio de Janeiro: Quartet, 2010.
________________. A educação feminina no Brasil oitocentista: a mãe e mestra.
Gênero (Niterói), v. 9, p. 78-96, 2011a.
____________________. Mulheres preceptoras no Brasil oitocentista: gênero, sistema
social e educação feminina In: FRANCO, Sebastião Pimentel & PALHARES SÁ, Nicanor
(Orgs.). Gênero, etnia, e movimentos sociais na história da educação. Vitória - ES:
Edufes, 2011b, v.9, p. 1-25. (Coleção Horizontes da pesquisa em história da educação
no Brasil - SBHE).
____________________. Domestic Education in Nineteenth Century Brazil: Aspects of
European Influence on the Performance of Tutors and Private Teachers. Revista HSE -
Social and Education History, Hipatia Press, Barcelona, 2013, v. 2, p. 1-22.
CONCEPCIÓN DE INFANCIA EN BRASIL Y COLOMBIA EN LA DÉCADA DE LOS
AÑOS 70.110
Carlos Alberto Moreno González111 Universidad Federal de Juiz de Fora MG- Brasil
110 Investigación en desarrollo, titulada: Infância no Brasil e na Colômbia: sua concepção
histórica e impacto na formulação de políticas educacionais entre 1950-1990. Adscrita a la línea de investigación de Educación Brasilera, gestión y prácticas pedagógicas, Facultad de Educación Universidad Federal de Juiz de Fora MG Brasil. “O presente trabalho é realizado com apoio do Programa Estudantes-Convênio de Pós-Graduação – PEC-PG, da CAPES/CNPq - Brasil”.
111 Licenciado en Pedagogía Reeducativa de la Fundación Universitaria Luis Amigó, Especialista en Educación y Orientación Familiar de la Fundación Universitaria Monserrate, candidato a Magister en Educación de la Universidad Federal de Juiz de Fora (Brasil). Experiencia en gestión de procesos educativos académicos, con énfasis en calidad educativa.
211
Introducción
“Nadie pensaba, como es común en nuestros días, que todos los niños llevaban en sí la personalidad de un hombre. Muchos de ellos morían… Esta indiferencia fue una consecuencia directa e inevitable de la demografía de aquellos tiempos. (ÀRIES, 1960, apud, POLLOCK, 1990, p. 118).
Con las palabras de la obra de Àries (1960), en la que se reconoce una vez
más la visión de infancia que se tenia en la edad media y cómo ésta poco a poco de
manera lenta y no tan fácil ha ido ganando los espacios y la importancia con la que
cuenta hoy, se dice que, la infancia es uno de los periodos más peculiares en la vida
del ser humano, e incluso es definida por los diccionarios como la fase comprendida
entre el nacimiento y la pubertad112, o como relata Mauad (1999):
La infancia era la primera edad de la vida y se demarcaba por la ausencia de habla imperfecta, situándose en el periodo que va del nacimiento a los tres años de edad. Era seguida por la pubertad, fase de la vida que iba de los tres a los cuatro años de edad hasta los diez o doce años” (p.140)
A continuación se exponen las reflexiones iniciales de una investigación que
viene siendo adelantada, en la que se evidencian los postulados históricos a cerca de
la concepción de infancia en Brasil y Colombia, específicamente durante la década de
los años setenta, particularmente desde la mirada del Estado hacia la infancia,
generando dos aspectos específicos en los que se pretende reconocer dicha
concepción, el establecimiento de instituciones asignadas a la atención de la infancia
y la consolidación de la educación infantil.
Dentro del marco metodológico se pretende encuadrar determinados métodos
de investigación proponiendo para el presente ejercicio el uso de la historiografía pues
resulta ser una de las herramientas fundamentales para el desempeño del estudio
formulado y teniendo en cuenta que la historia forma parte de la realidad que se
abordará, a este respecto Bloch (1982), menciona “La incomprensión del presente nace
fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es, quizás, menos vano esforzarse por
comprender el pasado si no se sabe nada del presente”. Es entonces que el papel del
investigador que se apoya en el análisis de documental el de captar lo vivo, quedando
112 Cfr. http://www.elcastellano.org/palabra.php?q=infancia: Según el diccionario la palabra Infancia es originaria del latín infans – ntis, que era el participio presente del verbo fari “hablar”, ósea que infans significaba literalmente no hablante.
212
en cuestión la capacidad de reinterpretar las fuentes a analizar, llegando a desentrañar
su linealidad y hacer una relectura que aporte a la comprensión del objeto de estudio.
El tema de la infancia ha sido una de las reflexiones constantes durante mi
formación y desempeño profesional, en la cual he evidenciado la importancia de
conocer la historia y el reconocimiento a la niñez como una de las etapas
fundamentales dentro de cualquier cultura, en el desarrollo de las políticas educativas
y el impacto histórico que ha tenido la concepción de infancia, influyendo sobre la
noción que se tiene de la misma en cada cultura, y es que para entender el significado
de infancia a lo largo de la historia, se hace necesario saber que la niñez siempre ha
estado inmersa dentro de un tipo de formación social determinada, y que debe ser
analizada dentro de la sociedad que esta inmersa, llegando a una confrontación
histórica sobre la evolución tanto de la concepción de infancia como de la legislación
que la afecta.
Por lo cual, una de las tareas a desarrollar a través de esta investigación es
comprender el pasado por el presente, reconocer el proceso histórico de la concepción
de infancia que se dio desde el proceso colonial en países como Brasil y Colombia,
pasando desde el reconocimiento de las diferencias y semejanzas desde el proceso
colonial hasta la constitución como naciones y la conformación de su identidad y el papel
que se le dio a la infancia en todo este proceso hasta hoy con la constitución de las
políticas publicas y educacionales que buscan garantizar que sean concebidos como
sujetos de derechos con un protagonismo marcado en la agenda política de cada
nación. García (2009)
De este modo, la recolección de información para la construcción del estudio
comparativo en torno a la concepción histórica de infancia en Brasil y Colombia será
fundamental y estará dentro de los principios de la investigación bibliográfica y
documental a través de la recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de
contenido del material impreso y gráfico, físico y/o virtual siendo este la principal fuente
teórica y conceptual de la investigación.
En este orden de ideas, el objetivo es reconocer el proceso histórico de la
concepción de infancia, considerando las relaciones históricas, culturales y políticas
que producen diferentes transformaciones en la construcción de la visión de niñez,
priorizando en las diferentes nociones que surgieron de los niños y las niñas en el
transcurso de la historia del Brasil y de Colombia y el significado dado a la niñez desde
las representaciones que los adultos fueron construyendo de los niños en sus
relaciones con éstos, a este respecto Kramer (1992) menciona que los niños son
213
sujetos sociales e históricos, marcados por las contradicciones de las sociedades en
las que se encuentran inmersos. (P. 2)
El concepto de infancia en la actualidad no puede estar desvinculado de la
historia, ni de las diferentes visiones en torno a la niñez y su contribución a su
condición actual, es decir, el concepto de infancia se ha ido construyendo
históricamente y a su vez piensa en el papel del adulto en los diferentes periodos de
su evolución.
Así mismo Pollock (1990), citando a Àries define el concepto de niñez como una
percepción de la naturaleza particular de la niñez, esa naturaleza particular que
distingue al niño del adulto; al tratar de dar un concepto de niñez nos encontramos
inicialmente en oposición a la noción de adulto, pues el factor edad generalmente esta
asociado a determinadas tareas o funciones desempeñadas, estas tareas están
determinadas en ocasiones por las clase social en la que se encuentra el niño, junto
con su participación en el proceso productivo, el tiempo de escolarización, los
procesos de socialización al interior de su grupo familiar o comunidad, las actividades
cotidianas como son los juegos, los roles, y por último la posición que desempeña en
la estructura familiar.
El estudio y la reflexión histórica de la concepción de infancia tanto en
Colombia como en Brasil hace posible la búsqueda sobre la vida de los niños en este
tiempo y espacio, revisando el papel desempeñado por las diferentes agencias que
surgieron para atención, cuidado y protección de la niñez, en el caso de Brasil, el
Servicio de asistencia al Menor (SAM) y la Fundación Nacional del Bienestar al Menor
(FNBEM) y para el estudio de Colombia con la creación del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF).
El concepto infancia es expresión y da cuenta de las elaboraciones que se hacen
en determinados contextos culturales; tiene su historia, su inscripción, y las asociaciones
que se le adhieren, la infancia, como categoría, se caracteriza por ser histórica y social,
construida junto y desde los grupos humanos, pero, además, determinada por quienes
abordan su estudio desde sus diversas formas de comprensión de la realidad dentro de
un proyecto de sociedad que se enmarca en una época particular.
La noción cultural de la infancia se encuentra permeada por las prácticas
sociales y políticas, en las que se definen las formas de pensar y actuar con relación a
los niños y niñas, de igual forma la manera como éstos se entienden a sí mismos y entre
ellos, siendo este último elemento la clave en la diferenciación del mundo adulto e
214
infantil, “La infancia no era otra cosa que un preludio biológicamente necesario al mundo
adulto y socialmente importantísimo de los negocios”. Aunque se amaba a los niños, se
les tenia como propiedad de sus padres y como adultos en miniatura..” (Àries, como se
citó en Pollock, 1990,).
A demás, no sólo se trata de cómo los niños son acogidos y pensados por los
adultos sino, también, de la forma como ellos se apropian, entienden y se relacionan
con el mundo social y cultural que los recibe. Reconocer la infancia como una
construcción social y cultural que se encuentra inmersa en la historia, nos lleva a
entender que ella es una noción que corresponde a unas determinadas
representaciones que se hacen a partir de nuestras experiencias cotidianas con los
niños y niñas, así como las diferentes prácticas y discursos que alimentan el campo de
reflexión en torno a la conceptualización y sus transformaciones de la infancia.
Estudios como los realizados por Àries buscan hacer visible el cambio de
actitud del adulto frente a la concepción de infancia en el transcurso de la historia,
concepción que sigue cambiando aún de manera lenta y en ocasiones imperceptible
para nosotros.
En Colombia, la concepción de infancia del periodo colonial no tuvo mucha
diferencia a la visión que se tenía de la misma Europa durante el siglo XVII, según Pollok
(1990) cuando menciona que a los niños se les vestía igual a los adultos, sin embargo
son pocas las evidencias que se tienen de la vida de los niños en este periodo, en el
que predominarían la población joven, familias poco numerosas, ya que desde 1680 las
leyes de Indias prohibieron que los funcionarios de la Corona Española se casaran con
integrantes de las comunidades bajo su autoridad, pero ante la fala de mujeres blancas
se comienza a presentar una mezcla con las indígenas, lo que da origen al proceso de
mestizaje. (Londoño y Londoño, 2013)
Por ende para el caso de Brasil, la concepción de infancia en su historia,
esta influenciada por su colonización en los inicios del siglo XVI, de acuerdo a lo que
menciona Bernartt (2009), durante esta fase el Brasil pasa por un proceso de
poblamiento en los que participan los inmigrantes sus hijos y los otros niños reclutados
por la corona portuguesa, entre los que se encontraban los niños pobres y los huérfanos,
llamados “órfãs do rei”.
Según Lopes (2005), los niños inmigrantes portugueses vivieron una difícil y cruel
realidad, las dificultades comenzaban en las embarcaciones que traían estos
inmigrantes, donde los niños, una vez a bordo, estaban expuestos a las penosas
215
condiciones del viaje. Los niños, según su condición social o protección eran sometidos
a trabajos pesados y muchas veces destinados a sobrevivir en pésimas condiciones, no
resistían los castigos y abusos recibidos. Para el siglo XVII la concepción de infancia se
ve influenciada por las diferencias económicas que desde temprano impusieron diversas
formas de tratamiento a los niños.
Ya en la modernidad las condiciones de los niños pobres y desvalidos fue
quedando mas visible, principalmente a partir del siglo XVIII con el fortalecimiento de la
sociedad industrial, continuando con Bernartt (2009) desde ese momento aparecen en
Brasil las primeras iniciativas de atención a la niñez abandonada, con la creación de las
Rodas dos Expostos nas Santas Casas de Misericórdia; estas eran un espacio en que
los bebes podían ser dejados y entregados en caridad sin que la madre fuera
identificada. La misma práctica será desarrollada en Colombia, si el recién nacido era
fruto de una relación ilícita o tenia alguna malformación o si por cuestiones económicas
o sociales, se tenían dos opciones, el infanticidio o el abandono, llamado entonces
“exposición, para disminuir los casos de infanticidio los infantes comenzaron a ser
recibidos en las casas de expósitos. (Londoño y Londoño, 2013)
Para finales del siglo XIX, la concepción que se tenía de infancia en el Brasil,
que era resultado de religión cristiana europea, en la que se resaltaba su pureza e
inocencia, va a cambiar de manera significativa, según relata RIZZINI (1997):
“La niñez era concebida como una “alma cándida”, “un angelito” libre de los pecados humanos será substituida por otra, producto de una concepción científica racional del mundo, a partir de la cual la “célula del vicio” podía serle transmitido momentos antes de nacer. (p.34)
El concepto de niño de comienzos del siglo en tanto en Colombia como en Brasil,
era entendido como: el niño demoníaco o divino, ángel o demonio, pero ya para
mediados de siglo (1930-1950) se empieza a entender al niño como un ser humano que
con necesidades propias que hay que respetar, con necesidad de espacio propio que
hay que otorgarle, como ser potencial que pueda desarrollarse si se le da el medio
adecuado para que lo haga. Se descubre en la infancia un potencial oculto hasta ahora,
y que consistía en su capacidad de moldearse para bien o para mal, dicho potencial se
evidenciaba en las declaraciones y publicaciones de la elite intelectual y política, eran
personajes que apuntaban su discurso a la necesidad de atender a la infancia que se
encontraba moralmente abandonada y expuesta a la influencia negativa de familias
viciosas o que terminarían en instituciones de caridad, el propósito principal era, ‘salvar
a criança’ para transformar el Brasil. (Rizzini, 1997)
216
A comienzos del siglo XX la sociedad colombiana estuvo influenciada bajo la
organización militar y religiosa. La niñez participaba de desfiles al estilo militar y de
procesiones al estilo religioso. Se le veía en los parques envuelta en vestidos
“seudomilitares” o vestidos religiosos que reflejaban promesas hechas en momentos de
peligro de muerte. El niño jugaba a la guerra, pero también jugaba a bautizos y entierros.
El niño, en las primeras décadas, apenas sí sobrevivía y cuando lo hacía tenía que
someterse en cuerpo y alma a la autoridad. (Alzate )
Según Rizzini (1997), fue a inicios del siglo XX que la preocupación con la
infancia en el Brasil gano nuevos paradigmas, nuevos horizontes, pues la concepción
de infancia y principalmente de los infantes paso a ser un problema social, trabajando
como proyección del futuro del país, según lo menciona “La niñez deja de ocupar una
posición secundaria y de poca importancia en la familia y la sociedad y pasa a ser
percibida como valioso patrimonio de una nación, como una “llave para el
futuro…”(P,25). De la concepción del niño como adulto en miniatura, en el siglo XX se
pasa a considerar la infancia como una etapa característica de la vida, valorada en
términos del futuro y esperanza de la nación, se reconoce como la época donde se
forma al ciudadano y al futuro trabajador, para ese entonces el niño comienza a
entenderse como menciona Londoño (2103) “el hombre del mañana y responsable del
bien futuro”.( P, 105).
En Colombia, para 1960 a través de la nueva legislación comienza a dársele a
la familia un nuevo rumbo, ya que por medio de nuevas normas se hace énfasis en la
protección de la familia y la niñez, específicamente con la ley 140 de 1960, se modifica
el Código Civil, con respecto a las adopciones y con la expedición del decreto 1868 del
mismo año se crea el Consejo Colombiano de Protección Social del Menor y la Familia,
con autoridad en todo el territorio nacional y con sede en Bogotá, adscrito al Ministerio
de Justicia. (ICBF, 1986)
Durante los años 60 y 70 el carácter autoritario y excluyente van a distinguir las
políticas para la infancia en el Brasil, un caso es el golpe militar de 1964, de igual forma
se presenta una serie de reclamos sobre la eficacia del Servicio de Asistencia de
Menores (SAM)113, por lo cual será cerrado y en su lugar se crea la Fundação Nacional
113 Con la promulgación del nuevo código penal de 1940 en Brasil, se intensifican las reivindicaciones en por de la reformulación de las políticas publicas dirigidas a la atención de menores, presentándose entonces una actualización al código de menores en el que se prioriza mas en su carácter social que punitivo, un año después se crearía o Serviço de assistência a Menores (SAM), su objetivo fue la organización de la atención, la realización de estudios sobre los menores y las formas de tratamiento a los mismos. Durante la década de los años 40 y 50 se presentan debates dirigidos a la reformulación del Código del Menor buscando establecer un
217
do Bem-estar do Menor (FUNABEM (01/12/1964), la cual según Faleiros, (1995),
“entretanto desarticulou o movimento que propunha um atendimento menos repressivo,
uma estratégia integrativa e voltada para a família, uma vez que, o novo ordenamento
institucional reverteu todos os propósitos educativos e integrativos propostos por lei ao
novo órgão”. (P, 81)
En este periodo la niñez abandonada pasa a ser analizada como factor para el
desarrollo, puesto que se tenia como intensión el tornar al Brasil como una de las
potencias mundiales, la verdadera preocupación no era el bienestar de las niños y niñas,
sino hacer contención a los jóvenes que colocaban en riesgo la seguridad y el desarrollo
del país. (Lage e Rosa, 2011).
En el mismo tiempo del golpe político que dio inicio a la dictadura militar, se registra
en el Brasil una iniciativa inesperada con respecto a la atención a los menores, es la
primera vez que el gobierno federal planifica acciones concretas a nivel nacional, con la
creación de la FUNABEM, se implementa la política nacional del bienestar del menor, a
través de directrices políticas y técnicas. El texto publicado por la FUNABEM sobre las
Orientaciones y Normas para la Aplicación de la Política de Bienestar Infantil, hace una
opción dedicada para los niños y adolescentes pobres, basado en la perspectiva de
bienestar, el campo de acción de la FUNABEM serán esos sectores de la población que
no son atendidos por los esfuerzos corrientes del Estado para ofrecer las condiciones
necesarias de bienestar o porque no se cuenta con los recursos que permiten cubrir las
necesidades de todos los sectores de la población, o por carencias de orden
socioeconómico y cultural. Su objeto de atención será los sectores de la población de
menor edad que es objeto de marginalización, abandono, exploración y conductas
antisocial.
El sustento ideológico de la política nacional de Bienestar del menor, era la de
garantizar la seguridad nacional, con un fuerte contenido represivo ya que se pensaba
que los grupos de menores marginales colocarían en riesgo el orden publico, ya que
eran participes de crímenes y acciones delictivas, de igual manera en el plano
discursivo, se enfatizaba en la valorización de la vida familiar y el reintegro del menor a
la sociedad, por eso la internación del menor sólo podría ocurrir en el último caso, como
una manera de interrumpir el ciclo creciente de la marginalización consecuente del
sistema de atención mas eficaz para los niños, niñas y adolescentes, pero el golpe de estado de 1964, acabaría con todas las propuestas. (Abreu e Frota 2006).
218
proceso de empobrecimiento de la población brasilera. (RIZZINI, 2004)
Sin embargo, aunque el discurso de la Política nacional del bienestar era la de
evitar la internación de los menores, en realidad, se instaura una intensa y antigua
practica de recolección de los niños y niñas en las calles, independiente de que hayan
o no cometido algún acto ilícito, ya que además de ser considerados como portadores
de una conducta antisocial, la cual era reforzada a través del trato al que eran sometidos,
siendo, generalmente retenidos y afastados de su medio, ubicados en instituciones y
separados de su familias. (RIZZINI 2004)
A partir de 1966 comienza una discusión sobre la familia en Colombia, y en este
contexto familiar se reflexiona en torno a la educación preescolar, vislumbrando las
ventajas de una iniciación temprana en los procesos de lectura y escritura en el niño. La
sociedad del momento comienza a comprender qué, es a través del juego que el niño
ejercita sus capacidades física y mentales, manifestando sus intereses y conociendo el
medio que lo rodea; como resultado de estas nuevas prácticas de crianza, en donde el
niño pasa a ser contemplado de otra manera por parte de los adultos.
Uno de los acontecimientos mas representativos para el tema de la infancia es
la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de la Ley 75
sancionada el 5 de diciembre de 1968, la finalidad de esta ley fue la creación de las
respectivas normas sobre filiación, dejando claro que a partir de este momento seria el
ICBF la agencia encargada de gestionar todos los temas concernientes “al bienestar
material como al desarrollo físico y mental de los niños y el mejoramiento moral de los
núcleos familiares”(ICBF). Siendo el único ente encargado de dichos asuntos en
Colombia. Con el nacimiento de la nueva Ley, se pretende dar respuesta a uno de los
problemas que afectaban a la sociedad colombiana, en palabras de Jiménez (2012),
“(…) de los huérfanos adúlteros sin autoría de su vida, condenados injustamente a
expurgar culpas de otros, y fue una iniciativa explícita para la protección de la familia.”
Del mismo modo el ICBF, integró la División de Menores del Ministerio de Justicia
y el Instituto Nacional de Salud, dando con ello lugar a la primera expresión de voluntad
política para proteger a quienes se reconocían como “menores en situación. Las
competencias que asumieron el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el ICBF por
esta época abrieron una historia paralela en la atención a la primera infancia: por un
lado, el Ministerio, atendiendo a la organización del sistema educativo, mostró vocación
hacia la educación preescolar de tipo asistencialista y centró sus esfuerzos en la
construcción de propuestas pedagógicas y curriculares que aportaran al desarrollo y
formación integral de las niñas y los niños.
219
Una forma de legitimar la práctica de la internación de menores, situación que
se presentaba desde el tiempo en que se inicia las políticas de asistencia a la infancia
en el Brasil, por eso era normal la visión estigmatizante con relación a la familia, vista
como desorganizada, incapaz de educar a sus hijos, la disfunción familiar era observada
con indiferencia e insensibilidad, para 1976 la crisis del modelo asistencial comenzó a
ser debatida a nivel político, el Congreso Nacional va a instaurar una comisión para
evaluar el desempeño de dichas políticas, su resultado será peor a los resultados
encontrados con la institución antecesora SAM, se establece prioridad a la “Operación
Sobrevivencia” a través de la cual seria reiterada la práctica de recoger a los menores
que deambulan por las calles de las principales ciudades, densas de marginalización
social. (Fachinetto 2008)
Otro de los factores interesantes es el empoderamiento de las instituciones de
educación infantil que están relacionadas con las modificaciones que sufre la sociedad
cuando la mujer comienza a incursionar en el mundo laboral, por esta razón se destaca
que será a partir de 1974 que las acciones del gobierno federal se centraran en la
educación de la primera infancia a lo que se denominara educación pre escolar, aspecto
evidenciado con la creación de la Coordenação de Educação Pré-Escolar
(MEC/COEPRE). Kramer, (2006), a este respecto menciona:
“A pesar de las equivocaciones de las propuestas compensatorias, ellas tuvieron en la década de los 70 el papel de impulsar el debate sobre las funciones y currículos del pre escolar, relacionando pre- escuela y escuela primaria. Pero la creación de la Coordinación de Educación Pre escolar COEPRE y el énfasis en el pre escolar se dieron en un contexto en que el discurso oficial apuntaba al pre escolar como necesidad. (p, 801)
La concepción de la educación infantil que predominaba en los años 70 en el
Brasil, según las políticas publicas educativas destinadas a los niños y niñas de 0 a seis
años era la de una educación compensatoria, en la que se tenia como presupuesto la
teoría de la privación cultural, es decir, que los niños y niñas de las clases populares o
pobres fracasaban porque presentaban desventajas socioculturales, o sea, carencias
de orden social, una serie de perturbaciones de tipo intelectual, lingüístico o afectivo,
por tanto la educación compensatoria objetiva la compensación de esas carencias
culturales, de manera que se prioriza en la ampliación del acceso a la educación infantil
demarcado por la baja calidad y la intensificación de los procesos de exclusión, pues se
diseñaba una educación infantil pobre destinada a los pobres, una pre- escuela de
masificación. (Rosemberg, 1992). (Cortelini, 2013)
220
Esta propuesta de educación pre-escolar de masa, se convertirá en una de las
propuestas que el Ministerios de Educación del Brasil presentara como modelo nacional
de atención al pre escolar en 1975, luego será retomado a través del Proyecto Casulo
de 1977, en este momento el ministerio de educación desarrolla acciones para difundir
la propuesta de educación pre escolar, es así que en el II Plano Setorial de Educaçao e
Cultura PSEC (1975/79) se destina todo el esfuerzo para la difusión y el fortalecimiento
de la porpuesta en los Estados desde la creación de un aparato administrativo para su
implementación. (Rosemberg, 1992)
Rosemberg (1992) menciona lo siguiente:
“El II PSEC concibe la educación pre- escolar en la perspectiva de la compensación de las carencias populares pobres observando su inserción en la escolaridad formal. El objetivo en cuento a la educación pre escolar consistirá en “desarrollar un proceso progresivo para la atención a las poblaciones urbanas marginales, en la epata de los 4 a 6 años, de manera que permita asegurar una mayor adaptación socio-pedagógica del educando a la enseñanza regular” (Brasil, 1977b, p.35). Este objetivo se operacionalizo en metas que permitían la realización de experiencias de educación pre-escolar informales, la realización de cursos, seminarios, practicas y el estimulo a la creación de mecanismos administrativos de coordinación y ejecución a nivel estadual (Brasil, 1977b, p. 39). (P, 26)
En 1979, surge un nuevo código de menores, que revocará al código de 1927, mantuvo
la política filantrópica y asistencialista del código 1927, en este nuevo código no se
usaran las palabras abandono y delincuente, sino que las va a categorizar como doctrina
del menor en situación irregular, es importante resaltar que esta situación irregular
también contempla la situación de los padres que no tienen condiciones esenciales para
ofrecerle una adecuada subsistencia a sus hijos, no sólo en lo moral sino en lo
económico, la ley de menores era un instrumento de control social de la infancia y del
adolescente quienes sufrían las consecuencias de las omisiones frente a sus derechos,
este código no respondía a la prevención, sino que atendía a la infracción cometida.
(Nascimento, 2002)
A finales de los 70 se presenta un crecimiento en los movimientos populares en
detrimento de las políticas sociales implementadas, uno de esas organizaciones fue el
“Movimento de Luta por Creches”, exigiendo la participación del estado en la creación y
manutención de esas instituciones, a partir de estas exigencias surge una nueva visión
sobre la niñez y la educación infantil, se deja de ver a los niños como objetos de caridad
y pasan a ser vistos como ciudadanos con derechos asegurados por la Constitución y
la educación infantil será reconocida por el Estado como un derecho a ser ofertado a
través de las “creches” y pré- escolas para todos los niños y niñas de cero a seis años.
La infancia es el resultado de una combinación entre lo biológico y el medio en que vive,
221
considerando que los primeros años de vida son determinantes en la formación de la
personalidad de los niños, según Santana (2011), “el estado de carencia alimentar,
afectiva, medica y sociocultural en que vivian millares de niños y niñas brasileros y el
alto índice de mortalidad infantil el gobierno se compromete a ofrecer asistencia social
a los niños y niñas menores de siete años a través de la Educación Pre- escolar. (P 8)
Para 1980, la concepción de infancia empezó a construirse desde diferentes
áreas de atención, lo que se recalca en el articulo 227 de la Constitución de 1988, desde
los principios básicos de la Declaración de los derechos del niño y ratificados por el
estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), el niño y el adolescente pasaron de ser
meros destinatarios de las ordenes de los adultos a ser sujetos de derechos; la infancia
hoy es el resultado de constantes transformaciones socioculturales.
En Colombia, antes de los años 70 no existían modelos estatales de atención y
educación pre-escolar para la población menor de 7 años, de manera que una misión
de la Organización Mundial de la Salud, hace la sugerencia al gobierno de establecer
un programa dirigido a la atención “integral” de los niños en edad pre-escolar y que a la
vez promoviera “la estabilidad de la familia”. El programa es implementado a través del
ICBF y observaba la coordinación de los servicios de nutrición, salud, educación,
promoción social, y protección legal, y dirigiéndose a los sectores más pobres de
ciudades y campos.
Dentro de las políticas implementadas para controlar el devenir social y favorecer
el desarrollo del país, fue el control y la protección de la familia, por eso el ICBF es
entonces una de las respuestas oportunas y eficaces para esta tarea, ya que desde su
concepción se va a proyectar como una de las instituciones pionera y responsable de
sacar adelante todo lo referente a las políticas en materia de protección a la infancia,
esto sin embargo permite vislumbrar la situación en que la familia como institución
estaba afrontando, situación que afecta de manera directa a la infancia, como menciona
Jiménez (2012):
“La ley de la patria potestad y el nacimiento del ICBF fueron la expresión normativa e institucional de una práctica social que daba cuenta de un tipo de familia fragmentada y en peligro, y de una infancia natural, excluida y “pelafustana”, que ya era parte del imaginario colectivo en las grandes ciudades colombianas. La situación trajo como resultado la individualización del niño en situación de riesgo social y la constitución de una serie de prácticas y discursos que apuntaban a su especificidad” (P55)
En los años setenta la infancia se asocia con la norma, es importante cumplir
ciertas pautas de protección para que el niño pueda ser cuidado y protegido físicamente;
222
hay una preocupación por su estado físico, evitando situaciones de peligro en la casa,
la escuela y la ciudad, lo anterior lo confirma Álzate, cuando expone que: “La infancia
como niño debe auto conocerse, debe ser vacunado, llevado al médico, es decir,
protegerse pues es promesa de futuro”. (Álzate, 2004)
Hasta mediados de los años 70, la concepción de familia e infancia que
sobresalía en la sociedad colombiana, estaban enmarcadas por la convivencia y las
diferentes relaciones que llevaron a la individualización del niño la cual según Jiménez
(2012) “debe ser vista como una parte de una transformación que es ajena al control de
las personas e incrementa la separación y diferenciación de las relaciones mutuas en el
proceso social particular”. Lo que se presenta como un creciente proceso de
individualización es al mismo tiempo de civilización, el individuo deja de pertenecer a las
pequeñas unidades sociales para integrarse paulatinamente a las grandes
organizaciones. (p, 55).
El menor delincuente se convertirá para el ICBF en un tema fundamental, por
eso la biopolítica de la infancia estaría entonces acompañada por el continuo proceso
de individualización del niño, lo que va a influenciar en la concepción de la infancia, en
los años 70, haciéndose énfasis en la patología social, en el niño ”anormal” y el excluido,
en el hijo natural, el niño pobre, el pelafustán, el gamín, con respecto a lo anterior,
Jiménez (2012), presenta una definición de infancia: “fue considerada como un periodo
de vital importancia en el aprendizaje de los valores, las actitudes y los comportamientos
que permiten a la persona convivir de manera sana y armoniosa; y de ahí se desprendió
una preocupación directa por su entorno familiar”. (P, 58).
En este momento la política colombiana en torno al bienestar de la familia y la
infancia se había propuesto generar las condiciones necesarias para combatir y atacar
la marginalidad con respecto al desarrollo del menor y el mejoramiento de la vida
familiar. Para el ICBF una de las responsabilidades era atender a una política nutricional
y alimentaria en procura de la promoción de la familia y la comunidad, lo que conlleva a
que el área de mayor prioridad en lo referente a la infancia sea el desarrollo biológico,
psicológico, y social del menor desde su concepción hasta los siete años de vida, como
refuerzo a sus políticas el ICBF le da prioridad a la niñez con carencia de oportunidades
lo que garantizará su desarrollo en las dimensiones mencionadas. (Jiménez, 2012)
Para este momento se dejaba claro que el bienestar de la niñez no era tarea
exclusiva de la familia, sino que era una responsabilidad compartida entre familia y
sociedad, puesto que para el Estado colombiano las acciones directas sobre la familia
223
eran fundamentales, sobre todo en lo que respecta al desarrollo biológico, psicosocial e
intelectual del niño, específicamente como su preparación para el ingreso a la escuela.
Con la Ley 27 de 1974114 se ordena entonces la creación de los Centros de
Atención Integral al Preescolar, CAIP, eran centros de atención y cuidado a los niños
menores de 7 años, hijos de madres trabajadoras, iniciando así un proceso de
educación pre-escolar, su objetivo era ofrecer atención integral a la niñez, básicamente
atendía a los empleados de clase media, y sólo por extensión a los núcleos de población
más pobre a los que se orientaban los Centros Comunitarios para la Infancia CCI; de
esta forma el ICBF tendió a desviarse de lo que constituye su población objetivo: los
grupos de población más pobre y vulnerable. (Malaver y Serrano 1996)
Los CAIPs, son instituciones de orientación asistencialista, desde su inicio, al
respecto Cerda (1989) menciona:
“En sus comienzos, la ausencia de la provisión educativa en los programas de los Caips, cuyas actividades estaban centradas principalmente en aspectos nutricionales, salud y sociales del niño, se entró a justificar afirmándose que antes de educar al niño había que alimentarlo, protegerlo de los peligros del medio social y darle un hogar. Un niño desnutrido, desprivado social y afectivamente, enfermo y físicamente débil, es un niño condenado al fracaso escolar y un candidato fijo al retraso mental e intelectual.” (P, 139)
La promulgación de la ley 27, genera una serie de inconvenientes dentro de los
cuales se resalta carencia de personal humano y técnico preparado para poner en
practica los programas que los CAIPs debían ejecutar, lo que lleva a percibir una
improvisación y falta de liderazgo en el manejo y planeación de estos centros, lo que
terminaría con la derogación de dicha ley, en su reemplazo se promulga la ley 7 de 1979
ya que se plantea la necesidad de vincular más la atención al niño pre escolar al medio
familiar, creando el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Entre 1974 y 1978, la política orientada a la familia esta delimitada en el Plan de
desarrollo “Para Cerrar la Brecha”, que introduce a la política un enfoque redistributivo
al plantear mediante el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición PAN, las acciones
para favorecer la nutrición de la población pobre, otorgando un énfasis particular a la
población infantil.
114 Antes de la Ley 27 de 1974, el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 245 ordenaba que todo empleador que superara 50 empleados debía abrir una sala cuna para brindarle a atención a los hijos de sus empleados, sin embargo como registra Cerda, esto trajo inconvenientes entre el sector privado y el Estado colombiano puesto que este último careció de fuerza y voluntad para hacer cumplir lo establecido en el CST, lo que llevó a la creación de la mencionada Ley. CERDA (1986, P 44)
224
La educación pre escolar, será incluida en el sistema de educación formal
Colombiano con el decreto 008 de 1976, en el se va a proponen dos grados no
obligatorios, este nivel tendrá como objetivo “promover y estimular el desarrollo físico,
afectivo y espiritual del niño y la niña menor de seis años, su integración social, su
percepción sensible y el aprestamiento para las actividades escolares en acción
coordinada con los padres y la comunidad” (Decreto No. 088 de 1976).
La educación preescolar dentro del sistema educativo se va a fundamentar en la
concepción de atención integral a la niñez, buscando mejorar las condiciones de vida
de los niños y niñas con participación de la familia y la comunidad, los niños y niñas
serán el centro del proceso educativo, puesto que además de no ser obligatorios los
grados, no se establecen áreas de estudio. El currículo para este nivel de formación
comienza a gestarse durante 1977 y 1978, cuando por primera vez se toma conciencia
sobre la necesidad de establecer unos parámetros que permitieran orientar, regular, y
organizar la tarea pedagógica a implementarse. CERDA (1986)
De 1978 hasta 1982, se desarrolla la política Nacional de atención a la infancia
centrando su acción al cuidado de los niños y niñas menores de 7 años desde dos
aspectos, la situación de la salud y los procesos de socialización.
Para concluir uno de los propósitos del presente estudio descriptivo documental
entre Brasil y Colombia, surge por el papel desempeñado por Brasil en la construcción
y aplicación de las políticas publicas y la riqueza que ofrece al aprender con esta
experiencia, con lo que Álzate (2003) profundiza: “Brasil cambió el rumbo “natural” de la
historia, desatando un proceso absolutamente inédito en la tradición socio-jurídica de la
región: la producción democrático participativa del derecho, en este caso, de un nuevo
derecho para la infancia. (P, 179)
Con este estudio, se pretende reconocer el impacto de la historia sobre la
concepción que actualmente se tiene de la infancia para la construcción de las políticas
publicas que la favorecen. El análisis histórico de estos países, a demás de permitirnos
destacar las diferencias y semejanzas dentro de su proceso histórico y cultural que
permiten vislumbrar la conexión intima entre los problemas de la infancia y las diferentes
estrategias de atención a estas cuestiones, que surgen desde las políticas de atención
a la infancia y que están modificando la concepción que se tiene de la misma.
No hay por tanto una infancia única, igual para todos los niños ni para los que
viven en un mismo periodo histórico, un país, ciudad, barrio, calle o casa. Ni todos viven
de la misma manera con respecto a las condiciones socio-culturales y económicas.
225
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ABREU, M., & FROTA, M. A. (1997). Olhares sobre a Criança no Brasil: Perspectivas Históricas. En R. Irene, & E. E. Agra (Ed.), Olhares sobre a Criança no Brasil - Séculos XIX E XX (pág. 200). Rio de Janeiro , Rio de Janeiro , Brasil : Editora Universitária Santa Úrsula e Amais .
AHMAD, L. A. (2009). Um breve Histórico da Infância e da Instituição de Educação Infantil. São Paulo, São Paulo, Brasil: p.eletrônica.
ALVES, D. A. (2008). Infância e Direito à Educação. En G. T. Eduardo C.B. Bittar (Ed.), DEMOCRACIA E EDUCAÇAO EM DIREITOS HUMANOS NUMA ÉPOCA DE INSEGURANÇA (pág. 317). Brasilia, Brasilia, Brasil: Selos da Editora da UFPB e da ANHEP.
ALZATE, P. M. (2003). LA INFANCIA: CONCEPCIONES Y PERSPECTIVAS. Pereira, Risaralda, Colombia: Papiro.
____________. (2004). Entre la higiene y el alumno, La concepción pedagógica de la infancia en los textos escolares de ciencias sociales de la educación básica primaria Colombia (Grados 1º, 2º y 3º,) entre 1960 y 1999. Revista de Ciencias Humanas UTP (34).
BERNARTT, R. M. (29 de octubre de 2009). A INFÂNCIA A PARTIR DE UM OLHAR SÓCIO-HISTÓRICO. Recuperado el 20 de jul. de 2014, de http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/apresentacao.html: http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/autores_a.html
BLOCH, M. (1982). INTRODUCCIÓN a la Historia (Primera reimpresión en Argentina ed.). (P. G. AUB, Trad.) Buenos Aires , Argentina: Fondo de Cultura Económica .
BRASIL, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Diretrizes e Normas para Aplicação da Política do Bem-Estar do Menor Rio de Janeiro: Coordenadoria de Comunicação Social, 1966. P. 15.
CORTELINI, M. C. (27-30 de Maio de 2013). Infância e Políticas de educação infantil: concepções que permeiam os textos legais . Infância e Políticas de educação infantil: concepções que permeiam os textos legais , 12. Recife , Brasil : Anpae.
elcastellano.org. (s.f.). http://www.elcastellano.org. (R. Soca, Productor) Recuperado el 20 de jul. de 2014, de www.elcastellano.org/index.hmt: http://www.elcastellano.org/palabra.php?q=infancia
ELLIOTT, J. H. (10 de May de 1991). Historia Nacional y Comparada. Historia Nacional y Comparada . (O. U. Press, Ed., & P. Martha, Trad.) Oxford: Clarendon Press.
FALEIROS, V. P. Infância e processo político no Brasil. In: PILOTTI, F.; RIZZINI, I. (Org.). A Arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Interamericano del Niño, 1995. p. 49-98. GARCIA, H. M. (2005). Del nacer y del vivir, Fragmentos para una história de la vida en la Baja Edad Media. Recuperado el 27 de 04 de 2015, de Scielo : http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0327-50942006000100012
226
GARCIA, I. C. (abr. de 2009). La historia o la lectura del tiempo. Recuperado el 20 de Jul. de 2014, de Scielo: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2009000100011&lng=es&nrm=iso>.
GOMES, F. A., & GONDRA, J. G. (2006). Idades da vida, Infância e a racionalidade médico-higiénica em Portugal e no Brasil (séculos XVII -XIX). En R. FERNANDES, A. LOPES, & d. F. MENDES, Para a comprensao histórica da infância (1ª ed., pág. 362). Porto, Porto, Portugal: Campo das letras.
ICBF, I. C. (2006). Colombia Por la Primera Infancia, Politica pública por los niños y niñas, desde la gestación hasta los 6 años. Bogotá, Cundinamarca , Colombia : ICBF.
JIMENEZ, B. A. (2008). Historia de la Infância en Colombia: crianza, juego y socializaçao, 1968-1984. (U. D. Caldas, Ed.) Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura (35).
KRAMER, S. (2006). As crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no Brasil: E/É Fundamental. Revista Educaçao & Sociedade , 27 (96), 797-818.
KUHLMANN, J. M. (2006). Infância e educaçao (1820-1950): comparaçao e classificaçao. En R. FERNANDES, A. LOPES, & d. F. MENDES, Para a comprensao histórica da infância (1ª ed., pág. 362). Porto , Porto , Portugal : Campo das letras .
LAGE, M. T., & ROSA, M. A. (Jan/Jul de 2011). EVOLUÇÃO DA INFÂNCIA NO BRASIL: DO ANONIMATO AO CONSUMISMO. EVOLUÇÃO DA INFÂNCIA NO BRASIL: DO ANONIMATO AO CONSUMISMO , IV . Brasil.
LONDOÑO, V. P., y LONDOÑO, V. S. (oct.-mar de 2012-2013). www.banrepcultural.org. Recuperado el 20 de jul. de 2014, de http://www.banrepcultural.org/huellas-de-la-infancia-en-colombia: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/especiales/los-ni-os-que-fuimos-huellas-de-la-infancia-en-colombia
LOPES, J. J. (05-08 de nov. de 2003). http://www.anped.org.br. Recuperado el 20 de jul. de 2014, de http://26reuniao.anped.org.br: http://26reuniao.anped.org.br/trabalhos/jaderjanermoreiralopes.rtf
MALAVER R. F. & Serrano F. J. O. (1996). El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, ICBF: Un Caso De Gestión Publica. Las Paradojas De Una Evolución Incomprendida. Revista De Ciencias Administrativas Y Sociales, 7, (27-49).
MAUAD, A. M. (1999). A VIDA DAS CRIANÇAS DE ELITE DURANTE O IMPÉRIO. En M. DEL PRIORE, HISTÓRIA DAS CRIANÇAS NO BRASIL (págs. 137-176). Sao Paulo, SP, Brasil: Contexto.
NASCIMENTO, Maria Lívia (organizadora). Pivetes: a produção de infâncias desiguais. Niterói: Intertexto; Rio de Janeiro: Oficina do Autor,2002.
POLLOCK, L. A. (1990). LOS NIÑOS OLVIDADOS Relaciones entre padres e hijos de 1500 a 1900. (F. d. Económica, Ed.) México , México , México: Fondo de Cultura Económica .
PRADO, M. L. (2005). Repensando a História Comparada da América Latina. (L. e. Departamento de História. Faculdade de Filosofía, Ed.) Revista de História , 11-33.
227
RAE. (s.f.). http://www.rae.es. (R. A. Española, Productor) Recuperado el 20 de jul. de 2014, de http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae: http://lema.rae.es/drae/?val=batola
RIZZINI, I. (1997). O SÉCULO PERDIDO: raízes históricas das políticas públicas para a infância no brasil . (A. L. EDITORA, Ed.) Rio de Janeiro , Brasil: Editora Universitária Santa Úrsula.
______.; RIZZINI, Irma. A institucionalização de crianças no Brasil, percurso histórico e desafios do presente. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2004.
RUS, P. J., & PASSONE, E. F. (2010). Políticas sociais de Atendimento às crianças e aos adolescentes no Brasil. (A. f. <http://www.scielo.br/scielo.php?, Ed.) Cadernos de Pesquisa , 40 (140), 649-673.
SCHULTZ, S., & De MORAES, B. S. (2011). A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA AO LONGO DA HISTÓRIA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. LUMIAR: Revista de Ciências Jurídicas, 3 (2), 11.
SOUSA, D. S. (Julho de 2001). Olhares do México e do Brasil sobre a revoluçao mundial: Releituras, ciruclaçao de idéias e conexões do Comunismo soviético entre o PCM e o PCB nas décadas de 1920 e 1930 . Sao Paulo , Sao Paulo , Brasil .
UMBARILA, L. M. (Jun de 2010 ). Contribución del trabajo Social a la Fundación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Bogotá , Cundinamarca , Colombia : Universidad Nacional de Colombia .
CONTRIBUIÇÕES DA INFÂNCIA PARA AS PRÁTICAS EDUCATIVAS
NO CAMPO
Simone de Almeida Evangelista Weitzel115 - UFJF
115 Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de fora – e-mail: [email protected]
228
Dileno Dustan Lucas de Souza116 - UFJF Raiza Dias de Almeida117 - UFJF
Agência Financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES
Resumo
O presente trabalho é fruto de pesquisas desenvolvidas pelo grupo Trabalho,
Movimentos Sociais Populares e Educação – TRAME da Universidade Federal de Juiz
de Fora - UFJF. Este artigo tem o intuito de apresentar a partir das memórias da infância
de professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Santa
Barbara, município de Miradouro - MG, como sua trajetória de vida na infância
contribuíram para sua formação e contribuem hoje para as práticas educativas no
Campo, de maneira a valorizar os conhecimentos e vivências dos sujeitos do Campo na
relação destes com os valores acerca da família, trabalho, manifestações culturais e
registros da vida em comunidade. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo
fazer uma reflexão acerca da valorização da infância das professoras e verificar como
suas práticas contribuem para a valorização da história, cultura, memória e identidade
dos alunos do Campo. A escola Municipal Santa Barbara é aqui pensada como um
espaço educativo que possibilita a ampliação dos conhecimentos dos alunos atrelada à
valorização de sua história de vida. No que tange ao aspecto metodológico, optamos
pelo estudo de caso, para melhor compreender o processo histórico em que se
encerram as práticas aqui discutidas; de modo crítico, visamos construir uma nova
síntese no plano do conhecimento e da ação, representando os diferentes e, às vezes,
conflitantes pontos de vista e, com isso, procurando retratar a realidade em suas
possibilidades relacionais. Utilizamos também das referências bibliográficas para o
embasamento teórico afim de dialogar com autores que discutem sobre o tema
proposto. Partimos da introdução apresentando o histórico do município de Miradouro e
da escola de Santa Barbara, considerando os aspectos geográficos, culturais e sociais
do local estudado. Posteriormente iniciamos a discussão de Educação do Campo
apontando o seu histórico de lutas, conquistas e missões. Em seguida apresentamos
as memórias da infância das professoras. Depois apresentamos as práticas educativas
realizadas pelas professoras juntamente com os seus alunos, fazendo a mesma reflexão
com relação às memórias. E por fim as considerações finais, retratando a importância
da infância e suas memórias, de vivências e cultura no Campo para as práticas
pedagógicas.
Palavras-Chave: Memória e História; Infância; Prática Pedagógica.
INTRODUÇÃO
116 Professor Doutor da Universidade Federal de Juiz de fora. 117 Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de fora.
229
O município de Miradouro o qual desenvolvemos este trabalho, está localizado
na parte norte da Zona da Mata Mineira, nas adjacências territoriais do Parque Estadual
da Serra do Brigadeiro, a 359 km de Belo Horizonte, formado por três distritos e um
povoado: Monte Alverne; Santa Bárbara; Varginha e o Povoado de Serrania, que
apresentam fortes características rurais, com predominância de propriedades baseadas
no trabalho agrícola familiar e agropecuária, vindas do cultivo do café e criação de gado
leiteiro. (BRASIL, 2015).
Essas características propiciaram, juntamente com os Movimentos Sociais do
Campo de Miradouro a criar uma política de Educação do Campo no município a partir
de 2005, o que incentivou e reforçou o trabalho desenvolvido pelas professoras da
educação básica nas escolas, considerando a cultura e trajetória de vida das
professoras, pensando a prática de uma educação do campo para a valorização da
cultura local retratando a importância da infância e suas memórias, vivências e cultura
no Campo para as práticas pedagógicas, na relação destes com os valores acerca da
família, trabalho, manifestações culturais e registros da vida em comunidade.
Destacamos aqui a Escola Municipal Santa Barbara, localizada no distrito de
Santa Barbara em Miradouro – MG, onde concentramos a pesquisa “A Educação Básica
do Campo na escola pública e a participação dos movimentos sociais do campo nas
práticas escolares e não escolares na cidade de Miradouro – MG” com professoras das
séries iniciais do Ensino Fundamental, observado um grande empenho dessas
professoras que procuram desenvolver suas práticas pedagógicas voltadas para
Educação do Campo, utilizando a história, cultura, memória e identidade das
professoras e alunos do Campo, a partir valorização da infância, para as práticas
educativas do Campo.
Um pouco sobre Educação do Campo
A Educação do Campo nasce da luta dos movimentos sociais para combater à
expropriação de terras, contrapondo ao modelo hegemônico que privilegia os interesses
dos grandes proprietários em nosso país, unindo-se a luta pela educação da classe
trabalhadora, compreendendo os processos culturais, as estratégias de socialização e
as relações de trabalho vividas pelos sujeitos do campo em suas lutas cotidianas para
manterem essa identidade como elementos essenciais de seu processo formativo.
(MOLINA; FREITAS, 2011, p. 18-19).
230
Foi através das variadas lutas dos movimentos sociais camponeses que nasceu
a Educação do Campo no Brasil. Para garantir uma educação voltada ao contexto
camponês, o art. 2º da Resolução 01, CNE 03/04/2002, Diretrizes Operacionais para
Educação do Campo, conceitua Educação do Campo, bem como as bases sobre as
quais se fundamenta, como toda ação educativa desenvolvida junto às populações do
campo e fundamenta-se nas práticas sociais constitutivas dessas populações: os seus
conhecimentos, habilidades, sentimentos, valores, modo de ser, de ver, de viver e de
produzir e formas de compartilhar a vida. (BRASIL, 2002).
O que significa educar de acordo com as habilidades, valores, conhecimentos e
vivências dos sujeitos do campo na relação destes com os valores acerca da família, ao
trabalho, às manifestações culturais e movimentos sociais; propiciando a ampliação do
conhecimento para sua formação e preparo como cidadão pleno na sociedade.
A luta por uma Educação do Campo de qualidade tem como sujeitos os
trabalhadores rurais que articularam nos movimentos sociais e sindicais rurais um
processo nacional de luta pela garantia de seus direitos, articulando as exigências do
direito a terra com as lutas pelo direito à educação. (MOLINA; FREITAS, 2011).
Tais conquistas não podem se perder do direito a terra, ao trabalho e à justiça
social apesar de não se falar na última década em avanços nesse aspecto,
permanecendo a luta nos movimentos sociais do campo.
Conforme o art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,
1996) deve ser garantido e oferecido acesso às classes Populares e do Campo ao
conhecimento e à formação promotora de um sujeito crítico e reflexivo, preparado para
enfrentar, à altura, aquele que não respeita sua identidade e luta. Há ainda o art. 7º da
Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes complementares,
normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da
Educação Básica do Campo, resguardando vários direitos escolares às crianças do
campo, entre eles,
[...] oferecer sempre o indispensável apoio pedagógico aos alunos, incluindo condições infraestruturais adequadas, bem como materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto, em conformidade com a realidade local e as diversidades dos povos do campo, com atendimento ao art. 5º das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo [...] mas deverá considerar o processo de diálogo com as comunidades atendidas, respeitados seus valores e sua cultura. (BRASIL, 2008).
231
Nessa perspectiva, é necessário ter escolas preocupadas com o planejamento
dentro da realidade dos alunos e um projeto político-pedagógico vinculadas às causas,
aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo trabalhador do campo. É preciso
garantir de maneira especialmente oportuna que os sujeitos do campo e os Movimentos
Sociais do Campo tenham o direito a igualdade mesmo quando possa parecer que as
diferenças possam os inferiorizar.
Assim, o trabalho realizado na escola deve ser em equipe, de maneira a dialogar
com os alunos, professores e comunidade fazendo com que a cultura e os valores do
campo sejam respeitados, de forma a contribuir na preservação e na transformação de
processos culturais, de relações de trabalho, de relações de gênero, de relações entre
gerações no campo; é importante também refletir e praticar quais saberes possa ajudar
a construir novas relações entre campo e cidade. Além da discussão sobre como e onde
estão sendo produzidos hoje estes diferentes saberes, qual a tarefa da escola em
relação a cada um deles e que saberes especificamente escolares pode ajudar na sua
produção e apropriação cultural. (CALDART, 2004, p.48).
MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE UMA INFÂNCIA NO CAMPO
Visto que infância é considerada o período de crescimento da criança desde o
seu nascimento até adolescência, ou seja, de 0 a 12 anos de idade (BRASIL, 1990),
compreendemos esse período como um dos mais importantes da vida, sendo neste que
se forma a consciência e se encontram grandes memórias e histórias das vivências de
uma cultura e identidade advindas do convívio familiar.
Apreciar a infância a fim de contribuir para a valorização da história, cultura,
memória e identidade das professoras e alunos da Escola Municipal Santa Barbara é
algo de grande importância para as práticas educativas do Campo.
A partir das histórias apresentadas por esses sujeitos sociais, resgatamos
memórias da infância e juventude que recordam vivências da vida no Campo e muitas
vezes demonstram a dura realidade por eles vivida, mas que encontravam no árduo
trabalho rural, sorrisos e uma motivação para sonhar.
Dessa forma, pensar e desenvolver um trabalho que envolva o campo e suas
especificidades, valorizando a cultura local a partir da história de vida desses sujeitos
requer dedicação, envolvimento, conhecimento do meio e dos sujeitos. E é através da
cultura que professores e alunos podem desenvolver uma relação da prática com a
232
realidade permitindo captar a riqueza dos conhecimentos presentes na vida desses
sujeitos expressos na sua linguagem, tradições, memórias e histórias de vida.
Após uma ciranda que realizamos com as professoras, com cantigas de roda,
resgatamos a memória de duas professoras, uma que reconta os momentos da sua
infância onde ouvia mulheres cantarolar durante o trabalho na roça, e outra que
relembra o tempo bom de ser criança.
É um momento que envolve qualquer infância né? Toda vez que a gente, assim, participa de uma ciranda, eu, particularmente, lembro da minha infância, porque na infância a gente brinca muito de ciranda né? O que lembro mais foi o tempo de criança. E da família da gente também, porque, igual eu, nasci na roça. O pessoal na roça, eles fazem isso, eles tão capinando, eles tão trabalhando na lavoura, estão sempre cantando. E a gente ouve muito, principalmente mulheres mais antigas, cantando esse tipo de música, então faz a gente lembrar da vó, né? Das pessoas antigas da família da gente. (LUCENY, Professora e atual Diretora da Escola Municipal Santa Barbara).
Bom, e assim, volto no tempo né, [...] volto na roda que nós
fizemos lá fora. Eu lembro da minha infância e sinto assim, [...]
vamos resgatar né gente a nossa infância, o que a gente fazia,
a nossas rodas, cantigas de rodas, essas brincadeiras antigas
que realmente fizeram parte da nossa infância e que era muito
bom brincar. (EVA, Professora do 5º ano da Escola Municipal
Santa Barbara).
E é esse tempo bom que relembra Eva, e que as ajuda resgatar a infância de
sua época para suas praticas educativas atuais, porque entre lembranças e
rememorações olhamos por um processo histórico lutas, perdas e conquistas quando
suas experiências e memórias são reelaboradas.
Muitas são as lembranças até mesmo do tempo que se passava com a família,
do tempo de brincar e ajudar nos afazeres, pois havia tempo para tudo, como recorda
Rosilene, outra professora que relembrou o seu tempo de criança.
Cê chegava lá em casa de dia, nós estávamos tudo bordando, todo mundo, a mãe na máquina costurando e a gente bordando,
233
que eu aprendi com isso? Eu tinha meu horário de brincar, né, eu não deixei de ser criança, então assim, tudo tem um meio termo, que eu acho que é assim. (Rosilene, Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Santa Barbara).
Luceny, ainda completa com suas recordações de como era árduo o trabalho e
também o quanto era gratificante receber por ele.
Eu fui uma quebradeira de pedra. Na minha rua, e a gente ficava
feliz, porque o único jeito que entrava um dinheiro na casa da
gente era quebrando pedras... A gente machucava os braços
todos, e a gente ficava lá com os pés no chão, com as pernas
abertas, feria as pernas da gente tudo! Mas era uma forma da
gente ter um dinheirinho pra comprar um caderno, comprar um
lápis... Porque a gente, quer dizer, veio de uma família simples...
[...] Nossa, a nossa alegria era quando chegava um caminhão
de pedra na nossa rua, que a gente sabia que a gente ia ter
trabalho naquela semana, sabe? [...] quantas vezes a gente
queria, a gente sonhava... Que criança sonha. Ai eu queria ter
dinheiro pra ter uma blusa igual de fulana, uma roupa igual de
fulana. (LUCENY)
Hoje a vida de nossas crianças tomaram rumos diferentes e sua infância não é
mais carregada de trabalho árduo, como recorda Luceny. Mas podemos perceber que
apesar de árduo, esse trabalho era algo que lhes causava felicidade, pois com o dinheiro
recebido pelo esforço nesse trabalho conquistavam aquilo que desejavam.
A memória do brincar na infância, também é algo muito marcante e que pode
trazer boas recordações, principalmente quando se ganha um brinquedo. Faz parte de
uma conquista, de um sonho e que pode levar a outros como relembra Rosilene.
Eu, assim como acho que a maioria aqui, na minha infância ganhei uma boneca, eu já estava moça. Era meu sonho ter uma boneca. Custei a ter. Mas quando você tem uma meta na sua vida, você tem que correr atrás. Se eu hoje sou Pedagoga é porque eu tive que trabalhar, conseguir ter o meu dinheiro para pagar minha faculdade. Meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. (Rosilene, Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Santa Barbara).
234
O sonho com a tão desejada boneca que só chegou na mocidade, levou Rosilene
a traçar uma meta em sua vida e a conquistar sua formação profissional com seu esforço
e trabalho, se tornando Pedagoga.
Nas memórias de Márcia, o sonho de ser professora vem desde pequena, o qual
ela colocou como meta em sua vida e que hoje aplica em suas práticas pedagógicas e
são apresentados nos trabalhos com seus alunos.
[...] eu sonho desde pequena, né? O sonho de ser professora. Meu pai ganhava um salário mínimo e eu tinha uma meta: ser professora. Então consegui, aos 37 anos de idade, né? Então aqui: realidade, gratidão e oportunidade. Então, hoje eu sou muito grata por isso. [...] aí eu trouxe uma parte do trabalho que eu estou fazendo com os meus meninos, cada letrinha eu trabalho um versinho, uma parlenda, [...] na letra Q aí nós trabalhamos com esse versinho aqui:
“queijo que vem do leite, leite que vem da vaquinha comi queijo e goiabada que veio lá da cozinha.”
As histórias recontadas dos sonhos e desejos na infância contribuem para a
valorização da história, cultura, memória e identidade das professoras e alunos do
Campo, bem como para formação como professoras levando aos alunos seus sonhos
e desenhos realizados, como incentivo para buscar a realização de seus sonhos.
No entanto, ao dialogar com essas professoras e resgatar suas memórias de
uma infância no campo, observamos influência de sua infância nos trabalhos
desenvolvidos com seus alunos, trazendo inúmeras reflexões acerca das práticas
educativas desses sujeitos.
Contribuições para as Práticas Educativas no Campo
Nos muitos trabalhos realizados por essas professoras podemos encontrar o
resgate da memória e história dos alunos assim como elas recordaram de sua infância
e vida no campo.
235
Eva, uma das professoras do 5º ano do Ensino Fundamental apresenta um
trabalho realizado por seus alunos a partir da memória e história local e de suas
vivências na infância.
Estou aqui com uns poemas que meus meninos fizeram que participaram das olimpíadas de português, [...] a gente estava trabalhando a história de Santa Barbara né, ai o tema foi o lugar onde eu vivo, [...] eu gostei muito dos poemas modéstia parte. “Minha Terra Natal meu povoado é legal, sem perigo sem mal, poucas casas muitos animais, povo feliz até demais, o riacho corre ligeiro, cortando meio terreiro, onde nada contente, enquanto não há enchente, durante a semana, a escola é bem legal, pois aprendo e me divirto de um modo especial, no sábado e domingo vou ao campo jogar bola, logo após o futebol, vou pra casa sem demora, e assim vou vivendo, nesse lugar especial, de onde não quero sair, pois é minha terra natal.” “Meu povoado é tão pequeno que cabe na palma da mão, mas se torna grande, pois eu amo de coração, minha vó conta que aqui neste lugar os índios puris foram os primeiros há habitar, e com o passar do tempo muitas famílias chegaram, construíram suas moradas e por aqui ficaram, Santa Barbara era um povoado sossegado, onde os morados se respeitam como gostam de ser respeitados.” Assim ele pegou um pouco da história né, e a gente vê que é a realidade deles mesmo, [...] resultou nesse trabalho porque é o que a gente tá trabalhando tá valorizando o que eles têm de bom, [...] (EVA, Professora do 5º ano da Escola Municipal Santa Barbara).
E são nesses trabalhos que podemos observar as práticas pedagógicas das
professoras que traz para o aluno o prazer em apresentar sua cultura, suas raízes, por
meio de expressões da linguagem escrita em poemas e poesias criadas por eles,
recordando sua infância e vivências.
A contribuição da infância também pode ser identificada em um trabalho
realizado por essas professoras por meio da dança e a música, recordando um
momento histórico importante da região, com a chegada dos imigrantes.
Quanto à dança, primeiro fizemos reuniões pra ter a ideia, e pra nós do turno da tarde ficaram as danças, então as meninas escolheram a do café e nós ficamos assim, sem saber, então vieram varias ideias, dança da fita e tal, só que ai nós jogamos pra historia, então nós nos lembramos dos imigrantes, quando eles chegaram aqui no Brasil, que vieram à procura de trabalho, condições melhores de vida, então foi ai [...] No quinto ano eu já
236
contava a história dos imigrantes. Então eu passei pra outras duas do terceiro e do quarto pra elas estarem trabalhando também, onde nós pegamos a música do Daniel, da novela vocês já devem ter assistido que fala da chegada deles aqui, então a gente quer fazer o mapa, pra eles saírem de dentro do mapa, como se tivessem entrando no Brasil, com a mala na mão e ai começam a dançar. (Eva, Professora do 5º ano da Escola Municipal Santa Barbara).
Valorizar a história e modo de vida de um povo e aquilo que eles acreditam
significa compreender os sujeitos como seres histórico-culturais e respeitar o outro por
meio da cultura do outro, que se processa por meio de uma relação de respeito e apreço.
Sendo assim, as professoras da Escola Municipal Santa Barbara além de trazer
para suas práticas pedagógicas no Campo suas memórias de infância, também
desenvolvem trabalhos que resgatam as memórias locais através de trabalhos
desenvolvidos com os alunos.
Embora, nossas crianças hoje tem uma realidade diferente, e passam grande
parte do seu tempo também na escola, que recebem crianças das mais variadas
realidades e muitas vezes veem no ambiente escolar um lugar de alegria e satisfação.
Ao apresentar um pouco do seu trabalho a professora Fabiana retrata isso com
muito entusiasmo.
[...] todos eles trazem pra escola, ou vêem na escola, uma alegria muito grande, e a gente procura também passar pra eles, que a gente tá muito feliz com eles aqui, mostrar pra eles que aqui é um lugar deles ficarem alegres, ficarem felizes se darem né [...] que a gente tem que trazer os alunos, tem que tratar eles com muita alegria, receber eles bem na escola, mostrar o valor que cada um tem pra gente né.
Dessa forma o trabalho desenvolvido se torna muito mais prazeroso e
interessante fazendo com que esses meninos tenham memórias da infância alegre e
feliz vivida na escola com as professoras e os trabalhos desenvolvidos por elas.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Acreditamos que as memórias da infância nos ajudam ao longo de nossas vidas
assim como apresentado pelas professoras de “Santa Barbara”, nos desejos, sonhos,
conquistas e realizações.
O resgate acerca das memórias de infância das professoras e o olhar cuidadoso
sobre suas memórias e a prática de contar suas vidas, ajudaram a recordar as
237
experiências mais significativas de um tempo em que foram crianças, e o quanto esses
momentos foram e são importantes para suas formações e hoje para sua pratica de
ensino no Campo.
A pesquisa também nos fez pensar na importância de conhecer e refletir sobre
as memórias e histórias das professoras, pois cada um de nós construímos significado
a própria vida e trabalho de modo subjetivo e distinto. E isso pode ser refletido na
maneira como lidamos com nossa profissão.
Valorizar a história e o modo de vida de um povo e aquilo que eles acreditam
significa compreender os sujeitos como seres histórico-culturais e respeitar o outro por
meio da cultura do outro, que se processa por meio de uma relação de respeito e apreço.
Se tratando de uma escola do campo onde recebe alunos do campo com um
histórico de luta por terras, vindo dos Movimentos Sociais do Campo e de famílias que
desenvolvem o trabalho com a terra através da agricultura familiar e criação e gado
leiteiro torna-se de fundamental importância a valorização dos conhecimentos, vivências
e cultura desses sujeitos do campo, visto que o aprendizado, também, está presente
nas atividades desenvolvidas fora da escola, pela família, pelo trabalho, na comunidade,
na igreja, e em todos os outros espaços que o envolve em seu dia a dia.
Trabalho este que, leva os alunos ao entusiasmo e interesse nas atividades
escolares, visto que seu aprendizado se da nos mais variados espaços, através daquilo
que eles vivenciam com suas famílias no dia a dia, na comunidade e que são produzidos
na vida escolar como forma de expressar seu conhecimento através da escrita,
linguagem, arte, dança e outros. O que possibilita a esses professores construir com os
alunos sua identidade, de sujeitos pertencentes a uma história, a uma vida social de
uma região específica, Santa Barbara.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Diretrizes Operacionais para uma Educação Básica nas Escolas do
Campo. Resolução CNE/CEB n.1. de 3 de abril de 2002, Brasília, DF: MEC/SECAD,
2003.
_______. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: DOU, 1990.
______. IBGE – Cidades: IBGE Censo Demográfico 2010. Disponível em
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=314210&search=||infogr%E
1ficos:-informa%E7%F5es-completas> Acesso em agosto de 2015.
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20 de
dezembro de 1996.
238
CALDART, Roseli. S. Elementos para a Construção de um Projeto Político Pedagógico
da Educação no Campo. In: MOLINA, Mônica Castagna; JESUS, Sônia Meire S.
Azevedo de. (Orgs.). Por uma Educação no Campo: Contribuições para a
Construção de um Projeto de Educação do Campo. Brasília: Articulação Nacional
por uma Educação do Campo, 2004. (Coleção Por Uma Educação do Campo, nº 5).
MOLINA, Mônica Castagna; FREITAS, Helana Célia de Abreu. Avanços e desafios na
construção da Educação do Campo. Em Aberto, Brasília, v. 24, n. 85, p. 17-31, abr.
2011.
MOLINA, Mônica Castagna; JESUS, Sônia Meire Santos Azevedo (organizadoras).
Contribuições para a construção de um projeto de Educação do Campo. Brasília,
DF: Articulação Nacional: "Por Uma Educação do Campo, 2004.
CULTURAS INFANTIS NOS ESPAÇOS - TEMPOS DE BRINCAR E ESTUDAR:
OLHARES PARA A HISTÓRIA DA INFÂNCIA DE SINOP-MT (1972-1979) 118
Josiane Brolo Rohden/UFMT
Emilene Fontes de Oliveira/UFMT
O processo de colonização de Sinop – MT
Na década de 1970, a região Norte de Mato Grosso passou por um processo
acentuado de migração. Muitos migrantes, principalmente do Sul do Brasil, deixaram
suas cidades de origem, para “ocupar” os espaços “vazios” das terras norte mato-
grossense, na busca de maiores oportunidades, de um futuro melhor, diferente qual
tinham em suas terras de origem.
Desde o Governo Getúlio Vargas, com o chamado projeto Marcha para
Oeste119, que visava ocupar e desenvolver o interior do país, o processo de ocupação
118 Este trabalho faz parte da pesquisa de Mestrado em Educação (ROHDEN, 2012) e, retomado atualmente para a pesquisa sobre a História da Infância no Doutorado em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. 119 A Marcha para Oeste foi uma política do governo de Vargas, nascida em 1943 a qual incentiva as pessoas a migrar para a região central do Brasil, na perspectiva de ocupar os “espaços vazios” do país, garantir a segurança das fronteiras e gerar riquezas.
239
da última grande fronteira agrícola do país – a Amazônia brasileira,120 começou a
‘ganhar forma’.
A partir de 1964, os governos militares almejando a continuidade do
processo de integrar a Amazônia à economia nacional e com o intuito de atenuar a
crise na economia rural que se acentuava principalmente nas regiões Sul, Sudeste e
Nordeste, voltaram-se para a ampliação de políticas públicas que pudessem
concretizar o processo de ocupação territorial da Amazônia.
Para tal finalidade, foram criados órgãos específicos, que coordenavam a
instalação e implantação de projetos que visavam a expansão da região, os quais
incentivam a aquisição de terras e, com isto, promovia o deslocamento de um grande
número de trabalhadores migrantes.
Neste contexto, o surgimento da cidade de Sinop, localizada na região Norte
de Mato Grosso, encontrava-se nesse processo de ocupação da Amazônia do final
do século XX. Trata-se de uma cidade fruto de uma colonização privada, liderada
pela empresa que deu origem ao nome da cidade: Colonizadora Sinop S/A –
Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná. A Empresa citada, beneficiada pelos
incentivos fiscais pela parceria do Estado Federal, responsável por toda
infraestrutura necessária e pelas políticas e órgãos criados para acelerar o processo
de colonização, adquire uma extensa área de terra denominada posteriormente de
Gleba Celeste121, onde seria então, iniciado um novo projeto de colonização, entre
eles a cidade de Sinop.
Traços da história da primeira instituição escolar de Sinop-MT e de sua
organização
A primeira escola de Sinop surgiu a partir do desejo dos próprios migrantes
de possibilitar que seus filhos pudessem continuar tendo acesso à escola. Deste
modo, construiriam uma pequena sala de aula de madeira, com poucas condições
físicas e materiais. A primeira professora, também escolhida pelos próprios migrantes
era a que naquele momento havia maior instrução. Esta tinha estudado até a 6ª série
do 1° Grau no estado do Paraná, e, por insistência dos pais migrantes, atendeu ao
120 Os nove estados que compõem a Amazônia Brasileira são: Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima, Amapá, Tocantins, e Maranhão (PICOLI, 2005, p. 17). 121 A extensão de terra adquirida pela empresa colonizadora equivalia a aproximadamente 645.000 hectares. Denominada de Gleba Celeste, onde seria então dado início ao projeto de colonização das cidades de Sinop, Vera, Carmem e Cláudia.
240
chamado para se tornar a professora da pequenina escola que começava a surgir,
sendo uma extensão primeira da Escola N. Senhora Do Perpétuo Socorro da cidade
de Vera, colonizada pela mesma empresa, localizada a 80 quilômetros de distância
de Sinop.
A educação em Sinop, assim como nas demais cidades da Gleba Celeste,
teve forte influência a Empresa Colonizadora e da Igreja Católica, através das irmãs
da Congregação Santo Nome de Maria, trazidas de Maringá, Paraná trazidas do
Colégio Santo Inácio da cidade citada pelos colonizadores, especialmente para
direcionar os trabalhos sociais e educacionais nas cidades em formação.
De acordo com as fontes compulsadas na Escola, a exemplo das grades
curriculares referentes ao período em análise, pôde-se constatar como estava
organizado o ensino primário, e deste modo, o tempo e o espaço escolar.
No primeiro ano (1973-1974) faz-se necessário pontuar que a pequena
escola, a ‘escola dos migrantes’, funcionava em regime multisseriado, de agosto
1974 a 1979, passando a trabalhar em regime seriado. Contudo, a organização
curricular do 1º Grau, de 1ª a 4ª séries dava-se da seguinte maneira:
Quadro 1
Organização Curricular de 1ª a 4ª séries do 1° Grau
1ª a 4ª séries do 1º Grau
Comunicação e Expressão
Iniciação à Ciência
Integração Social/ Estudos Sociais
Fonte | Escola Nilza de Oliveira Pipino (2011)
Na escola em análise é possível perceber um ensino voltado para a prática
da repetição, para a técnica da memorização e para o silêncio. Além disso, “[...] os
conteúdos privilegiavam o sentimento de amor e respeito para com o próximo,
ressaltando o modo de agir e tratá-lo com civilidade, preparando a criança para a
vida individual e coletiva.” (Sá, 2007, p. 168).
Nas séries iniciais, da 1ª a 4ª série do 1º grau foi possível verificar que as
atividades trabalhadas eram compostas principalmente por ‘leituras silenciosas’,
cópias, ditados, tabuadas, as chamadas contas matemáticas de ‘arme e efetue’,
entre outros exercícios mecânicos onde o aluno escrevia, inúmeras vezes, letras,
sílabas, palavras ou números.
241
Outra prática comum na 1ª série do 1º grau era a cobrança da Leitura. Todos
os alunos, ao final do ano letivo, eram submetidos aos exames de leitura, os quais
as irmãs chamavam aluno por aluno para ler em voz alta.
Além dos testes de leituras que as irmãs católicas faziam ano final do ano
letivo, outros exames também eram aplicados no decorrer do ano letivo. A partir da
2ª série do 1º grau, por exemplo, testes de tabuadas eram exigidos com rigor e de
forma muito abstrata, o que se consolidava um ensino pouco efetivo.
Assim, percebemos que as ações voltadas para a prática de leitura ‘das
palavras’, para a escrita, como também os cálculos eram mais exigidos no interior da
sala de aula, desde os anos iniciais da escolarização, o que demonstra a supremacia
da Língua Portuguesa e da Matemática no interior desta Instituição.
As disciplinas trabalhadas, segundo exemplos apresentados nos cadernos
e nas narrativas obtida, simplificavam o currículo da escolarização básica,
oferecendo o mínimo necessário para que os sujeitos se adequassem à formação
técnica, exigidas pelo mercado de trabalho, além das práticas se voltarem para o
respeito e ao cultivo das boas maneiras, ao amor ao próximo, à Pátria, à devoção à
Igreja Católica.
Contudo, retornando às práticas investigadas na Escola em estudo, em
relação às que envolviam o cuidado com o corpo, com a Higiene, além dos valores
familiares e sociais que exaltassem o regime militar, eram relembrados
cotidianamente, como por exemplo, após cantar o hino e fazer a oração diária, a Irmã
Edita, diretora da escola, pronunciava discursos que faziam alusões aos valores,
normas e juízos que eram necessários ser mantidos na escola, na família e na
sociedade.
Nesse sentido, percebeu-se que a educação em Sinop, com a constante
influência da colonizadora e da Igreja, buscavam aos seus modos, de alguma forma,
atender os propósitos nacionais de uma política social fundamentada pela ideologia
tecnicista, para a formação para o trabalho, com o objetivo de ‘educar’ mentes e
corpos que fossem viáveis às expectativas do Estado. Com isso, torna-se evidente
que a seleção e a produção do conhecimento sempre estiveram repletas de
intencionalidades e de algum modo intimamente ligadas às necessidades e
interesses “políticos” (GODSON, 2008).
Olhares para a Infância: brincar e estudar em meio ao processo de colonização
242
Reconhecemos na cultura infantil produzida pelos sujeitos da instituição
pesquisada a possibilidade de concebermos a história de um cotidiano marcado pela
criação, invenção e reinvenção daquilo que os sujeitos faziam com os produtos que
lhes eram fabricados (CERTEAU, 1998). No cotidiano escolar, as estratégias de
práticas intencionais estavam em conflito com as táticas de subversão e a escola,
bem ou mal, lidava com este processo de tensão, pois não conseguia manter
rigorosamente tudo à maneira que lhe convinha, fazendo-se presentes as práticas
desviantes que fugiam, escapavam às normas e, muitas vezes, talvez na maioria
delas, não eram percebidas, ou simplesmente eram vistas como banais, rotineiras,
sem ‘periculosidade’.
O Estado, a Igreja, a Colonizadora acreditavam que a escola era o cenário
ideal para a formação da massa, aliás, concepção que ainda circula em muitos
lugares na educação do nosso país nos dias atuais.
No entanto, este modelo de controle disciplinador que se intentava impor à
escola em estudo não contava que teria de lidar com a maneira incisiva da cultura
como criação, com as práticas diferenciadas de apropriação desses modelos, os
quais resistiam sutilmente, ‘dobravam-se sem quebrar’ (AZEVEDO; ARAÚJO,
2011) e, que então, reinventavam aos seus modos o sentido de estar naquele
meio – dito por Certeau (1998), podem ser explicadas enquanto táticas,
encontradas por aqueles sujeitos para serem usadas como suas armas de
combate – a arte do fraco, que “[...] fingia obediência aos poderes estratégicos,
mas não se iniciava uma guerra explícita contra esses.” (AZEVEDO; ARAÚJO,
2011, p. 483).
Devido à metodologia tradicional que se consolidava em sala de aula,
percebemos, a partir das fontes analisadas e dos depoimentos colhidos, que,
aparentemente, os alunos eram obedientes e servis, mesmo porque a sociedade se
comportava dessa forma, refletindo diretamente no contexto escolar.
Por outro lado, um repensar sobre todo esse ‘controle disciplinador’ criado
para formar os cidadãos aos moldes que se eram exigidos, é possível perceber as
marcas de um cotidiano onde os ‘supostos assujeitados’ refaziam, recriavam o lugar
em momentos passados imperceptíveis, como já mencionado, em simples situações
consideradas banais, ordinárias.
Muitas histórias que burlavam a ordem estabelecida compunham o cotidiano
da escola em especial pelas crianças que ali frequentavam e portanto, produtoras de
culturas infantis naqueles espaços e tempos analisados. Dentre muitas histórias
coletadas, elencamos algumas que consideramos interessantes, para perceber como
243
as táticas moviam os sujeitos nas suas artes de fazer, ambíguas, sem localização
própria, surgidas das contingências da situação, de modo a aproveitar as brechas do
sistema, foram improvisadas, fruto da “[...] inteligibilidade criada no aqui e agora,
exigindo inteligência viva, parecendo desprezar modelos preestabelecidos, estando
constantemente apreendendo a situação e agindo sobre ela improvisando saídas"
(AZEVEDO; ARAÚJO, 2011):
Devido tanta imposição de disciplina, tinha muita gente que tinha muito medo das irmãs, principalmente os meninos que faziam muita bagunça. Tinha uns que levavam reguada das professoras, mas não adiantava. Ficavam de castigo no milho, tinha que colocar o joelho em cima do milho e não adiantava [...]
Lembro que certa vez, uma menina levou um puxão de orelha, a professora puxou e disse: ‘copia, tá todo mundo fazendo!’ E ela não copiava, ficava para lá e para cá. Aí, ela não queria fazer e mostrou a língua para a professora, a professora pegou na orelha dela e puxou, ela abriu a boca e gritou: vou contar para a minha mãe, foi um fuzuê na sala, porque os pais já não toleravam mais, este comportamento do professor poder ter autoridade para bater. (PONCE, 2012).
Eu lembro que eu gostava muito de ler gibi. Minhas tias, meu pai traziam pra gente ler. Aí a gente trocava muito gibi na escola embora fosse proibido pelas irmãs (BÉRGAMO, 2012).
A brincadeira do elástico era a preferida, mas teve uma época que as irmãs proibiram porque diziam que era perigoso, mas sempre alguém dava um jeito de levar. Também jogávamos bola apesar das irmãs não gostarem muito para não entrar na sala suados, mas a gente brincava por mais que fosse pouco tempo, aproveitava aquele tempinho para brincar. A gente construía brinquedos, fazia bola de meia para arremessar no palhaço, era sempre a criatividade da gente, porque não tinha outras coisas. (SILVA, 2012).
Nesses exemplos percebemos que existia, sim, o ‘receio’ da punição, mas
em contrapartida se revelava o jogo, que vencia o medo e encontrava nas ‘fugas’ que
iam abrindo brechas na vigilância do poder, promovendo “[...] mobilidade, mas numa
docilidade aos azares do tempo, para captar, no voo, as possibilidades oferecidas
por um instante [...]” (Certeau, 1998, p. 100) as astúcias, golpes, artes de fazer se
faziam presentes, em micro detalhes. Como diria Certeau (1998, p. 101), “Aí vai
caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia.”
Deste modo, para Certeau (1998), toda atividade humana pode ser
considerada cultural, desde que a prática tenha significado para quem a realiza.
Diante disto, outra questão observada, era a auto-organização dos próprios alunos
nos momentos que não estavam sob vigilância, trazendo novamente Julia (2001, p.
10) para o debate, “[...] por cultura escolar é conveniente compreender também,
quando é possível as culturas infantis (no sentido antropológico do termo) que se
desenvolvem nos pátios de recreio e o afastamento que apresentam em relação às
244
culturas familiares [...]”, por isso, é possível inferir que a cultura produzida na família
e na sociedade se difere daquela produzida na escola, pelo fato de haver ideias,
símbolos, valores que lhes são próprios:
O horário do recreio era o horário de brincar e de comer o lanche. Não era recreio dirigido, então a gente aproveitava para brincar bastante, de correr, mas a irmã não gostava muito porque suava, mas o pátio era grande, ela nem via. Também gostávamos de brincar de 3 mocinhas da Europa: lembro-me ainda hoje: Somos 3 mocinhas da cidade, O que vieram fazer? Muitas coisas! Então faz para nós ver! Então isto era o que mais nós gostávamos de fazer! [...] Brincávamos muito de roda: de Terezinha de Jesus, passava o recreio rodando, tinha aquela cantiga: A menina que tá na roda: A menina que tá na roda, é uma gata espichada, tem a boca de jacaré e a saia remendada! Depois, trocava, ia outra criança no meio. Fazíamos muita brincadeira de roda, eram momentos maravilhosos! (PONCE, 2012)
É interessante relacionar que enquanto professores e direção da escola
buscavam encontrar formas de devolver a harmonia facilitadora e ‘apaziguadora’ da
ordem, os alunos pareciam compreender (e assim se organizavam!) 122 que silêncio
e barulho conviviam juntos, ordem e desordem não se excluíam,123 trazendo outras
possibilidades de mover-se no mesmo espaço, tornando aquele lugar, de fato, num
lugar praticado.
“O recreio que parecia ser o fim do trabalho pedagógico [...] era o inicio da
auto-organização [...]” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 41) daquelas crianças e jovens,
“[...] era o início da negociação de regras em torno de um objetivo comum, era o início
de uma convivência social qualitativamente superior [...]” daquela imposta em sala
de aula.
Com bolas de meias, latas de óleo e tacos de madeiras para jogar bets124,
elásticos e qualquer outro artefato que pudesse virar brinquedo, aquelas crianças
reinventavam jogos e brincadeiras. E, assim, jogavam com as possibilidades;
enquanto a ordem via apenas do alto do seu panóptico (FOUCAULT, 2009) a
disciplina e o silêncio, as crianças utilizavam-se do que lhes era oferecido para recriar
a seu modo, o próprio espaço na escola, o que lhes garantiam a possibilidade de
ocupação em terras alheais e, portanto, nos momentos de conflito e de combate, as
suas vozes se faziam ouvir pelas artes de fazer. Nas palavras de Certeau (1998, p.
122 Cf. Albuquerque, 2006. 123 Cf. Morin, 2004. 124 O jogo de Bets ou Tacos é um esporte de rua, que descende do "cricket" britânico. O objetivo principal do jogo é rebater a bola lançada pelo jogador adversário, sendo que durante o tempo em que este corre atrás da bola, a dupla que rebateu deve cruzar os bets, também chamados de tacos ou remos, no centro do campo, fazendo, assim, dois pontos cada vez que cruzam os tacos.
245
95): “Eles metaforizavam a ordem dominante: faziam-na funcionar em outro registro.
Permaneciam outros, no interior do sistema que assimilavam e que os assimilava
exteriormente. Modificavam-no sem deixá-lo.”
Com isso, se fazia uma cultura criada e recriada no espaço escolar, entre
trocas, encontros, situações conflituosas, práticas desviantes, não planejadas e
muitas vezes ignoradas, onde imperava o silêncio, mas também sutilmente
ressoavam as vozes que cantavam juntas cirandas e cantigas de roda.
O momento em que aqueles alunos se viam livres da vigilância era o espaço
onde conseguiam recriar, “[...] negociar e lutar por sua felicidade, pelos seus desejos,
se apropriando de cada fenda, de cada canto, de cada brecha, se esgueirando,
escorregando, deslizando.” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 40). Cada um, à sua maneira,
exercia como ninguém suas artes de se fazer sujeito, cada qual com a singularidade
que lhe era própria e, isso, “[...] sem sair do lugar onde tem (tinha) 125 que viver e que
impõe (impunha) uma lei, ele aí instaura (instaurava) pluralidade e criatividade. Por
uma arte de intermediação ele tira (tirava) daí efeitos imprevistos.” (Certeau, 1998, p.
93)
Finalmente, se a escola focava na ordem e disciplina, por outro lado seus
atores buscavam criar, recriar os modos de se viver naquele espaço. Contudo, há
que se referenciar que as mil práticas de fazer (CERTEAU, 1998) não se restringiam
aos alunos circunscritos ao espaço escolar, mas se estendia ao ‘privado’, de seus
lares, sob outra espécie de ‘vigilância’, no caso, a família. Havia sob ‘normas e
regras’ vindas de um lugar, o espaço de fazer, os modos de proceder da criatividade
cotidiana, as burlas, as fugas, onde as múltiplas invenções e criações davam espaço
para uma infância constantemente reinventada, uma verdadeira arte de fazer e de
ser criança. Nas sábias palavras de Walter Benjamin:
As crianças formam o seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande. Dever-se-ia ter sempre em vista as normas desse pequeno mundo quando se deseja criar premeditadamente para crianças e não se prefere deixar que a própria atividade – com tudo aquilo que é nela requisito e instrumento – encontre por si mesma o caminho até elas. (BENJAMIN, 2009, p. 104).
Diante disso, entende-se, com o filósofo, o quanto a escola e a sociedade,
seja no passado ou no presente, deve ser repensada sob formas de atuar com este
‘pequeno mundo’.
125 As palavras entre parênteses foram adicionadas pelas autoras, pelo fato de a concordância do verbo no passado, tempo em que discorremos sobre as nossas reflexões.
246
Assim, nesta pesquisa, entendemos a criança com um ser ético, político-
social, produtora de história e de cultura, que mesmo diante as regulações da família,
da escola, estas interpretam de modo criativo, aos seus modos a cultura dos adultos,
reinventando-a, produzindo deste modo, uma cultura específica entre seus pares
(CORSARO, 1992).
Nossa intenção, é demarcar o papel da infância enquanto produtora de
história, de cultura, e, Corsaro (2011), nos auxilia a compreender que as crianças
constroem entre si e com os adultos, sobre o papel social da criança, sobre a
participação da mesma na sociedade em que ao mesmo tempo em que é afetada
também produz efeitos na sociedade, ou seja, a criança não apenas imita ou
reproduz algo, mas cria, recria, reinventa atribuindo novos significados às ações que
lhe são apresentadas, no contexto social que estão inseridas. Nas palavras de
Corsaro (2011, p. 29): “as crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a
cultura, mas contribuem ativamente para a produção e mudança culturais”.
No entanto, analisando a História da Infância no tempo-espaço pesquisado,
é importante salientar que as crianças, tiveram sim um relevante papel social, cultural
e histórico naquele momento em que tanto a cidade como a escola se constituíam,
entretanto, tal história não nos é apresentada, dificultando a visibilidade da criança
no passado daquela sociedade. Contudo, trata-se de um desafio que a História da
Infância precisa urgentemente demarcar, a fim de consolidar o papel histórico-cultural
das crianças no passado, seja ele num passado recente, seja ele através dos
séculos.
Reflexões finais
Este trabalho teve como propósito direcionar um olhar para a História da Infância,
de forma a sinalizar para uma questão emergente na História da Educação no que diz
respeito ao papel histórico, cultural e social da criança no passado, entendida desta
forma como ator social, sujeito produtor/a de cultura e história.
Para tal, fundamentando-nos em Michel De Certeau (1998), reconhecemos na
produção das crianças, sujeitos da instituição escolar analisada, a possibilidade de
concebermos a história de um cotidiano caracterizado pela criação, invenção daquilo
que os sujeitos faziam com os produtos que lhes eram fabricados. Desta forma,
estratégias de práticas intencionais estavam constantemente em conflito com táticas de
subversão no interior da escola. Também, a partir das concepções teóricas do filósofo
247
Walter Benjamin (1987), procuramos levantar questões que versam sobre a criança, aos
modos de vivenciar a infância, que lhe é próprio, ou seja, não precisa ser ensinado.
Finalmente, intentou-se ampliar o debate ao que se refere a produção cultural da
infância, no qual, os subsídios teóricos de William Corsaro (1992), no ajudaram a
compreender que as crianças apropriam-se criativamente da informação do mundo
adulto para produzir sua própria cultura de pares, apropriação esta que, segundo o autor
é um processo criativo de reprodução interpretativa e, não meramente por uma questão
de simples imitação.
Diante disto, na documentação encontrada, nos diversos depoimentos orais
coletados e nas fontes iconográficas foi possível perceber as marcas de um ensino
onde as atividades estimulavam a memorização e a repetição, onde o silêncio
predominava na sala de aula, onde a Pátria era exaltada todos os dias na tentativa
de ‘docilizar’ mentes e corpos, uma educação embasada na religião, cujos princípios
inculcavam valores e juízos morais, enaltecendo com ‘glórias’ a ‘nova’ cidade, com o
intuito de apresentar na fé o refúgio de consolação e a esperança de dias melhores.
Contudo, ao que se refere ao modelo de controle instituído na escola para
disciplinar, silenciar – “[...] uma prática panóptica a partir de um lugar de onde a vista
transforma as forças estranhas em objetos que se podem observar e medir, controlar,
portanto, e ‘incluir’ na sua visão [...]” (Certeau, 1998, p. 100), havia também, na
dinâmica da sala de aula, o movimento das crianças enquanto sujeitos da história,
possibilitando uma produção cultural específica, onde os ‘fracos’ jogavam sutilmente
com os ‘fortes’ (CERTEAU, 1998), sem entrar em confronto direto, sem ser
necessária a imposição dos ‘fracos’, mas aos seus modos, aos seus jeitos de fazer
e com suas mobilidades táticas fazendo aparecer suas artes de fazer, conseguiam
estar onde ninguém esperava, mobilizando as estratégias do forte, fazendo daquele
lugar um espaço, tornando-o, então, um lugar praticado - lugar que movia-se, lugar
que se escondia e aparentemente dominado, porém conquistado, recriado e
transformado em espaço no mundo (CERTEAU, 1998, p. 101) daqueles que nele
habitavam.
O ensejo neste trabalho é iniciar uma caminhada para um olhar para a
História da Infância, que conceba as crianças como coautoras da história,
participantes ativas na construção da cultura juntamente com os adultos e entre seus
pares, de forma a possibilitar a visibilidade social da criança na história e seu papel
na sociedade.
248
Referências
ALBUQUERQUE, Andréa Serpa (2006). Cultura escolar em movimento: diálogos
possíveis. Rio de Janeiro: EdUFF.
AZEVEDO, Fernando Antônio Gonçalves; ARAÚJO Clarissa Martins de (2011). Meninos
dos sinais e a arte de inventar o cotidiano: personagens hostis ou hostilizados na Grande
cena da(s) cidade(s). In: 20° Encontro Nacional da Associação Nacional de Artes
Plásticas, 2011. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Anpap, 2011. p. 477-489.
Disponível em:
<http://www.anpap.org.br/anais/2011/pdf/ceav/fernando_antonio_goncalvez_de_azeve
do.pdf> Acesso em: 08/02/2012.
BENJAMIN, Walter (1987). Magia e Técnica, arte e política: Ensaios sobre Literatura
e História da Cultura. V. 1. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 3 ed. São Paulo: Brasiliense.
(Obras Escolhidas).
BENJAMIN, Walter (2009). Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação.
Tradução Marcus Vinicius Mazzari. 3. ed. São Paulo: Editora 34.
BERGAMO (2012). Depoimento (oral). Sinop (Mato Grosso), 17 de Janeiro de 2012.
CERTEAU, Michel de. (1998). A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de
Ephraim Ferreira Alves. 4. ed. Petrópolis: Vozes.
CORSARO, William A (1992). Interpretative reproduction in children in peer
cultures. Social Psychology.USA: Quarterly.
CORSARO (2011), William A. Sociologia da infância. Tradução de Lia Gabriele
Regius Reis. 2ª ed. São Paulo: Artmed.
FOUCAULT, Michel (2009). Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de
Raquel Ramalhete. 36. ed. Petrópolis, RJ: Vozes.
GODSON, Ivor F. (2008) Currículo: teoria e história. Tradução Atílio Brunetta. 10. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes.
MORIN, Edgar (2004). Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução
de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya São Paulo: Cortez.
PICOLI, Fiorelo (2005). Amazônia: do mel ao sangue – os extremos da expansão
capitalista. Sinop-MT: Fiorelo.
PONCE (2012). Depoimento (oral). Sinop (Mato Grosso), 23 de Janeiro de 2012.
ROHDEN, Josiane Brolo (2012). A Reinvenção da escola: História, Memórias e
Práticas Educativas no período Colonizatório de Sinop-MT (1973-1979).
249
Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação,
UFMT, Cuiabá.
SÁ, Elizabeth Figueiredo de. (2007). De criança a aluno: as representações da
escolarização da infância em Mato Grosso (1910- 927). Cuiabá: EdUFMT.
PAULA (2012) Depoimento (oral). Sinop (Mato Grosso), 02 de fevereiro de 2012.
SILVA (2012). Depoimento (oral). Sinop, (Mato Grosso),07 de fevereiro, 2012.
DIÁLOGOS AMERICANOS: OS CLUBES JUVENIS RURAIS – 1950 A 1960126.
Leonardo Ribeiro Gomes127
Faculdade de Educação
Universidade Federal de Minas Gerais
Apresentação
Nesse trabalho busco apresentar os pontos de contato entre as iniciativas
educacionais e formativas para os jovens rurais americanos, tendo como marco
temporal as décadas de 1950 e 1960, por meio da constituição de clubes juvenis. Nosso
foco serão os clubes juvenis rurais que tomando como base os 4-H Clubs (Head, Hands,
Heart, Health) dos Estados Unidos, foram fundados na América Latina no contexto
demarcado.
1 - Os caminhos da pesquisa
Em nosso projeto inicial para o Doutorado tínhamos como objetivo principal
investigar as relações de complementaridade e possíveis tensões entre os programas
de formação dos jovens rurais de três países latino-americanos (Costa Rica, Brasil e
Argentina) com o programa para os jovens rurais dos Estados Unidos, país no qual
126 Este texto é fruto da pesquisa para elaboração da tese “Pelo meu clube, minha comunidade, meu país e meu mundo. Dos 4-H Clubs estadunidenses aos Clubes 4-S no Brasil – Entre a década de 1950 e o final de década de 1960” e que integra ao projeto coletivo A Educação dos sentidos na História: o tempo livre como possibilidade de formação (entre os anos finais do séc. XIX e os anos iniciais do século XXI), desenvolvido na UFMG e coordenado pelo Prof. Dr. Marcus Aurélio Taborda de Oliveira, com financiamento do CNPq. 127 Licenciado e Bacharel em História, Mestre em Educação, Doutorando em Educação. Bolsista CAPES.
250
surgiu a iniciativa de constituição de clubes para essa parcela da população e inspirou
outras agremiações no continente americano.
Após o primeiro ano de realização da pesquisa no qual foram reavaliados
o acesso às fontes, os prazos demarcados pelo programa de pós-graduação, o aporte
teórico e a metodologia da pesquisa, o trabalho inicial sofreu uma mudança de rumo.
Assim sendo, nossa pesquisa no Doutorado estudará as relações entre os clubes
juvenis estadunidenses denominados de 4-H Clubs (Head, Hands, Heart, Health) e os
Clubes 4-S do Brasil no período compreendido entre a década de 1950 e o final da
década de 1960.
No Brasil os clubes de jovens rurais foram denominados de Clubes 4-S (Saber,
Sentir, Saúde, Servir) e surgiram a partir da experiência de Extensão Rural realizada
em Minas Gerais quando em 1952 foi fundado o primeiro clube do país. Com a ressalva
das enormes diferenças entre Estados Unidos e Brasil, pode-se afirmar que o trabalho
com a juventude rural brasileira e estadunidense anunciava e visava a busca pela
racionalização da produtividade e das formas de se viver nas propriedades e
comunidades rurais, onde para isso bastaria a introdução de práticas agropecuárias e
sociais consideradas modernas.
O trabalho com os Clubes 4-S no Brasil liga-se diretamente a instituição do
Serviço de Extensão Rural no Brasil que oficialmente se constituiu quando em 1948 foi
criado em no estado de Minas Gerais, na região sudeste desse país, a Associação de
Crédito e Assistência Rural – ACAR-MG. Essa instituição contava com recursos do
Governo do Estado e da American International Association for Economic and Social
Development – AIA, entidade que teve como um dos protagonistas na sua fundação o
membro da megamilionária família estadunidense, Nelson Aldrich Rockefeller.
Compartilhamos a definição de Extensão Rural expressa nas palavras de Pierre
Pradel (1962, p.3), engenheiro agrônomo haitiano para o qual Extensão Rural é
encarado como processo educativo que se
propõe ajudar a população rural para que se ajude a si mesma a elevar seus níveis de vida, ensinando-a melhores práticas ou conhecimentos relacionados com o melhoramento da agricultura e do lar128.
128 Traduzido do original: “Extensión como processo educativo, se propone ayudar a la gente rural para que se ayude a si mesma a levantar sus niveles de vida, ensenándola mejores prácticas o conocimientos relacionados con el mejoramiento de la agricultura y del hogar”.
251
Temos considerado o trabalho com a juventude rural uma das principais ações
da Extensão Rural adotada no Brasil129. Aparentemente em grande parte da América
Latina, a organização de clubes de jovens também teria sido de grande relevância.
Métodos considerados tradicionais de produção, baixos índices de escolaridade,
analfabetismo elevado, escassez de capital para os agricultores, condições sanitárias e
higiênicas deficitárias, resistência às inovações técnicas. De alguma maneira e
guardada as especificidades locais, essas características fizeram parte da realidade dos
meios rurais latino-americanos. Não obstante a isso tanto instituições públicas quanto
privadas desempenharam papéis educacionais e formativos visando reverter tal quadro
e assim garantir o aumento qualitativo e quantitativo da produção agropastoril como
também alterar o estilo de vida das populações rurais. É nesse sentido que estamos
entendendo a Extensão Rural. Apesar de não aprofundarmos nesse texto as diferentes
definições de Extensão Rural, pois não é esse nosso objetivo, aqui a compreendemos,
portanto, como um conjunto de ideias, iniciativas e práticas consideradas
modernizadoras das formas de produção e do estilo de vida observáveis nos meios
rurais.
A Extensão Rural se valeu dos pressupostos da ciência e da técnica que,
segundo seus propagadores, seriam por si só capazes de levar a transformação da vida
das populações rurais. O saber-fazer dos homens rurais seria substituído pelo saber-
fazer considerado moderno, pois amparado na ciência e na técnica. Caberia assim aos
agentes da Extensão ser uma espécie de ponte entre o mundo rural considerado
ultrapassado, pois imerso em dogmas e superstições a serem superadas, e o mundo da
ciência e da racionalidade produtiva.
Podemos considerar a Extensão Rural como um dos vários instrumentos
utilizados por inúmeros americanos visando a melhoria de vida da população rural bem
como o aumento da produção agropecuária. Sendo a parcela da população de jovens
rurais atendidos pelos programas de Extensão Rural um público considerado mais
propício às mudanças comportamentais propugnadas, a constituição de clubes juvenis
teve grande relevância nesse contexto.
Nesse trabalho e baseado na consulta às fontes como relatórios, programas,
manuais, revistas sobre o trabalho com os clubes de jovens, estamos considerando
como o público alvo a população na faixa etária entre 10 e 25 anos e que direta ou
129 Em Gomes (2013) estudamos os fundamentos, a constituição e as principais ações desenvolvidas junto à juventude rural de Minas Gerais na organização dos Clubes 4-S nesse estado. Uma das conclusões desse trabalho foi apontar o protagonismo dos Clubes 4-S como método de Extensão no Brasil.
252
indiretamente se envolveu com as atividades de extensão que se consubstanciaram na
organização e difusão de clubes de jovens rurais130.
Nesse sentido, apresentamos uma breve discussão sobre a constituição de
clubes agrícolas anteriores ao período da Segunda Guerra. Em seguida tratamos da
constituição dos clubes na América Latina no contexto pós-Guerra. Analisaremos o
papel desempenhado pelo Programa Interamericano para la Juventud Rural (PIJR) ou
Inter-American Rural Youth Program buscando entender as ligações entre os clubes
juvenis americanos.
Os dados obtidos nessa pesquisa foram fruto da análise dos fundos documentais
sobre Extensão Rural e juventude rural localizados na Biblioteca do Ministério da
Agricultura do Brasil e do Centro de Documentação e Pesquisa em Extensão Rural,
localizado na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, além da bibliografia relacionada
ao tema.
Também estamos ainda em fase de consulta e análise de parte do acervo da
Revista Turrialba, editada pelo Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas – IICA que
se encontra digitalizada na sua totalidade desde o ano de 1950 a 1995. Nosso objetivo
é consultarmos os números editados nas décadas de 1950 e 1960 tendo como principal
sessão de investigação aquela intitulada Ciencia Agrícola en las Américas. Até o
presente momento e nos números consultados foi observado apenas uma circulação de
ideias e integrantes dos trabalhos voltados as atividades agropastoris entre os países
americanos. Não localizamos ainda informações acerca do trabalho específico com os
jovens rurais. Entretanto, é possível perceber essa presença em termos dos objetivos e
das propostas formativas para os técnicos (engenheiros, veterinários, zootecnistas,
cientistas sociais e outros) envolvidos com os trabalhos de difusão dos pressupostos
extensionistas de modernização das práticas agropastoris e das formas de vida nos
meios rurais.
2 - Os clubes de jovens rurais americanos
Nesse texto trabalhamos de forma geral com dois tipos de clubes juvenis e que
concorreram para a modernização das práticas agropastoris e da vida da população dos
meios rurais na América Latina. Em primeiro lugar tratamos dos clubes agrícolas,
agremiações associadas a vida escolar nos quais buscava-se incutir junto à população
130 Cabe destacar que diferentes fontes consultadas, mas inclusive de uma mesma região, apresentaram divergências em relação a faixa etária exata do público alvo dos clubes juvenis. Consideramos que as pequenas diferenças não comprometem o teor da análise presente nesse texto.
253
jovem o gosto pela vida e trabalho no meio rural. Em seguida abordamos os clubes de
jovens rurais que aos moldes dos 4-H estadunidenses foram fundados como, por
exemplo, os Clubes 4-S (Saber, Sentir, Saúde, Servir) no Brasil, os 4-S (Saber, Sentir,
Servir, Ser) da Bolívia, os 4-S (Saúde, Saber, Sentimento, Serviço) da Costa Rica, os
4-S (Saber, Sentimento, Serviço, Saúde) da Colômbia, ou os 4-A (Ação, Adestramento,
Ajuda, Amizade) da Argentina, dentre outros.
É necessário dizer que apesar das similaridades entre tais clubes, seja em
termos de símbolos, significados e traduções das siglas e até mesmo de objetivos em
comum a serem alcançados, haviam diferenças na organização de tais clubes e
contexto de formação que precisariam ser melhor investigados131. Entretanto, não é
esse nosso propósito nesse texto, ficando apenas nosso relato na caracterização geral
dos mesmos.
2.1 - Os clubes agrícolas
O trabalho com a organização de clubes agrícolas para meninos e meninas nos
meios rurais, entretanto, não era uma novidade em alguns países da América Latina do
pós Segunda Guerra Mundial. Como exemplo podemos citar o caso da Argentina, país
que desde a segunda década do século XX foram criados “los clubes agrícolas de
niños”. (GUTIÉRREZ, 2007, p.123). Cabe ressaltar que esses clubes seriam uma
espécie de complemento a escola nos locais onde essa existia e até mesmo uma forma
de garantir um tipo de formação para os jovens rurais atraindo-os para os trabalhos
agrícolas como defendia a Federação Agrária Argentina – FAA.
Gutierrez (2007, p.123) citando Scarzanella (2002) afirma que com os clubes
agrícolas buscava-se “retirar al niño de lugares perniciosos, combatir la vagância, formar
hábitos de trabajo, de sociabilidade y beleza”.
A autora (GUTIÉRREZ, 2007) aponta também em seus estudos uma série de
iniciativas educacionais que voltadas a região pampeana argentina concorreram para a
tentativa de transformação tanto da atividade agropastoril quanto da vida social daquele
país. No tocante específico aos clubes agrícolas para os jovens rurais afirma que havia
a preocupação em frear a saída dos jovens em direção às cidades, mas ao mesmo
tempo muni-los de meios e instrumentos para que fossem capazes de viver em
sociedade. Em 1919 o engenheiro agrônomo Joaquín Barneda egresso da Universidad
de la Plata afirmava em sua tese sobre educação agrícola que as escolas rurais não
131 Para uma análise mais aprofundada dos clubes de jovens rurais na América uma importante fonte são os Anuários Juventude Rural das Américas editados pela Fundação Ford em 1960 e 1962.
254
educavam as crianças e jovens para viverem nesse meio. Era necessário, pois buscar
formas de se manter um equilíbrio entre campo e cidade. Nesse mesmo ano, segundo
Gutiérrez (2007, p.123) foram criados os primeiros clubes agrícolas e esses chegaram
a reunir cerca de 1400 sócios. Esses, porém, tiveram curta duração. Já na década de
1930 teria ocorrido a retomada da iniciativa dos clubes, agora sob auspícios do
Conselho Nacional de Educação (GUTIÉRREZ, 2007, p.178).
Na década de 1930 concorreram assim uma série de iniciativas de criação de
clubes dirigidos aos jovens argentinos. Alguns exemplos foram os Clubes Juventud
Agrária de la Federación Agraria Argentina, fundados em 1930, a Central Clubs
Juventud Agraria Argentina, criados em 1936 e os Clubes del Trabajo Agrícola de 1932,
dentre outros. Para Gutiérrez (2007, p.178)
A referência histórica ao surgimento dos clubes se centrava no exemplo dos Estados Unidos onde em 1908 se produziu sua criação com o qualificativo de 4-H Hand (mão), Head (cabeça), Heart (coração) e Health (saúde)132.
No Brasil, o trabalho com clubes agrícolas remonta a década de 1930 e se insere
nos debates entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Educação e Saúde, sobre
os rumos que teria o Ensino Rural no país naquele contexto. Cabe citar, conforme nos
informa Mendonça (2010, p.41) que uma parte da historiografia especializada no estudo
sobre ensino agrícola no Brasil consagra o ano de 1930133 como marco inicial da
implantação de tal modalidade de ensino. Já uma segunda corrente aponta que a
educação rural estivera durante todo o período da primeira metade do século XX imune
às questões políticas e institucionais desse período. Nesse texto, mesmo não tratando
de tal assunto, cabe citar que desde o início do século XX o Ministério da Agricultura era
responsável por esse ramo de ensino. A criação em novembro de 1930 do Ministério da
Educação e Saúde e Pública teria levado a uma disputa entre os órgãos ministeriais
acerca dos ditames da Educação Agrícola brasileira.
Segundo Mendonça (2006, p.99) no contexto de estreitamento das relações de
cooperação entre Brasil e Estados Unidos durante os anos da Segunda Guerra Mundial
132 Traduzido do original: “La referencia histórica al surgimento de los clubes se centraba en el ejemplo de Estados Unidos donde em 1908 se produjo sua creación con el calificativo de 4-H: hand (mano), head (cabeza), heart (corazón) y health (salud)”. 133 O ano de 1930 foi aquele que, via o movimento civil-político que ficaria conhecido como a “Revolução de 1930”, propiciou a ascensão ao poder máximo da nação do líder político gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. Vargas se tornaria presidente do Brasil durante o período de 1930 e 1945, e depois eleito pelo voto direto entre 1951 e 1954, quando cometeu suicídio em momento de grave crise política nacional.
255
teria levado a novos contornos a disputa entre o Ministério da Agricultura e o Ministério
da Educação. Brasil e Estados Unidos assinaram acordos de cooperação devido ao
esforço de guerra no qual caberia ao Brasil um papel de destaque no fornecimento de
matéria-prima e gêneros alimentícios para os Estados Unidos. Nesse cenário o
Ministério da Agricultura ganhou relevo na formatação de políticas voltadas a esse fim.
Dessa forma o Ministério da Agricultura iniciou no início da década de 1940 uma
campanha pela multiplicação do número de clubes agrícolas no país. Nessa época,
técnicos do Ministério da Agricultura teriam regressado dos Estados Unidos onde foram
em viagem de estudos e assim contribuíram para a ampliação do número de clubes.
Nesse contexto de disputas internas entre o Ministério da Agricultura e o
Ministério da Educação sobre quem deveria ter a competência sobre os processos
educacionais do homem rural brasileiro, o Ministério da Agricultura passou cada vez
mais a ganhar espaço. Mesmo sendo ligados à vida escolar, os clubes agrícolas foram
uma prerrogativa do Ministério da Agricultura e sobre isso Mendonça (2010, p.59)
afirmou
Entre 1940 e 1942, a preocupação central do Ministério da Agricultura em termos de educação rural, efetivamente fixou-se na multiplicação e disseminação dos clubes agrícolas destinados à infância e adolescência, ainda que os primeiros deles tenham sido fundados em 1934. (...). Um dos aspectos mais importantes dos clubes agrícolas refere-se ao fato de situarem-se em anexo às escolas primárias regulares – públicas ou particulares – ilustrando mais um capítulo da disputa com o Ministério da Educação. A rigor, as escolas da rede primária regular passaram a contar com um “apêndice” que não se achava sob sua administração, mas sim da do Ministério da Agricultura.
A ênfase ao Ministério da Agricultura no trabalho com os Clubes Agrícolas foi
observado em um documento formulado pelos técnicos do próprio Ministério (LIMA et
al, 1949, p.3 e 4). Nele os autores afirmam que
Entre as organizações mais capazes de contribuir para o desenvolvimento do meio rural, pela valorização do ambiente e do trabalho, destaca-se a dos clubes agrícolas. Agrupando a infância e juventude em núcleos associativos, essas entidades dão aos seus jovens integrantes as primeiras noções de vida coletiva, com seus deveres e responsabilidades; e ao mesmo tempo, cumprindo as finalidades do seu programa, despertam o interesse pelos trabalhos lucrativos, inspirando entusiasmo pelas atividades do campo. (...) Junto às escolas públicas e particulares, especialmente no interior, os clubes agrícolas constituem complemento necessário e imprescindível. Se educar é preparar para a vida, a alfabetização por si só não satisfaz: é preciso, também, despertar nos cidadãos de amanhã o gosto pelas atividades
256
produtivas, orientando-os para os trabalhos agrícolas, de modo a criar nos jovens, desde a infância, a consciência do seu valor como fatores positivos na sociedade.
Os autores além de defender a importância do trabalho dos Clubes Agrícolas
também enfatizam que a escola no meio rural não dava conta de preparar o aluno para
viver no seu meio social, o que levava dentre outras consequências a evasão para os
meios urbanos. Para Lima et al (1949, p.4)
Para as escolas primárias e os colégios das zonas rurais brasileiras assumirem o verdadeiro papel que lhes cabe, de agentes locais do progresso social, mister se faz que incluam entre suas cogitações a de formar nos educandos uma mentalidade ruralista.
Em outro documento produzido pelo Serviço de Informação Agrícola do
Ministério da Agricultura em 1958, o Técnico de Educação Rural, Roberval Cardoso,
define e exemplifica tipos distintos de agremiações rurais separando-os em dois grupos:
grêmios para menores e grêmios para adultos. No primeiro grupo, Grêmios para
Menores foram definidos: Clube Agrícola; Cooperativa Escolar Agrícola; Escotismo;
Bandeirantismo; Clube de Saúde; Clube Recreativo – Desportivo; Clube de Reforma do
Lar; Clube 4-S do Brasil; Centro Social Escolar. Dos Grêmios para adultos foram
definidos: Grêmios de Interesse das Classes Rurais; Cooperativa Agrícola; Conselho de
Saúde – Clube de Saúde; Grêmio Cívico; Grêmio Religioso; Clube de Caça e Pesca;
Centro Social Rural. (CARDOSO, 1958).
Sobre os Clubes Agrícolas além de destacar a importância dos mesmos para as
escolas rurais o autor lista vinte finalidades dos clubes, dos quais destacamos as que
seguem devido as suas similaridades com os clubes de jovens rurais como os 4-S:
Incutir na consciência de seus sócios o amor à terra, o sentimento da nobreza das atividades agrícolas e a ideia do seu valor econômico e patriótico. Dignificar o trabalho manual, elevar e engrandecer a vocação e a profissão do agricultor. Mostrar os perigos do urbanismo e do abandono do campo. Desenvolver o espírito de cooperação na escola, na família e na coletividade. Colaborar para o melhoramento permanente da vida rural, tornando-a mais agradável e aperfeiçoando-a sob o ponto de vista da sociabilidade, da estética e da cultura geral. Fazer a propaganda, na comunidade rural, da vida bonita, confortável, alegre e higiênica, ensinando os sócios a achar belas a ordem e a limpeza. Difundir as regras de alimentação sadia como base da boa saúde, ensinando a apreciar o valor nutritivo dos alimentos e os processos racionais de prepará-los. (CARDOSO, 1958, p.9-10).
257
Já sobre os Clubes 4-S do Brasil e sua relação com os 4-H dos Estados Unidos,
Cardoso (1958, p.43) afirmou que
Os Clubes 4-S do Brasil, de organização equivalente aos Clubes 4-H Head (cabeça), Heart (coração), Hands (mãos) e Health (saúde), que com tão valiosos resultados têm atuado nos Estados Unidos da América, trazem como objetivo máximo a educação social dos jovens rurais e seu preparo para o cumprimento de suas obrigações presentes e futuras.
Se o conhecimento da experiência dos Estados Unidos de formação de clubes
juvenis como os 4-H já tinha servido de inspiração para a constituição dos Clubes
Agrícolas no Brasil e na Argentina, por exemplo, desde a década de 1930 foi só o
período posterior a Segunda Guerra Mundial que a atuação dos seus técnicos na
América Latina se tornou mais incisiva e contribuiu para a fundação de clubes
nitidamente nesses moldes e amparados por organismos internacionais como veremos
a seguir.
2.2 - Os 4-H Clubs e as outras experiências de clubes juvenis na América
A década de 1950 foi bastante profícua na criação de clubes juvenis rurais no
continente americano. Os clubes de jovens residentes nos meios rurais a que nos
referimos nesse trabalho foram aqueles que, a grosso modo, visavam o incremento de
técnicas agrícolas ditas modernas e o desenvolvimento da formação cidadã dos seus
sócios, por meio de um processo não-escolar de educação. Foi justamente no período
posterior a Segunda Guerra Mundial que ocorreu uma maior participação dos Estados
Unidos no incentivo e na constituição desses clubes.
A inspiração ou modelo dos clubes formados no continente americano estava
nos 4-H (Head, Hands, Heart, Health) Clubs estadunidenses. Esses foram oficialmente
instituídos nos Estados Unidos em 1912, porém já existiam iniciativas semelhantes
desde o final do século XIX e início do XX quando foram desenvolvidos trabalhos para
o crescimento e aprimoramento da produção de milho, de tomate, porcos e fabricação
de conservas. Segundo o site http://4-hhistorypreservation.com/History/Hist_Nat, portal
que armazena um grande número de dados e informações sobre a história dos 4-H
Clubs, em 1910 “Jessie Field Shambaugh desenvolveu um broche de um trevo com um
258
H em cada folha e em 1912 os grupos passaram a ser chamados de 4-H Clubs”.
(Tradução do autor) 134.
Os 4-H Clubs eram formados por crianças e jovens entre 9 e 19 anos, ligados as
atividades rurais, geralmente nas propriedades de seus pais. Junto aos sócios buscava-
se promover o desenvolvimento de técnicas de agricultura, pecuária, noções de
economia doméstica, formação de lideranças comunitárias, sentimentos de
voluntarismo, civismo e autodesenvolvimento humano. A iniciativa de constituição de
tais clubes partiu de professores ligados aos land-grand colleges e de universidades
estadunidenses. Quando em 1914 o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei
Smith-Lever o trabalho com os 4-H foi efetivamente nacionalizado135. Os 4-H são parte
do Serviço de Extensão Cooperativa do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos e existem ainda hoje naquele país.
Segundo Lima et al (1949, p.20) os clubes de jovens rurais conhecidos como 4-
H
São dirigidos e orientados por funcionários federais, estaduais ou municipais, que estão, segundo a função que ocupam, direta ou indiretamente subordinados ao Serviço de Extensão Agrícola do Departamento Federal de Agricultura. Religiosos, professores ou outros profissionais de ambos os sexos, assim como fazendeiros, criadores ou proprietários de conhecida idoneidade podem desempenhar papel de relevo na organização dessas entidades, tornando-se patrocinadores ou leaders dos movimentos em prol dos mesmos.
Os 4-H Clubs tinham uma série de rituais e símbolos a serem cultivados por cada
um dos integrantes dessas agremiações. O lema “Learning by doing” tem sido uma das
marcas dos 4-H desde o início dos seus trabalhos. Além disso, os clubes dos Estados
Unidos tinham como símbolo um trevo de quatro folhas. Tinham como cores, segundo
Lima et al (1958, p.27) o branco que simbolizava a pureza de corpo, alma e espírito e o
verde representando a juventude e desenvolvimento.
Os sócios escolhiam os seus representantes que compunham a diretoria de cada
um dos clubes nas comunidades que atuavam. Junto com a liderança dos clubes, a
liderança comunitária ou o representando do Serviço de Extensão Agrícola local, os
134 Trecho original: Jessie Field Shambaugh developed the clover pin with an H on each leaf in
1910, and by 1912 the groups were beginning to be called 4-H Clubs.
135 Informações baseadas no seguinte trecho: “When Congress passed the Smith-Lever Act in
1914 and created the Cooperative Extension System at USDA, it included work of various boys'
and girls' clubs involved with agriculture, home economics and related subjects, which effectively
nationalized the 4-H organization”. Ver: http://4-hhistorypreservation.com/History/Hist_Nat.
259
jovens buscavam desenvolver meios e ações para que os objetivos dos 4-H fossem
atingidos. Havia dentre esses objetivos uma dimensão técnica, moral e de formação de
um ethos profissional para a constituição de futuros adultos envolvidos diretamente com
os problemas das suas comunidades, bem como fossem capazes de desenvolver seu
espírito de autonomia. A pureza do corpo, alma e espírito que o branco das cores dos
4-H representava estava assim expresso na busca por garantir hábitos de vida
saudáveis e valorização do trabalho e dos estudos como forma de se obter a felicidade
e satisfação de todos envolvidos com as atividades rurais.
Para tais objetivos os jovens se reuniam mensalmente ou quinzenalmente para
tratar de assuntos de interesse coletivo ou individual, discutidos para o pleno
desenvolvimento das suas comunidades. A partir daí elaboravam os planejamentos dos
programas a serem cumpridos. Os jovens também participavam de torneios ou disputas
de produtividade. Era uma forma de incentivá-los a aumentar a produtividade e premiar
aqueles que se destacavam. A ideia do self made man, empreendedor e rompedor dos
obstáculos à sua frente, assim também estava na dinâmica dos 4-H dos Estados Unidos.
Os jovens dos 4-H também participavam de Encontros, Seminários, Congressos,
viagens de intercâmbio, onde a troca de experiência entre os sócios de clubes das
diferentes regiões dos Estados Unidos era um objetivo a ser alcançado. Nesses eventos
a participação de jovens de outros países também era observado, bem como a ida de
jovens estadunidenses para conhecer a experiência alhures de formação da juventude
rural.
A constituição dos 4-H Clubs não ficou restrita ao território dos Estados Unidos.
Segundo Wesel e Wesel (1982, p.136-138) trabalhos com jovens rurais nos moldes dos
4-H já tinha existido em muitos países desde a década de 1920 como na Inglaterra,
Canadá e Letônia. Como já assinalamos nesse texto, os 4-H já eram conhecidos por
alguns países da América Latina sendo inclusive considerados inspiração para a
constituição dos clubes agrícolas juvenis rurais. Não há dúvida, entretanto, que foi o
contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e logo em seguida o conflito político,
ideológico, propagandístico do pós-guerra que envolveu as duas grandes potências
militares: Estados Unidos e União Soviética, que contribuiu para uma maior participação
dos Estados Unidos na América Latina. O combate inicialmente em relação às ideias
fascistas e após a vitória na guerra ao nacionalismo latino-americano e a possível
expansão de ideais comunistas por essa parte do mundo, teria contribuído para que
novas ações de aproximação entre agências de desenvolvimento dos Estados Unidos,
como foi o caso da AIA e os governos locais fossem incentivadas.
260
Foi nesse contexto, por exemplo, que já em 1938 na Venezuela136 foi constituído
o Clube 5-V (Valor, Vigor, Verdade, Vergonha, Venezuela).
Os Clubes foram estabelecidos para reunir os jovens rurais em grupos e encorajá-los a serem sócios de grande utilidade para suas respectivas comunidades. Durante vários anos, os sócios dos Clubes e seus pais financiaram seus próprios projetos com a ajuda oriunda de indústrias particulares. (ANUÁRIO FORD, 1962, p.173).
Mas foi o pós Segunda Guerra Mundial que viu florescer uma maior e incisiva
ação dos Estados Unidos na constituição de Clubes de jovens rurais pelo continente
americano. Trabalhos com a juventude rural nos moldes dos 4-H existiram na Ásia,
África, Europa e América Latina, anteriores ao período da Segunda Guerra. No caso do
continente americano foi justamente o período de pós-guerra aquele que observou o
maior número de clubes de jovens rurais que seguiram esse modelo. Mesmo em alguns
países não existindo mais trabalhos como esses, como é o caso do Brasil com os Clubes
4-S, o programa ainda existe hoje e é muito forte nos Estados Unidos. Segundo o site
oficial137 dos 4-H o trabalho com a juventude atinge milhares de pessoas em cerca de
50 países atualmente.
Na América do Sul, além da Venezuela foi fundado em 1946 no Equador o Clube
4-F (Fé, Fecundidade, Fortaleza, Felicidade). Em 1947 ocorreu a fundação dos Clubes
4-S (Saber, Sentir, Servir, Ser) na Bolívia. Em 1948 foi fundado no Chile o Clube da
Juventude Agrícola 4-C (Cabeça, Coração, Capacidade, Cooperação). Como já
referimos o Brasil teve em 1952 a formação dos Clubes 4-S (Saber, Sentir, Saúde,
Servir). No ano seguinte foi a vez do Paraguai, onde os clubes ficaram conhecidos como
4-C (Cabeça, Coração, Capacidade, Cooperação). Em 1954 foi organizado no Uruguai
o Movimento da Juventude Agrária – MJA que tinha como lema: Trabalho, Saúde e
Alegria. Na Guiana Inglesa foi criado em 1955 os Clubes 4-H (Cabeça, Mãos, Coração,
Saúde). Naquele mesmo ano foi fundado o Clube 4-S (Saber, Sentimento, Serviço,
Saúde) na Colômbia. Em 1956 foram criados na Argentina os Clubes 4-A (Ação,
Adestramento, Ajuda, Amizade). No Suriname o trabalho com a juventude rural foi
iniciado em 1956, com uma Subdivisão do Departamento de Serviço de Extensão
Agrícola e em 1957 foi organizado o primeiro Clube 4-H (Cabeça, Coração, Mãos,
Saúde). Em 1957 foi a vez de o Peru ter o seu CAJP - Club Agrícola Juvenil Peru que
136 Sobre o papel da Venezuela como local de interesses de Nelson Rockefeller e dos organismos internacionais em que esteve envolvido, bem como da constituição de serviço de Extensão Rural nesse país e do trabalho com a juventude rural, além do Anuário Ford, 1962, ver também: Dalrymple, 1946; Colby e Dennett, 1998; Tota, 2010 e 2014; Rosemberg, 2011. 137 Ver: http://www.4-h.org/about/global-network/. Acesso em 26/11/2015.
261
tinha como significado das iniciais Carácter, Ação, Juízo, Pátria. Para além da América
do Sul havia também no contexto americano, outros clubes de jovens rurais. Citamos
dois casos. Desde 1949 existiam na Costa Rica os também denominados Clubes 4-S
sendo, por sua vez, nesse país centro-americano, diferentes o significado dos 4-S
(Saúde, Saber, Sentimento, Serviço) do que no Brasil, por exemplo. Em Cuba, desde
1931 havia um programa de treinamento para clubes de juventude rural. Lá os clubes
foram designados por 5-C (Cuba, Cérebro, Coração, Civismo, Cooperação). A filiação
não foi verificada em 1961. Cabe lembrar que nesse ano as relações entre Cuba e
Estados Unidos tornaram-se vez mais tensas devido ao alinhamento da Ilha ao espectro
político da União Soviética. Cuba foi inclusive expulsa da Organização dos Estados
Americanos – OEA. (FUNDAÇÃO FORD, 1962). Na maior parte desses países o
símbolo dos clubes era um trevo com 4 folhas, como já observado para os 4-H dos
Estados Unidos.
Consideramos a Costa Rica um país fundamental para o entendimento do
trabalho com a juventude rural no continente americano. Não pelo fato de ainda hoje o
trabalho com os Clubes 4-S (Saúde, Saber, Sentimento, Serviço) daquele país continuar
em ação, mas sim também porque foi lá instituído em 1942 o Instituto Interamericano
de Ciências Agrárias – IICA138 com sede em Turrialba.
Esse órgão foi responsável, dentre outras funções, por formar quadros
extensionistas para a América Latina. Do IICA nasceu o Programa Interamericano para
la Juventud Rural (PIJR) ou Inter-American Rural Youth Program em 1960. O PIJR
pautou suas ações em tentar angariar recursos e iniciativas que promovessem o
trabalho com a juventude rural americana por meio de intercâmbios, competições,
encontros, convenções e outros.
Segundo Rosenberg (2011), o PIJR foi fundado com o apoio da AIA e do IICA
em 1960. Esse seria uma organização internacional que congregaria as ações
envolvendo o trabalho com os jovens rurais nos moldes dos 4-H. Teve sua sede nos
escritórios do IICA localizado em Turrialba, na Costa Rica e depois foram abertos
escritórios regionais no Brasil e Venezuela. O objetivo do PIJR era incentivar e constituir
meios para o fortalecimento ao movimento transnacional da juventude rural latino-
americana. Assim seria responsável, por exemplo, por obter suporte legislativo e
financeiro junto as autoridades públicas e privadas de cada nação envolvida. Também
seria responsável por treinar o corpo técnico extensionista associado ao trabalho com
os jovens, bem como organizar eventos internacionais que congregassem os jovens,
fossem eles competições, congressos, intercâmbios etc.
138 Desde 1979 o IICA foi renomeado para Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
262
Desde 1948 já havia sido fundado uma organização com o objetivo de promover
a troca de experiência de jovens rurais do mundo todo. Referimo-nos ao The
International Farm Youth Exchange (IFYE) ou Intercâmbio Internacional da Juventude
Rural. O IFYE era restrito aos jovens americanos e promoveu uma série de ações para
que integrantes de programas de juventude rural conhecessem melhor a realidade de
cada um dos países envolvidos e assim contribuíssem com a transformação das
realidades locais.
A Universidade de Purdue, localizada em West Lafayette, no estado de Indiana,
foi um dos principais palcos de trocas de experiências entre os jovens rurais. Cabe citar
que técnicos brasileiros ligados a Extensão Rural fizeram cursos de aperfeiçoamento ou
de pós-graduação nas dependências dessa instituição de destaque nos assuntos
relacionados aos meios rurais. Segundo o Anuário Ford (1962, p.148) nos últimos dias
de julho de 1961
Em Purdue, os 21 delegados da América Latina tiveram oportunidade de discutir os trabalhos dos clubes. (...) Ali eles se juntaram com os outros delegados do IFYE, patrocinado pela Fundação 4-H de Washington, D.C. e organizações tanto particulares como do governo, nos países de origem. Entre os meses de abril e novembro, cada delegado passou 6 meses em meia dúzia ou mais fazendas, bem afastadas umas das outras, nos Estados Unidos. Em Purdue, ponto de encontro da jornada, eles se encontraram para discutir assuntos de interesse comum.
3 – Considerações finais
Até agora, é possível afirmarmos, como tentamos mostrar nesse texto, que a
juventude rural latino-americana foi pensada como setor estratégico das políticas
extensionistas visando a modernização das práticas agrícolas e dos estilos de vida das
populações locais. Existiram pontos de contato, seja em termos dos significados
expressos nos símbolos de cada um dos movimentos de jovens rurais, seja em termos
dos objetivos a serem alcançados. Além, é claro, da estreita relação e interdependência
com o modelo inspirador que foram os 4-H Clubs estadunidenses.
Cabe destacar que em nossa pesquisa de Doutorado, para além de
aprofundarmos as relações envolvendo os clubes de jovens rurais no continente
americano, nosso foco estará centrado nas relações envolvendo o trabalho dos 4-H com
os Clubes 4-S do Brasil. Nesse sentido, buscaremos estabelecer os pontos de contato
entre o PIJR, o IFYE, a National 4-H Foundation and Extension com o Serviço de
Extensão Rural no Brasil e a organização dos Clubes 4-S. Nesse cenário, procuraremos
263
avaliar também qual foi o papel dos Peace Corps ou Voluntários da Paz na troca de
experiências e na constituição de valores em comum entre os jovens rurais dos dois
países.
4 - Referências: 4.1 – Livros, teses, artigos. CARDOSO, Roberval. Grêmios para o meio rural. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, Serviço de Informação Agrícola, 1958 – Série Clubes Agrícolas nº 11, 2ª edição). COLBY, Gerard; DENNETT, Charlotte. Seja feita a vossa vontade. A conquista da Amazônia: Nelson Rockefeller e o Evangelismo na Idade do Petróleo. Rio de Janeiro: Editora Record, 1998. DALRYMPLE, Martha. The AIA Story: two decades of International Cooperation. New York: AIA, 1968.
FUNDAÇÃO FORD. Juventude Rural das Américas. Volume II. Deaborn, Michigan: Ford Motor Company, 1962. GOMES, Leonardo Ribeiro Gomes. “Progredir sempre”. Os jovens rurais mineiros nos Clubes 4-S (Saber, Sentir, Saúde, Servir) – (1952 – 1974). 186 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Educação, Belo Horizonte, 2013. GUTIÉRREZ, Talía Violeta. Educación, agro y sociedad. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes editora, 2007. LIMA, J.P.; BUHR, C.; LAVOR, G.C. Clubes Agrícolas. 2ª edição. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura. Serviço de Informação Agrícola, 1949. MENDONÇA, Sonia Regina de. A dupla dicotomia do ensino agrícola no Brasil (1930-1960). Estudos Sociedade e Agricultura, abril 2006, vol 14 no. 1, p. 88-113. MENDONÇA, Sônia Regina de. Estado, educação rural e influência norte-americana no Brasil (1930 – 1961). Niterói: Editora da UFF, 2010. PIERRE, Pradel. Estudio sobre la influencia indirecta en la difusion de practicas agrícolas en una comunidad de Costa Rica. Tesis. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA. Turrialba, Costa Rica, agosto de 1962. ROSENBERG, Gabriel N. The Programa Interamericano para la Juventud Rural (Inter-American Rural Youth Program) and Rural Modernization in Cold War Latin America. In: http://www.rockarch.org/publications/resrep/rosenberg.pdf, 2011. Acesso em 04 de agosto de 2014. SCARZANELLA, Eugenia. Ni gringos ni índios. Immigración, criminalidade y racismo em Argentina, 1890-1940. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2002.
264
TOTA, Antônio Pedro. O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. TOTA, Antônio Pedro. O amigo americano: Nelson Rockefeller e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. WESSEL, Thomas; WESSEL, Marilyn. 4-H: an American Idea. 1900 – 1980. A history of 4-H. Chevy Chase, Maryland: National 4-H Council, 1982. 4.2 - Sites: http://www.4-h.org/about/global-network http://4-hhistorypreservation.com http://www.rockarch.org
DIFERENTES CONDIÇÔES DE INFÂNCIA NA CONSTRUÇÂO DE UMA NAÇÃO DE DESIGUALDADES, BRASIL (1889-1927)139
Profa. Dra. Cynthia Greive Veiga
Universidade Federal de Minas Gerais – BRASIL
O objetivo desta comunicação é investigar a desigualdade na oferta de escolas para a
infância e problematizar sua consequência no processo de instalação da república
brasileira. O tempo histórico recortado refere-se as primeiras décadas republicanas,
incluindo as reformas escolares e a publicação do Código de Menores de 1927 que
institucionalizou um conjunto de instituições educativas ratificadoras das desigualdades
das condições de infância.
Como amostra, a pesquisa será mais restrita aos acontecimentos do estado de Minas
Gerais. Parte-se da premissa de que para a compreensão histórica dos diferentes
processos de vivencia da infância faz-se necessário investigar também as condições de
acesso à escola. Minha hipótese é de que a existência de níveis muitos desiguais de
qualidade escolar favoreceu a estigmatização das crianças pobres e negras como grupo
inferior na sociedade constituindo profundas diferenciações no processo de sua
participação na formação da nação brasileira. Por outro lado, pretende-se contribuir para
a historiografia da educação na perspectiva de dar visibilidade ao amplo leque de oferta
escolar, enfatizando as tensões já presentes no processo escolarizador, antes mesmo
139 Parte da pesquisa em desenvolvimento “História das desigualdades escolares: tensões na igualdade de direitos”, bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq.
265
do ingresso da criança na escola, tendo em vista a sua destinação escolar, segundo a
origem social e étnica.
A instalação da república em 1889 se fez com expectativas de mudanças sociais e de
novas oportunidades para toda a população, e, em que pese as diferenças históricas, o
país comungava com outras nações da esperança de consolidação de uma
modernidade promissora sustentada pela ciência e indústria. A Constituição de 1891
elevou o país ao patamar de país civilizado uma vez que definitivamente estabeleceu a
igualdade perante a lei, possibilitado pelo fim da escravidão (1888) e dos privilégios
monárquicos, entretanto, como outros países, também instituiu distinções para a
qualificação dos eleitores, com destaque para a proibição do voto do analfabeto. Deste
modo, o combate ao analfabetismo foi uma importante causa defendida no contexto,
contudo ao final dos anos de 1920, numa população estimada em 30 milhões, sua taxa
era em torno de 76,5%.
O aumento da demanda pela escolarização da infância neste momento integrou o
movimento pela alfabetização como prerrogativa de formação do cidadão brasileiro,
embora este processo tenha se realizado de modo extremamente desigual; há de se
ressalvar a prescrição da escolaridade obrigatória definido nas legislações estaduais,
tendo em vista a opção política pelo federalismo e, portanto, ausência de uma legislação
educacional a nível nacional até 1930140. Antes de tudo, este apelo republicano foi
produzido em meio a circunstâncias de vida extremamente desfavoráveis de grande
parte da população, tais como: péssimas condições de moradia e trabalho, baixos
salários, doenças, mortalidade infantil, rarefação escolar, sem contar as difíceis
condições de vida dos habitantes das zonas rurais, estimado em 80% da população.
Especificamente, ressalta-se ainda a ampla utilização do trabalho de crianças e as
tensões presentes na discussão da regulamentação do trabalho infantil e escolarização
obrigatória. Até o final da década de 1920, pode-se identificar um conjunto de
instituições públicas com função escolar diversificada segundo origem social da clientela
infantil: os imponentes Grupos Escolares das capitais, escolas isoladas, escolas
reunidas, patronatos agrícolas, escolas para “delinquentes” e “pervertidos”, escolas
rurais, a estas se acresce as escolas particulares leigas e confessionais. As diferenças
na qualidade do ensino podem ser identificadas nos objetivos, nas edificações, materiais
escolares, currículos, organização das classes escolares (introdução dos testes),
funcionamento de caixas escolares e critérios de contratação de professores. Mas
140 No Brasil o Ministério da Educação foi criado somente em 1930.
266
também no caso das crianças das populações pobres, tornou-se cada vez mais
recorrente associar alfabetização com a aprendizagem de algum oficio.
Desigualdade escolar na República
A institucionalização da escola pública primária no Brasil ocorreu durante o período
imperial, no início do século XIX, mais especificamente por meio da Constituição de
1824. Esta legislação estabeleceu a escola gratuita pública para todos os cidadãos,
embora não fosse permitida o acesso de crianças escravizadas, mas as crianças negras
livres não foram impedidas de frequentar a escola e crianças escravizadas poderiam
frequentar aulas de mestres particulares (VEIGA, 2008). Destaca-se aqui a importância
de ressaltar os problemas relativos a sinonímia estabelecida entre escravos e negros
tal qual efetuado pela historiografia em geral, dificultando a problematização da
socialização e escolarização das crianças negras livres e das escravizadas.
Outra característica significativa deste período foi presença de uma certa
homogeneidade na oferta das aulas públicas durante o império brasileiro. Em geral as
aulas de instrução elementar aconteciam na casa do professor, em espaços
improvisados e precários, não havia seriação escolar, os métodos de ensino eram
limitados demandando tempo longo para o aprendizado da leitura, com ou sem escrita
e contas matemáticas141. Além destes problemas acresce-se a questão da frequência
muito irregular dos alunos, em geral devido a pobreza e trabalho infantil, além da
existência da escravização de crianças.
Entretanto com a edição da lei do Ventre Livre, em 20/09/1871142, houve uma intensa
movimentação por parte do governo e das elites econômicas para definirem sobre o
destino das crianças libertas no ventre. Fonseca (2002) demonstra em sua pesquisa as
divergências quanto a relação entre abolição e educação, e destaca as propostas
educacionais voltadas a aprendizagem de oficio, especificamente ao trabalho agrícola.
Assim, desde os anos de 1870, se fizeram presentes intensões de criação de
instituições educacionais voltadas a atender a clientela infantil pobre e negra com nítido
propósito de conduzi-la ao trabalho, tais como Escolas de Aprendizes Marinheiros e
141 Em 1875, foi criado no Brasil o primeiro Jardim da Infância, pelo médico Menezes Vieira, inspirado em Froebel, destinado as populações abastadas. 142 Esta lei declarava livre os filhos de mulher escrava. Até a idade de 8 anos, as crianças seriam mantidas pelo senhor de sua mãe; após esta idade ele poderia optar por entregar a criança ao Estado e receber uma indenização de 600$00, ou usar de seus serviços até a idade de 21 anos. Contudo, quase não havia instituições para abrigar tais crianças, o que favoreceu a permanência delas na casa do senhor, trabalhando a título de sua manutenção, pelo menos até o fim da escravidão em 1888.
267
Aprendizes do Exército, Asilos Agrícolas, Asilos de Crianças Abandonadas e Colônias
Orfanológicas. Em 1883, o Conde D’Eu, comunica sua intenção de fundar uma
instituição de proteção à infância desvalida, com seguintes argumentos,
Velar pela educação da geração que cresce e sobretudo das crianças privadas do sustento de seus protetores naturais, como foi produzido pela Lei de 28 de setembro de 1871, é um objeto de importância incontestável. O número destes infelizes não é pequeno; as medidas tomadas a este respeito pelo governo o provam (...). Dar-lhes hábitos de trabalho e gosto pela agricultura, fonte primeira da riqueza do pais, inculcando-lhes ao mesmo tempo os sólidos princípios da primeira educação, parece ser a tradução fiel do sentimento nacional. (apud ALMEIDA, 1989, p. 247) (grifos meus)
Com o estabelecimento do governo republicano houve maior diversificação de reformas
educacionais, bem como os tipos de instituições para crianças, dando ampla visibilidade
as desigualdades de condição de vivência da infância que seria definida antes mesmo
da idade de entrada na escola, em geral afixada aos 7 anos. Nas primeiras décadas
republicanas e sob o regime federalista, os Estados foram os responsáveis pelo
provimento das escolas primárias e de outras instituições voltadas a chamada infância
desvalida. Mas em todo o pais era grande a discussão sobre a educação nacional tendo
em vista os altos índices de analfabetismo.
Maria Luiza Marcilio (1998) confirma a primazia de enfoques em instituições agrícolas,
as Colônias e Patronatos Agrícolas se disseminam por vários Estados. Nos anos iniciais
da república, em Minas Gerais destaca-se a inauguração do Instituto João Pinheiro, em
28/03/1909, situado na periferia de Belo Horizonte, recém-inaugurada capital do Estado;
do Aprendizado Agrícola de Barbacena, 1910; do Patronato Agrícola na cidade de
Caxambu, 1918. A criação desses tipos de estabelecimentos foi um exemplo da ação
do Estado providencia tal qual analisado por Pierre Rosanvallon (1997), num contexto
em que a sociedade passou a ser cada vez mais entendida como mercado, ou na
afirmação do autor, (...) a passagem do estado-protetor para o Estado-providencia
traduz, no nível das representações do estado, o movimento no qual a sociedade deixa
de se pensar como um corpo para se conceber como um mercado (ROSSANVALLON,
1997, p. 22).
O Decreto 7566 de 23/09/1909, expedido pelo presidente Nilo Peçanha, é exemplar
desta perspectiva. Primeira legislação educacional republicana de abrangência
nacional, curiosamente voltada para os filhos dos pobres, esteve vinculada ao Ministério
da Agricultura, Industria e Comercio143 e prescreveu a criação nos Estados de Escolas
143 Durante longo tempo, instituições para crianças pobres foram regulamentadas por outros ministérios que não o da Educação.
268
de Aprendizes Artífices para o ensino profissional primário a serem custeadas pela
União, considerando,
(...) que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite as classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência: que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como faze-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime; que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadãos uteis à nação. (DECRETO, 1909) (grifos meus)
Este entendimento explica a estreita relação entre estas instituições, a concepção de
educação destinada a infância desvalida e a oferta do trabalho como princípio de
inserção social. Em registro de impressões de visitas ao Instituto João Pinheiro, José R.
de Souza, assim se pronuncia em 25/08/1913,
O fim do Instituto é apoderar-se do menor em risco de perversão ou já viciado e, transcorrido o período educacional, restituir à sociedade um homem sadio de corpo e alma, apto para constituir uma célula do organismo social (...) por outras palavras, o internado receberá educação física, moral, cívica, intelectual e profissional. A educação profissional consiste no ensino pratico de agricultura e no de um oficio, sendo, entretanto, o intuito capital da instrução preparar lavradores. Além da agricultura nos campos de demonstração, ocupam-se os educandos nos pavilhões, com jardinagem, horticultura, pomicultura e criação de animais domésticos. (A ASSISTÊNCIA, 1930, p. 16)
Ainda de acordo com Luciano Mendes de Faria Filho (2001), a importância da
Instituição, tal qual atribuída pelas elites políticas e econômicas, não era apenas tratar
do problema das crianças desamparadas, mas compensar a falta de escolas públicas,
conforme observado na documentação. No Regulamento da instituição, de 1910,
observa-se a intenção de diferenciação escolar, “(...) Se o Estado ainda não pode
disseminar estabelecimentos de ensino técnico primário e secundário, acessíveis a
todas as classes, incumbe-lhes começar por atender à necessidade mais premente da
salvação dos pequeninos deserdados da sorte (apud FARIA FILHO, 2001, p. 39).
Também este foi o caso da criação da Escola de Aprendizes Artífices de Minas Gerais,
em 1910, atendendo ao Decreto de Nilo Peçanha. Esta escola teve como clientela os
“meninos desfavorecidos da fortuna” na faixa etária de 10 a 13 anos, com ampliação
nas décadas seguintes. De acordo com Carla Chamon (2008), entre os ofícios
oferecidos, destacam-se: latoaria, marcenaria, vimeria.
Além destas instituições, funcionaram também escolas noturnas que embora orientadas
para adultos, eram frequentadas por crianças conforme demonstra Vera Lucia Nogueira
(2012). A autora constata o direcionamento deste turno escolar também para o público
infantil (crianças de famílias operárias que trabalhavam durante o dia) não somente nas
269
ementas das disciplinas, mas nos relatórios de governo e até nos anúncios de jornais
sobre informação de abertura das matriculas. Também o Decreto de 1909 previa no
artigo 8º que nas Escolas de Aprendizes Artífices deveria haver “dois cursos noturnos:
primário, obrigatório para os alunos que não souberem ler, escrever e contar, e outros
de desenho (...)”.
Já no Decreto 12893 de 28/02/1918, o presidente Wenceslau Braz autorizou o Ministério
da Agricultura a criar “(...) patronatos agrícolas, para educação de menores desvalidos,
nos postos zootécnicos, fazendas-modelo de criação, núcleos coloniais e outros
estabelecimentos do Ministério”, com objetivo prioritário de impulsionar a economia do
pais, segundo esta legislação. Conforme o artigo primeiro, estas instituições deveriam
“(...) ministrar, além da instrução primaria e cívica, noções práticas de agricultura,
zootecnia e veterinária a menores desvalidos”. Contudo, pelo Decreto 7704-A de
11/6/1927, os estabelecimentos de ensino agrícola com esta função, foram transferidos
da Secretaria da Agricultura para a Secretaria de Assistência Pública, indicando para
uma proposta mais assistencialista que profissionalizante.
Na década de 1920 surgiram regulamentações nacionais de instituições educacionais
para as crianças desvalidas, por meio de legislações dos anos de 1923 (aprovou o
regulamento da assistência e proteção aos menores e delinquentes), 1926 (institui o
Código de Menores) e 1927 (consolidou as leis de assistência e proteção a menores).
Ressalta-se que neste contexto, de acordo com relatórios de governo, legislações,
documentos escolares, jornais de época, entre outros, o termo menor foi utilizado para
se referir a infância oriunda das camadas pobres de modo indiscriminado: sejam elas
crianças abandonadas, órfãs pobres, infratoras, trabalhadoras e até para crianças
pobres na escola.
Como estas legislações são desdobramentos uma das outras, tomamos a de 1927 para
nossa discussão. Nela encontramos vários tipos de infância: as crianças de primeira
idade, eram as de menos de dois anos entregues para criação; os infantes expostos,
crianças abandonadas com idade de até 7 anos abrigadas em Recolhimentos de
Expostos ou entregues sob tutela a adultos; menores abandonados, pessoas menores
entre 7 e 18 anos órfãos, abandonados, indigentes, vadios, mendigos e/ou em estado
de libertinagem. Para este último grupo foram prescritas diferentes instituições
educacionais, que não diferenciava as crianças dos adolescentes, sendo a
categorização feita pelo tipo de condição de vida, no caso do abandono, ou conduta.
Em Minas Gerais este código foi regulamentado pelo Decreto 7680, de 3/6/1927 e em
1929, publicou-se o Regimento Interno dos Estabelecimentos de assistência a menores.
270
O Decreto 7680 criou o Abrigo de Menores Afonso de Moraes, localizado na capital Belo
Horizonte com a função de recolher e fazer triagem das crianças, após trinta dias de
abandono; seis Escolas de Preservação, para crianças não delinquentes, localizadas
no interior do estado; uma Escola de reforma para delinquentes, localizada em Belo
Horizonte e outra Escola de Reforma para Pervertidos, no interior, essas ultimas
recebiam as crianças do Abrigo, ou de outra procedência. Todas estas instituições
possuíam escola primaria e aprendizagem de algum oficio (VEIGA e FARIA FILHO,
1999). Nota-se que havia mistura de idades e os limites não eram observados, num livro
de matriculas do Abrigo do período 1927-1933, em 538 internações verifica-se número
significativo de crianças abaixo de 7 anos (REGISTRO, 1933).
No caso das escolas primárias públicas regulares, nas primeiras décadas republicanas
podemos também identificar diferentes ofertas de tipos de escola, com variação na
organização, tempo de escolaridade e localização (campo, distritos ou cidades). Na
tabela a seguir temos as principais modificações quanto ao tipos de escola.
Quadro I: Oferta escolar nas reformas da escola primária, Minas Gerais, 1892-1927
LEGISLAÇÃO PRESCRIÇÃO
Decreto 655 (17/10/1893) Obrigatoriedade escolar 7 aos 13 anos Perímetro escolar: 1,5 km para menino e 0,5 km para menina, tendo a escola o centro Isenção: mão haver escola no perímetro, aprendizagem familiar, indigência, entre outros Escolas rurais, distritais e urbanas (currículos diferenciados)
Decreto 1251 (31/01/1899) Escolas urbanas e distritais, escolas de colônias agrícolas (currículo único)
Decreto 1960 (16/12/1906) Obrigatoriedade escolar para meninos: 7 a 14 anos e para meninas: 8 a 12 anos Grupos Escolares (seriado) – 4 anos – ensino separado para cada sexo Escolas isoladas multiseriadas (urbanas, distritais e coloniais) – 4 anos Escola noturna para adultos Caixa Escolar para auxílio aos alunos pobres
Decreto 3191 (09/06/1911) Obrigatoriedade escolar: 7 aos 14 anos Perímetro escolar: 1km para meninas e 2kms para meninos nas cidades e vilas; 2,5 kms para ambos nos distritos e povoados Escola infantil: 4 a 6anos (criada na lei em 1908) Grupos Escolar, Escola isolada (urbana, distrital, rural)
271
Lei 800 (27/09/1920) Ensino primário: escolas de 1º grau, escolas e 2º grau; grupos escolares (2º grau): distritais – 1º e/ ou 2º grau; rurais ou coloniais – 1º grau; escolas reunidas ou singulares (1º e/ou 2º graus) Obrigatoriedade escolar ambos sexos: 7 a 14 anos Perímetro escolar: 3kms Professoras de preferência solteiras ou viúvas sem filhos Serviço médico escolar e polícia sanitária
Decreto 6655 (19/08/1924) Escola pública: infantil, primário e complementar Escola primária: rural, noturna e ambulante – 2 anos; distrital e urbana singular – 3 anos; escola reunida e grupo escolar – 4 anos Escola infantil – maternal e jardim de infância – 3 anos
Decreto 7970-A (15/10/1927) Perímetro escolar: 2 kms para meninas e 3 kms para meninos Ensino fundamental: escola infantil – 3 anos; escola primária – 3 a 4 anos -Escola primaria rural: 3 anos -Escola primaria distrital e urbana singular: 3 anos -Escolas reunidas e grupos escolares: 4 anos Associação das mães de família Instituições escolares: pelotão de saúde, escoteirismo, Caixa Escolar
FONTE: COLEÇÃO DAS LEIS MINEIRAS
Como podemos observar a oferta era bem diversificada, além de que houve mudança
significativa no perímetro escolar, favorecendo a isenção da obrigatoriedade de
frequência a escola. Destaco ainda a recorrência nas regulamentações da Caixa
Escolar, então denominada de “instituição escolar”, criado para a assistência as crianças
indigentes, dando ampla visibilidade a inferioridade desta infância.
Inferiorização das crianças pobres e negras
Para a discussão deste tópico destacaremos de modo sintético, a problemática da
conciliação entre escola e trabalho infantil; a exposição das crianças pobres nas
272
atividades da Caixa Escolar e a ridicularização da criança negra, tomando como
exemplo sua representação em um periódico infantil.
Nas primeiras décadas republicanas os debates sobre a regulamentação do trabalho
infantil foram tensionados com as legislações da obrigatoriedade escolar. Assim como
no caso da escola, também as regulamentações do trabalho se fizeram de modo
estadualizado, tendo sido o Ministério do Trabalho criado também apenas em 1930, e
somente em 1943, instituiu-se uma regulamentação nacional das leis trabalhistas
(Consolidação das Leis do Trabalho). Mas em 1927, pelo Código de Menores, tivemos
a primeira lei nacional que regulou o “trabalho de menores”
Diferentemente da educação, o principal problema da ausência de uma regulamentação
nacional, esteve nas queixas dos empregadores quanto aos diferenciais na
competitividade de preços do trabalho, interferindo no lucro do produto final. Era grande
a resistência para a regulamentação diferenciada. De outro lado, o movimento de
trabalhadores, seja por meio da mobilização em movimentos grevistas, ou denúncias
publicadas na imprensa operária, pressionava para a necessidade de uma legislação
trabalhista de modo a coibir a exploração. Também foi grande a pressão do movimento
operário internacional, e de outro lado, dos capitalistas, neste caso, com intuito de
controlar o mercado de trabalho a nível internacional144. Nas primeiras décadas do
século XX, tanto a nível nacional como internacional, ganhou destaque o problema do
trabalho infantil, principalmente no que se referia a limite de idade, jornada e tipo de
trabalho.
No Brasil, o “Código de Menores” regulamentou o trabalho infantil a nível nacional
conforme descrito no Capítulo IX. De modo sintético destaco as seguintes prescrições:
proibição de trabalho de menores de 12 anos; exigência de certificado de estudos
primários; exigência de atestado médico; jornada de trabalho de seis horas; proibição
de trabalho noturno; permissão, com restrição, de trabalho infantil como atores,
figurantes, acrobatas; proibição de menores de 18 anos nos serviços gráficos de
conteúdo imoral (DECRETO, 1927).
Contudo, neste Código há exceções e imprecisões que expõem as crianças a
possibilidade de exploração e impossibilidade de frequentar a escola, senão vejamos.
No artigo 102, menores de 14 anos que não tinham instrução primária poderiam
trabalhar desde que comprovassem absoluta necessidade da família e recebessem a
144 Em 1864 foi criada a Associação Internacional dos Trabalhadores, sendo uma das lideranças, Karl Marx; em 1890 aconteceu a primeira Conferência Internacional do Trabalho em Berlim; em 1919, a Organização Internacional do Trabalho.
273
“instrução que lhe seja possível”; o artigo 103 prescreveu proibição de menores de 11
anos de trabalharem em usinas, estaleiros, manufaturas, minas, pedreiras, oficinas;
excetuando locais em que somente fossem empregados membros da família; o
parágrafo único do artigo 112 proibia meninos menores de 14 anos e moças menores
de 18 do trabalho nas ruas, exceto com autorização especial. Destaca-se ainda que no
caso de crianças internadas em instituições para “menores abandonados ou infratores”,
o trabalho em oficinas ou no meio rural se apresentava com função moral e econômica.
Além das imprecisões e exceções na legislação, os problemas relativos à persistência
do analfabetismo no Brasil, as denúncias de condições de trabalho das crianças,
publicados em periódicos e imprensa indicam que as situações de exploração
permaneceram. Por exemplo, o jornal “A Classe Operária” de 6/06/1925, noticia sobre
“O martírio das crianças proletárias” numa fabrica em São Paulo,
As crianças não recebem lanche da fábrica e continuam a fazer “serão” até 8 horas da
noite, entrando às 7 da manhã. O Sr. Antônio Teodoro, mestre de (...) e bobinas cerca
as crianças para elas não saírem. Que coração deste homem, decerto nunca teve filhos
e não se lembra que foi criança! Os pais dos pequenos operários vão pedir por eles. Seu
Teodoro alega que para dispensar um teria que dispensar todos. E não atende (...) Tal
fato prova que o “serão” é obrigatório na Fábrica de Linho de Sapobemba. (A CLASSE
OPERÁRIA, 06/06/1925, Ano1, n. 6, p. 1)
A exploração também esteve presente nas instituições de “assistência e proteção ao
menor”, como podemos ver na denúncia feita pelo jornal “A Esquerda” de 26/03/1931,
sobre a Escola profissional Souza Aguiar,
“O mal do ensino profissional é o próprio ensino profissional”
Como fábrica de móveis escolares e como sebo de mobiliário velho, sujo e quebrado, o
Instituto Souza Aguiar, sendo uma exploração criminosa do trabalho infantil, era uma
verdadeira bestialidade econômica, pois executava os seus trabalhos, por um preço de
custo, sem pagar salário algum aos alunos, muito superior ao do que custaria em
qualquer oficina particular. (A ESQUERDA, 26/03/1931, Ano V, n. 984, p. 1)
Dados produzidos no inquérito “Assistência aos menores desamparados, trabalhadores
da rua”, realizado no mesmo contexto, pela educadora Helena Antipoff, junto a
vendedores de jornais da cidade de Belo Horizonte, o desamparo é evidente. De acordo
com a autora, dos 51 “menores” que estiveram nesta atividade entre 1933 a 1934, dez
estavam abaixo de 12 anos e não tinham escola primária, 8 eram analfabetos, sendo
que a maioria iniciou no oficio aos 7 anos de idade. Ela cita o caso de Joaquim
Fernandes, 14 anos, analfabeto, que começou a vender jornais aos 7 anos. Quanto ao
274
nível de escolaridade, apenas 10 possuíam certificado de escola primária, estando 19
fora da escola. Em consonância com o artigo 112 do Código de menores, que proibia o
trabalho nas ruas, apenas 15 estavam incluídos nesta regra, a grande maioria exercia
o trabalho noturno e não tinha local certo para dormir (ANTIPOFF, 1992, p.147).
Já no caso das crianças pobres que tiveram alguma condição de frequentar a escola, a
inferiorização de sua condição foi evidente nas atividades que envolviam a criação da
Caixa Escolar, ou mesmo nas atividades destinadas a arrecadar fundos para auxiliar
“crianças necessitadas”. A escola desigual favoreceu a produção de uma nova
identidade para a infância, a de “alunos indigentes”, como exemplo, temos o relato de
inauguração da Caixa Escolar da cidade mineira Divino. De acordo com o inspetor
escolar,
Finalizou a festinha, a alegoria – uma simbolizando a Caixa Escolar, tendo numa das
mãos uma lâmpada elétrica e na outra, um livro, que parecia entregar a uma criança, de
joelhos, simbolizando a infância desvalida (SI 3567 – Inspetor Escolar Raimundo Nunes
de Oliveira, Divino, 14/12/1914). (grifos meus)
Na década de 1920, em pleno contexto de campanhas de combate ao analfabetismo,
uma regulamentação chama a atenção, o decreto 6655, artigo 24 de 18/08/1924, institui
que a obrigatoriedade da frequência escolar não se estende a crianças pobres:
“excetuam de obrigatoriedade os menores impossibilitados de frequentar escola por
falta absoluta de meio de comunicação ou por indigência notória” (Colleção, 1924). Mas
para “facilitar a frequência de menores indigentes”, o artigo 470 reafirma necessidade
da Caixa Escolar para distribuição de “prêmios, merenda, roupa, calçado, objetos de
uso pessoal, medicamentos”. Este procedimento deveria ser controlado pelos
professores, conforme o artigo 473 “para os fins de assistência, os professores
organizarão as listas de alunos indigentes de suas classes, que tenham de ser
socorridos” (Colleção, 1924). As listas de alunos indigentes passaram a integrar a
operação escriturística da escola na produção da infância (VEIGA, 2005).
Quanto as crianças negras, ainda não há estudos mais sistematizados sobre o seu lugar
na escola primaria republicana. Mas por meio de dados estatísticos, é possível ver que
as taxas de analfabetismo mais altas incidiam sob a população negra, bem como a
origem pobre, como foi demonstrado no censo de 1940, realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística que registrou um total de 34.796.665 habitantes;
destes, sabiam ler e escrever na faixa etária de 05 a 29 anos, 13.292.605 pessoas,
destas, 10.339.796 eram brancas (IBGE, 1940).
275
De qualquer modo, foram abundantes na literatura infantil e livros didáticos a
inferiorização dos negros e da criança negra, especialmente nas obras de Monteiro
Lobato (1882-1948) como constata Maria Cristina Gouvêa (2004). Para este texto
destaco no formato história em quadrinhos, a personagem negra Lamparina, da revista
infantil O Tico –Tico145, representada como uma criança muito feia, assexuada, careca
e de beiços largos, vestida apenas com um calção. Destaca-se a ampla circulação da
revista com fins não apenas de entretenimento, mas didáticos e escolares e sua
destinação para as camadas médias e altas.
Lamparina no Colégio
Carrapicho não pode mais suportar as travessuras de Lamparina. Por isso levou-a outro
dia a matricular-se num colégio.
A professora, uma senhora muito enérgica, prometeu regenerar a negrinha e levou-a
para o interior da casa, onde...
- começou a interroga-la Você sabe alguma coisa?
-Sim, respondeu Lamparina. E...
Principiou a mostrar as suas habilidades. Com uma agilidade de gato a negrinha virou
todas as cambalhotas que são possíveis a um corpo humano.
A professora acompanhava todos os movimentos estupefada e Lamparina dizia: - Sei
mais ainda.
Agora vou fazer o sapo jururu na beira do rio, chorando porque roubaram os ovos da
Lagartixa.
E a aula terminou porque a professora compreendeu que estava diante de um caso
perdido. (O Tico-Tico, RJ, 28/10/1931, ano XXVII, n. 1360)
A associação entre crianças negras, “macaquices”, relacionadas a dúvidas quanto a
possibilidade de sua educação, foram recorrentes nos diferentes meios de sua
representação, produzindo estigmas de grupo social inferior.
Considerações finais
Neste trabalho problematizamos as condições desiguais de vivência da infância e de
que modo a escolarização contribuiu para ampliar e dar visibilidade a esta realidade.
145 Este periódico infantil teve longa duração, criado em 1905 e extinto em 1977, foi o primeiro a trazer
histórias em quadrinhos. Lamparina não é a única personagem negra, havendo outros como Benjamim e
Izidoro (Giby).
276
Temos que paradoxalmente, durante o período de instalação e desenvolvimento da
república brasileira, de estabelecimento dos direitos político-sociais, com grande
demanda pela alfabetização como condição para exercício da cidadania, as políticas
educacionais em curso nas primeiras décadas do século XX, contribuíram para
aprofundamento das desigualdades entre as crianças.
No aspecto da oferta escolar, destaca-se a sua destinação para diferentes instituições
escolarizadoras que se proliferaram neste contexto: escola para abandonados,
pervertidos, delinquentes, grupos escolares, escolas isoladas, escolas rurais, etc. Tais
instituições possibilitaram oportunidades diferenciadas de inserção social,
principalmente devido ao destaque dado a aprendizagem para o trabalho, em escolas
direcionadas as crianças pobres.
Contudo as desigualdades de vivência da infância, extrapolaram as instituições e se
fizeram presentes em outras instancias. Aqui discutimos, os debates sobre trabalho
infantil e escolarização, favorecendo amplamente o trabalho em detrimento da escola;
a criação de instituições como Caixa Escolar, possibilitadora da introdução e
proliferação da identidade “aluno indigente”; a inferiorização das crianças negras na
literatura escolar, consolidando estigmas e preconceitos no âmbito da vivência escolar.
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889). São Paulo: INEP,PUC- SP, 1989.
CHAMON, Carla Simone. Ensino de ofícios e meninos desvalidos: os alunos da Escola de Aprendizes Artífices de Minas Gerais na década de 1930. http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe5/pdf/631.pdf
FARIA FILHO, Luciano Mendes de. República, trabalho e educação: a experiência do Instituto João Pinheiro (1909-1934). São Paulo: Universidade de São Francisco, 2001.
FONSECA, Marcus Vinicius. A Educação dos Negros: uma nova face do processo de abolição da escravidão no Brasil. Bragança Paulista: EDUSF, 2002.
GOUVÊA, Maria Cristina Soares de. O mundo da criança. A construção do infantil na literatura brasileira. Bragança Paulista: Universidade São Francisco, 2004.
MARCILIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998.
NOGUEIRA, Vera Lucia. A escola primária noturna em Minas Gerais (1891-1924). Belo horizonte: Mazza Edições, 2012.
ROSANVALLON, Pierre. A crise do Estado-Providencia. Brasília: UNB, UFG, 1997.
277
VEIGA, Cynthia Greive e FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Infância no sótão. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
_______. A produção da infância nas operações escriturísticas da administração da instrução elementar no século 19. Revista Brasileira de História da Educação, São Paulo, n. 9, 2005, p. 73-108.
_______. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007.
_______. Escola pública para os negros e os pobres no Brasil: uma invenção imperial. Revista Brasileira de Educação, vol.13, n.39, Rio de Janeiro, Set./Dec. 2008.
FONTES DOCUMENTAIS
ANTIPOFF, Helena. Coletânea das obras de Helena Antipoff, volume II. Belo Horizonte: CDPHA, 1992.
Colleção das Leis mineiras. Arquivo Público Mineiro.
DECRETO n. 7566 (23/09/1909) – Portal da Câmara dos deputados
DECRETO n. 17943 (12/10/1927) – Portal da Câmara dos Deputados
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Recenseamento geral de 1940, 1º de setembro de 1940, Série Nacional, volume II, Rio de Janeiro, IBHE, 1950
REGISTRO de Matriculas das escolas Abrigo de Menores, Rio Branco, Adelaide, Alfredo Pinto e Padre Sacramento. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, Secretaria de Segurança e Assistência,1933. Arquivo Público Mineiro.
SECRETARIA DO INTERIOR (SI) Códice 3567. Arquivo Público Mineiro.
A CLASSE OPERÁRIA, 06/06/1925, Ano 1, n. 6
A ESQUERDA, 26/03/1931, Ano V, n. 984
O TICO-TICO. Rio de Janeiro, 28/10/1931 – ano XXVII, n. 1360.
(http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=153079&PagFis=31639)
EL “VERDADERO KINDERGARTEN” EN EL ESTADO DE MÉXICO 1897-1926
Dra. Elida Lucila Campos Alba Servicios Educativos Integrados al Estado de México
La experiencia y resultados obtenidos en las Escuelas de Párvulos anexas a las
Normales de alguna manera satisfacían principalmente a las autoridades estatales al
cumplir el propósito de mostrar un Estado de México vanguardista y moderno. Poco a
poco, este tipo de educación fue tímidamente demandado por otras localidades,
haciendo patente nuevas necesidades como la formación de docentes especializados,
la consolidación de un método que no terminaba de ser comprendido y aplicado en la
278
práctica, así como la ubicación o reubicación de estas escuelas dentro del sistema
educativo estatal, pues, hasta ese momento, continuaban teniendo el carácter de
“experimentales” en beneficio de la educación Normal.
Debido a la afinidad ideológica del gobernador Villada y del presidente Porfirio Díaz –
positivista y liberal-, de su estrecha relación personal, y de la cercanía de la entidad con
la capital del país, que permitió el flujo continuo de las innovaciones educativas y la
presencia reiterada del presidente en actos públicos estatales; se estableció una “cuasi
autonomía” (Bazant, 2002:316) del poder estatal frente al central. El gobierno federal
confiaba plenamente en Villada, sabedor de que sus decisiones siempre serían acordes
al proyecto porfirista. Este voto de confianza posibilitó al gobernador orientar sus
esfuerzos en la reorganización de la administración pública con base en la centralización
de los recursos y decisiones y el impulso a la instrucción en general.
Todos los proyectos de mejora e innovación en materia educativa estaban sustentados
en las resoluciones de los dos Congresos de Instrucción convocados por el gobierno
central, las adecuaciones regionales propuestas por la élite intelectual estatal146,
conformada principalmente por catedráticos del Instituto Científico y Literario y las
propias iniciativas del gobernador, y eran introducidas para su ejecución a través de
leyes y reglamentos sumamente detallados y específicos
El tan esperado reconocimiento internacional estaba llegando debido al esfuerzo
sostenido del régimen villadista. En 1896 el “Álbum Ibero Americano” que se publicaba
en Madrid, mencionaba:
La gestión administrativa del señor Villada ha colocado al Estado de México a muy alto grado de cultura, comprendiendo como persona muy ilustrada que el progreso de las naciones se debe al fomento de la instrucción pública, y a ella se ha dedicado su preferente atención dotando a los establecimientos que aumentan constantemente, con todos los adelantos modernos de tal manera que muchas naciones pueden envidiar el progreso que en breve tiempo está alcanzando ese importante Estado de la República (GEM,1974: 130)
Como siempre, cuando en 1896 el Ministro de Instrucción Pública, Joaquín Baranda,
propuso una reorganización integral de la enseñanza; Villada realizó los ajustes
necesarios en la instrucción estatal para estar acorde con este proyecto. Después de
siete años de apoyo continuo y decidido a la educación, para su tercer periodo de
gobierno existían las condiciones necesarias para acatar las disposiciones del gobierno
146 Al igual que sucedía en el ámbito “nacional” o “central” los miembros de este grupo poseían el rasgo de polifacetismo mencionado por Bazant, y seguramente mantenían comunicación con algunos intelectuales de la capital así como contacto con las obras editadas o distribuidas en la misma. (Bazant, 1993:271)
279
federal, las cuales quedaron plasmadas en la Ley Orgánica de Instrucción Pública
expedida el 15 de mayo de 1897.
Esta ley establecía un nuevo rango de edad para cursar los estudios de primaria
elemental, de seis a doce años, y con ello se comienza a esclarecer la edad de los que
se les sigue nombrando párvulos. En el artículo 8° se determina que:
Los establecimientos oficiales de instrucción primaria se dividen en:
I. Escuelas de párvulos. II. Escuelas de instrucción primaria elemental III. Escuelas de instrucción primaria superior IV. Escuelas de adultos
Muy probablemente para atenuar las severas críticas que consideraban la política
educativa villadista como discriminatoria, ya que sólo atendía “con suntuosidad y lujo”
los planteles de la capital estatal, en contraste con las deficiencias materiales y humanas
de las escuelas del resto de la entidad (GEM, 1974: 126) - y que en el caso de las
Escuelas de Párvulos era completamente acertada; en la ley se estipuló que este tipo
de escuelas “por ahora” solo existirían en la capital del Estado y en las cabeceras de
Distrito donde el Ejecutivo lo creyere conveniente. Con ello se anunciaba un mínimo,
pero incremento al fin, de esta modalidad educativa condicionada siempre a la
verdadera prioridad: lograr la cobertura general de la instrucción elemental.
Art 20. No podrán crearse escuelas de párvulos, de adultos o de instrucción primaria superior, en aquellas localidades en donde no se hubieren establecido previamente las escuelas primarias de niños y de niñas que fueren necesarias en proporción con el censo de las mismas localidades.
La especificidad de la ley, así como el esfuerzo de los docentes y el apoyo decidido del
gobierno, hicieron que a partir de 1897 fuera notable la superación de las instituciones
educativas toluqueñas, al grado de su fama atrajo a varios visitantes nacionales y
extranjeros con el fin de conocer sus instalaciones y funcionamiento:
He visto algunas escuelas oficiales y particulares, los Jardines de Párvulos de ambas Escuelas Normales [...], El método de la clase de Párvulos de la señorita María González Martínez, es tan atractivo que no pude resistir ir a visitarla algunas veces [...]147
Expresaba J.B. Beir, pedagogo norteamericano en 1899 y prometía enviar discursos a
manera de pedagogía comparada sobre el Jardín de Niños mexiquense y el de Saint
Louis Missouri, lugar que, como mencionamos en capítulos, anteriores constituía la
vanguardia educativa en la Unión Americana. La inesperada muerte del general Villada
147 Gaceta de Gobierno 2 de Agosto de 1899, Tomo XII, Núm 10, p.1.
280
el 6 de mayo de 1904 no le permitió continuar con el propósito que en los últimos años
de su gobierno se había planteado en cuanto hacer llegar la instrucción primaria hasta
los poblados más alejados y abandonados del Estado. De hecho, el interés y prioridad
que él le había otorgado a la educación se ve frenada al hacerse cargo del gobierno
estatal el General Fernando González.
“Da la impresión de que se piensa que ya todo está hecho en materia de educación, que
sólo hay que cuidar por conservarlo y vigilar su funcionamiento” (GEM, 1974: 146), lo
cual tampoco se logró exitosamente, pues la gestión gonzalista tuvo el ritmo
descendente de la política porfirista en esta etapa. No se creó una sola escuela primaria
y mucho menos una de párvulos, las existentes comienzan a tener graves carencias de
mobiliario y materiales que por más peticiones que hagan no se verán satisfechas.
Paradójicamente, y pese a las limitaciones presupuestales a que se vio sometido el
ramo educativo, pero impulsado por el especial interés que tanto el gobernador
González como el porfiriato en los últimos años mostraron por el normalismo, durante
su mandato se construye el suntuoso edificio de la Escuela Normal para Profesores y
sus Departamentos de Párvulos y Primaria, iniciada en 1907 e inaugurada
solemnemente durante los festejos del Centenario de la Independencia, el 27 de
Septiembre de 1910.
En el informe que el Estado de México envía al Congreso Nacional de Educación
celebrado en Septiembre de 1910 se ratifica, tal como lo establece la ley vigente, que la
instrucción de párvulos es un grado de la instrucción primaria, que es laica y gratuita
pero no obligatoria y se hace en tres años. Además de mencionar el programa general
de las escuelas de párvulos y mencionar que existen en los municipios de Chalco,
Texcoco, Tenango y Toluca, no hay ninguna otra referencia, evaluación o compromiso
con éstas, pues el informe centra toda su atención en la escuela primaria elemental,
desde el presupuesto que se le asigna, los problemas que presenta, el éxito conseguido
a través del control que ejercen los subinspectores escolares, y los logros y promesas
que el gobierno estatal ha tenido en este grado. La instrucción de párvulos, si bien
presente, compartía con la primaria superior y la de adultos la categoría de marginal en
la política educativa estatal.
Aunque en la práctica el gobierno federal también mantenía como marginales este tipo
de instituciones, consideraba necesaria su existencia y crecimiento. Tres días antes de
la renuncia de Porfirio Díaz (25 de mayo de 1911), el Secretario de Instrucción Pública
y Bellas Artes, Jorge Vera Estañol, publicó unas instrucciones para el régimen de los
Kindergarten dependientes de la Secretaría.148 En un amplio documento de ocho
148 En opinión de Meneses, estas instrucciones junto con la iniciativa de ley de instrucción
281
capítulos se establecía que los Kindergarten eran instituciones especiales cuyo objeto
es procurar a los niños, no comprendidos en la edad escolar, los cuidados y protección
necesarios para completar la educación paterna, que no eran escuelas pues sus labores
debían asemejarse a las del hogar, que buscaban la formación muscular, sensorial, de
lenguaje, hacia la naturaleza, de los sentimientos y del carácter. Se recomendaba que
reinara la alegría y la buena voluntad en estos planteles, se reiteraba la metodología de
Froebel como la más idónea y se determinaban normas administrativas y de conducta
para las maestras. (Boletín de Instrucción Pública, 1911: 39-47)
Durante los años de la lucha armada revolucionaria, no tanto por la participación activa
en ésta del Estado de México, sino más bien por las constantes sucesiones en el poder
estatal y la indiferencia que éstos mostraban por la educación, el joven sistema
educativo estatal fue perdiendo la cohesión y organización que lo caracterizaban (GEM,
1974: 176).
Si bien en un principio las instituciones educativas creadas en el régimen de Villada
siguieron funcionando, poco a poco fueron cerrándose. En algunas regiones los
maestros se enrolaron en las filas revolucionarias, unas veces por convicción y otras
porque les convenía más que seguir ejerciendo el magisterio con graves problemas de
salario o sin éste. Se ensayaron varias alternativas para poder mantener ofreciendo
educación a un mayor número de población como concesionar la educación a
particulares, eliminar el impuesto de instrucción (1912), establecer el municipio libre
(1914), volver a centralizar, etc.
La “educación popular” era el objetivo a alcanzar por la Revolución, la educación del
pueblo “que es la base sobre la que descansa el bienestar social de los distintos órdenes
de la actividad humana”. El principio filosófico, el sentido último de la educación, seguía
siendo el mismo que en el porfiriato, en realidad se trataba de un asunto de cobertura
poblacional. Por tanto, la posición de las administraciones de este periodo respecto a la
educación parvularia no cambió. En la Ley Orgánica de Educación Popular Primaria
decretada por el Lic. Pascual Morales y Molina el 20 de Diciembre de 1915 se reitera
que:
Art. 3. La educación popular primaria incluye: I La educación de párvulos II. La educación primaria elemental III. La educación primaria superior.
rudimentaria, de la que hablaremos más adelante, seguramente tenían por objeto completar el gran plan unitario de la escuela mexicana que Sierra se había propuesto llevar a cabo.(Meneses, 1986: 754)
282
Al igual que en la época de Villada la única obligatoria era la elemental y los Jardines de
Niños o escuelas oficiales de párvulos sólo existirían “por ahora” en la capital del Estado
y las demás cabeceras de distrito donde lo permitieran los recursos locales, pero a
diferencia del anterior, establecía explícitamente que “debían estar organizadas bajo el
método fröebeliano”,149 con lo que se ratifica la intención de estos gobiernos
revolucionarios de incorporar a la educación nacional las más modernas teorías
pedagógicas.
A fines de 1916, el general Rafael Cepeda, quien queda al frente del gobierno en forma
interina, realiza importantes cambios para la educación pública. Con la orden de mejorar
el salario de los maestros en un 25% se gana el apoyo de éstos y dirige sus esfuerzos
al restablecimiento y reestructura del sistema educativo. Reinstala en sus puestos a los
antiguos inspectores escolares y por primera vez se crea una inspección especial para
las escuelas de párvulos, “nivel éste que había sido descuidado en pos de dar al nivel
inmediato superior un apoyo que nunca pasó de un mero propósito”. (GEM, 1974: 182)
Como Inspectora de Escuelas de Párvulos se nombró a la señorita Silvina Jardón
Tuñón, quien se venía desempeñando como directora de la anexa a la Normal de
Profesoras.
El hecho de incorporar en el sistema un espacio de apoyo y control -como lo es una
inspección-, exclusivamente para las escuelas de párvulos en pleno movimiento
revolucionario, nos permite deducir o plantear algunas consideraciones150. La primera
es que las escuelas de párvulos como institución y la metodología utilizada en ellas, no
fueron consideradas contrarias a los ideales revolucionarios, si bien no representaban
una prioridad, tampoco hubo ninguna intención de excluirlas de la política educativa.
En mi opinión se trata de una postura ambigua que también existía en el gobierno
federal. Por ejemplo, durante la administración de Victoriano Huerta, el Secretario de
Instrucción Pública y Bellas Artes, Jorge Vera Estañol, denuncia ante el Congreso lo
inequitativo de un sistema educativo que gasta $100,000.00 pesos en atender a 1000
niños que asisten a los Jardines de Niños de la capital, y con el agravante de ser
utilizados, si no exclusivamente, sí al menos en su mayoría, por las clases acomodadas;
frente al más completo olvido de 11 millones de mexicanos pobres (Meneses,1986:
120). No obstante lo anterior, pocos meses después, el 4 de Febrero de 1914, Huerta
publica por primera vez una Ley exclusiva para Jardines de Niños, donde reitera su
149 Ley Orgánica de la Educación popular Primaria 1916, Artículo 14. 150 Sobre todo si tomamos en cuenta que el estado de México fue de las primeras entidades que implementa este tipo de supervisión, inclusive antes que el gobierno federal que lo hace hasta 1920 con el nombre de Inspección General de Jardines de Niños “para resolver la falta de cohesión y unidad doctrinaria en los servicios” (Gallo,1963: 62)
283
importancia en la formación integral de los niños de tres a seis años, su carácter gratuito
y la metodología froebeliana que debía emplearse. (Diario Oficial, 1914)
Se le consideró necesaria, aunque no tuviera el carácter obligatorio; lo que si bien
mantuvo la insignificante cantidad de planteles que había –cinco en todo el estado-, no
permitió un crecimiento de las Escuelas de Párvulos.
En 1917, y una vez promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se organizaron las primeras elecciones estatales conforme a ésta,
resultando electo el general Agustín Millán, quien junto con un equipo de profesionistas
e intelectuales destacados en el ámbito estatal promulga la Constitución local en
noviembre del mismo año y de la cual se desprendió la Ley general de Educación de
1918, que mantenían la esencia del artículo 3°. Constitucional. En sus primero artículos
esta ley establece que:
Artículo 1.La educación en el Estado será nacionalista, procurando formar el amor a la patria y a sus instituciones. Artículo 2.La educación tienen por objeto ejercitar metódicamente, todas las aptitudes psíquicas y físicas del individuo, con el objeto de desarrollarlas y perfeccionarlas. Artículo 3. La educación se llevará a cabo por medio de la instrucción; y ésta, por una enseñanza esencialmente práctica. Artículo 4. La educación en el Estado comprende: Párvulos, Primaria, Secundaria, Profesional y otras especiales. Artículo 5.Para el desarrollo de la educación habrá: I. Escuelas para Párvulos o Jardines de Niños; II. Escuelas de Educación Primaria, incluyendo las suplementarias y
complementarias; III. Escuelas de Educación Secundaria; IV. Escuelas de Educación Profesional; V. Escuelas de Artes y Oficios, Industriales y de Agricultura; VI. Bibliotecas Públicas: fijas o ambulantes.151
Dos aspectos muy importantes respecto a la educación parvularia se establecen aquí.
En primer lugar, el hecho de que por primera vez en la historia se le considera un tipo
de educación distinta y no incluida como parte de la primaria, con lo que comienza a
perfilarse como un nivel educativo dentro del reorganizado sistema educativo estatal. Y
en segundo, aparece por primera ocasión la nomenclatura de “jardín de niños” para
referirse a este tipo de institución educativa, aunque también prevalece el de escuela de
párvulos.152
151 Ley General de Educación y Ley Orgánica de Escuelas Prácticas Normales Estado de México, 1918, Talleres de la escuela de Artes, Toluca México. 152 En la Ciudad de México las escuelas de párvulos cambiaron su nombre a Kindergarten a partir de 1904 a propuesta de Estefanía Castañeda, pero en el Estado de México es hasta este periodo y congruente con el objetivo de impulsar una educación nacionalista que se les comienza a nombrar con la traducción/castellanización del vocablo alemán.
284
El Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley está dedicado exclusivamente a la
educación de párvulos, considerándola como la transición entre el hogar y la Escuela
Primaria propiamente dicha153 y cuyo objeto era “preparar a los pequeños para iniciarlos
en la educación primaria”. Establecía que si bien no era obligatoria, sí era necesaria y
por tanto el Estado la impartiría de manera gratuita, “con un fin eminentemente
democrático”; determinaba que la edad para cursarla era entre los cinco y los seis
años.154 En lo pedagógico marcaba que se impartiría por “el método de Fröebel y otras
ocupaciones recreativas que inspiren el amor al orden, a la naturaleza, al cultivo de
plantas y cuidado de animales domésticos; procurando, sobre todo, la educación de los
sentidos, haciendo que la enseñanza sea siempre práctica”.155
El considerar este tipo de educación como necesaria en la medida que prepara a los
niños para la escuela primaria, en mi opinión, dista mucho de la idea de establecerlas
como medida de política exterior de dos décadas atrás, y posiblemente este
reconocimiento de su utilidad pre-primaria haya sido un factor determinante para
asignarle un estatus de naciente nivel educativo.
Sin embargo, pese a la distinción e importancia que se vislumbra en la Ley, las
circunstancias políticas y económicas no permitieron que se abrieran otros jardines de
niños156. Por el contrario, propiciado por la misma Ley que más adelante señala que la
educación primaria obligatoria se divide en dos grados: rudimentaria y elemental, en
donde la primera tendrá una duración de dos años y la segunda de tres; el Consejo
General Universitario -órgano que se creó para organizar y orientar la educación
primaria-, estableció un programa para las escuelas rudimentarias cuyo objetivo era
“poner a los niños en condiciones tales que no sintieran el tránsito del hogar a las
153 Esta idea ya venía manejándose desde años atrás en la capital del país pues incluso en 1905 la Subsecretaría de Instrucción Pública nombró al profesor Alberto Correa, entonces Director de la Escuela Normal de Varones de esa ciudad, como presidente de la Comisión sobre la reforma de la Escuela de Párvulos, particularmente debían determinar sobre “los medios que hayan de emplearse para que los pequeñuelos que aún no alcanzan la edad escolar, resientan lo menos posible la transición entre el suave régimen doméstico y la severa disciplina de las aulas, de tal suerte que se combinen los medios educativos”. (La Enseñanza Normal, Año 1, Num.8, Marzo 8, 1905, p.119) 154 Aunque pareciera que la ley implícitamente determinaba dos grados o cursos, en realidad, como se verá a detalle en apartados posteriores, este tipo de educación se organizó en dos y tres grados. 155 Ley General de Educación y Ley Orgánica de Escuelas Prácticas Normales Estado de
México, 1918, Talleres de la escuela de Artes, Toluca México. Título Segundo, Capítulo Primero Artículos del 11 al 16 156Contrario a la tendencia de descentralización que el gobierno federal tenía -pues el 13 de abril de 1917 los jardines de Niños dependientes de este gobierno pasaron a los Ayuntamientos y el 31 de Diciembre del mismo año se cerraron todos los de las municipalidades foráneas del DF-; en el Estado de México continuaron dependiendo directamente del gobierno estatal y no se cerró ninguno.
285
escuelas y transmitirles los conocimientos indispensables para servir de base a la
educación elemental.
La enseñanza en esas escuelas tenía finalidades educativo-instructivas, es decir, los
maestros de las escuelas rudimentarias debían realizar tareas que favorecieran el
desenvolvimiento normal de los educandos, desarrollando los sentidos, formando
hábitos de aseo y creando sentimientos estéticos y cívicos”. (GEM, 1974: 185)
¿Sería este el intento del gobierno estatal por generalizar la educación pre-primaria
dado el reciente reconocimiento de su importancia pedagógica y sabedor de la nimia
cobertura de los jardines de niños? Muy posiblemente, pero en realidad la educación
rudimentaria con ese carácter preparatorio motivó frecuentes confusiones.
El concepto de escuela rudimentaria en los lineamientos nacionales se refería
únicamente a la impartida a los indígenas para enseñarles el idioma castellano, lectura
y escritura en esta lengua así como nociones de cálculo157; pero las autoridades
educativas del Estado de México, quizás influidas por la discusión psicopedagógica que
en torno al retrasado escolar existía en ese momento, donde no sólo los indígenas sino
también los campesinos y los párvulos compartían una situación de retraso necesario
de compensar antes de entrar a la escuela primaria; consideraron que la educación
rudimentaria podía cumplir varios objetivos al mismo tiempo. Los maestros municipales
comenzaron a impartir tales conocimientos tanto a niños mayores de siete años como a
menores de esa edad que no tenían oportunidad de asistir a un jardín de niños, para
cumplir el precepto de la ley de ser una etapa de transición y preparación a la primaria
elemental.
Las varias sucesiones en el ejecutivo estatal entre 1920 y 1921 propiciaron que pese a
que existían las leyes y reglamentos para regir a las escuelas existiera un desorden en
el funcionamiento de este ramo.
No es sino hasta finales de 1921 cuando toma el poder por segunda ocasión el general
Abundio Gómez que se inicia nuevamente el desarrollo de la educación popular en el
Estado; por supuesto impulsada por los lineamientos de la recién restablecida por el
presidente Álvaro Obregón, Secretaría de Educación Pública,158 de la cual estaba al
frente José Vasconcelos.
157 A unos meses antes de su caída y como un acto de aparente aceptación a las demandas populares, el gobierno porfirista redactó un proyecto de ley para la fundación en toda la República de escuelas de Instrucción Rudimentaria, cuyo sostenimiento estaría a cargo del gobierno federal. Dicho decreto solo pudo ser promulgado poco después que el general Díaz renunciara al poder y abandonara el país, el 11 de junio de 1911 por el Lic. Francisco León de la Barra, encargado del poder Ejecutivo por ministerio de ley. Sin embargo este decreto no pudo ponerse en práctica hasta el gobierno del presidente Madero llegando a establecer 250 planteles de este tipo los cuales también fracasaron en poco tiempo.(Gallo,1963: 37) 158 El 29 de Enero de 1915 por acuerdo del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista se suprimieron a esta Secretaría todas las funciones excepto la administrativa, en función de su
286
El propósito principal del secretario Vasconcelos era “dar a la educación un sentido de
reivindicación social, destruyendo mitos y privilegios en la escuela para hacer de la
enseñanza un beneficio de todos los hombres y todas las clases sociales”, (GEM, 1974:
191) y el mecanismo para lograrlo era la federalización.159
Para dar respuesta eficaz a la nueva organización federal el gobierno estatal
reestructuró sus instancias administrativas de este ramo: suspendió el Consejo General
Universitario y creó la Dirección Técnica de Educación Pública, la que sería auxiliada
por un Consejo Técnico de Educación, un Cuerpo de Inspectores Escolares y un
Servicio Médico Escolar. A través de esta Dirección el gobierno mexiquense estableció
un estrecho vínculo y comunicación con la SEP, no solo para acatar las normas y
disposiciones generales que ésta determina, sino también para establecer contratos
cuyo objetivo era unir esfuerzos para lograr mayores beneficios educativos para la
población.
El primero de esos contratos se firmó el 1 de febrero de 1922, en éste el Gobierno del
Estado de México se compromete a sostener tres Jardines de Niños con un monto total
de 11,351.50 pesos160 –en realidad se está haciendo referencia a los tres planteles que
ya existían y el anexo a las Normal quedó incluido en el presupuesto asignado a la
misma-; por su parte la Secretaría de Educación Pública no asignó recursos o apoyos
para este tipo de educación.161 Para el gobierno federal no era prioritario establecer o
extender los Jardines de Niños en los Estados,162 y en todo caso, el Estado de México
era de las pocas entidades del país que contaban con este tipo de educación.
próxima desaparición. En su lugar se creó la Dirección General de Educación Primaria, Normal y Preparatoria de la cual dependían los jardines de niños, las primarias elementales y superiores y las escuelas nocturnas del Distrito Federal. (Gallo, 1963: 40) 159 Federalización entendida como proceso por el que el gobierno federal establece instituciones educativas a cargo de su presupuesto en los Estados de la República, ampliando con ello su capacidad de control. Ponencia de Engracia Loyo en el Diplomado sobre Historia de la Educación organizado por El Colegio Mexiquense A.C. 2009. 160 Aunque esta cantidad solamente representa el 1.25% del total del presupuesto comprometido por el gobierno estatal en el contrato, al comparar el costo por cada plantel de los distintos tipos tenemos: escuelas elementales $1,515.00 pesos cada una, rudimentarias $463.00, nocturnas $1,476.00 Jardines de niños $3,783.00 y Primarias Superiores $4,024.00 Por tanto el costo unitario de los jardines es muy alto solo por debajo de las primarias superiores; en otras palabras, con el presupuesto asignado para tres jardines de niños se podían mantener 8 escuelas rudimentaria o 2.5 elementales que como hemos dicho eran la prioridad de la política educativa de este periodo. El elevado costo que representaba la implementación y manutención de un Jardín de Niños fue una variable determinante para el nulo crecimiento o generalización no solo en el Estado de México sino en todo el país y de que se construyera una imagen de éste como “artículo de lujo” entre los gobiernos y la sociedad también. 161 AHEM/ Escuelas Federales /Vol.1. 162 Es necesario enfatizar que esta baja o nula prioridad del gobierno federal para establecer Jardines de Niños era solamente hacia los Estados, pues en la capital el número de estos planteles mantuvo una tendencia constante de incremento: 17 en 1917, 25 en 1921 además de los 12 anexos a escuelas primarias que existían en 1925 (Meneses, 1986: 463-464); frente a los 5 que se mantuvieron en todo este periodo en el Estado de México.
287
El 16 de septiembre de 1925 asume el Poder Ejecutivo del Estado Carlos Riva Palacio,
quien hace de la política educativa un apoyo clave de su gobierno. Riva estableció líneas
estratégicas claras que desafortunadamente no prosperaron completamente debido a
la depresión económica que el país sufrió en esos años. En la Ley General de Educación
Pública del Estado, promulgada el 29 de Diciembre de 1926, se establece que es función
del Estado impartir, organizar y dirigir la Educación Pública en todos sus grados, desde
el Kindergarten hasta la Escuela Profesional. El reconocimiento como un nivel educativo
diferente al primario queda completamente claro en este artículo:
Art. 4º. El primer grado de la enseñanza pública corresponderá al Kindergarten, llamado también Escuela de Párvulos o Jardín de Niños, y destinado a los pequeños de 4 a 6 años de edad.
No obstante la importancia asignada a este tipo de educación y que se nota
explícitamente en la ley, también se reconoce la incapacidad económica para
generalizarla a toda la población del territorio estatal en las condiciones que se venía
trabajando en los cinco planteles existentes; por lo que se plantean dos alternativas:
[...] Mientras el Estado no pueda sostener tantos (kindergarten) como sean necesarios, y en locales especiales, procurará al menos establecer en las Escuelas Primarias, “Salas de Kindergarten” o “Cursos Subprimarios” para niños de 5 a 6 años de edad.
Estas salas o cursos, que inevitablemente nos recuerdan las Secciones de Párvulos del
siglo anterior, no eran obligatorios para las escuelas primarias rurales o rudimentarias
pero sí para las urbanas:
Art. 10 En la Capital del Estado y entretanto no pueda establecerse el número de Kindergartens que llenen las necesidades sociales, la enseñanza en las escuelas Elementales se desenvolverá en cinco años.
Con esta disposición, en la ciudad la escuela llamada elemental constaría de un curso
subprimario que podría durar uno o dos años y luego la primaria obligatoria que tenía
una duración de tres años. Esta alternativa, que ya operaba en la ciudad de México, al
parecer pretendía generalizar la educación de párvulos e integrarla definitivamente a la
escuela primaria elemental, sin embargo la circunscribía al ámbito urbano163.
163 La articulación del kindergarten con la escuela primaria era un tema controvertido que en Estados Unidos de Norteamérica se había presentado décadas antes. Pese a los intentos gubernamentales por unificarla a la educación primaria, los jardines de niños lograron cierta autonomía tanto pedagógica como administrativa, lo que si bien terminó por constituir un nivel educativo distinto también implicó una marginalidad económica y simbólica. En el Estado de México, aunque los cursos subprimarios en las escuelas primarias continuaron operando hasta la década de los treintas, finalmente desaparecieron, con implicaciones semejantes a las mencionadas para EUA.
288
En cuanto a lo pedagógico, la ley dictaminó que tanto en estas salas como en los
Kindergarten se debía adoptar “el método correspondiente a los jardines de Niños, sea
conforme a las doctrinas de Froebel, de Montessori u otras en las que se siga un juicio
ecléctico y sean aceptadas por los educadores modernos”164 Paradójicamente al uso
del vocablo en alemán “kindergarten” para referirse no solo a las instituciones, sino a
este tipo de educación -cuyo cuño fue de Froebel- en todo el texto de la Ley, se
abandona la exclusividad del método froebeliano para dar paso a otras propuestas e
incluso a la mezcla de ellas, marcando con esto, desde nuestro punto de vista, un nuevo
periodo en la construcción de la cultura escolar del recién conformado y reconocido nivel
educativo preescolar.
A manera de resumen podemos decir que durante la década que corresponde al inicio
de la Revolución hasta el establecimiento definitivo de los gobiernos revolucionarios en
1920, el propósito, consciente o no, de las muchas administraciones estatales que
existieron dada la inestabilidad política, fue el de mantener el aparato educativo del
porfiriato, el cual en su esencia y principios no era contraria a los ideales revolucionarios,
tal como se ve claramente en las distintas leyes y reglamentos expedidos en esos años.
Las Escuelas de Párvulos se mantuvieron funcionando debido principalmente a la
tesonera labor del cerrado equipo de profesoras que en ellas laboraban, principalmente
a sus directoras, quienes se fueron acostumbrando a las sucesivas reformas, cambios
y autoridades y se convirtieron en receptoras un tanto indiferentes a todo ello
continuando sus labores como siempre lo habían hecho y en ciertos momentos
dependiendo para subsistir como institución de los padres de familia o los
ayuntamientos.
El proyecto era tan joven y las maestras tan comprometidas que incluso en esta época
tan caótica lograron avances importantes que posicionaron la educación de párvulos en
el imaginario no solo de las autoridades políticas y educativas, sino también en la misma
sociedad.
FUENTES BIBLIOGRAFICAS Bazant, Mílada (1993) Historia de la Educación durante el Porfiriato, El Colegio de México, México. (2002) En busca de la modernidad. Procesos educativos en el Estado de México, 1873-1912, Toluca, El Colegio Mexiquense, A.C. y El Colegio de Michoacán, México.
164 Ley General de Educación Pública del Estado de México, Talleres Tipográficos de la Escuela Industrial, Toluca 1927. Artículo 4°
289
Gallo Martínez, Víctor (1963) La educación preescolar y primaria, México.SEP. Meneses, Ernesto (1986) Tendencias educativas oficiales en México, 1911- 1934, Centro de Estudios Educativos, México. La Enseñanza Normal, Año 1, Num.8, Marzo 8, 1905 Ponencia de Engracia Loyo en el Diplomado sobre Historia de la Educación organizado por El Colegio Mexiquense A.C. 2009. DOCUMENTALES Gaceta de Gobierno 2 de Agosto de 1899, Tomo XII Ley Orgánica de la Educación popular Primaria 1916 Ley General de Educación y Ley Orgánica de Escuelas Prácticas Normales Estado de México, 1918, Talleres de la escuela de Artes, Toluca México. Ley General de Educación Pública del Estado de México, Talleres Tipográficos de la Escuela Industrial, Toluca 1927.
EL DEVENIR DE UNA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL COMO PRECEDENTE Y
FUNDAMENTO DE LA LEY 5096 DE CREACION DE JARDINES DE INFANTES EN
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DURANTE EL PRIMER PERONISMO.
Autora: Ponce, Rosana Elizabeth
Universidad Nacional de Luján (Argentina); Universidad Nacional de Moreno
(Argentina)
Introducción
Este trabajo se inscribe en la búsqueda de antecedentes de instituciones educativas
para la primera infancia. Intentaremos vislumbrar cómo se fue configurando la política
educativa y de qué manera se fue proyectando la conformación del sistema educativo
290
de la provincia de Buenos Aires (Argentina). En este sentido encontramos una
experiencia que cobraría relevancia y sería reconocida como precursora para los
lineamientos pedagógicos y políticos que se definirían durante la gobernación de
Domingo Mercante (1946-1951) con consonancia con el proyecto político del primer
peronismo.
En el año 1935, en la ciudad de Trenque Lauquen165algunas iniciativas acontecidas
confluyeron en la creación de un jardín de infantes municipal que dejaría su huella en la
historia de los jardines de infantes bonaerenses. En los fundamentos de la Ley 5096/46
de “Creación de los Jardines de Infantes” se citaba el Jardín n° 1 “Domingo Faustino
Sarmiento” de Trenque Lauquen como antecedente. Cabe mencionar que dicha
legislación marcó un hito en la historia del sistema educativo provincial, ya que entre
otras cuestiones planteo: la incorporación del Jardín de Infantes al sistema educativo
provincial afianzando la creación de estas instituciones en todo el territorio bonaerense
y declarando la obligatoriedad de la educación infantil a partir de los 3 años de edad. Es
por ello que, nos propondremos comenzar a reconstruir un relato posible de la
experiencia educativa del Jardín de Infantes n° 1 como espacio fundante e inspirador
de políticas educativas de mayor alcance intentando desplegar al mismo tiempo
aspectos que nos permitan entrever el devenir institucional también como espacio de
producción pedagógica. Nos interesa aproximarnos a la comprensión del fenómeno
desde una mirada integral, que permita dar cuenta de los entramados histórico-políticos
y socioculturales que configuraron tanto tensiones como definiciones acerca de la
educación infantil como cuestión pública y social. Abordaremos esta tarea a través del
análisis y la triangulación de varias fuentes primarias: orales (entrevistas) y escritas
(documentación oficial elaborada por la Dirección General de Escuelas de la Provincia
de Buenos Aires; documentación institucional que se halla en archivos del Museo
Provincial de los Jardines de Infantes de Buenos Aires; notas o artículos de periódicos
y revistas de la época) y fuentes secundarias: artículos, textos, investigaciones sobre
el tema en particular, sobre la coyuntura local y el contexto nacional/regional. Por último,
vale decir que esta ponencia será una aproximación parcial de un trabajo de tesis
referido a la educación inicial en la provincia de Buenos Aires durante el primer
peronismo en la provincia de Buenos Aires. En este caso, para ir avanzando en el
proyecto de investigación, se tomarán algunas cuestiones que posibiliten dar cuenta de
los antecedentes en torno a la escolarización de los niños desde 3 hasta 5 años de
edad. Consideramos que este abordaje nos brindará la oportunidad de abrir
165Ubicada hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, a 505 km de la ciudad capital provincial La
Plata y a 445 km de la ciudad de Buenos Aires. Solo 80 km la separan de la provincia de La Pampa.
291
interrogantes e hipótesis y/o nos ofrecerá aportes para pensar o re-pensar las líneas de
continuidades y rupturas.
Los comienzos
Si nos detenemos a bucear en los orígenes es porque consideramos necesaria hacer
una revisión que permita ver las articulaciones de intereses, demandas y proyectos en
un entramado de sujetos y grupos que asumen iniciativas. Resulta inexcusable
desmitificar el origen, para advertir la pluralidad de los comienzos, develar ciertos
aspectos para poner en tensión la idea de que son unívocos y que cristalizan sentidos
o proyectos perfectamente cohesionados. Los comienzos suelen convocar a sujetos y
grupos de voluntades de diversa y variada intensidad, pugna de intereses y poder que
se van entramando en torno a contingencias, mediaciones y la gravitación que las
mismas cobran en un determinado contexto socio-histórico-político. Por otro lado, cabe
acotar que cuando nos remitimos a la memoria escrita de los comienzos, suele
percibirse un intento por mostrar una versión que eluda los conflictos, por eso además
de las fuentes escritas variadas, que suelen tener un relato de gesta épica, hemos
agregado información aportada por entrevistas a protagonistas de la época y también a
familiares o allegados de los mismos.
A grandes trazos, podemos decir que la historia de los jardines de infantes en la
Argentina, da cuenta, por lo menos de la persistencia de dos cuestiones centrales: la
búsqueda de la legitimidad pedagógica y la lucha por la incorporación al sistema
educativo.
Nos disponemos a insinuar aquí, algunas huellas en el largo y quebrado sendero que
fue abriéndose el jardín de infantes como institución educativa en la historia de la
educación argentina en el contexto particular y específico de la provincia de Buenos
Aires.
Podríamos sugerir que esta historia tiene dos comienzos: uno malogrado, casi efímero,
discontinuo, allá en el siglo XIX, impulsado por las expectativas de desarrollo del sistema
educativo de políticos y funcionarios liberales y un segundo re-inicio, a mediados del
siglo XX, mucho más contundente y definido, casi fundante.
Resulta importante mencionar que, en el último cuarto de siglo XIX se registraron en el
territorio bonaerense la creación de Jardines de Infantes. Estas iniciativas duraron poco
tiempo y fueron muy vulnerables a vaivenes, en ellas confluyeron: extranjeros que
habían conocido la experiencia froebeliana en Europa o su expansión en los Estados
Unidos y funcionarios que apoyaron y divulgaron las bondades de estas novedosas
instituciones educativos, tal es el caso de Domingo Sarmiento y la educadora Juana
292
Manso. Más adelante los jardines de infantes, se fueron creando incorporándolos como
departamento de aplicación de las escuelas normales. Este último es el caso del Jardín
de Infantes que se creó en la Escuela Normal de La Plata en 1888.
No vamos a detenernos en estas experiencias, que fueron pocas y aisladas, lo que sí
es preciso remarcar es la temprana aparición del jardín de infantes en los marcos legales
que organizaron la educación provincial. En el año 1875, el estado provincial, luego de
sancionar su constitución, promulgo una ley de educación tendiente a organizar y
estructurar el sistema educativo bonaerense. Si bien la ley provincial nº 988 pone un
mayor énfasis en la educación común o primaria, en su artículo 49 menciona a los
“jardines de infantes “y además establece que su creación es atribución de los consejos
escolares de distrito.
Cabe señalar, que si bien la aparición de los primeros jardines de infantes en la
Argentina, ocurre hacia finales del siglo XIX, las discontinuidades y/o luchas político
pedagógicas que se dieron en el territorio bonaerense, fueron instalando otras
prioridades en la política educativa; pronto la ley 988 fue derogada y los jardines de
infantes, quedaron en el recuerdo, en la imagen de lo que podría haber sido un sistema
educativo que incluyera otras alternativas para niños menores de 6 años. Este
estancamiento derivado de la vacancia de políticas de creación y difusión de los jardines
de infantes, no logro contrarrestar el surgimiento de experiencias pedagógicas
orientadas a la primera infancia, que de manera azarosa e inesperada fueron floreciendo
en algunas ciudades del interior de la provincia.
Veremos desde aquí, como algunas de esas experiencias van a aglutinar nuevos
significantes que van ir empalmando con los nuevos tiempos políticos, económicos y
sociales que advienen con el peronismo. Cual ave fénix el Jardín de Infantes, re-nace y
vuelve a recuperar, su esplendor decimonónico, reinstalando el debate sobre la
educación infantil desde un lugar.
En la provincia de Buenos Aires, ese resurgimiento se consolida en la época del primer
peronismo, bajo la gobernación de Domingo Mercante, la ley 5096 conocida también
como Ley Simini fue una punta de lanza para el crecimiento y la expansión matricular.
En definitiva, cuando empieza a ser considerado un asunto concerniente al Estado.
En Trenque Lauquen nace un proyecto educativo con proyecciones insospechadas
O de cómo una experiencia local irrumpe, converge y es resignificada en nuevos marcos
coyunturales habilitadores de nuevos discursos políticos y pedagógicos en torno a las
infancias. Desde esta premisa, será posible poner en valor la experiencia de Trenque
Lauquen. No obstante resulta importante tener en cuenta que en el entramado histórico-
político local, hay advertir el desafío que implica presentar un abordaje desde la
293
complejidad del escenario local que no pierda de vista el recaudo metodológico que nos
señala el autor Oscar Aelo, habría que…“evadir dos preconceptos simétricamente
erróneos (…) la suposición de lo que lo “local” es autosuficiente y solo se explica a sí
mismo, o la creencia que el caso meramente “refleja” procesos cuya explicación reside
en otro nivel (Aelo, 2006:15). Tal como sugiere el mencionado autor, el reto será
considerar al espacio provincial bonaerense como un “territorio de producción de lo
político” y por qué no de lo pedagógico (agregamos nosotros) que construye y se
reconstruye al calor del proceso político nacional contribuyendo también a delinearlo.
En otras palabras, resulta necesario observar que la singularidad que adoptaría el Jardín
de Infantes deberá ser leída en clave del contexto histórico político de la época en donde
el discurso sobre la primera infancia se configuraría desde la producción de otros
discursos políticos, pedagógicos y socio-culturales. Y al mismo tiempo pensar como la
“producción política-pedagógica” que se da en el territorio bonaerense atraviesa,
tracciona y confluye en la construcción de ciertas perspectivas y de algunos debates
que van configurando.
El proyecto educativo que nace en la ciudad de Trenque Lauquen, surge a partir de la
inquietud de algunos vecinos y la iniciativa de quién entonces estaba en la intendencia
del municipio, el Dr. Agustín Mendive. La demanda de los vecinos abarcaba a los niños
más pequeños y a los jóvenes/ adultos, la preocupación estaba puesto por la falta de
propuesta estatal para estos grupos etarios. El intendente municipal Agustín Mendive y
su secretario de gobierno Héctor Jáuregui prepararon un proyecto de creación de la
Escuela Municipal y el Jardín de Infantes, que fue presentado al Consejo Deliberante y
aprobado por ordenanza el 10 de mayo de 1935. Algunas fuentes, revelaron que Jaime
Glattstein, quién luego es designado como director de ambas instituciones, fue quien
colaboró con Mendive y Jáuregui, en la elaboración del proyecto. Glattstein, era un
maestro, oriundo de Lincoln, que se desempeñaba en Trenque Lauquen, reconocido por
su trayectoria profesional y conocedor de pedagogía. El 8 de junio fue designado como
director de ambas instituciones educativas municipales. Se le encomienda a Glattstein
la elaboración de programas y proyecto educativo de ambas instituciones. Para el mes
de julio se culmina de completar el personal docente a cargo. En el caso del Jardín de
Infantes se designan maestras, profesora de música y celadora. En los comienzos no
se contaba con el mobiliario suficiente. El edificio constaba de un salón grande, dividido
en dos por un tabique: la parte más pequeña oficiaba de aula y mayor de salón de
música El 9 de julio de ese año se inaugura el Jardín de Infantes, describen los registros
de escritos de la época, que la creación de ambas instituciones fue bien recibida, aunque
también se vislumbraba en otros escritos y en fuentes orales que el proyecto municipal
294
contaba con varios detractores, que se oponían a dichas obras porque no las juzgaban
como prioritarias.
La orientación y supervisión de la tarea pedagógica llevada a cabo por Jaime Glattstein,
quien además de tener conocimientos y lecturas sobre pedagógica y didáctica infantil,
estaba en contacto con destacados maestros y pedagogos argentinos, tal es el caso del
pedagogo Juan Cassani 166 y Margarita Ravioli167. El intercambio y la cercanía intelectual
con estos referentes pedagógicos, posibilitó el florecimiento de una novedosa
experiencia educativa que se inscribía dentro de los marcos teóricos más actualizados
de la época.
En los primeros tiempos apareció un serio problema: el financiamiento. A la escasa
contribución que la comuna podía facilitar (el presupuesto implicaba solo el
sostenimiento del pago de sueldos docentes). Para solventar el funcionamiento y el
crecimiento del Jardín se creó una asociación “Amigos del Jardín de Infantes” integrada
por vecinos, en su mayor parte se trataba de padres de los niños que asistían a la
institución.
Esta asociación a través de diversas acciones como kermeses, rifas, etc. logró
completar la compra de material y mobiliario para el Jardín. Se incrementó el personal
docente, que también colaboró la pintura de frisos, confeccionando cortinas y
ocupándose de demás detalles de acondicionamiento y decoración de las salas.
Algunos artistas locales, también han colaborado con el diseño y la ejecución de la
pintura de frisos en las paredes
En 1940 el edificio se amplió. Luego, con la llegada del peronismo al gobierno, el Jardín
de Infantes paso a depender de la provincia de Buenos Aires, con lo cual el problema
del financiamiento quedaría determinado: la “Asociación de Amigos del Jardín de
Infantes” quedo subsumida en el formato “Asociación Cooperadora”, reglamentado por
las normativas de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.
Los datos y las entrevistas, nos posibilitan conocer cómo se gestó este proyecto y como
el municipio de Trenque Lauquen le dio forma, avalándolo y solventándolo, hasta la
llegada del peronismo. No obstante, es preciso, analizar un poco el escenario local,
provincial y nacional donde va consolidándose.
166 Maestro y profesor oriundo de Lincoln, amigo personal de Glattstein. Juan Cassani, prosiguió estudios
de Pedagogía en la Universidad Nacional de La Plata. Ocupo cargos de gestión pública, fue Inspector de
Enseñanza Media, Normal y Especial, ocupo la Jefatura de Inspección de Escuela Normales y llego a
Director General de Enseñanza Secundaria. Se desempeñó como catedrático y tuvo cargos de gestión en
la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. En esta última dirigió el
Instituto de Didáctica de importante gravitación en la década del 30. 167 Maestra que hacia fines de la década del 30, asume la dirección del Jardín de Infancia “Mitre” y del
“Instituto de Profesorado Sara Ch de Eccleston.” Instituciones modelo: Prestigiosas y paradigmáticas para
la historia de la educación inicial en la Argentina
295
Algunas pinceladas sobre el contexto y el escenario político
Pensar en la Argentina de la década del 30, nos remite a una época salpicada por la
crisis económica, política y social. Frente a un panorama internacional complejo y
cambiante, la Argentina inserta en el mundo capitalista sufrió los coletazos de tales crisis
que a la vez convergieron o se articularon con otras de raigambre interna. La década
del 30 en la Argentina, fue reconocida y denominada como la “Década Infame”. En algún
sentido, significó el ocaso de las ideas positivistas que predecían el futuro bajo la línea
definida del “progreso”. Las ilusiones sobre el destino de progreso se vieron trastocadas
con la crisis de la economía mundial de 1929, que repercutió en nuestro país generando
una aguda recesión económica que se tradujo en elevados índices de desocupación y
de crecimiento de la pobreza de gran parte de la población.
En el plano político luego de la experiencia del radicalismo, la oligarquía volvió a
estrechar filas y adopto una nueva modalidad para llegar y conservarse en el poder: el
golpe de estado. Los cambios sociales y estructurales devenidos de aquellos años de
gobierno radical provocaron en los hombres de la elite un replanteamiento de sus
posturas ideológicas varios de sus miembros pasaron de liberales a conservadores.
Muchos se convirtieron en críticos del liberalismo y del sistema democrático. Entendían
que la democracia llevada a su máxima expresión era peligrosa por lo tanto el sistema
político sólo debía moverse dentro de los límites impuestos por la clase dirigente. Los
conservadores plantearon una nueva forma de hacer política, el axioma que lo
condensaba fue: el “fraude patriótico”. Las elecciones se realizaban dentro un abanico
reducido de posibilidades democráticas, con la exclusión de los grupos y partidos
políticos de raigambre popular, el poder político quedaba concentrado en grupos que
representaban los intereses de las clases dominantes. El conservadurismo del 30 y el
40´ comenzó a alejarse del liberalismo clásico, adoptando una política más
intervencionista y reguladora en materia económica, vale aclarar que tal
intervencionismo se relaciona con los cambios en la política internacional, los años de
entreguerras, la segunda guerra mundial, los totalitarismos, etc.
Esos vientos de cambios, atravesaron una sociedad, que también estaba mutando en
su fisonomía y dimensiones. Nos interesa, mencionar algunas de esas mutaciones de
orden social y cultural, tratando de verlas en el escenario de la provincia de Buenos
Aires.
En 1936 llega a la gobernación de la provincia, Manuel Fresco, un conservador que
provenía de la derecha autoritaria, que contaba con la simpatía del Ejercito, la Iglesia
Católica y de la clase dominante (temerosa del comunismo y a todo lo que procediera
296
del movimiento obrero). En consonancia con el intervencionismo estatal, Fresco asume
su gestión dando lugar a la obra pública y distribuyendo el presupuesto de la provincia
discrecionalmente. Siguiendo la orientación intervencionista, también impulso obras que
contuvieran el descontento social y la crisis, le interesaba desmovilizar a las masas,
alejarlas de la conflictividad. Procuró negociar con los sindicatos, pero prohibió las
huelgas y trato de alejar de la conducción a líderes con ideologías de izquierda. En
materia educacional, impuso una reforma antiliberal, antipositivista y antilaicista. Como
decíamos el conservadurismo de esta época dio una vuelta de tuerca para volver a
definir a la nación, desde los valores religiosos y tradicionales del catolicismo. La
amalgama que se intenta producir entre catolicismo, espiritualismo y escolanovismo, es
muy interesante de observar porque no logra convivir sin contradicciones y fisuras. No
obstante, pudieron ser camufladas por el bajo impacto de las experiencias
escolanovistas. Los discursos pedagógicos oficiales fueron ganando adeptos entre los
docentes que adoptaron de manera fragmentada algunos elementos afines con el
movimiento escolanovista, sin avistar contradicciones con una propuesta pedagógica
que apuntaba a espiritualizar la escuela y darle un sentido de argentinidad recuperando
la raíz hispánica y criolla. En este marco la escuela positivista del proyecto liberal fue
criticada pero también fueron malogradas o tergiversadas las experiencias
escolanovistas. Ponemos en juego, estas cuestiones para poder entender la reforma
educativa de Fresco, que precisamente intenta combinar sin resolver cierta hibridez:
elementos escolanovistas con el nacionalismo católico conservador. La política
educativa durante su gestión anclaba en el orden conservador basado en los valores
tradicionales y católicos para desplazar a los valores democráticos y laicos. El objetivo
era restaurar la cohesión de la sociedad. Para eso, también se valió de algunos
postulados “escolanovistas” matizados por algunos pedagogos de orientación fascista168
que pusieron énfasis en el carácter espiritualista de la educación, jerarquizando los
valores por encima de los conocimientos. Con estos elementos la educación en la
provincia de Buenos Aires, es esencialmente religiosa, se incorporan a la curricula el
trabajo manual y el deporte. Ambos se orientan al disciplinamiento para el trabajo y el
fortalecimiento del cuerpo del niño y del joven. La actividad física escolar constante,
dejaba menos espacio para las actividades de corte puramente intelectual, se
argumentaba que era necesario alejar al niño y al joven de ideas perniciosas que fueran
en contra de la unión y la armonía social.
168 Giovanni Gentile, fue un filósofo que escribió textos que fueron tomados como aporte para la
pedagogía que Benito Mussolini implanto en Italia durante el Régimen Fascista.
297
El Jardín de Infantes “Domingo Faustino Sarmiento”: del municipio a la provincia
El precedente y acotado marco contextual, quizás nos ayude a poner un poco de luz,
sobre este proyecto educativo que nace de una decisión de política pública a nivel
municipal, durante la gestión de Agustín Mendive, un año antes de la asunción del
gobernador Manuel Fresco. El escenario previo al gobierno de Fresco, no era el mejor,
en 1935, se dirimían con mucha conflictividad las candidaturas entre las facciones de la
derecha, el gobernador Martínez de Hoz, intentando posicionarse dentro del partido
conservador, no logra acuerdos con el partido. Mientras que la legislatura bonaerense
está coaccionada por la derecha conservadora que intenta otras alianzas para definir
las candidaturas. Ya en 1935 Fresco estaba muy bien posicionado, resulto factible
conseguir el apoyo del entonces presidente de la nación Agustín Justo y de la mayoría
de los legisladores bonaerenses. Fresco era el candidato fuerte para impedir que el
radicalismo gane las elecciones, porque además de la maquinaria del fraude, había
necesidad de reunir cierto consenso entre las mayorías populares.
El intendente Agustín Mendive, estuvo poco menos de dos años en la gestión, de 1934
a 1936. En 1936 con el cambio de gobernador, también ocurre la renovación del cargo
en la intendencia que queda a cargo de Victor Alcorta. Como puede verse, el proyecto
continúo siendo sostenido por varios sucesores. En parte, esta continuidad tuvo que ver
con el prestigio ganado a través de la labor realizada y por el apoyo de la comunidad.
También tuvo mucha incidencia la continuidad el cargo de su director Jaime Glattstein y
el esfuerzo por hacer en estos espacios educativos innovaciones y experimentaciones
pedagógicas.
El profesor Glattstein era un conocedor del método froebeliano y además contaba con
una amplia actualización pedagógica por lo que también estimaba los aportes de
algunos referentes de la escuela activa. Al igual que en otros puntos del país, en este
Jardín de Infantes, convivían los postulados y materiales froebelianos, con los
montessorianos y los decrolianos. Puede decirse, que el quehacer pedagógico-didáctico
de este establecimiento, también da muestra del momento de experimentación e
innovación característico de estos años. Dado el contexto que hemos descripto, vale
destacar que en el Jardín de Infantes “Domingo Faustino Sarmiento” la educación era
laica, al no depender del gobierno provincial, estaba exento de enseñar religión. Por otro
lado, todavía no existía reglamento para el funcionamiento de estas instituciones, por lo
que, había un margen de autonomía pedagógica. La tarea educativa desplegada allí fue
imprimiendo una mirada integral sobre la educación infantil, resulta relevante subrayar
que esta institución abrió sus puertas a niños de todas las clases sociales. Fue laica y
abierta.
298
Sus primeras docentes no tenían título en la especialidad, sin embargo, recibían
permanente asesoramiento pedagógico por parte de Glattstein, quien era un ávido lector
de la obra de Froebel, Montessori, Decroly, Dewey y Claparede. La labor pedagógico-
didáctica que se desarrollaba en el Jardín de Infantes “Domingo Sarmiento” estaba
solidamente fundamentada. A modo de ejemplo, podemos mencionar que, entre las
actividades que se llevaban a cabo en este Jardín de Infantes, tenían un lugar relevante
las actividades al aire libre, juegos, rondas, las actividades de huerta y jardinería, el
cuidado y la observación de animales; por otra parte, el arte se hacía presente y eran
cotidianas las actividades de dibujo, música, literatura y teatro de títeres. También se
hacían excursiones a diversos sitios de la ciudad. Como una nota distintiva podemos
mencionar la enseñanza del idioma francés.
Como decíamos anteriormente, fue especialmente el Jardín de Infantes el que se
convirtió en un modelo institucional que se replicó en otros municipios, en 1939 el
municipio de Pehuajó inauguro un Jardín de Infantes con el asesoramiento de Glattstein
y luego se abrieron jardines de infantes municipales en otras localidades como Moreno
y Junín.
Estos antecedentes constituyeron una plataforma de despegue para las políticas
públicas que se implementaron posteriormente durante el peronismo. La obra
pedagógica logró consolidarse como una alternativa educativa, diferenciándose de la
escuela primaria, apuntando la idea de la educación integral para la infancia.
Los prolegómenos de nuevos tiempos para la infancia
Si bien el peronismo se instaló como un fenómeno sociopolítico inédito hay que decir no
permaneció ajeno a los cambios en el contexto internacional de mediados del siglo XX
acontecieron. En este nuevo contexto el Estado adquirió un rol protagónico concretando
una serie de realizaciones definidas esencialmente por su fuerte presencia como
organizador de las relaciones sociales.
El proyecto del primer gobierno peronista, se erigió como un proyecto fundacional. En
este sentido interpeló a la niñez desde una visión utópica, imaginando a las nuevas
generaciones como portadoras de mandatos sociales transformadores. En este sentido
la escolarización temprana es una herramienta que posibilitaría la formación de nuevos
sujetos sociales.
Para el proyecto del peronismo el punto de partida para la operación de transformación
es el sujeto social (niños, jóvenes, obreros, mujeres, militantes, etc.). El peronismo dirige
el discurso y la acción pedagógica hacia los desheredados, interpela a los sujetos de
las clases populares constituyéndolos en sujetos pedagógicos. El sujeto pedagógico del
299
peronismo, habilita la resignificación de la categoría pueblo y renueva sus derechos. En
materia de políticas públicas el peronismo como fuerza política emergente, interpeló a
un sujeto infantil complejo atravesado por profundas desigualdades sociales, por
notorias diferencias culturales que daban cuenta tanto de situaciones de exclusión como
de privilegio.
En el imaginario peronista la niñez ocupó un lugar de especial significación política. Por
un lado, se favoreció la distinción del tiempo de infancia, pero a su vez dicho tiempo fue
sujetado a una cadena de significación política.
El sentido de universalidad de las políticas dirigidas a la infancia fue indicador tanto del
alcance nacional de la problemática infantil como de la necesidad de legitimar la
autoridad del poder político sobre la misma. Desde los discursos de la época se
establecía una profunda relación entre la infancia y el futuro de la nación. La niñez se
concebía como depositaria de la acción social del Estado, y como heredera y
continuadora de la nueva cultura política.
La política integral de peronismo no se reducía a una estrategia de dignificación social
de la situación del niño, sino que, en tanto política generacional, incluyó un conjunto de
contenidos culturales y pedagógicos para formar: nuevos argentinos. Se pretendía
suscitar una “re-socialización moral” al decir de Somoza Rodríguez (1997); formando
mujeres y hombres que no estuvieran divididos por diferencias sociales o ideológicas,
sino moldeados por la nación. La moral (religiosa) y el ferviente amor por la patria
definirían a este nuevo sujeto. Esto implicaba también defender las banderas del
proyecto justicialista: “justicia social”, “soberanía e independencia económica.”,
“conciliación de intereses entre las distintas clases sociales”.
En este sentido, la política educativa peronista se centró en la “principalidad” del niño.
El capítulo de Educación del Primer Plan Quinquenal (1946), se concentró en el
problema de la “igualdad de oportunidades”. Este documento revela una estrategia de
democratización que difiere de la clásica concepción liberal que interpelaba a la niñez
como sujeto universal aspirando solo a la expansión de la escolaridad pública y a la
defensa de la educación pública, laica y gratuita. Se observa, en el texto referido que,
el concepto de igualdad de oportunidades está ligado al de justicia social, es decir, que
se priorizaba la mejora de las condiciones sociales como instancia previa y en todo caso
conjunta a toda intervención educativa. El peronismo, partió del reconocimiento de la
pobreza infantil y de su condición popular para constituir un nuevo sujeto cuya identidad,
en este caso generacional, se definía por su pertenencia al territorio de la nación.
Desde esta nueva interpelación a la infancia, el peronismo bonaerense le imprimió a la
expansión de los Jardines de Infantes, un carácter político integrándolos a la educación
popular, tanto que, en los discursos de los funcionarios de la época, el Jardín de Infantes
300
era considerado junto con la escuela primaria parte integrante del Ciclo Básico de la
Educación Popular y Democrática.
Respecto a esta afiliación del Jardín de Infantes a la educación popular, parecen
elocuentes las palabras de Simini quien sostiene que su proyecto de ley “encaja
armoniosamente en la estructura general del programa revolucionario”, y argumenta:
“Lo afirmo, por la proyección social de la obra, por su fisonomía eminentemente popular
y por su contenido divinamente humano” (Diario de Sesiones, 1946, p. 716).
A grandes rasgos, podemos decir que, el jardín de infantes fue entendido tanto desde
las necesidades de la época (niños en situaciones de desprotección familiar y social, la
incorporación de la mujer al trabajo y con ello la necesidad de contar con alternativas
para el cuidado de sus hijos, el crecimiento demográfico en las ciudades cercanas al
cordón industrial, ligado a esto último la diversidad social y cultural que, en cierta
medida, aportaba el movimiento de migraciones internas, etc.) como desde sus aristas:
utópica, política y religiosa. Decía Jorge Simini que los niños en el jardín de infantes
descubrirían tres grandes afectos: Dios, Patria y familia.
Durante el peronismo se le otorgo a la infancia un status político inédito convirtiéndola
en objeto de políticas públicas de reparación social. Se propuso mirar a los niños desde
un nuevo ángulo social que dejara atrás las discriminaciones e injusticias sociales que
habían dominado hasta entonces. Los opositores cuestionaron el fuerte sesgo
ideológico, que tuvieron eventos públicos, textos de lectura escolar y experiencias
educativas. Sin embargo, se trató de generar consenso en restituir el tiempo de infancia.
Los niños fueron los únicos privilegiados, la educación, los deportes, el esparcimiento,
el juego y los juguetes (a través del reparto de juguetes el Estado exhibía su compromiso
con el tiempo de infancia, reconociendo el derecho a jugar d cada niño) son solo algunos
de los tantos elementos que demuestran que aquella frase fue algo más que un slogan.
La niñez debía inscribirse en el orden de la sociedad entendida como una unidad
orgánica que contiene el orden familiar, pero sobre todo debía inscribirse en el nuevo
orden político que se pretendía fundar. Los niños del primer peronismo serian “la
vanguardia” “la generación del 2000” que continuaría y profundizaría el proyecto político-
social- económico y cultural que se echó a rodar a mediados de la década del 40.
Los Jardines de Infantes y la educación integral
En el discurso oficial de la época son frecuentes las alusiones al jardín de infantes como
etapa inicial del sistema educativo. Estos discursos fueron acompañados de políticas
educativas que contemplaron la creación de numerosos Jardines de Infantes.
301
La ley n º 5096, referida a la creación de los Jardines de Infantes, planteo la
obligatoriedad de las salas de 3, de 4 y de 5 años. Este hecho, inédito en la historia del
nivel inicial argentino, provoco un fuerte impacto en el territorio bonaerense denotado
en una explosión matricular especialmente caracterizada por el acceso de los niños de
los sectores populares a estas instituciones educativas. Al mismo tiempo, esto significo
la inscripción en el sistema educativo provincial del Nivel Inicial, logrando así mayor
legitimidad pedagógica y política.
Además de la creciente expansión de los Jardines de Infantes en las ciudades y en el
interior de la provincia, fueron consecuencias directas de su implementación: la creación
de la primera Inspección General de Educación Preescolar y la fundación de los
primeros profesorados para la formación de maestras jardineras.
Si bien esta ley fue derogada -por la ley provincial de Educación nº 5650 -, ha logrado
instalar condiciones inéditas que fueron tensando hacia la definición de objetivos y fines
propios del Nivel Inicial contribuyendo de este modo a la configuración de ciertos rasgos.
Se desprende de algunas investigaciones que, el nivel inicial, desde sus orígenes, se
perfiló con rasgos confusos y a veces contradictorios. En el caso argentino, algunos de
los rasgos susceptibles de polémicas fueron formulados a modo de dilemas o
“contradicciones aparentes”169 tal como advierten Hebe San Martín de Duprat y Ana
Malajovich (1988).Por otra parte, Gabriela Diker ( 2001) en un trabajo, que toma como
objeto de estudio el nivel inicial en países iberoamericanos, expresa que: “Desde su
mismo origen, el Jardín de Infantes fue pensado: 1) como una institución educativa, en
la que, bajo ciertas condiciones didácticas, el juego creativo contribuye al proceso de
construcción del conocimiento por parte de los niños; 2) como una propuesta diferente
en sus contenidos y métodos, de las propuestas tradicionales de escolarización; 3) como
un modelo de institucionalización de la infancia, de la infancia contrapuesto al modelo
de guarda, protección y vigilancia de los niños, propios de las casas cuna, orfanatos,
guarderías fabriles, etc.” (Diker, 2001)
A partir de la Ley 5096 conocida el jardín de infantes fue incluido dentro del “Ciclo
Básico de Educación Popular y Democrática” y re-bautizado como Jardines de Infantes
Integrales.
169 I-Niño responsabilidad exclusiva de la familia versus niño responsabilidad de la sociedad
II-Rol de la familia en la educación de los hijos versus papel del Estado en la educación
III- Iniciativa privada versus responsabilidad del Estado
IV- Mujer productora versus mujer reproductora
V-Rol tradicional de la mujer como principal responsable de la tarea de educar a sus hijos versus nivel
inicial (Duprat y Malajovich, 1988: 16-17)
302
Los Jardines de Infantes Integrales se presentaban como instituciones pedagógicas que
contemplaban la asistencia social y el cuidado integral de los niños, sin marcar una
dualidad entre educación y asistencia entendiéndolos integrados y acoplados. La idea
de educación integral apuntaba concebir la intervención pedagógica ligada a
concepciones de justicia social e igualdad de oportunidades, precisamente para que
estas últimas se materialicen era preciso subsanar las injusticias de orden
socioeconómico y sociocultural. Las instituciones educativas creadas para atender a la
población infantil, tenían entonces la función de: educar en un sentido amplio, se
entendía que esto abarcaba también la asistencia social no solo para compensar las
carencias, sino para lograr la igualdad de la población infantil (facilitando desde la
intervención estatal el acceso a los bienes materiales y simbólicos).
Podría conjeturarse que, la propuesta del peronismo, favoreciendo la extensión de los
Jardines de Infantes y propiciando el acceso de los niños de sectores populares, no sólo
tuvo un carácter reparatorio, fue además una apuesta política que intentaría ligar familia
y Estado (vale decir “las familias”). La niñez debía inscribirse en el orden de la sociedad
entendida como una unidad orgánica que contiene el orden familiar, pero sobre todo
debía inscribirse en el nuevo orden político que se pretendía fundar.
“La educación del niño desde temprana edad se vinculaba, en el discurso peronista, no
sólo con la posibilidad de mejoramiento social, sino con la formación de la infancia
inspirada en el “sagrado culto a la Familia, a la Patria y a Dios” a partir de instituciones
concebidas como “fortines espirituales de la educación del pueblo”. El objetivo
enunciado era la “configuración del futuro arquetipo argentino”, para lo cual los jardines
comprendían el ciclo básico de la educación popular.” (Carli, 2002: 294)
La metáfora “fortines espirituales de la educación del pueblo”, parece revelar que en el
jardín de infantes la educación sentimental tenía un lugar prioritario. Varios de los
discursos de la época dan cuenta de este énfasis en lo espiritual, en la inculcación de
hábitos, en la formación de una nueva moral (re-socialización moral).
“Los valores de la educación concebida como configuradora de sujetos, están
seleccionados de acuerdo con el modelo humano que se necesita formar para que
acompañe la empresa de transformación nacional que el peronismo dice encarnar. En
lo particular, los Jardines de Infantes, se imponen la tarea de despertar y acompañar el
proceso de arraigo de los hábitos, sentimientos y aptitudes capaces de preparar el futuro
individual y colectivo que concuerdan con los principios representados por la llamada
Nueva Argentina” (Vázquez, 2006: 35)
A modo de cierre
303
Nos parece sugerente abordar estas primeras etapas del Jardín de Infantes en el
territorio bonaerense. Entendemos que apenas nos hemos aproximado a ver estas
configuraciones circulando en torno a ciertos discursos políticos y pedagógicos de la
época y que debemos abocarnos a profundizar el análisis.
En principio habría que empezar a decir que algunas definiciones plantean que el jardín
de infantes construye su identidad diferenciándose de la escuela primaria y a la vez
también distinguiéndose de la educación y la crianza familiar. Por otra parte, será
preciso considerar que los derroteros que llevaron a la inscripción del Jardín de Infantes
dentro del sistema educativo argentino, muestran tensiones, articulaciones y debates
que giraron en torno, a la definición de funciones educativas propias y propedéuticas.
Pudimos inferir que el Jardín de Infantes, se instala desde un lugar diferenciado respecto
a la escuela primaria, es interesante observar este rasgo, muy particular y de fuerte peso
en la historia del nivel inicial bonaerense. Aquí aparece claramente que la denominación
pre-escolar, está definiendo al Jardín de Infantes como algo distinto y previo a la
escuela, a la instrucción. Es interesante observar que lo pre-escolar, no adquiere
carácter propedéutico.
A partir de sus rasgos históricos podremos pensar al jardín de infantes como institución
moderna que nació cuestionando creando y re-creando modos escolares para incluir
tempranamente a la niñez en instituciones educativas para presentarse como una nueva
alternativa y espacio de socialización.
En materia pedagógica, las tres décadas que revisamos, revelan cierto eclecticismo,
aunque se mantiene el modelo pedagógico fundante (froebeliano) en convivencia con
los aportes de Montessori, Decroly, etc.
Durante los años de las gobernaciones peronistas, podremos resaltar la persistencia y
la confluencia de un proyecto nacional y popular que interpela a la niñez. La metáfora
“fortines espirituales de la educación del pueblo”, parece revelar que en el jardín de
infantes la educación sentimental tenía un lugar prioritario. Los discursos de la época
dan cuenta de este énfasis en lo espiritual, en la inculcación de hábitos, en la formación
de una nueva moral (re-socialización moral).
Observamos también que la dinámica política y pedagógica, es un complejo entramado,
no es ni meramente pedagógico ni meramente político. En el caso de la provincia de Bs.
As, encontramos actores y grupos sociales, instituciones, y organizaciones, que, en
determinados momentos confluyen en intereses o motivaciones comunes y en otros se
oponen defendiendo o planteando intereses en pugna. Analizar esto conllevaría un
estudio mucho más exhaustivo y en clave histórica-política para acercarnos a una
posible interpretación sobre lo acontecido en aquellos años signados por discursos
políticos-pedagógicos pretendidamente fundadores y críticos respecto al orden liberal y
304
luego también al conservador. Si bien nuestro trabajo, no logró avanzar sobre ese
aspecto, simplemente queríamos consignarlo para seguir ahondando y poder entender
la complejidad del escenario político-educativo en el que se sentaron las bases de la
estructura del Nivel Inicial en la provincia de Buenos Aires.
Bibliografía
Aelo, Oscar. “Formación y crisis de una élite dirigente en el peronismo bonaerense
(1946-1951). En Melón Pirro y Quiroga (2006): El peronismo bonaerense: partido y
prácticas políticas, 1946-1955. Ed Suárez, Mar del Plata.
Bernetti y Puiggrós. Peronismo. Cultura política y educación (1945-1955), Tomo V, Ed
Galerna, Buenos Aires, 1993
Carli, Sandra. Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de
la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955, Miño y Dávila
editores, Buenos Aires, 2002
Diker, Gabriela “Organización y perspectivas de la Educación Inicial en Iberoamérica:
Principales tendencias”, Documento de la OEI, 2001.
Mira López, y Homar de Aller. Educación preescolar. Ed. Troquel, Buenos Aires, 1970
Ponce, Rosana “Los debates en la de la educación inicial en la Argentina. Persistencias,
transformaciones y resignificaciones a lo largo de la historia.” En Malajovich, Ana
(comp): Experiencias y reflexiones sobre la educación inicial. Una mirada
latinoamericana. Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2006.
Puiggrós, Adriana. Sujetos, disciplina y currículum en los orígenes del sistema educativo
argentino, Tomo I, Ed. Galerna; Buenos Aires, 1990.
Puiggrós y Gómez. Alternativas Pedagógicas. Sujetos y prospectiva de la educación
Latinoamericana. Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1994
San Martín de Duprat y Malajovich. Pedagogía del nivel Inicial, Ed. Plus Ultra. Buenos
Aires,1988
Somoza Rodríguez, Miguel.“Interpretaciones sobre el proyecto educativo del primer
peronismo. De “agencia de adoctrinamiento” a “instancia procesadora de demandas”.
En Anuario de Historia de la Educación, n º 1- 1996-1997, Ed. Fundación Universidad
Nacional de San Juan, 1997
Somoza Rodríguez, Miguel. Educación y Política en Argentina (1946-1952) Miño y
Dávila editores, Buenos Aires, 2006.
Vázquez Silvia: “La política educativa durante la gobernación del Coronel Domingo
Mercante: entre la herejía y la restauración”. En Panella, Claudio (comp.): El gobierno
305
de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de peronismo
provincial. La Plata, 2005
Fuentes:
- Diario de sesiones de la Cámara de Diputados. La Plata, octubre de 1946.
- Diario de sesiones del Senado. La Plata, julio de 1951
- Constitución de la Nación Argentina (1949).
- Constitución de la Provincia de Buenos Aires (1949)
-DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(1948), “Labor técnico-pedagógica y administrativa durante los dos años iniciales del
período constitucional del gobernador Mercante”, Archivos de la Provincia, Talleres
gráficos de Iglesias y Matera; La Plata.
- Entrevista a Isabel Verdier (maestra del Jardín de Infantes n° 1 “Domingo Faustino
Sarmiento)
-Ley n° 5.096, “Instaurando la educación pre-escolar gratuita y obligatoria y creando los
Jardines de Infantes en la provincia de Buenos Aires”, La Plata, 1946.
-Ley de Educación Provincial nº 5.650, La Plata, 14 de agosto de 1951
EL DEVENIR DE UNA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL COMO PRECEDENTE Y
FUNDAMENTO DE LA LEY 5096 DE CREACION DE JARDINES DE INFANTES EN
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DURANTE EL PRIMER PERONISMO.
Autora: Ponce, Rosana Elizabeth
Universidad Nacional de Luján (Argentina); Universidad Nacional de Moreno
(Argentina)
Introducción
Este trabajo se inscribe en la búsqueda de antecedentes de instituciones educativas
para la primera infancia. Intentaremos vislumbrar cómo se fue configurando la política
educativa y de qué manera se fue proyectando la conformación del sistema educativo
de la provincia de Buenos Aires (Argentina). En este sentido encontramos una
experiencia que cobraría relevancia y sería reconocida como precursora para los
lineamientos pedagógicos y políticos que se definirían durante la gobernación de
Domingo Mercante (1946-1951) con consonancia con el proyecto político del primer
peronismo.
306
En el año 1935, en la ciudad de Trenque Lauquen170algunas iniciativas acontecidas
confluyeron en la creación de un jardín de infantes municipal que dejaría su huella en la
historia de los jardines de infantes bonaerenses. En los fundamentos de la Ley 5096/46
de “Creación de los Jardines de Infantes” se citaba el Jardín n° 1 “Domingo Faustino
Sarmiento” de Trenque Lauquen como antecedente. Cabe mencionar que dicha
legislación marcó un hito en la historia del sistema educativo provincial, ya que entre
otras cuestiones planteo: la incorporación del Jardín de Infantes al sistema educativo
provincial afianzando la creación de estas instituciones en todo el territorio bonaerense
y declarando la obligatoriedad de la educación infantil a partir de los 3 años de edad. Es
por ello que, nos propondremos comenzar a reconstruir un relato posible de la
experiencia educativa del Jardín de Infantes n° 1 como espacio fundante e inspirador
de políticas educativas de mayor alcance intentando desplegar al mismo tiempo
aspectos que nos permitan entrever el devenir institucional también como espacio de
producción pedagógica. Nos interesa aproximarnos a la comprensión del fenómeno
desde una mirada integral, que permita dar cuenta de los entramados histórico-políticos
y socioculturales que configuraron tanto tensiones como definiciones acerca de la
educación infantil como cuestión pública y social. Abordaremos esta tarea a través del
análisis y la triangulación de varias fuentes primarias: orales (entrevistas) y escritas
(documentación oficial elaborada por la Dirección General de Escuelas de la Provincia
de Buenos Aires; documentación institucional que se halla en archivos del Museo
Provincial de los Jardines de Infantes de Buenos Aires; notas o artículos de periódicos
y revistas de la época) y fuentes secundarias: artículos, textos, investigaciones sobre
el tema en particular, sobre la coyuntura local y el contexto nacional/regional. Por último,
vale decir que esta ponencia será una aproximación parcial de un trabajo de tesis
referido a la educación inicial en la provincia de Buenos Aires durante el primer
peronismo en la provincia de Buenos Aires. En este caso, para ir avanzando en el
proyecto de investigación, se tomarán algunas cuestiones que posibiliten dar cuenta de
los antecedentes en torno a la escolarización de los niños desde 3 hasta 5 años de
edad. Consideramos que este abordaje nos brindará la oportunidad de abrir
interrogantes e hipótesis y/o nos ofrecerá aportes para pensar o re-pensar las líneas de
continuidades y rupturas.
Los comienzos
170Ubicada hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, a 505 km de la ciudad capital provincial La
Plata y a 445 km de la ciudad de Buenos Aires. Solo 80 km la separan de la provincia de La Pampa.
307
Si nos detenemos a bucear en los orígenes es porque consideramos necesaria hacer
una revisión que permita ver las articulaciones de intereses, demandas y proyectos en
un entramado de sujetos y grupos que asumen iniciativas. Resulta inexcusable
desmitificar el origen, para advertir la pluralidad de los comienzos, develar ciertos
aspectos para poner en tensión la idea de que son unívocos y que cristalizan sentidos
o proyectos perfectamente cohesionados. Los comienzos suelen convocar a sujetos y
grupos de voluntades de diversa y variada intensidad, pugna de intereses y poder que
se van entramando en torno a contingencias, mediaciones y la gravitación que las
mismas cobran en un determinado contexto socio-histórico-político. Por otro lado, cabe
acotar que cuando nos remitimos a la memoria escrita de los comienzos, suele
percibirse un intento por mostrar una versión que eluda los conflictos, por eso además
de las fuentes escritas variadas, que suelen tener un relato de gesta épica, hemos
agregado información aportada por entrevistas a protagonistas de la época y también a
familiares o allegados de los mismos.
A grandes trazos, podemos decir que la historia de los jardines de infantes en la
Argentina, da cuenta, por lo menos de la persistencia de dos cuestiones centrales: la
búsqueda de la legitimidad pedagógica y la lucha por la incorporación al sistema
educativo.
Nos disponemos a insinuar aquí, algunas huellas en el largo y quebrado sendero que
fue abriéndose el jardín de infantes como institución educativa en la historia de la
educación argentina en el contexto particular y específico de la provincia de Buenos
Aires.
Podríamos sugerir que esta historia tiene dos comienzos: uno malogrado, casi efímero,
discontinuo, allá en el siglo XIX, impulsado por las expectativas de desarrollo del sistema
educativo de políticos y funcionarios liberales y un segundo re-inicio, a mediados del
siglo XX, mucho más contundente y definido, casi fundante.
Resulta importante mencionar que, en el último cuarto de siglo XIX se registraron en el
territorio bonaerense la creación de Jardines de Infantes. Estas iniciativas duraron poco
tiempo y fueron muy vulnerables a vaivenes, en ellas confluyeron: extranjeros que
habían conocido la experiencia froebeliana en Europa o su expansión en los Estados
Unidos y funcionarios que apoyaron y divulgaron las bondades de estas novedosas
instituciones educativos, tal es el caso de Domingo Sarmiento y la educadora Juana
Manso. Más adelante los jardines de infantes, se fueron creando incorporándolos como
departamento de aplicación de las escuelas normales. Este último es el caso del Jardín
de Infantes que se creó en la Escuela Normal de La Plata en 1888.
No vamos a detenernos en estas experiencias, que fueron pocas y aisladas, lo que sí
es preciso remarcar es la temprana aparición del jardín de infantes en los marcos legales
308
que organizaron la educación provincial. En el año 1875, el estado provincial, luego de
sancionar su constitución, promulgo una ley de educación tendiente a organizar y
estructurar el sistema educativo bonaerense. Si bien la ley provincial nº 988 pone un
mayor énfasis en la educación común o primaria, en su artículo 49 menciona a los
“jardines de infantes “y además establece que su creación es atribución de los consejos
escolares de distrito.
Cabe señalar, que si bien la aparición de los primeros jardines de infantes en la
Argentina, ocurre hacia finales del siglo XIX, las discontinuidades y/o luchas político
pedagógicas que se dieron en el territorio bonaerense, fueron instalando otras
prioridades en la política educativa; pronto la ley 988 fue derogada y los jardines de
infantes, quedaron en el recuerdo, en la imagen de lo que podría haber sido un sistema
educativo que incluyera otras alternativas para niños menores de 6 años. Este
estancamiento derivado de la vacancia de políticas de creación y difusión de los jardines
de infantes, no logro contrarrestar el surgimiento de experiencias pedagógicas
orientadas a la primera infancia, que de manera azarosa e inesperada fueron floreciendo
en algunas ciudades del interior de la provincia.
Veremos desde aquí, como algunas de esas experiencias van a aglutinar nuevos
significantes que van ir empalmando con los nuevos tiempos políticos, económicos y
sociales que advienen con el peronismo. Cual ave fénix el Jardín de Infantes, re-nace y
vuelve a recuperar, su esplendor decimonónico, reinstalando el debate sobre la
educación infantil desde un lugar.
En la provincia de Buenos Aires, ese resurgimiento se consolida en la época del primer
peronismo, bajo la gobernación de Domingo Mercante, la ley 5096 conocida también
como Ley Simini fue una punta de lanza para el crecimiento y la expansión matricular.
En definitiva, cuando empieza a ser considerado un asunto concerniente al Estado.
En Trenque Lauquen nace un proyecto educativo con proyecciones insospechadas
O de cómo una experiencia local irrumpe, converge y es resignificada en nuevos marcos
coyunturales habilitadores de nuevos discursos políticos y pedagógicos en torno a las
infancias. Desde esta premisa, será posible poner en valor la experiencia de Trenque
Lauquen. No obstante resulta importante tener en cuenta que en el entramado histórico-
político local, hay advertir el desafío que implica presentar un abordaje desde la
complejidad del escenario local que no pierda de vista el recaudo metodológico que nos
señala el autor Oscar Aelo, habría que…“evadir dos preconceptos simétricamente
erróneos (…) la suposición de lo que lo “local” es autosuficiente y solo se explica a sí
mismo, o la creencia que el caso meramente “refleja” procesos cuya explicación reside
en otro nivel (Aelo, 2006:15). Tal como sugiere el mencionado autor, el reto será
309
considerar al espacio provincial bonaerense como un “territorio de producción de lo
político” y por qué no de lo pedagógico (agregamos nosotros) que construye y se
reconstruye al calor del proceso político nacional contribuyendo también a delinearlo.
En otras palabras, resulta necesario observar que la singularidad que adoptaría el Jardín
de Infantes deberá ser leída en clave del contexto histórico político de la época en donde
el discurso sobre la primera infancia se configuraría desde la producción de otros
discursos políticos, pedagógicos y socio-culturales. Y al mismo tiempo pensar como la
“producción política-pedagógica” que se da en el territorio bonaerense atraviesa,
tracciona y confluye en la construcción de ciertas perspectivas y de algunos debates
que van configurando.
El proyecto educativo que nace en la ciudad de Trenque Lauquen, surge a partir de la
inquietud de algunos vecinos y la iniciativa de quién entonces estaba en la intendencia
del municipio, el Dr. Agustín Mendive. La demanda de los vecinos abarcaba a los niños
más pequeños y a los jóvenes/ adultos, la preocupación estaba puesto por la falta de
propuesta estatal para estos grupos etarios. El intendente municipal Agustín Mendive y
su secretario de gobierno Héctor Jáuregui prepararon un proyecto de creación de la
Escuela Municipal y el Jardín de Infantes, que fue presentado al Consejo Deliberante y
aprobado por ordenanza el 10 de mayo de 1935. Algunas fuentes, revelaron que Jaime
Glattstein, quién luego es designado como director de ambas instituciones, fue quien
colaboró con Mendive y Jáuregui, en la elaboración del proyecto. Glattstein, era un
maestro, oriundo de Lincoln, que se desempeñaba en Trenque Lauquen, reconocido por
su trayectoria profesional y conocedor de pedagogía. El 8 de junio fue designado como
director de ambas instituciones educativas municipales. Se le encomienda a Glattstein
la elaboración de programas y proyecto educativo de ambas instituciones. Para el mes
de julio se culmina de completar el personal docente a cargo. En el caso del Jardín de
Infantes se designan maestras, profesora de música y celadora. En los comienzos no
se contaba con el mobiliario suficiente. El edificio constaba de un salón grande, dividido
en dos por un tabique: la parte más pequeña oficiaba de aula y mayor de salón de
música El 9 de julio de ese año se inaugura el Jardín de Infantes, describen los registros
de escritos de la época, que la creación de ambas instituciones fue bien recibida, aunque
también se vislumbraba en otros escritos y en fuentes orales que el proyecto municipal
contaba con varios detractores, que se oponían a dichas obras porque no las juzgaban
como prioritarias.
La orientación y supervisión de la tarea pedagógica llevada a cabo por Jaime Glattstein,
quien además de tener conocimientos y lecturas sobre pedagógica y didáctica infantil,
estaba en contacto con destacados maestros y pedagogos argentinos, tal es el caso del
310
pedagogo Juan Cassani 171 y Margarita Ravioli172. El intercambio y la cercanía intelectual
con estos referentes pedagógicos, posibilitó el florecimiento de una novedosa
experiencia educativa que se inscribía dentro de los marcos teóricos más actualizados
de la época.
En los primeros tiempos apareció un serio problema: el financiamiento. A la escasa
contribución que la comuna podía facilitar (el presupuesto implicaba solo el
sostenimiento del pago de sueldos docentes). Para solventar el funcionamiento y el
crecimiento del Jardín se creó una asociación “Amigos del Jardín de Infantes” integrada
por vecinos, en su mayor parte se trataba de padres de los niños que asistían a la
institución.
Esta asociación a través de diversas acciones como kermeses, rifas, etc. logró
completar la compra de material y mobiliario para el Jardín. Se incrementó el personal
docente, que también colaboró la pintura de frisos, confeccionando cortinas y
ocupándose de demás detalles de acondicionamiento y decoración de las salas.
Algunos artistas locales, también han colaborado con el diseño y la ejecución de la
pintura de frisos en las paredes
En 1940 el edificio se amplió. Luego, con la llegada del peronismo al gobierno, el Jardín
de Infantes paso a depender de la provincia de Buenos Aires, con lo cual el problema
del financiamiento quedaría determinado: la “Asociación de Amigos del Jardín de
Infantes” quedo subsumida en el formato “Asociación Cooperadora”, reglamentado por
las normativas de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.
Los datos y las entrevistas, nos posibilitan conocer cómo se gestó este proyecto y como
el municipio de Trenque Lauquen le dio forma, avalándolo y solventándolo, hasta la
llegada del peronismo. No obstante, es preciso, analizar un poco el escenario local,
provincial y nacional donde va consolidándose.
Algunas pinceladas sobre el contexto y el escenario político
Pensar en la Argentina de la década del 30, nos remite a una época salpicada por la
crisis económica, política y social. Frente a un panorama internacional complejo y
171 Maestro y profesor oriundo de Lincoln, amigo personal de Glattstein. Juan Cassani, prosiguió estudios
de Pedagogía en la Universidad Nacional de La Plata. Ocupo cargos de gestión pública, fue Inspector de
Enseñanza Media, Normal y Especial, ocupo la Jefatura de Inspección de Escuela Normales y llego a
Director General de Enseñanza Secundaria. Se desempeñó como catedrático y tuvo cargos de gestión en
la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. En esta última dirigió el
Instituto de Didáctica de importante gravitación en la década del 30. 172 Maestra que hacia fines de la década del 30, asume la dirección del Jardín de Infancia “Mitre” y del
“Instituto de Profesorado Sara Ch de Eccleston.” Instituciones modelo: Prestigiosas y paradigmáticas para
la historia de la educación inicial en la Argentina
311
cambiante, la Argentina inserta en el mundo capitalista sufrió los coletazos de tales crisis
que a la vez convergieron o se articularon con otras de raigambre interna. La década
del 30 en la Argentina, fue reconocida y denominada como la “Década Infame”. En algún
sentido, significó el ocaso de las ideas positivistas que predecían el futuro bajo la línea
definida del “progreso”. Las ilusiones sobre el destino de progreso se vieron trastocadas
con la crisis de la economía mundial de 1929, que repercutió en nuestro país generando
una aguda recesión económica que se tradujo en elevados índices de desocupación y
de crecimiento de la pobreza de gran parte de la población.
En el plano político luego de la experiencia del radicalismo, la oligarquía volvió a
estrechar filas y adopto una nueva modalidad para llegar y conservarse en el poder: el
golpe de estado. Los cambios sociales y estructurales devenidos de aquellos años de
gobierno radical provocaron en los hombres de la elite un replanteamiento de sus
posturas ideológicas varios de sus miembros pasaron de liberales a conservadores.
Muchos se convirtieron en críticos del liberalismo y del sistema democrático. Entendían
que la democracia llevada a su máxima expresión era peligrosa por lo tanto el sistema
político sólo debía moverse dentro de los límites impuestos por la clase dirigente. Los
conservadores plantearon una nueva forma de hacer política, el axioma que lo
condensaba fue: el “fraude patriótico”. Las elecciones se realizaban dentro un abanico
reducido de posibilidades democráticas, con la exclusión de los grupos y partidos
políticos de raigambre popular, el poder político quedaba concentrado en grupos que
representaban los intereses de las clases dominantes. El conservadurismo del 30 y el
40´ comenzó a alejarse del liberalismo clásico, adoptando una política más
intervencionista y reguladora en materia económica, vale aclarar que tal
intervencionismo se relaciona con los cambios en la política internacional, los años de
entreguerras, la segunda guerra mundial, los totalitarismos, etc.
Esos vientos de cambios, atravesaron una sociedad, que también estaba mutando en
su fisonomía y dimensiones. Nos interesa, mencionar algunas de esas mutaciones de
orden social y cultural, tratando de verlas en el escenario de la provincia de Buenos
Aires.
En 1936 llega a la gobernación de la provincia, Manuel Fresco, un conservador que
provenía de la derecha autoritaria, que contaba con la simpatía del Ejercito, la Iglesia
Católica y de la clase dominante (temerosa del comunismo y a todo lo que procediera
del movimiento obrero). En consonancia con el intervencionismo estatal, Fresco asume
su gestión dando lugar a la obra pública y distribuyendo el presupuesto de la provincia
discrecionalmente. Siguiendo la orientación intervencionista, también impulso obras que
contuvieran el descontento social y la crisis, le interesaba desmovilizar a las masas,
alejarlas de la conflictividad. Procuró negociar con los sindicatos, pero prohibió las
312
huelgas y trato de alejar de la conducción a líderes con ideologías de izquierda. En
materia educacional, impuso una reforma antiliberal, antipositivista y antilaicista. Como
decíamos el conservadurismo de esta época dio una vuelta de tuerca para volver a
definir a la nación, desde los valores religiosos y tradicionales del catolicismo. La
amalgama que se intenta producir entre catolicismo, espiritualismo y escolanovismo, es
muy interesante de observar porque no logra convivir sin contradicciones y fisuras. No
obstante, pudieron ser camufladas por el bajo impacto de las experiencias
escolanovistas. Los discursos pedagógicos oficiales fueron ganando adeptos entre los
docentes que adoptaron de manera fragmentada algunos elementos afines con el
movimiento escolanovista, sin avistar contradicciones con una propuesta pedagógica
que apuntaba a espiritualizar la escuela y darle un sentido de argentinidad recuperando
la raíz hispánica y criolla. En este marco la escuela positivista del proyecto liberal fue
criticada pero también fueron malogradas o tergiversadas las experiencias
escolanovistas. Ponemos en juego, estas cuestiones para poder entender la reforma
educativa de Fresco, que precisamente intenta combinar sin resolver cierta hibridez:
elementos escolanovistas con el nacionalismo católico conservador. La política
educativa durante su gestión anclaba en el orden conservador basado en los valores
tradicionales y católicos para desplazar a los valores democráticos y laicos. El objetivo
era restaurar la cohesión de la sociedad. Para eso, también se valió de algunos
postulados “escolanovistas” matizados por algunos pedagogos de orientación fascista173
que pusieron énfasis en el carácter espiritualista de la educación, jerarquizando los
valores por encima de los conocimientos. Con estos elementos la educación en la
provincia de Buenos Aires, es esencialmente religiosa, se incorporan a la curricula el
trabajo manual y el deporte. Ambos se orientan al disciplinamiento para el trabajo y el
fortalecimiento del cuerpo del niño y del joven. La actividad física escolar constante,
dejaba menos espacio para las actividades de corte puramente intelectual, se
argumentaba que era necesario alejar al niño y al joven de ideas perniciosas que fueran
en contra de la unión y la armonía social.
El Jardín de Infantes “Domingo Faustino Sarmiento”: del municipio a la provincia
El precedente y acotado marco contextual, quizás nos ayude a poner un poco de luz,
sobre este proyecto educativo que nace de una decisión de política pública a nivel
municipal, durante la gestión de Agustín Mendive, un año antes de la asunción del
173 Giovanni Gentile, fue un filósofo que escribió textos que fueron tomados como aporte para la
pedagogía que Benito Mussolini implanto en Italia durante el Régimen Fascista.
313
gobernador Manuel Fresco. El escenario previo al gobierno de Fresco, no era el mejor,
en 1935, se dirimían con mucha conflictividad las candidaturas entre las facciones de la
derecha, el gobernador Martínez de Hoz, intentando posicionarse dentro del partido
conservador, no logra acuerdos con el partido. Mientras que la legislatura bonaerense
está coaccionada por la derecha conservadora que intenta otras alianzas para definir
las candidaturas. Ya en 1935 Fresco estaba muy bien posicionado, resulto factible
conseguir el apoyo del entonces presidente de la nación Agustín Justo y de la mayoría
de los legisladores bonaerenses. Fresco era el candidato fuerte para impedir que el
radicalismo gane las elecciones, porque además de la maquinaria del fraude, había
necesidad de reunir cierto consenso entre las mayorías populares.
El intendente Agustín Mendive, estuvo poco menos de dos años en la gestión, de 1934
a 1936. En 1936 con el cambio de gobernador, también ocurre la renovación del cargo
en la intendencia que queda a cargo de Victor Alcorta. Como puede verse, el proyecto
continúo siendo sostenido por varios sucesores. En parte, esta continuidad tuvo que ver
con el prestigio ganado a través de la labor realizada y por el apoyo de la comunidad.
También tuvo mucha incidencia la continuidad el cargo de su director Jaime Glattstein y
el esfuerzo por hacer en estos espacios educativos innovaciones y experimentaciones
pedagógicas.
El profesor Glattstein era un conocedor del método froebeliano y además contaba con
una amplia actualización pedagógica por lo que también estimaba los aportes de
algunos referentes de la escuela activa. Al igual que en otros puntos del país, en este
Jardín de Infantes, convivían los postulados y materiales froebelianos, con los
montessorianos y los decrolianos. Puede decirse, que el quehacer pedagógico-didáctico
de este establecimiento, también da muestra del momento de experimentación e
innovación característico de estos años. Dado el contexto que hemos descripto, vale
destacar que en el Jardín de Infantes “Domingo Faustino Sarmiento” la educación era
laica, al no depender del gobierno provincial, estaba exento de enseñar religión. Por otro
lado, todavía no existía reglamento para el funcionamiento de estas instituciones, por lo
que, había un margen de autonomía pedagógica. La tarea educativa desplegada allí fue
imprimiendo una mirada integral sobre la educación infantil, resulta relevante subrayar
que esta institución abrió sus puertas a niños de todas las clases sociales. Fue laica y
abierta.
Sus primeras docentes no tenían título en la especialidad, sin embargo, recibían
permanente asesoramiento pedagógico por parte de Glattstein, quien era un ávido lector
de la obra de Froebel, Montessori, Decroly, Dewey y Claparede. La labor pedagógico-
didáctica que se desarrollaba en el Jardín de Infantes “Domingo Sarmiento” estaba
solidamente fundamentada. A modo de ejemplo, podemos mencionar que, entre las
314
actividades que se llevaban a cabo en este Jardín de Infantes, tenían un lugar relevante
las actividades al aire libre, juegos, rondas, las actividades de huerta y jardinería, el
cuidado y la observación de animales; por otra parte, el arte se hacía presente y eran
cotidianas las actividades de dibujo, música, literatura y teatro de títeres. También se
hacían excursiones a diversos sitios de la ciudad. Como una nota distintiva podemos
mencionar la enseñanza del idioma francés.
Como decíamos anteriormente, fue especialmente el Jardín de Infantes el que se
convirtió en un modelo institucional que se replicó en otros municipios, en 1939 el
municipio de Pehuajó inauguro un Jardín de Infantes con el asesoramiento de Glattstein
y luego se abrieron jardines de infantes municipales en otras localidades como Moreno
y Junín.
Estos antecedentes constituyeron una plataforma de despegue para las políticas
públicas que se implementaron posteriormente durante el peronismo. La obra
pedagógica logró consolidarse como una alternativa educativa, diferenciándose de la
escuela primaria, apuntando la idea de la educación integral para la infancia.
Los prolegómenos de nuevos tiempos para la infancia
Si bien el peronismo se instaló como un fenómeno sociopolítico inédito hay que decir no
permaneció ajeno a los cambios en el contexto internacional de mediados del siglo XX
acontecieron. En este nuevo contexto el Estado adquirió un rol protagónico concretando
una serie de realizaciones definidas esencialmente por su fuerte presencia como
organizador de las relaciones sociales.
El proyecto del primer gobierno peronista, se erigió como un proyecto fundacional. En
este sentido interpeló a la niñez desde una visión utópica, imaginando a las nuevas
generaciones como portadoras de mandatos sociales transformadores. En este sentido
la escolarización temprana es una herramienta que posibilitaría la formación de nuevos
sujetos sociales.
Para el proyecto del peronismo el punto de partida para la operación de transformación
es el sujeto social (niños, jóvenes, obreros, mujeres, militantes, etc.). El peronismo dirige
el discurso y la acción pedagógica hacia los desheredados, interpela a los sujetos de
las clases populares constituyéndolos en sujetos pedagógicos. El sujeto pedagógico del
peronismo, habilita la resignificación de la categoría pueblo y renueva sus derechos. En
materia de políticas públicas el peronismo como fuerza política emergente, interpeló a
un sujeto infantil complejo atravesado por profundas desigualdades sociales, por
notorias diferencias culturales que daban cuenta tanto de situaciones de exclusión como
de privilegio.
315
En el imaginario peronista la niñez ocupó un lugar de especial significación política. Por
un lado, se favoreció la distinción del tiempo de infancia, pero a su vez dicho tiempo fue
sujetado a una cadena de significación política.
El sentido de universalidad de las políticas dirigidas a la infancia fue indicador tanto del
alcance nacional de la problemática infantil como de la necesidad de legitimar la
autoridad del poder político sobre la misma. Desde los discursos de la época se
establecía una profunda relación entre la infancia y el futuro de la nación. La niñez se
concebía como depositaria de la acción social del Estado, y como heredera y
continuadora de la nueva cultura política.
La política integral de peronismo no se reducía a una estrategia de dignificación social
de la situación del niño, sino que, en tanto política generacional, incluyó un conjunto de
contenidos culturales y pedagógicos para formar: nuevos argentinos. Se pretendía
suscitar una “re-socialización moral” al decir de Somoza Rodríguez (1997); formando
mujeres y hombres que no estuvieran divididos por diferencias sociales o ideológicas,
sino moldeados por la nación. La moral (religiosa) y el ferviente amor por la patria
definirían a este nuevo sujeto. Esto implicaba también defender las banderas del
proyecto justicialista: “justicia social”, “soberanía e independencia económica.”,
“conciliación de intereses entre las distintas clases sociales”.
En este sentido, la política educativa peronista se centró en la “principalidad” del niño.
El capítulo de Educación del Primer Plan Quinquenal (1946), se concentró en el
problema de la “igualdad de oportunidades”. Este documento revela una estrategia de
democratización que difiere de la clásica concepción liberal que interpelaba a la niñez
como sujeto universal aspirando solo a la expansión de la escolaridad pública y a la
defensa de la educación pública, laica y gratuita. Se observa, en el texto referido que,
el concepto de igualdad de oportunidades está ligado al de justicia social, es decir, que
se priorizaba la mejora de las condiciones sociales como instancia previa y en todo caso
conjunta a toda intervención educativa. El peronismo, partió del reconocimiento de la
pobreza infantil y de su condición popular para constituir un nuevo sujeto cuya identidad,
en este caso generacional, se definía por su pertenencia al territorio de la nación.
Desde esta nueva interpelación a la infancia, el peronismo bonaerense le imprimió a la
expansión de los Jardines de Infantes, un carácter político integrándolos a la educación
popular, tanto que, en los discursos de los funcionarios de la época, el Jardín de Infantes
era considerado junto con la escuela primaria parte integrante del Ciclo Básico de la
Educación Popular y Democrática.
Respecto a esta afiliación del Jardín de Infantes a la educación popular, parecen
elocuentes las palabras de Simini quien sostiene que su proyecto de ley “encaja
armoniosamente en la estructura general del programa revolucionario”, y argumenta:
316
“Lo afirmo, por la proyección social de la obra, por su fisonomía eminentemente popular
y por su contenido divinamente humano” (Diario de Sesiones, 1946, p. 716).
A grandes rasgos, podemos decir que, el jardín de infantes fue entendido tanto desde
las necesidades de la época (niños en situaciones de desprotección familiar y social, la
incorporación de la mujer al trabajo y con ello la necesidad de contar con alternativas
para el cuidado de sus hijos, el crecimiento demográfico en las ciudades cercanas al
cordón industrial, ligado a esto último la diversidad social y cultural que, en cierta
medida, aportaba el movimiento de migraciones internas, etc.) como desde sus aristas:
utópica, política y religiosa. Decía Jorge Simini que los niños en el jardín de infantes
descubrirían tres grandes afectos: Dios, Patria y familia.
Durante el peronismo se le otorgo a la infancia un status político inédito convirtiéndola
en objeto de políticas públicas de reparación social. Se propuso mirar a los niños desde
un nuevo ángulo social que dejara atrás las discriminaciones e injusticias sociales que
habían dominado hasta entonces. Los opositores cuestionaron el fuerte sesgo
ideológico, que tuvieron eventos públicos, textos de lectura escolar y experiencias
educativas. Sin embargo, se trató de generar consenso en restituir el tiempo de infancia.
Los niños fueron los únicos privilegiados, la educación, los deportes, el esparcimiento,
el juego y los juguetes (a través del reparto de juguetes el Estado exhibía su compromiso
con el tiempo de infancia, reconociendo el derecho a jugar d cada niño) son solo algunos
de los tantos elementos que demuestran que aquella frase fue algo más que un slogan.
La niñez debía inscribirse en el orden de la sociedad entendida como una unidad
orgánica que contiene el orden familiar, pero sobre todo debía inscribirse en el nuevo
orden político que se pretendía fundar. Los niños del primer peronismo serian “la
vanguardia” “la generación del 2000” que continuaría y profundizaría el proyecto político-
social- económico y cultural que se echó a rodar a mediados de la década del 40.
Los Jardines de Infantes y la educación integral
En el discurso oficial de la época son frecuentes las alusiones al jardín de infantes como
etapa inicial del sistema educativo. Estos discursos fueron acompañados de políticas
educativas que contemplaron la creación de numerosos Jardines de Infantes.
La ley n º 5096, referida a la creación de los Jardines de Infantes, planteo la
obligatoriedad de las salas de 3, de 4 y de 5 años. Este hecho, inédito en la historia del
nivel inicial argentino, provoco un fuerte impacto en el territorio bonaerense denotado
en una explosión matricular especialmente caracterizada por el acceso de los niños de
los sectores populares a estas instituciones educativas. Al mismo tiempo, esto significo
317
la inscripción en el sistema educativo provincial del Nivel Inicial, logrando así mayor
legitimidad pedagógica y política.
Además de la creciente expansión de los Jardines de Infantes en las ciudades y en el
interior de la provincia, fueron consecuencias directas de su implementación: la creación
de la primera Inspección General de Educación Preescolar y la fundación de los
primeros profesorados para la formación de maestras jardineras.
Si bien esta ley fue derogada -por la ley provincial de Educación nº 5650 -, ha logrado
instalar condiciones inéditas que fueron tensando hacia la definición de objetivos y fines
propios del Nivel Inicial contribuyendo de este modo a la configuración de ciertos rasgos.
Se desprende de algunas investigaciones que, el nivel inicial, desde sus orígenes, se
perfiló con rasgos confusos y a veces contradictorios. En el caso argentino, algunos de
los rasgos susceptibles de polémicas fueron formulados a modo de dilemas o
“contradicciones aparentes”174 tal como advierten Hebe San Martín de Duprat y Ana
Malajovich (1988).Por otra parte, Gabriela Diker ( 2001) en un trabajo, que toma como
objeto de estudio el nivel inicial en países iberoamericanos, expresa que: “Desde su
mismo origen, el Jardín de Infantes fue pensado: 1) como una institución educativa, en
la que, bajo ciertas condiciones didácticas, el juego creativo contribuye al proceso de
construcción del conocimiento por parte de los niños; 2) como una propuesta diferente
en sus contenidos y métodos, de las propuestas tradicionales de escolarización; 3) como
un modelo de institucionalización de la infancia, de la infancia contrapuesto al modelo
de guarda, protección y vigilancia de los niños, propios de las casas cuna, orfanatos,
guarderías fabriles, etc.” (Diker, 2001)
A partir de la Ley 5096 conocida el jardín de infantes fue incluido dentro del “Ciclo
Básico de Educación Popular y Democrática” y re-bautizado como Jardines de Infantes
Integrales.
Los Jardines de Infantes Integrales se presentaban como instituciones pedagógicas que
contemplaban la asistencia social y el cuidado integral de los niños, sin marcar una
dualidad entre educación y asistencia entendiéndolos integrados y acoplados. La idea
de educación integral apuntaba concebir la intervención pedagógica ligada a
concepciones de justicia social e igualdad de oportunidades, precisamente para que
estas últimas se materialicen era preciso subsanar las injusticias de orden
174 I-Niño responsabilidad exclusiva de la familia versus niño responsabilidad de la sociedad
II-Rol de la familia en la educación de los hijos versus papel del Estado en la educación
III- Iniciativa privada versus responsabilidad del Estado
IV- Mujer productora versus mujer reproductora
V-Rol tradicional de la mujer como principal responsable de la tarea de educar a sus hijos versus nivel
inicial (Duprat y Malajovich, 1988: 16-17)
318
socioeconómico y sociocultural. Las instituciones educativas creadas para atender a la
población infantil, tenían entonces la función de: educar en un sentido amplio, se
entendía que esto abarcaba también la asistencia social no solo para compensar las
carencias, sino para lograr la igualdad de la población infantil (facilitando desde la
intervención estatal el acceso a los bienes materiales y simbólicos).
Podría conjeturarse que, la propuesta del peronismo, favoreciendo la extensión de los
Jardines de Infantes y propiciando el acceso de los niños de sectores populares, no sólo
tuvo un carácter reparatorio, fue además una apuesta política que intentaría ligar familia
y Estado (vale decir “las familias”). La niñez debía inscribirse en el orden de la sociedad
entendida como una unidad orgánica que contiene el orden familiar, pero sobre todo
debía inscribirse en el nuevo orden político que se pretendía fundar.
“La educación del niño desde temprana edad se vinculaba, en el discurso peronista, no
sólo con la posibilidad de mejoramiento social, sino con la formación de la infancia
inspirada en el “sagrado culto a la Familia, a la Patria y a Dios” a partir de instituciones
concebidas como “fortines espirituales de la educación del pueblo”. El objetivo
enunciado era la “configuración del futuro arquetipo argentino”, para lo cual los jardines
comprendían el ciclo básico de la educación popular.” (Carli, 2002: 294)
La metáfora “fortines espirituales de la educación del pueblo”, parece revelar que en el
jardín de infantes la educación sentimental tenía un lugar prioritario. Varios de los
discursos de la época dan cuenta de este énfasis en lo espiritual, en la inculcación de
hábitos, en la formación de una nueva moral (re-socialización moral).
“Los valores de la educación concebida como configuradora de sujetos, están
seleccionados de acuerdo con el modelo humano que se necesita formar para que
acompañe la empresa de transformación nacional que el peronismo dice encarnar. En
lo particular, los Jardines de Infantes, se imponen la tarea de despertar y acompañar el
proceso de arraigo de los hábitos, sentimientos y aptitudes capaces de preparar el futuro
individual y colectivo que concuerdan con los principios representados por la llamada
Nueva Argentina” (Vázquez, 2006: 35)
A modo de cierre
Nos parece sugerente abordar estas primeras etapas del Jardín de Infantes en el
territorio bonaerense. Entendemos que apenas nos hemos aproximado a ver estas
configuraciones circulando en torno a ciertos discursos políticos y pedagógicos de la
época y que debemos abocarnos a profundizar el análisis.
En principio habría que empezar a decir que algunas definiciones plantean que el jardín
de infantes construye su identidad diferenciándose de la escuela primaria y a la vez
319
también distinguiéndose de la educación y la crianza familiar. Por otra parte, será
preciso considerar que los derroteros que llevaron a la inscripción del Jardín de Infantes
dentro del sistema educativo argentino, muestran tensiones, articulaciones y debates
que giraron en torno, a la definición de funciones educativas propias y propedéuticas.
Pudimos inferir que el Jardín de Infantes, se instala desde un lugar diferenciado respecto
a la escuela primaria, es interesante observar este rasgo, muy particular y de fuerte peso
en la historia del nivel inicial bonaerense. Aquí aparece claramente que la denominación
pre-escolar, está definiendo al Jardín de Infantes como algo distinto y previo a la
escuela, a la instrucción. Es interesante observar que lo pre-escolar, no adquiere
carácter propedéutico.
A partir de sus rasgos históricos podremos pensar al jardín de infantes como institución
moderna que nació cuestionando creando y re-creando modos escolares para incluir
tempranamente a la niñez en instituciones educativas para presentarse como una nueva
alternativa y espacio de socialización.
En materia pedagógica, las tres décadas que revisamos, revelan cierto eclecticismo,
aunque se mantiene el modelo pedagógico fundante (froebeliano) en convivencia con
los aportes de Montessori, Decroly, etc.
Durante los años de las gobernaciones peronistas, podremos resaltar la persistencia y
la confluencia de un proyecto nacional y popular que interpela a la niñez. La metáfora
“fortines espirituales de la educación del pueblo”, parece revelar que en el jardín de
infantes la educación sentimental tenía un lugar prioritario. Los discursos de la época
dan cuenta de este énfasis en lo espiritual, en la inculcación de hábitos, en la formación
de una nueva moral (re-socialización moral).
Observamos también que la dinámica política y pedagógica, es un complejo entramado,
no es ni meramente pedagógico ni meramente político. En el caso de la provincia de Bs.
As, encontramos actores y grupos sociales, instituciones, y organizaciones, que, en
determinados momentos confluyen en intereses o motivaciones comunes y en otros se
oponen defendiendo o planteando intereses en pugna. Analizar esto conllevaría un
estudio mucho más exhaustivo y en clave histórica-política para acercarnos a una
posible interpretación sobre lo acontecido en aquellos años signados por discursos
políticos-pedagógicos pretendidamente fundadores y críticos respecto al orden liberal y
luego también al conservador. Si bien nuestro trabajo, no logró avanzar sobre ese
aspecto, simplemente queríamos consignarlo para seguir ahondando y poder entender
la complejidad del escenario político-educativo en el que se sentaron las bases de la
estructura del Nivel Inicial en la provincia de Buenos Aires.
Bibliografía
320
Aelo, Oscar. “Formación y crisis de una élite dirigente en el peronismo bonaerense
(1946-1951). En Melón Pirro y Quiroga (2006): El peronismo bonaerense: partido y
prácticas políticas, 1946-1955. Ed Suárez, Mar del Plata.
Bernetti y Puiggrós. Peronismo. Cultura política y educación (1945-1955), Tomo V, Ed
Galerna, Buenos Aires, 1993
Carli, Sandra. Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de
la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955, Miño y Dávila
editores, Buenos Aires, 2002
Diker, Gabriela “Organización y perspectivas de la Educación Inicial en Iberoamérica:
Principales tendencias”, Documento de la OEI, 2001.
Mira López, y Homar de Aller. Educación preescolar. Ed. Troquel, Buenos Aires, 1970
Ponce, Rosana “Los debates en la de la educación inicial en la Argentina. Persistencias,
transformaciones y resignificaciones a lo largo de la historia.” En Malajovich, Ana
(comp): Experiencias y reflexiones sobre la educación inicial. Una mirada
latinoamericana. Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2006.
Puiggrós, Adriana. Sujetos, disciplina y currículum en los orígenes del sistema educativo
argentino, Tomo I, Ed. Galerna; Buenos Aires, 1990.
Puiggrós y Gómez. Alternativas Pedagógicas. Sujetos y prospectiva de la educación
Latinoamericana. Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1994
San Martín de Duprat y Malajovich. Pedagogía del nivel Inicial, Ed. Plus Ultra. Buenos
Aires,1988
Somoza Rodríguez, Miguel.“Interpretaciones sobre el proyecto educativo del primer
peronismo. De “agencia de adoctrinamiento” a “instancia procesadora de demandas”.
En Anuario de Historia de la Educación, n º 1- 1996-1997, Ed. Fundación Universidad
Nacional de San Juan, 1997
Somoza Rodríguez, Miguel. Educación y Política en Argentina (1946-1952) Miño y
Dávila editores, Buenos Aires, 2006.
Vázquez Silvia: “La política educativa durante la gobernación del Coronel Domingo
Mercante: entre la herejía y la restauración”. En Panella, Claudio (comp.): El gobierno
de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de peronismo
provincial. La Plata, 2005
Fuentes:
- Diario de sesiones de la Cámara de Diputados. La Plata, octubre de 1946.
- Diario de sesiones del Senado. La Plata, julio de 1951
321
- Constitución de la Nación Argentina (1949).
- Constitución de la Provincia de Buenos Aires (1949)
-DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(1948), “Labor técnico-pedagógica y administrativa durante los dos años iniciales del
período constitucional del gobernador Mercante”, Archivos de la Provincia, Talleres
gráficos de Iglesias y Matera; La Plata.
- Entrevista a Isabel Verdier (maestra del Jardín de Infantes n° 1 “Domingo Faustino
Sarmiento)
-Ley n° 5.096, “Instaurando la educación pre-escolar gratuita y obligatoria y creando los
Jardines de Infantes en la provincia de Buenos Aires”, La Plata, 1946.
-Ley de Educación Provincial nº 5.650, La Plata, 14 de agosto de 1951
ENTRE A CASA E A RUA: O COTIDIANO E A EDUCAÇÃO DA
CONSCIÊNCIA HISTÓRICA DA MOCIDADE EM DIAMANTINA-MG NO FINAL DO
SÉCULO XIX
Helder Pinto, FaE-UFMG/Prefeitura de Itabira-MG, [email protected]
INTRODUÇÃO
A sociedade plasma uma imagem dos jovens, atribui-lhes características e papéis tratam de impor-lhes regras e valores e constata com angústia os elementos de desagregação associados a esse período de mudança, os elementos de conflito e as resistências inseridos nos processos de integração e reprodução social.
Giovanni Levi; Jean-Claude Schmitt, 1996, p. 12.
E o que é que se chama presentemente um bom moço? É um rapaz... que nenhum respeito tem aos mais velhos, inclusive aos seus próprios pais e mestres.
Padre Lopes Gama, 1842/1996, p. 433.
Este texto apresenta algumas reflexões resultantes de pesquisas históricas
realizadas sobre a vida cotidiana da mocidade em Diamantina, Minas Gerais, no final
do século XIX, norteadas pelas seguintes indagações: quais as condições e
possibilidades da mocidade se formar social, política e culturalmente através de
experiências cotidianas não escolares? Onde, quando e o como essas experiências
O autor é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação (GEPSHE - UFVJM) e do GEPHE - FAE/UFMG
322
ocorriam? Haveria conexão entre as experiências cotidianas, os problemas estruturais
da época e a formação da consciência histórica da mocidade?175
Logo se reconstruiu (para compreender) os processos educativos ocorridos nas
práticas sociais cotidianas da mocidade. Procurou-se apreender as atitudes rotineiras
dos jovens176 em relação às tradições sociais, políticas, literárias e religiosas, aos usos
e costumes nos quais eles estavam lançados e entrelaçados.
Considera-se mocidade: a) geração situada entre 12 e 25 anos, numa posição
entre dependência infantil e a autonomia adulta; b) rapazes/moças, na sua maioria,
pertencentes aos estratos sociais superiores, instruídos formalmente, envolvidos com a
família, interessados em literatura, imprensa, religião e festas populares e; c) grupo
marcado por uma experiência histórica assemelhada e atitudes de acomodação,
criatividade e evasão em relação às formas de dominação sociocultural.
A hipótese aventada aponta que a mocidade, como categoria histórica,
desagrega-se de certas durações, resiste a determinadas repetições socioculturais, mas
revela, ao mesmo tempo, permanências e continuidades sociais. Logo, são indivíduos
situados em épocas e lugares determinados que ao se formarem produzem o tempo
presente, ao oscilarem ociosa e assimetricamente entre o passado e o futuro. Portanto,
a participação da mocidade em determinadas práticas sociais rotineiras (na casa/rua)
conformava suas maneiras de pensar e agir.
A mocidade não percebe e aceita a tradição e a forma de vida de seu grupo de
pertencimento mecanicamente, pois sua pouca experiência acumulada parece modificar
sua relação com o passado e com o futuro e isso a permite atuar no presente de maneira
peculiar, crítica e criativa. Além disso, o comportamento da juventude depende do tipo
de sociedade que ela integra. Ou seja, uma “sociedade dinâmica está fadada a mais
cedo ou mais tarde apelar para esses recursos latentes (leia-se juventude) e, em muitos
casos, organizá-los efetivamente” para superar impasses históricos (MANNHEIM, 1973,
p.52). A lógica desse argumento diz ser a mocidade um elemento para sociedade
avançar nas suas utopias, sejam elas inovadoras ou reacionárias.
Doravante, conceituou-se educação como sendo a participação mocidade em
determinadas práticas sociais repetitivas, rotineiras, algo como exercícios habituais,
175 É preciso dizer que este texto é uma adaptação de passagens da tese de doutoramento defendida por nós em 17 dezembro de 2015, portanto, para maiores esclarecimentos Cf. o título: Entre a casa e a rua: uma história da mocidade de Diamantina-MG no final do século XIX, disponível em < http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/ > . Esta pesquisa contou com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 176 A expressão “jovem” poderá, ao longo do texto, ser substituída pelas palavras “moço”, “moça”, “mocidade” e “rapaz” entre outras, pois vamos tratar esses termos como sinônimos. Além disso, a parte majoritária da massa documental investigada nesta pesquisa trata de indivíduos filhos de mineradores, comerciantes e profissionais liberais. Entretanto, utilizaremos o testemunho memorialístico de um marceneiro, afro-brasileiro, esse, um exemplar dos pobres daquela urbe.
323
muitos deles naturalizados pelo grupo social do qual se era membro. Por certo, o
relacionamento com tais costumes demandava o desenvolvimento de habilidades de
planejar e executar movimentos e operações de assimilação, resistência, troca e (re)
criação, com as quais a nova geração planejava alcançar ou manter objetivos e posições
favoráveis em relação ao modo de vida do qual se comungava.
Para isso foi preciso que a mocidade elaborasse uma noção de tempo que
implicava em gestos de pensamento, de diálogos e, em muitos casos, resistência aos
costumes herdados, projetando para si e a para sua comunidade (local e nacional) um
futuro menos parecido com o passado. A esse processo intelectual, comunicativo e
político da juventude em relação ao tempo presente/passado/futuro chamaremos de
formação da consciência histórica.
Ana Galvão, historiadora focada no espaço-tempo do Estado de Pernambuco,
na primeira metade do XX, defende uma abordagem epistemológica do fenômeno
educacional para aquém/além da ocorrência escolar; na conclusão de sua tese doutoral
– sobre leitores/ouvintes de cordel –, afirmou: “acredito que vale a pena ressaltar
também a importância da realização de pesquisas, no campo da história da educação,
que se debrucem sobre processos educativos que, com muita força, de maneira
independente da escola, das políticas públicas e dos movimentos sociais organizados,
contribuíram para a inserção de homens e mulheres em determinados mundos culturais”
(GALVÃO, 2000, p. 509).
Diante disso, neste artigo analisam-se os espaços educativos não escolares,
uma vez que se procura compreender como os jovens apropriaram-se (e ao mesmo
tempo, ajudaram a produzir) de “determinado mundo cultural” a partir de suas interações
sociais em ambientes sociais como a casa e a rua.
Importa aqui compreender as observações, artifícios, escolhas, criações e
resistências praticadas pela mocidade dependendo de onde, quando, com que ou com
quem se travava uma interação social diária. Pois, nesse instante ordinário, o sujeito
moço ampliaria e aplicaria os meios materiais e intelectuais disponíveis com vistas à
conquista de seus objetivos e valores; e isso, em muitos casos, implicaria criar tensões
entre a mocidade e as tradições que lhe afetavam.
A realização desta pesquisa foi motivada por discussões apresentadas nos
campos da História da Educação e da Sociologia na atualidade, com foco nos jovens,
segundo as quais a juventude não seria um passivo social, ou seja, uma categoria de
pessoas incapazes de atuar como agentes históricos cientes dos problemas de seu
tempo, mas como protagonistas em processos de transformação histórica (ABRAMO &
LIÓN, 2005).
324
Portanto, nossa suposição preliminar entende que a mocidade, em Diamantina-
MG, assumia cotidianamente atitudes e reflexões que questionavam diversos itens das
práticas sociais e culturais tradicionais. Consequentemente, investigamos tais atitudes
como exercícios mediadores na formação da consciência histórica desses sujeitos.
Logo, caracterizamos a mocidade como intérprete do tempo presente, atenta aos
conflitos sociais e políticos. Ao que tudo indica, essa geração foi produtora de práticas
e opiniões sociais contraditórias. Mais do que isso, emergiu daí um conjunto de
indivíduos críticos e ativos na apropriação de referências das tradições, eruditas e
populares, brancas e negras então disponíveis. Foi nesse contexto que esses jovens
nutriram sua formação.
“No almoço era só discussão”: degustações e conversações à mesa... 10 horas
da manhã.
O almoço era uma situação na qual a mocidade se dava a ver, se expunha tanto
em termos gestuais como intelectuais e comunicacionais, pois eram ritos nos quais os
presentes observavam/avaliavam a forma como se utilizavam do corpo, do pensamento
e da voz para debater os problemas do grupo, da comunidade e da nação.
É ainda o momento da face-a-face em que se exercitava observação, uma vez
que os mais velhos se aventuravam a explicitar seus pontos de vista sobre os mais
diversos temas e assim expunham suas gramáticas corporais, sua linguagem,
pensamento e valores. Esse rito se tornava um campo de observação dialética entre
duas gerações, sendo que nenhuma delas queria aparecer de forma negativa. Os ritos
alimentares à mesa eram tribunais para o julgamento das mazelas da vida
contemporânea; portanto, se constituíam em importantes momentos de formação da
“consciência histórica”177.
Se aos jovens à mesa do almoço cabia mais ouvir que falar, logo não seria
exagero supor que “práticas intelectuais ainda ancoradas na oralidade e na
memorização178” caracterizavam as sociabilidades daquelas reuniões e garantiam à
mocidade informações temáticos, estilos e conceitos, os quais ela poderia reinventar
refutar e defender em outras situações coletivas.
177 Trata-se da “interpretação não apenas dos textos da tradição oral, mas a tudo que nos é transmitido
pela história: desse modo falamos, por exemplo, da interpretação de um evento histórico ou ainda uma interpretação de expressões espirituais e gestuais, da interpretação de um comportamento, etc. Em todos esses casos, o que queremos dizer é que o sentido daquilo que se oferece à nossa interpretação não se revela sem mediação, e que é necessário olhar para além do sentido imediato a fim de descobrir o verdadeiro significado do que se encontra escondido (GADAMER, 2003, p.19). 178 Como é o caso de práticas culturais que ocorrem em comunidades pouco marcadas pela presença do escrito Galvão e Batista (2006).
325
É Aristides Rabello quem nos introduz nesse espaço ocupado por gente, comida
e ideias: “- Papai mandou prevenir que o Doutor Soares179 vinha almoçar conosco”,
disse Amália a seu irmão Paulo. “O outro prato é para o Manassés - respondeu a moça,
recebendo as laranjas que Zulmira lhe trouxera.” Estas duas visitas eram consideradas
pelas suas qualidades “filosóficas e políticas". Dr. Soares, um orador: um político
perseguido pelo Império; Manassés180, um “filósofo” autodidata e “professor de primeiras
letras” que se dizia parceiro de Joaquim Felício dos Santos (1822-1895)181 em algumas
de suas obras. Diante da previsão das visitas “disse o estudante, indo guardar o chapéu
e a bengala: - Então vamos almoçar filosofias!” (RABELLO, 1978, p. 25). Ora, se filosofia
tem relação com informação, formação, conhecimento, autoconhecimento e crítica, logo
almoçá-la deveria ser nutritivo para o sistema intelectual dos jovens daquele domicílio.
Mas a refeição poderia ser também indigesta: com temperos pessimistas.
Para o dito “filósofo” era um dever de todo homem querer bem ao seu torrão
natal. “Pois quem não ama sua pátria é um monstro, não é?” Porém, para o “Dr. Soares
esse sentimento de apreço pela terra era uma questão em crise, um sentimento em
baixa: “hoje não tem patriotismo”, afirmou ele. Então, do seu posto de poder na mesa,
propôs um argumento indicando que patriotismo era coisa antiga, uma prática do
passado, em desuso: “- Pátria! Manassés ainda é desse tempo” (RABELLO, 1978, p.
28).
Assim o Dr. sugeriu uma idade de ouro, quase mítica, na qual se poderia ver a
paixão dos concidadãos pelo seu torrão natal. Com essa declaração a visita ilustre lança
uma pitada de tempero amargo no almoço. O fim do “patriotismo” representaria
naturalmente a crise da identidade-nação. Essa hipótese do fim do “civismo” poderia
difundir entre os jovens um problema político de alta complexidade e com o qual eles,
certamente, se ocupariam, pois era como se a torrão natal estivesse se derretendo.
Aristides Rabello utiliza-se da figura do “bacharel”, o “Dr. Soares”, como meio
para expor a decepção de sua própria família com a República liberal que se implantou
no Brasil em 1889, sinônimo de melhorias sociais, técnicas e políticas, porém, na
realidade, o que se experimentou foi um governo de militares, não afeiçoados às
liberdades supostas em tal doutrina política. Ademais, foi como se o criticado “poder
moderador da monarquia” tivesse invadido o novo regime e o neutralizado; como se a
expectativa dos Rabello tivesse naufragado no mar dos costumes políticos
179 Um dado que deve ser lembrado é que o Soares era dono e redator de um jornal semanal, o que nos leva a crer que ele discorria oralmente sobre suas teses e depois as escrevia, ou ao contrário. 180 Há um personagem de Ciro Arno muito parecido com este, porém chamado Moisés de Paula, suspeitamos que sejam a mesma pessoa. (ARNO, 1951, p. 28). 181 Entre as obras desse diamantinense figuram: Projeto do Código Civil Brasileiro e Comentário, Rio: Laemmert, 1884 e, Memórias do Distrito Diamantino da Comarca do Serro Frio, 4ª edição, Belo Horizonte: Itatiaia, 1976.
326
patrimonialistas e autoritários da estrutura Imperial, ainda em uso na República
(FAORO, 1997, HOLANDA, 1995).
O “filósofo decadente” poderia ser a metáfora da frustração política do momento,
a sarjeta aonde tinha ido parar a filosofia liberal: a “pátria” republicana, embora
desejada, tonara-se uma realidade cinzenta: improvável. A “pátria”, claro, era, para os
contemporâneos mais otimistas, a imagem do progresso social, político e cultural que
superaria o fardo herdado do Império, reino do arcaico, da barbárie, da escravidão182.
A partir de 1870, em Minas Gerais e no Brasil, emergiu uma espécie de
inquietação política que acreditava ser urgente buscar “um conjunto de ideias que
pudesse substituir a estrutura social, política, econômica e cultural” que estruturava a
nação (RODRIGUES, 1986, p. 137). Ora, talvez fizesse sentido incluir o tal “Dr. Soares”,
um engenheiro pessimista, como uma figuração desse movimento intelectual e político;
o qual, sempre que podia, palestrava sobre economia eloquentemente para jovens de
boas famílias e outras espectadores, numa manhã qualquer, no alvorecer da República,
argumentando sobre as fragilidades do novo regime político.
O estudante, interessado em escutar as reflexões sobre a conjuntura econômica
e política, tanto nacional como local, entrou em cena: “abriu, com um estouro, uma das
garrafas de vinho que apertou entre os joelhos e, depois de limpar o bico com um
guardanapo, encheu o copo do Doutor Soares, o do Manassés, que lhe ficava fronteiro,
e passou a garrafa ao pai, começando a abrir a outra.” Enquanto isso “os outros”,
“calados”, seguiam “ouvindo o pessimista, que se entusiasmara” (RABELLO, 1978, p.
28). Estariam eles escutando o “doutor” para imitá-lo noutras ocasiões ou para criticá-
lo?
Se o otimismo era a pregação de uma visão positiva dos rumos seguidos pela
sociedade, não era esse o fio que conduzia a argumentação do “doutor”. Ele descrevia
a “pátria” como um tipo de parasita que consumia a energia dos cidadãos sem dar a
eles praticamente nada em troca. Desse modo, “não se pode amar uma pátria que nos
dá senão miséria. Uma pátria que nos rouba e que torna nossa vida um fardo pesado! -
e levou o copo de vinho à boca” (RABELLO, 1978, p. 28).
O termo “fardo pesado” pode ser visto como uma metáfora utilizada pelo
“bacharel” para dar efeito crítico ao seu argumento contra a atual situação da “pátria”,
raciocínio usado, quem sabe, para recriminar o grupo político então no comando da
nação. Ao usar o termo “pesado” Soares estaria afirmando que a “pátria”, com seus
altos impostos e ausência de serviços públicos, extorquia, de alguma forma, os patriotas
182 Parte dos dramas familiares dos Rabello como a morte do pai de Edésia e Aristides em Sabará relaciona-se com a implantação da República. Na época ele era deputado republicano e liberal fugindo da “espada” de Deodoro da Fonseca, marechal que fechou o Congresso, suprimindo direitos políticos mesmo daqueles que apoiaram o novo regime (RABELLO, 1963).
327
dessa nação. Isso porque uma vez que o fardo denota a carga que se precisa transportar
de um lugar para outro; no caso, a pátria seria essa carga que os compatriotas vinham
carregando ao longo do tempo e cujo peso só parecia aumentar.
As teses defendidas pelo bacharel criticavam as intenções sociais de inculcar na
mente das novas gerações o apreço pelo Brasil, já que seria uma esquizofrenia, uma
espécie de doença, amar aquele que nos tortura. Entre um “tinir” e outro de talheres, a
audiência ficava atenta à preleção fúnebre que saía da boca do “doutor.” “- Quando eu
ouço nas escolas as crianças cantando hinos patrióticos em que erguem às nuvens a
pátria, aduz ele, "a pátria bem amada", "o gigante da América", tenho vontade de lhes
dizer: não canteis as glórias de uma pátria que vos rouba o pão, de uma terra que é a
culpada do vosso raquitismo, da vossa palidez mortal...” (RABELLO, 1978, p. 28).
A fome seria a imagem de fundo dessa passagem, e o “raquitismo” funcionava
como um termo médico para os diagnósticos de subnutrição, moléstia que afeta
principalmente pessoas mal alimentadas183.
Raquitismo era um tema em voga à época no Brasil; tanto políticos como
médicos, juristas e acadêmicos se ocupavam dessa questão. A dúvida estava em
distinguir se ele derivava de traços genéticos e raciais, ou se se tratava de uma situação
da cultural alimentar. Lilia Schwarcz (1993, p. 209) ressaltou que um dos pressupostos
do debate dizia que “as epidemias não eram apenas epidemias, já que pareciam revelar
o longo caminho que nos distanciava da ‘perfectibilidade’, ou mesmo a ‘fraqueza
biológica’ que imperava no país”; esse argumento procede da difusão “dos modelos
raciais de análise” cada vez mais “evidentes” entre os pensadores. Nesse caso, não
seria arriscado pensar que o Dr. Soares conhecesse esse debate.
Para “Manassés, filósofo pobre, o raquitismo das crianças diamantinenses tinha
algo de “Jeca Tatu”184, já que segundo ele, “- Isso são as lombrigas, Doutor! Não é? ah!
ah! ah!”. Tal afirmação , de acordo como narrador, irritou a plateia, pois “houve uma
indignação muda e enjoada, e o estudante lançou um olhar feroz sobre o Manassés,
que continuava muito calmo, a desarticular uma coxa de frango, segurando mal a faca”
(RABELLO, 1978, p. 28).
183 Antônio Fernandes (2005, p. 126) apontou, há quase uma década, como os investidores
diamantinenses da segunda metade do século XIX usaram do argumento da miséria e da fome no município
para conseguirem alavancar colaboração política na instalação, por exemplo, de fábricas de tecido na
cidade: “as reivindicações dos empresários apresentavam a solução da industrialização do algodão como
uma alternativa viável de sobrevivência econômica e social para a cidade e não como um desdobramento
e paliativo para a crise da mineração, como foi o caso dos setores lapidários e joalheiros”. 184Jeca Tatu é um personagem criado pelo literato brasileiro Monteiro Lobato (1882-1948) em sua obra Urupês, baseadas no trabalhador rural paulista. Retrata aí a situação do mestiço brasileiro, abandonado pelos poderes públicos às doenças, seu atraso e à indigência.
328
A imagem de uma infância doente era a metáfora de uma pátria decadente. Tal
argumento forjava a consciência da necessidade de superação daquele estado de
coisas. E para tanto, era necessário trabalhar na produção de rupturas históricas que
garantissem o fortalecimento da nação. Debatia-se, na verdade, sobre a produção de
uma utopia da soberania nacional do Brasil no mundo capitalista moderno e civilizado
aos moldes ocidentais.
A mocidade e a rua: as aventuras dos dias das festas de santos populares
A Festa das Mercês em Diamantina, por exemplo, organizada pelos africanos e
descendentes, eram dias prestigiados pelas pessoas da cidade. “Brilhantes eram as
festividades de Nossa Senhora das Mercês, a 15 de agosto, em sua Igreja, à rua do
mesmo nome”, rememora com nostalgia Ciro Arno (1949, p. 99).
A “Nossa Senhora das Mercês, era ou é a padroeira dos escravos, isto é, foi a
mesma irmandade, fundada pelos escravos que ficavam livres do cativeiro” (SANTOS,
1963, p. 41). Há nesse testemunho uma questão crucial, que é a ligação do festejo com
um grupo social marginalizado, porém, organizado material e simbolicamente por um
coletivo de pensamento que tomava “Nossa Senhora das Mercês” como exemplo.
Portanto, pode-se associar esta santa ao ideal de libertação entre os cativos. O
movimento começa na Espanha ainda na Idade Média, chega a Portugal e desse, ao
Brasil (LIMA JUNIOR, 2008).
É Ciro Arno (1949, p. 100) quem nos lembra, confirmando Lima Júnior, que
“Nossa Senhora das Mercês era considerada padroeira dos escravos e homens de côr,
concorriam para esta solenidade, além dos brancos, os pretos e mulatos de ambos os
sexos.” Ora, por esse depoimento imagina-se uma manifestação social mestiça, mas
liderada, presume-se, pelo imaginário dos negros. Pois eram os negros que
compartilhavam seus “parcos salários” com que se mantinha a “Irmandade”. Sublinha-
se que “a preocupação máxima daquela gente humilde era apresentar-se bem na festa
de sua padroeira”, conclui Ciro.
A dita Festa começava no “dia 1º de agosto” quando se organizava a “novena e
as pessoas [passavam] a depositar as suas ofertas para abrilhantar [a festa]”. “Aos
toques de músicas”, “repiques de sinos” e dos fogos, a Irmandade manipulava a atenção
e a sensibilidade da população que concorria na programação do festejo (SANTOS,
1963, p. 41).
Uma das práticas formativas da identidade cultural dessa cerimônia dava-se não
só no campo da audição, mas também no campo do paladar, pois na “casa do juiz da
festa era servida uma farta mesa de café com quitandas”. Nesse sentido, Santos
ressalta que “[no] dia 6 a alvorada, com música, repiques de sino, fogos e passeatas
329
pelas ruas, terminando com café com bolo na casa do Juiz. Ao meio-dia, repique de
sinos, fogos e música para anunciar a primeira noite de novena.185” (SANTOS, 1963, p.
41). Nesse conjunto de ritos não faltam possibilidades de diversão pela pluralidade de
atividades e diversidade de espaços e tempos ocupados.
Enquanto os mais velhos se dedicavam à devoção da Santa, o rapaz, depois da
novena, como lembrou Santos (1963, p. 41-2), se dirigiam para as “varandas da Igreja”
com o interesse “verem melhor suas namoradas”. Mas antes, “na véspera da festa,
havia grande alvorada por causa do mastro; desde aquela hora começavam os
caixeiros, munidos de duas grandes caixas, instrumento esse em forma de barril com
as bocas de couro, onde manejavam as baquetas.” Aqui nota-se a estrutura dos ranchos
musicais, normalmente compostos por jovens que agitavam as ruas convidando a
população para ocuparem o espaço público. Desse modo, a “noite havia grandes
fogueiras em toda a rua e uma grandiosa girândola com diversos castelos preparados
especialmente para tal festejo”. Havia ainda, no fim da noite, uma reunião do “povo em
casa do mordomo do mastro para o cêlebre bolo de arroz e café tão apreciados naquele
tempo” (SANTOS, 1963, p. 41-2). Ver, ouvir e degustar, gestos necessários durante os
dias de Mercês.
É preciso dizer que a formação religiosa dessa mocidade passava pela presença
deles nas encenações públicas promovidas pelas festas. Como disse Ciro Arno (1949,
p. 100) que um dos seus “maiores prazeres, dos oito aos dez anos de idade, era
acompanhar as procissões, vestido de opa, capa especial sem mangas, usadas nos
atos solenes, pelos membros das irmandades religiosas.” Aqui, Ciro dá testemunho de
como, desde sua infância, a festa de santo trabalhava sobre sua sensibilidade daqueles
que as frequentavam. Ele lembra também uma das maneiras dos negros participarem
da paisagem da festa. “No dia 15 de agôsto, entre o povo que acompanhava a procissão,
notavam-se muitas crioulas, com vistosos vestidos de sêda e numerosos pretos com
ternos novos (mesmo alguns de sobrecasaca).” Ora, os negros dedicavam-se ao bem
vestir nesses dias.
A Irmandade das Mercês liderada por negros estava encarregada de manejar os
ritos e os ritmos que estruturavam a mentalidade daquele sistema social. Assim, uma
gramática de cores, gestos e formas de feição africanizada seguramente regia o evento.
O povo achava-se mergulhado numa manifestação consensualmente denominada de
“religião popular”, isto é, uma adaptação pelos leigos do catolicismo oficial, conforme as
peculiaridades locais. De fato, essas associações religiosas leigas foram por muito
185 Como o nome diz, são nove dias até o dia da festa com essa movimentação performática. Mas há festas com trezenas, ou treze dias de cerimônias até o dia do santo (FERREIRA, 1999).
330
tempo a forma de organização sociocultural e política em terras portuguesas, como
informa Luís Marques (1996) ao analisar os “círios” na região de Lisboa.
E isso havia sido transplantado para o Brasil. Portanto, como salienta Caio
Boschi (1988, p. 65), na América Portuguesa a “existência de confrarias, associações
que se formavam sobre a invocação de um santo patrono e tendo como finalidade não
apenas o culto deste, mas também a prática caritativa e de auxílio mútuo entre os
associados,” foi fenômeno largamente registrado.
O clérigo de Diamantina adotara uma doutrina sobre as associações religiosas
que asseverava, entre outras coisas, que, “as ordens religiosas são um producto natural
e espontâneo da religião e mesmo na forma do christanismo nós as encontramos, como
entre os budistas e os musulmanos. É o resultado do instinto de solidariedade, próprio
a humanidade e que se pode chamar de associação.” Desse modo, “no mundo católico,
ellas representam um papel moral que nunca desempenharam em outras religiões. Ellas
constituem verdadeiras associações de seguro de salvação das almas.” Sendo assim,
“os prudentes, os que julgão essa salvação difficíllima, nas tentações, nos prazeres, e
nos perigos do mundo, associações para a obra da perfeição. Pra essas ordens vão ou
devam ir os que não se satisfazem com a simples observação dos preceitos e querem
a observância rígida ascentuada pela pratica religiosa da virtude” (Dr. Prado, conf. sobre
o tricent. de Anchieta)186.
Essa perspectiva abre uma possibilidade para se imaginar que as festas foram
também responsáveis por nutrir a disposição mental e ética da juventude com um ponto
de vista híbrido dos costumes, já que o festejo fazia parte da tradição católica ocidental,
mas, ao ser transplantado para a América Portuguesa, foi reinventado por um imaginário
de matriz africana. Logo, esse calendário tornava possível que diferentes heranças
materiais e simbólicas convivessem, de alguma forma, num mesmo espaço: o da festa
e o dos círios (SILVA e SILVA, 2009, p. 291).
Aqui, seria interessante ressaltar que uma das virtudes dessas Irmandades era
sua capacidade de fomentar um mercado musical, fazendo circular uma variedade de
músicos durante os festejos. Os “músicos ambulantes” chamavam a atenção pela sua
capacidade de atrair a atenção. Portanto, “apesar da intensa multiplicação dos pianos,
eles (os músicos) foram voltando, um a um ou em bandos, como as andorinhas
imigrantes, e, de novo, as tascas, as baiúcas, os cafés, os hotéis baratos”, e nesse ritmo
“encheram-se de canções, de vozes de violão e de guitarra e, de novo, pelas ruas os
realejos, os violinos, as gaitas, recomeçaram o seu triunfo” (RIO, 2015, p. 86).
186 Cadernos manuscritos, anotações, citações e recortes do Bispo Dom. Joaquim Silvério de Souza; Arquidiocese de Diamantina, cx. 52, 1898. É preciso lembrar que mantivemos a ortografia das fontes.
331
Um desses músicos ambulantes poderia ser como o “Sr. Paraguai” que também
exercia a função de preceptor de piano (RABELLO, 1963). Com efeito, os santos
populares, suas irmandades e templos abriram os espaços para esses indivíduos
musicais assumirem posição de influência nos comportamentos. A “Arquiconfraria de S.
Francisco da Igreja da Luz” de Diamantina, pela altura de 1903, era uma grande
consumidora de música, e isso aparecia nos relatos de prestação de conta dos juízes.
É comum ler no “livro de Compromisso” o seguinte: “recebi da confraria de São
Francisco de Assis a quantia de quarenta mil reis, provenientes dos serviços prestados
de véspera e dia pela Banda Comercial e por ser verdade firmo o presente.187” Os ditos
“serviços prestados” diziam respeito aos concertos realizados durante as novenas e
folias dos dias do festejo.
“No Tijuco”, conforme perceberam Fernandes e Conceição (2003, p.30) “em
todas essas ocasiões” festivas, mas não só durante elas, “encomendavam-se músicos
aos mestres do ofício. No Tijuco, não se fazia, por essa razão, música por amadorismo.
A música era um ofício, uma profissão que podia ser desenvolvida com segurança.”
Nesse sentido, ressalta-se a cidade como um território musicalmente demarcado em
que se pode considerar os músicos como um tipo de estrato social formador da opinião
sonora local.
Para Helena Morley (1942∕1998, p. 189), filha de pai inglês protestante e mãe
católica, havia uma hierarquia de gosto no cardápio festivo da cidade. Vivendo ali por
volta de 1893, dizia ela que, “o levantamento de mastro em Diamantina é uma das
melhores festas. Eu gosto de assistir a todos. Mas dos mastros do Rosário e das
Mercês, gosto ainda mais.”. Ela não diz o porquê da preferência explicitamente, mas
associa essa escolha ao comportamento engraçado dos negros da chácara,
principalmente a respeito das vestimentas e do ciúme que os casais apresentavam
naqueles dias.
Aqui, não só a cerimônia festiva, mas a própria constituição do tecido social
possibilitava o hibridismo, pois, seguramente as práticas religiosas negras aculturaram-
se das brancas que se alimentaram daquelas. Estudos sobre a ação religiosa de negros
em Portugal apontam para cerimônias semelhantes à “Festa das Mercês” de
Diamantina, tanto no trato sagrado como no aspecto “dionisíaco” do festejo, aspecto
esse bem apreciado pela mocidade. Isso sugere pensar algum mecanismo de
movimentação cultural e populacional entre Minas Gerais e Portugal, uma vez que esse
traço também foi notado na região de Lisboa (MARQUES, 1996, p. 129; RAMOS, 2008).
187 Livro de Compromissos da Arquiconfraria de São Francisco da Igreja da Luz, Arquidiocese de Diamantina, 1903-1923, cx. 369, bloco b, p. 1.
332
A forma de vida religiosa utilizada ainda era aquela inventada na conjuntura da
colonização e a partir “da ausência de clérigos seculares”, ou seja, a população
organizava as questões da fé de forma autodidata e imaginativa (BOSCHI, 1988, p. 27).
É essa situação que a Igreja instituída vinha buscando resolver através da perspectiva
do “ultramontaníssimo”, que outra coisa não foi senão um esforço de centralização das
práticas religiosas nas mãos do clero regular e também por via da formação de padres
e fundação de seminários e escolas (FERNANDES, 2005, p 87).
Na prática, os jovens estavam à disposição dos sistemas religiosos que, na base,
jaziam nas mãos das “irmandades mineiras” desde os tempos da América Portuguesa.
Essas se constituíram na “forma de manifestação e de defesa dos interesses das
populações locais, vale dizer, dos arraiais e das freguesias” (BOSCHI, 1986, p. 31)188.
Se um desses interesses era a materialização de um mundo simbólico, logo, essas
associações ocupavam a função de artífices do imaginário desses sítios. Luiz dos
Santos, nascido em Diamantina por volta de 1898, nos coloca um dado curioso ao
escrever que “era quase obrigatório sua filiação à irmandade” (SANTOS, 1963, p. 41).
Ou seja, boa parte da população estava ligada por essa rede de dependência
material/imaterial às associações religiosas. Assim, tais confrarias formavam uma
espécie de fio condutor dos comportamentos políticos e sociais, bem como faziam a
gestão das experiências e das expectativas de uma coletividade. Mas o que não se pode
esquecer, também, é que as festas eram espaços de formação da sensualidade e da
perpetuação cultural do grupo, além de fazerem sentir a questão da experiência da arte
nas suas diversas faces. Vale dizer que os negros e mestiços estavam envolvidos tanto
na construção dos templos, como na sua ornamentação e nos sustentos musicais que
ali eram servidos (BOSCHI, 1988; FERNANDES e CONCEIÇÃO, 2003).
Antes dos festejos de Minas Gerais, porém, já “dançavam cónegos do Porto,
ainda em tempo de minha avó que o viu”. “(...) dançavam diante de S. Gonçalo
Amarante, e em trinta préstios e procissões em que iam os muitos oragos e festas de
vários santos e santas” (GARRETT, 1971, p. 61-62).
Nesse documento, Garrett demonstra como as festas de santos populares, no
norte de Portugal, datavam de tempos remotos, pois ele nascera em 1799. Portanto, é
possível afirmar que as práticas das Irmandades com seus festejos “eram
disseminadoras de educação moral e religiosa, sendo mantenedoras da ordem e dos
bons costumes em todos os extratos sociais e étnicos, configurando-se nesses espaços
188 “Na verdade, a falta de um direcionamento unívoco gestado pelas ordens missionárias abriu a
possibilidade de que devoções muito específicas se tornassem, muitas vezes, o centro gravitacional da vida
social de diversos lugarejos, povoados e vilas mineiras” (OLIVEIRA, 2011, p. 95).
333
práticas de caráter educativo, mas não necessariamente de caráter escolar” (CUNHA,
2006, p. 1266).
“Eu”, diz o memorialista português, “ainda me lembro (...) [das] tardes da trezena
do santo em que aquela linda cerca parecia um Jardim de Kensington ou das Tulherias,
de povoada que se fazia pelas mais belas e elegantes damas da cidade, por um
concurso imenso de todas as classes e idades.” A ordem cotidiana era suspensa, e em
seu lugar se estabelecia uma desordem de estéticas necessárias. E, termina
ele,“naqueles treze dias o Vale da Piedade tornava a ser o vale de Amores” (GARRETT,
1971, p. 63). Por certo, ele estava relatando as dinâmicas profanas das sociabilidades
materializadas nos dias santificados que, embora aparentemente contraditórias, faziam
parte do processo festivo. Essas “dinâmicas profanas” também foram observadas nos
festejos de Diamantina, pois era comum e parte da dialética do evento.
Entretanto, Ciro Arno (1949, p. 100) ressalta que nem todos os garotos gostavam
de frequentar as festas profanas, pois, preferiam mesmo os ritos sacros. “A minha
máxima aspiração era carregar um cirial, o que nunca consegui, (...) um preto muito
simplório e de pernas tortas, o Salviano, sempre arranjava um cirial (...) como eu o
invejava,” declarou o memorialista. E completa, “das festas profanas (bailes,
casamentos, banquetes, etc) fugíamos e nos esquivávamos.” Nesse sentido, ele revela
que havia duas éticas festivas: uma profana e outra sagrada e que se poderia escolher
uma das duas.
Segundo o registro de Luiz dos Santos o calendário festivo diamantinense era
extenso: em janeiro, “Folias de reis” e “Festa de São Sebastião”; fevereiro, “Novenas de
Nossa Senhora da Luz” e “Carnaval”, e 45 dias depois, a Páscoa. Em maio, o “Mês de
Maria” e os “Festejos de Santa Cruz” se confundiam. Assim, ao terminar as “Festas do
Divino”, “já estavam realizando as novenas para a festa de Nossa Senhora do Rosário”.
Na altura da chegada do inverno, comemoravam-se “as festas de Santo Antônio e São
João”. Ao chegar julho, iniciava-se a “festa de Nossa Senhora do Carmo”. Já no “dia 15
de agosto”, figuravam as “grandes pompas as festas de Nossa Senhora das Mercês”.
Vinha setembro e a “modesta festa de Nossa Senhora do Amparo”. Outubro: “dias
agitados”, “Mês do Rosário”, mas tem festa de São Francisco na igreja de mesmo nome.
“Em novembro, não havia festa alguma, sendo o mês muito chocoso em Diamantina”.
Mas em dezembro? “Festas de Imaculada Conceição”, e depois (...) “a Noite de Natal”
(SANTOS, 1963, p. 23-46). Com essa frequência festiva fica difícil refutar sua presença
na formação das maneiras de pensar de agir da mocidade.
Considerações finais
334
Os ritos alimentares eram momentos de se perceber mentalmente as
contradições históricas do presente, marcado por um conjunto de vocábulos políticos e
sociais antigos e recentes, que sugeriam permanências e rupturas históricas no campo
do pensamento e da linguagem; mas, ao mesmo tempo, via-se neles a perpetuação de
práticas culturais, sociais, institucionais e políticas que pareciam se deslizar do passado
para o futuro - basta lembrar o próprio rito de sentar-se à mesa.
As degustações diárias condicionavam contatos mentais e materiais com as
tradições locais, com os projetos de futuro, e era o momento de se examinar certos
traços arcaicos daquela forma de vida. A mesa sustentava o degustar, mas numa
dimensão muito maior do que a alimentação, pois era um espaço e um rito sobre a
nutrição, a amizade e produção de pensamentos do grupo sobre si mesmo e sobre suas
relações a realidade social na qual estava inserido.
Demais, os jovens experimentavam os festejos religiosos ativamente.
Participavam das procissões e missas cantadas, como da extensão profana das
comemorações: as bebedeiras, os bailes e as paqueras – as ‘pândegas’. Portanto, a
mocidade implicava-se nesses ritos católicos não apenas como expectadores, mas
como artesãos na produção desses dias festivos, como músicos, crentes, ambulantes
e atores nas teatralizações dos cortejos.
As festas cumpriam um papel relevante na formação da mocidade para certos
ordenamentos da forma de vida de seu grupo social primário e de sua municipalidade.
Como memória, as festas colocavam a mocidade diante de enigmas estéticos, morais,
econômicos e sociais, os quais precisavam ser refletidos antes de serem repetidos e/ou
refutados. A mocidade se valia da festa também para compreender os dogmas
religiosos; nelas a rapaziada dilata suas vivências, pois estava interessada tanto nos
resultados místicos dos festejos como nos seus processos sociais, nas aventuras e
libertinagens que os fluxos daqueles dias risonhos e fartos possibilitavam.
Referências:
ABRAMO, Helena Wendel LÉON, Oscar Dávila. Juventude e adolescência no Brasil:
referências conceituais. Ação Educativa: 2005. Disponível em
http://www.emdialogo.uff.br/
sites/default/files/caderno_juventude_e_adolescencia_no_brasil_0.pdf
BOSCHI, Caio César. O Barroco Mineiro: Artes e Trabalho. São Paulo: Brasiliense,
1988.
BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder: irmandades Leigas e Política colonizadora
em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986.
BOSCHI, Caio. Espaços de sociabilidade na América Portuguesa e historiografia
brasileira contemporânea. Varia História, Belo Horizonte, vol. 22, nº 36: p.291-313,
Jul/Dez 2006.
CERTEAU, M. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
335
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: 2. Morar, cozinhar. Petrópolis: Vozes, 2011.
CUNHA, Paola Andrezza Bessa. Práticas educativas no século XVIII – as associações
religiosas leigas dos homens pardos. Disponível em<
http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/
anais/arquivos/114PaolaAndrezzaBessaCunha.pdf> Acesso em 10.2014
DARNTON Robert. Uma precoce sociedade da informação. As notícias e a mídia em
Paris no século XVIII. Varia Historia, Belo Horizonte, nº 25, Jul/01, p.9-51
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1994.
FAORO, Raimundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro,1 e
2. São Paulo: Globo, 2001.
FAVRE, D. Os jovens na aldeia. In: LEVI, G; SCHIMITT, J. C. História dos jovens: a
época contemporânea, v 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
FERNANDES, A. C. & CONCEIÇÃO, W. da. La Mezza Notte. O lugar social do músico
diamantinense e as origens da Vesperata. 1751 – 1895 – 1997. Diamantina: Maria
Fumaça. 2003.
FERNANDES, A. C. O turíbulo e a chaminé: A ação do bispado no processo de
constituição da Modernidade em Diamantina (1864-1917). Dissertação (mestrado) –
UFMG, FAFICH, 2005.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico. Século XXI;
versão 3.0, 1999.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Rio de Janeiro: Record, 2001.
FREYRE. Gilberto. Ordem e Progresso: processo de desintegração das sociedades
patriarcal e semipatriarcal no Brasil sob um regime de trabalho livre: aspectos de um
quase meio século de transição do trabalho escravo para o trabalho livre; e da
Monarquia para a República. Rio de Janeiro: José Olympio, 1962.
FREYRE. Gilberto. Sobrados de Mucambos: a decadência do patriarcado e
desenvolvimento do urbano. 15 ed. São Paulo: Global, 2004.
ARNO, Ciro. Memórias de um estudante. Belo Horizonte, 1949.
ARNO, Ciro. Os Jatobás. Rio de Janeiro, 1951.
ARNO, Ciro. Os enteados (manuscrito nunca publicado), 1952.
BARRETO, Abílio. A noiva do tropeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Difusão
cultural, 1942.
MORLEY, Helena. Minha vida de menina. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
NAVA, Pedro. Balão cativo. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000.
RABELLO, A. O Hóspede. Belo Horizonte: Conselho Estadual de Cultura de Minas
Gerais, 1978.
RABELLO, Edésia Correia. Lá em casa era assim. Com prefácio de Aires da Mata
Machado Filho. Edição Siderosiana, Belo Horizonte, 1964.
SANTOS, Luís Gonzaga dos. Memórias de um carpinteiro. Belo Horizonte: Bernardo
Alvares, 1963.
HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 26º ed. São Paulo: Companhia das letras,
1995.
GADAMER, H. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
GALVÃO. Ana Maria de Oliveira; BATISTA, Antônio Augusto Gomes: oralidade e
escrita: uma revisão. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 128, maio/ago. 2006.
GALVÃO, A. M. de O. Escola e cotidiano: uma história da educação a partir da obra
de José Lins do Rego (1890-1920). Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de
Minas Gerais, Faculdade de Educação, 1994.
336
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Em busca de universos mentais estranhos: uma leitura
de Robert Darnton. Universidade Federal de Minas Gerais, 2012 (prelo).
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Ler/ouvir folhetos de cordel em Pernanbuco: (1930-
1950). Tese (doutorado em História da Educação) – Universidade Federeal de Minas
Gerais, 2000.
GAMA, Padre Lopes. O Carapuceiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
GARRETT, Almeida. O Arco de Sant'Ana. Lisboa: Editora Verbo Encadernação, 1971.
GOODWIN JUNIOR. J. W. Cidades de Papel: Imprensa, Progresso e Tradição.
Diamantina e Juiz de Fora, MG (1884-1914). Tese (Doutorado em História).
Universidade de São Paulo, 2007.
HELLER, A. O quotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972.
KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio
de Janeiro: Contraponto: PUC Rio, 2006.
KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise: uma contribuição á pantogênese do mundo
burguês. Rio de Janeiro EDUERJ: Contraponto, 1999.
LEJEUNE, P. O pacto autobiográfico. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
LEVI, G; SCHIMITT, J. C (Org.). História dos jovens: antiguidade e era moderna, v 1,
2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
LIMA JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas Gerais: origens das
principais invocações. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2008.
LUKÁCS, György. O romance histórico. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo,
2011.
MANNHEIM, Karl. O problema da juventude na sociedade moderna. In: Diagnóstico de
nosso tempo. 4ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. Pág. 47-72.
MANNHEIM Karl. O problema sociológico das gerações. In: FORACCHI, Marialice M.
(org). Karl Mannheim: Sociologia. São Paulo: Ática, p. 67-95. 1982.
MARQUES, Luís. Tradições religiosas entre o Tejo e o Sado: os círios do Santuário de
Atalaia. Lisboa: Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões. Universidade Nova de
Lisboa, 1996.
MARTINS, Marcos Lobato. Os negócios do diamante e os homens de fortuna na Praça
de Diamantina, MG: 1870-1930. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São
Paulo, 2004.
MATTA, Roberto da . A casa & a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. 5ª
ed. Rio de Janeiro: Damatta, 1997, p. 39
MELO, Daniel. A leitura pública na I República. Lisboa: Centro de História da Cultura
da Universidade Nova de Lisboa; Edições Húmus, Ltda, 2010
MELO, Daniel. O Associativismo popular na Resistência Cultural ao Salazarismo: a
Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio. Penélope, 21, 1999, p.
95-130.
MOREL, Marco. Sociabilidades entre Luzes e sombras: apontamentos para o estudo
histórico das maçonarias da primeira metade do século XIX. Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, n, 28, 2001, p. 3-22.
OLIVEIRA, Carla Mary S. Arte colonial e mestiçagens no Brasil setecentista:
irmandades, artífices, anonimato e modelos europeus nas capitanias de Minas e do Norte
do estado do Brasil. In: Paiva, Eduardo França et al (org.). Escravidão, mestiçagens,
ambientes, paisagens e espaços. São Paulo: Annablume, 2011.
PERROT. Michele. Figuras e papéis. In; PERROT. Michele (org.). História da vida
privada: da Revolução Francesa à primeira Guerra. 4. São Paulo: Companhia das Letras,
1991.
337
PERROT, Michelle. À margem: solteiros e solitários. In: PERROT, Michelle (Org.).
História da vida privada, v. 4: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. 4. São Paulo:
Companhia das Letras, 1991.
PRIORE, Mary. Del. História do cotidiano e da vida privada. In: CARDOSO &
PRIORE, Mary Del. Festas e utopias no Brasil colonial. São Paulo. Brasiliense, 1994.
RAMOS, Donald. Do Minho a Minas: Padrões familiares do norte de Portugal foram
reproduzidos em Minas Gerais como decorrência do intenso movimento migratório
proveniente daquela região. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano XLIV, Nº 1,
Janeiro - Junho de 2008.
RIO, João do. A alma encantadora das ruas. MINISTÉRIO DA CULTURA Fundação
Biblioteca Nacional Departamento Nacional do Livro, sem data. Disponível em
<http://www. dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000039.pdf > Acesso em
10.2014.
RODARTE, Mário Marcos Sampaio. O trabalho do fogo: domicílio ou famílias do
passado – Minas Gerais, 1830. Belo Horizonte: UFMG, 2012.
RODRIGUES, José Carlos. Ideias filosóficas e políticas em Minas Gerais no século XIX.
Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Universidade de São Paulo, 1986.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas instituições e questão
racial no Brasil – 1870-1930. Companhia da Letras, 1993.
SILVA, Kalina; SILVA Vanderlei Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos.
São Paulo: Contexto, 2009.
SIMMEL, Georg. Sociologia. São Paulo: Ática, 1983.
VIÑAO, Antonio. Las autobiografías, memorias y diarios como fuente histórico-
educativa: tipología y usos. TEIAS: Revista da Faculdade de Educação/ UERJ – n. 1, n.
1, p. 82-97, jan/jun. 2000.
WEBER, Max. Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Centauro, 2002.
ESCRITAS FEMININAS: INFÂNCIAS E JUVENTUDES VIVENCIADAS E
RECRIADAS
338
Priscila Kaufmann Corrêa - Faculdade de Educação: Universidade Estadual de
Campinas
Apresentação
A literatura infantojuvenil se apresenta como uma possibilidade de ingresso no
mundo literário. Livros infantojuvenis podem instruir, entreter, convidar para a reflexão,
em uma relação entre o texto e seu leitor. Mas este texto não se oferece de qualquer
maneira, há um suporte - o livro - que se utiliza de muitos recursos para atrair o leitor.
Livros considerados clássicos da literatura infantojuvenil perduram no tempo fazendo
estas adaptações para seu público, mostrando-se atraentes para as novas gerações.
Este é o caso dos livros das escritoras Condessa de Ségur, Louisa May Alcott e Maria
Clarice Marinho Villac.
A Condessa de Ségur e Louisa May Alcott tiveram seus livros publicados na
segunda década do século XIX, na França e nos Estados Unidos. Tais publicações
chegaram em suas versões originais e traduzidas em diversos países do mundo, com
novas ilustrações, adaptações e formatos. Atualmente é possível comprar até mesmo
e-books destas escritoras. Maria Clarice Marinho Villac, por sua vez, também teve seus
livros bastante divulgados, porém somente do Brasil. Filha de famílias tradicionais
brasileiras, estudou em colégio particular e leu os livros da Condessa de Ségur. Seus
livros foram publicados na década de 1930 e foram relançados nas décadas de 1980 e
2000.
As trajetórias de vida destas escritoras apresentam características em comum e
tais experiências se mostraram importantes para que pudessem escrever para a infância
e a juventude e dialogar com elas ao longo de muitas décadas. Por outro lado, o modo
como estas mulheres trazem um discurso sobre os cuidados com estas infância e
juventude, trazendo à tona aspectos como o cuidado dos pais, da escola e pinceladas
de religiosidade, tornam estes livros interessantes até os nossos dias.
Nestas reflexões o conceito de instituição imaginária do filósofo Cornelius
Castoriadis será utilizado para compreender em que medida estas escritoras trazem as
instituições da família, da religiosidade e da educação da educação no trato com a
infância e a juventude. Acredita-se que esta seja uma das razões para a manutenção
destas publicações no mercado editorial até hoje.
As Escritoras
339
O estudo da trajetória de vida da Condessa de Ségur, Louisa My Alcott e Maira
Clarice Marinho Villac auxilia na compreensão das narrativas que tecem em seus livros,
trazendo à tona sua preocupação com a infância e a juventude. Isto não significa que
as experiências da infância e juventude destas mulheres sejam replicadas em suas
obras, mas dão corpo aos discursos difundidos nelas. Estas mulheres buscaram
diferentes formas de circular na sociedade e encontraram na escrita uma maneira de
expressar ideias e opiniões.
A Condessa de Ségur começou sua carreira de escritora aos 56 anos de idade,
quando era avó. Sophie Rostopchine nasceu em São Petersburgo, na Rússia, no ano
de 1799. Sua infância teria sido marcada pelo rigor da educação estabelecida pela mãe,
a Condessa Catherine Rostopchine. O tratamento da criança da aristocracia naquela
época visava não acostumá-la com luxos e regalias, que se acreditava que
enfraqueceriam seu caráter. Esta educação rigorosa permitiu a Sophie de Ségur
aprender russo, francês, inglês e alemão, além de escrever nestas línguas também.
Seu pai, o Conde Fiodor Rostopchine, era o governador de Moscou em 1812 e
foi sua a decisão de incendiar a cidade para afastar as tropas de Napoleão Bonaparte.
Os prejuízos ocorridos à população da cidade obrigaram a família Rostopchine a se
exilar na França em 1817. Após dois anos a jovem Sophie se casou com Eugène de
Ségur, com quem teve oito filhos (LEÃO, 2007, p. 5).
A Condessa se dedicou à formação de seus filhos e procurava estar próxima
deles, até mesmo na vida adulta. Seu casamento mantinha aparências de estabilidade
e Sophie buscou outras formas de preencher seus dias. Ela gostava de contar histórias
e começou a registrá-las e chegou a publicar um livro antes de conhecer o editor Louis
Hachette. Esta se mostrava uma ocupação que a entretinha, principalmente com a saída
dos filhos.
Sophie formou uma parceria duradoura com o editor Louis Hachette e seus livros
inauguraram a coleção Bibliothèque Rose, que englobava obas de literatura
infantojuvenil e que se caracterizava pela cor rosada das capas. Seus escritos
passavam pelo crivo do seu filho, o padre Gaston de Ségur, pelo editor e por autoridades
do governo, que interferiam nas publicações que circulavam nas estações de trem. Ela
escrevia longas cartas discutindo com o editor sobre supressões em seus textos e
criticava a escolha dos ilustradores. Sophie incorporou o papel de escritora e queria
fazer valer seus direitos. Seus livros fizeram bastante sucesso no momento de sua
publicação e permitiram à Condessa expressar suas opiniões e críticas aos cuidados
com a criança.
Louisa May Alcott nasceu em 1832 em Germantown, na Filadélfia, efoi a
segunda das quatro filhas de Bronson Amos Alcott e de Abigail May Alcott. Seu pai,
340
Amos Bronson, era adepto da filosofia transcendental e procurou de diversas maneiras
concretizar suas ideias de aperfeiçoamento espiritual. Procurou criar escolas e não se
mostrou muito bem sucedido nestas tentativas. Em suas empreitadas Bronson Alcott
sempre contou com o apoio de Ralph Waldo Emerson, que agregou muitos dos
intelectuais da época. Louisa teve acesso a livros nas bibliotecas dos amigos de seu pai
e aprendeu a ler e escrever com ele. Circular por entre estes intelectuais permitiu a ela
e sua família contar sempre com o apoio de amigos e parentes.
Abigail, mãe de Louisa May, era filha da aristocracia de Boston (Massachusetts)
e contava com o auxílio dos parentes e conhecidos. Chegou a trabalhar como assistente
social, orientando e ajudando as classes desfavorecidas. Louisa começou a trabalhar
cedo, como uma forma de incrementar os rendimentos da família. Trabalhou como
governanta, costureira e professora, mas logo percebeu que preferia escrever.
Louisa May Alcott iniciou sua carreira de escritora publicando contos e poemas
para jornais, sob diferentes pseudônimos, uma vez que tais publicações apresentariam
uma "moral duvidosa". Ao trabalhar para o periódico infantil Merry's Museum em Boston
(Massachusetts) ela adquiriu ser experiência com este público e seu editor Thomas
Niles sugeriu que escrevesse um romance para jovens. A tentativa resultou no livro
Mulherzinhas, que traz as vivências de quatro irmãs ao longo de um ano. A escritora
ainda quis obter seu reconhecimento na literatura para adultos, mas consagrou-se
mesmo com seus livros para crianças e jovens. Atendendo a um pedido do editor, ela
passou a escrever para um público que não costumava ser atendido pelas editoras.
Com suas narrativas domésticas Louisa conseguiu chamar a atenção dos jovens, que
ansiavam pelo próximo livro.
Maria Clarice Marinho Villac foi uma escritora brasileira, que, apesar de não ter
a difusão mundial das demais escritoras, apresenta muitas semelhanças em sua
trajetória e dedicação à escrita. Maria Clarice nasceu em Itu no ano de 1903. Quando
criança, passava as férias nas fazendas de seus avós maternos. Seu avô, Coronel
Antonio de Almeida Sampaio, foi político influente e proprietário de plantações de café
no estado de São Paulo. Aos 12 anos de idade Maria Clarice passou a estudar no
Colégio Progresso, em Campinas, um colégio interno para meninas. Na escola era uma
aluna dedicada, aprendendo a compor textos em português, francês e inglês. Também
aprendeu muito sobre a religião católica, que foi bastante estimulada no período escolar.
Após se formar casou-se com Dr. Paulo José Villac, tornando-se viúva ao 27
anos de idade. Criou os cinco filhos administrando as reservas do marido e teve uma
vida de intensa circulação. Criou um centro de formação para operárias, alfabetizando-
as e ensinando corte e costura, além de trabalhar na comunidade paroquial de seu
341
bairro. Nos anos de 1930 passou a publicar os livros com histórias que costumava contar
aos filhos e sobrinhos.
O primeiro livro que publicou foi Cinco travessos, em 1937, com uma tiragem de
44 mil exemplares (VILLAC, 2008). O livro seguinte foi lançado em 1939, com o título
de Clarita da pá virada. Este foi republicado na década de 1980 pela editora Fermata e,
posteriormente, em 2006, pela editora Lacruce. O último livro de Maria Clarice, Clarita
no Colégio, saiu em 1945 pela editora Cristo-Rei e foi republicado em 2008, também
pela editora Lacruce189.
Todas as escritoras tiveram a oportunidade de ler e escrever em momentos em
que tal aprendizado era pouco usual no que se refere ao sexo feminino. Por outro lado,
por pertencerem a famílias influentes, puderam circular na sociedade de diferentes
maneiras, contando com o apoio de amigos e familiares para suas empreitadas. Isto
não significa que não tenham encontrado dificuldades em seus percursos, mas
buscaram maneiras de posicionar na sociedade, chamando a atenção para questões do
dia a dia. Por meio da escrita elas puderam se expressar, mesmo que por vezes
precisassem acatar as decisões de seus editores, ou adaptar o texto ao gosto do
público. As narrativas destas mulheres trazem um pouco de seus desafios enfrentados
ao longo de suas vidas e maneiras de lidar com eles.
Em seus romances elas trazem instituições que se consolidaram ao longo da
modernidade, como a infância, a família, a educação e a religiosidade. Estas instituições
percorrem o imaginário social antes do século XIX e nele se assentaram, tornando-se
usuais até o presente século. Entretanto, é preciso assegurar o imaginário destas
instituições e neste sentido os livros da Condessa de Ségur, de Louisa May Alcott e
Maria Clarice Marinho Villac colaboram para esta finalidade.
Os romances
Os livros da Condessa de Ségur, Louisa May Alcott e Maria Clarice Marinho
Villac foram publicados entre a segunda metade do século XIX e primeira metade do
século XX. As escritoras estrangeiras publicaram uma grande quantidade de livros e,
por este motivo, foram escolhidos os livros As meninas exemplares (1858), Os desastres
189 Foram consultadas diferentes edições das três obras. O livro Cinco travessos data de 1956, enquanto a
edição de Clarita da pá virada é aquela publicada pela editora Lacruce, de 2006. Em virtude das supressões
encontradas na publicação da editora Lacruce, optou-se pela versão original de Clarita no Colégio,
publicada na década de 1940.
342
de Sofia (1858) e As férias (1859), da escritora francesa Condessa de Ségur, os livros
Mulherzinhas (1868) e Boas esposas (1869) da norte-americana Louisa May Alcott. De
Maria Clarice Marinho Villac foram escolhidos seu livros dedicados à infância, que são
os Cinco travessos (1937), Clarita da pá virada (1939) e Clarita no Colégio (1945).
Todos os livros trazem protagonistas femininas, que buscam aperfeiçoar sua
conduta, procurando ser mais contidas em seus gestos e atitudes. Neste percurso elas
contam com crianças de conduta exemplar e com adultos que podem orientá-las ou
puni-las castigos físicos. Em todos os livros emerge a infância, como instituição que
conta com o apoio da família, da religiosidade ou da educação/ escola para percorrer
seu caminho. Em cada um dos romances as escritoras apresentam uma combinação
da relação de cada uma das instituições com a instituição da infância, seja em harmonia
ou na sua disputa.
Na “Trilogia de Fleurville” da Condessa de Ségur a protagonista é Sofia,
acompanhada por suas amigas, Margarida, as irmãs Camila e Madalena e o primo
Paulo. A trilogia é composta pelos títulos As meninas exemplares, Os desastres de Sofia
e As férias. Os dois primeiros livros foram publicados simultaneamente em 1858,
enquanto a terceira obra foi lançada no ano seguinte. Em As meninas exemplares o
leitor é apresentado às irmãs Camila e Madalena, crianças que nunca brigam e vivem
em perfeita harmonia. Elas vivem com a mãe viúva, Mme. de Fleurville e ajudam a
resgatar Mme. de Rosbourg e sua filha Margarida de um acidente de carruagem. As
duas passam a morar com a família de Fleurville e Margarida inicia um esforço para se
tornar tão obediente quanto suas amigas.
As meninas recebem a visita de Sofia, uma órfã que mora com sua madrasta,
Mme. de Fichini, que a maltrata e espanca. A madrasta viaja à Itália e deixa Sofia sob
os cuidados das Mme. de Fleurville e Rosbourg. A menina inicia um percurso de
aperfeiçoamento moral, no qual ela aprende a ser mais comedida. Durante este
percurso ela já não sofre castigos físicos, sendo levada a refletir sobre seus erros.
O passado de Sofia é revelado em Os desastres de Sofia, no qual são narradas
as travessuras da menina de quatro anos, quando ainda morava com os pais. Em As
férias Sofia também relembra o falecimento de seus pais e reencontra o primo, Paulo,
que julgava ter perdido numa viagem de navio que fazia com sua família. Nesta obra
também aparecem os primos de Camila e Madalena: Léon, Jean e Jacques.
Os romances da Condessa de Ségur trazem à tona a vida da aristocracia
francesa do século XIX, mas com roupagens do século XVIII, no tempo da monarquia.
As crianças vivem em casas abastadas com uma babá para cuidar delas, além das
figuras femininas, que são mãe, madrastas e tutoras. Suas moradias se localizam no
campo, afastadas da cidade, permitindo que as personagens cuidem de seus jardins,
343
passeiem pela florestas e colham frutas silvestres. E mesmo neste lugar as Mme. de
Fleurville e de Rosbourg instituem horários para estudos e para a recreação. Mesmo
Paulo, que passou um longo período em uma ilha com o Sr. Rosbourg teve aulas de
leituras, escrita, história e catecismo.
Já romance Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, conta a história das irmãs
March; Margarida, Josefina, Elizabete e Amy. O livro narra um ano na vida das meninas,
no qual elas trabalham e se esforçam para manter a casa junto com sua mãe, enquanto
seu pai está distante, auxiliando as tropas durante a guerra civil. Durante este percurso
as meninas fazem amizade com Lourenço, o menino que mora na casa vizinha.
Cria-se um forte vínculo de amizade entre as meninas, o menino e seu avô. As
meninas precisam trabalhar, cada uma em função diferente, para auxiliar a mãe com as
despesas da casa. Meg é governanta de duas crianças, enquanto Jô trabalha como
dama de companhia de uma tia abastada. Bete se dedica aos afazeres domésticos,
enquanto Amy frequenta a escola. O ano das meninas se passa com bastante esforço
e dedicação, valorizando o trabalho e a boa conduta moral. O desfecho se dá com o
retorno do pai e o noivado de Margarida, a mais velha das irmãs.
No romance Boas esposas cerca de dois anos se passam após o desfecho do
primeiro livro. Neste momento Meg se prepara para o casamento e sua vida em um
novo lar, ao lado do Sr. Brooke, que fora preceptor de Lourenço. Neste livro as irmãs
tornam-se mulheres, cada qual encontrando um marido digno e dedicado, à exceção de
Bete, que falece de febre escarlatina, da qual não conseguiu se recuperar.
Louisa May Alcott também traz uma família da aristocracia, que, apesar de se
encontrar em uma condição empobrecida, ainda possui uma empregada e uma casa
grande, próxima à floresta. As personagens também possuem boas relações com o
vizinho e conhecem pessoas dispostas a ajudar. Ao longo do livro ressalta-se que não
basta ter dinheiro e luxos, nem desejar casar com um marido rico, sendo importante o
esforço e o trabalho. As meninas aprendem a valorizar o trabalho e buscam aperfeiçoar
sua conduta. Josefina é a personagem mais impulsiva, que procura se conter e ser mais
obediente, contando com a orientação de sua mãe. As jovens dos livros de
Mulherzinhas, já não são crianças e se preparam para ingressar no mundo adulto. Neste
sentido, da mesma forma que as crianças, as jovens carecem de orientação. Assim, no
livro Boas esposas, as jovens contam com o apoio da mãe e seus conselhos em
diferentes fases da vida, inclusive quando estão casadas. A família se mostra um núcleo
que sempre presente no crescimento e amadurecimento das jovens.
A obra de Maria Clarice Marinho Villac é autobigráfica, uma vez que ela relata
acontecimentos vivenciados na infância. O livro Clarita da pá virada relata as
experiências nas fazendas do avô, entre travessuras e brincadeiras. A criança passa
344
grande parte do tempo nas fazendas de café do avô e se diverte com seus irmãos,
primos e tias. Trata-se de uma família aristocrática, porém nos moldes brasileiros, com
diversos familiares convivendo juntos em uma mesma casa, além dos empregados.
Estes empregados são negros, descendentes dos escravos que trabalhavam naqueles
campos. A família constitui uma mistura destes componentes, que, contudo, sabem o
seu lugar. Mesmo as crianças, que, apesar de poderem dar vazão às invenções,
precisam respeitar os adultos, podendo ser punidas severamente por eles.
Clarita chega a frequentar a escola, aprendendo elementos do catecismo, a
leitura e a escrita, porém o ingresso definitivo no universo escolar se dá no final do livro,
quando Clarita toma o trem para Campinas, para estudar no Colégio Progresso. Este
deslocamento marca uma nova fase na vida de Clarita, deixando para trás a infância
repleta de brincadeiras para dedicar-se aos estudos. O cenário primordial de Clarita no
Colégio é o Colégio Progresso Campineiro, por vezes alternado pelo espaço rural,
quando a menina passa as férias nas fazendas da família. A vida no colégio não se
mostra fácil, uma vez que Clarita precisa aprender a controlar seus impulsos e adequar-
se às regras do internato. A religião católica é o elemento utilizado pela diretora para
que Clarita incorpore o comportamento esperado para uma menina. Na escola ela conta
com a orientação e os conselhos da diretora, Dona Emília. A educação da criança é
assegurada por adultos que conseguem ser rigorosos ao mesmo tempo em que são
carinhosos, como é o caso da diretora e das professoras.
Também é a religiosidade que orientou a formação dos filhos de Maria Clarice,
que é relatada em pequenos apontamentos na obra Cinco travessos: amiguinhos de
Jesus Hóstia. Cinco travessos assemelha-se a um manual destinado às mães com
orientações para a formação de seus filhos. Na obra a “mãe brasileira” – pseudônimo
utilizado pela escritora – relata como buscou criar seus cinco filhos dentro dos preceitos
da moral católica, estimulando-os a amarem Jesus e a realizarem sua Primeira
Comunhão por volta dos cinco anos de idade.
A mãe reconhece as dificuldades de cuidar de cinco crianças, procurando ser
ela mesma um exemplo para elas. Cuidar de seus filhos, peraltas como ela foi na
infância, se mostra um desafio à sua paciência, sendo a religiosidade um recurso
importante para estabelecer regras e limites. As crianças não podem ir ao cinema e só
assistem filmes em casa em um projetor emprestado pelo tio. À noite, a mãe realiza um
exame de consciência com as crianças, para que analisem o que fizeram de correto ou
eventuais deslizes ao longo do dia. Além dos rituais e símbolos, há regras que norteiam
as ações das crianças.
Acredita-se que as instituições da infância, da família, da educação e da
religiosidade sejam todas instituições imaginárias da sociedade, termo este cunhado por
345
Cornelius Castoriadis. Para o filósofo (1982, p. 159), "a instituição é uma rede simbólica,
socialmente sancionada, onde se combinam em proporções e em relações variáveis um
componente funcional e outro imaginário". Neste sentido, a instituição liga símbolos a
significados, que contêm sua função e as imagens que evocam em torno dela.
A instituição imaginária organiza a vida social e seus símbolos não são
meramente racionais, há uma parcela de imagens que a compõem. Cada sociedade se
organiza a partir de suas condições geográficas, estruturais e históricas e assim ela cria
suas instituições, que contribuem para consolidar sua ordem ao longo do tempo. A
infância, a família, a religiosidade e a educação são elementos da sociedade capitalista
moderna e fazem parte de sua organização. Estas instituições estão presentes dos
livros da Condessa de Ségur, Louisa May Alcott e Maria Clarice Marinho Villac.
Nos livros das escritoras o destaque é a instituição imaginária da infância,
diferente da adulta. Além de ser diferente do adulto, a infância se mostra vulnerável,
necessitando do cuidado e da orientação do adulto. O trato com a infância exige rigor,
contudo, ao longo do século XIX e até mesmo antes, este rigor poderia se estender a
castigos físicos, que, pouco a pouco foram sendo criticados e combatidos. Disciplina e
regras também fazem parte do cotidiano infantil, podendo ser impostos pela família, pela
religiosidade e também pela escola (educação).
As escritoras trazem em suas publicações, maneiras de impor regras e lidar com
a infância, em diferentes períodos e lugares, mas que ainda fazem sentido para as
gerações atuais. Rigor, reflexão sobre os erros, orientação dos adultos fazem parte dos
cuidados com a infância.
Além da infância, outra instituição que emerge nas obras é a da família. A família
é a instituição a quem diferentes profissionais passam a se dirigir, como médicos e
especialistas da área social. Em geral a família é aquela composta por pai, mãe e seus
filhos, mas que pode ter outras configurações também, ampliando para outros parentes
que convivem em um mesmo lugar. No interior da família cabe aos pais zelar pelo bem-
estar de seus filhos, orientando-os e instruindo-os. Nesta relação existem regras que
caracterizam a convivência, cabendo especialmente à mãe zelar por seus filhos,
enquanto o pai exerce um papel secundário nestes cuidados.
Nos livros da Condessa de Ségur a família é composta por mulheres que cuidam
de suas filhas de outras meninas que são por elas tuteladas. O pai, na figura do Sr. de
Rosbourg, emerge no último livro da "Trilogia de Fleurville", para zelar por sua família.
Em Mulherzinhas, o Sr. March está distante, não participa do cotidiano de suas filhas,
mas sabe reconhecer seu aprimoramento quando retorna à casa. As filhas criam um
vínculo mais estreito com sua mãe, compartilhando com ela suas dúvidas e sentimentos.
Já nos livros de Clarita, aparece a configuração da família tradicional brasileira, com
346
diferentes parentes convivendo em um mesmo lugar. Nesta organização, os avós têm
maior ascendência do que os pais de Clarita, e interferem em suas decisões. Os pais
se mostram mais distantes e exigem uma conduta de obediência por parte das crianças.
A religiosidade é outra instituição que se mostra presente nos romances das
escritoras, por vezes de maneira mais sutil, mas também de forma mais intensa. Os
livros da Condessa de Ségur trazem situações em que a oração se mostra adequada
para instruir as crianças. Já nos livros de Louisa May Alcott a religiosidade está presente
na atitude de desapego de bens materiais e da vaidade. A religião católica se apresenta
de forma intensa em Clarita no Colégio, uma vez que a protagonista relata as diversas
atividades religiosas praticadas no colégio. A criança é tocada pelas aulas de catecismo
e relata a Primeira Comunhão e a Crisma como momentos importantes da trajetória
escolar. Tais passagens seriam retiradas das edições da editora Lacruce. A
religiosidade vivenciada na escola será utilizada também na formação dos filhos de
Maria Clarice Marinho Villac, como ela registra em Cinco travessos.
A educação dos pais é complementada pela educação escolar, que ganha força
e se expande para grandes parcelas da população durante o século XIX, especialmente
na Europa. Nos livros da Condessa de Ségur a educação é garantida pelas Mme. de
Fleurville e Rosbourg, que criam uma rotina de estudos para Camila, Madalena,
Margarida e Sofia. Paulo, o primo de Sofia, também têm suas aulas na ilha em que
permanece com o Sr. Rosbourg. As crianças seguem um cronograma com matérias a
serem aprendidas, semelhante a um currículo escolar, porém sem o mesmo caráter
oficial. O espaço escolar, com suas regras e especificidade, ainda não está presente
nestas publicações, emergindo em livros posteriores da autora.
Em Mulherzinhas Amy é a irmã que frequenta a escola por pouco tempo, até ser
punida com bolos na mão por ter distribuído doces na sala de aula. A situação se
mostrou humilhante para a criança, que pede à Srª. March para não mais retornar à
escola. A mãe escreve uma carta ao professor e Amy passa a estudar em casa. A
educação escolar não se mostra uma experiência necessariamente positiva, mas
também pode contribuir para a formação da criança, como em Clarita no colégio. A
menina gosta da escola, mesmo sendo uma criança peralta e que fica de castigo várias
vezes. A diretora a trata com respeito e procura auxiliá-la a perceber seus erros. Clarita
frequenta a escola feminina no Brasil do século XX e o tratamento da criança se mostra
diferenciado, com relação à situação de Amy em Mulherzinhas, por exemplo.
A família, a religiosidade e a educação se combinam de diferentes maneiras em
cada um dos romances para assegurar a formação da infância, que se mostra bem-
sucedida, uma vez que as protagonistas, que são as geniosas e impulsivas, conseguem
ao menos atentar para sua conduta e buscar aperfeiçoá-la. As escritoras conseguiram
347
cativar seu público a seu tempo e os editores viram em seus livros potencial para
continuar reinventando estas obras. O formato, as ilustrações e algumas passagens dos
romances foram suprimidos ou modificados, porém as instituições imaginárias
permanecem, dialogando e convencendo os leitores sobre as maneiras de lidar com a
infância e de portar perante o mundo adulto.
Algumas considerações
Os livros da Condessa de Ségur, Louisa May Alcott e Maria Clarice Marinho
Villac trazem narrativas sobre crianças e jovens, vivenciadas especialmente no
ambiente doméstico. Tais histórias trazem um pouco das próprias experiências de vida
de cada uma das escritoras, que vivenciaram sua infância e juventude em diferentes
países e épocas. Algumas experiências incômodas ou dolorosas são reelaboradas nos
romances, trazendo à tona uma proposta de lidar com a infância de uma outra maneira.
A infância, assim como a família, a religiosidade e a educação são aqui
entendidas como instituições imaginárias da sociedade, que se enraizaram e
consolidaram ao longo das décadas. As escritoras, ressaltam estas instituições em suas
obras e também indicam formas de tratar da infância em um conjunto, que pode se
mostrar positivo para a criança/ jovem. Se as escritoras puderam manifestar suas
opiniões em seus livros, elas também atenderam aos desígnios de seus editores,
especialmente a Condessa de Ségur e Louisa May Alcott. Estas propostas foram bem
aceitas pelas editoras e o público infantojuvenil, mostrando-se suficientemente fortes
para serem difundidas até o século XXI.
As instituições imaginárias da sociedade permanecem e continuam sendo
divulgadas nas novas edições destas escritoras. Novos formatos, mais coloridos e
atraentes trazem as histórias de meninas e jovens peraltas, que encontram na família,
religiosidade e educação, a orientação necessária em seu percurso para a vida adulta.
Bibliografia
348
Obras consultadas
ALCOTT, Louisa May. Little women/ Good wives. Londres: Wordworth Editions, 2006;
COMTESSE DE SÉGUR. Les petites filles modèles. Casterman, 2003;
__________________ . Les malheurs de Sophie. Paris: Librio, 2000;
__________________ . Les vacances. Paris: Hachette, 2010;
VILLAC, Maria Clarice Marinho. Clarita da pá virada. São Paulo: Lacruce Editora, 2006;
__________________________. Clarita no Colégio. São Paulo: Lacruce Editora,
2008;
VIOLETA MARIA. (Maria Clarice Marinho Villac). Clarita da pá virada, São Paulo:
"Revista dos Tribunais", 1939190;
VIOLETA MARIA. (Maria Clarice Marinho Villac). Clarita no Colégio, São Paulo: Cristo-
Rei, 1945.
Bibliografia específica
BEAUSSANT, Claudine. La Comtesse de Ségur ou l’enfance de l’art. Paris : Éditions
Robert Lafont, 1988;
CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1982;
HEYWOOD, Sophie. The Comtesse de Ségur: Catholicism, Children’s Literature,
and the Culture Wars‟ in Nineteenth Century France. (Tese de doutorado de Filosofia
da História), Reino Unido: University of Edinburgh, 2008;
JULIA, Dominique. “A cultura escolar como objeto histórico”. In: Revista Brasileira de
História da Educação. V.I, jan./jun. 2001, p. 9-43;
LEÃO, Andréa Borges. “A Condessa de Ségur no Brasil – Fortuna editorial e recriação
literária nas Edições de Ouro”, Trabalho apresentado ao NP Produção Editorial do
VII Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Comunicação, 2007;
PAIPEAU, Isabelle. La Comtesse de Ségur et la maltraitance des enfants. Paris:
L'Harmattan, 1999;
PIMENTEL NETO, Aydano de Almeida. Entre Espelhos e Labirintos: uma mirada
Argentina sobre o Brasil. (Doutorado), PUC-Rio de Janeiro, 2006;
REISEN, Harriet. Louisa May Alcott: the woman behind little women. Nova York:
Henry Holt and Company, 2009;
SANTOS, Helder Azevedo. O Pensamento político de Cornelius Castoriadis.
(mestrado), 2010;
190 Obra encontrada na Biblioteca Municipal Hans Christian Andersen, em São Paulo (SP).
349
SAXTON, Martha. Louisa May Alcott: a modern biography, Nova York (EUA): The
Noonday Press, 1995;
VINCENT, Guy.; LAHIRE, Bernard.; THIN, Daniel. “Sobre a história e a teoria da forma
escolar”. In: Educação em Revista. Belo Horizonte, n. 33, p. 7-47, jun. 2001.
Experiencias de Inclusión educativa de jóvenes en el nivel medio superior191
María del Rosario Auces Flores
Facultad de Psicología-Instituto de Ciencias Educativas, UASLP
Fernando Mendoza Saucedo
Facultad de Psicología-Instituto de Ciencias Educativas, UASLP
1. La Educación Media Superior en México
El nivel de educación media superior (EMS) ha cobrado en las últimas décadas una
relevancia importante al ser reconocida como una oportunidad para los jóvenes donde
se busca desarrollar las competencias que se consideran necesarias para
desenvolverse en un mundo cada vez más complejo y dinámico. Su propósito principal
191 Esta ponencia presenta los resultados obtenidos de un trabajo que se desarrolló durante el período 2013-2014 y forma parte de una línea de investigación sobre Inclusión Educativa en los niveles medio superior y superior del Centro de Investigación, Orientación y Apoyo a la Inclusión (CIOAI) del Instituto de Ciencias Educativas (ICE) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), México.
350
es “formar para la vida” al plantear “…la transición de la escuela a la vida activa, listos
para el empleo y el aprendizaje permanente” (Castañón & Seco, 2000: 15). La EMS es
“un espacio en el que se forman y formarán un número creciente de jóvenes que en el
corto plazo deberán asumir responsabilidades en la transformación social, económica,
política y cultural del país” (Ibid: 71). Ya desde el Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000 se comenzó a reconocer a la educación como un derecho y una inversión donde
los jóvenes son protagonistas esenciales para el cambio.
No obstante lo anterior, la EMS enfrenta un grave problema de cobertura y calidad. A
nivel nacional, hay una brecha educativa de casi el 50% tan sólo en cobertura al pasar
de la educación básica a la educación media superior. Más aún, en el estado de San
Luis Potosí, sólo el 17.2% de la población de 15 años y más han terminado la educación
media superior y únicamente el 15% cuentan con algún grado aprobado en Educación
Superior (INEGI, 2010).
Por su parte, el Estado ha establecido como alternativa en la legislación la obligatoriedad
de la EMS (diciembre, 2010. Art. 3º) como un derecho de los jóvenes a través del
Sistema Nacional de Bachillerato, con la Reforma Integral para la Educación Media
Superior (RIEMS, 2011). Sin embargo, la infraestructura y recursos que se necesitan
para cubrir la demanda, así como los mecanismos y criterios de selección para el
ingreso, excluyen, ya de primera instancia, a un gran número de jóvenes que deben
renunciar a su derecho de recibir educación.
2. Inclusión educativa en el nivel Medio Superior. Un problema que se agudiza
La inclusión educativa responde al derecho a la educación que todo individuo tiene,
independientemente de su condición física, social, étnica, económica o intelectual; de
igual forma, reclama la obligación del Estado de ofrecer, desde las instituciones, las
condiciones necesarias para ello. La inclusión educativa plantea una transformación de
las culturas, las políticas y las prácticas de la comunidad que forma parte de los centros
escolares para promover y garantizar la participación y el aprendizaje de todos sus
alumnos (Ainscow, 2001; Booth y Ainscow, 2002; Echeita, 2002). Se considera “un
proceso dirigido a responder las distintas necesidades de todo los alumnos, incrementar
su participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la exclusión
en y desde la educación principalmente de los grupos en condiciones vulnerables”
(UNESCO, 2005: 14).
Los jóvenes en condición de desventaja visual, auditiva, motriz e intelectual son uno de
los grupos que muestran mayor vulnerabilidad social y educativa. En la actualidad, el
término “discapacidad” es relativo y dinámico, ya que se define como resultado de la
interacción entre las barreras que existen en el ambiente y las condiciones de las
personas frente a éstas. Por tanto, lo que hay que eliminar son esas barreras sociales,
351
culturales, económicas e institucionales que generan su exclusión más que
considerarlas atributos en los sujetos (Convención de los derechos de las personas con
discapacidad, 2006).
El concepto “barreras” enfatiza una perspectiva contextual o social sobre las dificultades
de aprendizaje o la discapacidad. Nos hace ver que tales dificultades nacen de la
interacción entre los alumnos y sus contextos: las circunstancias sociales y económicas
que afectan a sus vidas, la gente, la política educativa, la cultura de los centros, los
métodos de enseñanza.
Como señala Echeita (2002) comprender la dependencia de cualquier alumno en
situación de desventaja de los factores sociales que influyen inevitablemente en su vida
y con los que interactúan desde sus condiciones personales nos permite apreciar que,
cuando su entorno social respeta y acepta la diferencia como parte de su realidad, se
hace accesible en todos los sentidos y se moviliza para prestar los diferentes apoyos
que cada uno precisa, la discapacidad se «diluye» y tan sólo nos encontramos con
personas, sin más, que pueden desempeñar una vida autodeterminada y con calidad.
Por el contrario, cuando su entorno se encuentra plagado de «barreras» (sociales,
culturales, actitudinales, materiales, económicas,...), que dificultan, por ejemplo, el
acceso al sistema educativo, su permanencia en él con calidad o la transición entre
etapas y a la vida adulta, la discapacidad «reaparece». Por tanto, el propio concepto de
dificultades de aprendizaje o de discapacidad, no puede entenderse sin la consideración
del efecto mediador del contexto en el que se desenvuelve el alumno (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2012: 5).
Ante una pirámide educativa tan agudizada, ¿cómo logran estos jóvenes llegar a formar
parte de este nivel?, ¿cuáles han sido sus trayectorias escolares?, ¿qué expectativas
tienen una vez que terminen la EMS? Qué papel juegan las instituciones de educación
especial y regular?
3. La Inclusión Educativa en la EMS en San Luis Potosí, el caso de las
preparatorias por cooperación del Sistema Educativo Estatal Regular
Con base en el panorama descrito, el interés por desarrollar este trabajo fue identificar
a jóvenes con discapacidad inscritos en el nivel de bachillerato en la ciudad de San Luis
Potosí, S.L.P., México y, desde sus relatos, recuperar sus trayectorias escolares para
conocer las condiciones que permitieron su ingreso y permanencia. Se seleccionó el
caso de las Preparatorias por cooperación del Sistema Estatal Regular por las
facilidades que otorgó para desarrollar la investigación.
Las Preparatorias Estatales por Cooperación (PEC) del Sistema Educativo Estatal
Regular (SEER) pertenecen a la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación
Científica (SESIC) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SLP). Su financiamiento
352
y control operativo es, por tanto, estatal. Es una opción de bachillerato general de
estudio presencial que tiene una duración de dos años; es fijo y de modalidad
propedéutica, es decir, como requisito de ingreso para las escuelas y facultades de nivel
superior: Universidades, Tecnológicos y Normales, tanto del estado como de todo el
país.
Tabla 1. El Nivel Medio Superior del Sistema Educativo Estatal Regular en San Luis Potosí
Zonas
Escolares
Planteles Grupos Inscripción
Inicial
Egresados Profesores Personal
Apoyo
Alumno/Gpo
Alumno/Mtro
5 Centro Media Altiplano Huasteca
41 218 12 443 5 959 H 6 484 M
10 228 Efic. Term 82% % Reprob. 27%
990
225 5/plantel
Promedio 57 13
Fuente: SEER-EMS. Dirección de Planeación y Evaluación, 2012-2013.
Como organismo se divide en cinco zonas escolares, distribuidas en las cuatro regiones
del estado de San Luis Potosí: altiplano, centro, media y huasteca, aunque la mayoría
se encuentran en la ciudad capital, que suman 41 planteles (40 pertenecen al SEER y
uno es Municipal). Durante el ciclo escolar 2012-2013 se reportaron estadísticamente
218 grupos que atendieron una inscripción inicial de 12 443 alumnos (5 959 hombres y
6 484 mujeres, 48% y 52% respectivamente). Se tuvo una deserción del 18% y una
eficiencia terminal, por tanto, de 82%. Sin embargo, presentó un índice de reprobación
de 27% (7 450 aprobados, 2 778 con materias no aprobadas). Se cuenta con un total
de 990 profesores (comisionados en su mayoría que provienen de los niveles de
primaria y secundaria del subsistema de educación básica con grado de licenciatura y
maestría); 225 son personal de apoyo (5 por plantel en promedio). El porcentaje de la
relación de alumnos por grupo es de 57 y el porcentaje de relación alumno/profesor es
de 13 (SEER, Dirección de Planeación y Evaluación, julio 2013).
4. Experiencias de inclusión educativa de jóvenes en el nivel medio superior
Para recuperar las experiencias de los jóvenes en condición de desventaja auditiva,
visual, motriz o intelectual que estaban cursando el bachillerato en este sistema
educativo, se empleó el método biográfico-narrativo que permitió realizar “un
acercamiento dinámico, participativo e integral al tema de la exclusión al dar voz a los
participantes a través de las narraciones de sus historias de vida” (Moriña, 2010: 667).
También se realizaron entrevistas a un directivo y una maestra de bachillerato que
dieron sus puntos de vista acerca de la inclusión educativa en este nivel.
Se visitaron 20 de las 41 preparatorias localizadas en la ciudad capital y el municipio de
Soledad de G. Sánchez. Se pudieron observar las condiciones del contexto, de
353
infraestructura, de recursos humanos y económicos y fue notable el contraste entre las
preparatorias que pertenecen a este sistema e incluso como parte de una misma zona.
Las instituciones con mejores condiciones se encuentran en el centro de la ciudad
capital y, de manera gradual, las condiciones necesarias y adecuadas en cada centro
van disminuyendo conforme se alejan de este punto y se ubican en contextos
suburbanos o de la periferia.
4.1. Instituciones y sujetos
Se tiene en primer lugar que hay 12 escuelas preparatorias por cooperación del SEER
de la ciudad capital de San Luis Potosí y del municipio de Soledad de Graciano Sánchez
en las que se encontraron estudiando 16 jóvenes durante el ciclo escolar 2013-2014; si
bien son relativamente pocos, destaca que sean tres alumnos por su condición
intelectual, auditiva y motriz, respectivamente, en la preparatoria “RTM”, dos en la
“JGSF” por su condición intelectual y dos en la preparatoria “S” por su condición visual
(ceguera) y motriz (parálisis cerebral). Los demás reportan un alumno en cada escuela.
Los 16 jóvenes viven con sus familias y 14 no trabajan, esto puede deberse a que 15 de
ellos consideran que su condición de
desventaja visual, auditiva, motriz o
intelectual es “permanente” y 1 de ellos la
define como “temporal” (8 de tipo “leve”, 5
“moderado” y 2 “grave”) por lo que
requieren y cuentan con el apoyo
económico de sus familia. 5 refieren recibir
tratamiento médico o rehabilitatorio
particular, dos por especialistas de la audición y la visión y tres por psicólogos.
Con relación al género, se tienen 8 mujeres y 8 hombres, cuya edades están entre los
17 y los 21 años de edad en las mujeres; y entre los 16 y 22 años en los hombres.
Predomina la edad de 17 años en ambos sexos. De las 8 mujeres, 4 alumnas cursan el
2º semestre y 4 alumnas el 4º semestre. En el caso de los varones, 5 están en 2º
semestre y 3 en 4º semestre. En consecuencia, 9 alumnos cursan 4º semestre y 7
cursan 2º semestre. De igual forma, 4 alumnas están en turno matutino y 4 en turno
vespertino. En el caso de los hombres, 5 están en turno matutino, 2 están en turno
vespertino y 1 en turno nocturno.
Con respecto a su promedio escolar, tres alumnos dicen no saberlo, cinco indican un
promedio de “6”, seis tienen un promedio de “7” y dos refieren promedio de “8”.
4.2 Ingreso al nivel medio superior
El ingreso al nivel medio superior ha sido complicado para la mayoría de los jóvenes, ya
que en un primer momento se encuentran ante la disyuntiva de continuar o no sus
0
1
2
3
4
RTM
S
JGSF
JCC
S
CTS
RN
C
FMV LR JNS
CLN JR
A
Alumnos/as por escuela
354
estudios, pueden dejar pasar uno o dos años para decidirse ya que tienen el temor de
ingresar a alguna institución por las dificultades que les implica su condición visual,
auditiva, motriz o intelectual, además de la falta de escuelas y del apoyo necesario para
hacerlo. Sin embargo, es la motivación de sus padres y maestros lo que los impulsa a
querer seguir estudiando.
Adán: Pues aquí en SLP no hay muchas opciones para estudiar ni para trabajar.
Hay también muchas circunstancias que no están adecuadas para nosotros,
para empezar desde los camiones, las banquetas, los postes.
Víctor: Mis maestros son los que siempre me han motivado a seguir estudiando,
cuando me daban mis calificaciones sacaba ochos, nueves y me ponían ahí a
un ladito una marca que decía: “sí se puede, vamos, échale ganas”. Mi mamá
siempre me apoyó también, los maestros le decían qué tareas me dejaban y me
llevaba a clases de apoyo por las tardes de español y matemáticas.
Miriam: Entré a la prepa un año y medio después de haber salido de la
secundaria porque salí con materias reprobadas, las pasé en exámenes
extraordinarios pero no seguí estudiando.
Rocío: Gracias al apoyo de mi mamá, sin ella no hubiera llegado hasta acá. Ella
quiere que sea algo mejor porque ella no tuvo la oportunidad y yo sí la tengo.
Adán: Yo estaba estudiando en el CECYTE pero me salí porque me dejé llevar
por los amigos y dejé la escuela. Después tuve un accidente y ya no pude
continuar. Entonces fue a la SEER y ahí me dijeron que podía ir a tres escuelas,
pero yo escogí la “Solidaridad”, no sé por qué, pero ahí todo desde un principio
fue muy bonito, todos me trataron muy bien desde el principio.
Por otro lado, reconocen el rechazo o la poca aceptación por parte de estas instituciones
elegidas por ellos mismos, ya que los directivos argumentan que no se cuenta con la
preparación profesional y las condiciones adecuadas para su ingreso.
Azucena: Bueno ahí, esa prepa la conocí por un amigo que también vive por ahí;
yo me iba a meter a la “Margarita” pero como ya estaba lleno, este, le pregunté
a él y me dijo que allá por su casa estaba una preparatoria. Entonces fui allá y
creo que está muy bien ahí…
Rocío: hice examen en la “Margarita” y no entré y me mandaron a la “Gregorio”
y ahí mi mamá volvió a ayudarme para pasar. Me voy en camión a la escuela y
hago 30 minutos para llegar.
Esta situación les ha llevado a un peregrinaje o derivación hacia ciertas escuelas que el
mismo sistema ha identificado “donde sí serán aceptados y podrán ayudarlos de mejor
manera”; por lo general, se encuentran ubicadas en la periferia de la ciudad donde hay
“menor demanda” y por lo tanto, hay “menor exigencia para su ingreso”. Este
355
“peregrinaje” ha sido una constante en escolarización: cambios constantes de grupos,
de escuelas o de turnos ya sea porque no se les da la atención que requieren, no logran
aprender, reprueban o por problemas de discriminación e incluso “bulliyng”, lo que se
busca es lograr concluir la etapa de estudios en la que se encuentran.
Karen: Cuando pasé al nivel preparatoriano fue algo difícil primero adaptarme al
horario ya que era matutino. En el caminar por la prepa todo parecía normal.
Creo que fue, ha sido una de las etapas más difíciles en mi vida porque cuando
entre a la prepa este... Primero me cambiaron de turno, en la secundaria estaba
en la tarde y luego me cambie a la prepa en la mañana.
Y luego pues nunca no sé cómo que no encajé con los demás alumnos de la
escuela donde me metieron mis papás y en especial con las mujeres como que
así, no me querían entonces no me hablaban siempre estaba yo sola o con una
o dos amigas pero todas las demás hablaban de mi me decían de cosas
literalmente me hacían bullying llegó un momento en el que no pudieron más y
me golpearon dejando con esto una gran inseguridad en mi de salir incluso a la
tienda sola por miedo a encontrarme a las chicas que me agredieron.
4.3 Apoyos brindados
En algunos de los casos el apoyo recibido para una atención temprana y oportuna ha
sido en centros especializados dependiendo del tipo de discapacidad que presentan; sin
embargo, estos apoyos no han perdurado a lo largo de toda su escolarización ya que
conforme avanzan de nivel: preescolar, primaria, secundaria, hay menos servicios de
educación especial en las escuelas, de tal forma que en el bachillerato no existen; por
otro lado, también se encuentran casos dónde en ningún momento se ha recibido algún
tipo de apoyo llegándose al desconocimiento de que se necesitaba en algún momento
determinado.
Mamá de Carlos: Los maestros de educación especial siempre me han apoyado,
ellos fueron los que me han dicho en que escuelas puede ser apoyado Carlos,
incluso nos han recomendado las escuelas.
Mamá de Miriam: La lleve con una psicóloga y le dio terapias. La psicóloga me
dijo que tenía dispersión, eso fue lo que me dijo la psicóloga… Ahí lo único que
fue es que en la primaria en la estaba ellos mismos me la mandaron a una
escuela de niños Down. Porqué halla había psicólogos, maestros especiales, y
ahí íbamos dos veces por semana dos veces por día todas las tardes, solo así
aprendió porque lo que no entendía en la primaria iba y lo reforzaba halla.
Karen: A lo largo de toda mi vida, son mis papas, bueno y los maestros en la
escuela. Poco a poco, con la ayuda de mis papás y amigas lo fui superando, al
siguiente ciclo escolar y para terminar la preparatoria me cambié a la escuela
356
donde mi papá labora, con esto estuve mucho más tranquila y además de todo
logré adaptarme con todos mis nuevos compañeros a pesar del poco tiempo que
llevaba de conocerlos y, con el paso del tiempo ir ganándome su amistad y
aprecio. Y así concluir una etapa más de formación en mi vida académica siendo
este un logro más.
Rocío: Como llevaba calificaciones muy bajas de 6, 7 y 8 una psicóloga me
ayudó porque preguntaba a mis maestros los temas vistos, me ponía a hacer
ejercicios para mi mente y me ponía a leer.
4.4. Acciones realizadas por las escuelas
La política del sistema educativo estatal regular no considera ni especifica en su
normativa el ingreso de los jóvenes con algún tipo de discapacidad aun cuando, por Ley,
es un derecho reconocido jurídicamente.
Directora de escuela: La verdad yo no sé cuáles de las preparatorias de nuestro
sistema acepten chicos con discapacidad, tampoco sé el número, nunca se nos
ha dicho que no podemos aceptarlos, tampoco se nos dijo que sí podemos
aceptarlos.
Otra barrera parece ser la cantidad de alumnos por grupo, ya que suelen ser numerosos,
hasta de 50 jóvenes en un grupo.
Directora de escuela: Una escuela con grupos numerosos es muy complicado.
Aquí lo que ha ayudado es que… somos una escuela muy pequeña y muy
joven… los grupos son pequeños, hay un maestro de planta que está al
pendiente, es un intermediario entre el catedrático, el chico y la dirección.
No obstante, una estrategia clave es la capacidad de gestión y el liderazgo institucional
a favor de la inclusión de jóvenes con discapacidad.
Directora de escuela: Hace 49 años en San Luis no había instituciones que los
acogieran, en ese entonces los chicos se escondían, era una vergüenza para la
familia, y nosotros siempre estuvimos inmersos en esto, entonces yo conocía
ese proceso de una mamá que anda tocando puertas a ver quién le acepta a su
hijo. En ese momento dije: sabes qué, cómo le vamos a hacer, no lo sé, sobre la
marcha… me di a la tarea de hablar con las autoridades. Lo primero que nos
dimos a la tarea fue que el edificio tuviera rampas, que los baños estuvieran lo
suficientemente grandes para que ellos pudieran entrar con sus sillas.
La sensibilización es otra tarea esencial para promover una cultura inclusiva en las
escuelas.
Directora de escuela: Hablé con el personal y les dije, bueno, qué vamos a hacer,
es que nosotros nunca hemos trabajado con chicos discapacitados,
encontramos en el camino una trabajadora social que trabaja en una escuela de
357
educación especial y una chica que venía a hacer prácticas de educación
especial de la normal, ellas fueron las que nos ayudaron en las cuestiones
técnicas, lo más importante fue la sensibilización con el personal, y de ahí cada
quien dijo: “Bueno, voy a tratar de hacer material, voy a trabajar con este
muchacho de esta forma; y la verdad es que, sin tener muchas armas,
empezamos a trabajar así, con los chicos discapacitados.
Además, el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias entre profesores ha
sido de gran ayuda para apoyarse y saber cómo trabajar con los alumnos.
Profesora de Carlos: El primer semestre fue tenso, los catedráticos y asesores
nos reuníamos para saber cuáles eran las experiencias que teníamos con él en
cada una de las materias y sobre eso ver cómo podíamos trabajar con él.
Otro valioso apoyo brindado es la práctica tutorial individualizada del profesor para
favorecer el avance en el aprendizaje de los alumnos. Por lo general son los alumnos
quienes buscan este acercamiento cuando ven que existe la disposición del maestro;
algunas veces éste, a pesar de tener poco tiempo libre, se ofrece a explicarle fuera de
horario para ajustarse a las necesidades y características de los chicos. El tener algún
tipo de acercamiento y un diálogo personal entre el profesor y el alumno es lo que ha
permitido conocer y atender sus necesidades.
Miriam: este no, de hecho la primera vez, cuando entramos a tercero nos
preguntó qué materia odiamos y le dijimos que matemáticas y no le molestó. Ella
siempre entiende todo… Hay un maestro de ética que me hacía el favor de, de
pasarme con tan siquiera con un 7 y en las tardes me ayudaba, por todos los
trabajos que tenía. También me quedaba atrás con los trabajos, y me daba
chance de pasarlos a la libreta y el los revisaba.
Carlos: Para ingresar a la preparatoria no tuve ningún problema, los maestros
me han apoyado mucho, son buenos amigos míos
Karen: Lo que más me ha gustado han sido los maestros han sido muy buenos
me han ayudado en todo lo que necesito, lo que no me ha gustado de las
escuelas son las instalaciones.
La disposición, actitud de apoyo y motivación de parte de los maestros es decisivo para
los alumnos en la continuación de sus estudios.
Rocío: La maestra M me explicaba siempre y hacía que yo sintiera que sabía
más. Me ponía hasta adelante para que yo pudiera poner atención.
Adán: Yo me acercaba a los maestros y les preguntaba cuando no le entendía,
sobre todo a matemáticas, el maestro le explicaba a todo el grupo y ya luego se
acercaba conmigo y me decía: esto es así por esto y esto va así y ya le entendía.
Me evaluaban igual con los trabajos, la asistencia, los exámenes… el examen
358
me lo explicaban la pregunta por pregunta y me leían los incisos a, b, c, y ya yo
les contestaba: es la a, la b, la c.
Los maestros demandan de alguna manera, la orientación y apoyo necesario para saber
cómo atender a los jóvenes con discapacidad en la preparatoria:
Maestra de Carlos: A mí me gustaría que nos dieran un poco más de preparación
sobre eso, que nos dieran un diplomado, unas pequeñas pláticas. Sería muy
importante saber cómo sobrellevarlos. Tener una preparación referente a esta
situación
4.5 Estrategias que han implementado los alumnos para aprender
Los jóvenes expresan que la forma como logran “comprender” lo que no entienden de
la clase es con la ayuda de sus compañeros. De esta manera, “la tutoría entre iguales”
parece ser una estrategia muy efectiva para lograr avanzar en su aprendizaje.
Maestra de Carlos: Los compañeros fueron una gran ayuda porque nos
ayudaban a comprender lo que Carlos quería. El primero y el segundo semestre
fue lo más complicado, tratábamos de explicarle individualmente, nos
quedábamos con sus compañeros en horas extras, ya después no fue tanto la
problemática.
Víctor: Cuando no entiendo algo de la clase, les pregunto a mis compañeros, les
pregunto a ellos y ya ellos me explican y es de la forma como ya entiendo, hasta
eso, sí le entiendo.
Azucena: En la escuela bueno pues, como empecé a no escuchar muy bien,
para no batallar tanto empecé a sentarme mero adelante, mero enfrente, para
escuchar mejor a los maestros y tomar dictado. Y mis compañeros ya saben de
mi problema y ya les pregunto qué dijo el profesor, me lo repiten sin molestarse;
en los dictados a veces me retraso por lo mismo y porque dictan muy rápido,
dejo un espacio y sigo con lo demás y ya después de que acabó le pido la libreta
a mi compañero y empiezo a escribir.
El apoyo y solidaridad entre compañeros también es un valioso recurso para continuar
en la escuela.
Azucena: Tuve una amiga en la secundaria, S, quien me enseñó a arreglarme y
esas cosas pero la corrieron por defenderme contra el bulliyng que me hacían
algunos compañeros. Otra amiga, MJ, ella era muy divertida y en 3º me apoyó
para que le echara ganas y no reprobara ninguna materia.
Algunas estrategias individuales pueden ser: pedir apuntes, utilizar “dibujos”,
memorizar, hacer esquemas.
359
Víctor: Cuando en inglés me dejaban tareas como aprenderme un vocabulario
de un día para otro, utilizo dibujos y con ellos me guío para memorizarlos.
Azucena: Le pido más ayuda a mis compañeros, porque a veces los maestros
se van lego luego porque tienen que dar otra clase en otras preparatorias y
entonces le pido a algún compañero que me ayude porque no le entendí.
4.6 Proyectos de estos jóvenes a futuro
Como cualquier joven, en su mayoría, ellos tienen deseos de continuar estudiando una
carrera universitaria que permita darles más herramientas para la vida, mientras que
unos pocos desean ya incorporarse a la vida laboral por obtener ingresos que les
permitan solventar y ayudar los gastos del hogar en el que se encuentran.
Miriam: Graduarme de la prepa y este irme a trabajar y estudiar una carrera.
Azucena: yo lo que quiero es tener una tienda de ropa pero no diseñadora de modas.
Sería cuando acabe yo la prepa igual sería o trabajar o meterme a una carrera que sería
o diseño gráfico y corte y confección. Y lo que me gusta a mí sería hacer, este, ropa con
mis propios diseños.
Mariela: Para trabajar en una guardería, si de dos años, desde nacido a dos años. Me
gustan mucho los niños, me gusta cambiarles el pañal… Ahorita no me quiero casar,
quiero estudiar y divertirme… Estudiar o así pero no sé si terminar la prepa o ya no
estudiar o meterme a trabajar o no sé por mi lenguaje…
Víctor: trabajar en la zona industrial.
Karen: Acabo de terminar la prepa, pienso entrar a la Universidad a la carrera de
administración turística voy a entrar a una escuela particular.
Carlos: Cuando termine la preparatoria, estoy pensando en animarme a estudiar la
universidad, sé que es difícil pero voy a esperar a terminar mi preparatoria para decidir.
Adán: Ahora que salí de la preparatoria hice mis trámites para ingresar a la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, a la Facultad de Psicología, pero no me aceptaron porque
sólo entran 200 de un total de 800, y yo quedé en el lugar 26 y tantos. Las oportunidades
de estudiar en las universidades privadas son muy caras. Este año no estudiaré. Este
año quisiera poner un negocio de algo y el siguiente año volver a intentarlo o pagar mis
estudios. Si entrara a la universidad me gustaría terminar la licenciatura y hacer una
maestría.
5. Hallazgos
5.1 Fortalezas
a) Políticas
Las escuelas que han permitido el acceso hacia sus instalaciones son, en su mayoría,
lugares de reciente creación, con poca demanda de alumnos y con posibilidades de
realizar modificaciones en infraestructura.
360
La búsqueda de orientación y apoyo hacia profesionales de educación especial para
el trabajo conjunto.
b) Culturas
La actitud, disposición y motivación de directivos en tareas de sensibilización y
gestión, así como de los profesores al ofrecer la tutoría personalizada para que los
jóvenes logren aprender.
El trabajo colaborativo entre docentes que orientan la práctica y la definen a favor de
la inclusión de los jóvenes.
c) Prácticas
El trabajo realizado en algunos de los casos ha sido favorable gracias al constante
apoyo y trabajo colaborativo entre docentes, padres de familia, especialistas y la
tutoría entre iguales.
5.2 Barreras
a) Políticas
La necesidad de una normativa que atienda al derecho a la educación de los jóvenes
independientemente de su condición física, de género, social o económica.
b) Culturas
Pobreza económica y desventaja académica son de las principales barreras
culturales que impiden a los jóvenes pensar en realizar una carrera universitaria.
La consideración de que las escuelas que podrían tener “mejores condiciones de
infraestructura y personal” no tienen la preparación adecuada.
La necesidad de desarrollar una cultura de colaboración interinstitucional que
responda a los requerimientos para la inclusión de personas con discapacidad en el
nivel medio superior que brinde el apoyo necesario para lograr su aprendizaje y la
continuación de sus estudios.
c) Prácticas
La discriminación y el rechazo de las instituciones que no reconocen el derecho de
los jóvenes y la obligación de las instituciones de hacerlo valer como tal. La
invisibilización y la falta de apoyos necesarios para su escolarización exitosa.
6. Conclusiones
Como se señala en el informe del INEE (2011):
“Si bien el aprendizaje que se logra en la EMS dista de ser el deseable, los datos
sugieren que asistir al bachillerato durante tres años sí significa ganancia en la
adquisición de competencias para los jóvenes. Es preciso hacer un esfuerzo
considerable para asegurar que esa ganancia sea mayor y real para todos”. (p.
136).
361
En ese sentido, entre los principales hallazgos se tienen como condiciones favorables
para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el nivel medio superior: la aceptación
en las escuelas preparatorias sin prejuicio de su condición física o intelectual, previa una
tarea de sensibilización de la comunidad educativa, la organización escolar que trabaja
a favor de las diferencias, el liderazgo democrático, la sensibilización y orientación a la
comunidad escolar, la disposición del personal docente, el trabajo colaborativo, la
flexibilización del currículum y de las formas de evaluación; el apoyo externo de
instituciones de salud o educativas específicas, de familiares y amigos, así como la
tutoría entre iguales al interior de las escuelas y las aulas.
Por otro lado, las familias refieren como una gran ventaja, la cercanía que se tiene entre
la casa y la escuela; la aceptación, el trato humano y el apoyo que reciben sus hijos de
directivos, maestros y compañeros para concluir sus estudios. Todas estas acciones se
traducen en un compromiso ético y social que la escuela asume ante responsabilidad
de ofrecer y hacer valer el derecho a la educación que tienen los jóvenes que, por lo
general, han sido rechazados en otras instituciones educativas.
Los pocos casos de éxito de jóvenes que logran llegar al nivel superior, denotan la
voluntad propia y el esfuerzo particular y sostenido de una red de relaciones
establecidas entre las familias, instituciones regulares y especiales, escuelas regulares,
directores y maestros, amigos y compañeros cercanos que muestran la disposición y el
interés por lograrlo, caracterizado por la superación de grandes obstáculos y barreras
culturales que existen, en contrapartida con políticas que defienden y reivindican su
posición social.
Otra desventaja es el nivel académico logrado, al parecer debido a ciertas deficiencias
que se vienen trayendo desde el nivel de educación básica, por lo que los alcances son
limitados con relación al desarrollo de las competencias necesarias para la vida, el
trabajo y/o la continuación de sus estudios, de tal manera que la certificación no les
garantiza la consecución de sus metas a futuro. Como lo establece el informe de
evaluación del nivel MS:
Los estudiantes del nivel medio superior se caracterizan por la disparidad en el
logro del perfil de egreso en la educación básica que se refleja en los puntos de
partida serán más desiguales y la tarea de enseñanza inevitablemente tendrá
que subsanar las carencias académicas de niveles escolares previos (INEE,
2011: 117).
Si bien la Integración Educativa logró la inserción de alumnos que eran atendidos en el
sistema de educación especial con un relativo éxito en los procesos de socialización y
convivencia, los resultados en el aprendizaje y logros académicos han sido escasos. El
reclamo de las instituciones de Educación Especial no se ha hecho esperar en ese
362
sentido, reafirmando con ello su razón de ser y su necesidad de existir. Sin embargo, se
considera que el problema se encuentra en la desarticulación y falta de comunicación
entre las instituciones privadas y públicas, regulares y especializadas con relación a
promover y favorecer la inclusión educativa.
El personal de la preparatoria manifiesta también la necesidad de recibir orientación y
apoyo para atender a la diversidad de una manera más óptima.
Sobre el entorno familiar y social, el factor económico sigue siendo un obstáculo
generalizado para poder dar continuidad a sus estudios, mismo que puede ser extendido
a la mayoría de los jóvenes que se encuentran en igual situación de exclusión debido a
otras condiciones de vida como género, etnia o desventaja económica y cultural. Se
hace pues indispensable reconocer las necesidades y posibilidades económicas y
culturales de los jóvenes y sus familias, como un indicador fundamental para pensar
cuál es la mejor opción para ellos, más que para las instituciones; por lo tanto, habrá
tantas formas y estrategias como situaciones particulares existan cuya finalidad sea
identificar, apoyar y coordinar acciones a favor de estos jóvenes en su proceso de
desarrollo individual, educativo y social.
Por lo general, las prácticas siguen siendo, en el mejor de los casos, intentos aislados y
poco sistematizados de adaptación y cambio de los propios alumnos, supeditados a las
condiciones del sistema escolar, sin llegar a incidir de manera decisiva en el logro del
perfil de egreso establecido. No obstante, se han encontrado centros educativos que
han iniciado y han construido una visión incluyente “sobre la marcha”, contando con las
condiciones indispensables para ello: compromiso ético y social, liderazgo facilitador,
organización escolar planificada y flexible, trabajo colaborativo en la comunidad escolar
y buen clima de trabajo.
De esta forma, se comparte que la inclusión educativa es, siguiendo a Echeita (2009):
“… lo que cada comunidad educativa define y concreta en cada caso y cada día como
inclusión, en función de su contexto, de su historia, de su cultura escolar y de sus
múltiples condicionantes (económicos, políticos, culturales, etc.), cuando ello es,
además, el resultado de un genuino proceso de deliberación democrática, a través del
diálogo igualitario de quienes forman cada comunidad educativa comprometida (Elboj,
Puigdellívol, Soler y Valls, 2002; Nilhom, 2006; en Echeita 2009: 29).
Esto nos permite pensar y tener una actitud esperanzadora, nos alienta a creer que es
posible la inclusión educativa y social cuando nos encontramos y reconocemos unos a
otros desde la diferencia pero también desde lo que nos une: nuestra condición humana,
como parte de un colectivo que aspira a lograr, por medio de la educación, mejores
363
condiciones de vida, así como el bienestar personal y social de todos, en especial de
nuestros jóvenes potosinos.
Referencias
Ainscow, M. (2001) Desarrollo de Escuelas Inclusivas: Ideas, Propuestas y
experiencias para mejorar las instituciones escolares. Narcea. España
Booth, T. y Ainscow, M. (2002) The Index for inclusion. Developing learning and
participation in schools (2nd ed). Bristol: Centre for studies in Inclusive Education.
Castañón, R. & Seco R. (Coords.) (2000) La educación media superior en México.
Una invitación a la reflexión. Colección reflexión y análisis Noriega, México, D.F.
Echeita, G. (2009). Los procesos de inclusión educativa desde la Declaración de
Salamanca. Un balance doloroso y esperanzado. En: Giné, C., (Coord), Durán, D., Font,
J. & Miquel, E. (2009). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena
participación de todo el alumnado. Cuadernos de Educación 56. ICE-HORSORI.
Universitat de Barcelona. Pp 25-47
Moriña, A. (2010) Vulnerables al silencio. Historias escolares de jóvenes con
discapacidad. En Revista de Educación, 353, pp. 667-690
Secretaría de Educación Estatal Regular (2013). Estadística escolar ciclo 2012-2013
Dirección de Planeación y Evaluación. Julio 2013. San Luis Potosí, México.
Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (2011) “La educación Media superior
en México” Informe 2010-2011. México, D.F.
Fuentes electrónicas:
Echeita, G. (2002). Atención a la diversidad. Sentido, dilemas y ámbitos de
intervención. Revista Studia Académica UNED, 13, 135-152. En:
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/mo3_barreras.htm
Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (2011) “La educación Media superior
en México” Informe 2010-2011.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). En:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/pobla
cion/2010/panora_socio/slp/Panorama_SLP.pdf
Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria de Educación Media Superior.
Antecedentes de la Dirección General del Bachillerato. En:
http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/dgb
ONU (2006) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
Protocolo Facultativo. En:
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
364
UNESCO (2005) Guidelines for inclusión: Ensuring Access to Education for All. París.
En: http://unesco.org/educacion/inclusive
Ley General de Educación (2011) en: Narro Robles, José; Martuscelli Quintana, Jaime
y Barzana García, Eduardo (Coord.).(2012) Plan de diez años para desarrollar el
Sistema Educativo Nacional. [En línea]. México: Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial, UNAM http://www.planeducativonacional.unam.mx
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012). Alumnos vulnerables. Barreras, el
index. En: Educación inclusiva. Iguales en la diversidad. Instituto de Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. En:
http://www.ite.educacion.es/formacion/materales/126/cd/pdf/m3_ei.pdf
HIGIENE MENTAL: PSICOTECNIA Y PAIDOPSIQUIATRÍA EN INSTITUCIONES DE
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX EN
CUNDINAMARCA Y ANTIOQUIA
Jairo Gutiérrez Avendaño
Fundación Universitaria Luis Amigó
Introducción
Pensar la historia de las prácticas de protección infantil y corrección de menores,
a principios del siglo XX, permite conocer el surgimiento de una nueva sensibilidad frente
a la situación social de una población emergente que debía regenerarse según la
mentalidad civilizadora moderna, influida por el cruce de tres teorías: la identidad de lo
normal y lo patológico; el degeneracionismo y la eugenesia. La primera, según
Canguilhem (1983) fue definida como “Principio de Broussais”, en los inicios de la
fisiología de fines del siglo XIX, el cual estableció que la diferencia entre un extremo y
otro se estimaba en su modificación cuantitativa y fue generalizada como un criterio
estadístico o media ideal de tipologías físicas, médicas, psíquicas y morales, como lo
concibió por su parte la doctrina de la degeneración del psiquiatra austro-francés
Ponencia aprobada en la Convocatoria de financiación de productos de investigación 2016, Vicerrectoría de Investigaciones, Fundación Universitaria Luis Amigó. Cód. 45665. Trabajo derivado del proyecto de tesis doctoral en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Doctorado (c) CHyS UNAL. MSc Educación UdeM. Filósofo UdeA, Colombia. Docente investigador de la Facultad de Educación y Humanidades, Funlam.
365
Benedict Morel, que tenía como tesis central que “los seres degenerados forman grupos
o familias con elementos distintivos relacionados invariablemente a las causas que los
transformaron en lo que son: un desvío mórbido del tipo normal de la humanidad” (1857,
p. 74).
El predominio de la propensión hereditaria como determinante de la degeneración,
por sobre los factores ambientales, fue la base empírica de la eugenesia de Francis
Galton que estableció el perfeccionamiento biomédico de la raza o especie humana,
extendido a tres campos: la higiene física, mental y moral, la puericultura o cuidado
materno-infantil, y a la homicultura para “labrar el cuerpo y cosechar al hombre”192.
Galton cruzó métodos de las ciencias exactas y naturales, como la estadística y la
biología, con la antropología y la psicología, de esta manera influyó en la creación de
laboratorios de psicometría y antropometría, como en efecto funcionó en Colombia la
primera Sección de Psicotecnia articulada con el área de fisiología en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional en la década del treinta193. Es así como esta
disciplina fue la base de la higiene mental y, a su vez, del surgimiento de la
psicopedagogía que tuvo como campo experimental los hospicios, las casas de
anormales y de corrección de menores.
Convergencia entre higiene mental, degeneracionismo y eugenesia
El sentido clásico de la Mens sāna in corpore sānō cruzó de las técnicas de
cuidado físico a las del alma, retomado por la higiene como “saber vivir”, ejercitada por
diferentes tradiciones culturales de Occidente y que en una versión moderna se asumió
como “higiene mental” (HM). Este término fue acuñado por Clifford Beers en 1908, en el
seno del Mental Hygiene Movement en Estados Unidos, el cual surgió para revelar,
reformar y divulgar la necesidad de trascender la intervención intramuros de la
enfermedad psíquica hacia la promoción comunitaria de la “salud mental”; de esta
manera surgió este concepto que fue incluido como programa dentro de las políticas de
192 En Latinoamérica, por recomendación de la Primera Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura, realizada en La Habana en 1927, se instaló una Oficina homónima en la capital cubana, dirigida por Domingo F. Ramos, profesor de Patología general en la clínica de la Universidad de la Habana, reconocido por haber acuñado el término de homicultura o cultivo científico del individuo en todas sus fases de desarrollo desde la natalidad hasta la edad adulta (Stepan, 1991, p. 76-79). 193 En Colombia, Luis López de Mesa, reconocido integrante de academias nacionales, se especializó en Psicología Experimental y Psiquiatría en la Universidad de Harvard en 1917, se le atribuye la introducción del primer test psicológico, aplicado a una población de niños indigentes en Medellín - Antioquia, en los años veinte, y junto con la psicóloga española Mercedes Rodrigo Bellido y el fisiólogo Alfonso Esguerra Gómez, se reconocen como precursores de la psicotecnia, disciplina que dio origen a la psicología general —como también ocurrió en España, Brasil y Argentina— con la creación del Instituto de Psicología en la Universidad Nacional de Colombia entre 1947 y 1948 (Hernández, 2003, pp. 6-16).
366
salud pública, aunque aún no era de uso técnico y oficial a principios del siglo XX
(Lemkau, 1963, p. 17).
Las ligas de higiene mental escalaron hacia la conformación de comités
nacionales con una representación de psiquiatras, médicos de otras especialidades,
biólogos, pedagogos, religiosos, empresarios, sociedades de filantropía, representantes
de la sociedad civil, entre otros de un gran número de regiones, hasta extenderse a
países de Europa, África, Asia y Latinoamérica.
Los dos principios que definieron el accionar de la HM fueron: primero, la inclusión
oficial de la HM en los servicios de salud pública y propusieron la creación de una
especialidad en la materia, así como la divulgación de normas de vida en colectividad
que se impartieran con igual importancia a la que se daba a la salud física; el segundo
principio buscó concentrar los esfuerzos de la psiquiatría terapéutica y profiláctica en las
fases de la infancia, dado que en esta población resultaba más efectiva la prevención
temprana de la psicopatología y la criminalidad.
En ese mismo campo propuso que a los maestros de escuela se les adiestrara en
el diagnóstico o reconocimiento de los problemas graves de personalidad y disciplina en
su estado incipiente, antes que en su tratamiento, para lo que no estarían facultados;
también se propuso que a los padres de familia se les instruyera sobre pautas de crianza
de los hijos para corregir su inclinación a desordenes de la conducta que los hiciera
propensos a transgredir las normas (OMS, 1949, pp. 7-8).
Se destaca que las ligas de higiene mental en España y Latinoamérica tuvieron
en común su origen y funcionamiento en las asociaciones de neurología y psiquiatría,
asimismo una estrecha relación de ambas instituciones con las sociedades y agencias
de eugenesia, entre las décadas del veinte y treinta del siglo XX, según el registro de
Sociedades e instituciones científicas para la América Latina de la Oficina Sanitaria
Panamericana (Brasil, Chile, Cuba, Argentina, México, Perú, Uruguay) (1939, p. 38). De
igual modo, cada una tuvo con una sección de puericultura y, al mismo tiempo, tanto las
sociedades de esta especialidad como de pediatría incluyeron una sección de
eugenesia.
Un ejemplo de la hibridación científica entre dichas sociedades latinoamericanas,
se constata en la Tercera Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura,
realizada en Bogotá en 1938, bajo la coordinación de Jorge Bejarano, y se acordó que
esta sesionara como parte del programa de la Décima Conferencia Sanitaria
Panamericana. Asimismo, se consideró que sus objetivos eran más afines a los del
Congreso Panamericano del Niño, desde 1915, que a los de la Conferencia Sanitaria;
por lo tanto, resolvieron celebrar sus próximas convocatorias conjuntamente con los de
dicho Congreso. No obstante, según Nancy Stepan (1991, p. 194), este cambio, más
367
que retornar a la puericultura como un campo de la eugenesia, implicó una postura de
distanciamiento frente al desprestigio de dicho término, extremado por la política médica
nazi para el exterminio de la “vida indigna de ser vivida” (Lebensunwertes Leben), que
ejecutó la eutanasia a gran escala a grupos de individuos que degeneraban la raza,
empezando por la población de niños anormales.
Las doctrinas del degeneracionismo, eugenesia e higiene mental convergieron en
el surgimiento de una institucionalidad normalizadora moderna, que instauró
dispositivos disciplinarios y de control para la administración de la vida de los individuos
y de las poblaciones: la familia, los talleres, la escuela, el hospital, el cuartel y el
manicomio (Foucault, 2003, p. 4).
Es así como, a finales del siglo XIX, entre las razones que motivaron la creación
de las casas de corrección de menores en Colombia, se consideró a los delincuentes
infantiles como parte del grupo de “anormales” y dentro del conjunto de “patologías
sociales” ocasionadas por la degeneración de la raza.
En 1908, Miguel Jiménez López, uno de los principales representantes del
degeneracionismo en Colombia, se pronunció ante la Academia Nacional de Medicina,
para proponer al Congreso Nacional la reforma del Código Penal:
[…] en sentido que satisfaga las concepciones científicas de actualidad en los referente a
la etiología del delito y a la razón de ser de la penalidad, como mero acto de defensa social;
reforma que consulte por tanto, los dictados de la antropología criminal para establecer en
el Derecho colombiano preceptos legales desde el punto de vista de la profilaxis y la
terapéutica de la delincuencia […] Recomendar así mismo a la Legislación Nacional la
fundamentación de cátedras especiales para estudios de antropología criminal y de
institutos destinados exclusivamente a la práctica de observaciones y procedimientos
tendientes al fomento y desarrollo de la psiquiatría forense entre nosotros” (Academia
Nacional de Medicina, 1908, pp. 198-204)
El influjo de la Scuola Positiva Italiana o de antropología criminal, con Lombroso,
Garófalo y Ferri, fue apropiada por médicos colombianos, como Luis Cuervo Márquez
(1921, p. LXXXI), precursor de los primeros estudios de Medicina Social, junto con
Carlos E. Putnam, fundador de la Oficina de Medicina Legal en el país, quienes se
basaron en la teoría del “criminal nato”, la cual clasificaba a los menores infractores
como “criminaloides” una subdivisión de la categoría de “delincuente ocasional”
planteada por Lombroso en su tratado L'uomo delinquente de 1876, para referirse a
individuos con predisposición al delito, al cual llegaban por oportunidad e imitación.194
194 De igual forma, esta teoría se estudiaba en el referido Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina de Bogotá, en el que Alfonso Esguerra se propuso establecer el biotipo o “perfil del hombre colombiano”, y también incidió en las pruebas de la Sección de Psicotecnia
368
En ese sentido, se pretendía una equivalencia del delito como fenómeno natural
prevalente en los “grados inferiores de la evolución humana” que para Lombroso eran
los primitivos y los niños, relación que coincide con el carácter de “infantilización” y
“primitivismo” de la raza atribuida en términos de retraso e incapacidad (sentido
etimológico que comparte con “in-fancia”, incapacidad de hablar o de responder) en la
época del degeneracionismo en la primera parte del siglo XX.
En Colombia, la teoría de Morel fue difundida por Miguel Jiménez López, a partir
de su Cátedra Inaugural de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Bogotá, impartida
en 1916, cuyo tema fue “La locura en Colombia y sus causas”, según la cual esta se
debía a una “viciosa” educación de la juventud, al alcoholismo y la sífilis. De esta
manera, consideraba como causas ocasionales “la miseria nacional, violencia en la
lucha por la vida, desproporción entre necesidades y medios de satisfacerlas,
inconformidad de las clases sociales inferiores, importación de costumbres en
decadencia, literatura foránea sensual y decadente y la labor escandalosa de la prensa”
(Jiménez, 1920). La Cátedra de Jiménez propició un debate convocado con el título de
Los problemas de la raza en Colombia, en el Teatro Municipal de Bogotá en 1920, con
siete conferencias unas a favor y otras en contra, que tuvieron un interés masivo y
“espectacular” al punto de considerarlo “La mayor controversia científica de la
intelectualidad colombiana”.
La asimilación del degeneracionismo influyó en los planteamientos de Tomás
Cadavid Restrepo195 —primer director de la Casa de Corrección de Menores y Escuela
de Trabajo San José en Antioquia— en los que era frecuente la alusión a la anormalidad
y la criminalidad infantil como una patología social, debida a factores como la herencia,
la miseria, el alcoholismo y chichismo (consumo de bebida fermentada de maíz), la
locura, la sífilis, la mala educación, entre otros. Así lo expresó el director en la prensa
de la época sobre los menores díscolos: “de herencias malditas de padres
desconocidos, hijos del infortunio y del hambre, expuestos a dolores y crueldades
ajenas. Muchos son enfermos congénitos, otros adquieren sus males al contacto con
sus compañeros de infortunio” (Cadavid, 1920, pp. 155-156). Estas causas heredo-
degenerativas también fueron atribuidas por parte de los médicos de las casas de
de la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por la psicóloga Mercedes Rodrigo. 195 Nació en Medellín - Antioquia (1883-1952). Abogado de la Universidad de Antioquia. Estudió Sociología, Pedagogía y Filosofía en la Sorbona y en la Universidad Católica de Paris. Entre sus obras se destaca Discolía de la pubertad, premiada con la máxima distinción del Concurso Pedagógico de la Universidad de Antioquia en 1924. Integrante de la Liga Internacional de la Educación Nueva, fundada en Bélgica en 1921, por un grupo de pedagogos de diversos países: Decroly en Bélgica; Dewey en Estados Unidos, Piaget, Cleparéde y Ferriére en Suiza, entre otros; y en Colombia, junto con Agustín Nieto Caballero y Rafael Bernal Jiménez.
369
menores de Paiba - Cundinamarca (Bejarano y Sanmartín, 1923) y de Piedecuesta -
Santander (Ortiz, 2012, p. 66).
El estudio de Criminalidad y Violencia en Antioquia, presentado por el abogado
Miguel Martínez en 1895, se refiere a la naturaleza de los “preventorios”, sobre la
necesidad de una educación combinada con el aprendizaje de artes y oficios como parte
fundamental del proceso de corrección de los menores. Esta forma de nominar a las
casas de corrección como lugares de protección o de prevención, tenía también un
criterio de evitar que en el futuro la infancia “semilla del progreso y de la raza” fuera
propagadora de enfermedades, delincuencia, vagancia, vicios y otros males sociales.
En efecto, esta fue una preocupación del Estado explicitada en la Ley 98 de 1920, “Por
la cual se crean Juzgados de menores para que se ocuparan de la atención al menor
con problemas de conducta”.
“Discolía de la pubertad” y hebefrenia: casos de patologización de la infancia
El niño díscolo o “difícil” (del griego dyskolos) en Colombia fue objeto de estudio y
de intervención atribuido a la pedagogía experimental, integrada por saberes como la
psicología, biología, estadística, higiene, entre otros. En efecto, Cadavid refiere que era
imprescindible la explicación etiológica y una terapéutica de la “discolía de la pubertad”
con base en la Patología General de Paul Courmont (1913), al considerar que así como
la terapéutica “será patogénica o no será”, de igual modo dice Cadavid que la pedagogía
“será psicológica o no será” (Cit. Cadavid, 1924, p. 19).
Según este postulado patológico, se localizó en la pubertad (entre los 10 y 15 años
de edad) la aparición de la psicosis juvenil o hebefrenia, asociada con la “demencia
precoz” (ancestro de la nosografía de esquizofrenia), junto con la criminalidad como
desorden de la conducta. Esta hipótesis Cadavid la respaldaba con estadísticas del
aumento de ingresos de menores de edad al Manicomio Departamental de Antioquia.
La pubertad, como etapa del desarrollo humano, cobraba interés en el ámbito de
la psicopedagogía o “pedagogía experimental” —en términos de Gaston Richard196—
que Cadavid también llamaba pedagogía “científica” o “aplicada” (1924, p. 21), puesto
que esta edad implicaba trastornos temporales tanto físicos, como mentales y morales;
asimismo, se destaca que a este periodo de adolescencia se le atribuyera el despertar
de enfermedades “heredo-familiares” que permanecían latentes; por lo tanto, se
196 Cadavid incluye a Gastón Richard en la justificación de su proyecto de reforma del modelo de la Casa de Menores, al referir que “encontrar los criterios que permitan distinguir los niños anormales, inestables o retardados de aquellos otros susceptibles de una educación y de una cultura en relación con las necesidades de una alta civilización, responde a una necesidad urgente. Podemos decir que sin resolver esta dificultad la constitución de una enseñanza popular sería imposible” (Richard, 1911, Cit. Cadavid & Velásquez, 1921, p. 10).
370
consideró que dicha propensión degenerativa debía prevenirse y corregirse en la
infancia.
Los signos de la “discolía” que Cadavid observaba en la Casa de Menores eran:
fisiológicos en cuanto al “notable crecimiento, palidez en el rostro y cambio de la voz”;
psíquicos, asociados a la “dispersión de la atención, debilitamiento de la memoria,
pereza para todo trabajo y cierta instabilidad acompañada de aspereza de carácter”
(Cadavid, 1924, p. 20); para el tratamiento de estos últimos se buscó prevenir el recargo
escolar o fatiga intelectual (surmenage), que ocasionaba depresión y trastornos de la
conducta. La justificación de este saber “higiénico-pedagógico”, como lo definió
Cadavid, se debía al desconocimiento que tenían los educadores, padres de familia y
autoridades sobre las causas y tratamiento de la discolía de los adolescentes, a quienes
se sometía al castigo y a la represión por mano propia o bajo el régimen de
reformatorios, a donde podían ser remitidos para internamiento voluntario por sus
familias. La principal terapéutica para dicho estado “semi-patológico” era la actividad al
aire libre, cultivo de la tierra, artes y oficios que garantizaran una habilidad técnica para
la vida; alimentación balanceada, higiene mental para dosificar el trabajo escolar, y
educación física y sexual.
Según el referido informe que Cadavid presentó como director de la Casa de
Menores (1921), así como su estudio sobre Discolía de la pubertad (1924), la deficiencia
mental fue intervenida por métodos experimentales de la pedagogía activa de Ovide
Decroly (1923) del que adoptó la clasificación de anormales “sensoriales, motores y
afectivos”197; la psicopedagogía de Alfred Binet y Theodore Simone (1917), y de Jean-
René Cruchet198 (1908), disciplinas que en la Casa tuvieron por objeto clasificar y
corregir como principales acciones psicopedagógicas de los menores difíciles, igual
procedimiento que el practicado en la Casa de Menores de Paiba - Cundinamarca
(Bejarano & Sanmartín, 1923), así como en la de Piedecuesta - Santander entre 1925 y
1939 (Ortiz, 2012, p. 142).
Raymond Buysé199, en su Estudio crítico sobre los orígenes de la pedagogía
moderna, conferencia presentada en la Facultad de Educación de la Universidad
197 Sin embargo, Cadavid afirmaba que “El método de Decroly nos parece admirable, siempre que por medio de la enseñanza religiosa se le despoje del tinte naturalista que lo caracteriza” (1924, p. 59).
198 J-R Cruchet en su texto Les arriérés scolaires (1908), define que el niño con retardo escolar “es todo niño que desde el punto de vista escolar está retrasado 2 o 4 años en relación a la media escolar de los niños de su edad”, citado por Cadavid en su Informe de la Casa de Menores (1924, p. 6). 199 Raymond Buysé, profesor de Pedagogía Experimental en la Universidad de Lovaina y colaborador de Decroly. Fundador del Laboratorio de Pedagogía Experimental de Lovaina, Doctor en Ciencias paidológicas, coautor, junto con Decroly, de un manual sobre test mentales (Los test mentales. Aplicaciones de la psicología a la organización humana y a la educación en
371
Nacional de Colombia en 1933, se refiere a la cuádruple raíz que dio origen al
movimiento de la “psicología experimental”: patológica, antropológica, psicológica, y
pedagógica, así como su incidencia en el movimiento de pedagogía activa para la
educación de anormales. De esta manera Buysé recurre a la síntesis que Van Biervliet200
reseñó en su texto Premiers éléments de pédagogie expérimentale (1911), traducido al
castellano como Pedagogía experimental (1925), para uso de las escuelas normales:
a) la raíz patológica, que consiste en el esfuerzo de los médicos alienistas, psiquiatras
(Charcot), neuropatólogos (Grasset), criminalistas (Lombroso). b) La raíz antropológica,
que comprende los trabajos de los frenólogos (Gaal), de los embriólogos (hechos de la
herencia), de los antropólogos (Broca, localizaciones cerebrales). c) La raíz psicológica
que comprende las investigaciones de Galton, Cattel, Binet, de Stanley Hall, de Meumann,
etc. d) La raíz pedagógica, en la cual se incluyen las investigaciones concernientes a la
educación de los anormales (Itard, Seguin), el estudio objetivo de los problemas
pedagógicos, no solamente para conocer la naturaleza de los fenómenos conscientes
puestos en juego, sino las diferencias susceptibles de registrarse; no las cualidades de las
funciones mentales, sino más bien su rendimiento (Buysé, 1933, pp. 139-140).
El establecimiento de una tecnología de vigilancia del alma y corrección del cuerpo
constituyó la “ortopedia escolar” de las primeras casas de protección y corrección de
menores y escuelas de trabajo en Colombia, estas asumían a los niños anormales y
atrasados según la definición de Binet y Simón (1917): “los que no son admisibles en
escuela ordinaria ni en hospital; parécele a la escuela poco normales, no los halla el
hospital bastante enfermos” (Binet & Simon, 1917). Para Cadavid, esta última la
consideró imprecisa porque no era causal, por lo tanto, optó por la evidencia frenopática
del estigma “los que tienen algún defecto importante en el cuerpo o en el alma”201. De
hecho, Morel dio un papel relevante a las cachets typiques o stigmatas, que son marcas
o signos de degeneración que caracterizan a las diferentes familias y grupos de
degenerados (Morel 1857, p. 37). Esta forma de examen, también se replicó en las
referidas casas de menores de Cundinamarca y Santander.
los Estados Unidos) (Sáenz, Saldarriaga & Ospina, 1997, Vol. 1, p. 82) 200 Jules Jean Van Biervliet, profesor de Psicología experimental en la Universidad de Gante, Bélgica. Miembro de la Academia Real Belga. 201 José María Rodríguez Piñeres, en su tesis de grado de medicina de 1896, titulada: Contribución al estudio de las degeneraciones de evolución. Idiotez, citando los Etudes cliniques de Morel, reafirma el papel de la herencia, la degeneración y los estigmas. Afirma que desde el punto de vista etiológico, “el hecho dominante en la historia de los degenerados es la herencia, sea la herencia similar […] sea la herencia de metamorfosis, apenas diferente de la concebida por Morel. En lo físico, la degeneración se manifiesta desde el nacimiento por estigmas que se reconocen fácilmente”. (Rodríguez, 1896, p. 3).
372
Sáenz y colaboradores sintetizan la reforma de las instituciones para anormales
en Colombia en: suprimir los premios y castigos como método terapéutico y, en cambio,
establecer el examen y la clasificación, la laborterapia, programar la actividad
permanente como base del régimen institucional, fomentar la confianza del “enfermo”
en sus propias capacidades y su permanencia al aire libre (1997, p. 55).
Psicotecnia como dispositivo de higiene mental
En Cundinamarca el Instituto de Higiene Mental, conformó su primer Comité
técnico asesor en 1956, bajo la dirección del médico Julián Córdoba Carvajal202,
integrado por los directores científicos de cuatro instituciones de asistencia social de la
Beneficencia departamental, que si bien interactuaban con los asilos psiquiátricos,
concentró sus acciones en la población infantil de la Escuela de Orientación Femenina,
el Hospicio Campestre de Sibaté, y el Instituto San José, así como del adulto mayor en
la Dirección de ancianatos.
El Instituto creó cinco comisiones: 1) de Reglamentos y estatutos, 2) Paido-
psiquiátrica, la cual presentó el proyecto para la creación de la Sección
Paidopsiquiátrica, así como la Oficina Central de Admisión y Orientación Infantil, la cual
clasificó ese mismo año a 60 niñas que se enviaron a la Escuela de Orientación
Femenina y a 80 niños que se remitieron al Instituto San José en 1956; también se abrió
el Consultorio psiquiátrico-infantil, así como la Sección Geriátrica y Gerontológica; 3)
Psicológica, con la asesoría del Instituto de Psicología de la Universidad Nacional; 4) de
Becas y Estudios de Especialización para el personal médico, por medio del Instituto
Colombiano para Estudios Avanzados en el Exterior (ICETEX), creado en 1950; 5)
Pedagógica, en la que se nombró una pedagoga para la planeación de las actividades
manuales, clases de lenguaje y aritmética, y de la enseñanza primaria del Instituto San
José.
Desde principios de 1956, se cambió el nombre de la “Escuela de Oficios
Domésticos” por el de “Escuela de Orientación Femenina”, para darle una dignidad más
adecuada a su objeto social, dirigida por Vicente Cortés Camacho, catedrático del curso
de Higiene Mental de la recién creada Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional. El establecimiento realizaba el estudio calórico y vitamínico de la alimentación,
suministro de leche con la FAO, supervisaban el curso de economía doméstica,
educación primaria, gimnasia rítmica y deportes femeninos; la asesoría pedagógica la
ofrecía en convenio con las escuelas normales de fuera de Bogotá, con el
202 Se destaca la presentación de una ponencia del director del IHM en el Congreso Panamericano de Higiene Mental en Brasil en 1935. Más tarde fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Colombiana en 1962.
373
acompañamiento de la Escuela Familiar y Social de la Universidad de Pedagogía de
Tunja y la Escuela Superior Nacional de Economía Doméstica de Usaquén. También
intervino la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional. El establecimiento tenía
una sección de oligofrénicas (débiles mentales) y con trastornos psíquicos, bajo la
dirección del pediatra Carlos Albornoz Medina, basado en las secciones de anormales
de Chipaqué y el Internado Infantil de Chía. Para esta época se propuso en las sesiones
del Instituto la construcción de una Casa de oligofrénicas y epilépticas, según el
referente de la sección que atendía esta condición mental en el Asilo de Indigentes
Mujeres, dirigido por el médico geriatra Guillermo Marroquín Sánchez, fundador de la
Sociedad Colombiana de Gerontología.
Uno de los procedimientos principales de los que se ocupaba el IHM era la
aplicación de pruebas psicométricas a las poblaciones que atendía en las instituciones
de asistencia social de la Beneficencia de Cundinamarca, las cuales supervisaba el
Instituto de Psicología de la Universidad Nacional y eran remitidas para su análisis al
Frenocomio de Varones de Sibaté. Se practicó una serie de test: 1) Terman, 2) Tsedek,
3) Szondi, 4) Goldman-Eisler, 5) Rorschach, 6) Goudenogh, 7) Ballard.
1) El test de Terman medía la capacidad intelectual y constaba de diez series en
las que se evaluaba: información cultural, juicio lógico, razonamiento verbal, habilidad
numérica, atención-concentración, clasificación y discriminación selectiva.
2) El test de Tsdek medía la actitud moral, en la que se presentaban situaciones
de la vida cotidiana para evaluar la forma en que las examinadas juzgaban la moralidad
de los actos de sus protagonistas.
3) El test de Szondi fue el más practicado en el establecimiento y consistía en 48
láminas con fotografías de sujetos con perturbaciones mentales, agrupadas en 6 series
de fotos con 8 láminas por serie, en las que aparecen retratadas 8 manifestaciones
extremas de psicopatologías: homosexualidad (representa la necesidad de ser amado
con ternura por otro), sadismo (necesidad de controlar y amar agresivamente), epilepsia
(controlar la agresión), histeria (expresión de emociones), catatonia (necesidad de
permanecer apartado de otros), paranoia (fusión de pensamientos con otros), depresión
(someter a los objetos) y la manía (necesidad de apegarse a los objetos). Estos factores
se agruparon en parejas que definían 4 vectores de personalidad: sexual
(homosexualidad y sadismo), ético o paroxismal (histeria y epilepsia), del yo (catatonia
y epilepsia), del contacto (depresión y manía).
4) El test psicolingüístico de Goldman-Eisler o encuesta de fluidez verbal se
compone de 19 series de preguntas relacionadas con los 19 rasgos de carácter
comúnmente referidos a la etapa oral del desarrollo (optimismo, pesimismo, pasividad,
inasequibilidad, agresividad oral, agresión, soledad, ambición, autonomía, dependencia,
374
culpabilidad, versatilidad, conservadorismo, impulsividad, deliberación, exocathesis,
endocathesis, caridad, sociabilidad) (Villamizar, 1957, pp. 75-91).
5) El test de Rorschach era un psicodiagnóstico proyectivo de personalidad
mediante 10 láminas que presentaban manchas de tinta con simetría bilateral, obtenidas
al impregnarlas sobre un fondo blanco y doblándolas por la mitad. Según lo que veía en
ellas el examinado, se analizaban criterios como: tiempo de respuesta, posición,
localización, forma, movimiento, color, categoría, etc. También fue aplicado en los años
cincuenta en los asilos psiquiátricos de Cundinamarca y en el Manicomio Departamental
de Antioquia.
6) El test de Goudenogh es una medida de inteligencia general y personalidad en
niños entre los 4 y 10 años del Hospicio Campestre de Sibaté, mediante la interpretación
de la figura humana, según recursos mentales como: asociar rasgos gráficos con el
objeto real, entender los componentes del objeto a representar, valorar y seleccionar los
elementos característicos, analizar las relaciones espaciales y de cantidad, abstraer:
reducir y simplificar las partes del objeto representado, coordinar y adaptar su trabajo
viso-manual al concepto de la representación.
7) El test colectivo de inteligencia general de Ballard, realizado a 30 estudiantes
de 5° de primaria y alumnos de los talleres de juguetería, sastrería y peluquería del
Hospicio, se usaba para predecir el éxito en aprobar los cursos de primaria, de tal
manera que se pudiera realizar una orientación escolar.
Estas medidas psicométricas se reunieron y analizaron en un estudio presentado
en el Tercer Congreso Psiquiátrico, realizado en Bucaramanga en 1956, con el título
“Primeros datos de una exploración global del personal infantil que atiende la
Beneficencia de Cundinamarca”, dirigido por Félix Villamizar Guerrero, catedrático del
curso de Técnica de Entrevista en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional.
En este se tomó una muestra heterogénea de cien niños del Hospicio entre los nueve y
catorce años, y cien niñas y jóvenes de la Escuela de Orientación Femenina entre los
diez y veinte años, ambos grupos de diversa procedencia, situación personal, estado
somático, entre otras características (no especificadas). Asimismo, se tomaron medidas
de talla y peso para determinar la correlación entre el estado nutricional y el coeficiente
intelectual.
El test de Terman mostró que del grupo del Hospicio, el 10% tenía “deficiencia
mental grave”, indicada por cocientes intelectuales entre 40 y 50; por su parte, el grupo
de la Escuela de Orientación Femenina, solo el 6% estuvo en ese grado. Seguido por
el 42% de “escasa mentalidad” por cocientes entre 50 y 70, y el 35% en el segundo
grupo. Un 24 % se encontró en “deficiencia límite”, por cocientes de 70 a 80, y un 26%
en la población femenina. El 17% se encontraba en “retardo mental” por cocientes entre
375
80 y 90, y el 13% en el otro grupo. Un 6% con “inteligencia normal” por cocientes entre
90 y 110, y el 18% en las niñas y jóvenes. Por último, según los datos anteriores, era de
esperarse que no se encontrara una “inteligencia superior”, tan solo el 1% en el primer
grupo por cocientes entre 110 y 120, y el 2% en el segundo grupo (Villamizar, 1957, pp.
75-91).
Los resultados de la escala de inteligencia se analizaron en relación con las
medidas de talla y peso, según el tipo medio de niños bogotanos establecido por el
pediatra Carlos Albornoz Medina en 1945. Así, se obtuvo que el 82% del grupo del
Hospicio y el 65% de la Escuela de Orientación Femenina presentaba retraso en la
media corporal, la cual se relacionó con antecedentes de desnutrición al momento de
ingreso, atribuidos al impacto de la época de la violencia sobre la atención de los niños
y a factores hereditarios, raciales, endocrinos y de carácter psicológico, los cuales
incidían en la capacidad del intelecto.
El test proyectivo de personalidad de Szondi se aplicó a los mismos grupos de
ambas instituciones, sobre el vector del ego o zona del yo, descrita anteriormente y que
corresponde a la representación de la epilepsia o control de la agresión y de la catatonia
o necesidad de permanecer apartado de otros; así, se tomaron 7 perfiles en días
diferentes y de estos se conformó un perfil medio según la respuesta más constante
(por lo menos cuatro veces la misma en cada sesión). Finalmente, estos se agruparon
en tres perfiles: “normales” 25 niñas del Hospicio de 8 a 12 años, así como 38 de la
Escuela de Orientación Femenina de 12 a 18 años; “difíciles” 50 niñas y jóvenes de
dicha Escuela entre los 10 y 20 años; “enuréticos” 20 niños entre los 8 y 11 años, junto
con 12 del segundo grupo entre los 11 y 17 años, de este último grupo se sabe que los
niños que se orinaban en la cama, como una forma de remediar el problema, era usual
el maltrato psicológico y hasta físico en sus familias y algunas instituciones de albergue.
Dado que la prueba de personalidad fue predecible para las condiciones
psicológicas promedio de los grupos de niños y adolescentes estudiados, se buscó
profundizar con la encuesta verbal de Frieda Goldman-Eisler del Departamento de
Psicología del Maudsley Hospital (citada del Journal of Mental Science, octubre de
1951), adaptada a las condiciones del personal en estudio. En términos generales, los
resultados de esta prueba no fueron reveladores, salvo que había cierta inclinación a
conformar el “síndrome de frustración oral optimista” asociado con exocathesis, caridad,
ambición, sociabilidad.
Los resultados de la proyección de personalidad en los grupos examinados “era
permisible esperar para grupos infantiles gregarios sometidos a una disciplina sin
interrupción, en un ambiente extrahogareño que no suple en su totalidad las condiciones
naturales requeridas para un óptimo desarrollo psicológico”. De las 50 niñas “difíciles”,
376
refieren que su estado se debe a un defecto en la integración social y sus tendencias
estaban “sometidas exclusivamente a las fuerzas exteriores, pero con propensión a
acumularse y hacer descargas liberadoras… ” (Villamizar, 1957, pp. 75-91).
A partir de los hallazgos de las pruebas se propuso la reorganización de los
establecimientos por parte de los directores Hernando Roa Hoyos, catedrático de
psicología del niño, y Vicente Cortés Camacho (ya referido), ambos de la nueva Facultad
de Psicología de la Universidad Nacional, quienes sugirieron como terapéutica la
actividad física y lúdica diaria o varias veces a la semana para “drenar la represión” de
las fuerzas interiores que producían impulsividad y agitación, asimismo generadas por
las condiciones especiales de aislamiento en que vivía el personal.
No obstante, advertían que este era el primer estudio psicosomático que se
aproximaba a estudiar esta población y, por tanto, los resultados no eran concluyentes,
pero se buscaba con ellos implementar una ficha técnica individual que correlacionara
los exámenes y mediciones de dichos establecimientos.
Conclusiones
La “era de la infancia”, como fue considerado el siglo XX, en particular su primera
mitad (Richardson, 1989), articuló discursos, saberes y prácticas, según el influjo del
degeneracionismo que extendió la higiene física, mental y moral a tres ámbitos: el
individual o privado, el urbano o público y el social, como solución técnica para la
prevención e intervención de los factores predisponentes (o hereditarios) y
determinantes (o extrínsecos) que ocasionaban el supuesto retraso de la especie
humana en que estaban sumidas las naciones en tránsito hacia la modernidad. La
psicotecnia, como base científica de la higiene mental, implementó la medición de
capacidades mentales y corporales, y concentró su trabajo de campo en la población de
las instituciones de protección infantil y corrección de menores, asimismo los inicios de
la psicología experimental en el país estuvo emparentada con la práctica pedagógica
escolanovista o activa, que consideró el espacio escolar un “laboratorio de almas” o
régimen panóptico enfocado en “auscultar”, “acechar”, “descubrir”, “detectar”,
“investigar” el estado oculto de la anormalidad del niño mediante técnicas de
observación permanente a cargo de maestros con ojo clínico que, como se insistía, la
“pedagogía será psicológica o no será” para la clasificación y orientación de la conducta
infantil.
Referencias
377
Academia Nacional de Medicina (1908). Revista Médica de Bogotá, No. 334, febrero, p.
198-204.
Bejarano, J. & Sanmartín, R. (1923). La situación de la Cárcel de Menores de Paiba.
Informe. El Tiempo, 12 de diciembre 1923.
Beneficencia de Cundinamarca (1956-1957). Informes del Instituto de Higiene Mental.
Archivo Central de la Beneficencia, sección Sindicatura General 10-A.
Binet, A. & Simón, T. (1917). Niños anormales. Barcelona: Librería y Tipografía Médicas.
Cit.: Cadavid, T. & Velásquez, D. (1921). Informe de la Casa de Menores y
Escuela de Trabajo. Medellín: Imprenta Oficial. Sala Antioquia UdeA.
Buysé, R. (1933). Estudio crítico sobre los orígenes de la pedagogía Moderna I. Revista
Educación. Facultad de Educación Universidad Nacional. 1 (3), 134-146. En:
Yarza, Alexander (2011). Preparación de maestros, reformas, pedagogía y
educación de anormales en Colombia: 1870-1940 (Tesis de Maestría en
Educación). Medellín: Universidad de Antioquia, pp. 209-210.
Cadavid, T. (1920). Casa de Menores. El Correo Liberal, abril 19, pp. 155-156.
————— & Velásquez, D. (1921). Informe de la Casa de Menores y Escuela de
Trabajo. Medellín: Imprenta Oficial. Sala Antioquia U.de.A.
————— (1924). Discolía de la pubertad. Medellín: Imprenta Oficial.
Canguilhem, G. (1983). Lo normal y lo patológico. Argentina: Siglo XXI.
Congreso de la República de Colombia (1920). Ley 98 de 1920, “Por la cual se crean
Juzgados de menores para que se ocuparan de la atención al menor con
problemas de conducta”. Sf.
Cruchet, J-R. (1908). Les arriérés scolaires. Paris: Masson. Cit.: Cadavid, T. &
Velásquez, D. (1921). Informe de la Casa de Menores y Escuela de Trabajo.
Medellín: Imprenta Oficial. Sala Antioquia U.eA.
Cuervo, Luis (1921). Memoria que el Ministro de Gobierno presenta al Congreso de
1921. Bogotá: Imprenta Nacional, p. LXXXI.
Decroly, O & Buyse, R. (1923). Les applications américaines de la psychologie à
l’organisation humaine et à l’éducation. Bruxelles: Lamertin. Cit.: Cadavid, T.
(1924). Discolía de la pubertad. Medellín: Imprenta Oficial.
Foucault, M. (2003). Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo
XXI.
Hernández, E., et al. (2003). De la Sección de Psicotecnia al Laboratorio de Psicometría:
seis décadas de algo más que medición psicológica en Colombia. Avances en
Medición, 1 (1), pp. 6-16.
Jiménez L.M. (1920). Nuestras razas decaen. Algunos signos de degeneración colectiva
en Colombia y en los países similares. Memoria presentada al Tercer Congreso
378
Médico Colombiano reunido en Cartagena en enero de 1918. Bogotá: Imprenta
y Litografía de Juan Casis.
Lemkau, P. (1963). Higiene mental. México: Fondo de Cultura Económica.
Morel, B. (1857). Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de
l'espèce humaine… Paris: J. B. Bailliére, Académie Impériale de Médecine, p.
74. Disponible en: Bibliothèque Nationele de France, Gallica:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850762.r=B%20A%20Morel
Oficina Sanitaria Panamericana (1939). Sociedades e instituciones científicas de la
América Latina. Washington D.C.: diciembre, Publicaciones mimeografiadas, No.
84, p. 38. Repositorio de la OPS/OMS:
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/1092
Organización Mundial de la Salud (1949). Informe de la Primera reunión del Comité de
Expertos en Higiene Mental, Ginebra, Oficina Sanitaria Panamericana,
Washington, Serie de Informes Técnicos, No. 31, p. 7.
Ortiz, A. (2012). La Casa de Menores y Escuela de Trabajo de Santander y el Juzgado
de Menores de Bucaramanga, 1925-1939. (Trabajo de grado en Historia).
Facultad de Humanidades, Universidad Industrial de Santander.
Richard, G. (1911). Pédagogie expérimentale. Cit.: Cadavid, T. & Velásquez, D. (1921).
Informe de la Casa de Menores y Escuela de Trabajo. Medellín: Imprenta Oficial.
Sala Antioquia UdeA.
Richardson, T. (1989). The century of the child. The higiene mental movement & social
policy in the United States & Canada. Albany: State University of New York Press.
Rodríguez, J.M. (1896). Contribución al estudio de las degeneraciones de evolución.
Idiotez. (Tesis). Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá: Imprenta Medardo Rivas.
Sáenz J., Saldarriaga O., Ospina A. (1997). Mirar la infancia: pedagogía, moral y
modernidad en Colombia, 1903-1946. Bogotá: Colciencias, UdeA, FNC,
Uniandes, T. I, p. 55.
Stepan, N. (1991). The hour of eugenics: Race, Gender, and Nation in Latin America.
Cornell University Press.
Villamizar, F. (1957). Primeros datos de una exploración global del personal infantil que
atiende la Beneficencia de Cundinamarca. Revista Colombiana de Psicología,
Vol. 2, No. 1, pp. 75-91.
379
HISTORIA DE LA INFANCIA: A PROPÓSITO DE LA OBRA DE EGLE BECCHI Y
DOMINIQUE JULIA
Miguel Angel Gómez Mendoza Profesor maestría en historia Facultad de Educación- Universidad Tecnológica de Pereira-Colombia Correo electrónico: [email protected] María Victoria Alzate Piedrahita Profesora Licenciatura en Pedagogía Infantil Facultad de Educación- Universidad Tecnológica de Pereira-Colombia Correo electrónico: mvictoria @utp.edu.co Introducción
La obra Histoire de l´enfance en occident (Tome 1. De l’antiquite au XVIIe siècle; Tome
2. Du XVIIIe siècle à nos jours) publicada por la editorial Seuil en 1998 y dirigida por el
historiador italiano Egle Becchi y el historiador francés Dominique Julia, es sin duda
alguna, una referencia fundamental para la historiadores de la educación que se ocupan
de la infancia. En este contexto, esta documento expone una lectura de reseña del
primer capítulo203, esto es la introducción a esta obra de referencia en la historia de la
infancia que no ha sido traducida al español, y para ello se destacarán de manera muy
general y sucinta, los siguientes argumentos y aspectos historiográficos:
(1) ¿Una nueva ética para la infancia? Desde 1924 y hasta hoy, las grandes
organizaciones internacionales ocupan regularmente su atención en el mundo de la
infancia: no son solamente las declaraciones, recomendaciones e investigaciones que
se proponen ya sea describir la infancia tal como es ella en diversos países del mundo,
sino también las reflexiones sobre el niño que debería ser para corresponder a las
categorías deontológicas periódicamente determinadas y defendidas a propósito de
aquel que todavía no es adulto, estos discursos pertenecen al registro de voces
históricas sobre la infancia que debería ser.
(2) La infancia y su historia. La historiografía de la infancia ha avanzado
considerablemente desde los años treinta del siglo pasado. La demografía histórica ha
mostrado los elementos decisivos sobre las estructuras familiares, la infancia
abandonada o el surgimiento de las prácticas anticonceptivas. El desplazamiento del
203 Histoire de l’enfance, histoire sans paroles? Escrito por Egle Becchi y Dominique Julia. Páginas 7-39.
380
interés de los historiadores de una historia económica y política a una historia de las
costumbres y de las mentalidades a conducido a un giro que presta más atención a la
historia de la vida. Este desplazamiento de perspectivas se comprende mejor con
relación a la ruptura historiográfica que generaron dos obras de referencia: la de
Philippe Ariés (L’Enfant et la Vie familiale sous L’ Ancien Régime) y la de Lloyd de
Mause (Foundations of Psychohistory ); tres razones lo explican: (a) la configuración del
campo de la enseñanza universitaria de la historia y el lugar que ocupa la historia de la
infancia; (b) la crítica a la teoría linear de la historia y la periodización de la historia de la
infancia; y (c) la fuerte crítica, desde diversas perspectivas historiográficas sobre la
infancia, a la obra de Philipe Ariès y de Lloyd de Mause.
(3) La historiografía de la infancia después de Philippe Ariès y Lloyd de Mause. Diversas
desplazamientos han surgido desde entonces: (a) modificación en la distribución de las
edades de la vida asociada a la infancia; (b) la “hipermedicalización” de la procreación
y la “fabricación” de la infancia; y (c) la relación de la infancia de nuestras sociedades
con las profundas transformaciones sufridas por la familia.
¿Una nueva ética para la infancia?
Desde 1924 hasta hoy, las grandes organizaciones internacionales204 prestan
particularmente su atención al mundo de la infancia mediante declaraciones,
recomendaciones, investigaciones, que se relacionan ya sea con la descripción de la
infancia tal como ella es en diversos países del mundo, o a la aproximación a la infancia
tal como ella debería ser para corresponder a las categorías éticas periódicamente
determinadas y luego intencionalmente defendidas a propósito de aquel que no es
todavía adulto. Este discurso pertenece al registro de peticiones o deseos: se anuncia,
a propósito de la infancia, todo lo que es deseable respecto a su estado físico, las
condiciones y modalidades de su crecimiento, la diversidad de las individualidades, las
redes de relaciones en el marco de las cuales ella se debe desarrollar, los apoyos
necesarios para su plenitud y felicidad, las terapias propias para darle la salud.
La historia de este catálogo de la infancia tal como ella debería ser -que es un capítulo
importante del discurso sobre la primera infancia- está todavía por escribirse, pero una
204 Ver: Declaración des los derechos del niño. Asamblea general, 20 de noviembre de 1989. Una versión es español se encuentra en: http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf Igualmente los reportes anuales de la Unicef sobre el estado de la infancia entre 1996 y 2013, se encuentran disponibles en: http://www.unicef.org/spanish/sowc/
381
mirada rápida sobre los documentos de este tipo permite reconocer en ellos, el
tratamiento que se ha dado a la idea de infancia y su carácter significativo o emblemático
respecto a los discursos pedagógicos y descriptivos que se tienen en general sobre
ella. Es siempre el tono de exhortación que prevalece en estas páginas: “El niño debe
ser”, “será deseable”, “será oportuno”, “nos comprometemos”, “nos esforzaremos”, los
“derechos del niño”, este es el léxico recurrente en este tipo de documentos. Ahora bien,
se reconoce que esta literatura tiende a dar cuenta también de una realidad sobre las
consecuencias o resultados que se producen si estas iniciativas o incitaciones no se
siguen o adoptan; o al contrario, las consecuencias positivas obtenidas cuando se han
implementado las recomendaciones enunciadas. En los documentos que emanan
desde hace unas tres décadas, sea de la ONU, sea de la UNICEF, el niño debería
crecer en las condiciones de bienestar, en familia, en su propio país, beneficiarse de la
libertad de pensamiento, de creencia y de expresión, poder gozar de los medios y de
los cuidados físicos y pedagógicos necesarios para su desarrollo, tener el tiempo libre
para el juego y las actividades recreativas, estar protegido contra cualquier forma de
violencia y de explotación, ser tratado por la justicia de acuerdo a su edad en el caso en
que tuviera que enfrentar la ley. En resumen, un niño fundado por una nueva ética para
la infancia de la que habla el texto de la UNICEF de 1991, a la cual se opone, en las
mismas encuestas llevadas a cabo periódicamente por esta última institución –y por
otras-, una infancia real que parece, en muchas regiones del mundo, ser exactamente
lo contrario de todo aquello que desean las organizaciones internacionales. En efecto,
las imágenes como las estadísticas que llegan de todos los países del planeta, muestran
hasta donde la infancia del bienestar, el niño rey, el niño-objeto “libre” y “feliz” de la
publicidad, no es el modelo más extendido. Son por cientos de millones que se cuentan
todavía los niños en el trabajo. Incluso si la Oficina Internacional del Trabajo se esfuerza,
desde su fundación en 1919205, por erradicar el trabajo de los niños como una de las
violaciones más condenables de los derechos del hombre, su acción sigue siendo
limitada- simplemente porque, en muchos países, el trabajo de los niños es
indispensable para la sobrevivencia económica de la familia.
En este contexto, Becchi y Julia, con su obra no pretenden presentar una díptica206 que
opondría un Paraíso de la belleza física y moral del niño, producto de la implementación
205 Diversos informes y estudios acerca del trabajo infantil en el mundo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se pueden consultar en: http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm#a2 206 “(…) . f. Conjunto formado por dos tablas plegables, con forma de libro, en las que la primitiva
Iglesia acostumbraba anotar en dos listas pareadas los nombres de los vivos y los muertos por
quienes se había de orar. 2. f. Catálogo o serie de nombres de personas, generalmente de los
382
de las recomendaciones antes comentadas, a un Infierno de explotación, de muerte y
de violencia, o que incluso manifestaría la distancia entre la condición infantil de nuestro
presente, hic et nunc, y las situaciones que ha podido conocer la infancia en el pasado.
Entre estos dos polos extremos, como son el niño tal como debería ser y las realidades
que vive la infancia en diferentes contextos nacionales y regionales, hay un lugar para
los niños reales que no viven ni sobre el modo de la perfección ni en la abyección, están
los niños construidos por las ciencias del hombre y los saberes sobre la infancia. Están
simplemente los niños de la historia.
Desde finales del siglo XIX, y a lo largo del XX, la cultura científica, al multiplicar los
conceptos, las observaciones, las preguntas, ha explicado la realidad infantil según los
paradigmas que no siempre son satisfactorios. Si bien las proposiciones interpretativas
del psicoanálisis se encuentran entre las más ricas, las más interesantes, las más
provocadoras, también, ellas no pueden considerarse como la sola y única hipótesis
de lectura. Al lado de esta, otras psicologías y pedagogías, los estudios de antropología,
de sociología, de pediatría –tienen que decir su palabra en el siglo XX- porque se
dedicaron al estudio de la infancia.
La historia de la infancia que reseñamos no pretende, substituir a la pegajosa o
empalagosa historia de la infancia escrita en “agua rosa” extendida profusamente por
los medios, por una legenda “negra” de la infancia, esto sería igualmente falaz. Los
signos sociales, son con mucha frecuencia ambiguos, y el presente no es nunca
transparente. Pero, es posible, que más que cualquier otro objeto de las ciencias
sociales, el niño escape a menudo de su estudio histórico, él está por construir, y para
ello, es necesario, en primer lugar, deshacernos de las imágenes prefabricadas que se
divulgan y difunden sobre la infancia.
La infancia y su historia
¿Qué significa el proyecto de escribir una historia de la infancia? Se trata de articular la
generalidad de los parámetros sociales que se emplean para delimitarla o establecerla,
con la especificidad de cada infancia particular. Sin olvidar desde un comienzo que la
ambición afirmada se confronta inmediatamente con relación a los trazos y evidencias
que se pueden disponer. No se determinan en la historia de la infancia más que
obispos de una diócesis. U. m. en pl.” (En: http://lema.rae.es/drae/?val=d%C3%ADptica Consulta
realizada el 25 de agosto de 2014).
383
fragmentos, y es también excepcional que se pueda determinar con cierta facilidad al
niño como sujeto: los textos mismos de la infancia, cuando se poseen (lo que es valido
sobre todo para el siglo XX), no son fácilmente descifrables como tales, y deber ser
rigurosamente interpretados. De hecho, se determina a la infancia a través del prisma
que nos han dejado para cada período de la historia los adultos (legisladores,
pedagogos, escritores, pintores, padres, autobiógrafos que rememoran su propio
pasado, etc.); y es a través de estos trazos indirectos, que se debe intentar reconstruir
lo que pudieron ser las infancias de las épocas pasadas. Los objetos de la infancia, que
la arqueología y la museografía han clasificado y ordenado –vestidos, juguetes,
muñecas, entre otros-, solo pueden tomar sentido si se está en capacidad de reconstituir
lo que pudo ser su uso efectivo. Entre más nos remontemos en el tiempo, más las
huellas que podamos aprehender se revelan fugitivas, no es que el niño no haya tenido
su lugar, sino que simplemente la concepción de la infancia es otra.
Se debe entonces admitir que, incluso si el hilo cronológico de una historia de la infancia
como la que dirige Egle Becchi y Dominique Julia207, es en principio continuo208, el
conocimiento que se tiene de la infancia, es discontinuo y sembrado de huecos negros
y de preguntas todavía (y puede ser para siempre) sin respuesta.
En este marco, la historiografía sobre la infancia ha avanzado considerablemente desde
los años sesenta del siglo pasado. La demografía histórica, ha mostrado elementos
decisivos sobre las estructuras familiares, la infancia abandonada o el nacimiento de las
prácticas anticonceptivas. El desplazamiento del interés de los historiadores, de una
historia económica o política a una historia de las costumbres o las mentalidades, ha
llevado a orientar más la atención hacia la historia de la vida privada de la infancia, que
ya no es percibida bajo el modo de la diferencia extraña o penetrante que ella presenta
con relación a nuestros hábitos contemporáneos, sino según su propia lógica, en la
articulación que, en cada época, la relaciona y/o la separa del espacio público. Pero
este desplazamiento de perspectivas, que nos es familiar hoy en día, no era tan evidente
hace una generación.
207 Histoire de l´enfance en occident (Tome 1. De l’antiquite au XVII siècle; Tome 2. Du XVIII siècle à nos jours), Paris, Seuil, l998. 208 El lector podrá apreciar en el final del documento los cuadros de exposición del índice general de los capítulos que conforman los dos tomos de la historia de la infancia.
384
Una obra sobre la historia de la infancia puede ser considerado emblemática de una
cierta ruptura: L’Enfant et la Vie familiale sous l’Ancien Régime, de Philippe Aries209.
Esta fecundó todo un campo de investigación entonces ampliamente sin cultivar. En
mayor o menor grado, todos los historiadores que escriben hoy sobre la infancia, están
obligados -ya sea para criticarlo o para seguir sus conclusiones- a hacer referencia a
esta obra pionera que anexaría un nuevo territorio -quizás sea mejor decir un nuevo
sujeto- a la historia: la infancia.
El libro de Philippe Ariès se inscribe en la continuidad de las reflexiones que, desde 1848
el historiador y demógrafo había expuesto en la Histoire des populations françaises et
leur attitudes devant la vie depuis le XVIIIe siècle, donde ya había dedicado un capítulo
a “L’enfant dans la famille”. En una expresión que se puede traer aquí, Philippe Ariés,
destacaba de entrada, el giro decisivo de finales del siglo XVIII en su historia de la
infancia: “Hay un niño como hay un tercer estado según Sieyès. Se podría decir del
niño hacia 1780-1820: ¿qué era él ayer? Nada ¿Qué será mañana? Todo210.” Con esta
expresión Philippe Ariès quería significar la emergencia de una pedagogía destinada a
la edad más tierna (como la de Jean-Jacques Rousseau) y de una literatura
específicamente dirigida a la infancia, pero sobre todo la importancia que adquiría el
niño en el seno de la familia. La hipótesis de Philippe Ariès fue que la gran revolución
demográfica del siglo XIX, el maltusianismo, era ante todo “la modificación de un estado
de conciencia: la idea que se hace de la familia y del niño en la familia”. Sin duda, más
que cualquier otro, Philippe Ariès era sensible a las etapas de este largo proceso y
destacaba él mismo la vacuidad o insignificancia que se hubiera tenido de considerar
un paso brusco de un tipo a otro de familia: la cronología de esta evolución se
escalonaba, según él, sobre varios siglos, siguiendo una diferenciación social
descendente de las categorías más elevadas a las más humildes: sobre este punto,
precisando con mayor exactitud la fecha del fenómeno, los estudios recientes de
demografía urbana o rural le han dado la razón.
209 Ver: primera versión en versión es español: El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen,
Madrid, Taurus, 1987, cuya traducción se realizó con base a la edición francesa de 1960: P.
Ariès. L’Enfant et la Vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Plon, 1960.
210 P. Ariès. Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIIIe
siècle, Paris, Self, 1948. ; 2e éd., Paris, Éd. Du Seuil, coll, “Points”, p. 322. Ver al respecto en
español: Historia del control de nacimientos (coord. con Alfred Sauvy y Hélène Bergues y otros),
Barcelona, Península, 1972 .
385
L’Enfant et la Vie familiale sous l’Ancien Régime de Philippe Aries, se fundamenta en
una doble hipótesis. La primera, que fue la más discutida y criticada, es que la sociedad
tradicional no se representa al niño; en la sociedad medieval, el “sentimiento” de la
infancia, es decir la conciencia de la particularidad infantil, “esta particularidad que
distingue esencialmente al niño del adulto incluso joven” no existe: en cuanto el niño
podía vivir sin el concurso de su madre o de su niñera o de su cuidadora, él pertenece
a la sociedad de los adultos y ya no se distingue más. En realidad, lo esencial de los
intercambios afectivos o sociales de la infancia, sucedería fuera de la familia, en una
sociabilidad más amplia de vecinos o amigos, la de la comunidad rural o de vecindario.
Todo cambia -es la segunda hipótesis del libro de Ariès- con la separación del del niño
que tiene lugar en la época moderna por la conjunción de dos grandes movimientos. De
una parte, comienza el lento proceso de escolarización del niño desde el XVI que se
inicia con la escuela de caridad concebida para los pobres, aparece entonces el
aprendizaje y la escolaridad como modo de educación. Gracias a este puesta en
“cuarentena” en un lugar separado (“escuela”), va a poder efectuarse la moralización de
la infancia, como deseaban los reformadores tanto católicos como protestantes, que
querían formar hombres razonables y buenos cristianos: niños pobres o ricos serán
desde entonces “bien” educados o crecidos. De otra parte, el retiro conjunto del niño de
la sociedad de los adultos y la familia para conducirlo a la esfera de lo público, en
especial la escuela, habrán de esta manera contribuido a definir su identidad y la honda
imagen de un amor para con la infancia que llega a ser obsesivo e invasivo a partir del
siglo XVIII.
La obra de Ariès no ha estado exenta de críticas. Muchas de sus aserciones sobre la
infancia en la Edad Media son consideradas equivocadas por la crítica historiográfica.
De cierta manera, estos errores tienen que ver con el método mismo empleado por
Ariès, que parte de una pregunta contemporánea y retrotrae a partir de ella el curso de
la historia. Hay en él una obsesión de fechar el origen del sentimiento de la infancia,
como lo ya lo anotó Jean-Louis Flandrin, quien, subrayaba que los sentimientos de
aquella época sobre la infancia difieren de aquellos de hoy en día. Es verdad que en
1948, Philippe Ariès situaba la gran ruptura en el momento del nacimiento del
maltusianismo, es decir a finales del siglo XVIII; en 1960, él ubicaba el nacimiento de la
infancia en el Renacimiento; en 1973, en el prefacio de la segunda edición de L’Enfant
et la Vie familiale sous l’Ancien Régime, admitía la precisión del reproche que le había
dirigido Jean-Louis Flandrin, argumentando que “es una falta que se puede difícilmente
evitar cuando se procede por la vía regresiva como lo he hecho siempre en mis
386
investigaciones211”, y confesaba que, si era necesario de nuevo pensar este libro que
inició veinte años atrás, él se cuidaría “mejor de la tentación del origen absoluto, del
punto cero”, e insistiría más sobre “la Edad Media y su rico otoño”.
Otra crítica de fondo, se planteó a la obra de Ariès: el descuido de los desarrollos de la
de la psicología moderna. Porque el niño no es solamente el vestido, los juegos, la
escuela e incluso ni el sentimiento de la infancia, es una persona, un desarrollo, una
historia que los psicólogos y pedagogos intentan reconstituir. En este sentido, una de
las debilidades de la interpretación de Ariès, según sus críticos, es su su
desconocimiento de los logros de la psicología moderna; el autor no logró analizar con
profundidad los primeros años de la vida, aquellos que preceden a la edad de siete años:
este aspecto queda en gran parte inexplorado, y la idea de que en la Edad Media,
durante esta primera etapa de la existencia, el niño era abandonado sin cuidados
particulares, parece discutible. En realidad -y esto es justamente lo que enseña la
psicología moderna-, el niño pequeño pasa por toda una serie de fases capitales y
extremadamente complejas antes de alcanzar la edad de siete años. El niño “cuenta” o
“narra”, es decir, él puede comunicar con los adultos, mantener relaciones complejas
con ellos, realizar solicitudes, inspirar amor o exasperación- mucho antes de pertenecer
a la sociedad de los adultos.
Es la suerte de todo libro fundador, el objeto de crítica sin piedad. y la fecundidad de
esta obra Philippe Ariès, corresponde, sin duda, a la medida de la intensidad del debate
que suscitó en el conjunto de las ciencias sociales y a las nuevas investigaciones que
generó por el desafío de las tesis enérgicas que propuso. Si bien, hoy algunas de sus
afirmaciones no son aceptables, su libro permanece como punto de partida obligado
para cualquier historia de la infancia, y se debe señalar y reconocer la deuda de los
historiadores de la infancia al respecto.
La discusión alrededor de la historia de la infancia también se extiende al desarrollo de
toda la escuela psico-histórica americana, cuyo promotor más brillante es Lloyd de
Mause212. Este se inscribe deliberadamente contra las tesis de Ariès, al que acusa de
211 P. Ariès, préface à la 2e éd, de L’Enfant et la Vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Éd. du Seuil, 1973, p. vii. 212 L. de Mause, “The Evolution of Childhood”, en History of Childhood Quartely, vol. I, 1974, p. 503-575. El texto aparece igualmente en el libro del mismo autor: Foundations of Psychohistory, New York, The Institute for Psychohistory, 1982; traducción francesa: Les Fondations de la psycho-histoire, Paris, Presses Universiatires de France, 1986; traducción española: Historia de la Infancia. Madrid, Alianza Editorial, 1994.
387
minimizar “los malos tratamientos sexuales infligidos a los niños de dominio público”: la
“masa de pruebas” habrían sido de esta manera “ocultadas, desfiguradas, suavizadas
o dejados de un lado”. La idea de que el niño tradicional era feliz, es a los ojos de Lloyd
de Mause, simplemente insostenible: de hecho “la historia de la infancia es una pesadilla
de la que recientemente hemos comenzado a despertarnos. Entre más remontamos la
historia, el nivel de cuidado ofrecido a los niños es más bajo y más grande el riesgo de
ser asesinados, golpeados, aterrorizados y sexualmente utilizado y abusado213”. Esta
afirmación se fundamenta sobre los presupuestos de la teoría psico-histórica que, a su
vez, han sido discutidos por la historiografía sobre la infancia.
El primer postulado de la psico-historia de la infancia es una teoría del cambio histórico
que aprecia en los cambios “psicogenéticos” de la personalidad, es decir en los cambios
producidos por la interacción de los padres y niños durante generaciones, el motor de
la historia. La evolución de las relaciones entre padres e hijos que nace -según el psico-
historiador norteamericano- de la capacidad de los padres de una generación dada para
regresar a la edad psíquica de sus niños y para encontrar las mejores maneras de
resolver sus ansiedades que ellos mismos sufrieron durante su propia infancia- es una
causa autónoma de cambio histórico que actúa independientemente de todo cambio
social o tecnológico.
El segundo postulado, se fundamenta sobre una teoría lineal de la historia: esta última
“produce un mejoramiento general de la suerte de los niños” y la periodización de los
modos de relación más corrientes entre padres y niños “en la parte más evolucionada
de la población y en los países socialmente más avanzados” desemboca en un esquema
de seis modos que se aparecerían sucesivamente: del modo “infanticidio”, nacido en la
Antigüedad, hasta el modo “cooperativo”, que remonta solamente hasta mediados del
siglo XX, pasando por el modo “rechazo” que cubre gran parte de la Edad Media, el
modo “ambivalente” (siglos XIV-XVII), el modo “avasallador” del siglo XVIII (donde
progresa una reacción “empática” de los padres respecto a sus niños), el modo
“socializador” que surgió en el siglo XIX.
Ahora bien, la obra de Lloyd de Mause fue objeto de serias objeciones. La constitución
misma del repertorio de hechos que expone plantea un problema para la historiografía
de la infancia. Sus críticos consideran que los hechos establecidos son deliberadamente
sacados de su contexto histórico (sin que, por lo demás, exista el menor interés en el
213 L. de Mause, Foundations of Psychohistory, op.cit; trad. fr., p. 37.
388
historiador norteamericano, incluso el más elemental, de crítica histórica del testimonio
empleado) para servir de “almacén” de accesorios para la demostración y ser
clasificados al interior de uno de los tres tipos de relaciones que un adulto puede tener
con un niño: reacción “proyectiva”, reacción “retroversiva”, reacción “empática”. Parece
entonces que la psico-historia siendo una ciencia “comparativa”, no sabría “de antemano
especializarse en un campo de la historia como un astrónomo en una región del cielo”:
el psico-historiador se ve avocado entonces a “saltar de una época a la otra”. Lloyd de
Mause, agregan sus críticos, llega entonces a una extraña alquimia que parece una
documentación histórica heteróclita o extraña relativa a los malos tratos sufridos por los
niños (de la castración a los castigos corporales y a los abusos sexuales) y la filtra según
los presupuestos iniciales.
La historiografía de la infancia después de Philippe Ariès y Lloyd de Mause
Desde finales de los años 1970, en el momento en que Philippe Ariès escribe el artículo
“Infanzia” en la Enciclopedia editada por Einaudi214, la historiografía sobre la infancia se
enriquece y se fragmenta. Tres elementos mayores han considerablemente modificado,
desde los años 1950, la relación de nuestras sociedades con la infancia y su historia.
El primero, es una modificación considerable en la distribución de las edades de la vida:
los umbrales que caracterizan los pasos de la infancia a la juventud y de la juventud a
la edad adulta, se han progresivamente desvanecido una vez más. Globalmente
hablando, el paso de la infancia a la juventud estaba marcado por el fin de la acción de
frecuentar la escuela elemental: ir a la escuela era un ritual. De otra parte, el paso entre
la juventud y la edad adulta, ya no es tan evidente porque ya no es el matrimonio quien
marca este “paso”. Sin embargo, en el curso de los últimos treinta años del siglo XX, los
umbrales que reglaban la existencia colectiva se borraron. Lo que paso en realidad, no
es solamente una prolongación general de la escolarización, ni una simple lógica de
traslación que habría hecho deslizar o mover los umbrales de entrada a la vida adulta a
una edad más avanzada, se asistió a la progresiva desaparición del sincronismo que
caracterizaba la superación de los diferentes umbrales que definían los límites sociales
de las edades de la infancia y la juventud.
214 P. Ariès, artículo “Infanzia”, en Enciclopedia, t, VII, Turin, Einaudi, 1979.
389
La segunda transformación es consecuencia de la llamada “hipermedicalización” de la
procreación: la fecundación in vitro, los vientres de alquiler y la “programación” genética
del nacimiento de los niños. De hecho, se trata de llamar la atención sobre los problemas
extraordinariamente complejos que suscita la rapidez de los progresos técnicos en el
campo de la procreación: los médicos encargados de curar las enfermedades y de
luchar contra las patologías, los clínicos se convierten en experimentadores que
transforman el engendramiento en una verdadera “producción”, donde el cuidado del
logro y el control continuo de la “fabricación”, prevalece sobre el deseo humano del
niño.
El tercero elemento, que por ser último no menos importante, es la modificación de la
la relación de nuestras sociedades con la infancia y las transformaciones que ha
conocido la familia a lo largo de los últimos años. La baja de la nupcialidad, el aumento
de las prácticas de cohabitación o convivencia (juvenil o no) y las separaciones de
parejas (se trate de divorcios o separación de uniones “libres”), demuestran un proceso
de fragilidad creciente del vínculo conyugal que tiende a fundamentar desde ahora la
condición parental sobre la inconstancia de los amores humanos. El fenómeno es ahora
masivo: las disociaciones familiares de hoy en día cuestionan el modelo conyugal
tradicional, obligando a repensar en un nuevo enfoque las fronteras y los territorios de
la familia con la emergencia de una nueva figura: el padrastro, ¿qué nuevo tipo de
parentesco se establece entre los hermanos de familias recompuestas?
Sin duda, hoy no existen a propósito de la historia de la infancia, tentativas de síntesis
tan ambiciosas como la de Philippe Ariès o Llloyd de Mause; sin embargo, el desarrollo
de los campos de la historia de la infancia en nuestros días, no se puede explicar sin la
referencia a tres de ellos:
(a) La historia de la educación ha conocido desde hace veinte años un desarrollo
considerable en Europa y las Américas por varias razones, una de ellas tiene que ver
con la atención prestada a la evolución de las instituciones educativas, a su
funcionamiento social y a las disciplinas escolares no puede estar disociada de la
escolarización masiva que caracterizó los treinta últimos años del siglo pasado y la
primera década del XXI.
(b) El interés por la historia del nacimiento y del parto en los períodos antiguos, está
explícitamente relacionada por los autores que se han ocupado con la medicalización,
el desarraigo este acto esencial del medio familiar (el nacimiento y el parto) para
390
transferirlo al hospital, “exilando” de esta manera a la mamá al medio de las blusas
blancas que garantizan en principio la seguridad clínica de este paso decisivo para la
sociedad, la familia y la infancia.
(c) La historia de la familia ha sido uno de los campos más visitados en la historia de la
infancia: si bien es verdad, que las pacientes reconstituciones de familias llevadas a
cabo por los demógrafos historiadores en el desarrollo de sus exámenes de los registros
de bautismo o de estado civil, así como los estudios de las estructuras de parentesco
realizados por los etnólogos, invitan a ampliar sus análisis, es claro que las explosiones
y profundas transformaciones de la familia contemporánea no están ausentes de las
preocupaciones de los historiadores: para calificar las transformaciones que acompañan
el paso a la sociedad industrial, la familia “moderna” vería el fin de su modelo único. Los
historiadores apoyándose sobre las autobiografías, los diarios íntimos y las
correspondencias de los miembros de las diferentes familias se esfuerzan por analizar
los cambios intervenidos en la estructura psicológica de la familia moderna y
contemporánea, junto a la historia de los papeles tanto maternales como paternales.
Finalmente, es conveniente anotar que la finalidad de la obra objeto de este comentario
de reseña historiográfica (Histoire de l´enfance), no es la pretensión esbozar una
historia continua de la infancia de los orígenes hasta hoy. La infancia, es un objeto de
la historia extremadamente difícil de aprehender porque no se delimita casi nunca in
vivo, sino solamente a través de las huellas que los adultos dejamos.
No solamente los elementos a partir de los cuales el historiador puede pretender fundar
su reconstitución son discordantes según los períodos que él estudie; también es
probable, que el funcionamiento de las sociedades y de las culturas en las cuales se
han insertado las diversas infancias, ha variado considerablemente, lo que prohíbe
postular una identidad histórica infantil dada a priori, un ya aquí de la infancia que el
historiador debe volver a encontrar.
En este marco, uno de los propósitos principales de la historia de la infancia de Becchi
y Julia, fue por el contrario: encontrar los límites en los cuales se inscribe cada período
el proceso de la infancia, medir las obligaciones que ejercen sobre ella las prácticas y
los discursos normativos, pero también el juego y las distancias que los actores pueden
introducir al interior de la red social y cultura que ciñe a la infancia. En resumen, se debe
buscar buscar presentar la infancia como problema, destacando las especificidades
históricas propias de cada época.
391
La arquitectura de los dos tomos de su historia de la infancia, como se aprecia en los
dos cuadros que reúnen su contenido por capítulos, es una muestra de cómo sus
autores, quisieron asociar una perspectiva de conjunto y una preocupación por la
particularidad. Es quizás la mejor manera de dar cuenta del estado presente de la
investigación histórica sobre la infancia: el cambio de escala en el análisis que permite,
por las condiciones de observación más finas que crea, lecturas y cortes diferentes
sobre este nuevo objeto y sujeto de la historia y la historiografía.
Histoire de l´enfance en occident
(Tomo 1. De l’antiquite au XVIIe siècle)
Capítulos y autores
Histoire de l’enfance, histoire sans paroles? (Egle Becchi y Dominique Julia)
La Antigüedad (Egle Becchi)
L’enfant dans la culture romaine (Jean-Pierre Néraudau)
Le Moyen Age (Egle Becchi)
Une enfant sainte, une sainte des enfants: l’enfance de Sainte Élisabeth de Hongrie
(1207-1231). (Michael Goodrich)
Humanisme et Renaissance (Egle Becchi)
L’enfant, la mémoire et la mort dans l’Italie des XIVe et XVe siècles (Christiane
Klapisch-Zuber)
L’image de l’enfant dans les traités de pédagogie du XVe siècle (Eugenio Garin)
Colloques scolaires et civilités pueriles au XVIe siècle (Franz Bierlaire)
L’enfance aux debuts de l’époque moderne (Dominique Julia)
392
Message et réalite. L’iconographie de l’éducation des enfants et sa signification morale
dans la peinture de genre hollandaise du XVIIe siècle (Jeroen J.H. Dekker)
La dévotion à l’Enfant Jésus au XVIIe siècle (Jacques Le Brun)
La poupée et le tambour, ou de l’histore du jouet en France du XVIe au XIXe siècle
(Michel Manson)
Histoire de l´enfance en occident
(Tomo 2. Du XVIIIe siècle à nos jours)
Capítulos y autores
L’enfance entre absolutisme et Lumiéres (1650-1800) (Dominique Julia)
Des enfants sans enfance: sur les abandonnés de l’époque moderne (Jean-Pierre
Bardet y Olivier Faron)
Le XIXe siècle (Egle Becchi)
Le travail des enfants aux XVIIIe et XIXe siècles (Serge Chassagne)
Enfance et famille au XIXe siècle (Carlo A. Corsini)
Les premières écoles enfantines et l’invention du jeune enfant (Jean-Noël Luc)
Enfants handicapés, du XIXe au XXe siècle (Monique Vial)
Le XXe siècle (Egle Becchi)
La littérature moderne pour enfants: son évolution historique à travers l’exemple
allemand du XIXe au XXe siècle (Hans-Heino Ewers)
Écritures enfantines, lectures adultes (Egle Becchi)
L’enfance et le cinema de Federico Fellini (Giovanni Scibilia)
393
HOLOCAUSTO Y OTROS GENOCIDIOS. TESTIMONIOS DE SOBREVIVIENTES
REPENSADOS POR NIÑOS EN EL ESPACIO ESCOLAR.
Ana Diamant
Gabriela Souto
Mercedes Alonso
Facultad de Psicología- Universidad de Buenos Aires
[email protected] [email protected]
“Hasta ese entonces siempre contaba mi historia de la vida de la guerra, de lo
que pasó, pero después de lo que pasó a mi hijo ya se me hicieron dos historias,
ya tengo dos historias terribles para contar (…) Yo creo que la memoria es lo
394
más importante, no tenemos que perder la memoria, porque lo que nos mantiene
con vida creo que es la memoria también” 215
El trabajo presentará avances de las experiencias que surgen a partir de entrevistas
realizadas a niños y docentes que han presenciado testimonios y dialogado con
sobrevivientes del holocausto y otros genocidios en el contexto del espacio escolar.216
Abordar sucesos del pasado reciente en términos de las experiencias individuales de
quienes los han vivenciado supone recuperar contenidos que no sólo refieren a la
historia sino que remiten a comportamientos sociales complejos que movilizan fuertes
emociones tanto para quienes narran como para quienes escuchan, se transmiten
mediante la palabra y a través de la gestualidad, los relatos en la voz de los
protagonistas con sus acentos, tonos, ritmos y silencios revelan sentidos y permiten
resignificar interpretaciones previas despertando sentimientos en todos los actores
involucrados.
Las funciones de las instituciones, los actores sociales, las lógicas cotidianas y
habitualidades en contexto de guerra quedan desreguladas, invertidas o estalladas y
entran en conflicto con categorías como el cuidado, la alimentación, la protección, la
verdad y la justicia promoviendo en quienes escuchan preguntas ayudas para
comprender, para propiciar la construcción de nuevos sentidos, aún en aquellos tramos
en los que el relato bordea de manera sinuosa la superficie de lo imaginable, los límites
de lo pensable y emerge la imposibilidad representativa que impone el horror.
Se considerarán aspectos ligados al recorrido metodológico de la investigación, al
contenido histórico, al testimonio como posibilidad de reparación, como ejercicio de la
memoria y como dispositivo didáctico potenciador de múltiples y diversos aprendizajes.
Se hará referencia a los procesos de mediación en el contexto escolar desde el lugar de
quienes gradúan sus relatos en función de los efectos que producen, desde los docentes
que acompañan y sostienen la experiencia sin dejar de tener en cuenta la necesidad de
apelar a un trabajo de anticipación, estrategias de cuidado e instancias elaboración
requeridas para las posibilidades de tramitación de quienes participan en un encuentro
que los invita crear una construcción colectiva y plural de la historia.
I. Contar para restituir la historia, para restaurar la trama, para comprender.
215 Sara Rus. Testimonio 2005 216 Se hará referencia particularmente a las experiencias realizadas durante los últimos dos años en la Escuela Primaria del Instituto Sarmiento -Sholem Buenos Aires con alumnos de 70 grado que tuvieron la oportunidad de escuchar a Lea Novera y a Sara Rus.
395
"¿Por qué sucedió? El interrogante viene después de la respuesta, la de lo real.
Surgido en el instante del traumatismo, es la única y lacerante formulación de lo
indecible a lo que el sujeto se ve confrontado en su encuentro con un
acontecimiento traumático" Guy Briole
El estudio y la reflexión en torno al holocausto y otros genocidios perpetrados durante
el siglo pasado, a partir de testimonios de sobrevivientes, repensados por niños en el
contexto escolar, permiten abordar acontecimientos claves de la historia que interpelan
en términos personales, saberes, actitudes y valores en materias fundamentales como
el respeto a la diferencia, a la alteridad, la solidaridad y la cooperación en la construcción
de los vínculos sociales.
La enseñanza del pasado reciente en la escuela se sostiene en la idea de que el ejercicio
de la memoria es un compromiso con la vida. Desde la educación entendida como una
puesta a disposición del pasado en diálogo con el presente y el futuro se promueve la
reflexión, la pregunta y un posicionamiento activo que sólo puede lograrse al sentirse
parte del pasado común. La transmisión de los derechos fundamentales al interior del
aula refuerza la participación, la inclusión y la responsabilidad (Adamoli y Flachsland,
2014) reactualizando su condición de conquistas sociales217.
Entre el adulto que estuvo allí, vio y cuenta y el niño que está acá y escucha, pregunta,
relaciona, se urden solidaridades a partir de informaciones que subvierten
habitualidades en categorías tales como infancia, aprendizaje, lugar del adulto,
transmisión de valores, enseñanza, alimentación, tenencia de objetos, salud, que se ven
descolocadas de las lógicas con las son pensadas en la escuela y en la vida cotidiana
(Diamant, 2014). Quienes asumen el compromiso de contar no sólo dan voz a sucesos
dolorosos, difíciles e inexplicables sino que revelan con su presencia, a través de la
mirada, mediante silencios, tonos y gestualidades, diversas emociones que invitan a la
construcción de múltiples sentidos en los ritmos singulares que adquiere la narración.
217 El Ministerio de Educación de la Nación Argentina incorporó la conmemoración del
19 de abril Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural en recuerdo del
Levantamiento del ghetto de Varsovia (1943) y en homenaje a las víctimas del
Holocausto, para preservar la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo. El 14 de enero de 2014, fecha establecida como
el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del
Holocausto, el Ministerio de educación inauguró el fondo bibliográfico “Memoria y
Holocausto” con sede en la Bliblioteca Nacional de Maestros.
396
La comunicación oral privilegia la subjetividad, restituye sobre el plano lingüístico la
búsqueda de sentido y constituye en sí misma un evento de la historia que produce
efectos sobre los comportamientos colectivos e individuales (Portelli 2005). A la cualidad
reparatoria que conlleva la rememoración de los acontecimientos para quien narra se
añade el valor del testimonio como dispositivo didáctico. La transmisión en acto hace
presente lo imposible de decir, generando un espacio que propicia posibilidades de
subjetivación potenciadas en el encuentro con los otros y en los intercambios dialógicos
de todos los que participan de la experiencia, como se revela en la vivencia de un
alumno que tras escuchar un relato que lo conmueve tiene la oportunidad de expresar
sus sentimientos e interrogar por la dificultad de quien cuenta y recibe como respuesta
“era difícil empezar a contar la historia(…) hay cosas, hay imágenes que yo recuerdo
(...) algunos me traen mucha tristeza y otras me traen mucha satisfacción que todavía
tengo, esta fuerza que tengo todavía, esta memoria que espero tenerla todavía un
tiempito ¿no? para poder contar (…) pero esas cosas están dentro mío, yo las tengo y
por eso las tengo que contar pero quiero que ustedes jamás lleguen a estas cosas y
jamás pasen estas cosas" (S.R. 88 años)
La transmisión de la historia en registro oral como recurso permite conocer la
construcción de sentidos y significados (que tienen en el presente y tuvieron en el
pasado) de los acontecimientos vividos por quien recuerda, sus apreciaciones,
interpretaciones y perspectivas sobre su participación - y la de los otros – en
determinados procesos sociales, como también en los acontecimientos sobre los que
recuerda (Novelo, 1990). Expresado en las palabras de una sobreviviente “nadie se
imaginaba, porque una tragedia así no entra en la mente humana, nadie esperaba lo
que iba a poder pasar (…) cuando a mí me preguntan cuál es mi legado (...) es dar más
testimonios (...) Ustedes ni se imaginan. Y fui a lugares totalmente insólitos (…). Pero
considero que es lo menos que puedo hacer, este es mi aporte, lo que yo puedo hacer
(…) y la importancia es que el mundo se de cuenta, que los chicos, sobre todo los
estudiantes, se den cuenta que se deben involucrar. Que si un pueblo es agredido en
ese momento, mañana pueden ser agredidos ellos (…) en todos esos episodios que yo
viví, también está la pregunta (…) no es la pregunta, es la pauta, que en momentos, en
situaciones límite, el ser humano puede hacer la peor barbaridad y puede ser el más
grande altruista y dar de sí lo que jamás uno se hubiese imaginado” (L.N. 87 años)
Si la violencia ejercida en la guerra atenta contra el semejante, desgarra la vida familiar
y desregula los parámetros sobre la vida y la muerte, tornando la existencia incoherente
e inasible (Miñarro y Morandi 2012) el propósito de contar y de escuchar sucesos del
pasado reciente en un espacio íntimo y público como la escuela apela a generar
sentidos diversos que permitan recrear la historia, a (re)velar lo inexplicable mediante el
397
lenguaje y a restaurar los lazos intergeneracionales en pos de una elaboración colectiva
y conjunta de la historia.
La incorporación de los testimonios orales en las actividades de aprendizaje que se
desarrollan en el aula, apoyados por otros documentos como las fuentes escritas, las
fotografías, la música y otros materiales auxiliares permite comprender diferentes
perspectivas y valoraciones de los hechos e incluye a quienes participan como testigos
de la historia (Mariezkurrena Iturmendi, 2008). Involucrar a los estudiantes en
experiencias narrativas con quienes han sobrevivido al horror que impone la guerra y
están aquí para contarlo, facilita una mayor identificación con el pasado, hace
enseñanza y aprendizaje sobre contenidos que articulan a la historia y permiten
proyectarse a un futuro.
La transmisión deja constancia de lo acontecido para que quede inscrito en la memoria,
si la historia hace a la condición de sujeto humano es porque en ella el sujeto se
encuentra involucrado, en la memoria de un pueblo son sus marcas imborrables, en
recordar para no repetir (Morales, 1997).
II. Transmisión y mediación didáctica, testimonios que hacen escuela.
"Que la historia ocurre en las palabras es algo tan cierto como repudiado,
arriesgarse a las palabras, volverse hacia el lenguaje supone entonces un gesto
político" Perla Sneh.
El texto oral mientras fluye es una “marca” y se hace marca en la memoria, en el
discurso, en el análisis del pasado, en la relación entre presente y futuro (Diamant.
2014). Al abordar hechos traumáticos de origen social, produce alteraciones
emocionales y cognitivas que operan en distintos planos según los diferentes niveles de
compromiso y exposición que se haya tenido ante los mismos. Las situaciones
traumáticas se acompañan siempre por rupturas con personas significativas, daños
corporales, privación de objetos, pérdida de espacios significativos, de patrones y
hábitos temporales (Kordon, Edelman, Lagos, Kersner, 1998). Para el testimoniante, la
palabra es una posibilidad de resignificar lo vivido y de hacer presente aquello indecible
sobre lo acontecido. Quienes escuchan construyen sentidos sobre el pasado, se
vinculan con la historia mediante una dimensión individual y subjetiva, entre emisores y
receptores de los relatos y se produce una construcción simbólica que construye
identidades de manera solidaria (Franco y Levín, 2007) con las condiciones que impone
el contexto, en este caso el ámbito escolar.
398
Las transmisiones dirigidas a la descendencia son generadoras de sentido histórico,
tienen por función la inscripción en la cadena de filiación, en una cadena genealógica
que incluye al sujeto en la continuación de una historia que lo antecede (Schlemenson,
2001). Aún en aquellos tramos donde contar lo que precede pueda llegar al límite de lo
tolerable y la escucha se hace dolorosa e incómoda se impone la riqueza que posee la
narración en primera persona por parte de aquellos que han sido protagonistas de los
sucesos, no sólo porque otorga sentido al sufrimiento sino por el valor pedagógico que
adquiere el testimonio en la construcción de la identidad singular y colectiva. Los
comentarios realizados por los niños que interactuaron con sobrevivientes - algunos de
ellos efectuados durante el encuentro, otros recuperados luego por medio de entrevistas
– destacan “la verdad es que me gustó mucho que haya venido (…) que lo haya contado
desde su punto de vista es diferente (…) porque cuando nosotros vemos una imagen
sabemos lo que está pasando pero no lo que ellos sentían (…) nosotros sabíamos un
poco pero era más de lo que pensábamos ” I
Otra alumna reconoce “nosotros leímos un montón de testimonios parecidos de la
misma situación y no fue lo mismo que ella viniera y lo contara en persona (…) no sé,
costó mucho por eso me llegó mucho más” II
Hubo quienes se conmovieron y pudieron manifestar alegría “por todo lo que pudo hacer
y sobrevivir a algo tan fuerte” III otros que se sintieron privilegiados y agradecidos por
presenciar el relato “no sé como decirlo, me siento como... no sé, como ... agradecido y
escuchar toda esta historia que nos contaste que siento, que lo valoro mucho” IV
Otro alumno menciona “Yo me acuerdo que le pregunté, yo mismo, si tenía algún sueño
y ella me dijo que su único sueño era un pedacito de pan por día y que con eso le
bastaba y que era con lo único que soñaba, un pedacito de pan (…) primero por lo que
le pasa en la segunda guerra mundial y el holocausto y después lo que le pasa acá con
la dictadura (en referencia a la desaparición de su hijo durante la última dictadura en la
Argentina) es algo muy fuerte tenerla frente a mis propios ojos después de todo lo que
pasó (…) contándome algo tan fuerte como lo que ella vivió y sobrevivir dos veces (…)
fue un honor.” V
También están aquellos a los que el testimonio les permitió reconstruir retazos de
historia familiar “Yo tengo... bueno tenía un abuelo que también sobrevivió a esto de los
nazis y otro abuelo que no sobrevivió que es desaparecido (…) uno es mi abuelo paterno
y el otro materno y gracias porque yo siempre quise saber… la historia de mi abuelo y
no podía preguntarle (…) bueno yo tampoco sabía nada y después no tuve la posibilidad
de preguntárselo” VI
Mediatizar para niños contenidos que producen movilizaciones afectivas intensas, que
entran en colisión con representaciones naturalizadas sobre la cotidianeidad de su
399
mundo, como el derecho a la protección, a la comida, al abrigo, al juego, pone en alerta
a todos los actores institucionales involucrados, obliga a revisar consideraciones que
atraviesan –en clave histórica y presente- desde la propuesta curricular hasta la
actividad del aula, suponiendo un alto impacto emocional para todos los involucrados.
Pone en cuestión algunos supuestos teóricos habituales en relación con la organización
de contenidos para la enseñanza, con las prácticas de transmisión y con las actividades
de aprendizaje (Diamant, 2014)
Exige por parte del docente un trabajo de aproximación gradual a los acontecimientos
históricos con la finalidad de que cada alumno pueda ser parte de la experiencia de
aprendizaje desde las tareas y roles que resulten afines a su singular capacidad de
tramitación subjetiva, en este sentido una docente expresa “ esta visita fue el final de
una investigación que nosotros hicimos sobre la segunda guerra mundial y la shoá en
donde ellos hicieron una exposición que el día que vino Sara estaba colgada y ellos
tenían muchas ganas de mostrársela (…) A mí me emocionó mucho el relato de Sara,
pero lo que me hizo emocionar hasta las lágrimas fue lo que a mis alumnos les estaba
pasando con eso (…) yo me acuerdo mucho de una de las chicas que al terminar dijo –
mirá, nosotros leímos mucho esto, estudiamos mucho, investigamos, miramos una
película, vimos imágenes- hizo todo un recorrido y dijo – pero nada me emocionó como
escucharte a vos” VII
Supone la oferta de espacios psíquicos que den lugar a la manifestación de las
emociones en un clima de confianza, con las garantías de respeto, disponibilidad
afectiva y de acompañamiento entre pares, docentes, directivos. En relación con ello
una docente comenta “fue el espacio que permitió que aflojen esos sentimientos , me
parece que están siempre presentes pero fue el lugar permitido, ideal para eso, estaban
súper conmovidos y ayudándose a escuchar, es inevitable pensar en el sufrimiento, en
el dolor, pero trabajamos mucho en el resistir (…). Le preguntaban otras cosas, por la
historia de amor, por la música, por el violín, por esas cosas” VIII
Compele al establecimiento de intervalos acordes a los procesos de elaboración
requeridos a nivel individual y grupal y demanda el compromiso de los alumnos en la
apropiación del relato y en la recreación de nuevas significaciones del pasado de
acuerdo a sus resonancias más íntimas, en el diálogo entre pares y adultos todos se
constituyen intersubjetivamente y se afilian a una misma historia.
La impronta del testimonio en los alumnos se manifiesta en las sensaciones que
comparten “la verdad lloré casi todo (…) cuando empezó fue horrible (…) nos mostraba
el tatuaje” IX Se aprende de la historia y se aprende a cooperar, a contener un
compañero “estábamos todos muy shockeados porque era muy fuerte y cuando, yo en
400
un momento estaba llorando mucho y me fui al baño y me acompañaron dos amigas y
no podíamos creer lo que nos estaba contando” X
Por su parte quien testimonia hace marca a partir de lo que cuenta y por la relación que
mantiene con lo que transmite, con las variaciones que introduce en el relato de acuerdo
a los distintos modos en que el testimonio es acogido por quienes escuchan, de esta
manera las comunicaciones se modulan en función de la información gestual, actitudinal
y emotiva de quienes escuchan, como cuando la directora destaca “ella [la
sobreviviente] hizo mucho hincapié en todas aquellas cosas o personas que fueron
ayudándola mucho, a pesar de haberse quedado sin familia [los chicos] preguntaban
varias veces cómo fue que seguís acá (…) hizo una introducción bastante importante
que me parece que quería empatizar con ellos en el sentido de relatar que tenía la
misma edad de ustedes, estaba en la misma que ustedes, estaba deseosa por empezar
mi escuela secundaria, estaba llena de proyectos. Pasé una parte de una buena vida
porque quedé de este lado y entonces nos fuimos para Rusia y si bien al principio la
pasé mal porque no entendía nada, después ese ruso a mi me salvó (…) iba tratando
de relatar el antes de lo que fue la vida en el gueto y lo que fue la vida en los campos”
XI
Se hace contenido didáctico de los sucesos trágicos que producen quiebres en la vida
de quienes relatan y también de la solidaridad, del compañerismo, de lealtades, de
pactos que no se violan (Destouet, 2012) de pequeños gestos que ayudan a salvar la
vida, de la valentía, de la resistencia, de una historia de amor surgida en el gueto que
irrumpe de manera sorpresiva en medio del crudo relato sobre las condiciones de vida
en la guerra “Yo era feliz, una nena todavía feliz en mi casa, empecé a estudiar violín
pero al llegar los alemanes empezaban a entrar a las casas particulares (…) un día
entran en la casa nuestra y hay una mesa grande y ven un violín chico en la mesa,
entonces, preguntando ¿quién toca acá violín? - mi madre claro, una madre se está
jactando ¿no?- mi hija esta estudiando violín, los alemanes agarran el violín y lo
destrozan con un golpe, totalmente. Esto fue la primera impresión que yo viví en Polonia
con la visita de los SS, de los nazis alemanes (…) nos obligaron a dejar nuestras casas
y teníamos que irnos al gueto. En el año cuarenta, ya estamos llegando al año cuarenta,
ya estamos en el gueto (…) Bueno ahí llegamos al año 44 y ya empezaban casi las
liquidaciones del gueto. Pero les voy a contar una historia, una historia que puede pasar
también en un gueto… una historia de amor (…) este joven era también un muchacho
del gueto pero un muchacho grande (…) y bueno…. yo lo miré pero era un muchacho
grande, me llevaba más que diez años este muchacho, así que a mis padres no les
gustó demasiado que yo lo miro pero… la cosa fue que el también me miró” (S.R. 88
años)
401
La memoria transmisible es también una de las múltiples prácticas de transgresión que
opusieron resistencia a las prácticas deshumanizantes (Miñarro y Morandi, 2012)
infringidas en los guetos y en los campos, ante el despojo de todo aquello que otorga
identidad. Frente al padecimiento de un hambre del que sólo sabe quien lo ha vivido
emerge la potencia subjetiva que combate con el canto. La falta de alimento, sostén
primordial de lo humano se compensa en el lazo afectivo “se puede sobrevivir, porque
estábamos juntos todavía (…) para matar el hambre hacíamos, más de una vez, un
torneo de canto. Nos encerrábamos en una pieza de la chica que tenía una casa —las
lugareñas que vivían allá conservaron su casa— y cantábamos en ruso, en polaco, en
idish, en francés, cada vez otra canción “ (L.N. 87 años)
III. Explicar lo inexplicable. La memoria como contrapunto a la violencia.
"El deber de la memoria es el deber de los descendientes". Marc Augé.
Recuperar, reconstruir y transmitir la historia reciente surge de una pregunta que no
cesa en su insistencia ¿cómo fue posible? (Franco y Levín, 2007). Se trata del retorno
permanente de un interrogante que intenta bordear lo escasamente imaginable, que
obliga poner a las palabras en estado de reflexión y a retomar la potencia crítica del
decir.
Establecer en la escuela espacios para abordar las consecuencias de catástrofes
sociales, aún sabiendo que no es posible una total elaboración de los sucesos
traumáticos, atañe no sólo a quien lo ha vivido sino que concierne a la comunidad toda.
Las prácticas sociales tienen un papel importante en la búsqueda de la reparación
simbólica de las personas afectadas más directamente, pero además, la respuesta
social cumple un papel instituyente en el cuerpo social (Kordon, Edelman, Lagos,
Kersner, 1998)
Dar lugar a la palabra, hacer memoria, transmitir, es un acto de resistencia al olvido, es
una manera de hacer frente a la violencia de un lenguaje totalitario que aspiró a
enmudecer otros discursos, a desdeñar las categorías de saber, verdad, culpa y
fundamentalmente la oposición entre mentira y verdad (Sneh, 2012).
Estos supuestos adquieren una relevancia particular en el contexto de un país que
registra en su historia reciente un genocidio, que transita la experiencia de la restitución
de identidad a hijos de desaparecidos y que ha establecido una política de memoria y
un conjunto de acciones concretas que incumben a instituciones del sistema educativo
formal – las escuelas – como a otras organizaciones de la sociedad civil (Diamant,
2014).
402
Si postergar, simbolizar y cooperar constituyen imperativos pedagógicos (Meirieu,
2013), el acceso a las formas simbólicas es fundamental para poder nombrar lo que nos
habita, para entender el mundo y lo que queremos hacer con él. Es a su vez, lo que
permite el aplazamiento frente al acto, lo que otorga capacidad para postergar y
reflexionar, porque lo que no tiene acceso al territorio de la palabra genera retornos
físicos, psíquicos o en actuaciones (Morandi, 2012)
Así, cobra una relevancia particular el tramo de un testimonio que plantea “se que no es
fácil, no es fácil de contar y tampoco es fácil de escuchar pero, yo lo hago para que
escuchen y sientan este deseo de luchar por lo bueno, luchar por la verdad y por la
justicia. Esto es lo que más deseamos.. (…)esto tienen adentro, ya les quedó algo
adentro, poder eh decir – mirá esto pasó y esto sé que pasó porque lo viví (...) yo digo
yo nunca lloro, y acá lloro. Pero no lloro ni con bronca ni con rabia, ni con odio. ¿Sabés
lo que quiere decir no tener odio? Porque a mi me preguntaron (…) un chico me preguntó
(...) se levantó con bronca... no bronca contra mi, bronca por la situación, contra lo que
yo viví , me dice: decime Sara, si vos te encontrás con Videla frente a frente, no tenés
ganas de matarlo?. Yo lo miro y le digo: vos sabés me pones en una situación … yo no
soy asesina. Yo no lo voy a matar, yo quiero que lo juzguen, que él sufra por lo que ha
hecho, porque si yo lo mato yo soy asesina y él se murió no sufre nada, se murió, no
hace nada con lo que pasó... Así que yo asesina no voy a ser. No tengo odio … porque
vos sabes que gente que sufre… hay gente que tiene odio adentro y este odio los
carcome. Ellos no viven una vida alegre, no pueden vivir ni con sus nietos ni con sus
semejantes porque sufren siempre y yo lo saqué de mi vida, yo no quiero sufrir… ¿te
das cuenta? Porque quiero que vivan mejor ustedes… y que no lloremos” (S.R. 88 años)
Oponer a una violencia destructiva y desestructurante, subjetiva y socialmente la
inscripción en la legalidad que instaura la palabra, renunciar al odio y la venganza para
demandar ser escuchado introduce la exigencia de una responsabilidad histórica que
advierte que la salida no es conducirse como si lo ocurrido no quedara registrado, sino
que la única posibilidad abierta frente a lo real es conmemorar sus efectos (Gallo, 1998)
efectos que persisten en las impresiones emocionales que han dejado las palabras
como resto frente a la imposibilidad de interpretar lo inexplicable (Naymark, 2009) y que
son nombradas los niños que han sido testigos de la narración como “tristeza”,
“angustia”, “bronca” ,“dolor”
El testimonio como forma de transmitir actualiza, vincula tiempos y experiencias, trae el
pasado al presente en perspectivas y significaciones actuales, permite conocer pero
también interpelar, interpretar, valorar. La rememoración de las marcas traumáticas es
más que un tributo ético al pasado, su relato transmisión y análisis son movimientos con
perspectiva de presente (Kaufman, 1998) y prospectiva pedagógica.
403
Enseñar así la historia reciente, dimensiona la distante, constituye además de un acto
de resistencia al olvido, una tarea concreta, contenida en afectos, sostenida con las
palabras que en su esfuerzo por dar un marco, intentan inscribir un límite frente al horror
(Sneh, 2012).
En este sentido, la escuela y su posición histórica frente a las historias, es un punto de
intersección entre el pasado, el presente y el futuro desde que el que se posibilita la
tramitación de lo imposible del trauma, amparado en el relato de la experiencia vivida,
promoviendo procesos subjetivos de significación a través de los cuales los sujetos
construyen su identidad, se inscriben en una continuidad y se proyectan al futuro.
Referencias bibliográficas
Adamoli, M. & Flachsland, C. (2014). Holocausto y genocidios del siglo XX: Preguntas y
respuestas para su enseñanza. Buenos Aires. Ministerio de Educación de la Nación.
Briole, G. (1998). El trauma en psicoanálisis. Revista argentina de psiquiatría vol IX n
31. Buenos Aires. Vertex.
Destouet, O. (2010). Cómo transmitir en el aula experiencias extremas. Recuperado de
http://www.yadvashem.org/yv/es/education/articles/pdfs/destouet2.pdf
Diamant, A. (2014). La lectura fue mi salvación, los libros me abrieron un mundo mágico,
los maestros nos cuidaban de la guerra. Testimonios reparatorios sobre experiencias de
aprendizaje de sobrevivientes del holocausto. Memorias. Asociación de Historia Oral de
la república Argentina. Córdoba.
Franco, M y Levín, F. (2007). Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo
en construcción. Buenos Aires: Paidos.
Gallo, H. (2004). Olvido y verdad. Desde el jardín de Freud. Issn 1657-3986. D.C 2004
núm. 4. Bogotá. UNAL.
Kaufman, S. (1998). Sobre violencia social, trauma y memoria. Trabajo presentado al
Seminario sobre Memorias de la Represión, Montevideo.
404
Kordon, D. Edelman, L. Lagos, D & Kersner, D. (1998). Trauma social psiquismo:
consecuencias clínicas de la violación de los derechos humanos. Revista argentina de
psiquiatría vol IX n 31. Buenos Aires. Vertex.
Mariezkurrena Iturmendi, D. (2008). La historia oral como método de investigación
histórica. Gerónimo Uztáriz, núm. 23-23, 227-233.
Meirieu, P. (2013). La opción de educar y la responsabilidad pedagógica. Buenos Aires.
Ministerio de Educación de la República Argentina.
Miñarro, A & Morandi, T. (2012). Trauma y transmisión: Efectos de la gerra del 36, la
posguerra, la dictadura y la transición en la subjetividad de los ciudadanos. España.
Fundación CCSM & Xoroi ed.
Morales, M. (1997). La memoria de los pueblos. Buenos Aires. Contexto en Psicoanálisis
2. Ed. De la Campana.
Naymark, D. (2009) Trauma, Memoria y silencio: Lazos familiares y transmisión: hijos y
nietos de sobrevivientes como testigos indirectos de la Shoá. Recuperado de
http://www.yadvashem.org/yv/es/education/articles/pdfs/diana_naymark2.pdf
Novelo, V. (1990). Antropología y testimonios orales, Cuicuilco, 22, ENAH/INAH,
México.
Portelli, A. (2005). El uso de la entrevista en historia oral. En Anuario Nº 20 (2003-2004)
“Historia, Memoria y pasado reciente”. Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y
Artes, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe.
Schlemenson de Ons, S. (2001). Constitución psíquica y espacio escolar. La narración
como activador de la complejización simbólica, tendencias y perspectivas. Tesis
doctoral inédita. Facultad de Psicología UBA. Buenos Aires
Sneh P. (2012). Palabras para decirlo. Lenguaje y exterminio. Buenos Aires: Paradiso.
405
Urrutia, J. P. (210). Historia Oral: Teoría y Metodología. Trabajo de doctorado
presentado en la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.
Reservorio testimonial Lea Zajac de Novera. 87 años. Mujer sobreviviente de Auschwitz. 2014
Sara Laskier de Rus. 88 años. Mujer sobreviviente de Auschwitz. 2015
Testimonios orales de alumnos, docentes y directivos de séptimo grado de la Escuela
Primaria del Instituto Sarmiento – Sholem Buenos Aires . Agosto 2014 - Julio 2015.
I I. Testimonio oral. Alumna de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2015
II J. Testimonio oral. Alumna de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2015
III L. Testimonio oral. Alumno de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2014
IV F. Testimonio oral. Alumno de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2015
V M. Testimonio oral. Alumno de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2015
VI A. Testimonio oral. Alumna de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2015
VII D. Testimonio oral. Docente de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2015
VIII D. Testimonio oral. Docente de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2015
IX L. Testimonio oral. Alumna de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2014
406
X I. Testimonio oral. Alumna de séptimo grado de la Escuela Primaria del Instituto
Sarmiento – Sholem Buenos Aires. 2015
XI B.Z. Testimonio oral. Directora de la Escuela Primaria del Instituto Sarmiento – Sholem
Buenos Aires. 2014
LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
Humberto Quiceno Castrillón218
Universidad del Valle
La infancia es la patria del hombre
Rilke
La ciudad, donde tú vayas, irá
Kavafis
a. Introducción
Esta ponencia tiene como punto de partida los resultados de la experiencia de formación
de las maestras (mal llamadas agentes educativos), producidos en el Taller
Perspectivas de una ciudad para niños y niñas de Primera Infancia219, un taller de
formación realizado por el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del
Valle. En esta experiencia, las maestras debían producir un texto (dibujo, composición,
cartografía) producto de lo expuesto teóricamente en el taller y de aquello que las
hubiera podido afectar respecto de la idea de imaginar una ciudad de niños, tanto en el
taller como en su trabajo como maestras.
Las composiciones de las maestras se expresaron en unos temas, ya muy comunes a
una ciudad de niños, relacionados con diversas ideas e imágenes, que no pasaron de
ser la de imaginarla como un bosque, una zona verde, un jardín o la imagen del agua,
la tierra y el sol. En una palabra, la ciudad fue imaginada con un mismo nombre:
Naturaleza. Es aquella naturaleza que cada vez más es dejada de lado por la ciudad
actual, la ciudad del automóvil, el hormigón y el transporte. Para ellas, naturaleza quería
decir pasado, recuerdo y añoranza. Quería decir, además, infancia perdida y nunca
vuelta a recuperar. La ciudad de niños era para ellas una infancia natural que ya pasó.
218 Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona (España). Coordinador
del Doctorado Interinstitucional de la Educación de la Universidad del Valle, Director del Observatorio de
Infancia y Primera Infancia. Miembro del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica. 219 Taller realizado en el marco del programa de cualificación por contrato interadministrativo entre la
Secretaría de Educación Municipal y la Universidad del Valle. Octubre, 2015.
407
Es por esta recurrencia a la naturaleza, por esta imagen y esta valoración, que este
capítulo lo estructuré de la forma que hoy lo doy a conocer y para hacerlo pensé, cómo
no, en Jean Jacques Rousseau y en su llamado a la naturaleza y al hombre natural;
además, Rousseau fue uno de los creadores de la pedagogía y uno de los primeros en
pensar la infancia y el mundo infantil. Pensé en Rousseau, y en Lewis Carroll y su Alicia
en el país de las maravillas, en donde el jardín es muy importante. Pensé en Aldo Van
Eick y sus parques infantiles, en Ámsterdam.
Pensé en el tríptico de la infancia de Rosario (Argentina), con sus tres lugares naturales:
el jardín, la granja y la isla. Me pregunté: ¿por qué la naturaleza siempre está detrás,
siempre es la imagen de la infancia, de la pedagogía y de la ciudad? ¿Por qué está en
el discurso de las maestras de Cali? La respuesta está en este capítulo.
Este escrito podía haber tenido otra forma y así lo había pensado, empezar por los
referentes técnicos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia220 sobre la
Primera Infancia, analizar la forma como estos referentes técnicos piensan la ciudad,
luego seguir con el discurso de la arquitectura, del urbanismo y su pensamiento de la
ciudad, luego completar todo ello con la pedagogía de lo urbano, hablar de la obra de
Virilio, el gran urbanista francés y terminar en una propuesta sobre educación y ciudad.
No construí este camino, opté por otro, por otra forma, la que ya anuncié y que van a
leer.
b. 1. La pedagogía, la infancia y la Educación Inicial
c.
Antes de empezar, preocupémonos de dos términos, Educación Inicial y políticas
públicas. Educación Inicial es la propuesta del gobierno y del Estado colombiano por
crear una educación para niños de cero a cinco años. Con ello se pretende
institucionalizar públicamente esta educación en niños de Primera Infancia. Existen
varios documentos donde se puede ver esta política: decretos, normas y referentes
técnicos.221 Diremos que esta política está en proceso de construcción, existen ideas,
proyectos, experiencias y se han construido instituciones. De allí a que el Estado y el
gobierno local organice una Educación Inicial completa, falta mucho camino por
recorrer.
Varias dificultades se presentan en este camino: no es un proyecto total que
comprometa la sociedad y la cultura, del cual haga parte la universidad, los intelectuales
y los investigadores. Esto se ve en el nivel que tienen los conceptos de Educación
Inicial, la pedagogía, la infancia, el niño y el tipo de educación por crearse en este
espacio de la Primera Infancia. Quizás el gran problema es el no pensar cada realidad
de cada situación. Los documentos hablan en nombre de una Educación Inicial ideal y
220 En adelante MEN. 221 La política de Educación Inicial en su comienzo es jurídica y administrativa. Empieza desde 1972 con
la creación de los Hogares Comunitarios, luego la ley 115 de 1994 y finalmente la Educación Inicial en el
2007. Los referentes técnicos de 2014 formalizan sus disposiciones legales. Lo jurídico hay que
completarlo con el discurso pedagógico y educativo y con la construcción práctico-discursiva de la
Educación Inicial, que es lo que falta. Con respecto a un estado del arte de la normativa jurídica de la
Educación Inicial, véase: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, junio de 2006, Programa de
apoyo para la construcción de política de Primera Infancia. Bogotá
(http://www.cinde.org.co/PDF/Politica%20publica%20primera%20infancia%20Colombia%20(v.%2011
%20n ov%2006).pdf ) y la versión final del mismo documento: ICBF, Diciembre de 2006, Colombia Por
La Primera Infancia Política Pública Por Los Niños Y Niñas, Desde La Gestación Hasta Los 6 Años,
Bogotá (http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_primer_infancia.pdf).
408
no de una educación para una ciudad, donde veamos la ruralidad, la vida urbana y las
vidas étnicas.222
El niño de la Primera Infancia no es ese ser abstracto que hay que potenciar y capacitar,
ese ser de derechos y diversidad y diferencias. Ese ser hay que pensarlo en su ser, es
decir, en su realidad, de allí que no hay que trazar una línea de separación entre crianza,
cuidados y atención; entre educación materna, Educación Inicial, educación preescolar;
entre la casa, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), el jardín y la escuela. El problema
es ese, esa separación, es fácil hacerla en la conceptualización pero ¿cómo funciona
en las situaciones concretas? En segundo lugar, analicemos los términos “políticas”,
“propuestas” y “proyectos”. Los abogados y los administradores no tienen problema
para crear políticas; lo hacen desde la ley y la norma, desde el discurso jurídico y el
discurso de la administración. Los investigadores de pedagogía y de la psicología ven
el asunto de otra manera: la política se crea desde la investigación, desde el
pensamiento científico y desde campos de investigación precisos. De allí que hay que
investigar por mucho tiempo para poder definir o crear una política.
Es desde la investigación que se piensa la pedagogía y la infancia. La pedagogía no es
una idea o un nombre técnico, la pedagogía es un saber que se ha constituido
históricamente, desde la cultura griega. La infancia, por su parte, es un pensamiento
sobre los niños, situado entre el siglo XVII y XVIII. En ese tránsito hacia el XVIII es
Rousseau quien la define. En este autor, pedagogía e infancia adquieren todo su
sentido, la pedagogía como una escritura de la educación y la infancia como un lugar
que antecede al niño. Existe pedagogía, entonces, desde la Paideia griega, y pedagogía
moderna desde el libro de Rousseau, Emilio, escrito en 1762 (Rousseau, 1990). Dos
condiciones hay para pensar que es en este libro donde comienza la pedagogía: una,
que Rousseau diferencia entre el niño y la infancia; y dos, que la pedagogía es una
escritura. La primera condición surge de pensar la ley de la naturaleza. Para Rousseau
la naturaleza tiene leyes que son diferentes a las leyes de los hombres, problema que
ya se veía en Montaigne. El hombre debe conocer esas leyes que están ocultas, que
no se ven a primera vista, que tienen otra forma de existir. Esas leyes gobiernan las
cosas, el mundo físico, el mundo de la realidad y lo hace de modo perfecto, ordenado
y exacto; allí no hay error, ni azar. El conocimiento de esas leyes debe copiarse, deben
pasarse al mundo de los hombres y sus leyes. Las primeras deben ser modelos para
las segundas, sólo modelos, ya que los hombres tienen la libertad para comprender con
ella su propio mundo. El arte de interpretar las leyes naturales es lo propio del hombre
y es lo que se llama educación. Educar es copiar la forma que se da la naturaleza en el
gobierno de las cosas y tener la libertad de crear el orden que se da el hombre en el
gobierno de los hombres.
Rousseau observa que las leyes del hombre nacen de la experiencia de gobierno de
los hombres, donde la naturaleza no entra en juego, lo cual ha llevado a grandes
arbitrios y desmesuras en su aplicación, que es lo que se llamó, en su tiempo, el abuso
de la razón de gobernar. Propone que se cambie el juego y que se incorpore la ley de
la naturaleza a la forma de gobernar, lo que impediría el abuso de la razón. Debajo de
la ley habría una regla que impediría el abuso. Esa regla es la naturaleza. Esto
diferencia entre un conocer que no tiene la misma forma de conocer, que tiene la ley
jurídica que es el derecho del más fuerte y un conocer que tiene la forma de la
naturaleza, que es el de obedecer la naturaleza.
222 El término referente técnico es claro, no se piensa en conceptos sino en discursos técnicos, que son
referencias generales a los cuales les falta contexto histórico y práctico. Referencias sin investigación
previa, sin estar enmarcadas en saberes universales. Véase MEN, 2014, Referentes técnicos, Bogotá
(http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/w3-article-341880.html).
409
El argumento de Rousseau es preciso: en la práctica de la educación, a la hora de
educar, el maestro debe conocer el sentido que le impone la naturaleza; una vez
conocido, interpretar la dirección que se debe dar a la educación, a la forma de educar.
El educador, preceptor o maestro, actúa de dos formas: conoce la regla natural y conoce
cómo actuar según esta regla, lo cual quiere decir que le da su sello particular, pone su
firma, su voluntad y su acción. Este modo de actuar lo saca de tener que atenerse a la
ley de los hombres (incompleta, errada y arbitraria) y tener que crear por su propia ley,
que es el discurso para educar.
El discurso emerge de observar la naturaleza de las cosas. Esa observación se impone
a la racionalidad de la ley jurídica, que no es de observación, es de reconocimiento.
Reconocerse en la ley de los hombres impide conocer la naturaleza y las cosas
externas. Este reconocimiento es del orden del reglamento y de la disciplina, en donde
el sujeto no existe (para Rousseau el sujeto es la voluntad). No existe porque la ley
obliga a su obediencia y obliga a la articulación entre ley general y ley particular, o sea
el orden individual. Conocer la naturaleza, observarla y seguir su orden lleva a un
discurso muy distinto al discurso jurídico, que no es de observación. El discurso de
observación lleva a registrar las cosas en el lenguaje del orden natural. Un orden que
se da por ciclos, procesos, niveles, discontinuidades, continuidades, etapas, fases, etc.
Este discurso crea y produce registros escritos que son del orden de las ciencias de la
observación. La pedagogía nace de observar la naturaleza y la educación es llevar esa
observación al individuo. La pedagogía es escritura, signos de la naturaleza, y la
educación es práctica, realiza o aplica lo que es previamente el signo.
Rousseau diferencia claramente pedagogía de educación. La pedagogía está antes que
la educación, la pedagogía nace de observar la naturaleza y la educación de observar
el niño. La pedagogía consiste en registrar lo que dice la naturaleza, lo que dice el niño
que es educado o está en proceso de educación, y lo que piensa el educador cuando
educa. Los tres niveles deben estar antes de educar, no pueden surgir al final del
proceso educativo. Emilio es el primer libro de pedagogía porque su lectura es inicial,
fundacional, es la lectura primera que debe hacer un educador. El libro se lee, el libro
se escucha como si fuera la voz de la naturaleza, y el libro funciona como una voz para
la acción. Antes de educar hay que leer el libro, antes de educar, está su escritura. La
pedagogía es una escritura distinta a la ley y a la norma, es una escritura de
observación, se observa un objeto para dar cuenta de él, nombrarlo y registrarlo, es
decir, para hacerlo entrar en la escritura223.
Pedagogía es todo aquello que no es del orden de la ley y de la norma, del sistema y
de la regulación tecnológica. La pedagogía tiene otro orden, que es el de hacer coincidir
lo que se observa con el sujeto y con el sujeto que educa. Lo fundamental de la
pedagogía es hacer que se conozcan las reglas de la educación; el discurso es
pedagógico siempre y cuando haga conocer las reglas del que educa, del educado y
las reglas de las cosas. Por eso el educar es más juego que imposición y que
aplicación. Es un juego o arte de descifrar la regla que hace actuar. Respecto de la
Primera Infancia hay que decir que no es un concepto nuevo en la literatura
investigativa. Desde Rousseau se piensa esa edad que va de cero a cinco años, que
223 La pedagogía no educa, la pedagogía no dice cómo educar, la pedagogía establece la relación entre
observar el todo, observar el sujeto y que el educador se observe a sí mismo. La pedagogía enlaza los
signos y los signos las cosas para construir una escritura que antecede el sentido práctico de educar. Este
rasgo de la pedagogía fue descubierto por Derrida en su libro De la gramatología, donde estudia la obra
de Rousseau (1971: 337).
410
luego la vamos a ver desarrollada por psicólogos, pedagogos, biólogos y lingüistas. Lo
que sí es un concepto nuevo es el concepto de educación pública de estos niños, es
decir, el proyecto estatal, administrativo y formal de educar niños de cero a cinco
años224. Fröebel, en su jardín infantil (Kindergarten, 1837-1840), ya había pensado esta
educación, pero lo había hecho desde el concepto de juego pensado como un modelo
de relación con la naturaleza, que Fröebel había retomado de Rousseau. (Fröebel,
1992). La Educación Inicial de la Primera Infancia no pretende educar los niños en un
jardín, casa o escuela. Busca construir lugares especiales, pedagogías y sujetos para
estos lugares donde no esté presente la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica o el
curriculum, prácticas reconocidas en el mundo escolar, y que no sea la mamá, la
jardinera o el maestro de escuela quienes eduquen los niños porque esos sujetos son
los sujetos de la educación escolar tradicional. En esta paso, en esta diferencia con la
casa y la escuela, la Educación Inicial todavía no encuentra el lugar para educar, el
sujeto que eduque y la pedagogía que acompañe esta educación.
d. 2. Las experiencias escritas de ciudad
Hemos hablado de pedagogía, Educación Inicial y Primera Infancia. Pasemos a tratar
el tema de la ciudad, la ciudad de niños y para niños. Es el libro de Lewis Carroll Alicia
en el país de las maravillas (2002), el primer libro que piensa el lugar de la infancia
como un lugar público. Carroll no habla de la ciudad, ese lugar que hoy conocemos
como el espacio público, donde vive y existe el ciudadano y la población y que se rige
por leyes y normas estatales. Carroll habla de otro lugar, que no es el lugar de los
adultos, no es la tierra del adulto y del discurso jurídico. Recordemos que Alicia está en
el jardín y allí se aburre porque no tiene nada que hacer. Ve un conejo y sale tras él.
Por ir en su búsqueda se mete en un agujero que la lleva a ese otro país (Carroll, 2002:
33). En este pasaje, Carroll nos dice que el lugar de la infancia está debajo de la tierra
de los adultos; es otro lugar, que no es el jardín infantil, es un lugar donde existen otras
leyes y normas, y otro modo de existir.225 Es un territorio nuevo, que se rige por las
leyes de la infancia, que se basa en un juego donde las cosas las hace Alicia por ella
misma. Las cosas y los objetos le hablan y Alicia obedece porque ella misma está
convencida de hacerlo.
El mundo de arriba es pensado desde el mundo de abajo y Alicia se piensa a sí misma
de otra forma a como lo hacía en su casa o en la escuela. Ella tiene todo el tiempo para
pensar, reflexionar, comprender lo que quiere hacer. Tiene todo el tiempo ya que el
tiempo depende de ella y sólo de ella. Los espacios se le abren a su voluntad y según
reglas que tiene que cumplir, reglas de las cosas y de los mismos espacios. Alicia
obedece la regla y por obedecer tiene el premio deseado: el mundo, las cosas se le
abren, diríamos que la ciudad se le abre, si pensamos que ese espacio de abajo puede
ser la ciudad. En ese sentido, por esta forma de pensar la naturaleza, Carroll sigue el
pensamiento de Rousseau: la naturaleza no es pasiva, no es algo que vemos como un
exterior que espera algo de nosotros; la naturaleza es activa, es poderosa, es la que
propone, por ejemplo, “bébeme”, “cómeme” y Alicia obedece. Es pasiva pero activa a
la vez, porque al obedecer se le abren las cosas.
224 Hay que diferenciar la Primera Infancia como concepto y la Primera Infancia como política. Como
concepto, ya había sido enunciada por Rousseau, Pestalozzi, Montessori y Claparede; como política
internacional es una idea tardía, emerge hacia finales del siglo XX. Véase ICBF (2006). 225 Carroll no sitúa a Alicia en el jardín natural, ese jardín que vemos expuesto ante los ojos del niño. Alicia
busca y encuentra otro jardín, el jardín de sus sueños o que ella imagina de otra forma, al jardín del adulto.
411
Desde las obras de Rousseau y Carroll, Emilio y Alicia, los pedagogos han pensado el
lugar o el espacio de la infancia como un territorio que no es gobernado por la ley del
adulto sino por la ley del niño, que no es ley o norma, es regla de juego. El juego es un
sistema de gobierno, es un gobierno sobre los niños pensado desde la infancia, infancia
que no puede, bajo ninguna forma, igualarse con la forma “los niños”. La infancia
representa un estado posible de la vida de los niños y de su gobierno. La infancia es un
lugar que queda antes de que se piense en los niños, es previa a los niños, es una
representación múltiple y diversa de sus vidas. La infancia es objeto de la pedagogía,
de la literatura, del cine, de la escritura y no puede ser objeto de la política de los
políticos y su sistema de gobierno.
En Carroll existe la infancia y el lugar de infancia. Este lugar queda debajo de la ciudad
de los adultos, debajo de la tierra. La infancia es un no-lugar para el adulto, es un lugar
distante del adulto donde hay un sistema de gobierno que gobiernan el juego y sus
reglas, son tan duras y reales como la ley y la norma del sistema de gobierno, de la
sociedad de derecho. La regla es un control, una condición, un sistema de prohibición,
un impedir que cualquiera juegue como quiera. La regla del juego sólo se puede aplicar
en una sociedad de iguales, de personas libres, que estén dispuestas a ejercer el poder
y también a obedecer y que estén dispuestas a jugar, es decir, a llegar a acuerdos, a
establecer una forma común de juego, a negociar en igualdad de condiciones y
arriesgar a ganar o perder. El juego es para personas libres. El sistema de gobierno de
la sociedad de derecho es para personas que obedecen, que es lo quiere el poder del
derecho: que alguien obedezca la ley y la norma y no la discuta y no la ponga en
juego226. Carroll establece en la ciudad de Alicia un sistema de condiciones: Alicia tiene
muchos problemas para seguir su juego, que los soluciona con condiciones: ante la
puerta del jardín que no puede franquear, dispone de posibilidades de solucionar el
problema, las investiga, las reflexiona y da con la solución. Encuentra que el juego
establece una serie de problemas y una serie de soluciones. Todo ello dispuesto como
un juego.
Michel Foucault (1986) piensa que el juego y las reglas de juego son aplicables en un
campo de la vida muy específico, en la vida amorosa, que era el nombre que los griegos
daban a la sexualidad.227 La práctica de la sexualidad, no del sexo, establece un
sistema de gobierno que es del orden del juego; la sexualidad se juega con condiciones,
con jugadas, con acuerdos, con libertad. Es en el juego sexual en donde más se
aprende del poder porque el poder es una fuerza que sólo la pueden conocer los sujetos
que son libres y esto ocurre cuando se ven como objeto de relaciones de poder. El
sujeto libre es el jugador que está dispuesto a obedecer para poder tener poder, es
decir, ganar. En el juego no hay derecho o deberes, en el juego hay condiciones que
cambian en la medida que el juego avance. No hay un derecho por parte de ningún
jugador sobre otro jugador. Se juega sin derechos y sin deberes, sólo se juega. El juego
enseña que jugar es pensar, es saber del poder y es donde el otro verdaderamente
hace parte de nuestro juego. En el derecho, el otro no juega, es nuestro exterior, no
hace parte de nuestro juego, no puede ser mi-otro.
e. 3. La ciudad de niños de Francesco Tonucci
Casi cien años después de Alicia y doscientos años del Emilio, un Italiano, Francesco
Tonucci empieza la construcción de una ciudad de niños, en su ciudad natal, Fado
226 Hay que diferenciar sociedad de derecho y su sistema de gobierno basado en leyes y normas, y sociedad
o ciudad de infancia y su sistema de gobierno, que es el juego. Sobre esta diferencia véase Pardo (2004). 227 Foucault, M. (1986: 35).
412
(Tonucci, 1997). Esta ciudad no es la misma que podemos extraer de Rousseau o de
Carroll; es una ciudad con otra forma, tiene otro territorio y otra pedagogía. Quizás lo
más importante del proyecto de esta ciudad es que es escrita por los niños. No sólo
pensada y realizada, sino escrita, porque el espacio infantil donde se va a poner la
ciudad de niños va a ser llenado de textos, documentos, investigaciones, materiales,
experiencias y redes, que se pueden consultar en la web de la ciudad de niños228.
Hay que insistir: la creación de la ciudad de niños de Tonucci es una ciudad escrita,
pensada, proyectada y representada antes que sea la ciudad realizada; o, diríamos,
esta ciudad de niños se escribe al mismo tiempo que se hace. No es que se haga un
parque infantil o una biblioteca infantil para niños en el mismo territorio de los adultos,
en la misma ciudad de los adultos. No es así: la ciudad de niños es un lugar aparte,
como si estuviera debajo de la tierra o en una naturaleza escondida, lejos de la mirada
adulta. Los niños son los que escriben la ciudad, su ciudad, lo que ellos llamarían su
ciudad. Escribir quiere decir pensar, organizar y crear los espacios, el tiempo, la vida y
la existencia de los niños en este lugar. Como dice Tonucci: “no se trata de poner en
práctica iniciativas, oportunidades y estructuras nuevas para los niños. Tampoco de
defender los derechos de un estamento social débil, ni de modificar, actualizar o mejorar
los servicios para la infancia (que naturalmente son uno de los deberes de la
administración pública). De lo que se trata es de adquirir una visión nueva, una filosofía
nueva, del programa, proyecto y modificación de la ciudad” (s.f.).
La ciudad de niños nació como un laboratorio de ciudad para niños, en Fado (Italia) en
1991. Laboratorio quiere decir tres cosas: escribir, experimentar y recoger las
experiencias formuladas y experimentadas. En el laboratorio, el niño tiene la palabra,
tienen organismos que crean política pública: el consejo municipal de niños,
proyecciones urbanísticas y arquitectónicas creadas por los niños con colaboración de
urbanistas, centro de documentación y de educación de la naturaleza. Se experimentó
con iniciativas como que los niños salgan solos a la escuela y a la ciudad, repensar la
relación de poder entre el niño y el automóvil, establecer nuevas relaciones de amistad
y de aliados, los marginales y desplazados de otras culturas.
f. 4. Ciudades e infancia: El tríptico de la infancia
Ciudades e infancia es un libro de Cristina Bloj (Bloj, 2015). El libro investiga diferentes
temas: los derechos de los niños, el juego, las ciencias sociales y los niños, y el tema
de la política pública sobre los niños, la infancia y los jóvenes en la ciudad de Rosario
(Argentina). En esta ciudad se construyó afínales del siglo XX el Tríptico de la infancia,
que son tres espacios infantiles conformados por un jardín, una granja y un espacio que
se llama “La Isla de los inventos”. Y además una escuela de formación de jóvenes para
trabajar en el tríptico.
La política pública de infancia de Rosario hereda algunos proyectos de la ciudad de los
niños de Tonucci y en general actualiza la política mundial de la CDN (Convención de
los Derechos de los Niños) y lo hace destacando el juego, la participación y la
convivencia como un sistema público de educación de los niños. El juego es el sistema
central que une el tríptico y en general la política pública de Rosario, que está ligado y
funciona como parte de la pedagogía urbana de la ciudad.
El Jardín, la Granja y la Isla son pensados como territorios de infancia y juventud. Estas
tres experiencias recogen lo que en materia de educación pública se ha pensado desde
228 Se pueda consultar en el sitio web: http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
413
el siglo XIX. En este sentido, la novedad no está en su proyecto sino en la conjunción
de tres experiencias que construyen un territorio de infancia dentro del territorio adulto;
la otra novedad está en la participación de los niños en los Consejos de niños y en
Niños proyectistas de lo urbano (Bloj, 2015: 32).
g. 5. Las experiencias dibujadas del taller de maestras
En los Talleres de formación se les expuso a las maestras de niños estas tres
experiencias de ciudad (Rousseau, Carroll y Tonucci), luego se les pidió que dibujaran
y compusieran una ciudad de niños, que no lo hicieran como adultas, sino como niñas;
que se pusieran en ese lugar de infancia, como efectivamente lo hicieron. El resultado
fueron 20 composiciones de ciudades de niños que son como veinte lugares de niños.
Todos los lugares fueron dibujos de la naturaleza: un parque, un jardín, un camino, una
granja, un centro de recreación. Los dibujos tenían colores, estampas, frases, dibujos,
símbolos, siempre el sol saliendo por el ponente, siempre el verde, siempre el niño y
sus padres. El agua, la tierra, la arena, el sol229.
Todos estos lugares eran espacios libres, lejos de la ciudad, espacios verdes, espacios
de juego. Creo que eran espacios metafísicos, espacios de recuerdos de las vidas de
las maestras cuando eran niñas, espacios de nostalgia, espacios de lo que ya
desapareció hace algún tiempo y, en muchas de ellas, mucho tiempo. Estos lugares
pintados no son de infancia, son espacios que nos ha dibujado la actual sociedad, que
nos dicho: allí en esa pequeña zona verde queda el espacio de niños y en esta zona
amplia y extensa es el espacio de los adultos, este espacio es para el automóvil, los
centros comerciales, las unidades de vivienda, los conjuntos cerrados, las avenidas, el
cemento, los grandes edificios. Las maestras pintaron la nostalgia del verde de la
infancia de sus vidas, que sólo es un pequeña parte, cada vez más reducida de la
ciudad de adultos.
La ciudad de niños actual no hay que verla como un lugar que se desprenda de la
ciudad; es un lugar, hay que pintarlo como un lugar dentro de la ciudad adulta, un lugar
que le dispute el lugar adulto, como lo hizo Aldo Van Eick o como lo hizo el Tríptico de
Rosario. La ciudad de niños es un sistema de gobierno dentro del sistema de gobierno
adulto y de los políticos. Es el sistema de gobierno de las reglas de juego contra el
sistema de gobierno de los derechos. El problema actual es y ha sido saber del poder,
conocer el poder, aprender del poder y poder actuar contra el poder. El adulto ejerce el
poder contra los niños, la vida adulta ejerce ese poder y lo hace mediante su sistema
de derechos y deberes. El parque no enseña el poder adulto, el parque infantil nos
adecúa, nos hace reconocer el poder adulto. Como lo dice Tonucci, como Frato, que no
exista el parque, sino la tierra, la arena y el agua, para que el niño construya el
parque230.
En la vida amorosa aprendemos del poder y lo aprendemos y lo sabríamos usar si
jugamos a ejercer el poder con otro y contra otro. No es violencia ejercer el poder contra
otro si lo hacemos dentro de reglas de juego. La violencia la produce el derecho que
229 Véase Memorias Programa de formación y cualificación en Educación Inicial con enfoque integral.
Talleres de formación pedagógica. 230 El libro La ciudad de niños, de F. Tonucci, tiene dos autores y dos discursos: el autor del texto escrito
(la propuesta inicial) es de Tonucci, y el autor de llevarla a cabo es de los niños. Frato, que es Tonucci,
acompaña “como niño” el texto de los niños y para hacerlo se convierte en una caricatura del autor,
Tonucci, que se representa como Frato. El niño se expresa en caricaturas, el niño no quiere escribir como
adulto y no quiere ser adulto, quiere ser la caricatura del adulto.
414
tiene otro y que no tiene el otro. Este otro agrede el derecho del otro porque no lo tiene.
Esto no funciona en el juego porque el juego no da derecho, no da deberes; el juego
produce igualdad de condiciones en las jugadas. Los niños saben jugar, aman jugar,
juegan con reglas de juego claras. El adulto y la sociedad de derechos los obligan a
jugar dentro de la sociedad de derechos y sus normas y leyes. En el parque, en el jardín,
en la granja debe haber y se deben establecer las reglas de juego, todo lugar debe
tener reglas de juego implícitas para los jugadores. En los lugares de nostalgia de la
ciudad de niños, la regla debe ser la que se dibuje y se pinte, la que defina la escritura
de los niños al imaginar su ciudad.
h. 6. El gobierno de los niños: el contrato pedagógico
Una ciudad es una entidad jurídica, administrativa, de gobierno y de régimen
económico. En esta ciudad, pensada de estos modos y de estas formas, no ha existido
la infancia, como un objeto público de máxima importancia. Ha existido como uno de
los temas de la política y de la administración. Lo que queremos pensar y proponer es
construir la Primera Infancia y la infancia en la vida pública de la ciudad. Esta
construcción pasa por cinco ejes: 1. Un sistema público de política para la infancia y
Primera Infancia. 2. Un sistema de conocimiento infantil. 3. Un sistema de pedagogía
infantil. 4 Un sistema de cultura y 5.Un sistema de vida y de salud.
Antes de construir estos cinco sistemas, pensemos lo que significa el gobierno de los
niños. Una cosa es gobernar niños y otra muy distinta gobernar la infancia. Esto significa
diferenciar la infancia del niño. La infancia es la idea que tenemos del niño. Es la
representación de todos los niños es el concepto universal de niño. El niño se gobierna
por un sistema de leyes y normas, valores y principios, construidos desde el siglo XVII,
construidos por la sociedad monárquica, la sociedad de derechos y la sociedad actual.
El gobierno de niños, no es lo mismo que gobernar la infancia. Ésta se gobierna sin
leyes y normas, se gobierna mediante reglas que son extraídas del juego. Una regla es
muy distinta a una ley o a una norma; la regla tiene como característica el hacer parte
del juego, el tener en cuenta la igualdad delos jugadores y la regulación del juego desde
su experiencia interior. La ley, la norma son principios externos, se imponen a las
personas desde afuera y nunca cambian en su desarrollo, como lo hace la regla de
juego.
Todo país tiene como forma de gobierno las leyes, las normas, un sistema de leyes y
de normas, tiene controles seguridades, sobre el modo de vivir y el modo de hablar,
sobre el modo de estar y el modo de no estar. El país de Alicia es distinto al país adulto,
lo gobierna el juego, que no es un sistema, no es un reglamento, no son disposiciones
administrativas, sino unas reglas para jugar. La ciudad de Alicia es un mundo al revés
del mundo adulto, pero este al revés significa pasar del sistema y la norma, que
descansa en la ley, a un sistema y una norma que se basa en la regla del juego. La
infancia no tiene leyes, como las leyes de la ciudad o como las leyes de la moral; la
infancia tiene reglas, que son convenciones, acuerdos, apuestas, arreglos y
negociaciones de un juego, el juego de la vida y de la existencia. Los niños esperan
que negocien con ellos pero los adultos establecen sus leyes y principios de autoridad
y con ello renuncian al juego, que es como renunciar a ser niños.
Este modelo puede ser importante para pensar una ciudad para niños, donde se viva y
se habite con reglas de juego. Las reglas de juego son para adultos y para niños, ambas
partes juegan y juegan entre sí. Se trata de ver el gobierno, la autoridad, la existencia
como un juego. Eso no quiere decir un juego inútil o inocente, es un juego serio porque
tiene tanto poder o autoridad el juego y sus reglas, como el sistema de leyes de una
ciudad. Lo que se da en este juego es otra forma de entender la vida, la existencia y el
415
mundo de las cosas y el lenguaje. En el juego se parte de iguales, los jugadores no
tienen ventaja, uno no se impone sobre el otro, la regla es igual para todos. En el juego
no se parte de principios que hay que cumplir, se parte de posibilidades que van
cambiando. En el juego, el final de la partida no se sabe de antemano, se sabe el
comienzo; el final se produce en medio del juego según se encadenen las jugadas.
Como se ve, todo el juego es muy serio, estricto, hay o se presenta una forma de
gobierno, aunque el gobierno es compartido y depende de las reglas que el juego se da
y que se le da a cada jugador.
El juego de la ciudad es impuesto, mandado, establecido mucho antes de empezar a
jugar o a vivir. No se juega, se viene a este mundo a obedecer la ley y la norma, que no
se pueden cambiar. En el país de Alicia cada cosa, acto y palabra se cambian, no según
el parecer de Alicia sino en acuerdo con los jugadores, el conejo, el gato, el cerdo.
Ponerse de acuerdo según un juego es muy distinto a ponerse de acuerdo según un
sistema de leyes y de controles, que no se pueden cambiar.
i. 7. La ciudad y la Educación Inicial
Como lo hemos indicado, vamos a proponer que la infancia sea un objeto de la
educación y de la vida pública de la ciudad, lo que quiere decir, que la ciudad incorpore
a la infancia como un sistema al lado de los otros sistemas, el de seguridad, el de salud,
el vial y el de movilidad. Sistema quiere decir que la Primera Infancia y la infancia sean
pensadas como una totalidad en la ciudad y no como una parte, como es hasta el
momento. Construir el sistema público de infancia, como lo tiene la ciudad de Rosario,
no se hace con reuniones o con consensos, se hace con un movimiento por la
Educación Inicial pública que adelanten los propios niños, como lo hizo Tonucci en
Fado. Esto significa hacer pasar a los niños a la vida pública por medio de
organizaciones de niños, consejos de niños, el periódico infantil de la ciudad, comités
de niños, grupos de niños para pensar la sexualidad, la violencia, las drogas, que los
niños construyan la web de niños. Esto no sólo es darles la palabra, la voz a los niños,
significa darles la escritura.
j. El sistema público de la política para niños
Tonucci piensa que los niños deben ser parte de la vida política de la ciudad en su
calidad de ciudadanos, concejales, personeros, entre otras funciones. Es decir, que
asuman su papel como protagonistas de la política pública. Sin desconocer la
importancia de estas propuestas, pensamos que si la Primera Infancia y la infancia, lo
mismo que la juventud, pasan de ser temas y fines de la política pública de la ciudad, a
ser objetos, a ser parte de esta política pública no como mediación sino como objetos
totales, se puede llegar a convertir la infancia en tema cívico, tema de lo público.
Nuestra propuesta es que la Primera Infancia y la infancia se conviertan en temas y
objetos públicos y dejen de ser privados o asunto de agencias o programas y pasen a
ser “cosas de niños.” como:
a) La defensa de los niños
b) La Protección
c) Los Derechos
d) La participación
e) La convivencia
Estos cinco ejes de la política pública deben contar con sujetos, experiencias y saberes
que las respaldan, es decir, no debe ser exclusivamente un asunto del Estado, de las
416
instituciones estatales, de las agencias del Estado o de la Iglesia. Estos cinco ejes
deben ser defendidos por un saber de infancia, investigaciones e innovaciones de
infancia. La política pública no sólo se crea desde arriba, desde el Estado, la experiencia
local (de niños, de adultos que sean niños) crea política pública. La crea si se logra que
el discurso de la Primera Infancia y la infancia pasen arriba de la ciudad, sea aquello lo
primero que hay que pensar y este “hay que pensar” debe ser propuesto por los sujetos
que saben y tienen experiencia de infancia. Tonucci cree que deben ser los propios
niños organizados como ciudadanos; esto es posible aunque el saber de infancia no
sólo es de niños, es de sujetos adultos que puedan pensar como niños, sujetos (ya lo
sabemos por Carroll) de la literatura, de la fotografía, del cine y de la cultura infantil. La
expresión o el resultado final de política infantil para la ciudad no debe ser sólo leyes,
normas, técnicas de administración sobre la vida de los niños; pueden ser imágenes,
signos, nombres, ideas, discursos, experiencias como ese nombre bello de la ciudad
Rosario que se llama Tríptico de la infancia, que son tres experiencias-lugares-signos
de ciudad para los niños de la ciudad y del mundo.
k. Sistema de conocimiento
En la ciudad no existe saber de Primera Infancia e infancia si entendemos por saber la
ciencia y la literatura de la infancia. El saber político y el saber administrativo no son
un saber, son normas y leyes; el saber emerge de la ciencia y de la experiencia del
lenguaje. En la ciudad hay que construir saberes y no sólo leyes y no sólo parques. El
saber es la escritura de la Primera Infancia y la infancia. Lugares que escriben lo que
son los niños, lo que han sido y pueden ser.
Proponemos:
a) El observatorio
b) Las ciencias de la infancia (literatura, lenguaje, poesía, juego)
c) El centro de documentación y el archivo infantil
c) El periódico, la revista, el cine
Para poder crear la cultura de la Primera Infancia hay que crear primero el amor al saber
que narra la vida de los niños. Saber quiere decir escritura y la escritura está en la
literatura y en la ciencia. Necesitamos un Estado, un gobierno de la ciudad que cree la
escritura sobre la infancia, que sea el mismo Estado el que plantee una formación
científica para las maestras y maestros de niños. Que construya lugares de saber
escritural, como el observatorio o el periódico. Eventos sobre cine e infancia, concursos
para escribir sobre niños y para que los niños escriban de ellos mismos.
l. Sistema de pedagogía
Desde el siglo XVII, Rousseau diferenció pedagogía de educación. Educación es el
saber público del Estado y pedagogía es el saber sobre la transformación del sujeto por
el sujeto mismo. Lo que se llama educación en la ciudad es la educación privada y
pública, es la educación del Estado y la Iglesia. A este sentido de educación hay que
incorporar la pedagogía, que es un campo donde no llega la educación y no puede
llegar. Estos lugares desconocidos para la educación son los espacios de la pedagogía.
a) Pedagogía urbana
b) Pedagogía virtual
c) Pedagogía escolar
d) Pedagogía de la Primera Infancia
e) Pedagogía de la infancia
f)
417
La pedagogía no proviene del Estado o de los sistemas normativos sino de las
experiencias de educar niños. La pedagogía es una práctica que está debajo (debajo
de la tierra. como diría Carroll) de la educación. La pedagogía aparece cuando las cosas
en la educación no funcionan, no salen, no se les ve fin. En este límite de que algo se
quiebra emerge la pedagogía. Por eso es un no saber educar, es un saber que nos dice
la ignorancia de no saber educar, lo que le falta a la educación. ¿Qué le falta a la
educación en materia de educación? Pensar lo urbano y lo rural (tema del siglo XIX),
pensar la imagen (tema del XX), pensar la infancia y la Primera Infancia (tema del XXI).
¿Qué lugar, cómo y para qué niños? Eso es lo no que no sabemos todavía.
m. Sistema de cultura
Cali no tiene cultura de la Primera Infancia y la infancia. La gente no diferencia entre
niños, niñez e infancia. Por lo tanto se confunde la educación del niño con la educación
de la infancia. La educación de la infancia no se hace en los lugares donde se educa
el niño, que son la casa, el jardín, el preescolar y la escuela. La infancia tiene sus
lugares sin currículo, sin materias, sin el aprender y el enseñar. Estos lugares pueden
ser:
a) El Museo interactivo
b) La Biblioteca infantil
c) La granja
d) La isla de los descubrimientos
n. Sistema de vida infantil
La actual sociedad de las tecnologías nos ha impuesto un sistema de vida en seguridad,
en movilidad, en derechos y también un sistema de vida en la vida y para la vida. Esta
sociedad reconoce que existen grupos humanos y grupos étnicos que no viven según
las normas y leyes de esta sociedad, como los afro, los negros, los indígenas,
desplazados y vulnerables. Si bien reconoce su existencia (el derecho y el bienestar),
se niega a aceptar sus vidas y su cultura. El modo como no los reconoce es muy
sencillo: los hacen entrar en la idea común del tiempo de esta sociedad; todos los
grupos existentes deben existir en el mismo tiempo y vivir para este tiempo. Esta
sociedad los reconoce en sus espacios y lugares (territorios) pero no que vivan en otro
tiempo, distinto al tiempo de todos los habitantes del planeta.
Con los niños pasa igual cosa: la familia y la ciudad, el gobierno y el Estado aceptan
sus lugares, sus modos de existir, sus lenguajes, sus redes de existencia y de placeres,
pero no aceptan que puedan vivir en otro tiempo, en un tiempo que no sea éste, el
tiempo de todos, el tiempo de aprender durante toda la vida. Y en esta no aceptación
está el problema de sus vidas y de sus sistemas de vidas. Vivir en otro tiempo es lo que
siempre ha pensado la ficción, la literatura, el arte, el cine y la historieta. La literatura de
niños y para niños, desde Carroll, es pensar que existe un modo de vida de los niños,
que ellos existen en otro tiempo, que no es tiempo del adulto. Estar en un mundo de
ficción es estar en otro tiempo, distinto al tiempo real.
En la actualidad, en nuestro tiempo, lo que llamamos lo virtual es lo que era en otro
tiempo la ficción. Lo virtual es la existencia y la vida en otro tiempo, que no es el tiempo
común para todos los mortales. Las redes sociales no alcanzan a tener esta naturaleza
de otro tiempo; la que sí lo tiene, es la imagen, que es virtual, que existe en otro tiempo.
La fotografía no alcanza tampoco a estar por ella misma en otro tiempo; de ahí la
necesidad del video, del cine y del arte visual. En este orden de ideas, lo que sí está
en otro tiempo, y que es como si fuera virtual, es la cultura popular, cultura que tiene
418
todos los elementos del arte, del cine y de la historieta. Son las culturas populares y las
culturas étnicas las que están por fuera del tiempo actual, del tiempo de las cosas y del
tiempo real. También son los niños, los niños organizados en tribus, comunas, bandas
y galladas. Las culturas populares y las culturas étnicas, así como los niños, cuando
son grupo, masa y población, organizados por fuera de los espacios regulares de
control, tienen una existencia que es de otro tiempo. Esta existencia en otro tiempo es
la que les da el sentido de una existencia y un modo de vida propio.
Precisemos. Nos representamos la vida como vida individual. La vida es modo de ser
biológico, psíquico, cultural, social, modo de ser político. Tener buena salud es modo
de ser biológico, tener educación, lenguaje y tecnología, corresponde al modo de ser
cultural y social. La sociedad actual por intermedio de la sociedad de derechos y la
sociedad de bienestar es responsable de la salud, de la vida cultural y de la educación
de los niños de la Primera Infancia. Nos preguntamos: ¿Existe o puede existir un modo
de vida de los niños que no sea la salud, los derechos o el bienestar? ¿Un modo de
vida que no se represente a los niños como vida individual y que se los represente como
grupo, colectivos, masa, red? ¿Es posible que los niños sean pensados como seres
organizados, como un grupo humano especial, como una población específica?
¿Tienen un idioma propio los niños? ¿Un sistema de vida propio? ¿Es posible hablar
de una sociedad de niños?
La Mafalda de Quino representa un sistema de vida propio de los niños, un sistema de
vida completo, un sistema que hemos reconocido como una forma de pensar, de sentir,
de representarse la amistad, el dinero, los amores, los padres de familia, los adultos.
Quino nos ha mostrado que es posible pensar que los niños tengan un sistema de vida
propio y distinto al sistema de vida de los adultos. La aceptación mundial de este
sistema es posible porque lo entendemos como una historieta de niños y para niños y
con efecto de divertimento de la vida adulta. A Mafalda la aceptamos porque es un
modelo de niña que vive en la vida de los adultos, rechaza la vida adulta pero sigue
siendo la niña del mundo adulto.
Mafalda existe en la historieta, así como Alicia en la literatura, y muchos niños que
existen en el cine o en la ficción. ¿Qué pasaría si pasamos esa historieta y esa literatura
al CDI, al jardín y al preescolar? ¿No es eso lo que busca la Educación Inicial, educar
los niños entre cero y cinco, sin escuela, sin casa y sin educación formal? Pasaría que
encontraríamos el sistema de vida que estábamos buscando para educar los niños de
Primera Infancia, sólo que este sistema piensa la vida de los niños sin ningún valor de
la sociedad de derechos, es decir, sin el mercado, la oferta de salud, el proyecto
tecnológico y el sistema de vida de la ciudad.
La vida que les proponemos a los niños es la vida adulta, es la vida de la sociedad
globalizada, es la vida biológica de las necesidades vitales. Hay que pensar en otra
vida, no la vida eterna, no la vida del futuro, sino la vida como experiencia por fuera de
la ciudad adulta, una vida que la vemos en el lenguaje de la calle, de la red social, en
la vida de la ficción, en la vida virtual, que es la ficción contemporánea. Lo virtual, como
la ficción, es la historieta de Quino, es la literatura de Carroll. ¿Dónde está lo virtual y
dónde la ficción? Está en la cultura popular, en la cultura que no está formalizada, en la
que está en ciernes de ser lenguaje y escritura formal, que es la cultura del barrio
popular, la cultura de las tribus urbanas, de las bandas de muchachos, de los cuerpos
juveniles. La Educación Inicial tiene a sus puertas la educación no formal que busca,
aunque hay que ir a buscarla en ese lugar y en ese territorio de ciudad que ha excluido,
ese lugar de ficción y ese lugar virtual que es la cultura popular y la cultura étnica. Lo
419
virtual y la ficción ya no están en la historieta y la literatura, están en los lugares que
tienen otro tiempo. Proponemos:
a) Pensar en el concepto “sociedad de niños” como un modelo de organización
de la vida infantil.
b) Investigar sobre las experiencias de vida de las comunas y las
organizaciones de menores
c) Analizar el pensamiento de la vida de las culturas étnicas
d) Estudiar modelos de vida extraídos y adaptados de historietas, literatura
infantil y arte de infancia
o. Bibliografía
ARIÈS, P., 1960, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, Madrid, Taurus.
BALLY, G., 1973, El juego como experiencia de libertad, México, FCE.
BLOJ, C., 2015, Ciudades e infancia. Chile, Naciones Unidas.
BORJA, J.; MURI, Z., 2000, http://www.esdionline.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf CALLOIS, R., 1994, Los juegos y los hombres. México, FCE. CARROLL, L., 2002, Alicia en el país de las maravillas, Madrid, Edaf.
DERRIDA, J., 1971, De la Gramatología, Buenos Aires, Argentina
FROEBEL, F., 1992, “La educación del hombre”, Biblioteca Grandes Educadores,
Cuéllar Pérez (Ed.), (6).
FOUCAULT, M., 1986, Uso de los placeres, Madrid, Siglo XXI.
HUIZINGA, J., 1972, Homoludens, México, FCE/Emecé
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) (junio de 2006.
Programa de apoyo para la construcción de política de Primera Infancia, Bogotá,
http://www.cinde.org.co/PDF/Politica%20publica%20primera%20infancia%20Col
ombia%20(v.%2011 %20nov%2006).pdf
___ , Diciembre de 2006. Colombia Por La Primera Infancia Política Pública Por Los Niños Y Niñas, Desde La Gestación Hasta Los 6 Años, Bogotá, http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_primer_infancia.pdf
LARROSA, J., 1998, La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y
formación, Barcelona, Laertes.
PARDO, J. L., 2004, La regla del juego. Sobre la dificultad de aprender filosofía,
Barcelona, Círculo de lectores/Galaxia Gutenberg
ROUSSEAU, J. J., 1990, Emilio o el discurso de la educación, Madrid, Alianza Editorial.
TONUCCI, F., s.f., La ciudad de los niños,
http://www.nodo50.org/forosocialjaen/CP941001.PDF
TONUCCI, F., 1997, La ciudad de los niños. Un nuevo modo de pensar la ciudad,
Buenos Aires, Losada.
420
XII Congreso Iberoamericano Historia de la Educación Latinoamericana, “Historia de las prácticas, instituciones y saber pedagógico en
Iberoamérica.” Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 15 al 18 de marzo de 2016.
LAS FUENTES JUDICIALES EN EL ESTUDIO HISTÓRICO DE LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD.
Leandro Stagno
(IdIHCS / FaHCE – UNLP, Argentina)
Introducción.
La historia de la infancia es un campo de reciente constitución en Latinoamérica.
En estas latitudes, los estudios de la infancia en perspectiva histórica ganaron
notoriedad a comienzos de la década de 1990, en el marco de indagaciones gestadas
en torno a preguntas sobre la familia, las instituciones de control social, las sociedades
coloniales y la formación de los Estados Nacionales. La consolidación de espacios de
reflexión y debate que tomaron como objeto específico de indagación a la infancia y la
juventud tuvo lugar durante el cambio de siglo, en paralelo a la notoriedad que ganaban
los problemas relacionados con el presente de los niños, niñas y jóvenes de la región
(Zapiola, 2014). La creación de la Red de Estudios de Historia de las Infancias en
América Latina231, a instancias de un comité fundador integrado por investigadores e
investigadoras de Argentina, México, Chile, Brasil y Estados Unidos, da cuenta de la
consolidación del campo, tanto como la complejización de los temas que han
comenzado a integrar su agenda, factible de comprobar a partir una lectura de los
dossiers y estados de la cuestión publicados en los últimos años (Lionetti y Míguez,
231 http://www.aacademica.com/rehial
421
2010; Premo, 2008; Rocha y Gouvêa, 2010; Rojkind y Sosenski, 2015 ; Kuhlmann Jr.,
2011).
Entre estos antecedentes, encontramos aquellos que han recurrido a las fuentes
judiciales para conocer diferentes aristas de la experiencia infantil y juvenil y, desde ella,
otros tópicos de la historia social y cultural. Los documentos emanados del
funcionamiento del poder judicial permitieron reconstruir e interpretar la vida cotidiana
de niños, niñas y adolescentes, tanto como la de los integrantes de sus familias, en
acotados espacios geográficos y en específicas escalas temporales. Estas iniciativas
fueron posibles tras una renovación historiográfica que, a partir de los años ochenta y
noventa, advirtió sobre la potencialidad de dichas fuentes para comprender las
expectativas de los sectores populares, su agencia, sus formas de enfrentar la
dominación, de transgredir la ley y de usar las instituciones judiciales, es decir, más allá
de los usos que una historia clásica del derecho les había dado (Aguirre y Salvatore,
2001; Candioti, 2010; Candioti y Palacio, 2007).
En esta ponencia reseño los hallazgos de las investigaciones que han encontrado
en las fuentes judiciales fundamentos para responder a preguntas relacionadas con el
estudio histórico de la infancia y la juventud en el contexto de América Latina. Esta
revisión de literatura, eje del primer apartado, permite reflexionar sobre aristas de la
experiencia infantil y juvenil que dichas fuentes iluminan, tanto como las dificultades
asociadas a su lectura en términos de la interpretación histórica. El segundo apartado
despliega otra de las motivaciones que guían la presente argumentación; allí comunico
avances de mi tesis doctoral en curso que ha recurrido al análisis expedientes del
Tribunal de Menores del Departamento Judicial Capital de la provincia de Buenos Aires
para conocer las condiciones de vida, las sociabilidades y las moralidades de un grupo
de varones jóvenes acusados de cometer delitos en la ciudad de La Plata, entre fines
de la década de 1930 y comienzos de la siguiente.
1. Niños, niñas y jóvenes de América Latina en las fuentes judiciales.
A poco de ser constituido el campo de los estudios históricos de la infancia,
contamos con destacados aportes sustentados en la interpretación de fuentes judiciales,
factibles de ser presentados en torno a tres grandes ejes temáticos: la transferencia de
niños y niñas entre diferentes hogares y los vínculos con su apropiación y/o adopción;
el trabajo infantil, asociado o no a dichas transferencias; las filiaciones ilegítimas y los
intentos por revertir los estigmas asociados.
El estudio de Claudia Fonseca sobre la transferencia de niños y niñas de una familia
a otra, ya sea bajo la forma de una guarda por un tiempo acotado o la de una adopción,
constituyó un aporte seminal para comprender el primero de los ejes temáticos. El
422
enfoque etnográfico seleccionado para comprender esta práctica constitutiva de la
cotidianeidad de los sectores populares de Porto Alegre -escala espacial de su análisis-
, le permitió leerla en los expedientes que documentaban procesos de aprehensión de
menores entre 1901 y 1926, tanto como escucharla en las entrevistas realizadas a
adultos y adultas de dos barriadas populares. Esta “circulación de niños” promovía la
estructuración de lazos sociales en pos de garantizar su cuidado, por medio de los
cuales quedaban a cargo de madrinas, abuelas y otras “madres de crianza”. Tan
frecuentes como el despliegue de esta circulación fueron las compulsas legales que
originaba, cuando las madres que habían transferido “voluntariamente” a sus hijos
procuraban restituir los lazos de filiación, aun el carácter informal de los acuerdos
(Fonseca, 1998; Fonseca, 1999; Fonseca, 2006).
A poco de ser publicados estos hallazgos, Nara Milanich afirmaba que el lente
interpretativo de Claudia Fonseca posibilitaba explicar aristas de la experiencia infantil
que no habían sido saneadas en las investigaciones referidas al abandono de niñas y
niños en América Latina, así como enfocar y comprender asociadas dinámicas de clase,
género y generación (Milanich, 2001). Su propia investigación se ocupó de tales
dinámicas en pos de comprender la circulación de niños en Chile entre fines del siglo
XIX y principios del XX. Tal como allí se demuestra, esta práctica resignificó los vínculos
intergeneracionales sostenidos entre los hogares, los de amistad y de patronazgo;
además, constituyó un destacado modo de proveer bienestar al grupo familiar y generó
relaciones laborales caracterizadas por la explotación y la subordinación de niños y
niñas provenientes de los sectores sociales más desfavorecidos. Aun el carácter
informal de la circulación de niños y la ausencia de regulación legal, Milanich pudo
reconstruir las derivas de esta práctica a partir de actas escritas en salas de audiencia
de los juzgados, registros notariales y legajos de los asilos. Estas fuentes le permitieron
comprobar la distancia entre la definición de parentesco que el Código Civil había
instalado y sus variaciones vernáculas, así como el uso estatal del parentesco en tanto
categoría central de legibilidad y legalidad de las personas –traducido en la lectura de
la identidad individual a través de las relaciones familiares (Milanich, 2009).
Documentar e interpretar los acuerdos familiares que entre los sectores populares
brasileños confluían en la entrega de sus hijos e hijas a otras familias también ha
estructurado la pesquisa de Silvia Maria Fávero Arend, cuya escala remite al Estado de
Santa Catarina en la década de 1930. Tal como había sucedido en algunas ciudades
capitales, allí se había constituido un Juzgado de Menores que procuró regular a un
sector de la población infantil alejado de moralidades y civilidades demandas por las
elites políticas e intelectuales. Los expedientes que documentaron abandono, búsqueda
y aprensión de menores, o delitos por ellos y ellas cometidos, permitieron a Fávero
423
Arend interpretar la citada transferencia desde la perspectiva de sus actores: niños,
niñas y adolescentes, madres y padres consanguíneos, guardadores y guardadoras,
autoridades judiciales y abogados. Así, su análisis consideró la experiencia cotidiana de
los hombres y las mujeres que optaban por tales arreglos para garantizar la crianza de
sus hijos e hijas, tanto como los itinerarios que frecuentemente recorrían estos niños,
niñas y jóvenes desde la salida de su casa hasta quedar al cuidado de la institución
judicial (Arend, 2011).
En la Argentina, Carla Villalta y Sabina Regueiro recurrieron a las fuentes judiciales
para analizar el modo en que la mentada circulación de niños se tradujo en entregas y
apropiaciones de quienes habían nacido en los Centros Clandestinos de Detención
organizados en tiempos de la última dictadura cívico militar, o que habían sido
secuestrados y desaparecidos tras la detención, desaparición y/o asesinato de sus
padres, a instancias del terrorismo de Estado.
La investigación de Villalta demuestra que estas apropiaciones se imbricaron en
una matriz de larga duración gestada alrededor de prácticas consuetudinarias de cesión
y entrega de niños y niñas, sus asociadas sensibilidades y representaciones sociales,
tanto como los procedimientos jurídicos y los dispositivos políticos dispuestos para
regular a este sector de la población infantil, interpelado desde fines del siglo XIX desde
la categoría “menor”. El circuito jurídico-burocrático consolidado alrededor de la
“minoridad” fue facultado para tutelar e institucionalizar a estos niñas y estas niñas;
según Villalta, a través de estas intervenciones, sus agencias y agentes desarrollaron
prácticas de apropiación de menores, cada vez que eran considerados/as propiedad de
quienes intervenían sobre ellos y ellas. En este contexto, la adopción fue paulatinamente
significada como un acto de altruismo y generosidad ante el “abandono”, la “negligencia
de madres y padres” y el “peligro moral y material” de sus cotidianeidades. Esta
valoración moral positiva tiñó las demandas de los agentes del campo de la minoridad
y las prácticas y procedimientos para concretar la adopción, tal la aceleración del trámite
legal y la supresión de los vínculos con la familia biológica vía la adopción plena que
caracterizaron las prácticas de los años sesenta y setenta.
La adopción de niños ingresados a institutos de menores como “abandonado” casi
sin mediar averiguaciones de sus orígenes, el escaso cuestionamiento de las
inscripciones como hijos biológicos de quienes eran “entregados” y el lábil control de las
guardas -prácticas corrientes en las agencias judiciales-, conformaron un escenario
propicio para quienes procuraron legalizar la apropiación de niños en tiempos de la
dictadura cívico militar desatada a partir de marzo de 1976 (Villata, 2010a; Villalta,
2010b; Villalta, 2010c; Villalta, 2012). La investigación de Sabina Regueiro ilumina la
trama social y política en la cual se instrumentaron estas apropiaciones, tanto como la
424
red de relaciones sociopolíticas que permitieron la identificación y restitución de estos
niños y niñas, a instancias de las acciones llevadas a cabo por la Asociación Civil
Abuelas de Plaza de Mayo. Su trabajo reconoce que la citada trama no solamente
estuvo compuesta por actores e instituciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
sino también por médicos y enfermeros, funcionarios del Registro Civil y agentes del
Poder Judicial. El ámbito judicial también ocupó la atención de Regueiro cuando se
propuso comprender las “batallas” por la restitución de la identidad, libradas a instancias
de Abuelas de Plaza de Mayo. De este modo, los expedientes de adopciones fraguadas
y las causas judiciales por sustracción de menores son fuentes documentales que le
brindaron importes indicios y huellas para la investigación (Regueiro, 2010; Regueiro,
2013).
El segundo de los ejes temáticos previstos para reseñar los antecedentes que
nutrieron el campo de la historia de la infancia en América Latina a partir de hallazgos
sustentados en el análisis de fuentes judiciales refiere al trabajo infantil. Las
investigaciones de Ana Cristina do Canto Lopes Bastos para Brasil y de Susana
Sosenski para México remiten a estas temáticas, desde visiones diferentes aunque
complementarias. Ambas encontraron en estas fuentes una vía de acceso para
comprender la participación de niños y niñas pobres en las actividades productivas y
desde allí explicar las diferentes formas de vivir la infancia, según condicionantes de
clase y género, para señalar las distancias existentes en las normas que preveían el
cuidado infantil y su efectiva puesta en práctica, y para reseñar intervenciones de
resistencia y negociación en contextos institucionales asociados al control de los niños,
las niñas y de sus familias.
Bastos analizó expedientes de tutoría y contrato laboral de huérfanos en la
Comarca de Bragança, São Paulo, datados entre los últimos tramos del siglo XIX y las
dos primeras décadas del siguiente, precisamente, a poco de ser abolida la esclavitud
en Brasil y antes de ser instituido el Código de Menores de 1927. Se trataba de niños y
niñas que, aun teniendo padre o madre, eran interpelados e interpeladas de una
condición de orfandad y colocados en actividades laborales desarrolladas en haciendas,
domicilios particulares, talleres o industrias. Aunque las relaciones de trabajo
establecidas debían garantizar su educación, la autora demuestra que para este sector
de la población infantil la escolarización se reducía a la enseñanza de saberes básicos
de lectura, escritura y cálculo, o al desarrollo de capacidades demandas en los procesos
productivos. Por su parte, Bastos encuentra en los expedientes indicios vinculados a
concretas prácticas de control y organización de los sectores populares, pero también
de resistencia, cada vez que explica las situaciones anudadas en torno a las fugas de
niños y niñas de sus lugares de trabajo, las fugas de madres con sus hijos o hijas para
425
evitar su entrega a los tutores o contratantes, tanto como las denuncias efectuadas ante
las autoridades judiciales por la consecución de maltratos en general y de violencias
sexuales en particular (Bastos, 2012; Bastos y Kuhlmann Jr., 2009).
Los expedientes del Consejo Tutelar para Menores Infractores han sido una de las
fuentes consultadas por Susana Sosenki para desentrañar la participación de los niños
en el mundo del trabajo de la ciudad de México entre 1920 y 1934, escenario marcado
por fenómenos que imprimieron cambios en la manera de vivir y de pensar la infancia.
En vistas a las premisas de la historia social y la historia cultural interesadas por los
rostros individuales de las grandes multitudes, la autora buscó en los expedientes un
modo de rescatar la voz de los niños trabajadores y de comprobar su agencia en tanto
actores sociales, culturales y económicos del México posrevolucionario. De esta forma,
una documentación tradicionalmente consultada solo para responder a preguntas
vinculadas con la historia del delito infantil le permitió acercarse, aun de soslayo, a las
prácticas laborales de niños y niñas citadinos y, desde ellas, a sus costumbres, sus
modos de hablar y de pensar, de vincularse con los integrantes de su grupo familiar y
de contribuir a su sostén económico. Como resultado, Sosenski no solamente aporta al
conocimiento de la experiencia infantil en diferentes espacios de trabajo, sino además
a la reconstrucción de la acción social de la infancia en el mundo laboral urbano, sus
prácticas cotidianas, sus conductas autónomas y su participación en la construcción del
orden social posrevolucionario mexicano (Sosenski, 2010).
El tercer eje temático de esta reseña remite a las derivas de la filiación ilegítima en
estas latitudes. Sabemos a partir de la investigación de Isabella Cosse que esta
condición incluía a uno de cada tres niños recién nacidos a mediados del siglo XX en la
Argentina, tanto como las implicancias que tenía sobre sus vidas el hecho de haber
nacido de uniones que no se ajustaban a los mandatos sociales ni a las imágenes
modélicas. En particular, su indagación remite a los cambios sucedidos durante el
peronismo en materia de los derechos de estas personas y de sus propias percepciones
acerca de los orígenes ilegítimos, en el contexto de una sociedad dinámica que se
quería igualitaria. Cosse accedió a la jurisprudencia para conocer el significado que
tenía la ilegitimidad y sus posibles efectos en la vida de quienes habían nacido en los
márgenes de la normatividad familiar, en relación con las compulsas por el reparto de
herencias y el legado de los bienes a la descendencia. De acuerdo con su indagación,
los pleitos de madres solteras provenientes de los sectores populares que buscaban el
reconocimiento de sus hijos eran frecuentes en el correr de la década de 1940, tanto
como los intentos por legitimar los orígenes vía la legalización de los vínculos familiares
entre los sectores medios, a fin de mitigar los estigmas asociados a la filiación ilegítima
(Cosse, 2006; Cosse, 2007).
426
El análisis de Ann Twinam sobre la ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial
representa un trabajo seminal para quienes procuramos formular preguntas asociadas
a la historia de la infancia y buscamos algunas de sus respuestas en las fuentes
judiciales. Las “cédulas de gracias al sacar” solicitadas a fines del siglo XVIII ocupan un
lugar central en su análisis, en tanto este documento emitido por la Cámara de Gracia y
Justicia del Consejo de Indias permitía a quien lo solicitaba cambiar su estatus de
nacimiento, a través de la confirmación oficial de su legitimidad de origen y de su honor.
Estas aspiraciones se tejían en un contexto de cambio demográfico y económico donde
la legitimidad y la blancura eran estructurantes de las jerarquías sociales y gravitaban,
simultáneamente, en la esfera pública y en la privada. Desde temprana edad
comenzaban las preocupaciones de las madres por torcer un destino que a las niñas las
alejaba del matrimonio y a los niños de un cargo político o del acceso a los colegios que
demandaban partidas de bautismo, vías de ascenso en las jerarquías sociales
diferenciadas genéricamente. A través de estas fuentes, Twinam demuestra que los
niños que habían recibido un reconocimiento formal y público disfrutaban de una infancia
más segura que aquellos reconocidos de manera informal o solamente en los ámbitos
privados, máxime quienes no accedían nunca a tal reconocimiento. Por otro lado, su
trabajo repara sobre una diversidad de dinámicas familiares donde estos niños y niñas
transitaban el inicio de su curso vital: crianzas a cargo de nodrizas como consecuencia
de la muerte de sus madres en el parto, a instancias de sus padres o de otros miembros
de su familia de origen; padres que asumían la responsabilidad de sus hijos tras los
denominados embarazos privados; infancias transitadas a cargo de alguno de sus
parientes, del padre o de la madre (Twinam, 2009).
Una lectura de conjunto de las investigaciones reseñadas en los tres ejes temáticos
permite demostrar el valor de las fuentes judiciales para reponer la voz de niños, niñas
y jóvenes cuyas vidas transcurrían en los márgenes de un orden instituido; en forma
complementaria, estas pesquisas nos informan cuán difícil puede resultar esta empresa.
En un trabajo seminal para estas preocupaciones, Carlos Mayo, Silvia Mallo y Osvaldo
Barreneche advertían sobre las limitaciones teóricas y metodológicas inherentes a las
fuentes judiciales y reponían formas precisas para enfrentarlas. Sostenían que estos
documentos ofrecen una mirada más cercana al predominio del conflicto en las
relaciones sociales que de los vínculos referidos al consenso, brindan información sobre
conductas “desviadas” de un sector de la población que poco pueden vincularse con el
comportamiento de un colectivo mayor, incluso la veracidad de lo allí expuesto puede
cuestionarse, en tanto las declaraciones traen consigo estrategias de absolución
tendientes a convencer a un juez, más que de reponer una verdad. No obstante tales
límites, aseguraban la riqueza de estas fuentes para acceder a la opacidad de los
427
sectores sociales subalternos, e instaban a centrar los esfuerzos en argumentar en torno
a lo verosímil más lo verídico, y a las pautas generalizadas y generalizables propias de
los casos particulares (Mayo, Mallo y Barreneche, 1989).
Sabemos por los antecedentes reseñados cuán valiosas han sido las experiencias
individuales en tanto indicio para comprender los comportamientos y las moralidades de
un colectivo cuya vida cotidiana se alejaba del orden legal establecido y de un patrón
normativo considerado como deseable. Por cierto, la documentación judicial consultada
para fundamentar las argumentaciones incluso pueden ser los únicos registros escritos
para conocer la cotidianeidad de estos niños, estas niñas y la de sus familiares. En este
sentido, sostiene Carlo Ginzburg que la historia de las clases subalternas no puede
prescindir de indagaciones cualitativas aun cuando éstas representen un “vituperado
impresionismo” de personalidades individuales. “Si la documentación nos ofrece la
posibilidad de reconstruir no sólo masas diversas, sino personalidades individuales –
asegura el autor-, sería absurdo rechazarla” (Ginzburg, 1981: 18).
Leer estas fuentes de soslayo permitió dar centralidad a prácticas entretejidas en
las fuentes judiciales, centrales para comprender cómo vivían y pensaban los niños y
niñas involucrados en los procesos, pero con frecuencia invisibilizadas en los registros.
Las rutinas laborales asociadas y el encuentro entre las diferentes partes ofrecen pistas
para explicar esta situación. Por un lado, en el paso de lo oral a lo escrito interpuesto en
las declaraciones se perdían entonaciones, silencios, gestos o respuestas pronunciadas
con cierto ardor, a no ser que se consignasen entre paréntesis; uno y otro caso hablan
de interpretaciones que condicionan las subsiguientes, es decir, las del propio juez y las
que procuramos hacer desde la ciencia histórica (Ginzburg, 1993). Por otro lado, la
desigualdad simbólica que pautaba el encuentro entre quienes declaraban y los agente
que tomaban las declaraciones, podía confluir en el ocultamiento de dinámicas
familiares, prácticas de sociabilidad u otras experiencias vitales que se creyesen
negativas a la hora de emitir sentencia (Caimari, 2001). Se trata entonces de formular
preguntas adecuadas para sortear estas derivas del proceso y para llevar a la superficie
las acciones dichas en un segundo plano. En otras palabras, se impone “hacer hablar”
a estas fuentes y no pretender que ellas “hablen por sí solas”.
Escuchar la voz de este sector de la población infantil y la de los adultos con quienes
compartían sus vidas fue clave a la hora de destacar su agencia, en términos de la
producción de una cultura, tanto como en el proceso de definición de jerarquías sociales.
Las investigaciones citadas más arriba han definido a las fuentes judiciales como
entradas privilegiadas para reconstruir el vínculo estrechado con las agencias estatales,
428
su conocimiento y valoración de las instituciones judiciales y los usos que de ellas
hacían para dirimir conflictos o mitigar las consecuencias de la dominación y de las
estigmatizaciones asociadas. Además de desentrañar tramas delictivas o sociales en
general, esta fuente fue leída para encontrar prácticas, costumbres, comportamientos y
valoraciones atravesadas por dinámicas de clase, género y generación, factibles de
estructurar culturas judiciales, infantiles y juveniles.
El diálogo entre la antropología y la historia social está presente en varias de las
investigaciones que aquí reseño. Propuesto de manera seminal por Robert Darnton, el
encuentro entre ambas disciplinas develó desde el punto de vista nativo los significados
atribuidos a prácticas y valores en pretéritas sociedades, y en ese universo simbólico,
los conflictos y las negociaciones entre grupos e individuos (Darnton, 1984/2001). La
lectura antropológica de las prácticas de justicia ha permitido estudiar la interacción de
los diversos actores asociados a un proceso judicial desde su propia perspectiva, sean
policías, agentes judiciales, denunciantes o denunciados; relaciones mediadas por un
contexto institucional que les confería dimensiones particulares. Del mismo modo, ha
habilitado una indagación cercana a las redes de significado localmente construidas,
aun las leyes y el funcionamiento estandarizado de las instituciones e instrumentos del
Poder Judicial. Por caso, “parentesco”, “filiación ilegitíma”, “entrega de niños”,
“apropiación” y “adopción” adquirían localmente significados, gestados en prácticas
consuetudinarias e, incluso, contrapuestos a las definiciones consignadas en los
códigos civiles.
2. Jóvenes en los expedientes judiciales. Caminos de una investigación.
En mi tesis de maestría estudié la transformación de las formas de concebir los
delitos cometidos por niños y jóvenes y de juzgar sus transgresiones, iniciada en la
década de 1920 y consolidada en la siguiente, como parte de un proceso de
configuración de ideas punitivas que intentaban sustituir el castigo tradicional para la
población más joven por medidas relacionadas con su educación. En forma asociada,
analicé el valor atribuido a la familia en dichas ideas y en concretas prácticas judiciales
que la erigían como una estrategia de solución y como la causa principal del peligro
diagnosticado. Desde estas indagaciones, pude comprobar que los expertos ligados al
ámbito judicial entendían como situaciones deseables para la infancia y la juventud la
presencia de una familia nuclear constituida por un vínculo legal legítimo, las
capacidades para trabajar y estudiar, y el empleo del tiempo libre en lugares de
sociabilidad ajenos a toda conducta moral “peligrosa” (Stagno, 2008).
Las preguntas allí formuladas procuraban conocer ideas y normas legales
vinculadas con la minoridad y comenzar a transitar un camino escasamente explorado
429
por los estudios históricos sobre la infancia y la juventud desarrollados en la Argentina:
el de las prácticas. Los expedientes del Tribunal de Menores del Departamento Judicial
Capital, creado en la provincia de Buenos Aires en 1937 y el primero en constituirse
como fuero específico en el país, brindaron una entrada privilegiada para llevar a cabo
esta doble finalidad. Una muestra de los expedientes especialmente significativos de las
ideas sobre infancia, juventud y dinámicas familiares me permitió observar filiaciones,
contradicciones o hiatos con las ideas punitivas que imaginaban nuevas formas de
castigo para niños y jóvenes, tanto como documentar las intervenciones de los familiares
que respondían por ellos, el accionar de los distintos agentes policiales y judiciales y el
trayecto recorrido por el Tribunal, desde la estadía en la comisaría local tras la denuncia
allí radicada, hasta la emisión de la sentencia.
La investigación que fundamentó mi tesis de maestría dejó planteados
interrogantes que me propuse responder cuando comencé a escribir la propuesta de
admisión al curso de Doctorado. Por un lado, quería comprender la consolidación de
ideas delineadas en forma complementaria en el ámbito judicial y el de la educación
que, en la década de 1930, configuraron a los jóvenes provenientes de los sectores
populares urbanos como un problema que exigía una intervención. Las discusiones
sobre la delincuencia juvenil y los procesos judiciales que debieron afrontar los jóvenes
acusados de delinquir representaban evidencias claves para avanzar sobre estos
supuestos. Por otro lado, procuraba recrear las prácticas cotidianas de los jóvenes y sus
familias en términos de una historia sociocultural “desde abajo”, en tanto percibía que
era esa cotidianeidad la que particularmente preocupaban a los expertos. Al respecto,
decidí estudiar en profundidad dinámicas juveniles de los varones en una escala local
acotada, a diferencia de mi anterior estudio que involucraba ambos géneros y grupos
etareos, en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de tesis doctoral que definí se interroga por la compleja articulación
entre los marcos normativos que caracterizaron la vida cotidiana de los varones jóvenes
de los sectores populares en la ciudad de La Plata y el ideal proyectado para sus vidas,
en una escala temporal que incluye los años treinta y los tempranos cuarenta. Es éste
un contexto clave para comprender una serie de ideas y prácticas que hicieron centro
en la vida de los jóvenes que se alejaban del patrón normativo demandado por los
expertos, así como también para estudiar las dinámicas familiares en las que estaban
inscriptos y las relaciones interpersonales que ellos estrechaban en un espacio urbano
de incipiente modernización.
La disonancia entre el ideal proyectado para sus vidas y las dinámicas propias de
su cotidiano fundamentó una serie de ideas que delimitaba a estos varones como una
amenaza al orden social. A diferencia de sus pares generacionales que eran regulados
430
por la escuela, el trabajo formal y la familia nuclear, sus prácticas cotidianas estaban
basadas en altos grados de autonomía de los adultos y tenían como escenario
destacado las calles del barrio. Los vínculos interpersonales allí gestados se sumaban
a otros que estrechaban en una serie de espacios de sociabilidad por entonces en
profunda expansión, tales como el cinematógrafo, las kermeses, los bailes en clubes y
los partidos de fútbol. En unos u otros, sus conductas inquietaban a los vecinos de La
Plata, ciudad de reciente urbanización pese a haber sido fundada en los últimos años
del siglo XIX como capital de la provincia de Buenos Aires. Las preocupaciones se
sustanciaban en denuncias formuladas ante las autoridades policiales y judiciales sobre
el comportamiento de “patotas” de “muchachotes”, tal el término que empleaban dichos
vecinos y el que seleccionaban los cronistas de la prensa local.
En este sentido, las siguientes preguntas cobran especial relevancia para transitar
el problema delimitado: ¿qué prácticas juveniles fueron nominadas en tanto amenazas
y para quiénes representaron un problema?, ¿cómo fue tematizada dicha amenaza en
el ámbito de la justicia y de la educación durante la década de 1930 y los primeros años
de la siguiente?, ¿cómo era percibida en el ámbito de las sociabilidades barriales
platenses?, ¿desde qué debates educativos y jurídicos se intentó explicar la conducta
de los jóvenes y, en particular, la delictiva?, ¿qué comportamientos y valores
cimentaban las relaciones estrechadas por los varones jóvenes de los sectores
populares en la ciudad de La Plata?, ¿en qué dinámicas familiares estaban inscriptos?,
¿cómo actuaron los familiares ante las denuncias y ante las autoridades que juzgaban
sus transgresiones?
Para acceder a las ideas sobre juventud esgrimidas en el período, consideré los
escritos publicados por los expertos del ámbito judicial y del ámbito educativo, a través
de un análisis textual de libros, tesis doctorales, comunicaciones a congresos y artículos
publicados en revistas. Desde Ficciones literarias, relatos autobiográficos y de viajeros
y crónicas publicadas en el diario El Día accedí a la cotidianeidad de quienes vivieron
en la ciudad de La Plata en las cuatro primeras décadas del siglo XX. Por su parte, acudí
a los datos levantados por el Censo Nacional de Población de 1914 y el Censo Escolar
de la Nación de 1943 para remitir al ingreso y la permanencia de los jóvenes en el
sistema educativo y a las dinámicas familiares en las que estaban incluidos
A la hora de volver sobre los expedientes del Tribunal de Menores del
Departamento Judicial Capital que había comenzado a leer en tiempos de mi tesis de
maestría tuve que definir una nueva muestra y una nueva forma de leerlos. De los 3361
expedientes sistematizados por el Departamento Histórico Judicial de la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 3291 correspondían a los años
comprendidos entre 1938 y 1942, es decir, el inicio de las actuaciones del Tribunal hasta
431
el año más cercano al recorte temporal previsto por la investigación del que se tenían
datos232. Entre ellos, seleccioné los que traían los procesos afrontados por jóvenes de
entre 13 y 17 años, decisión tomada en relación con otras fuentes primarias y
secundarias para establecer los límites de la juventud en el período estudiado. De estos
900, 172 correspondía a La Plata, ciudad capital representativa de una serie de
condiciones enmarcadas en las dinámicas de cambio características de los comienzos
del siglo XX, y 134 aquellos que pertenecían a delitos cometidos por varones en dicha
ciudad. Luego de sistematizarlos, armé seis matrices a la luz de los siguientes ítems: a)
inicio del proceso y sección policial correspondiente; b) lugar y características del hecho
delictivo; c) domicilio del joven y del denunciante; d) lugar y fecha de nacimiento del
joven; e) escolaridad y trabajo del joven; f) actividades de ocio y sociabilidad del joven;
g) datos referidos a la sexualidad del joven; h) integrantes de la familia; i) ocupación del
padre y la madre; j) evaluación del grupo familiar; k) resolución de la causa.
El análisis de Carlo Ginzburg sobre la cosmovisión de un molinero friulano del siglo
XVI representa un antecedente destacado para guiar mi lectura de los expedientes y
responder a las preguntas planteadas. Valiéndose de los registros de la inquisición, su
interpretación ha señalado los límites de los estudios que leían las creencias
constitutivas de las clases subalternas como imposición de las dominantes; su
propuesta consistió en describir las interacciones entre lo erudito y lo popular sin pensar
en una oposición rígida entre ambos términos y colocándolos en una estructura social y
cultural más amplia (Ginzburg, 1981). Del mismo modo, mi interpretación procura
reponer el vínculo entre experiencia, conciencia y prácticas que, magistralmente, ha
caracterizado el análisis de Edward Thompson sobre el proceso de formación de la clase
obrera inglesa, atento a la reposición del contexto de enunciación, la reconstrucción de
las relaciones sociales de los actores estudiados, la inclusión de la dimensión conflictiva
de sus relaciones y la documentación de su capacidad de producir sus propias normas
(Thompson, 1963/1989; Thompson, 1997). En suma, dispuesto a develar las
“estructuras morales” que organizaban el cotidiano “de sujetos y acciones condenados
de antemano –a la muerte por los contemporáneos, a la insignificancia por la
historiografía” (Caimari, 2011: 269).
Bibliografía.
Aguirre, Carlos; Salvatore, Ricardo (2001) “Writing the History of Law, Crime and
Punishment in Latin America”, in Salvatore, Ricardo; Aguirre, Carlos; Gilbert,
232 Los fechados en 1938 traen en su interior pasajes donde se constata que, constituido el tribunal en 1939, fueron elevados al juez de menores procedentes de los otros magistrados intervinientes.
432
Joseph, (eds.) Crime and Punishment in Latin America. Law and Society since
Colonial Times, Durham, Duke University Press.
Arend, Silvia Maria Fávero (2011) Histórias de abandono: infância e justiça no Brasil
(década de 1930), Florianópolis, Editora Mulheres.
Bastos, Ana Cristina do Canto Lopes (2012) Nas malhas do judiciário: menores
desvalidos em autos de tutoria e contrato de órfãos em Bragança-SP (1889-1927),
Tese de doutorado, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas.
Bastos, Ana Cristina do Canto Lopes, Kuhlmann Jr., Moysés (2009) “Órfãos tutelados
nas malhas do judiciário (Bragança-SP, 1871-1900)”, Cadernos de Pesquisa, vol.
39, n° 136, pp. 41-68.
Caimari, Lila (2001) “Remembering Freedom: Life as Seen From the Prison Cell (Buenos
Aires Province, 1930-1950)”, in Salvatore, Ricardo; Aguirre, Carlos; Gilbert, Joseph,
(eds.) Crime and Punishment in Latin America. Law and Society since Colonial
Times, Durham, Duke University Press.
Caimari, Lila (2011) “Sobre la ley y las economías morales del bosque. A propósito de
la publicación de E. P. Thompson, Los orígenes de la ley negra. Un episodio de la
historia criminal inglesa”, PolHis, n° 8, pp. 265-275.
Candioti, Magdalena (2010) “Historia y cuestión criminal. Notas sobre el despliegue de
una curiosidad”, en Sozzo, Máximo (comp.) Historia de la cuestión criminal en la
Argentina, Buenos Aires, Editores del Puerto.
Candioti, Magdalena; Palacio, Juan Manuel (2007) “Justicia, política y derechos en
América Latina. Apuntes para un diálogo interdisciplinario”, en Candioti, Magdalena;
Palacio, Juan Manuel (comp.) Justicia, política y derechos en América Latina,
Buenos Aires, Prometeo.
Cosse, Isabella (2006) Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar, 1946-1955,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Cosse, Isabella (2007) “Ilegitimidades de origen y vulnerabilidad en la Argentina de
mediados del siglo XX”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos,
http://nuevomundo.revues.org/12502 (consultado el 2 de octubre de 2009).
Darnton, Robert (1984/2000) La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia
de la cultura francesa. México, Fondo de Cultura Económica.
Fonseca, Claudia (1998) Caminos de adopción, Buenos Aires, Eudeba.
Fonseca, Claudia (1999) “Ser mulher, mãe e pobre”, em Del Priore, Mary (org.),
Bassanezi, Carla (coord.) História das mulheres no Brasil, São Paulo, Contexto.
Fonseca, Claudia (2006) “Da circulação de crianças à adoção internacional”, Cadernos
Pagu, n° 26, pp. 11-43.
433
Ginzburg, Carlo (1981) El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo
XVI, Barcelona, Muchnik.
Ginzburg, Carlo (1993) El juez y el historiador. Acotaciones al margen del caso Sofri,
Madrid, Anaya & Mario Muchnik.
Kuhlmann Jr., Moysés (2011) “Infancia, sociedad y educación en la historia”, en Cosse,
Isabella; Llobet, Valeria; Villalta, Carla; Zapiola, María Carolina (ed.) Infancias:
políticas y saberes en Argentina y Brasil. Siglos XIX y XX, Buenos Aires, Teseo.
Lionetti, Lucía; Míguez, Daniel (2010) “Aproximaciones iniciales a la infancia”, en
Lionetti, Lucía; Míguez, Daniel (comps.) Las infancias en la historia argentina.
Intersecciones entre prácticas, discursos e instituciones (1890-1960), Rosario,
Prohistoria.
Mayo, Carlos; Mallo, Silvia; Barreneche, Osvaldo (1989) “Plebe urbana y justicia
colonial: las fuentes judiciales. Notas para su manejo metodológico", en Estudios /
Investigaciones, nº 1, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Universidad Nacional de La Plata, pp. 47-80.
Milanich, Nara (2001) “Los hijos de la providencia. El abandono como circulación en el
Chile decimonónico”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, n° 5, pp. 79-
100.
Milanich, Nara (2009) Children of Fate: Childhood, Class and the State in Chile, 1850 -
1930, Durham and London, Duke University Press.
Premo, Bianca (2008) “How Latin America's History of Childhood Came of Age”, The
Journal of the History of Childhood and Youth, Volume 1, Number 1, pp. 63-76.
Regueiro, Sabina (2010) “Inscripciones como hijos propios en la administración pública:
la consumación burocrática de la desaparición de niños”, en Villalta, Carla (comp.)
Infancia, justicia y derechos humanos, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
Regueiro, Sabina (2013) Apropiaciones de niños, familias y justicia. Argentina (1976 –
2012), Rosario, Prohistoria Ediciones.
Rocha, Heloísa Helena Pimenta; Gouvêa, Maria Cristina Soares de (2010)
“Apresentação. Infâncias na história”, Educação em Revista, vol. 26, n° 1, pp. 187-
194.
Rojkind, Inés; Sosenski, Susana (2015) “Presentación. Lectores, autores y voceadores:
niños y prensa en América Latina (1890-1945)”, Iberoamericana, vol. 15, n° 60, pp.
83-86.
Sosenski, Susana (2010) Niños en acción. El trabajo infantil en la ciudad de México
(1920-1934), México, El Colegio de México.
434
Stagno, Leandro (2008) La minoridad en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943. Ideas
punitivas y prácticas judiciales, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires.
Thompson, Edward (1963/1989) La formación de la clase obrera en Inglaterra, Tomo I,
Barcelona, Crítica.
Thompson, Edward (1997) “La economía ‘moral’ de la multitud en la Inglaterra del siglo
XVIII”, en Costumbres en común, Barcelona, Crítica.
Twinam, Ann (2009) Vidas públicas, secretos privados. Género, honor, sexualidad e
ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica.
Villalta, Carla (2010a) “La conformación de una matriz interpretativa. La definición
jurídica del abandono y la pérdida de la patria potestad”, en Lionetti, Lucía; Míguez,
Daniel (comps.) Las infancias en la historia argentina. Intersecciones entre
prácticas, discursos e instituciones (1890-1960), Rosario, Prohistoria.
Villalta, Carla (2010b) “De los derechos de los adoptantes al derecho a la identidad: los
procedimientos de adopción y la apropiación criminal de niños en Argentina”,
Journal of Latin American & Caribbean Anthropology, vol. 15, n° 2, pp. 338-362.
Villalta, Carla (2010c) “Uno de los escenarios de la tragedia: el campo de la minoridad y
la apropiación criminal de niños”, en Villalta, Carla (comp.) Infancia, justicia y
derechos humanos, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
Villalta, Carla (2012) Entregas y secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños,
Buenos Aires, Editores del Puerto – Centro de Estudios Legales y Sociales.
Zapiola, María Carolina (2014) Un lugar para los menores. Patronato estatal e
instituciones de corrección, Buenos Aires, 1890-1930, Tesis de Doctorado, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
435
MEMORIAS Y RELATOS DEL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD: ITINERARIOS
CULTURALES Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS.233
Antonio Padilla Arroyo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México
e_mail: [email protected]; [email protected].
Palabras clave: Trayectoria, discapacidad visual, historia oral, experiencias, memoria
Introducción
El presente texto tiene el objetivo de reconstruir las experiencias de vida y el itinerario
educato de un estudiante con discapacidad visual. Mediante el testimonio oral,
estrategia metodológica que se inscribe en los estudios históricos orales, el trabajo
explora un fragmento de su autobiografía. Por medio de esa historia menuda, que
concierne a este protagonista, nos aproxima y nos devela algunos contornos de sus
vivencias, los cuales están hechas de percepciones, ideas, actos y acciones. Por medio
de la reconstrucción de la memoria oral, el personaje nos devela sus percepciones, sus
ideas, sus actos y acciones. Uno de esos ámbitos es el itinerario escolar que implicó
transitar por distintas instituciones educativas, -regulares y especiales-, así como
diversos espacios sociales y culturales que configuraron elementos vitales en los
procesos de sociabilidad que, en su condición de niño y de joven discapacitado,
involucró estrategias de inclusión individuales y sociales, éstas últimas como herencia
cultural en cuanto a su pertenencia a un grupo social específico, procurándole y
enriqueciendo sus herramientas y destrezas intelectuales.
Esas zonas de interacciones sociales configuran el sentir y el pensar del
personaje, esto es, su subjetividad: emociones, sentimientos, creencias, juicios, valores.
Desde esta perspectiva, el concepto de itinerario cultural posibilita visibilizar tanto las
disposiciones intelectuales que incorporó a su bagaje individual, las cuales son
fundamentales para interpretar sus experiencias, es decir, darles sentido y significado,
de tal manera que le posibilitan situarse en el mundo de la discapacidad y, desde éste,
resignificar el mundo social de la normalidad.
Otro recurso primordial de la historia individual y colectiva es la memoria tanto
de las personas como de los grupos sociales que han transitado desde las experiencias
233 Este texto forma parte de una investigación más amplia titulada Representaciones, actores, prácticas e instituciones en la educación especial en México, 1890-2005, la cual cuenta con el apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de México.
436
de la educación especial hasta la integración educativa, en la dialéctica
inclusión/exclusión, que, en términos prácticos, representa un recorrido por la historia
de la educación especial. Así, mediante el registro y la reconfiguración de la memoria
como un acto creativo, que hace de la palabra dicha y pronunciada, de la oralidad y de
la voz, el dispositivo mental para ordenar los recuerdos y los hechos del pasado a partir
de las inquietudes del presente.
En otras palabras, mediante los recuerdos es posible identificar, recuperar y
narrar los espacios de la experiencia del mundo de la discapacidad que atraviesa
edades biológicas y culturales: la infancia y la juventud que se viven en su particularidad.
El protagonista de esta historia, al reconstituir su pasado individual contribuye a recrear
un pasado colectivo en el cual enfatiza sus experiencias de su trayectoria por las
instituciones escolares que le imprimieron huellas para moldear sus vivencias infantiles
y juveniles, así como su condición de alumno y estudiante que fluctúa entre el mundo
de la “normalidad” y el mundo de la discapacidad, esferas sólo en apariencia distantes
entre sí pero que, desde la memoria del personaje, como recuerdo de acontecimientos,
procesos y acciones culturales, son un universo único que reconoce la importancia de
la diversidad.
De este modo, el texto se compone de fragmentos, momentos y episodios que
trazan un relato de vida que es, también, un relato de un sector de personas con
discapacidad de múltiples modos y sentidos. El protagonista evoca, organiza y narra
vivencias que lo forman y que lo configuran en su trayectoria escolar. En su relato se
recrean fragmentos que iluminan zonas oscuras de la integración/exclusión educativas
y sociales, las dificultades y los obstáculos que, en sí mismos, son parte de la cultura
escolar y de las instituciones educativas.
En algunos casos las trayectorias escolares también involucran experiencias
educativas apoyadas o promovidas por iniciativas de la sociedad civil, entre ellas
asociaciones de asistencia privada, fundaciones nacionales o internacionales, ong's,
etcétera. Si bien, la mayoría de estas instituciones si bien tiene un carácter médico
rehabilitatorio, es decir, están concebidas más como instituciones de terapias físicas e
inclusive emocionales, estas suponen un proceso de enseñanza aprendizaje mediante
el cual se inculcan y se reproduce una concepción del mundo.
Notas y cavilaciones teóricas_metodológicas
El concepto de trayectoria o de itinerario tiene varias significados y está en función del
enfoque teórico y metodológico que se adopte. Aquí lo empleamos para referirnos a
“curso de vida”, el cual retoma la posición de Glen Elder quien señala que se refiere a
la “línea de vida” o carrera, es decir, un camino que toman las individuos y que varía y
cambia de dirección, grado y proporción. Tal definición supone que es necesario tomar
437
en consideración varias facetas de la vida de las personas. Desde luego por trayectoria
escolar se indaga en el itinerario que el personaje transitó por las instituciones
educativas, lo que significa registrar la movilidad, los cambios de modalidades
educativas, las entradas y salidas de un nivel a otro. (Martínez y Padilla, 2007:62-63)
Conviene precisar que la reconstrucción de la trayectoria escolar recupera tres
ámbitos centrales: la memoria, la autobiografía y el testimonio oral que enriquecen la
perspectiva teórica y metodológica de la que se parte. Por medio de estos ámbitos de
indagación es posible identificar las decisiones y las aspiraciones personales, los
escenarios y las condiciones que conforman el mundo de las interacciones sociales. De
este modo, es posible replantear niveles del quehacer de la investigación educativa al
darle voz a un sector de la población escolar que, particularmente, había sido silenciado
e invisibilizado, la de los estudiantes con discapacidad visual.
En gran medida, esta perspectiva ha sido producto de las preguntas que se han
formulado a las maneras de interpretar y representar la realidad, así como de los
procedimientos para codificar y legitimar el conocimiento provenientes de diversos
movimientos sociales y corrientes de pensamiento entre ellas el feminismo, las
movilizaciones de sectores y grupos marginados para reivindicar su papel protagónico,
entre ellas las minorías étnicas. Uno de los puntos centrales de sus controversias fue
sostener la importancia de hablar por sí mismos, tanto como sujetos como promotores
de la investigación en torno a su estado de discapacidad, y, por lo tanto, cuestionar las
bases mismas de esta condición. De esta manera, han propiciado la exploración de
nuevas formas de conceptualizar las experiencias y el significado de tener impedimentos
físicos y de desarrollo y, por ende, de su lugar social. La idea misma de utilizar la palabra
“voz” contiene el reconocimiento de la legitimidad y la autoridad académica y cultural
como participantes activos de la realidad en la que viven.(Gerber, 2008:276-277)
A ese respecto, conviene sumar dos apuntes de orden metodológico: el relato
autobiográfico que propicia la entrevista de historia oral hace que el sujeto se “cree”, en
un doble sentido, como productor de sus vivencias, por medio de los recuerdos y como
conocimiento de su estar en el mundo que se actualiza a cada momento. De este modo,
el protagonista significa lo que “escribe” a través de la memoria, construye y “vive” una
narración y queda definido por ésta. (Sacks, 2015:307) Así, al analizar los relatos de
vida se reintegran las experiencias, los escritos y las historias de personas con
discapacidad pero al concebir la memoria individual como una aproximación a la
memoria colectiva, esas historias ayudan a comprender e interpretar el marco cultural y
los ámbitos en que se desenvuelven y las consecuencias que produce una sociedad
organizada para un mundo que se organiza alrededor de las necesidades de las
personas sin discapacidades, lo que aporta elementos para dilucidar las dinámicas de
438
exclusión/inclusión cultural, en general, y de la escolar, en la particular.(Barnes,
2008:389)
En este esfuerzo por dar voz a las personas y grupos sociales con discapacidad
también se ha traducido en la incorporación a los estudios de la discapacidad y de los
discapacitados de métodos y teorías que provienen de la etnografía y que se enfatizan
en el registro de lo subjetivo y de la narración que los propios sujetos elaboran. (Booth,
1998:253) En este texto el recurso teórico y metodológico es el testimonio y el relato
oral como una narrativa que procura ser “fiel al sentido que (las personas) dan a sus
propias vidas”, de acuerdo con la expresión que Tim Booth utiliza para describir las
experiencias de individuos con problemas de aprendizaje y que es fácil de compartir con
el objetivo de registrar las vivencias de personas con discapacidad.
Booth indica que hay varios métodos narrativos y que éstos varían en sus formas
y en sus propósitos. Para los fines de este texto nos interesa destacar tres: el repaso de
la vida que es un proceso de reflexión que realizan las personas para valorar su propio
pasado desde el presente; el relato de vida que es el recuento de la toda la vida o de
una parte de ella de un individuo, quien cuenta de manera oral a otra persona que
colabora en la reconstrucción de la vida; la historia de vida que contiene a los otros dos
métodos pero que se complementa con información biográfica obtenida de otras
fuentes. Desde luego, la autobiografía y las memorias son otras maneras de narración
producto, en la mayoría de los casos, del autor o de la persona que relata sus
experiencias. (Tooth, 1998:255)
Un concepto que es útil para comprender las estrategias que instrumentan las
personas con discapacidad para transitar y superar las condiciones adversas y
aprovechar las favorables es el “carrera moral” propuesto por Erving Goffman. Si bien
este concepto lo construye a partir de sus estudios en las instituciones llamadas “totales”
con el propósito de comprender los conceptos que de sí mismos tenían personas
denigradas y marginadas, entre ellas personas desfiguradas, con discapacidades físicas
y aquellas que eran diagnosticadas y tratadas como enfermos mentales, también puede
emplearse para examinar a otros grupos sociales como los ciegos o débiles visuales.
Goffman utiliza el concepto de carrera moral para referirse a las interacciones
individuales mediante las cuales las personas adquieren conciencia de su identidad y
de la imagen y expectativas negativas que otras personas tienen de ellos cuando se
relacionan. Estas interacciones son muy importantes porque les permiten formarse una
idea de sí mismos “frágil y atormentada” sobre su condición lo que a su vez los conduce
a generar, aprender y desarrollar comportamientos apropiados para evitar humillaciones
y estar en aptitud de responder a las demandas que las instituciones les imponen. Así,
De este modo, estas personas adquieren conciencia de su condición social y en función
439
de ella toman las decisiones y las conductas que los permita situarse en el mundo que,
al mismo tiempo, modifica las imágenes y las expectativas de sí mismo y la de los
demás. (Gerber, 2008:287)
El protagonista y su circunstancia
Fermín nació en 1983, en un pequeño pueblo del estado de Puebla, San Miguel Zozutla,
colindante con la Ciudad de México. Nuestro personaje es el menor de cinco
descendientes, 4 mujeres y él, único varón. Una de sus hermanas también con
discapacidad visual. Sus padres se dedicaban a labores del campo. A los ocho años
emigra a la ciudad de México para poder buscar alguna alternativa educativa y “todo lo
consecutivo, hasta laboral” (Entrevista a Fermín, febrero de 2014).
La infancia es la fuente inicial y vital de las experiencias que marcan gran parte
de la biología y de la cultura de los individuos y de la sociedades. Es cierto, la infancia
de él, de todos, de los otros es singular y es universal. Y,por supuesto, Fermín no escapa
a esta circunstancia. Respecto a ésta fase, asegura que estuvo pletórica de
particularidades que derivaron de su condición cultural, sus primeros años poblados del
mundo rural, y, después, orgánica, su deficiencia visual, que estructura el mundo de la
discapacidad. llEn esta tesitura, lo fascinante de los recuerdos infantiles de Fermín es
que reconoce ambas dimensiones y lo hace desde un posicionamiento frente al mundo
urbano y al mundo de la normalidad. Fermín considera que esas circunstancias lo hacen
no sólo diferente sino en que lo situan en un lugar más adecuado para afrontar la vida
en su conjunto. Asegura que su niñez:
[…] es muy sui generéis, a pesar de la discapacidad. Eh, yo crecí en un contexto
meramente rural, lo cual a mí me permitió desarrollar otras habilidades que a
veces las personas con discapacidad visual que la adquieren por un accidente o
que bien han vivido sobreprotegidos por sus papás no desarrollan ¿no?.
(Entrevista a Fermín, febrero de 2014)
Ahora bien, una de las aportaciones de las teorías de la discapacidad reside en concebir
a ésta como una construcción cultural. En el relato de Fermín resulta fundamental
reconocer las vivencias que compartió junto con su hermana, que también tenía
discapaciad visual, en un mundo donde la diferencia no estriba en su condición sino en
el lugar que ocupó como primogénito. Para él no había ningúna circunstancia que
limitara su movimiento físico ni siquiera el paisaje material en el que se desenvolvía su
vida. En su relato, evoca los siguientes momentos y espacios primordiales, el juego, en
el espacio privado de la casa y, en el espacio público del trabajo, el aprendizaje de las
labores del campo.:
Era algo nato que yo aprendí a desarrollar. Y, y, yo crecí en, en ese contexto
urbano. Mi papá fue un campesino, pues sí, muy humilde, quizá él nunca se
440
preguntó qué iba a pasar conmigo o con la discapacidad; si mi hermana, cuando
yo nací, ya tenía diez y siete años. Igual, por ella, a esa edad, ella no había
estudiado, se había adecuado muy bien a las labores domésticas, lavaba muy
bien.
Eh, cuando mi papá araba, me subía al arado y a veces con el mismo peso que
podía yo pesar en ese tiempo, a mi papá le gustaba[…] que me subiera al arado,
¿no? porque él decía que el arado asentaba más y, y entonces, este, podía hacer
el surco más estable. Entonces, a veces eso…
Koselleck introduce dos conceptos primordiales para comprender la experiencia
humana, a saber, el espacio de la experiencia y el horizonte de expectativa. Fermín
evoca el paisaje físico. Tal vez donde hacía más evidente su discapacidad es el espacio
público, en el que el miedo del adulto, del padre, era perceptible pero que Fermín
encargaba de disipar casi de inmediato al dar muestra de la adquisición de facutaldes
y habilidades intelectuales y sensoriales para superar las deficiencias visuales que, en
apariencia, afrontaba. No obstante, en el mundo rural conoce y reconoce las
experiencias primigenias que nutren gran parte de lo que Oliver Sacks llama imaginería
y memoria sensorial, las cuales son esenciales para situarse en el mundo y que le
utilizara a lo largo de su vida:
Nosotros (se refiere a su hermana) cuando empezamos a, a este, a desarrollarnos,
pues bueno, afortunadamente, eh yo tuve pues, la oportunidad de que mis papás
nunca me restringieran nada. Yo desde muy chico, siempre andaba corriendo por
el patio.
La riqueza y la variedad de aprendizajes, la. La convivencia al lado de su heraman fue
decisiva en el transcurso que adquirio la vida de Fermían. No deja de ser conmovedor
pero al mismo tiempo notable la interminable serie de recuerdos sobre las vivencias y el
profundo sentido de las cosas que acumuló para habitar los mundos de la discapacidad
y la anormalidad. En este sentido, recuerda el aprendizaje que adquirió su hermana no
sólo porque ilumina una de las aristas de la formación de lo femenino sino porque él
mismo las hacía suyas:
Hacía, incluso aprendió a hacer tortillas, una serie de cosas que, pues que yo
también ehh, a mi modo, a, a, a mis años aprendía a alimentar los borregos, a
hacer corrales de madera, de troncos, todo eso yo, yo aprendía a hacerlo. Y, mi
papá aprendió a, a entenderlo y tal vez creyó que esa era toda mi vida, no, no lo
sé, cuál habrá sido el pensamiento de él. Mi papá siempre fue un tipo muy amable,
pero muy reservado ¿no?
441
Fermín pudo crear un mundo autónomo, un lugar propio que conoció por medio del
cuerpo que “es un habitar, una condición humana concentrada”. De este modo, las
habilidades, las destrezas y las herramientas físicas y senoriales que logran, desarrollan
y comparten las personas con discapacidad visual las resume Oliver Sacks, quien
resume la experiencia de la ceguera del John Hull, profesor de religión en Inglaterrra.
Sacks apunta lo siguiente:
Para Hull, ser alguien ‘que ve con todo el cuerpo’ consiste en desplazar su
atención del centro de la gravedad, a otros sentidos y que los nuevos sentidos
adquieren una nueva riqueza y capacidad. Con esa nueva intensidad en su
experiencia (o atención) auditiva, junto con la acentuación de su otros sentidos,
Hull llegó a alcanzar una intimidad con la naturaleza, una intensidad en su estar
en el mundo, superior a todo lo que había conocido cuando veía. Recalcaba que
no se trataba sólo de compensación, sino de una categoría comletamente nueva,
una nueva modalidad de ser humano. (Sacks, 201:226)
Quizá la describición de Sacks acerca de la profundidad de los cambios que
experimento Hull después de reformular su vida personal y de su condición de ceguera
profunda sea equivalente a las mutaciones y el significado que estas tuvieron en el
itinerario vivencial de Fermin, de su traslado del mundo rural al mundo urbano lo que
implicó una redefinición de sus necesidades materiales y simbólicas:
Yo, cuando llego a la ciudad, fue un proceso muy duro, fue muy difícil porque me
arrancaron de todo ese núcleo rural y me insertaron pues abruptamente a esta
urbanidad donde tenía yo que, además que convivir con otros niños con
discapacidad, unos de mi edad, unos un poquito más grandes. Y, finalmente tuve
que adaptarme a un contexto al cual yo no estaba adecuado.
La travesía: los primeros pasos en el mundo educativo
El protagonista organiza y narra sus vivencias acerca de su estancia y recorrido por las
diversas instituciones educativas, en particular describe lo que representó su
desempeño académico y social que, en conjunto, configuran su trayectoria escolar. Por
medio de la reconstrucción de la memoria oral, Fermín recuerda vestigios que iluminan
zonas oscuras de los ambientes de integración/exclusión educativas y sociales, de las
dificultades y los obstáculos que vivió y afrontó y que, en sí mismos, forman parte de las
instituciones educativas y, más en general, de la cultura escolar.
Fermín evoca uno de los momentos decisivos en el transcurso de su vida, su
traslado a la Ciudad de México para hacer atendido de su ceguera parcial y la noticia de
su condición. En su relato entremezcla situaciones y tiempos, entre los cuales alude a
442
sus primeras experiencias escolares, las cuales no necesariamente fueron alentadoras
y más bien se insinúan la lógica de la inclusión/exclusión que vivió:
Eh, dicho diagnóstico, pues bueno, solamente, eh, pues me, me dijeron que no
iba a volver a recuperar la vista, que era un proceso eh, eh, genético, eh,
degenerativo y que no iba a ser posible ver. Entonces, deciden al año siguiente
que yo entre a la escuel… al Instituto Nacional de Rehabilitación para Niños
Ciegos y Débiles Visuales, este se encontraba ahí en Viena 125, en la Colonia del
Carmen, en Coyoacán. Eh, en este instituto, el cual con la Reforma Educativa del
94 pues desapareció ¿no? Pero, yo tengo la fortuna de, de, yo entré el 6 de enero
del 92, el 7 de enero, no recuerdo bien y con ese medio año, logré pasar a
segundo. Realmente tenía un conocimiento empírico, pues creo yo que muy
bueno, porque en mi pueblo no fui a la escuela nunca ¿no? En esos ocho años
siempre fue mi infancia divertida, agradable, pero nunca en la escuela ¿no?
Como parte de esta etapa de la vida de Fermín se encuentra el proceso de adaptación
orgánica y cultural a las nuevas circunstancias que afrontó en medio del sentimiento de
abandono y la tristeza y la necesidad de asistir a la escuela. Sólo los lazos y el cobijo
de sus hermanas le permitieron afrontar y superar ese estado de soledad, así como
permanecer en la escuela. Fermín narra esta experiencia:
No, no, era muy duro. Era muy duro, pero así me tarde yo creo que adaptándome
tres años. Porque yo me acuerdo que, yo creo yo dejé de llorar hasta tercero. Pero
a pesar de todo, nunca, nunca deserté en la escuela. Siempre, mis hermanas que
fueron muy, pues muy amorosas, pero muy estrictas conmigo.
A este respecto, en el relato del personaje es posible explorar y observar las
representaciones y las interacciones culturales que permean a la sociedad en su
conjunto y que se reproducen en los espacios educativos, lo que ha hecho aún más
compleja su trayectoria escolar.
Eh, realmente me siento satisfecho de haber estado en el Instituto Nacional para…
de Rehabilitación para Niños Ciegos y Débiles Visuales y después en la única
secundaria para niños ciegos que es la Diurna 320. En esa secundaria cuando yo
estuve, aceptaban a personas con discapacidad visual, que tuvieran sólo eso,
discapacidad visual y ninguna otra.
Pero en ese tiempo, pues sí hacían una selección un poco rigurosa ¿no? Es decir,
tenías que cumplir cierto perfil.
Sí, yo, yo, yo estuve en la Casa Hogar de primero a tercero de secundaria, pero
la tercero de secundaria, bueno, en la Casa Hogar, o sea, nos hacían tan
responsables, tan, eran como muy disciplinados.
443
Y además nos trataban, pues yo siempre he dicho que muy bien, porque es la
verdad ¿no? y nos alimentaban bien. Yo, en primero de secundaria, yo ya andaba
solo en la calle; ya empezaba a conocer las líneas del Metro; ya empezaba a
caminar solo por la calle ¿no? Entonces cuando yo ya iba en tercero, pues yo ya
me hice un poquito más vago ¿no? Porque a veces no llegaba a la Casa Hogar, a
veces la Madre, ya empezaba a sancionarme, porque ¿por qué no llegaba?,
porque me iba con mis hermanas.
Las clasificaciones y los procesos de selección de las discapacidades con el afán
de hacer más eficientes los procesos educativos:
Eh, a veces había otras discapacidades, pero ninguna que tuviera que, que, cómo
explicarlo, porque esto es delicado, puedo comprometer a la institución. O sea,
que no hubiera una discapacidad este, intelectual que comprometiera el desarrollo
de los… o que no, o que no pudiera cubrir este, cubrir el, cubrir el desarrollo
académico de los cursantes ¿no?
Eh, quiero decir, a veces había niños que llegaban con Síndrome de Down, con
otro tipo de discapacidades. Digo, Síndrome de Down, por ejemplo, no es una
discapacidad intelectual, al contrario, es otro tipo de discapacidad física y que a
veces uno no conoce, pero bueno. Eh, a veces la misma institución tenía que
reconocer que no tenía profesores para tratar con síndrome de Down.
Y ni modo, no entraban. Entonces, pura gente ciega, que tuviera… incluso había
quien llegaba a decir: “aquí aceptamos ciegos puros ¿no? Puros ciegos, puros”
¿no?
O sea, “ceguera pura”, que no, que no comprometiera a otra discapacidad.
Así, aún en el mundo de la discapacidad, las clasificaciones basadas en el modelo
médico eran definitorias para decidir las trayectorias escolares y las posibilidades
educativas a las que podían aspirar las personas que tenían alguna o alguna de ellas.
No obstante, Fermín señala que fue afortunado y que tuvo algunas ventajas para
proseguir con sus estudios y las estrategias que diseño para superar las dificultades que
afrontaba a cada paso. En este punto reflexiona sobre un conjunto de dimensiones que
facilitaban u obstaculizan su itinerario escolar:
Entonces, la verdad es que yo me sentí muy afortunado porque cuando yo egrese
de esa secundaria, eh, pues eh, vino otra parte dura, otro proceso, que fue el
adaptarme a una educación media superior, en donde el único ciego, entre
cuarenta cursantes, era yo. ¿No?
444
Cuando yo estaba acostumbrado a crecer entre una docena de ciegos ¿no?; en
una doce de ciegos en primero a sexto. Eh, en secundaria, en una decena, porque
sí reducía un poco los grupos. De primero a tercero, pues igual, una decena de
ciegos ¿no? Y de pronto, entro a un Bachilleres donde me veo rodeado por
cuarenta ciegos, pues me entra como la angustia ¿no? Digo “¿Y, ahora qué voy..”
¡Perdón! Por cuarenta normovisuales.
Su tránsito de los estudios secundarios al ciclo preparatorio o de nivel medio superior
puso a prueba todo el bagaje cultural que había acumulado durante su vida escolar y su
vida social. Como suele suceder con los jóvenes de su edad, Fermin tuvo que elegir
para continuar sus estudios:
Entonces, me entra la angustia y yo digo: “¡Híjole ahora qué voy a hacer en ésta
escuela tan enorme.
Pero justamente, pues seguía, sigo hablando de esas fortalezas ¿no? De, de, de,
de ese compromiso que, un compromiso ¡tácito! que hice con mis hermanas, de
que sí ellas me iban a traer aquí.
Ya como que yo ya sentía que la Casa Hogar no era para mí. Que yo ya había
pasado ese proceso tan grato, claro, pero ya, ya no podía seguir igual ¿no? O sea,
para mí, yo siempre he creído que en la vida uno debe de ir viviendo procesos
¿no?
Entonces, yo sentía que cuando yo entrara a la prepa yo no podía decirles a mis
compañeros de prepa que yo vivía en una Casa Hogar. Porque me daba pena
¿no? (Sonrisas de Fermín)
Era, era como ir madurando hasta la otra parte ¿no? No sólo madurando en nivel
académico, sino ir madurando como persona. Entonces, yo luego me iba con mis
hermanas. Eh, procuraba este, empecé a investigar cómo llegar a la Biblioteca
México, ahí a Balderas.
Hoy en día un edificio que me gusta tanto ¿no?
Y que siempre me enamoré como de esas arquitecturas viejas ¿no? Siempre fue
para mí como un lugar muy albergador, muy acogedor. Y a la fecha sigo yendo
ahí ¿no? Entonces, yo mismo buscaba como, como algo diferente para mí.
Entonces, dejé de ir a esa Casa Hogar. Entonces, cuando yo entro a la prepa, yo
me voy a vivir ya con mis hermanas.
Ahí siempre estuve. Bueno, cuando llego al primer semestre de Bachilleres,
también es todo, es otra gama de experiencias ¿no? Primero, el, el sentirme yo
fuerte y sentirme seguro para, para soportar las miradas de un salón completo
sobre mí ¿no? Completo, porque finalmente marcas la diferencia ¿no?
445
Reflexiones finales
En lo que puede considerarse un recuento de su itinerario escolar y cultural nos
aproxima a las estrategias personales, las cuales le posibilitaron enfrentar tales
circunstancias para proseguir y cimentar su itinerario. En este caso, el protagonista
desplegó y recorrió un amplio abanico de instituciones tanto de la escuela y educación
regular u ordinaria y de la escuela o educación especial y en los diversos ciclos o niveles:
primaria, secundaria, bachillerato y superior. En un balance general de su itinerario
personal y escolar, Fermín reflexiona:
Con ellas este, pues bueno, sí viví muchos años, este. Eh, y, bueno, toda la prepa
estuve viviendo con ellas. Otro dato interesante es que, en la medida de lo posible,
yo trataba de ser independiente. No sólo como persona, sino hasta en lo
económico, eh, siempre estuve luchando por becas ¿no?, siempre, siempre.
Desde la secundaria, la prepa, siempre. Eh, encontré una fundación que a través
de la Casa Hogar nos daba becas económicas, en la medida. O sea, siempre para
mí y como siempre fui de buen promedio, para mí era como una gran oportunidad
poder conseguir una beca. Porque sentía que eso me comprometía menos con
mis hermanas ¿no?
Pues era, pues para hacerme independiente, para buscar hacer algo ¿no?
Referencias bibliográficas
Barnes, C. (1998). “La diferencia producida en una década. Reflexiones sobre la
investigación ‘emancipadora’ en discapacidad”, EN L. Barton (Comp.) Discapacidad y
sociedad, Madrid: Morata.
Booth, T. (1998). “El sonido de las voces acalladas: cuestiones acerca del uso de los
métodos narrativas con personas con dificultades de aprendizaje”, EN L. Barton (Comp.)
Discapacidad y sociedad, Madrid: Morata.
Gerber, D.A. (2008). “Escuchar a las personas con discapacidad. El problema de la voz
y la autoridad en el libro de Robert B. Edgerton The Cloak of Competence”, En L. Barton
(Comp.), Superar las barreras de la discapacidad. 18 años de Disability and Society:
Madrid: Morata.
Padilla, A. y Martínez, M.C. (2007). “Itinerarios, espacios y prácticas de la cultura obrera
en México en la segunda mitad del siglo XX”, EN Camarena, Mario (coordinador), El
siglo XX mexicano. Reflexiones desde la historia oral: México, amho/CEAPAC
ediciones.
Sacks, O. (2011). Los ojos de la mente, España, Anagrama.
Sacks, O. (2015). En movimiento. Una vida. México, DF., Anagrama.
Fuente Oral
446
Entrevista a Fermín P. L.realizada por María Concepción Martínez Omaña y Elizabeth
Zamora López, Ciudad de México D. F., 17 de febrero de 2014
O ASILO DOS EXPOSTOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA:
ESPAÇO DE RECOLHIMENTO, CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO (1914 -1927)234
Jerusa da Silva Gonçalves Almeida
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB)
Introdução
As breves descrições dos registros encontrados nos arquivos da Santa Casa da
Misericórdia da Bahia (SCMBA), além de permitirem vislumbrar uma indicação, mesmo
que genérica, dos antecedentes das crianças deixadas na Roda dos Expostos, instituída
na Bahia, no ano de 1734, possibilita também uma reflexão acerca do papel
desempenhado pela SCMB na obra de assistência e proteção à infância pobre e
abandonada.
Para este estudo, a atenção volta-se para a análise do Regulamento do Asilo dos
Expostos da SCMBA, aprovado pela seção da Junta de 25 de março de 1914,
particularmente, no que tange às propostas relativas à educação da criança235. A
primeira data refere-se ao ano de publicação do referido regulamento e a segunda, ao
último relatório analisado. Para a realização desta pesquisa foram consultados o
Regulamento do Asilo dos Expostos de 1914 e os Relatórios da Mesa Administrativa da
SCMBA, encontrados no acervo do Arquivo da Santa Casa da Bahia, dos anos de 1911,
1912 e 1927.
A população (universo) a que, majoritariamente, se reporta esta investigação são
crianças oriundas do estado da Bahia, que pertenciam aos segmentos de baixa renda,
discriminadas pela sua condição de pobreza.
A solenidade de inauguração do Asilo dos Expostos foi considerada um grande
evento, com a presença das principais autoridades eclesiásticas, civis e militares da
Bahia (SCMBA, 1912). O Asilo foi descrito como sendo de primeira ordem, não só no
234 Este trabalho é parte da pesquisa intitulada O processo de encaminhamento e acolhimento no Asilo de Expostos da Santa Casa de Misericórdia da Bahia: um estudo sobre as origens dos enjeitados e as causas do abandono dos órfãos (1889-1927), desdobramento da investigação realizada para a confecção
da Tese de doutoramento da autora, defendida em janeiro de 2016 na Universidad de Salamanca. 235 O Regulamento do Asilo dos Expostos de 1914, em forma impressa, é o mais antigo encontrado nos Arquivos da SCMBA.
447
Estado da Bahia, como em todo o Brasil, e não somente pela sua importância, mas
ainda pelo futuro das “infelizes criancinhas” que, “impiedosamente enjeitadas”, para ali
eram levadas. Em tom de denúncia, está posto: “É ele, na verdade, uma das mais
abençoadas obras de caridade, e para a qual não concorrem com coisa alguma os
governos Estadual e Municipal” (SCMBA, 1912, p. 30).
Depois da inauguração do Asilo dos Expostos, em 1862, ainda foram construídas
duas pequenas casas nas extremidades: uma para a Roda dos Expostos e outra que
deveria ser destinada à moradia do feitor, mas que passou a ser um externato de
meninas pobres, regido por uma das irmãs da Caridade que lhes ensinava religião, as
primeiras letras e costuras.
Em um dos pavilhões, à entrada do Asilo, também funcionava uma escola gratuita,
deliberada pela Mesa Administrativa em sessão de 2 de fevereiro de 1873, para uma
educação cristã, catecismo, gramática, português, leitura, ortografia e aritmética, além
de trabalhos coma agulha, a ser oferecida a meninas pobres da vizinhança (SCMBA,
1911, 1912). Uma vez depositadas na Roda, as crianças abandonadas eram atendidas
por um grupo composto de treze irmãs de Caridade.
O Relatório Anual da Provedoria de 1962 faz referência ao Asilo dos Expostos,
em seu centenário. Nas palavras do então Provedor Flaviano Marques de Souza:
É de destacar-se haver o Internato completado em 29 de junho de 1962, o seu centenário de profícua atividade naquele local, data que não passou despercebida aos órgãos de direção da Santa Casa, havendo sido feito o seu registro de maneira objetiva e útil. Assim é que, por iniciativa da Junta Deliberativa, foi constituída a comissão composta dos Irmãos Antônio Pereira Moacyr, Cristóvão Américo da Silva e Arthur Ferreira Machado Soares Jr. Que achou, por bem, angariar donativos destinados às comemorações respectivas. Da coleta de donativos apurou-se a quantia de Cr$ 335.000.00 constante de relação anexa, quantia essa que foi dispendida na aquisição de utilidades e na criação de serviços como o de datilografia e o de confeitaria, visando o aprendizado das internas, a fim de melhor habilitarem ao exercício de uma profissão quando da saída do estabelecimento. (SCMBA, 1962, p. 89).
Ainda segundo o Relatório da Provedoria do ano de 1912, o Asilo dos Expostos
destinava-se ao recolhimento, criação e educação das crianças expostas e das filhas
dos irmãos da Santa Casa, menores de dez anos. Ressalta-se que o texto do Projeto
do Regulamento para o Asilo dos Expostos de 1862, em seus arts. 1º e 2º, reza que a
direção e inspeção do Asilo dos Expostos competiriam ao Mordomo dos Expostos, com
a observância das deliberações da Mesa Administrativa. Conforme arts. 19 a 21, 41 e
42, à Superiora caberia manter atualizados os livros de registro geral e especial;
acompanhar os serviços prestados pelas amas de leite; substituir o Mordomo na
inspeção do Asilo, em suas eventuais ausências; apresentar ao Mordomo relatórios de
448
suas visitas domiciliares e comunicar qualquer irregularidade no funcionamento do
Asilo; além de fazer frequentes visitas de domicílio às amas e às crianças. (SCMBA,
1862a).
Ainda segundo o Projeto de Regulamento para o Asilo dos Expostos, citado na
Ata da Mesa e da Junta de 1862, em seu art. 43, a criança exposta poderia ser
reclamada a qualquer tempo. A pessoa que desejasse recuperar a criança deveria
assinar um requerimento circunstanciado, destinado ao Mordomo dos Expostos, além
de ser obrigada a indenizar a Santa Casa da Misericórdia pelas despesas feitas durante
os dias em que a criança esteve abrigada (SCMBA, 1862a).
As pessoas que provassem seu estado de pobreza receberiam a criança de volta
sem indenização alguma, obrigando-se a apresentá-la aos irmãos da Mesa, de seis em
seis meses, e a dar-lhe a educação primária, se ainda não a tivessem recebido (SCMBA,
1862a). Antes de fazer a entrega do exposto, o Mordomo deveria comunicar o
acontecido à Mesa e, na falta desta, ao Provedor. A Secretaria da Santa Casa expediria
à Polícia a comunicação da entrega.
Os arts. 45 e 46 do Projeto do Regulamento do Asilo de 1862 (SCMBA, 1862a)
fazem referência a uma soma em dinheiro que seria doada pela Santa Casa da
Misericórdia às mães pobres. O argumento que justificava tal medida era o fato de
muitas mães, obrigadas pela necessidade, frequentemente abandonarem seus filhos.
Baseado em um atestado do Pároco e do subdelegado, que comprovasse sua condição
de extrema pobreza, essas mães estariam aptas a receber tal ajuda. Essas mães
também ficariam sujeitas à mesma inspeção feita às amas externas. Essa concessão
não seria feita sem a aprovação da Mesa236.
Como justificativa para a criação de uma Roda no Brasil, o Relatório da Provedoria
da Santa Casa da Bahia, de 1862, destaca a necessidade de conter a “fereza das
ingratas e desamorosas mães” (SCMBA, 1862b, p. 59). Apesar dos adjetivos negativos
dirigidos às mães que entregavam seus filhos à Roda, muitas famílias, mesmo
legalmente constituídas, abandonavam seus filhos por se considerarem incapazes de
criá-los. Escravas também deixavam lá seus filhos, na esperança de que crescessem
livres do cativeiro.
Desenvolvimento
O Asilo dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia da Bahia encontrava-se
dividido em duas seções, em alas diferentes do edifício: uma para o sexo masculino;
236 No Regulamento de 1914 (SCMBA, 1914) não foi encontrada nenhuma referência a essa medida.
449
outra para o sexo feminino (SCMBA, 1914). As crianças de 3 a 5 anos, eram educadas
no Jardim de Infância, por meio de exercícios regulares, do corpo e dos sentidos, lições
de coisas, recreios e jogos infantis ao ar livre. A creche e o Jardim da Infância formavam
uma seção mista (art. 1º) e a direção da creche era confiada a uma senhora que tivesse
noções de higiene infantil (art. 6º). As crianças recebiam todos os cuidados na creche
desde a sua admissão no Asilo dos Expostos.
Uma vez admitida no Asilo dos Expostos, o nome da criança também deveria ser
inscrito no livro de registro com um número de ordem, data da entrada, sexo, idade
presumida e quaisquer sinais físicos que servissem para distingui-la. Caso as
declarações não informassem que a criança foi batizada e registrada, a escolha do
nome caberia à Superiora do Asilo. Segundo o art. 6º do Projeto de Regulamento para
o Asilo dos Expostos de 1862 (SCMBA, 1862a), o exposto sem nome declarado
receberia o nome do santo do dia de sua exposição e se, por qualquer circunstância,
isso não fosse possível, valeria o nome dado pelo Mordomo dos Expostos ou o nome
do Padrinho237.
Segundo o art. 7º, do Projeto de Regulamento para o Asilo dos Expostos de 1862,
a Superiora usaria um livro de registro geral dos expostos, no qual deveria fazer
declarações precisas sobre cada criança, incluindo informações sobre a quem foi
confiada e o dia em que foi devolvida ao Asilo. Consoante esse Projeto, além do Livro
de Registro Geral, a Superiora usaria um segundo livro para registro de particularidades
das crianças expostas, como suas recordações, seus sinais naturais, a qualidade e
quantidade da roupa que possuíam. Deveria ainda copiar a declaração original que
viesse acompanhando a criança e enviar a carta original à secretaria do Asilo para
arquivamento. Neste registro, fazia-se a menção ao termo a que correspondia no livro
de registro geral (SCMBA, 1862a).
De acordo com os arts. 3º e 4º do Projeto do Regulamento para o Asilo dos
Expostos de 1862 (SCMB 1862b), a criança que fosse exposta na Roda deveria ser
237 Passados 65 anos desde a elaboração do Projeto do Regulamento para o Asilo dos Expostos de 1862,
o registro do dia 7 de julho de 1927, encontrado no Livro de Entrada dos Expostos, fazia referência a um
menino pardo, de seis anos de idade, entregue à Roda com a declaração de que já havia sido batizado e
que era “filho legítimo de Affonso de Freitas Paranhos e Junilce de Freitas Paranhos, sendo os padrinhos
Drº Raphael de Souza Junior e D. Zuleika de Souza Barboza”. A criança, apesar da declaração do
batismo e da clara especificação dos nomes dos padrinhos, foi batizada e recebeu o nome de Raphael de
Mattos, em homenagem ao 1º Benfeitor da Santa Casa. Em 1932, esta criança foi para o Hospital de
Santa Isabel servir como Sacristão (SCMBA, 1927). Outro registro faz referência a uma menina parda,
com oito dias, deixada na Roda por volta das 13 horas, em bom estado de saúde. No bilhete que
acompanhava a criança, estava escrito: “Waldelice Florence dos Santos. Nascida a 28 de junho de 1927,
a 1 hora da madrugada. Já está registrada e não baptisada.” (SCMBA, 1927). Neste caso, apesar do
nome informado no bilhete, a criança foi batizada com o nome de Waldelice de Mattos, em 13 de julho de
1927. A criança faleceu de sífilis, em 20 de outubro do mesmo ano.
450
tratada e amamentada sob a supervisão da Regente do Recolhimento. Ali, sob a
vigilância da Superiora, a criança seria entregue a uma das amas internas e, assim que
fosse possível, seria enviada ao Asilo dos Expostos238.
Quando as crianças deixavam de ser amamentadas pelas amas internas que,
inclusive, recebiam uma gratificação especificada pelo Mordomo da Santa Casa pelos
seus serviços, eram recolhidas ao Asilo dos Expostos ou entregues às amas internas,
contratadas para esse cuidado. Segundo os arts. 15 a 17, 22 a 24 do Projeto de
Regulamento para o Asilo dos Expostos de 1862, se as amas de leite adoecessem ou
fossem consideradas desleixadas seriam automaticamente despedidas e as crianças
recolhidas ao Asilo (SCMBA, 1862a).
Embora fossem entregues às amas de leite, mediante uma fiança, algumas
crianças não mais retornava à Santa Casa da Bahia, o que parecia ser bem aceito entre
os Provedores da Misericórdia, como ilustram as palavras do Provedor Francisco Joze
Godinho: “O que todas as mesas têm tolerado, quando sabem que são bem tractadas
por que no caso contrário tem exigido, até por intermédio das Autoridades Policiaes, a
entrega dellas...” (SCMBA, 1852, p. 15). Na verdade, procurava-se estimular a ama de
leite a manter a criança sob sua guarda até a idade dos sete anos e, em alguns casos,
até a idade dos 12 anos.
Sobre este mesmo tema, o Regulamento do Asilo do ano de 1914, estabeleceu
que a administração do Asilo dos Expostos poderia confiar o aleitamento das “crianças
fracas” a amas de leite que apresentassem todas as condições desejáveis de saúde,
moralidade e bons costumes e que tivessem residência em lugar salubre (SCMBA,
1914). Ao médico do Asilo caberia o exame das crianças de menos de seis meses de
idade, para a rigorosa observância dos cuidados higiênicos, especialmente em relação
ao aleitamento e nutrição das crianças (art. 5º, § 2º e3º). Estes profissionais visitavam
diariamente o Asilo, para observar a saúde dos expostos, vacinar e revacinar as
crianças, além de examinar cuidadosamente as amas de leite e as crianças
amamentadas dentro e fora do Asilo.
De acordo com o Regulamento do Asylo dos Expostos da Santa Casa da
Misericórdia (SCMBA, 1914), a administração da casa seria exercida por uma Superiora,
subordinada ao Mordomo e ao Provedor da Santa Casa. Conforme arts. 16 e 17 desse
238 Nem todos os registros de entrada dos expostos apresentam informações completas sobre os destinos
das crianças entregues à Roda, como, por exemplo, a referência feita a Bernadetthe Maria da Silva, 5
anos de idade, depositada na Roda dos Expostos da Bahia no dia 22 de setembro de 1928. A única
informação a seu respeito é que se tratava de uma menina, irmã de Manoel José, que também havia sido
entregue à Roda no dia 21 de setembro de 1928, e que se chamaria Bernardette Maria de Mattos
(SCMBA, 1928).
451
Regulamento, a Superiora incumbir-se-ia da direção geral e da fiscalização de todas as
seções e trabalhos do Asilo. Suas tarefas envolveriam a manutenção geral da ordem e
da disciplina do estabelecimento; regular e fiscalizar as despesas; contratar e despedir
os serventes; propor a nomeação e demissão dos demais empregados subalternos; dar
posse ao pessoal de nomeação da Provedoria e da Mesa; corresponder-se com o
Mordomo e, nos casos urgentes, com o Provedor.
Em seu art. 19 determinava que fossem admitidas no Asilo dos Expostos
somente as crianças que entrassem na Roda. Contudo, no Relatório da Provedoria de
1911, 1912 foi encontrada a seguinte citação: “E’ este Asylo destinado ao recolhimento,
creação, educação das crianças que ahi forem expostas, podendo também nelle ser
admitidas as filhas dos irmãos da Santa Casa, contanto que sejam menores de dez
anos.” (SCMBA, 1911, 1912, p. 192).
Uma vez admitida no Asilo dos Expostos, nenhuma criança sairia dele, senão nos
seguintes casos: quando atingisse a maioridade; mediante reclamação à Provedoria, de
pais e parentes com comprovada relação de parentesco; por transferência para outro
estabelecimento, por motivo de continuação da educação técnica ou profissional, ou por
ordem da Provedoria; para o aleitamento, nos primeiros meses de idade, por ordem da
Provedoria239.
Contudo, segundo o art. 21 do Regulamento do Asilo dos Expostos da Bahia de
1914, a administração poderia facilitar a saída dos asilados que tivessem recebido
instrução primária, técnica ou profissional, antes mesmo de atingir a maior idade. Neste
caso, seriam enviados para casas de particulares, para trabalhos e serviços domésticos
e para oficinas, onde pudessem dedicar-se a trabalhos profissionais e industriais. Essa
prática estendeu-se por muitos anos240 (SCMBA, 2014).
Aos expostos se daria alta definitiva quando mudassem de Estado, tivessem
terminado o tempo convencionado para aprender os ofícios ou quando fossem
admitidos em estabelecimentos criados pelo Estado (SCMBA, 1914).
239 As normas que regiam o processo de encaminhamento e acolhimento de crianças abandonadas no Asilo dos Expostos da Bahia encontram-se no texto do Regulamento do Asilo dos Expostos (SCMBA, 1914). 240 Certo registro do Livro de Entrada no Asilo dos Expostos de 1927 fazia referência a uma menina
negra, com seis anos de idade, de nome Raymunda, retirada para locação de serviço doméstico, em 29
de novembro de 1930, em bom estado de saúde. A criança havia sido batizada na Igreja de Maragogipe,
sendo os padrinhos Armando Salustino dos Santos e Isaura Maria da Conceição, em companhia do
Coronel Odilon Alves Peixoto de Athayde (SCMBA, 1927). Outro registro faz menção a uma menina,
Odette Maria da Conceição, nascida em 1925, retirada para locação de serviço doméstico pelo Senhor
Reynaldo Dánemam em 1932. A criança havia sido batizada, pela Santa Casa da Bahia, com o nome de
Odethe Maria da Conceição de Mattos (SCMBA, 1929). Aqueles que recebessem os asilados deveriam
assinar, além de um Termo de Responsabilidade na Secretaria da Santa Casa, um Termo de Tutoria do
Menor perante o Juiz de Órfãos (art. 22.).
452
No Jardim da Infância, a criança era educada pelo sistema de Fröebel, “como a
planta débil e delicada que carece de uma cultura perseverante e atenta” (SCMBA,
1914, art. 7º). Conforme art. 3º, § 1º e 2º, até 10 ou 12 anos de idade, conforme o seu
desenvolvimento físico e intelectual, as crianças cursavam a escola primária, passando
depois para os cursos práticos de técnica profissional (SCMBA, 1914). Desde 1862, ano
de fundação do Asilo dos Expostos, de acordo com o art. 51 do Projeto do Regulamento
do Asilo dos Expostos, a cada ano teria lugar uma exposição de todos os objetos
executados ou fabricados pelos expostos (SCMBA, 1862a).
O Asilo contava com professoras para ensino de música e canto, de mestres e
mestras para as escolas profissionais e oficinas para ambos os sexos, incluindo um
capelão para o ensino do catecismo e batismo das crianças que fossem admitidas. Logo
que completassem a idade de 10 anos, as expostas fariam sua primeira comunhão para
a observância de todos os deveres religiosos.
Os arts. 35 a 39 do Projeto do Regulamento de 1862 fazem ainda menção ao
enxoval para o casamento das expostas e ao dote a ser entregue ao marido, ambos
concedidos pela Santa da Casa da Misericórdia, e ainda sobre a realização dos
casamentos na Capela da Santa Casa da Bahia. Sobre esse assunto, vale ressaltar
que, como justificativa para a diminuição do número de casamentos realizados pela
Santa Casa, o Provedor, em seu Relatório do ano de 1912, argumenta: “Os tenho
dificultado o mais possível em beneficio das próprias meninas, que depois de esgotado
o dote, são na sua maior parte abandonadas!” (SCMBA, 1862a, p.191).
Os cursos profissionais para o sexo feminino, segundo o Regulamento de 1914,
compreendiam: o asseio e arranjos de casa; trabalhos de cozinha; lavar e engomar;
costura a mão e a máquina; cortes e confecções de roupas, especialmente de crianças
e senhoras; bordados e rendas; fabricação de flores e suas aplicações; preparo e
ornamentação de chapéus; desenho e pintura em cetim; música, canto e datilografia.
As alunas poderiam, na aprendizagem profissional, passar de uma para outra oficina,
até que se fixassem naquela para a qual tivessem mais aptidão, a juízo dos mestres e
da Superiora (art. 14). Grupos de oito a dez educandas revezavam-se semanalmente
nas seções de serviços domésticos (SCMBA, 1914).
O art. 8º do Regulamento do Asilo dos Expostos disciplinava as atividades da
escola primária:
Art. 8º O curso da escola primaria ou elementar constará de:
a) Leitura, escripta e caligrafia; b) Ensino pratico da língua nacional e grammatica; c) Arithmedica até a regra de três; systema de pesos e medidas, systema monetário brasileiro e dos principais paizes; d) Instrucção moral, religiosa e cívica, cantos patrióticos; e) Gymnastica, exercícios physicos;
453
f) Trabalhos manuais. (SCMBA, 1914, p. 67).
De acordo os arts. 31 a 34 e 41 do Projeto de Regulamento para o Asilo dos
Expostos de 1862, depois da idade de seis anos, as meninas seriam educadas na
Escola do Asilo dos Expostos, de onde sairiam apenas para casar ou para a companhia
de alguma família. Também lhes seriam oferecido o serviço interno do Asilo, conforme
suas idades e aptidões. Havia o interesse, por parte da Santa Casa, que essas meninas,
vivendo em casas de família, fossem gratuitamente educadas, para que lhes fossem
asseguradas, mediante fiança, a conveniente educação e conservação até a
maioridade. Ao atingir a maioridade, poderiam deixar o Asilo (SCMBA, 1862a).
Conforme § 3º do art. 12, do Regulamento do Asilo dos Expostos de 1914, o
ensino profissional para os meninos compreendia: pintura a cola e a óleo de letras e
tabuletas; marcenaria; sapataria; tornearia; tipografia; brochura e encadernação; música
e canto; datilografia; jardinagem e horticultura, cultivo e conservação e hortas, jardins e
pomares (SCMBA, 1914).
O art. 29 do Projeto de Regulamento para o Asilo dos Expostos, citado na Ata da
Mesa e da Junta de 1862 (SCMBA, 1862a), estabeleceu que, uma vez completada a
idade de seis anos e recolhidos os expostos ao Asilo, os meninos deveriam receber a
instrução primária. Depois de concluído o curso, a criança seria entregue a um mestre,
de qualquer oficio, que quisesse recebê-lo, obedecendo as condições de alimentá-lo,
vesti-lo e ensinar-lhe o ofício; apresentá-lo ao Asilo no 1º dia de cada mês e todas as
vezes que fosse exigido, e não levá-lo para fora da cidade.
O mesmo artigo e parágrafo citado estabelecia que a Santa Casa da Bahia
também contratasse ensino técnico ou profissional de qualquer estabelecimento que
possuísse oficinas devidamente aparelhadas. O ensino profissional teria por finalidade
conferir aos asilados elementos de instrução técnica para o desempenho de profissões
em que pudessem encontrar trabalho remunerado. “De caracter especialmente pratico,
o ensino profissional será dado em oficinas que serão installadas á medida que fôr
reconhecida à necessidade e conveniência de cada uma dellas, com os instrumentos e
aparelhos mais aperfeiçoados.” (SCMBA, 1862a, art. 12, § 1º).
Uma vez alcançada à idade exigida por lei, os expostos também poderiam ser
entregues à Companhia dos Aprendizes Menores dos Arsenais de Guerra ou à
Companhia de Aprendizes Marinheiros. Alguns eram entregues ao Colégio dos Órfãos
de São Joaquim (SCMBA, 1862a).
O Relatório da Provedoria do ano de 1927, apresentado à Junta da Santa Casa
de Misericórdia da Bahia, pelo provedor Artur Newton de Lemos, e publicado em 1930,
fazia, com ênfase, referência à instituição José de Sá, escola interna do Asylo dos
454
Expostos que, no ano de 1925, obteve a expressiva matrícula de cento e vinte dois
alunos, sendo oitenta e seis do sexo feminino e trinta e seis do masculino. Em 1926, a
matrícula nesta escola atingiu o total de 127 alunos, sendo quarenta e quatro do sexo
masculino e oitenta e três do feminino.
Referindo-se ao Mordomo Isaias Santos, o então provedor acrescenta: “As aulas
existentes para meninas, como sejam, primaria, de pintura, desenho, costura e
dactylografia juntará outras. Pensa no ensino agrícola pratico para os meninos, bem
como na creação de oficinas. Por fim diz, constituirá a sua preocupação a instalação de
uma creche moderna em condições de satisfazer as exigências da hygiene infantil”
(SCMBA,1930, p. 13).
Para o médico da Santa Casa, Dr. Álvaro Fontes Bahia, os principais motivos para
o abandono de crianças na roda eram a miséria, a ilegitimidade ou a doença materna.
Ele entendia que, graças à criação dos escritórios de admissão, o abandono se tornaria
coisa do passado. Em suas palavras: “O velho Asilo foi dotado de um conjunto
harmonioso de unidades de assistência à primeira infância, das quais algumas
instituídas, pela primeira vez, no país, e se transformou em modesto, mas verdadeiro
‘Instituto de Puericultura’.” (SCMBA, 1939, 1940, p.296).
Conclusão
A reflexão acerca da emergência e do desenvolvimento das políticas de
atendimento à infância brasileira, no período posterior ao ano de 1927, até os nossos
dias, por certo contribuiu para a compreensão do processo de desenvolvimento do
sistema de proteção social nacional, destacando os principais acontecimentos relativos
à política de proteção e assistência à infância e à juventude brasileira, de acordo com o
período histórico e político de cada época.
A assistência social no Brasil, no período estudado, apresentava um caráter
eminentemente filantrópico e a condição de pobreza não era apreendida como uma
questão social. As mais importantes iniciativas ficavam a cargo da rede de solidariedade
da sociedade civil, com especial destaque para as ações de cunho religioso, a exemplo
das Santas Casas da Misericórdia. Como pioneira na assistência social ao pobre
carente na área de saúde, a Santa Casa da Misericórdia da Bahia deu início a outras
atividades sociais de amparo aos necessitados, principalmente às crianças enjeitadas
e aos idosos – homens e mulheres.
No início do século XX, levando em conta as especificidades da capital baiana, é
importante destacar a existência de um centro urbano marcado por muitos problemas,
decorrentes da conjunção da modesta urbanização com o crescimento demográfico. Ao
455
longo da pesquisa, foi possível perceber que as crianças oriundas das camadas mais
empobrecidas deveriam ser moldadas, disciplinadas e retiradas do estado de abandono
em que se encontravam, sendo a educação escolarizada vista como o lócus privilegiado
para a aplicação desses mecanismos.
Ao longo da história, o antigo Asilo dos Expostos da Santa Casa da Misericórdia
de Salvador adequou-se aos novos contextos sociais, econômicos e políticos, o que
resultou na substituição do Internato Nossa Senhora da Misericórdia pelo modelo de
creche em comunidade. Um dos argumentos apresentados a favor do modelo de creche
em comunidade, foi o seguinte: “Os estudos feitos pelo IPEA [Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada] indicam que uma criança de família pobre que frequenta uma
creche é um adulto que na fase laborativa, consegue um aumento da renda da Ordem
de 17%.” (SCMBA, 20012003a, p. 143). Outro argumento merece destaque: “Quanto
mais creche se fizer, menos FEBEM [Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor],
menos crianças nas ruas” (SCMBA, 2001-2003a, p. 144)
Diante das novas medidas de assistência à Infância, o anúncio da desativação
oficial do Internato N. S. da Misericórdia ocorreu na reunião da Mesa Administrativa do
dia 20 de janeiro de 2003, durante discurso proferido pela Mordoma responsável pelo
Complexo da Pupileira, Arilda Cardoso. As altas despesas com as crianças foram os
argumentos apresentados a favor da medida do fechamento do Internato.
Na Ata da quinta reunião da Mesa Administrativa da Santa Casa, a razão pelo
fechamento do antigo Asilo dos Expostos está posto, sem muitas delongas: “O Internato
está buscando um novo caminho porque o custo x benefício é muito alto.” (SCMBA,
2001, 2003f, p. 122). Estes registros mostram a história de um Asilo/Internato, antes
referência na assistência à infância, que pouco a pouco se esfacelou frente às novas
exigências causadas pelas mudanças de ordem política, social e cultural.
Ainda hoje, assim como no passado, o apoio oferecido à iniciativa privada pelo
poder público e pela Igreja denota a parceria firmada entre esses setores na obra de
assistência às crianças pobres. De acordo com o contexto sócio-político e cultural do
período estudado, conclui-se que a educação oferecida aos asilados, pautava-se no
projeto de escolarização fundado na instrução e na educação moral.
Fontes Bibliográficas
Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMBA]. (1862a). Ata da Mesa e da Junta. (Contém o Projeto de Regulamento para o Asilo dos Expostos). Salvador: Autor. (Arquivo da Santa Casa da Misericórdia da Bahia).
456
Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMBA]. (1862b). Relatório Anual da Provedoria. Salvador: Autor. (Arquivo da Santa Casa da Misericórdia).
Santa Casa de Misericórdia da Bahia [SCMB]. (1911/1912). Relatório da Provedoria. Salvador: Autor. (Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Bahia).
Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMBA]. (1914). Regulamento do Asylo dos Expostos. Salvador: Typografia Baiana de Cincinnato Melchiades.
Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMB]. (1927b). Relatório da Provedoria. Salvador: Bahia Officinas. (Arquivo Fundação Gregório de Matos).
Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMBA]. (1927a). Livro de Entrada dos Expostos. Salvador: Autor. (Arquivo da Santa Casa da Misericórdia da Bahia).
Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMBA]. (1930). Relatório da Provedoria de 1927. Salvador: Livraria Duas Américas. (Arquivo Fundação Gregório de Matos). Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMBA]. (1939-1940). Relatório da Provedoria. Salvador: Autor. (Arquivo da Santa Casa da Misericórdia da Bahia).
Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMBA]. (1962). Relatório Anual da Provedoria. Salvador: Autor. (Arquivo da Santa Casa da Misericórdia da Bahia). Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMBA]. (2001-2003a).Atas da segunda e terceira reunião da Mesa Administrativa da Santa Casa no triênio. Salvador: Autor. (Arquivo da Santa Casa da Misericórdia da Bahia).
Santa Casa da Misericórdia da Bahia [SCMBA]. (2001-2003f). Ata da quinta reunião da Mesa Administrativa da Santa Casa no triênio. Salvador: Autor. (Arquivo da Santa Casa da Misericórdia da Bahia).
O CORPO DO ALUNO NO DISCURSO MÉDICO E NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
PORTO, INÍCIO DO SÉC. XX
457
Anabela Amaral,FPCEUP- CIIE241 [email protected]
Margarida Felgueiras, FPCEUP- CIIE margalf@gmail. com
Juliana Rocha FPCEUP – CIIE [email protected]
1. Introdução
Ao desenvolver este trabalho pretendemos reconstituir os motivos que estiveram na
base da intervenção da classe médica na escola e na educação, destacando-se nesta
o estudo do corpo do aluno que foi observado e constituído pelo olhar médico em finais
do século XIX, início do século XX. Foram os médicos que, através de fundamentos
científicos, mobilizaram a classe do professorado para uma intervenção conjunta na
educação social, que implicou o aluno para chegar à respetiva família e à sociedade em
geral.
Os médicos da escola Médico-Cirúrgica do Porto e da Faculdade de Medicina
do Porto produziram um conjunto significativo de teses médicas que se destinavam a
ser apresentadas no final do curso para obtenção do respetivo diploma. Interessou-nos,
em particular, a forma como estas perspetivas, fundamentalmente médicas, foram
assimiladas pela sociedade e se materializaram no corpo dos alunos. Estes trabalhos
científicos determinaram as orientações assim como os conteúdos do ensino da Higiene
na formação de Professores.
Privilegiamos como fontes primárias jornais pedagógicos e médicos e teses
médicas apresentadas no final do curso para obtenção do diploma, na escola médico-
cirúrgica do Porto e na Faculdade de Medicina do Porto. Interessou-nos em particular a
forma como estas perspetivas penetraram o campo educativo. Selecionámos manuais
para a disciplina de Higiene Escolar e manuais de ensino primário, para detetar como a
problemática da higiene a influenciou formação de professores, criou uma
representação sobre o corpo do aluno e sobre as condições e os métodos de ensino.
241 Anabela Amaral, doutoranda do Programa Doutoral em Ciências da Educação e do Centro de
Investigação e Intervenção Educativas- CIIE, da Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto; Margarida Louro Felgueiras, Prof. Associada da Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e do CIIE; Juliana Rocha,
bolseira FCT e doutoranda do PDCE da mesma Faculdade e do CIIE.
458
2. A escola como meio poderoso de intervenção e de controlo social
A escola, ao implementar estratégias de educação e de disciplina do espírito e
do corpo dos alunos, instituiu-se como um meio poderoso de intervenção e de controlo
social, propondo formas de higiene moralizadora (Delpal & Faure, 2005) e de cuidado
com o corpo (Corbin, 2005). Nesse processo a classe médica e a do professorado
conjugou esforços no sentido de instituir uma disciplina de higiene que conduziria à
disseminação entre os professores de um conjunto de conhecimentos, na defesa da
constituição de um corpo robusto e saudável para os alunos, que não comprometesse
a raça portuguesa.
A disciplina de Higiene faz parte do currículo de formação dos professores
primários e é geralmente ministrada por um médico. Os manuais de Higiene que
aparecem nas escolas normais, um pouco por toda a Europa, são produzidos pelos
médicos242. A Escola Normal do Porto não foge a esta regra. Mas no caso português há
uma dependência geral da produção pedagógica francesa, quer no original quer através
de traduções para o português. Assim, encontramos na Biblioteca da antiga Escola
Normal do Porto o livro de A. Riant, Higiène Scolaire. Influence de l’école sur la santé
de l’enfant, de 1874. O livro deve ter sido adquirido logo que a escola foi criada, pois
existe documentação de arquivo que comprova um grande investimento inicial na
compra de livros e de variado material didático, considerado excessivo por alguma
opinião pública mais conservadora243. Em francês, o livro deve ter sido utilizado
principalmente pelos professores, para a preparação das suas aulas ou por um número
reduzido de alunos que tivessem domínio do francês. De um modo geral estes livros
abordam um conjunto de temas comuns, com relevo para o edifício escolar, as
condições higiénicas da sala de aula e o mobiliário escolar. Em alguns casos é dada
maior importância à fadiga escolar (surmenage e esfalfamento cerebral), às doenças
infantis e contagiosas, às doenças “escolares”, à vacinação e aos exercícios físicos.
242 Podemos confirmar isso em Itália (Guaita, Raimondo (1894). Compendio di igiene scolastica per uso
delle scole normali, dei pediatri dei maestri, direttrici d'asilo, ispettori scolastici. Milano : Zorini;
Manzolini, Arcangelo (1871). Manuale di Igiene Privata ad uso specialmente delle scuole normal. Milano:
Domenico Salvi), França (Bonnet, Docteur (1923). Notions d´hygiène pratique à l´école primaire. Paris.
Librairie d´Éducation Nationale) e Espanha (Blázquez, Manuel García (1898). La hygiene en la escuela
primaria. Tésis del doctorado en Medicina. Faculdade de Medicina de Madrid; Andrés, Tomás del Mazo
(1928). Cartilla higiénica escolar. Palencia: Imp. de "El Diario Palentino" de la viuda de J. Alonso). 243 Cf. Rocha, Juliana Martins da - Modernidade pedagógica e ensino infantil na Escola Normal do Porto
(1882-1910): as viagens de estudo e a apropriação de ideias, modelos e objetos pedagógicos. Porto,
FPCEUP: [Edição do Autor-Tese de Mestrado], 2012; Felgueiras, Margarida L. e Rocha, Juliana. “Escola
Normal do Porto (1882-1986) ”. In Joaquim Pintassilgo (coord) Escolas de formação de professores em
Portugal : história, arquivo, memória. Lisboa: Edições Colibri, 2012, pp. 425-462.
459
O livro de Riant já discorria sobre a função do função do médico escolar, a
necessidade de existir um relatório sobre o estado higiénico e sanitário das escolas e
uma estatística séria e sistemática sobre a saúde escolar . Através dela seria fácil
observar a incidência de doenças por zonas e demonstrar a justeza ou não de algumas
afirmações sobre a influência da escola no desenvolvimento de algumas doenças, como
a miopia e os desvios da coluna (Riant:1874, 212-223). A difusão destas propostas, que
se iniciavam à época em França, ajudou à formação de uma opinião, em Portugal,
favorável ao seu estabelecimento. Deste modo, não nos surpreende que no final do
século XIX os professores primários reivindicassem através dos seus congressos e em
artigos de jornais e revistas a criação da carreira de médicos escolares.
Simultaneamente, nas mesmas escolas, em disciplinas de pedagogia são
ensinados alguns rudimentos teóricos, que fundamentam a educação física nas escolas.
Entre eles encontra-se José Augusto Coelho, que foi professor nas escolas normais de
Porto e Lisboa e publicou a obra “Noções de Pedagogia Elementar”, 1903, que inclui
um capítulo sobre a “Educação physica”. Este faz parte da educação geral e especial e
aparece antes da educação intelectual, da moral, da técnica e da estética. A educação
física é apresentada como “aquelle ramo da educação geral que tem por fim realizar
systematicamente o robustecimento do organismo”244.Este objetivo atingia-se pelo
desenvolvimento da energia vital e pela sua distribuição harmónica por todos os órgãos,
aproveitando as condições exteriores do meio físico, que se tornava no instrumento da
educação física. Segundo o autor, a natureza atuaria exteriormente, através dos
diversos elementos naturais, pelas sociedades humanas e meios artificiais, como as
habitações e o vestuário; e interiormente através da ingestão dos alimentos e da água
e pela simples respiração e inspiração do ar. (Coelho: 1903, 163). A partir destas
afirmações gerais vai fundamentar a necessidade de um “méthodo a empregar n’este
ramo de educação” (Ibidem).
Sem pretendermos resumir aqui o discurso do autor que vimos seguindo,
queremos salientar que há todo um esforço para fundamentar a atuação do professor
no domínio da educação física. Se é necessário que o docente conheça a influência dos
diferentes elementos é indispensável que os faça atuar corretamente na acumulação de
energia, através dos “banhos d’ar”, banhos de água tépida e fria, do vestuário e de uma
alimentação correta, de acordo com a idade das crianças. Cumpria ainda ao professor
orientar a redistribuição da energia de forma harmónica, desempenhando os exercícios
físicos e os banhos de água fria o papel central neste processo (Idem, 166-167).
244 Coelho, José Augusto (1903). Noções de Pedagogia Elementar. Lisboa: Empreza da Historia de
Portugal, Sociedade Editora, p. 152. Grifo do autor.
460
Os discursos médicos (Sacadura, 1906) vão legitimar a eugenia na defesa da
integridade das crianças e do seu futuro como cidadãos úteis, ao fazê-lo vão definir o
espaço pedagógico como um campo de intervenção: na formação de professores e
através de um conjunto de medidas que devem orientar as práticas pedagógicas. Além
da higiene dos locais e do corpo propõem um conjunto de medidas que condicionam as
práticas docentes: posturas dos alunos, organização das carteiras na sala de aula,
arejamento e incidência da luz, aquecimento, alimentação das crianças, horário escolar
e distribuição das diferentes disciplinas ao longo do dia, métodos de ensino.
Nos manuais destinados ao ensino primário são veiculadas noções e preceitos
de higiene, no sentido da aquisição de habitus que prevenissem a contração de doenças
e ajudassem a controlar epidemias. O receio da doença, da deformação física e da
morte, se levava à procura de remédio também desenvolvia reações de rejeição do ato
médico, de inoculação de vacinas e de medidas de higiene pública. Algumas delas,
como a proibição do enterramento nas igrejas deu origem a levantamentos populares
em meados do século XIX em Portugal. A objetivação do corpo, através da observação
clínica opunha-se a uma visão holística, em que as conceções religiosas sobre a vida e
a morte eram determinantes. Perante a doença, que surgia inesperadamente e com
funestas implicações, frequentemente transformadas em epidemias que ganhavam vida
própria sem qualquer possibilidade de refreamento por parte da medicina, os
professores foram vistos pela classe médica e pelo poder como mediadores, para
atuarem junto dos alunos e da população como auxiliares da ação médica. São o elo de
poder mais próximo das camadas populares a quem inculcam, através da alfabetização,
formas diferentes de olhar o mundo, o corpo, a doença, exercendo um controlo sobre
os seus comportamentos quotidianos. As escolas serão os espaços privilegiados para
a vacinação não só dos alunos mas também da população em geral.
A ideologia eugénica veiculada pelo discurso médico propõe, também, normas
que visam disciplinar e controlar o espaço educativo e a ação pedagógica.
Recorrentemente lembrada e proposta, destaca-se a apologia da vida ao ar livre, pelo
facto de constituir uma solução de afastamento do ambiente nocivo à saúde em que o
contágio era uma constante no ambiente escolar. Na apologia da vida ao ar livre, as
visitas e excursões escolares eram defendidas pelos médicos e aceites e
implementadas pelos professores que, apesar da falta de recursos financeiros e de
apoio da sociedade, as faziam à custa de recurso a muita imaginação e criatividade que,
sob inúmeros pretextos, uns falsos outros verdadeiros, tiravam os alunos do interior da
sala de aula e fugiam às rotinas do ensino tradicional. A escola ao ar livre e ao sol,
inicialmente apontada como solução terapêutica e hospitalar, foi depois uma prática
educativa e uma valorização da natureza, sobretudo do sol, da montanha e do mar como
461
meio de regeneração e fortalecimento dos pulmões e do aparelho respiratório, como
fuga à tuberculose.
Igualmente inserida na estratégia da vida saudável ao ar livre, a educação física
era divulgada e concretizada na escola como forma de robustecimento do corpo aliada
a uma valorização da cultura popular e local em que os jogos tradicionais eram
lembrados e inculcados nos alunos, ao mesmo tempo que os obrigavam a uma prática
desportiva simultaneamente lúdica.
Ilustração 1 – Amor, Manuel Antunes (1910). A cartilha moderna: methodo legographico analytico-synthetico. 1.ª ed. Lisboa: Typ. do Annuario Commercial,capa e pág.20).
O professor primário e autor de “A cartilha moderna: methodo legographico
analytico-synthetico”, Manuel Antunes Amor (1881-1940), na introdução ao manual,
critica o estado do ensino em Portugal que se encontrava muito distante em relação aos
restantes países europeus: “a maneira de ensinar em Portugal com que gasta muita
paciencia e pouca sciencia está meio século, pelo menos, atrasada da que actualmente
empregam as nações mais civilizadas” (1910: 8). Afirma o autor ter ido para o
estrangeiro “estudar methodologia a fundo” e, em Leipzig, durante dois anos, esteve em
contacto com a psicologia experimental, a alta pedagogia, a pedologia, os métodos
práticos, recreativos e “attrahentes de ensino e educação” (Ibidem). Depois de ter
frequentado durante cinco anos o magistério, este professor foi um dos bolseiros do
462
estado português, no início do século, a ir aperfeiçoar os seus conhecimentos ao
estrangeiro, na universidade. No prefácio do manual refere esse facto para justificar o
esforço que teve de fazer na sua publicação “ prestar um bom serviço aos meus
concidadãos e compensar a PATRIA pelas despezas feitas com a minha missão de
estudo no estrangeiro” (Ibidem). Dessa estadia refere:
Foi a serie de dados preciosos que colhi na riquíssima literatura
pedagógica universal dos volumes archivados na biblioteca
central d´aquella cidade, e nos livros que adquiri no mercado:
foram as minhas visitas a dezenas e dezenas de escolas
primarias; foi o meu estudo como ouvinte na escola normal e nas
aulas de psychologia experimental regidas pelo celebre professor
Wundt, e de historia da pedagogia e de psychologia das crianças
por outros professores eminentes da universidade” (Ibidem).
Fundamenta, este professor, o “methodo moderníssimo”, apresentado no
manual de que é autor com o seu estudo em Leipzig, em que esteve matriculado,
durante um ano, num instituto de pedagogia e psicologia experimental. Aí tomou
contacto com a psicologia da forma, através das aulas de Wundt, e com a psicologia
infantil. Afirma que a publicação do livro só foi possível graças a muitos sacrifícios, muito
estudo, noites de vigília e investimento pecuniário, em que se viu obrigado a empregar
parte da herança como caução, “para fazer face às despesas da tipografia para a
publicação do método” (Ibidem).
A ação destes bolseiros, professores empenhados que acreditavam no
progresso do país através da transformação da educação, não foi facilmente
reconhecida. O episódio relatado por Antunes Amor é disso prova, pois demonstra a
incompreensão e mesmo animosidade por parte de colegas e de autoridades
educativas. Informa o autor que apara acompanhar os trabalhos de impressão do seu
livro teve de solicitar uma licença sem vencimento, “sendo-me até, nesse tempo,
levantado um auto de abandono de logar pelo sub-inspector” (Ibidem). Apesar de
extremamente interessante, atraente e inovador no panorama escolar português da
segunda década do século XX, utilizando a imagem e a côr com profusão, o livro não
deve ter sido muito utilizado nas escolas públicas245. O que nos coloca perante a
problemática da transformação e da permanência das práticas de ensino e da pouca
adesão que a Escola Nova teve em Portugal.
245 No levantamento que realizámos nas escolas públicas das cidades de Porto e Gondomar, com vista à
criação de um museu da escola primária, e que incluiu também a descrição dos livros disponíveis para
professores e alunos, não encontrámos um único exemplar deste manual. Encontrámos apenas um
exemplar, na sala museu das Escolas Oliveira Lopes, na localidade de Válega.
463
Arauto da Escola Nova, este professor procura grangear apoios para o seu
método, alvo de críticas por parte dos mais conservadores, e apela ao professorado
para que quebre a rotina e denuncie os que, de forma interessada, anunciam novos
métodos de ensino sem nunca terem tido contacto com crianças ou com a escola. Ao
mesmo tempo trabalha na afirmação de uma profissionalidade docente, que tem o bem
estar da criança e as ciências pedagógicas como sua legitimação. Nesse processo
procura delimitar o campo escolar como específico dos professores e afastar dele outros
agentes: “nós, os professores havemos de desmascarar quem pretender fazer
contrabando no campo da instrução.” (Ibidem). A produção de manuais e de métodos
de ensino não estava restrita aos docentes, sendo disso exemplo a Cartilha Maternal,
de João de Deus246, entre outros. Simultaneamente, os manuais aparecem como um
setor interessante para o mercado editorial, que vai atrair os professores o professorado
com mais formação.
A sua proposta pretende ser um marco importante para a transição e melhoria
do ensino em Portugal, em que as escolas fossem saudáveis e alegres, mas que ao
mesmo tempo penetrasse na educação doméstica.
Eu, com o meu methodo, quero revolucionar as nossas escolas contra o espirito da rotina, quero insuflar-lhes uma alma nova, quero enchê-las de luz e alegria. Para isso, conto com o auxilio e coadjuvação de todos os colegas e cidadãos que se interessam a valer pelo levantamento da instrucção em Portugal. Porque, reformar o ensino escolar e melhorar a educação doméstica, para fazer das crianças verdadeiros homens, capazes de entrarem arrojadamente na lucta pela vida, eis o desideratum da vida moderna, eis o que nós, educadores, temos, como dever sagrado, a restricta obrigação de fazer (…). Abaixo a escola antiga! Viva a escola nova! (Idem: 11).
Neste novo método é preconizada uma educação completa e integral do aluno,
o mais prática possível, aliando o trabalho intelectual ao trabalho manual “as lições de
coisas, a escripta, a leitura, a numeração, o desenho, a modelagem, o canto coral e a
gymnastica ligam-se sempre num laço comum” (Idem: 18).
246 Deus, João de. A cartilha Maternal. Lisboa: 1877(1.ª edição). O autor era poeta e deputado às Cortes,
não tendo formação académica no campo da educação. Encontram-se manuais de leitura e de matemática
com origem em outros profissionais, como médicos.
464
Ilustração 2 – Amor, Manuel Antunes (1910). A cartilha moderna: methodo legographico analytico-synthetico. 1.ª ed. Lisboa: Typ. do Annuario Commercial: 62.
À falta de ginásios e de espaços desportivos exteriores dignos da prática desta
disciplina são, também, os professores que, com engenho e criatividade, a implementam
na própria sala de aula, recorrendo a jogos e brincadeiras e muitas vezes rentabilizando
o próprio mobiliário escolar como equipamento desportivo.
465
Ilustração 3 - Liedbek, C.H. (1905). Manuel de gymnastique suédoise à l'usage des écoles primaires. Genève: Burkhardt: 120.
Esta imagem do livro de Liedbeck, existente na Biblioteca da Escola Normal do
Porto, assim o ilustra. A preocupação com a educação física levou a que dois alunos
desta escola tenham, no início do século, procurado o estrangeiro para se
especializarem neste domínio, um dos quais tendo ingressado no corpo docente da
escola.
Ilustração 4 - Amor, Manuel Antunes (1910). A cartilha moderna: methodo legographico analytico-synthetico. 1.ª ed. Lisboa: Typ. do Annuario Commercial: 76.
466
O desenvolvimento da criança era considerado um todo que lucraria com o
convívio e comunhão com a natureza, que contribuía para a harmonia do seu
desenvolvimento equilibrado “o ar, a luz, a terra e o movimento faz da criança um ser
vigoroso e consciente. Se à nossa mãe devemos o culto do maior amor, à nossa grande
Mãe - a Natureza- devemos o culto de todos os amores” (Oudinot, 1915: 193). A saúde
das crianças é vista por estes professores na sua relação direta com a natureza, que se
deve usufruir e amar. Seria hoje exemplar do ponto de vista ecológico mas tendo em
conta o contexto a que nos remetemos, estas afirmações expressam que o discurso
médico e pedagógico estavam ainda próximos, imbuídos de uma visão naturalista e
holística do corpo e da saúde. A medicina ainda não estava munida de dispositivos
laboratoriais que o desenvolvimento da ciência química vai proporcionar e em virtude
dos quais se vai alterar a relação do médico com a doença e com o doente.
3. Os discursos médicos na salvaguarda do corpo dos alunos
A classe médica iniciou um processo de intervenção no corpo com objetivos de
controlo social e de regulação eugénica. A doença foi identificada, deixando de ser,
gradualmente, inevitável e fatal, e a interferência no corpo assumiu diferentes facetas,
entre elas a preservação da vida e do futuro saudável e ativo da humanidade: “as
estratégias de domínio do corpo e das doenças, desenvolveram-se quando os homens
puderam dissociar a vida da morte, desprestigiando esta e atribuindo àquela um valor
inestimável” (Crespo, 1990: 21).
A medicina exercia, sobretudo, um papel de fiscalização e de regulação
higiénico-sanitária. Os obstáculos e ameaças ao desenvolvimento regular e saudável
do corpo eram elencados e posterior e progressivamente condenados e abolidos
através da educação social e moral. Neste domínio, na escola, a criança encontra os
primeiros constrangimentos de modelação do corpo, apesar de a sociedade ter
igualmente os seus processos de também o fazer.
Os elementos da higiene escolar incluem a salubridade e conceção dos edifícios
escolares, a higiene pessoal e moral, a robustez física associada ao asseio corporal e
ao vestuário higiénico. Como disciplina complementar à higiene, a ginástica confundiu-
se, inicialmente, com os exercícios militares que tinham objetivos marcadamente
disciplinadores do corpo e do movimento. O combate ao sedentarismo dos jovens
através do exercício físico aplica as ideias de Tissot (1760) que com a sua obra
467
”L´Onanisme. Essai sur les maladies produites par la masturbation”, condena a
masturbação e as doenças inerentes e aponta a ginástica e o exercício físico, aliados a
preceitos de nutrição, como uma estratégia eugénica de recuperação do homem e do
seu futuro.
O higienista ocupa um lugar de destaque na regeneração do aluno como futuro
cidadão saudável assim como na mudança de comportamentos da escola. Este
supervisionaria o arquiteto, o administrador, o ecónomo, o vigilante, mas também
orientava o legislador, que concebia e regulamentava os programas e o professor que
os aplicava. O higienista não limitaria a sua ação às questões materiais mas estenderia
também, a sua ação ao domínio económico, pedagógico e moral, isto porque a saúde
do aluno dependeria também das condições do seu cérebro, do seu estômago e dos
seus músculos, da duração das aulas e dos recreios, assim como do arejamento e do
aquecimento das salas de aula.
No campo higiénico, cabe à escola, no domínio físico, o desenvolvimento da
ginástica de Ling, os jogos, a dança e alguns exercícios militares. A Suécia é
frequentemente elogiada pelos professores e médicos portugueses do início do século
XX. Consideravam, estes profissionais, os métodos suecos inovadores ao nível do
ensino da educação física integrada no sistema de ensino. São divulgadas as missões
de estudo enviadas à Suécia, constituídas por um médico e por um técnico para
conhecerem o método sueco “concebido e fundado por Ling e baseado em princípios
sãos e positivos, dimanados das sciencias naturaes. (…).A educação physica da
mocidade sueca consiste essencialmente em gymnastica, trabalho manual, jogos e
sport.” (Sacadura, 1906: 5).
Evitando as doenças inerentes ao cansaço cerebral (esfalfamento cerebral) o
professor, aconselhado pelos discursos médico-higienistas, teria de organizar os
horários escolares com os respetivos descansos e pausas e com o intercalar das
disciplinas teóricas com as práticas, evitando assim a desconcentração e a falta de
interesse dos alunos.
A higiene da escola e da sala de aula eram igualmente uma responsabilidade do
professor para evitar o ambiente insalubre propício à propagação da doença. O controlo
da higiene pessoal era também uma das incumbências do professorado, fundamentado
em que “uma má respiração cutânea definha a criança. Que grande responsabilidade
assumimos, se a higiene nos não merecer toda a nossa bondade e atenção.” (Oudinot,
1915: 193). Competiria aos professores zelar pelas máquinas de cortar cabelo, pelas
escovas, pelos lavabos e demais instalações sanitárias.
A organização da assistência social aos educandos concretizava-se na
organização das cantinas escolares, das caixas de socorros mútuos e na realização de
468
excursões escolares em que se reuniam apoios de beneméritos e filantropos para o
patrocínio da alimentação, materiais e meios de limpeza assim como algum vestuário,
calçado e livros para os alunos mais carenciados, sempre com a justificação que “a
criança é a única reserva que temos para a perpetuação da raça e o único meio de
formar uma pátria e fortalecer os filhos do povo” (Oudinot, 1915: 193).
4. Conclusão
Podemos afirmar que a os médicos, perante o estado precário e em crescente
degradação de saúde da população do país, chamam a atenção para a urgência da
mudança ao nível dos comportamentos e dos cuidados inerentes à saúde individual,
com projeções significativas na saúde social e coletiva de um povo. Estas orientações
destinavam-se aos elementos dominantes da sociedade, que numa linguagem
foucaultiana poderíamos designar como os nós de uma cadeia de concentração e
distribuição de poder, para que tomassem consciência da urgência em definir
prioridades educativas e sanitárias de modo a preservar o futuro. Ao mesmo tempo
dirigia-se ao controlo da sociedade em geral, pela inculcação de novos habitus, que ao
prevenir a doença, tornava a sociedade e cada elemento mais produtivo e feliz. A
intervenção médica pautou-se por um conjunto de preceitos que se impunham aos
professores e às autoridades escolares, nomeadamente ao nível dos inspetores
escolares, que detinham o controlo disciplinar e pedagógico dos professores e tinham
objetivos de intervenção nos alunos e nas alunas e nos respetivos corpos. Ao fazê-lo
definiam padrões de disciplina para os tornar produtivos e robustos e resistentes à
doença e à decadência física, atribuída à ignorância e à incontrolada decadência moral.
Numa visão laica da sociedade, ao tratar do corpo cuidavam da alma, não através do
sacrifício e da sanção divina do post mortem mas pela definição de normas, aplicação
de regras aferidas por padrões, definidos pela observação e pela estatística, a que não
faltaria medidas metódicas e pedagógicas para criar habitus e coagir à sua adoção.
469
Referências Bibliográficas: Amor, Manuel Antunes(1910). A cartilha moderna: methodo legographico analytico-
synthetico. 1.ª ed. Lisboa: Typ. do Annuario Commercial. Andrés, Tomás del Mazo (1928). Cartilla higiénica escolar. Palencia: Imp. de "El Diario
Palentino" de la viuda de J. Alonso. Blázquez, Manuel García (1898). La hygiene en la escuela primaria. Tésis del doctorado
en Medicina. Faculdade de Medicina de Madrid. Bonnet, Docteur (1923). Notions d´hygiène pratique à l´école primaire. Paris. Librairie
d´Éducation Nationale Coelho, José Augusto (1903). Noções de Pedagogia Elementar. Lisboa: Empreza da
Historia de Portugal, Sociedade Editora, p. 152. Grifo do autor. Corbin, Alain (Dir.) (2005). Histoire du Corps. Paris: Éditions du Seuil. Crespo, Jorge (1990). A História do Corpo. Lisboa: Difel. Delpal, Bernard et Faure, Olivier (Dir.) (2005). Religion et enfermement (XVIIe-XXe
siècles). Rennes: Presses universitaires de Rennes. Foucault, Michel (1963). Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical.
Paris: Presses Universitaires de France. Lemos, Tovar (1920, maio). Revista de Educação Física. Lisboa. Liedbek, C.H. (1905). Manuel de gymnastique suédoise à l'usage des écoles primaires.
Genève: Burkhardt. Sacadura, Costa (1906). Breves Considerações sobre a Hygiene das Nossas Escolas.
Lisboa: Typ. Cristovão Rodrigues. Felgueiras, Margarida L., & Rocha, Juliana (2012). “Escola normal do Porto (1882-1986)
”. In Joaquim Pintassilgo (Ed.), Escolas de formação de professores em Portugal: História, arquivo, memória (pp. 425-462). Lisboa: Edições Colibri.
Felgueiras, Margarida, Amaral, Anabela (2012). “Ensino médico e higienismo na Escola
Médico-Cirúrgica do Porto (1836-1910).” In José Maria Hernández Díaz
(coord.), Formación de élites y educación superior en Iberoamérica (ss. XVI-
XXI). Vol.1. Salamanca: Hergar Ediciones Antema, pp.323-331.
Guaita, Raimondo (1894). Compendio di igiene scolastica per uso delle scole normali,
dei pediatri dei maestri, direttrici d'asilo, ispettori scolastici. Milano: Zorini.
Manzolini, Arcangelo (1871). Manuale di Igiene Privata ad uso specialmente delle scuole
normal. Milano: Domenico Salvi),
470
Oudinot, Vi
dal (1915). Acção. (Intra e extra-escolar). Porto: Livraria Chardron.
Rocha, Juliana Martins da (2012). Modernidade pedagógica e ensino infantil na Escola
Normal do Porto (1882-1910): as viagens de estudo e a apropriação de
ideias, modelos e objetos pedagógicos. Porto, FPCEUP: [Edição do Autor-
Tese de Mestrado],.
SILVA, Tiago J.F.(2002). Saúde, Medicina e Sociedade: Considerações Sobre a
Construção Social do Corpo e das Formas de ‘Embodiment’.
https://www.academia.edu/1088481/Considerações_sobre_a_ConstruçãoS
ocial_do_Corpo_e_das_Formas_de_”embodiment”
O MENINO CIVILIZADO NA AMAZÔNIA PARAENSE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA OBRA ‘COMPENDIO DE CIVILIDADE CRISTÃ (1880 a 1915)247
DUARTE, Raimunda Dias248 . Universidade Federal do Pará
[email protected] ALVES, Laura Maria Silva Araújo249
Universidade Federal do Pará [email protected]
Neste estudo, discuto o ideal de menino que se pretendia formar na Amazônia paraense no final do século XIX e início do século XX, a partir da discussão do tema: O MENINO CIVILIZADO NA AMAZÔNIA PARAENSE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA OBRA ‘COMPENDIO DE CIVILIDADE CRISTÃ’ (1880 a 1915). O objetivo geral do estudo é analisar as ideias educacionais de civilidade dirigidas aos meninos paraenses nos discursos veiculados no livro escolar de leitura Compendio de civilidade cristã e a relação dessas ideias com a política do ideário republicano paraense. Para isso, faço uma análise discursiva da obra sob análise, tendo como referencial teórico-metodológico a Análise Dialógica do Discurso, de Mikhail Bakhtin. Os livros escolares de leitura constituem objetos de estudo e fontes documentais importantes para a compreensão da história da infância no contexto do Estado Brasileiro, em particular, da Amazônia paraense. Os dados mostraram que os discursos constituídos sobre civilidade que ordenavam a educação de meninos paraenses no final do século XIX e início do século XX no livro de leitura Compendio de Civilidade Cristã são atravessados por uma ideologia que legitima as ideias defendidas pela elite brasileira, tencionando imprimir no menino uma ideia de civilidade que valoriza a produção cultural importada da Europa, a qual busca transformar esse garoto num sujeito monofônico, silenciado, e distanciá-lo dos usos e costumes da cultura paraense. Contudo, os mesmos discursos que tentam impor um padrão de comportamento nos moldes da cultura europeia trazem vozes de um menino impregnado de usos e costumes paraenses que o legitimam como sujeito situado histórica e socialmente dentro do contexto cultural da Amazônia paraense.
247 Este trabalho é um recorte da tese de doutorado intitulada A ORDEM DE EDUCAR MENINOS NA AMAZÔNIA PARAENSE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA OBRA ‘COMPENDIO DE CIVILIDADE CRISTÃ’, DE DOM MACEDO COSTA (1880 a 1915), defendida pela autora principal no dia 20 de maio de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará. 248 Professora do Campus Universitário de Abaetetuba da Universidade Federal do Pará. 249 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará. Orientou a tese de doutorado da autora principal.
471
Palavras-chave: história do livro; análise do discurso; leitura; educação de meninos; civilidade.
INTRODUÇÃO
No final do século XIX, a era da borracha e as ideologias sustentadas pela Belle
Époque mudaram as formas de sociabilidade na Amazônia. A elite brasileira250 tenciona
transformar a criança em sujeito do mundo “civilizado” nos moldes da cultura importada
da Europa (COELHO, 2011, p. 145). Educado para se tornar o futuro da nação, o
menino brasileiro/paraense é modelado por um padrão de comportamento desejável ao
menino civilizado.
A escola possui um papel fundamental nesse processo, posto que, assume a
função de instituição civilizadora. Nesse período, muitos dos compêndios didáticos
adotados nas escolas paraenses e/ou produzidos por autores paraenses legitimavam a
ideologia do menino civilizado.
A partir da análise do livro de leitura251 Compendio de Civilidade Cristã, discuto
o ideal de menino que se pretendia formar na Amazônia paraense no final do século XIX
e início do século XX, a partir da discussão do tema: O MENINO CIVILIZADO NA
AMAZÔNIA PARAENSE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA OBRA ‘COMPENDIO DE
CIVILIDADE CRISTÃ’ (1880 a 1915). O objetivo geral do estudo é analisar as ideias
educacionais de civilidade dirigidas aos meninos paraenses nos discursos veiculados
no Compendio de civilidade cristã e a relação dessas ideias com a política do ideário
republicano paraense. Para alcançar esse objetivo, busco fazer uma análise discursiva
da obra, trazendo para a discussão os postulados teórico-metodológicos da Análise
Dialógica do Discurso preconizada por Mikhail Bakhtin.
O Compendio de Civilidade Cristã é um livro escolar de leitura voltado para a
educação cívica e cristã de meninos do ensino primário. No final do século XIX e início
do século XX, ainda imperava no Brasil uma rígida disciplina patriarcal, com uma
educação eminentemente masculina (MAUAD, 2002, p. 151). Nas famílias da elite
brasileira, havia uma diferença bem marcante entre a educação de meninos e a
educação de meninas. A educação da menina se voltava para as prendas do lar, para
os atributos manuais. O menino, por sua vez recebia uma educação focada nos atributos
intelectuais, que envolvia o
250 Grandes comerciantes, seringalistas, religiosos, intelectuais, profissionais liberais (políticos, médicos, juristas etc.) (SARGES, 2010, p. 20; VAINFAS, 2002, p. 141) 251Os livros de leitura eram usados para o ensino da leitura nas séries iniciais.
472
desenvolvimento de uma postura viril e poderosa, aliada a uma instrução, civil ou militar, que lhe permitisse adquirir conhecimentos amplos e variados, garantindo-lhe o desenvolvimento pleno da capacidade intelectual (MAUAD, 2002, p. 155).
O Compendio de Civilidade Cristã, de autoria de Dom Macedo Costa, bispo do
Pará no período de 1861 a 1890, teve sua primeira edição publicada em 1880 pela
editora Braine-Lecomte. Utilizo neste trabalho a ‘nova edição’252, publicada em 1915
pela tipografia da Livraria Francisco Alves. O livro de leitura circulou em diferentes
Estados da Federação, entre os quais o Amazonas (CORRÊA, 2006, p. 130).
O principal tema discutido na obra é a civilidade. Contudo, a palavra civilidade
remonta ao termo civilização. De origem latina (Civilitas, –atis253), o termo ‘civilidade’
está originalmente relacionado a cidade, cidadão, ao indivíduo polido pela vida na
cidade em contraposição ao rústico (NASCENTES, 1955, p. 121). Esse sentido original
foi se modificando e se atualizando nas diferentes situações históricas concretas.
Vainfas (2002, p. 142) defende que, no século XIX, a publicação de manuais de bons
costumes foi um dos instrumentos de difusão da civilidade relacionada à polidez, às
boas maneiras, à cortesia, à etiqueta social.
No dicionário de Caldas Aulete, de 1881254 (RIZZINI, Irene, 2008, p. 178)
aparece o termo ‘civilização’, que, além da ação de civilizar, trás um significado
importante para as ideias do século XIX, qual seja, “grande perfeição do estado social,
que se manifesta na sabedoria das leis, na brandura dos costumes, na cultura da
intelligência e no apuro das artes e industrias”.
Muitas pesquisas têm apontado que os livros escolares de leitura constituem
objetos de estudo e fontes documentais importantes para a compreensão da história da
infância no contexto do Estado Brasileiro. Contudo, os estudos sobre a história do livro
e das edições didáticas na Amazônia ainda são muito escassos. Das poucas pesquisas
sobre história dos livros didáticos desenvolvidos na (e sobre a) região, a tese por mim
desenvolvida, intitulada A ORDEM DE EDUCAR MENINOS NA AMAZÔNIA
PARAENSE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA OBRA COMPENDIO DE CIVILIDADE
CRISTÃ, DE DOM MACEDO COSTA (1880 a 1915)255, parece ser a pioneira sobre a
252 Essa mesma edição foi reeditada em 1932, com pequenos ajustes relacionados à atualização de dados, como: endereços da editora impressos na capa e na folha de rosto, preço das duas obras do mesmo autor impressas no verso da folha de guarda. O formato físico e o conteúdo da obra permaneceram inalterados. 253 Na descrição morfológica de uma língua, o traço (-) indica que o morfema que o acompanha vai ligar-se a outro que o antecede ou o sucede, de acordo com a posição do traço. Neste caso, -atis é um morfema sufixal, portanto, se ligará ao morfema que o antecede (radical [civilit-]), formando [civilitatis]. 254 AULETE, E. J. Caldas. Dicccionario contemporâneo da lingua portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional, 1889. 2 v. 255 Disponível em: http://www.ppged.com.br/arquivos/File/teseRaimunda.pdf
473
história dos livros escolares de leitura na Amazônia paraense. O estudo que ora
apresento constitui um breve recorte da tese.
1 O LIVRO DIDÁTICO E AS IDEOLOGIAS SOBRE A EDUCAÇÃO NACIONAL NO
BRASIL: O CASO DO PARÁ
No final do século XIX e início do século XX, o governo brasileiro impõe-se como
instituição dominante e usa a escola como foro privilegiado de suas intenções, uma das
quais é inserir o país na lógica econômica do desenvolvimento industrial da Europa.
Na produção do livro didático brasileiro disputam duas ideologias que buscam
manter-se e legitimar-se: aquela que valoriza os bens culturais importados da Europa,
a qual é representada pela elite brasileira, que tenciona preservar os privilégios de uma
sociedade hierarquizada e aristocrática (COELHO, 2011, p. 141), e aquela que busca
desenvolver uma cultura nacional tanto na forma quanto no espírito (VERÍSSIMO, 1985,
p. 54-5).
O Estado, como instrumento de controle, fundamentou as ideias educacionais
nas ideologias iluministas e civilizatórias. Esse é um momento histórico em que a elite
brasileira quer ser europeia e busca, portanto, importar as práticas culturais da Europa
por meio de autores representantes da cultura das humanidades clássicas a fim de que,
supostamente, os alunos elitizados se tornem cidadãos do mundo “civilizado”, mesmo
que essa cultura representada seja superficial (COELHO, 2011, p. 141).
Os representantes dessa ideologia defendem um nacionalismo voltado para o
pertencimento das futuras gerações de letrados ao mundo civilizado ocidental. O livro
didático se torna uma grande ferramenta de legitimação dessa ideologia e as vozes que
se fazem ouvir nos livros de leitura estão impregnadas, sobretudo, da cultura francesa.
Contudo, paralelamente ao ensino elitista que busca tornar os filhos da elite
sujeitos do mundo “civilizado”, há uma ideologia baseada nas ideias nacionalistas que
valorizam a cultura nacional, a qual vai desde a educação moral e cívica até o ensino
da leitura e da escrita. Esta posição ideológica constitui uma resposta à cultura
importada da Europa.
Nesse cenário, surge uma grande preocupação de discutir-se os temas
nacionais, tais como: a escravidão, a ocupação de terras, a economia do país, o
racismo, o sertão etc. Por isso, muitos intelectuais não estavam afinados com as
ideologias da elite. José Veríssimo256 foi um dos grandes defensores de uma educação
256 Professor, jornalista, diretor da Instrução Pública do Pará em 1891, Colaborador de O Liberal
do Pará, fundador e dirigente da Revista Amazônica (1883-84) e do Colégio Americano,
Fundador do Jornal Gazeta do Norte, em 1877, um dos fundadores e membro da Academia
474
nacional que efetivamente tratasse de questões brasileiras que pudessem contribuir
para o progresso da nação. Em 1890, ano seguinte à Proclamação da República, esse
intelectual publica a obra Educação Nacional, por meio da qual tenciona dar algumas
diretrizes para a reforma na educação.
O projeto de educação nacional que atravessou o Império e norteou o
pensamento político-pedagógico ao longo da Primeira República exigiu a reconstrução
dos fundamentos da educação escolar no Estado do Pará, em razão da transição de
regime político do Império para a República, mas sempre afinado com as ideias político-
pedagógicas que norteavam a educação nacional. A educação teve seus conceitos
alterados por meio das ideias positivistas que circulavam no mundo.
Nas aulas de leitura não cabia tratar das coisas e dos temas nacionais, pois
muitos não convinham à formação das crianças e jovens, filhos de senhores de escravos
da elite brasileira. Os temas que mais interessavam eram os que provinham da cultura
europeia.
No Pará, D. Macedo Costa, em seu livro de leitura Compendio de Civilidade
Cristã, aborda temas relacionados aos comportamentos da criança à mesa, na hora de
comer, de dormir, de brincar, e até de falar, nos moldes da cultura europeia, dando
exemplos extraídos da cultura francesa, porque era essa a mentalidade que a elite
queria incutir na criança brasileira. Para mostrar como deve ser o comportamento na
igreja, o clérico conta uma ”anedocta acontecida em Paris, haverá seis annos, que eu
mesmo presenciei” num enterro de grande pompa de um Par de França (COSTA, 1915,
p. 104). No que se refere às regras de civilidade que se deve observar quanto aos
cuidados com o nariz, o educador estabelece que o menino bem educado deve:
1º. Assoar-se sempre com um lenço, com todo o asseio, volvendo o rosto um pouco para o lado, e sem estrondo. 2º. Não conservar o lenço na mão, nem gesticular com elle, nem trazel-o debaixo do braço, nem pôl-o sobre a mesa ou na cadeira, mas dentro da algibeira257, que é o seu logar (COSTA, 1915, p. 29).
O discurso de Dom Macedo Costa, defendido ainda no Império (1880), estava
em consonância com os debates que circulavam nas primeiras décadas do século XX
(portanto, já na República) em torno da escolarização, cuja ideia central era transformar,
por meio da escola, indivíduos ignorantes em cidadãos esclarecidos (RIZZINI, Irma,
2004). O educador, como muitos intelectuais brasileiros, autores de livros didáticos,
Brasileira de Letras e fundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Patrono de
Cadeiras da Academia Paraense de Letras (n.24) e do Instituto Histórico Geográfico do Pará (n.
26), autor da famosa obra ‘Educação Nacional (ARAÚJO, Sônia Maria da Silva. José Veríssimo:
raça, cultura e educação. Belém: EDUFPA, 2007). 257 ALGIBEIRA: bolso (FARIA, 1858, I, p. 56).
475
achavam que a melhor forma de “civilizar” a criança e o jovem brasileiro era incutir na
mente deles as ideias importadas da Europa. “Antenado” com as discussões importadas
da Europa, D. Macedo Costa tinha uma concepção de educação e de civilidade
sustentada nas ideologias europeias.
2 O DIALOGISMO EM BAKHTIN
Bakhtin defende uma indissociável relação entre língua, linguagem, história e
sujeitos, postulando que o sujeito se constitui social, histórica e culturalmente por meio
de processos ideológicos. As análises filosóficas de Bakhtin têm como eixo a linguagem,
que é concebida como um produto histórico-social. Na dualidade entre o mundo da
teoria, das generalizações, e o mundo da vida, isto é, das ações realizadas pelo homem,
da historicidade viva, das ações irrepetíveis, o mundo da vida será sempre o foco de
Bakhtin. Portanto, o teórico se preocupa com o evento, com o ato particular, com o
singular, voltando-se para o ser humano concreto e colocando a interação verbal no
centro das relações sociais.
O intelectual defende que a linguagem se institui a partir do diálogo. As relações
dialógicas só se concretizam na esfera do discurso, cujo material linguístico se
transforma em um enunciado, fixando a posição de um sujeito social. É só nesse
domínio que é possível estabelecer relações de sentido com a palavra do outro, as quais
geram atitudes responsivas provenientes do encontro de posições avaliativas. As
relações dialógicas são, portanto, “relações entre índices sociais de valor” que
constituem “parte inerente de todo enunciado” (FARACO, 2009, p. 66).
As contribuições de Bakhtin, por meio da Análise Dialógica do Discurso, são
importantes para a análise do Compendio de Civilidade Cristã. Bakhtin considera a
ideologia como um conceito chave em seus estudos. Para o teórico, a ideologia, longe
de ser algo pronto, mecânico, acabado ou inscrito tão somente na consciência
individual, é um acontecimento vivo, dialógico, histórico, social
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009). O autor a concebe como uma posição social, um
índice social de valor que gera atitudes responsivas e está diretamente articulada com
o estudo da linguagem.
Para o teórico, o signo (discurso), além de ter uma natureza físico-material e
sócio-histórica, apresenta um ponto de vista, um posicionamento social valorativo, uma
dimensão avaliativa, determinados sócio-historicamente. Assim sendo, ele está
marcado por uma época e por um grupo social determinado e possui um índice de valor
476
social. “Em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios”
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 47) que se entrecruzam, tornando o signo vivo,
dinâmico. Entretanto, nessa arena ideológica, a classe dominante, por meio do sistema
ideológico oficial, tencionando dar ao signo um caráter intangível, busca abafar, ocultar
“a luta dos índices sociais de valor que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente”
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 48).
Outra categoria importante discutida por Bakhtin é o enunciado, considerado a
“unidade real da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2010, p. 269). Todo discurso258
existe na forma de enunciados concretos e singulares, os quais pertencem a sujeitos
discursivos. Portanto, longe de ser uma unidade da língua, o enunciado se constitui
como unidade da interação social, “como um complexo de relações entre pessoas
socialmente organizadas” (FARACO, 2009, p. 66).
Cada enunciado constitui um novo acontecimento, um evento único e irrepetível
da interação social. Mantém relações dialógicas com outros enunciados por possuir um
caráter responsivo, ou seja, já nasce como resposta a outros enunciados, que tanto
podem ser os anteriores a ele quanto os que os seguem. Ele (o enunciado) “é um elo
na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2010, p.
272).
A alteridade também é um termo importante nos estudos bakhtinianos.
Bakhtin, ao tratar do sujeito como um ser concreto, se assenta na estrutura do ‘eu’ moral,
que se percebe único (dentro de sua própria existência). Essa unicidade compele o
sujeito a posicionar-se, a responder a ela, a realizar ações. O agir é em relação a tudo
que não é ‘eu’, portanto, é em relação ao ‘outro’. É, porém, na contraposição de valores
que as ações concretas efetivamente se realizam. Isto significa que o ‘eu’ para se
constituir precisa do ‘outro’ (BAKHTIN, 1919/1921 apud FARACO, 2009, p. 21).
Então, a contraposição concreta eu/outro é um princípio constitutivo do ato
realizado. Considerando que eu/outro são um universo de valores, então, o mesmo
mundo, ao relacionar-se com o ‘eu’ ou com o ‘outro’, receberá valores diferentes. A
interação exige uma tomada de posição em relação a valores. Logo, os nossos atos
constituem gestos axiologicamente responsivos.
Considerando que o sujeito está sempre em relação com o ‘outro’, então,
podemos dizer que a apreensão do mundo se situa historicamente porque a constituição
discursiva do sujeito é um processo contínuo em que as vozes sociais vão sendo
apreendidas nas interações sociais.
258 Entenda-se discurso como a língua em sua integridade concreta e viva.
477
A polifonia também é um termo importante nos estudos de Bakhtin. O sujeito
constitui o seu discurso a partir do discurso do outro. Trata-se de um processo de troca
dialógica em que o ‘eu’ interage com o ‘outro’. Então, o discurso é atravessado por
outros discursos _ momento histórico, meio social determinado _ por meio de várias
vozes cruzadas. Assim, compreende-se que as relações dialógicas podem dar-se numa
relação contratual de convergência, de acordo, ou numa relação polêmica.
É no contexto ideológico que as múltiplas vozes emergem e se entrecruzam. O
sujeito se apropria dessas vozes. Às vezes, dá um tom pessoal a elas. Outras vezes,
as reproduz tais qual o discurso do outro. É por isso que Bakhtin/Volochínov defendem
que o enunciado é tecido polifonicamente por fios ideológicos de vozes que polemizam
entre si, se completam ou respondem umas às outras (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009
p. 42).
Considerando que o homem é um ser social e, neste caso, a sociedade se divide
em grupos sociais, então, os enunciados são espaços de luta entre vozes sociais.
Porém, numa formação social, as vozes que circulam têm uma dimensão político-
ideológica, pois circulam dentro do exercício do poder em que estão em jogo todas as
relações de poder.
Então, os enunciados se constituem em relação a enunciados já constituídos
(anteriores) e, também, em relação àqueles que os sucedem, que se formam depois
deles. Neste caso, o discurso solicita uma resposta que ainda não existe. Considerando
que o enunciado revela sempre pelo menos duas posições, a sua e aquela à qual se
opõe, “a relação contratual com um enunciado, a adesão a ele, a aceitação de seu
conteúdo fazem-se do ponto de tensão dessa voz com outras vozes sociais” (FIORIN,
2006, p. 25).
3 O MENINO CIVILIZADO NA AMAZÔNIA PARAENSE: O DISCURSO QUE LEGITIMA
A CULTURA EUROPEIA
A era da borracha trouxe grandes mudanças no quadro sócio-econômico,
político e cultural da Amazônia. Os representantes clericais e políticos locais buscavam
apresentar os caminhos para o desenvolvimento social, econômico e cultural da região
e trouxeram para a ordem do dia a ideia de civilizar a Amazônia.
Vainfas (2002, p. 143) defende que a “a busca de civilização nos trópicos tornou-
se poderosa ideologia de dominação de classe e de controle social de pessoas e
comportamentos distantes dos modelos culturais europeus”. Ideologicamente, esse
discurso é atravessado pela ideia de superioridade da cultura europeia sobre a cultura
478
brasileira. Essas vozes sociais são apreendidas nos discursos de intelectuais
brasileiros, principalmente os autores de livros didáticos, como Dom Macedo Costa.
No século XIX (e ainda na contemporaneidade), os sentidos de civilização são
múltiplos e complexos, pois envolvem uma variedade de fatos, sejam eles voltados para
a tecnologia, as boas maneiras, os conhecimentos científicos, os costumes, as ideias
religiosas etc. Elias (2011, p. 52) defende que, nesse momento histórico, a função geral
do conceito de civilização revela a consciência (nacional) que o Ocidente _ mais
especificamente, a Europa _ tem de si mesmo. A Europa representa uma cultura, um
modo de ser, de comportar-se, de agregar conhecimentos “que buscará construir
imagens da realidade, consideradas apropriadas para a criança” (BOTO, 2010, p. 4),
cujos valores são inerentes à cultura letrada.
No século XIX e início do século XX, a ideia de civilidade vem carregada de
regras do bem comportar-se. Vainfas (2002, p. 142) mostra que, nesse período,
civilidade significa “‘cortesia’, ‘urbanidade’, ‘polidez’, ‘boa educação’, ‘boas maneiras’,
‘delicadeza’, ‘etiqueta’, ou seja, tudo o que se opunha à rusticidade grosseira dos
setores sociais mais baixos”. Neste caso, há dois espaços bem delimitados: o espaço
público da sociedade dos cidadãos em contraste com a “barbárie” daqueles que não
foram civilizados.
Essa ideia de civilidade encontra ecos nos discursos defendidos por Dom
Macedo Costa no Compendio de Civilidade Cristã. Sobre as regras de civilidade em
relação à postura do corpo, o educador prescreve:
[1] _ Há mais regras ainda? _ Há. Não tomes o costume de encurvar as costas, como fazem certos meninos que parecem velhos, costume até anti-hygienico, pois damnifica ao peito; nem faças tregeitos e contorsões, que isso é bom para truões e palhaços; não gesticules demais, quando falas, como fazem algumas crianças de gênio demasiado vivo e petulante, nem te encostes nunca á parede, que é muito máo costume. Estender negligentemente o corpo e os braços (vulgarmente espreguiçar-se) é muito reparado e de máo tom, e quem faz diante de companhia, dá logo triste cópia de sua criação.
(COSTA, 1915, p. 19).
O enunciado [1] mostra uma ideia de civilidade postulada por D. Macedo Costa
que perpassa pela polidez no meneio e na postura do corpo, cujo menino precisa
aprender a ter uma postura elegante e um comportamento contido. Encurvar as costas,
fazer trejeitos e contorções, gesticular demais, encostar-se a uma parede, espreguiçar-
se, são comportamentos não aceitáveis a um menino polido e bem educado porque
479
essa conduta, segundo o bispo, é característica do menino “truão”, “palhaço”, “mal
educado”.
Nesta regra de civilidade, os valores estão muito bem definidos: o domínio de
um padrão de comportamento considerado desejável ao menino bem educado, que
envolve refinamento, respeito aos modos de comportar-se, abrandamento de costumes,
ditado pelas sociedades urbanas ditas desenvolvidas, em contraste com “o genio
demasiado vivo e petulante” dos meninos que não obedecem às regras do bem
comportar-se. É o ‘eu’ (menino civilizado) que se constitui e é valorado a partir do
‘outro’(menino incivilizado, selvagem, bárbaro) (BAKHTIN, 2010).
O bispo defende que as regras de civilidade prescritas em seu livro de leitura são
admitidas como leis entre as “nações cultas”, por isso devem ser obedecidas, mesmo
que pareçam arbitrárias e convencionais (COSTA, 1915, p. 9). A exemplo, temos a regra
de tirar o chapéu, prescrita no enunciado [2], em que o menino, ao saudar alguém, deve
tirar sempre o chapéu com a mão direita, abaixá-lo para o lado contra a coxa sem tocar
nela e fazer a saudação de uma distância de cinco ou seis passos da pessoa que
pretende saudar.
[2] _ Como e quando se deve tirar o chapéo? _O chapéo deve-se tirar com a mão direita, abaixando-o para um lado contra a coxa, mas sem tocar nella, e isto quando se está a cinco ou seis passos da pessôa a quem se quer saudar (COSTA, 1915, p. 49).
O uso do chapéu nos moldes da cultura europeia era uma prática comum da elite
paraense do final do século XIX e início do século XX, o que justifica a preocupação de
Dom Macedo Costa de prescrever regras de civilidade sobre o uso desse adereço, que
se tornava obrigatório no modelo de usos e costumes que se pretendia na Amazônia
paraense.
A polidez da convenção, da aparência, da superficialidade, que subjaz à noção
de civilidade do século XVII, chamada por Chartier de civilidade “barroca” (CHARTIER,
2004, p. 59), atravessa os discursos de Dom Macedo Costa, cuja conduta representa
um lugar determinado: o espaço da elite paraense. O menino precisa ser moldado desde
pequeno a esse padrão de comportamento de convivência social. É a preocupação com
a aparência, com a reputação, que faz o ‘parecer’ sobrepujar o ‘ser’.
A cultura francesa, com seu ideal de civilização, se torna um modelo de civilidade
no Brasil, manifestada na remodelação nos hábitos e costumes sociais, nas
construções, nas políticas de saneamento, etc. Alinhar Belém ao modelo de civilização
europeia era um ideal almejado pela elite paraense, que buscava transformar a capital
paraense num símbolo do progresso.
480
No apogeu da Belle Époque (1890 a 1910), a elite brasileira, que quer ser
europeia, proclama um verdadeiro culto às artes, dispensa cuidado especial às roupas,
aos gestos, aos costumes, aos modos. Pretende um “ideal de cidade planejada, limpa
e higiênica, o encobrimento da pobreza e da mendicância” (COELHO, 2011, p. 145).
Antônio Lemos, Intendente Municipal259 (1897-1911), considerado o responsável pela
feição da Belle Époque que se viu em Belém (SARGES, 2002, p. 10), na virada do
século XIX, faz investimentos significativos na modernização urbana da capital do
Estado do Pará, promovendo a construção de avenidas, jardins, praças, monumentos e
investindo nos serviços de saneamento e higiene. O Intendente tencionava “limpar” a
cidade do que ele chamou de mendicância, forçando os grupos de baixa renda a sair do
centro urbano. “A partir do final do Oitocentos, o centro de Belém seria dominado por
uma arquitetura refinada, elegante, eclética, na forma de construções que contavam,
não raro, com arquitetos e matérias-primas procedentes da Europa.” (COELHO, 2011,
p. 164).
O sujeito, nessa concepção de progresso e civilização, é concebido como um
sujeito universal, modelado pelos usos e costumes europeus. Nos enunciados [3] e [4],
defendidos por Dom Macedo Costa no Compendio, o educador destaca
comportamentos ligados às boas maneiras durante a refeição, como, por exemplo,
evitar limpar a boca na manga do paletó ou da toalha, tirar adequadamente a comida do
prato geral, não falar com criados e não limpar o copo com o guardanapo.
[3] _ Que deve observar durante a comida um menino bem educado? _ Durante a comida deve um menino bem educado evitar: [...] 4º. Limpar a boca na manga do paletot, ou na toalha, em vez de servir-se para isso do guardanapo. (COSTA, 1915, p. 55-6). [4] _ Tendes mais algumas regras importantes que declarar-me? _ Tenho: 1º. nunca deveis tirar a comida do prato geral com o mesmo talher de que te serves, mas sim com o talher que houver para isso destinado, e, se o não houver, pedil-o aos criados. 2º. Não se deve com estes trocar palavras na mesa, que isto é de muito máo tom; mas só falar-lhes, para pedir alguma cousa necessaria, e o melhor será fazel-o por aceno. 3º. Limpar o copo com o guardanapo seria grande incivilidade, e até offensa ao dono da casa. [...]
259 Chefe do executivo municipal (PARÁ. Constituição política do Estado do Pará, 1891. In: Collecção das leis estaduaes do Pará dos annos de 1891 a 1900 precedida da Constituição política do Estado. Belém: Imprensa Official, 1900
.
481
É certo, que quem commette taes faltas dá mostras de coração pouco benigno, e mal formado, e por isso se devem evitar com cuidado (COSTA, 1915, p. 58-9).
No padrão de conduta postulado pelo bispo, os comportamentos sociais do
menino são valorados a partir de um lugar determinado: a sociedade urbana com
elevado poder aquisitivo, posto que, durante a comida, o menino “bem educado” veste-
se a caráter (de paletó), usa guardanapo e talheres variados e tem criados para servi-
lo. Aliás, pelas regras de civilidade do bispo, parece que esse menino não deveria ter
nenhum tipo de sociabilidade com esses escravos domésticos (MAUAD, 2002, p. 150),
muito menos falar com eles, o que era considerado de “muito máo tom”. Neste caso, a
obra apresenta índices de polifonia com a civilidade e polidez mundana do século XVII
que regulamentava as condutas a partir da sociedade cortesã (CHARTIER, 2004, p. 56).
Contudo, mesmo que lhe fosse destinado outro espaço de sociabilidade, em muitas
ocasiões, esse menino da elite quebrava essa regra e se associava aos filhos dos
domésticos, principalmente nas brincadeiras.
No enunciado [4], julga-se o caráter do menino a partir do saber comportar-se ou
não à mesa, uma vez que “quem commette taes faltas dá mostras de coração pouco
benigno, e mal formado”.
No discurso de Dom Macedo Costa, aparecem muito bem marcadas as
distinções sociais dos tratados de polidez mundanos, em que o menino bem educado
não deve sequer falar com o criado. Trata-se do ‘eu’ civilizado em contraste com o ‘outro’
bárbaro, ‘mal formado’, que ‘comete faltas’ e que tem ‘coração pouco benigno’.
O intelectual defende a conveniência em relação aos lugares e às pessoas com
quem se conversa, cuja aparência indica não apenas as “qualidades” da alma do sujeito,
mas também a sua classe (CHARTIER, 2004, p. 66). Esse discurso está em
consonância com a política do ideário republicano postulado pela elite paraense do final
do século XIX e início do século XX. A escola é a principal representante dessa
ideologia, pois a ela cabe a grande função civilizadora de modelar o comportamento da
criança. As regras de civilidade prescritas postulam “estratégias de controle,
instauração, preservação e perpetuação de valores, de tradições de costumes
existentes ou pretendidos por grupos em posição de poder na sociedade” (BOTO, 2010,
p. 5).
A marca do Positivismo, relacionada à ordem e ao progresso, estava presente
no pensamento e nas práticas dos intelectuais paraenses do final do século XIX e início
do século XX. O homem de letras de Belém está, nesse período, vinculado ao
pensamento europeu sobre o progresso e a civilização. “Ciência e literatura eram
pensadas como atributos e virtudes do sujeito social de um mundo novo, e no qual
482
Progresso e Civilização revelavam-se como imperativos categóricos da História”
(COELHO, 2011, p. 160).
Nas regras de civilidade sobre os modos de andar, prescritas por Dom Macedo
Costa no enunciado [5], há uma preocupação com a conduta e com a postura do
menino: este não deve andar nem devagar demais, nem depressa demais. O passo
deve ser regular, natural, simples, com autoridade, gravidade e sossego. Então, nos
discursos do intelectual, embalados pelo Positivismo, até no modo de andar, o menino
paraense deveria demonstrar ordem e respeito e colocar a regra acima da arte. A
aparência tem papel importante nesse momento em que a os ideais republicanos
postulam um menino modelado pelos costumes europeus. Então, nada de movimentos
afetados, nada de movimentos violentos de rosto e nada de respiração ofegante.
[5] _ Há alguns que são reprehensiveis por andar devagar, outros por andar depressa? _ Há alguns [...] que, andando devagar imitam o gesto dos comicos, e o movimento das estatuas que se levam em triumpho, de sorte que todas as vezes que dão um passo, parece que observam certas e determinadas leis de movimentos affectados260. Não me parece decente andar também a correr, excepto quando alguma grave causa ou necessidade o exige. Porque ordinariamente vemos os que andam depressa fazerem movimentos violentos de rosto, e com a fadiga respirarem desagradavelmente; o que parece mal e não é desculpavel sem que haja causa da pressa. [...] Deve ser o passo regular, deve ter auctoridade, gravidade, socego; sem cuidado nem affectação261, mas natural e simples; porque nada affectado agrada. Dirija a natureza o nosso movimento. Se nella houver algum defeito, emende-o a industria; ainda que falte a arte, não falte a emenda (COSTA, 1915, p. 17-8).
O enunciado [6] mostra que o padrão de conduta do menino no modo de trajar-
se não se limitava ao espaço público. Dom Macedo Costa prescreve boas maneiras no
trajar-se dentro de casa, adentrando, portanto, no domínio do privado. Para o educador,
as regras do decoro e da decência social exigiam que o menino, mesmo em casa,
deveria estar decentemente vestido [com as pernas, peito e pescoço cobertos].
[6] _ Ainda que se tenha de sair, e faça calor, cumpre estar em casa sempre decente? _ Sim, a boa educação exige, que, ainda que se possa estar em casa um tanto mais a commodo e á fresca, todavia nunca se mostre alguem
260 AFFECTADO: que usa de affectação; fingido, não natural; sem singeleza e simplicidade (FARIA, 1858, I, p. 34). 261 AFFECTAÇÃO: cuidado demasiado e vicioso, attenção repreehnsivel; concerto, primor excessivo e estudado nas ações, gestos, palavras; desejo immoderado e ambicioso de alguma cousa; corrupção do estylo (FARIA, 1858, I, p. 34).
483
diante de quem quer que seja, com as pernas nuas, o peito e o pescôço descobertos, pois seria faltar ás regras do decoro e da decencia social. A regra é, que se esteja habitualmente em casa de modo que se possa apparecer de repente sem confusão a uma pessôa que nos procure (COSTA, 1915, p. 46).
O Compendio de Civilidade Cristã, como já foi discutido neste estudo, teve sua
primeira edição publicada em 1880. Contudo, o discurso de Dom Macedo Costa como
um importante intelectual do Império Brasileiro, influenciou na mentalidade dos
intelectuais republicanos, inclusive das autoridades. A lei municipal n. 276, de 3 de julho
de 1900 (BELÉM, 1901), instituída pelo Intendente Municipal Antonio Lemos, que
regulamentava o código de posturas do município de Belém, chamado em 1900 de
Código de Polícia Municipal, é atravessado pelas vozes sociais legitimadas no discurso
de Dom Macedo Costa. No artigo 128 há um índice de polifonia entre o discurso de Dom
Macedo Costa e o discurso do chefe do Executivo municipal quando o legislador
prescreve que no modo de trajar-se em casa o menino não deveria usar traje indecente
ou ficar em completa nudez. Ao que parece, o trajar-se de forma indecente seria
mostrar-se “com as pernas nuas, o peito e o pescôço descobertos” (enunciado [6]).
Art. 128º. – A ninguém é permitido: [...] VIII – Chegar á janella ou porta em trajo indecente ou em completa nudez, ou conservar-se em casa em taes condições, de maneira que seja visto pelos transeuntes (BELÉM, 1901, p.63).
Na prescrição postulada no texto [6] e legitimada na lei municipal, não se leva
em conta os costumes locais que seguem um padrão de clima tropical. Mesmo que, no
discurso, o intelectual admita que o clima não se adequa ao tipo de traje prescrito, o
menino “civilizado” precisa trajar-se conforme os padrões europeus. Dom Macedo Costa
legitima essa ideologia ao destacar a importância de se evitar trajes que ele considera
indecentes, que são os trajes típicos do menino amazônico tanto da cidade quanto do
interior. Nos arredores da cidade, encontramos os ribeirinhos andando de canoa, com
suas roupas rústicas e vivendo em palafitas. Tanto o menino pobre que vivia na cidade
quanto os ribeirinhos, os seringueiros, os caboclos etc., com seus usos, costumes e
comportamentos, parecem deslustrar os ideais de civilização almejados por uma
pequena parcela da sociedade.
CONCLUSÃO
484
No final do século XIX e início do século XX, o cenário exigido pelos paradigmas
do progresso e da civilização que norteavam a conduta da elite paraense (e brasileira)
e que ficou registrado na história mesmo depois dos anos de ouro da Belle Époque da
borracha, veio embalado pelas ideias educacionais de civilidade que tencionavam
transformar as formas de sociabilidade, os usos e costumes do menino paraense.
Os discursos constituídos sobre civilidade que ordenavam a educação de
meninos paraenses no livro escolar de leitura ‘Compendio de civilidade cristã’ buscam
legitimar as ideologias defendidas pela elite brasileira/paraense, tencionando incutir na
mente do menino paraense um modelo de civilidade que valoriza a produção cultural
importada da Europa, a qual busca transformar esse garoto num sujeito monofônico,
silenciado, e distanciá-lo dos usos e costumes da cultura paraense. Entretanto, as
constantes tentativas de representação dos usos e costumes europeus na sociedade
paraense contrastavam com a realidade amazônica. Logo, os mesmos discursos que
tentam criar um modelo de menino civilizado nos moldes da cultura europeia são
atravessados por vozes sociais de um menino impregnado de usos e costumes
paraenses que o legitimam como sujeito situado histórica e socialmente dentro do
contexto cultural da Amazônia paraense.
REFERÊNCIAS BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. ______; VOLOCHINOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel Lahyd e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: HUCITEC, 2009. BELÉM. Lei n. 276, de 3 de julho de 1900. Institue o código de polícia municipal. Leis e resoluções municipais (1900). Pará-Belém: Typigrafia de Tavares Cardoso & Cia, 1901. BOTO, Carlota. A racionalidade escolar como processo civilizador: a moral que captura almas. Revista Portuguesa de Educação. Braga, v. 23, n. 2. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0871-91872010000200003&script=sci_arttext>. Acesso em: 30 jun. 2014. CHARTIER, Roger. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: UNESP, 2004. COELHO, Geraldo Mártires. Na Belém da Belle Époque da borracha (1890-1910): dirigindo os olhares. Escrito: Revista da Fundação Casa de Rui Barbosa, ano 5, n. 5, 2011. Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/escritos/numero05/sumario05.php>. Acesso em: 25 maio 2015. CORRÊA, Carlos Humberto Alves. Circuito do livro escolar: elementos para a compreensão de seu funcionamento no contexto educacional amazonense 1852-
485
1910. Tese de Doutorado. 252p. Doutorado.Faculdade de Educação. Universidade Estadual de Campinas, 2006. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br.> Acesso em: 05 jan. 2012. COSTA, Antônio de Macedo. Compendio de Civilidade Cristã. Nova edição. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1915. ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. 2 ed. São Paulo: Jorge Zahar, 2011. FARACO, Carlos Alberto. Linguagem & Diálogo: as idéias linguísticas do círculo de Bakhtin. São Paulo: Parábola, 2009. FARIA, Eduardo de. Diccionario da lingua portugueza. Parte I. 4. ed. Lisboa: Francisco Arthur da Silva, 1858. FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006. MAUAD, Ana Maria. A vida das crianças de elite durante o Império. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das crianças no Brasil. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2002 NASCENTE, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1955. RIZZINI, Irene. O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2008. RIZZINI, Irma. O cidadão polido e o selvagem bruto: a educação dos meninos desvalidos na Amazônia Imperial. Tese de Doutorado. 453p. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <http://www1.capes.gov.br/teses/pt/2004_dout_ufrj_irma_rizzini.pdf>. Acesso em: 05 maio 2014. SARGES, Maria de Nazaré. Belém: riquezas produzindo a Belle Époque (1870-1912). 3. ed. Belém: Paka-tatu, 2010. ______. Memórias do Velho Intendente Antonio Lemos (1869-1973). Belém: Paka-tatu, 2002. VAINFAS, Ronaldo (org.). Dicionário do Brasil Imperial: 1822-1889. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. VERÍSSIMO, José. A educação nacional. 3. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985 OS “COLONOS” DE VILA FERNANDO (PORTUGAL): EDUCAÇÃO & TRABALHO
(1ª METADE DO SÉCULO XX)
Helder Henriques
Instituto Politécnico de Portalegre/
GRUPOEDE – CEIS20 – Universidade de Coimbra, Portugal
António Gomes Ferreira
486
Universidade de Coimbra,
GRUPOEDE – CEIS20, Portugal
Introdução
Ao longo da modernidade a infância foi, gradualmente, ocupando um lugar central nos
discursos políticos, sociais e científicos. A preocupação com a qualidade da população,
sobretudo nesta primeira etapa da vida, constituiu matéria de interesse de diferentes
especialistas que foram construindo o seu saber em torno da criança. Também o Estado
encontrou na infância um meio para garantir o futuro da nação. A Escola constituiu esse
mecanismo que as crianças e jovens deviam frequentar em nome de um bem-estar
coletivo. Com efeito, este processo de escolarização da sociedade permitiu evidenciar
a pluralidade de categorias que a infância pode conter. Para lá da criança-aluno
encontramos outros tipos de crianças que não correspondiam aos ideais de normalidade
propostos pelo Estado e que, por isso, deviam ser acompanhadas evitando o desvio da
sua conduta ou, em casos mais extremos, regenerar aquelas crianças consideradas
marginais e que poderiam colocar em causa a ordem pública proposta por um Estado-
Nação emergente, como era o caso da infância delinquente.
Este trabalho tem como objetivo central realçar a problemática das crianças e jovens
marginais em Portugal, na primeira metade de novecentos, através da análise de um
programa institucional de regeneração destes indivíduos, ancorado na Colónia
Correcional de Vila Fernando, com potencial de perigosidade para a sociedade. Deste
modo configuramos as seguintes questões de partida:
Ao longo da modernidade, particularmente na segunda metade de Oitocentos, que
discursos circulavam em Portugal sobre esta matéria? Que soluções foram apontadas
para tentar lidar com o problema da infância marginal, em particular a infância
delinquente? Que processos foram utilizados para proceder à regeneração dessas
crianças e jovens?
De modo a evidenciar esta problemática optamos por desenvolver uma abordagem
metodológica sócio histórica. Esta abordagem permite colocar em “crise” as fontes
utilizadas e dialogar com um conjunto diversificado de autores que têm dedicado o seu
tempo a estudar estes processos de reabilitação dos menores neste tipo de contextos
técnico-institucionais.
Do ponto de vista teórico, este é um trabalho que integra um conjunto de autores que
permitem discutir conceptualmente os processos de institucionalização e de reabilitação
487
dos menores, enquanto problemas sociais e públicos, (Foucault, 2006; Tomé, 2010;
Ferreira & Henriques, 2014; Henriques & Vilhena, 2015, entre outros).
O corpus documental é constituído por três tipos de fontes: as fontes de natureza legal;
as fontes documentais institucionais; e, as fontes iconográficas. No que diz respeito à
legislação, reunimos os principais documentos normativos relacionados com a
problemática em causa direcionados para o contexto institucional em análise; quanto às
fontes documentais socorremo-nos de relatórios, boletins e, ainda, dos periódicos
institucionais “Echos do Lar” (1910) e “Ecos da Colónia” (1929-1945); por fim, utilizamos
imagens que permitem objetivar o espaço institucional a que nos referimos.
Em suma, defenderemos que a Colónia de Vila Fernando constituiu um modelo de
regeneração do individuo ancorado na Educação e no Trabalho. A devolução social do
menor internado constituía o final de um processo centrado na formação “literária” e
“profissional” daqueles que ali foram institucionalizados sobretudo na primeira metade
de novecentos.
1. O Governo da infância marginal em Portugal: incursões teóricas e legais
Na modernidade desenvolveram-se interesses científicos capazes de ajuizar sobre a
qualidade da população (Foucault, 2006). A Escola, e os especialistas que no seu
interior a foram, crescentemente. povoando, contribuiu para um processo de
padronização da sociedade e para medir, através de diversos parâmetros, a “qualidade”
dos indivíduos. Com efeito, assistimos ao desenvolvimento de um duplo processo: por
um lado, a Escola serviu como instrumento de normalização da população, sobretudo
da mais jovem; por outro lado, este processo de normalização permitiu a identificação
daqueles que não se enquadravam do ponto de vista moral, dos comportamentos e/ou
atitudes nos ideais definidos pelo emergente Estado Nação e executados pela
instituição escolar.
Assim, a normalização da infância – através da escola - possibilitou a identificação da
infância marginal, daquela que não correspondia às regras e valores socialmente
definidos e aceites. Neste sentido, ao longo da modernidade verificou-se que podemos
encontrar vários tipos de infância e/ou criança o que nos permite assumir como
pressuposto que o conceito de Infância deve ser entendido como polissémico e
pluridimensional, dado que é resultado de uma construção histórica, social e cultural e
é composto por várias categorias no seu interior. Tal como afirmam alguns autores:
488
“O problema da infância pobre, maltratada, vadia, mendiga, anormal, indisciplinada e delinquente era uma afronta à ordem social e corria pelo mundo desde o século XIX, por via da tomada de consciência, quer social quer judicial, que a defesa social como princípio de justiça exigia medidas “prevenção” à inadaptação social, pela conjugação de medidas de assistência com medidas de prevenção criminal” (Tomé, 2010, pp. 481).
Ora, ao longo da modernidade evidenciou-se a infância que passou a ser objeto de
estudo de muitos interessados e, por outro lado, olhou-se muito particularmente, para a
“infância urgente” ou seja aquela que poderia constituir um problema público para a
sociedade. Foi neste contexto que em 27 de maio de 1911, no inicio do primeiro regime
republicano português, foi publicada a Lei de Proteção à Infância (LPI).
No preambulo deste diploma declarava-se a importância de duas dimensões associadas
à Infância marginal. Por um lado, assumia-se a necessidade de preservar a infância
promovendo um exercício constante de profilaxia em relação a eventuais desvios da
conduta do individuo; e, por outro lado, a necessidade de regenerar aqueles que podiam
já estar desenquadrados daquilo que era considerado aceitável pela sociedade (por
exemplo, os menores delinquentes). O diploma é claro quanto aos seus objetivos
quando afirma o seguinte:
“O intuito deste decreto é, pois, atender a um velho mal com indispensáveis medidas de saneamento sendo a primeira dessas medidas o furtar a criança desprovida aos ambientes viciados, que lhe envenenam a alma e o corpo, aos meios de infecção intima, que depravam e inutilizam uma parte considerável da nossa população. Só com crianças educadas num regime escolar disciplinado, com uma higiene moral escrupulosa, instruídas no conhecimento das cousas e na prática das leis sentimentais que formam caracteres, das leis sociais que formam actividades positivas, se poderá constituir uma sociedade que à salubridade dos costumes reúna as ansiedades fecundas do saber e do Trabalho” (LPI, 1911, pp. 1316 e 1317).
Parece evidente que o legislador pretendia olhar de um outro modo para a problemáticas
das crianças em perigo e das crianças perigosas. No processo de preservação e
regeneração dos menores em Portugal o conhecimento e o trabalho constituíram pedras
angulares. Esta ideia é confirmada pelo mesmo diploma quando afirma, a propósito da
criação da Tutoria da Infância (Tribunal de menores), que o seu “intuito é mais prevenir,
curar, do que propriamente o de castigar (…) ela prescrever um processo de terapêutica
moral de higiene preventiva contra o crime, antes do crime, e de higiene curativa contra
o crime consumado, de maneira a evitar a sua repetição” (LPI, 1911, pp. 1317).
Este diploma definia a infância marginal a partir de várias categorias que, à luz do
espirito da lei, deviam merecer atenção social e política. Assumiu-se a existência de
489
menores em perigo moral abandonados – aqueles que não possuíam domicilio certo,
que não tivessem pais ou tutores ou forma de subsistência das crianças; os menores
em perigo moral pobres – crianças cujos pais não tinham capacidades financeiras
para assumir o cuidado do menor ou considerados incapazes ou impotentes de cumprir
os seus deveres paternos ou tutelares; os menores em perigo moral maltratados –
as crianças desprezadas gravemente pelos seus pais ou tutores; os menores
desamparados: ociosos (“aquele que se mostra refractário a toda a ideia de uma
instrução ou trabalho sério e útil”), vadios ( aquele que fugiu da casa dos pais ou tutor
para habitualmente errar de terá em terra), mendigos ( aquele que pede esmola para si
ou para outrem) ou libertinos (aquele que vive da prostituição d’outrem, que persegue
ou convida os companheiros pata atos obscenos, que frequenta ou vive em casas de
toleradas ou de passe, que for encontrado em qualquer lugar a praticar actos obscenos
com outrem).
Por fim, além da categoria dos menores indisciplinados (sobretudo em contexto
institucional) e anormais patológicos ( aquele que sofre de doença mental) surgem os
menores delinquentes – contraventores ou criminosos que eram “aqueles que forem
julgados autores duma contravenção ou autor, encobridores ou cúmplices dum crime,
punido respetivamente por um regulamento, postura ou lei penal).
Este diploma legal permite verificar a heterogeneidade e a complexidade da definição
do conceito de infância e de marginalidade. Na verdade, devemos falar em Infâncias
porque à luz deste diploma é disto que se trata. Apesar deste articulado datar de 1911,
alguns anos antes era criada uma instituição com os objetivos que se encontram
explícitos no diploma que convocamos anteriormente, principalmente no que diz
respeito à categoria dos menores delinquentes condenados a um processo de
reabilitação moral: a Escola Agrícola de Vila Fernando.
2. A Escola Agrícola de Vila Fernando: Uma instituição regeneradora
A necessidade de regenerar e moralizar indivíduos perigosos constituiu uma ideia
defendida pelo Estado ao longo do século XIX. Foi, porém, na segunda metade de
oitocentos que se criaram as condições necessárias à sua materialização. A Escola
Agrícola de Vila Fernando faz parte desse processo regenerador de jovens marginais,
apoiado pelo Estado português. Fundada em 1880 por carta régia de D. Luís, apenas
15 anos mais tarde recebeu os primeiros “colonos” (designação dada aos menores que
ali viveram em regime de internato). Localizada geograficamente na região do Alto
490
Alentejo, no interior rural de Portugal, o espaço ocupado pela instituição regeneradora
ocupava mais de 700 hectares.
O processo de projeção e construção ficou a cargo de João Veríssimo Mendes
Guerreiro. Inspirou-se em instituições semelhantes que existiam em França e Bélgica
com destaque para a Colónia de Mettray (1839) e para a Escola de Reforma de
Ruiselede (1849). Entre 1880 e 1895 foram vários os intervenientes que concorreram
para a conclusão deste projeto, incluindo o Rei D. Carlos que isentou de impostos
materiais e máquinas destinadas às oficinas da Escola de Reforma de Vila Fernando.
Em meados da década de 90 do século XIX assumia-se a necessidade de abrir a
instituição, mesmo sem estarem todas as obras previstas inicialmente realizadas.
Assim, o primeiro regulamento da instituição data de 1895. O seu primeiro diretor foi
Ernesto Leite de Vasconcelos, natural da cidade do Porto, e formado em direito pela
Universidade de Coimbra. Deve-se a este homem a direção desta instituição até 1914.
Gradualmente a instituição foi tentando transformar-se numa instituição menos
repressiva e mais formativa, pese embora o lugar que a disciplina assumia neste
contexto técnico-institucional.
No decorrer do período republicano (1910-1926) a direção da instituição apostou na
consolidação do percurso iniciado alguns anos antes. O diretor Ernesto Leite de
Vasconcelos foi substituído pelo médico Henrique Caldeira Queiroz. Este formado pela
Escola Médico-cirúrgica do Porto, ocupou vários cargos na região do Alentejo, tendo
sido médico municipal em Borba e Ponte de sor. Mais tarde, foi deputado à Assembleia
Nacional Constituinte, senador, chefe de gabinete do ministro das colónias e diretor
interino da penitenciária de lisboa (1913), além de governador civil de Portalegre e
presidente da junta de Freguesia de Vila Fernando, Elvas. Homem com múltiplos
interesses destaca-se, neste contexto, pela sua ação na Colónia Agrícola de Vila
Fernando (Ferreira & Henriques, 2014).
Da análise realizada aos periódicos publicados na Colónica de Via Fernando ( em 1910
e, posteriormente, em 1929) destacam as figuras dos diretores como elementos cujo
exemplo devia ser seguido. Em vários momentos, ex-colonos, destacam a importância
que estes tiveram no processo de reabilitação dos próprios.
491
Ilustração 1 – A Colónia Agrícola de Vila Fernando na Década de 30 do século XX. (Fonte: Agarez, 2008)
No essencial podemos afirmar que a herdade onde se situava a Colónia de Vila
Fernando encontrava-se organizada em dois espaços principais: por um lado, o espaço
das edificações; por outro lado, todo o espaço reservado à exploração agrícola e de
criação de gado. A este propósito, o diretor Henrique Caldeira Queiroz descreve
pormenorizadamente a organização do espaço da Colónia:
“A parte destinada para edificações [8 a 10 hectares], rodeada por todos os lados por densas faixas de eucaliptos, é cortada em vários sentidos por largas avenidas arborizadas ao longo das quais se alinham pavilhões, independentes uns dos outros, onde se instalam colonos, pessoal e serviços do estabelecimento. Nos intervalos das construções, pomares, jardins e arborizações diversas, casando-se com a brancura dos edifícios, formam um todo fresco e alegre, propicio ao fim visado pelos estabelecimentos desta natureza. (…). Na parte reservada para exploração agrícola, a maior parte da herdade, faz-se em larga escala a cultura de cereais (trigo, aveia, cevada, centeio) que é própria da região, e a de legumes, existindo também um vasto olival e uma boa vinha. Na herdade há ainda campos de pastagem para a criação de gado (equino, bovino, ovino e porcino) e matas de azinheiros e sobreiros para engorda do gado porcino e para a produção de cortiça” (1931, pp. 6 e 7).
Este contexto assumiu particular impacto no processo regenerador dos colonos uma
vez que funcionava como um todo, com um único propósito: reabilitar menores
delinquentes.
492
3. Estratégias de regeneração: Educação e trabalho
Apesar desta instituição nascer no interior do regime monárquico, desenvolver-se no
regime republicano e continuar o seu percurso no regime político ditatorial do Estado
Novo há dois elementos que constituem eixos fundamentais da ação reabilitadora da
Colónia de Vila Fernando: a Educação e o Trabalho. Assumia-se que “a educação
disciplina a vontade e vigia os instintos ao passo que o trabalho que preocupa o espirito
leva-o a desenvolver e a concentrar a atividade (…)” (Ferreira & Mota, 2013: pp. 202 e
203). Desenvolve-se a ideia da necessidade de moldar e controlar as vontades com o
objetivo final de devolver à sociedade indivíduos livres do vicio, do crime e, portanto,
normalizados do ponto de vista sociomoral.
Logo em 1895 quando foi publicado o 1º regulamento, com caráter provisório, da Escola
Agrícola de Vila Fernando o binómio educação e trabalho evidenciava-se ao longo de
todo o articulado. Na verdade, podia ler-se que a instituição assumia o desígnio de
“educar e tornar aptos para o trabalho” os indivíduos considerados perigosos ou
potencialmente perigosos, de acordo com um conjunto de critérios previamente
definidos. Verifica-se que há uma intencionalidade pedagógica articulada com o
processo de valorização do trabalho quando, por exemplo, se afirmava que “a instrução
literária consistirá no ensino de leitura, escrita e contas, e também de desenho, quando
necessário para a melhor aprendizagem de qualquer arte ou oficio” (1895, art. 5º). A
possibilidade de moldar o individuo passava pela sua orientação para o trabalho,
utilizando a instrução como meio para, sobretudo, moralizar a ação dos colonos
favorecendo o autogoverno de acordo com um conjunto de valores, disciplina
valorizados naquele contexto técnico-institucional e, ainda, antecipando o “provável
destino de cada colono” (1895, art.º. 103, ponto 1).
Em 1898 a instituição transitou para a tutela do Ministério da Justiça reforçando, de certo
modo, o seu carater punitivo e alterando-se a sua designação para Colónia Agrícola
Correcional de Vila Fernando. Ainda assim, o processo de regeneração através da
instrução era central constituindo uma preocupação de todos os atores relacionados
com aquele contexto institucional. Esta preocupação materializa-se, em 1901, quando
foi publicado o Regulamento Geral da Colónia Agrícola Correcional de Vila Fernando,
substituindo o regulamento provisório de 1895. No novo diploma afirmava-se:
“As aulas de instrução primária devem ser dirigidas por professores especiais, não só porque o ensino de indivíduos a quem a miséria fisiológica dos primeiros anos não raro enervou as faculdades intelectuais, tornando-os de tardio desenvolvimento, tem de ser enérgico e intensamente ministrado, mas também porque os empregados, aos quais pelo regulamento de 1 de agosto de 1895 estavam cometidas estas funções, como eram o capelão e o segundo escriturário, prejudicavam os seus serviços especiais. O
493
professor de desenho, além da sua função especial, é o auxiliar do professor de instrução primária” (preâmbulo, 1901).
Parece haver toda uma disposição de valorizar os tempos dedicados à instrução dos
colonos. No mesmo sentido, assume-se a necessidade de concentrar o ensino em
“professores especiais” dedicados ao desenvolvimento intelectual e moral daqueles que
se encontravam, por motivos diversos, nas margens da sociedade e que ali deviam ser
reabilitados.
Algum tempo mais tarde, José Maria Pinto e Cruz (1918) continuava a defender a
necessidade da instrução nos processos de regeneração dos menores delinquentes.
Afirmava sobre este assunto que era:
“necessário que a instrucção e a educação deem ao individuo umas noções da moral tão elevadas quanto possível, noções que determinem a coordenação e a unidade na conducta, e sejam,assim, a defeza dos hábitos da vontade contra a tendência sempre destrutiva das impulsões” (pp. 60).
Para o autor a instrução constituía o principal mecanismo de regeneração dada a sua
importância para a moralização do mesmo, funcionando como mecanismo de
normalização social e moralização do próprio individuo. É neste sentido que devemos
compreender a Ordem de Serviço nº 60, de 1925, quando o diretor Henrique Caldeira
Queiroz reafirma os objetivos da Colónia de Vila Fernando:
“Pelo facto de se tratar duma casa de correção imagina muita gente que a finalidade deste estabelecimento é corrigir no sentido de castigar. Erro profundo, grosseiro mesmo, que, infelizmente, é partilhado por muitos dos que deveriam saber e conhecer a fundo quais os intuitos da casa. (…). Se é certo que o internamento na colónia representa um castigo – não tenhamos ilusões a tal respeito – não é menos certo que, a par, se pretende modificar, endireitando o que nasceu torto, e educar incutindo ideas, princípios e hábitos por completo diferentes do que constituía a bagagem dos internados à sua entrada na colónia” (pp. 13).
A formação moral e literária do individuo constituía um verdadeiro desígnio de todos os
elementos que ali trabalhavam. Era necessário moldar comportamentos, hábitos,
atitudes, formas de estar e de ser dos colonos através das “funções educadoras” que
todos tinham naquele contexto institucional, onde o exemplo deveria ser um elemento
promotor da regeneração do individuo. A este propósito referia o diretor da colónia, em
1925, que:
“(…)aos perceptores cumpre, por uma ação persistente e contínua, inteligente e cuidadosa, delicada mas enérgica quanto for necessário , remediar esse grande mal – que é a negação do objetivo deste estabelecimento – actuando de modo a conseguir que todos procedam e trabalhem no mesmo sentido. (…). A ação educadora dos perceptores sobre os colonos tem que ser exercida a todos os instantes e a propósito de tudo” (pp. 15)
494
Não interessava apenas que os colonos aprendessem a ler, a escrever, a contar, que
aprendessem música ou praticassem educação física. O que importava era o objetivo
para o qual a instrução, no seu conjunto, deveria contribuir: para reabilitar a moral dos
indivíduos e prepará-los para a sua futura devolução à sociedade.
Além da instrução também o trabalho constituía elemento fundamental em todo este
processo de regeneração do individuo. Na sequência do que Ferreira & Mota (2013)
defendem desenvolvia-se um pensamento pedagógico “que se abria à pedagogia do
trabalho como meio educativo” ganhando relevo os trabalhos manuais “como meio
educativo, ou seja, não tanto como preparação de futuros artífices mas para compensar
a fadiga intele, para contribuírem oara a educação do carater” (pp. 207). Ao longo da
primeira metade de novecentos todos os colonos deviam aprender e desenvolver uma
atividade profissional. No caso de Vila Fernando, e atendendo ao contexto de inserção
da colónia, todos deviam aprender uma atividade agrícola e/ou “industrial”. A este
propósito o Regulamento provisório de 1894 aponta os ofícios que podiam desenvolver
no estabelecimento de correção a partir daquele momento “agrícola, as de sapateiro,
alfaiate, carpinteiro, serralheiro e a de serviços domésticos” (1895, art. 102). A atribuição
de uma destas atividades aos colonos tinha em conta a capacidade física do individuo
e a sua origem rural ou urbana (bem como o destino para o qual deveria ser
encaminhado, como referimos anteriormente).
Sobre este assunto, o regulamento de 1901 é mais especifico e assume o trabalho
destes indivíduos como elemento fundamental à economia do estabelecimento. Afirma-
se que “os trabalhos agrícolas far-se-ão atendendo ao maior lucro e rendimento, e
sobretudo serão dirigidos no sentido de se fazer a especialização do ensino, habilitando
viticultores, hortelões, jardineiros, pomareiros, trabalhadores florestais, moços de gado,
criados de lavoura, encarregados de pastoreação, etc…” (1901, art. 152) além daqueles
que referia o regulamento de 1895.
O bom desempenho nas execução dos trabalhos pelos colonos, em articulação com o
bom comportamento, recompensava-os uma vez que “serão graduados nas oficinas
com o titulo de oficiais, nas seções agrícolas com o titulo de capatazes e conforme com
os merecimentos revelados ser-lhes-á arbitrada uma gratificação diária , sendo as
quantias resultantes arrecadadas para lhe serem entregues à sua saída” (1901, art.
158).
Esta “pedagogia pelo trabalho” continuou a marcar o quotidiano institucional de Vila
Fernando. Em 1908, o primeiro diretor Ernesto de Leite Vasconcelos a propósito de uma
participação na Exposição Nacional do Rio de Janeiro (Brasil) afirmava que “a educação
495
profissional faz-se nos officios d’ alfaiate, carpinteiro d’obra fina e de machado,
sapateiro, serralheiro, ferreiro, latoeiro, fogueiro-machinista e na especialisação dos
diversos misteres da vida rural” (Catálogo…, 1908, pp. 9)
Os trabalhos desenvolvidos na instituição eram realizados pelos próprios colonos que,
deste modo, assumiam a responsabilidade pela sua ação em regime correcional ao ar
livre, de natureza agrícola, podendo despertar em si mesmo a consciência da
necessidade de desenvolver hábitos de trabalho estimuladores da autonomia do
individuo dentro e, posteriormente, fora do espaço institucional.
O agrónomo Joaquim Borges Rodrigues (1910) escrevia sobre o processo de
transformação da terra, comparando-o aos processos regeneradores dos Colonos:
“Assim como as Escolas Agrícolas teem procurado fazer compreender ao homem do campo que os detrictos orgânicos são, por maravilhosas transformações, operadas no grande laboratório da terra, a herva verde, o campo florido, o doirado pomo, o alimento do homem e até a força motriz que rasga e envolve o solo: á mesma semelhança a Colónia (…), esse poderoso cadinho onde, cada um de vós se depurou e transformou, vos faz passar da «vasa do crime» a um lugar honroso (…)” (p. 2).
A relação entre estas dimensões da educação e do trabalho são salientadas por
Henriques & Vilhena (2015) quando afirmam, com base nas palavras de autores da
época, que “A uma vida de ócio e vagabundagem, origem de todos os vícios, opõe-se
assim um quotidiano de normas e trabalho, disciplinado e disciplinador, em que a
educação moral desempenha um papel essencial” (p. 77). A articulação entre a
formação e o trabalho representam, em nosso entender, os principais mecanismos de
reabilitação dos menores internados na Colónia de Vila Fernando ao longo da primeira
metade do século XX.
Considerações finais
Em síntese, podemos afirmar que os processos de institucionalização e reabilitação dos
menores com condutas perigosas tiveram a atenção das autoridades públicas
portuguesas, no contexto da modernidade, uma vez que podiam colocar em causa o
projeto de normalidade social fomentado pelo Estado. Evidência desta consideração é
a legislação que foi publicada em 1911 e o modo como os contextos institucionais, em
particular a Colónia de Vila Fernando, eram geridos assumindo-se os processos
formativos e profissionais como os elementos centrais na regeneração do individuo
perigoso. No interior deste contexto técnico-institucional especifico destacam-se duas
496
dimensões centrais para proceder à recuperação dos menores internados: por um lado,
a aposta na educação; por outro lado, o papel relevante do trabalho como elemento
reabilitador. No fundo, procurava-se adestrar o corpo e alimentar a alma com princípios,
normas e valores considerados, do ponto de vista social, normais. A devolução social
do individuo constituía o final de um processo centrado na formação “literária” e
“profissional” daqueles que por ali transitavam.
Referências
AGAREZ, Ricardo (2008). A Escola Agrícola de Reforma em Vila Fernando, 1881-1908
– Programa, projecto e obra da primeira colónia correcional portuguesa. Monumentos.
28, Dezembro de 2008, pp.162 – 175.
Arquivo Pessoal. Periódico “Echos da Colónia” (1929-1945).
Arquivo Pessoal. Periódico “Echos do Lar” (1910).
Colónia Correccional Agrícola de Vila Fernando – Catálogo dos artigos com que
concorre à Exposição Nacional do Rio de Janeiro (1908), Porto: Tipografia Real da
Oficina de S. José.
FERREIRA, A. G.; MOTA, L. (2013). A produção da infância na imprensa de educação
e ensino durante a Primeira República em Portugal: A Tutoria. Revista Mensal Defensora
da Infância (1912-1916). In: DÍAZ, J. M. H. (Org.). Prensa pedagógica y patrimonio
histórico educativo. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, p. 197-208.
FERREIRA, A. G. & HENRIQUES, H. (2014). A Colónia Correcional de Vila Fernando
(1880-Década de 30 Séc. XX) Regenerar, Educar e Trabalhar. Cadernos de História da
Educação. v. 13, n. 1 – jan./jun., pp. 199-217.
FOUCAULT, M. (2006). É preciso defender a sociedade. Lisboa: Livros do Brasil.
HENRIQUES, H. & VILHENA, C. A. (2015). preservação da infância: análise de
discursos sobre a criança em perigo moral (Portugal, 1910-1916). Educação em Revista.
Belo Horizonte. v.31, n.02, p. 61-81.Abril-Junho 2015.
José Maria Pinto e Cruz (1918). Esboço de um estudo - problema criminal nas creanças
(Dissertação inaugural apresentada à faculdade de medicina do Porto). Porto: Escola
Tipográfica da Oficina de S. José.
Monografia da Colónia Correcional de Vila Fernando (1931), Lisboa: Typografia do
Reformatório Central de Lisboa “Padre António Oliveira”.
TOMÉ, M. R. (2010). A cidadania infantil na Primeira República e a tutoria da infância.
A criação da Tutoria de Coimbra e o refúgio anexo. Revista de História da Sociedade e
da Cultura, Coimbra, v. II, n. 10, p. 481-500.
497
VASCONCELOS, E. L. (1905), Colónia Agrícola de Vila Fernando – Relatório do Ano
Económico de 1903-1904, Porto: Tipografia Real da Oficina de S. José.
OS ESTUDOS SOBRE INFÂNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO NO
BRASIL DE 1987 A 2005: QUESTÕES HISTÓRICAS E METODOLÓGICAS262
Adão Aparecido Molina
Universidade Estadual do Paraná – Campus de Paranavaí - Brasil
Professor do Colegiado de Pedagogia e do Mestrado em Ensino – PPIFOR
1 Introdução
Este texto apresenta uma discussão a partir da organização e da análise dos
estudos realizados sobre Infância nos programas de Pós-Graduação em Educação no
Brasil, no período de 1987 a 2005. Tem como base para a discussão alguns documentos
do final do século XX, considerando a Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança de 1989 e a legislação brasileira, a partir da Constituição Federal de 1988, do
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA/1990, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996 e do Plano Nacional de Educação de 2001, retomando os
direitos concedidos à infância, a partir do período.
Para a realização do trabalho, foram recolhidos os resumos de dissertações e
teses disponibilizados no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) que, após classificados, possibilitaram a separação do objeto
específico para a análise, isto é: os trabalhos que discutem o conceito ou a história da
infância.
O objetivo geral do estudo é verificar qual é a metodologia utilizada nessas
discussões e destacar sua relevância para a compreensão da história da infância no
Brasil. Justifica-se tal estudo pelo fato de que os trabalhos produzidos nos programas
de pós-graduação em educação no Brasil contribuem para a formação dos profissionais
que atuarão com as crianças na educação básica. É importante que esses professores
entendam a visão que se tem da criança em diferentes períodos históricos num estágio
específico da vida, a infância.
262 Este texto é parte de uma pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação
– Doutorado – na Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR - Brasil, no período de 2008 a 2011.
498
O estudo se desenvolveu por meio de pesquisa bibliográfica e documental,
trabalhando com dados quantitativos e qualitativos, e está organizado da seguinte
forma: primeiro uma contextualização histórica discutindo sociedade e infância no Brasil,
no contexto das transformações socioeconômicas e políticas ocorridas a partir da
década de 1980.
O objetivo dessa seção é mostrar como essas transformações influenciaram as
políticas para a educação e para a pós-graduação em Educação no Brasil e, a partir daí,
compreender as políticas para a educação infantil e, posteriormente, os estudos sobre
a infância, realizados no período.
No final dos anos de 1970 e no início dos anos de 1980 aconteceram vários
movimentos sociais em prol da democratização da educação, e de uma ampla defesa
dos direitos sociais, sobretudo para uma participação maior da comunidade na gestão
da escola. Todavia, vale lembrar que, se na década de 1980 os diferentes setores da
sociedade civil se organizaram, por meio de movimentos, em torno dos direitos
sociais, na década de 1990 o país conheceu uma nova realidade direcionada pela
pressão das agências e das organizações internacionais para os ajustes da
economia e para a elaboração de políticas de atendimentos à educação e à infância,
de acordo com as diretrizes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco
Mundial.
Por último apresenta-se a quantidade de trabalhos recolhidos no Portal da Capes
e realiza-se uma análise com a produção da escrita sobre a história da infância, do
período estudado, que soma um total de 16 trabalhos, para saber qual é a contribuição
dessas pesquisas para o estudo da história da infância no Brasil.
Considerando-se os aspectos históricos e metodológicos nos trabalhos
pesquisados, busca-se conhecer qual o conceito de infância que fica desses estudos e
avalia-se, numa perspectiva qualitativa, a contribuição dessa produção para os estudos
da história da infância no Brasil.
A análise dos trabalhos selecionados aconteceu em dois momentos: primeiro
considerou os estudos sobre a infância dentro dos aspectos gerais do período; em
seguida considerou os estudos a partir dos aspectos históricos e teórico-metodológicos
utilizados nas pesquisas.
Os resultados apontaram que a mudança de paradigmas e a aproximação da
história com outras áreas das ciências humanas e sociais possibilitaram a realização de
estudos de um mesmo objeto com diferentes perspectivas teórico-metodológicas,
inclusive os estudos históricos sobre a infância, que seguem nessa mesma condição.
Em função disso, a compreensão de infância está relacionada com a teoria que se adota
499
como aporte teórico-metodológico para a realização dos estudos, que produzem
diferentes concepções de história e também de infância.
Os trabalhos realizados no período constituem uma produção que caracteriza a
formação de um novo campo de investigação e proporciona uma relevante contribuição,
mas que carece ainda de novas pesquisas para se consolidar como abrangente área do
conhecimento.
2 Sociedade e infância no Brasil a partir da década de 1980
O objetivo desta seção é mostrar como as transformações históricas
influenciaram as políticas para a educação e para a pós-graduação em Educação no
Brasil e, a partir daí, compreender as políticas para a educação infantil e a quantidade
de estudos sobre a infância, realizados no período nos programas de pós-graduação
em educação no Brasil.
A preocupação com a infância tem se multiplicado nas últimas décadas, tanto no
Brasil, quanto no mundo, demonstrando que a infância hoje faz parte das agendas das
organizações internacionais e também dos governos nacionais. Esse movimento em
prol da infância tem como registro histórico a Convenção Internacional sobre os Direitos
da Criança (1989). Essa convenção é um tratado que visa à proteção das crianças e
adolescentes em todo o mundo e foi aprovada pela Resolução nº. 44/25 da Assembleia
Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989.
Tendo em conta que a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial foi enunciada na Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança e na Declaração dos Direitos da Criança adotada pela Assembléia Geral em 20 de novembro de 1959, e reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (em particular nos Artigos 23 e 24), no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (em particular no Artigo 10) e nos estatutos e instrumentos pertinentes das Agências Especializadas e das organizações internacionais que se interessam pelo bem-estar da criança (CONVENÇÃO, 1989).
Num mundo em constantes transformações sociais, sobretudo aquelas oriundas
do trabalho, a criança passa também a ser o foco principal das políticas sociais e das
políticas educacionais atuais. A criança passa, inclusive, a ser o centro da discussão
dos cursos de pedagogia que, atualmente, preparam os profissionais para atuarem
também no trabalho educacional com as crianças.
500
As transformações que ocorrem nas formas de organização econômica da
sociedade, nas relações de capital e trabalho, influenciam, também, as formas de
organização política, cultural e ideológica. A política é o conjunto dos mecanismos
reguladores da totalidade social. Dessa forma, todas as sociedades são políticas e a
política está sempre ligada ao modo de produção de cada sociedade.
O avanço das forças produtivas traduz-se por uma diferenciação social, cada vez
mais acentuada. A partir da organização e da divisão social do trabalho, estabelecem-
se distinções sociais que tomam a forma de desigualdades entre os indivíduos e os
grupos. Consequentemente, quanto mais complexas se tornam as relações sociais,
mais complexas se tornam as organizações políticas.
Não há separação entre o trabalho e a cultura, nem entre o trabalho e o prazer,
mas todos os humanos procuram explicar o mundo no qual vivem. A maneira pela qual
delineiam essa explicação varia de época para época. Assim, as ideias que produzem
e as explicações que elaboram do mundo e de si mesmos estão ligadas a sua atividade
material e à maneira pela qual se organizam para sobreviver em sociedade, na sua
relação com outros seres humanos.
Marx e Engels (1984, p. 36) afirmam que:
A produção de idéias, de representações, da consciência, está, de início, diretamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens aparecem aqui como emanação direta de seu comportamento material. O mesmo ocorre com a produção espiritual, tal como aparece na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de um povo. Os homens são os produtores de suas representações, de suas idéias etc.
A ideia de que a ação docente se torna mais eficiente na medida em que mais
se entende a infância redimensiona a formação do professor de maneira que o ensino
e a pesquisa não podem faltar nos cursos de educação, nos quais a criança deixa de
ser apenas o sujeito da ação do professor para ser, também, objeto de sua reflexão.
Partindo dessa perspectiva, tem-se a compreensão de que a pesquisa é de suma
importância para a produção de novos conhecimentos porque é ela que sustenta e
atualiza o ensino, neste caso, a formação dos futuros profissionais da educação infantil
e fundamental, nas universidades; pois o papel das Universidades é produzir
conhecimentos por intermédio da pesquisa e disseminar esse conhecimento por meio
do ensino e da extensão, buscando, assim, formar profissionais e lideranças para a
sociedade.
501
No Brasil, no final da década de 1980, pode-se perceber a preocupação com a
infância a partir das garantias legais dos direitos que a criança passou a receber na
Constituição Federal de 1988 que, no seu artigo 227, estabelece as responsabilidades
da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança e ao adolescente “o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (BRASIL,
1988).
As garantias apresentadas na Constituição Federal de 1988, juntamente com o
movimento internacional que reconheceu os direitos da infância, aprovados pela
Convenção sobre os Direitos da Criança (CONVENÇÃO, 1989), asseguraram às
crianças e aos adolescentes os direitos supracitados, contidos no artigo 227 da
Constituição (BRASIL, 1988), com a nova Lei Federal 8069, Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA de 1990, nos seus artigos 4º e 5º (BRASIL, 1991).
As conquistas alcançadas na legislação brasileira, desse período, representam
um avanço bastante significativo e são resultantes de um processo que se desencadeou
a partir da década de 1970 e 1980, em torno das garantias de direitos civis a toda
população, inclusive de proteção e atendimento para as crianças menores de seis anos
de idade.
Esse período foi marcado pela presença constante de movimentos sociais
relacionados com as questões socioeconômicas, políticas, culturais e educacionais.
Esses movimentos de lutas sociais estavam presentes na sociedade brasileira a partir
dos anos 1960, mas foram se consolidando e se constituindo em torno das mudanças
sociais, nas décadas de 1970 e 1980, em forma de lei.
Durante os anos de 1964 a 1985, a política brasileira encontrava-se sob o
domínio do Governo Militar, que se caracterizava, particularmente, pela falta de
democracia, pela supressão dos direitos constitucionais e pela perseguição política
daqueles que eram contra o Regime Militar.
Dentre os movimentos sociais que aconteceram no Brasil, a partir da década de
1980, merece destacar a importância da participação política do povo na luta pela
redemocratização do país. Nessa época iniciou-se um processo de reestruturação de
grupos políticos nas lutas pelo Pluripartidarismo, envolvendo a sociedade civil na busca
pela volta da democracia.
Merece destaque, também nesse período, a criação do Fórum Nacional de
Defesa da Escola Pública. Esse Fórum da década de 1980 surgiu, inicialmente, para
reivindicar um Projeto para a educação como um todo e não apenas para a escola,
embora a escola pública fosse o centro principal de suas atuações (GOHN, 2005).
502
No final da década de 1990, mais precisamente no ano de 1996, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1996,
retomando os direitos sociais garantidos à infância263, pela Constituição Federal de
1988, no Título III: art. 4º item IV, determina o “Atendimento gratuito em creches e pré-
escolas às crianças de zero a seis anos de idade”. Essa lei inclui a educação infantil
como primeira etapa da educação básica (BRASIL, 1996a).
Os avanços conseguidos na legislação em favor da infância, no final da década
de 1990, influenciaram pesquisas nas mais variadas áreas nos diferentes programas de
pós-graduação no Brasil, sobretudo na educação. Nessa perspectiva, muitas pesquisas
foram desencadeadas, na área da educação, no sentido de se estabelecer um novo
paradigma nas concepções de infância e de educação.
As professoras Acácia Zeneida Kuenzer e Maria Célia Marcondes de Moraes
escrevem sobre as mudanças induzidas pela avaliação da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de 1996/1997, que passa a
priorizar a atividade de pesquisa e a formação de pesquisadores nos programas de pós-
graduação (KUENZER; MORAES, 2005).
Essas professoras tratam também de questões teórico-metodológicas e dos
desafios que se põem para a pesquisa em educação na pós-graduação do Brasil.
Conforme elas registram, um dos aspectos que ganha destaque na atualidade é o recuo
da teoria na área da educação e também em outras áreas das ciências humanas e
sociais.
Elas alertam para o fato de que a comemoração do “fim da teoria” se relaciona
a certa utopia educacional que se pode perceber nos critérios que direcionam “a
elaboração das prioridades educativas nas políticas de formação, a elaboração de
currículos, a organização escolar, a definição de parâmetros de pós-graduação”
(KUENZER; MORAES, 2005, p. 1352).
Conforme escrevem essas professoras, o saber fazer, utopia voltada para a
prática e a funcionalidade, nivela o mundo e reduz o conhecimento à experiência
sensível e ao imediato. Dessa forma, a pesquisa educacional é privada da capacidade
de compreensão dos fenômenos sociais e transforma-se em simples descrições das
muitas faces do cotidiano da escola.
Essas autoras afirmam, então, que a teoria não pode abandonar o seu papel
fundamental na pesquisa, tendo em vista que, em um mundo cada vez mais complexo,
teorizar é cada vez mais importante para compreender-se a prática. Para elas, o método
263 O Art. 6º da Constituição Federal de 1988 reza que “São direitos sociais: a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.” (BRASIL, 1988).
503
para a produção do conhecimento é uma forma de pensamento que parte de um nível
superficial de representação do real para chegar a formulações conceituais cada vez
mais abstratas.
Na concepção dessas autoras, o pensamento chega a um conhecimento
projetado para novas descobertas e não há outro caminho para a produção do
conhecimento, senão aquele que parte do pensamento reduzido com o objetivo de
inseri-lo na totalidade para compreendê-lo, aprofundá-lo e concretizá-lo e tomá-lo
novamente como ponto de partida para a compreensão de novos problemas. Esse
exercício, entretanto, requer rigor teórico e clareza metodológica.
Essas ideias encontram respaldo na opinião do professor Newton Duarte que
escreveu sobre a produção de novos conhecimentos e a formação do pesquisador no
Brasil. Em seu texto A Pesquisa e a formação de intelectuais críticos na Pós-Graduação
em Educação, esse professor realiza uma análise crítica das condições nas quais ocorre
a formação da intelectualidade da educação brasileira em tempos de desvalorização do
conhecimento (DUARTE, 2006, p. 89).
Para esse professor, considerando-se que a pós-graduação stricto sensu forma
pesquisadores em todas as áreas do conhecimento e que é, portanto, uma das áreas
mais importantes da intelectualidade de um país, seria interessante perguntar sobre o
perfil desse intelectual que está se formando atualmente nos programas de Mestrado e
Doutorado e também se pensar em qual seria o perfil ideal desse profissional.
O professor Newton Duarte escreve que os mecanismos de avaliação dos
programas de pós-graduação utilizados pela CAPES, somados à ideologia pós-
moderna e neoliberal subordinam a formação de mestres e doutores em educação às
demandas do mercado ou do modelo acadêmico em voga, pois ele entende que os
estilos acadêmicos também representam os interesses de mercado “[...] na venda de
livros, de cursos, de palestras e de tantas outras mercadorias consumidas pelos
educadores e pelas instituições educacionais” (DUARTE, 2006, p. 90).
A professora e pesquisadora Alda Judith Alves-Mazzotti (2001), da Universidade
Estácio de Sá, também discute, na mesma perspectiva, a relevância e a aplicabilidade
das pesquisas em educação no Brasil. Um dos itens por ela apontado, no que se refere
às deficiências encontradas nas pesquisas, é a pobreza teórico-metodológica na
abordagem dos temas, com grande número de estudos descritivos e pouco analíticos,
além de uma adoção acrítica na seleção de quadros teórico-metodológicos.
Sob as proposições do professor Newton Duarte, tem-se a ideia de que na
pesquisa em educação está acontecendo um processo de afastamento da teoria e que
esse processo é produzido por vários fatores, principalmente pela mutação dos
conceitos, que antes tinham conteúdo crítico que caracterizavam os embates entre as
504
classes sociais e que agora estão “[...] submissos a uma ideologia que fetichiza as
diferenças numa sociedade civil apaziguada, sem luta de classes e sem projeto político
de superação do capitalismo”. Segundo ele, a sociedade burguesa organiza e prepara
os intelectuais de acordo com as necessidades de reprodução material e espiritual de
cada período (DUARTE, 2006, p. 90).
Ele também destaca em seu texto que a formação recebida pelo intelectual,
formado nos cursos de licenciatura e nos programas de pós-graduação em educação,
está ligada ao sistema escolar, pois os mestres e os doutores pesquisam sobre a
educação do país. Destaca-se, assim, a importância da relação que deveria existir entre
a produção do conhecimento na pós-graduação e a universalização do conhecimento,
por intermédio do sistema educacional (DUARTE, 2006, p. 93).
Esse autor explica que, para que isso ocorra, entretanto, é preciso que os
intelectuais que estudam nesses programas, além de adotarem as teorias críticas,
desenvolvam concomitantemente teorias educacionais capazes de definir o trabalho do
educador e do pesquisador em educação, buscando, assim, a elevação do nível cultural
de toda a população. Conforme ele escreve,
O conhecimento que o intelectual adquiriu em sua formação, e para cujo desenvolvimento ele pretende contribuir com sua atividade de pesquisador, deve estar internamente articulado à crítica dos processos sociais de apropriação privada do conhecimento. Nessa direção, a formação do intelectual crítico não dispensa o auxílio de uma teoria crítica. Não existe nenhum tipo de pensamento crítico em abstrato, isto é, desprovido de conteúdo (DUARTE, 2006, p. 94).
Ele concebe como teorias críticas em educação aquelas que partem da premissa
de que a sociedade atual está organizada sobre as relações de dominação de uma
classe sobre a outra e de grupos sociais sobre outros. Essas teorias devem pregar a
necessidade de superação desse modelo de sociedade, além de entender a
contribuição da educação para a reprodução dessas relações de dominação (DUARTE,
2006).
Em geral, os estudos relacionados à infância estão sempre vinculados à
sociedade, à família, à educação e à escola. Para compreender a infância, portanto, é
necessário entender as transformações pelas quais a sociedade está passando, para
apreender as ideias que são produzidas acerca da criança e da educação desse
período.
505
Vale destacar ainda que, a partir da década de 1980, no Brasil, com a influência
da Nova História264, foram introduzidas nas pesquisas históricas novas metodologias
que influenciaram, também, as novas formas de pesquisar a história da educação.
Consequentemente, o uso dessas novas metodologias, nas pesquisas educacionais,
influenciaram, sobretudo, os estudos históricos sobre a criança.
3 Os estudos sobre infância na Pós-Graduação em Educação no Brasil de 1987 a
2005: questões históricas e metodológicas
Esta seção estuda a infância numa perspectiva histórica e tem como objeto
específico de análise as pesquisas que discutem o conceito ou a história da infância nas
dissertações e teses produzidas nos programas de Pós-Graduação em Educação no
Brasil, no período de 1987 a 2005.
O objetivo é verificar qual é a metodologia utilizada nos estudos históricos que
discutem o conceito ou a história da infância e qual a contribuição dessa produção para
os estudos da história da infância no Brasil. Tomam-se como base, nessa discussão,
duas categorias a serem compreendidas – história e infância – a partir das metodologias
utilizadas pelos pesquisadores, para a realização de suas dissertações ou teses.
Justifica-se o recorte temporal do estudo o fato de que esse período representa
um marco nas transformações socioeconômicas e políticas no Brasil e no mundo, com
a promulgação das leis em defesa da infância, discutidas na seção anterior, e um
aumento significativo de pesquisas nos programas de pós-graduação em educação no
Brasil. Portanto, isso implica numa nova forma de percepção sobre a criança, criando-
se, assim, um novo paradigma de infância e de educação da criança pequena.
O portal da CAPES disponibiliza, atualmente, por meio de resumos, os
resultados obtidos nos programas de Pós-Graduação no Brasil, nas diferentes áreas do
264 A Nova História originou-se a partir de um movimento ocorrido na França, denominado Escola dos
Annales (1929-1989). A obra do historiador inglês Peter Burke (1997) propõe para o leitor os elementos
necessários para a compreensão desse movimento intelectual associado à revista francesa Annales.
Veja-se: BURKE, Peter. A escola dos Annales (19929-1989): a revolução francesa da historiografia. São
Paulo: UNESP, 1997.
Ver também a esse respeito a obra do escritor francês François Dosse denominada “A história em
migalhas: dos Annales à Nova História”, escrita em 1987, que contrariamente ao pensamento de BURKE
(1997), realiza uma discussão crítica sobre a origem e a evolução dos Annales até, segundo ele, culminar
em uma história fragmentada, uma história em migalhas. Veja-se: DOSSE, François. A história em
migalhas: dos Annales a nova história. Bauru: EDUSC, 2003.
506
conhecimento. Dessa forma, buscou-se, por meio de um levantamento quantitativo,
conhecer o número de trabalhos produzidos sobre a infância no período de 1987 a 2005.
Do ponto de vista metodológico, parte-se do pressuposto de que as
transformações pelas quais a criança vem passando na atualidade poderão ser mais
compreendidas se forem relacionadas com as transformações ocorridas no Brasil, a
partir da década de 1980.
Entende-se, então, que é importante estudar a criança dentro de um contexto
histórico, a partir das transformações sociais de um período determinado, para entendê-
la na sua totalidade; pois, em geral, estuda-se a criança de maneira focalizada, em
questões microssociais ligadas ao seu cotidiano, tentando encontrar soluções imediatas
para os seus problemas, sem considerá-la como um ser social e fruto das
transformações sociais decorrentes de sua época.
São esses os desafios que se põem para os pesquisadores em educação nos
cursos de pós-graduação: compreender a infância dentro de um contexto
socioeconômico e político, considerando-a como parte de um processo histórico e
social, fruto do meio no qual a criança se encontra inserida.
As informações apresentadas anteriormente mostraram que o final dos anos de
1970 e o início dos anos 1980 foram marcados pela luta da sociedade civil em favor da
democratização da educação, de uma ampla defesa dos direitos sociais, sobretudo da
educação, e de uma participação maior da comunidade na gestão da escola.
A Constituição Federal de 1988 consolidou várias reivindicações presentes nas
pautas dos movimentos que emergiram nesse período, depois da queda do regime
militar no Brasil. Porém, nos anos de 1990, o país entrou em uma época de reformas
que significavam um processo de desconstrução da agenda social, obtida por meio da
Constituição.
A partir dessa década, buscou-se desobrigar o Estado dos compromissos sociais
firmados e o engajamento do país à nova ordem do capitalismo mundial, para torná-lo
capaz de competir na lógica do livre mercado. Para isso, foram adotadas as políticas de
corte neoliberal que ainda podem ser observadas nos primeiros anos de mandato do
governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se iniciou a partir de 2003. Todavia,
é importante lembrar alguns fatores relevantes que nos ajudam a compreender as
pesquisas educacionais sobre a infância, realizadas no período, que são as leis que
foram promulgadas na década de 1990, como o Estatuto da Criança e do Adolescente,
em 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996.
Essas leis, somadas aos investimentos, ao aumento significativo da criação de
novos programas e à abertura de novas vagas nos cursos de pós-graduação no Brasil,
possibilitaram um aumento significativo das pesquisas sobre a infância, a partir do final
507
da década de 1990, em diferentes áreas e programas como: Antropologia, Ciências
Sociais, Educação, Educação Física, Enfermagem, Letras, Linguística, Literatura,
Medicina, Psicologia, Serviço Social, dentre outras, em especial nos programas de pós-
graduação em educação.
Apresentamos, a seguir, a quantidade de trabalhos produzidos ano a ano e
encontrados no portal da Capes, nos diferentes programas e nos Programas de pós-
graduação em Educação. O objetivo é verificar quais desses trabalhos discutem o
conceito de infância ou a história da infância.
Ano
1987/2005
Todos os programas
(2.453 Trabalhos encontrados)
Educação
(412 Trabalhos recolhidos)
1987 14 1
1988 15 1
1989 16 1
1990 35 1
1991 29 0
1992 44 4
1993 44 3
1994 38 9
1995 66 6
1996 91 4
1997 101 19
1998 124 21
1999 152 16
2000 161 25
2001 218 49
2002 277 41
2003 309 53
2004 319 75
2005 400 82
Quadro 1: Quantidade de trabalhos por ano Fonte: Dados recolhidos do Portal da Capes em 2008 e 2009. Disponível em: http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/
Os resultados obtidos durante a pesquisa, sobre os números levantados,
apontaram um avanço significativo dessa produção; pois em 1987 a proporção era de
quatorze trabalhos que discutiam a infância nos diferentes programas de pós-graduação
508
no Brasil, sendo um em educação; em 2005, o número de trabalhos sobre infância, nos
diferentes programas, chega a 400 e em educação, 82.
Percebe-se, portanto, que o aumento gradativo dos estudos sobre essa
temática, nos diferentes programas de pós-graduação, também pode ser notado na área
da educação que, em especial, a partir do final da década de 1990, apresenta um
avanço bastante expressivo para a quantidade de trabalhos realizados nos programas
de pós-graduação em educação no Brasil, conforme classificação no quadro que se
segue.
Temas Quantidade
Conceito de infância ou história da infância 16
Filósofos ou pensadores da infância 21
Educação da infância 272
Formação docente 20
Educação de crianças de rua ou menores infratores 46
Experiência de educadores e educandos na infância 37
Total 412
Quadro 3: trabalhos organizados por temas das pesquisas Fonte: Dados recolhidos do Portal da Capes em 2008 e 2009. Disponível em: http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/
Por último realiza-se uma análise com a produção da escrita sobre a história da
infância, do período estudado, que soma um total de 16 trabalhos, para saber qual é a
contribuição dessas pesquisas para o estudo da história da infância no Brasil.
Considerando-se os aspectos históricos e metodológicos, busca-se conhecer qual o
conceito de infância que fica desses estudos e avalia-se, numa perspectiva qualitativa,
a contribuição dessa produção para os estudos da história da infância no Brasil.
Foi possível perceber que, os estudos históricos sobre a infância seguem as
mesmas perspectivas teórico-metodológicas que os estudos históricos em educação,
porque, em geral, encontram-se vinculados aos grupos de estudos que pesquisam as
questões histórico-educacionais. Dessa forma, a utilização de metodologias distintas,
ainda que assuma uma visão sócio-histórica, possibilita uma compreensão de história e
de infância em consonância com a concepção teórico-metodológica adotada.
Essas pesquisas, embora elaboradas a partir de diferentes perspectivas teórico-
metodológicas – materialismo histórico e dialético; história das mentalidades; análise do
discurso; crítica da cultura e da comunicação; história oral –, trazem uma importante
contribuição para a área dos estudos sobre a história da infância no Brasil, porque
509
produzem uma compreensão histórica com relação à inserção da vida das crianças na
sociedade. Além disso, elas ajudam na elucidação das propostas educacionais,
sobretudo daquelas destinadas à educação da criança pequena na atualidade.
As informações recolhidas sobre os trabalhos que discutem a infância, nos
programas de pós-graduação em educação no Brasil, durante todo o período estudado,
totalizam uma quantidade de 412 trabalhos que foram produzidos sobre variadas
temáticas, sendo que, desses trabalhos, apenas 16 discutem o conceito ou a história da
infância no Brasil. Isso significa que as discussões históricas sobre a infância, embora
tragam contribuições importantes para a educação, ainda carecem de novas pesquisas
e de novas contribuições, para que possam se fortalecer como importante área de
conhecimento.
As discussões realizadas sobre a infância, nesse período, caracterizam a
preocupação de muitas áreas do conhecimento e, também, dos diferentes profissionais
e pesquisadores que passaram a realizar estudos sobre a infância com abordagens
diversificadas. Isso explica a formação de uma nova área de estudos definida como
sociologia da infância, que passa a entender a criança com valor em si mesma e não
mais como uma promessa para o futuro.
O conceito de infância discutido nessas dissertações e teses, a partir de uma
concepção histórica e sociológica, considerando-se a sociologia da infância criada no
período, possibilitou a compreensão dos estudos sobre a criança. Esses estudos
promoveram uma mudança na noção que se tinha, até então, de que a criança era
totalmente dominada e dependente do adulto, passando, agora, a tratá-la como sujeito
nas relações sociais, como produtora de história e de cultura.
Vale lembrar, portanto, que a história tem implicações significativas para a
formação do professor, sob o ponto de vista da relação entre teoria e prática. Ainda
que as pesquisas na área da história da infância tenham acontecido, não se promoveu,
totalmente, no âmbito da formação dos professores da educação infantil e dos anos
iniciais do ensino fundamental, a compreensão da infância em uma perspectiva
histórica.
4 Conclusão
Este estudo não esgota todas as possibilidades de compreensão da produção
da escrita sobre a infância na pós-graduação em educação no Brasil, por meio das
dissertações e teses encontradas no período de 1987 a 2005. Vale lembrar, portanto,
que as discussões realizadas no estudo cumpriram o propósito de verificar, a partir
dessa produção, qual o referencial teórico-metodológico utilizado pelos pesquisadores,
510
nos trabalhos que historicizam a infância, para entender qual é o conceito que fica sobre
a infância, nesse período, e qual a contribuição desses escritos para os estudos da
história da infância no Brasil.
O interesse em entender os estudos sobre a infância na pós-graduação em
educação no Brasil nos remeteu à realização de uma contextualização histórica
contemplando as transformações ocorridas na economia e na política, a partir do final
do século XX. Partiu-se do pressuposto de que a infância, assim como a educação,
deve ser compreendida dentro de um contexto socioeconômico e político, a partir do
qual os seres humanos estabelecem entre si as relações de produção e de reprodução
da sua própria existência.
A partir das últimas décadas do século XX, a infância enquanto categoria de
análise representa um vasto universo a ser conhecido. As possibilidades de estudos
sobre essa temática, nas diferentes áreas do conhecimento, são resultado de uma
preocupação com a criança, que se principiou junto com as transformações sociais
ocorridas no Brasil, na década de 1980.
Isso representa uma resposta aos movimentos sociais e às lutas organizadas
pela sociedade civil, em torno das garantias de direitos sociais para a infância brasileira
que, aos poucos, foram se consolidando e se fortalecendo até se transformarem em
direitos sociais em forma de leis.
Todavia isso não significa que as políticas de financiamento aos direitos da
criança foram de fato garantidas ou que realmente se efetivaram. Com base nessa
assertiva, fica a ideia de que a configuração do Estado neoliberal, a legislação do
período estudado e a priorização dos investimentos realizados na pós-graduação foram
fundamentais para a compreensão da produção quantitativa das pesquisas sobre a
infância desse período.
Os resultados gerais do estudo apontaram que as pesquisas realizadas sobre a
infância, nos programas de pós-graduação, principiaram uma série de estudos sobre os
direitos sociais, em especial sobre os direitos educacionais da criança pequena. Tais
pesquisas permitiram que os direitos, estabelecidos pela legislação, fossem
questionados e estudados, contribuindo, sobretudo, para uma nova visão de infância e
de educação.
Os trabalhos produzidos nos programas de pós-graduação no Brasil
caracterizam a formação de uma nova área do conhecimento que contribui para os
estudos da história da infância no Brasil e que possibilitam a compreensão da criança
sob o ponto de vista da história. Entretanto, são necessárias novas pesquisas para que
a história da infância no Brasil possa se consolidar como importante área do
511
conhecimento e que possa contribuir para a formação dos professores nos cursos de
graduação das universidades, que trabalharão com as crianças nas escolas.
REFERÊNCIAS
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. Relevância e aplicabilidade da pesquisa em educação. Cadernos de pesquisa, n. 113, p. 39-50, julho/2001. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1988. ______. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90 de 13 de julho de 1990. São Paulo: CBIA-SP, 1991. ______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei 9394/96 de 20 de dezembro de 1996a. ______. Ministério da Educação. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Brasília: Diário Oficial da União, 1996b. ______. Plano Nacional de Educação: 2001. Apresentado por Ivan Valente. Rio de Janeiro: DP&A, 2001b. BURKE, Peter. A escola dos Annales (19929-1989): a revolução francesa da historiografia. São Paulo: UNESP, 1997. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. 1989. Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/doc_crianca.php>. Acesso em: 07 dez. 2008. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. História e missão. 2009. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao>. Acesso em: 15 dez. 2009. DOSSE, François. A história em migalhas: dos Annales a nova história. Bauru: EDUSC, 2003. DUARTE, Newton. A pesquisa e a formação de intelectuais críticos na Pós-graduação em Educação. Perspectiva, Florianópolis, v. 24, n. 1. p. 89-110, jan./jun. 2006. GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005. KUENZER, Acácia Zeneida; MORAES, Maria Cecília Marcondes de. Temas e tramas na pós-graduação em educação. Educação e Sociedade. Campinas, v. 26, n. 93, p. 1341-1362, set./dez. 2005. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã (Feurbach). 4. ed. Tradução de José Carlos Bruni e Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Hucitec, 1984. p.15-77.
PATRONATO DA INFÂNCIA DESVALIDA EM DUQUE DE CAXIAS: AGÊNCIAS E
AGENTES (1955-1959)
512
Márcia Spadetti Tuão da Costa FEBF/UERJ/CEPEMHEd [email protected]
Introdução
As atividades desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa, Memória e História da
Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd)265, levou
a identificação do acervo da Associação Beneficente de Menores (ABM) onde
percebemos o surgimento do Patronato São Bento, em 1959, segundo Relatório das
atividades da ABM durante o ano de 1959 (Caixa 003, PSB 095.1).
Em busca de mais informações sobre o processo de escolarização no município
de Duque de Caxias - Rio de Janeiro - foram encontrados milhares de documentos
pertencentes ao extinto Patronato São Bento, onde atualmente, funciona o Instituto São
Francisco266. A partir das ações desenvolvidas para esta pesquisa, deparamo-nos com
o material do Patronato São Bento, que num primeiro garimpo, trouxe-nos às reflexões
sobre a infância tratada como “menor”. Segundo Edson Passetti (2004) o termo
“menor”, referia-se às crianças e aos jovens da periferia das cidades, filhos de famílias
consideradas desestruturadas, pais desempregados e sem os valores considerados
adequados a vida em sociedade.
Essa instituição conhecida como Patronato São Bento passou por diferentes
nomenclaturas ao longo de sua existência. Foi administrada pela ABM composta por
intelectuais orgânicos da cidade como: juiz de direito e menores, delegado, prefeito,
rotarianos, membros da associação comercial, assim como a própria igreja.
A ABM foi criada em 25 de novembro de 1955 e já desempenhava, portanto, um
trabalho anterior a criação do Patronato com uma infância específica. Embora, desde
os primeiros registros, a criação da instituição do Patronato já estivesse sendo apontada
no seu relatório estatuto (Caixa 003, PSB 065.1).
A Igreja, nesse contexto de criação do Patronato, desempenhou um papel
fundamental já que era atribuição do bispo indicar o diretor da instituição, até mesmo
outros cargos na própria ABM que se configurava como uma instituição particular
embora ligada à igreja Católica Apostólica Romana.
265 O projeto de criação do CEPEMHEd, Decreto nº 4805, de 2005, consolida uma das conquistas dos educadores da rede pública deste município, constituindo-se como direito à memória e à história da educação. A instituição surge da reivindicação dos profissionais da educação da rede municipal de Duque de Caxias e se propõe a oportunizar um espaço de fomento à produção e divulgação de pesquisas; de formação docente; de arquivamento e tratamento de dados coletados sobre a história e as memórias da educação do município de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense e, igualmente, de Educação Patrimonial. O prédio da sede do CEPEMHEd, situado na rua Benjamin da Rocha Júnior, s/nº, faz parte do conjunto de edificações do Museu Vivo do São Bento, primeiro ecomuseu da Baixada Fluminense, localizado no bairro São Bento, 2º distrito, de Duque de Caxias. Instituição em que atuo como diretora executiva. 266 Localizado na Rua Benjamin da Rocha Júnior, 06. São Bento. 2º Distrito de Duque de Caxias. Rio de Janeiro. O Instituto São Francisco funciona no espaço que abrigou a Fazenda São Bento. Esta informação pode ser confirmada no ofício datado de 1º de julho de 1959, referendado pelo Plano de Aplicação de verbas do Governo Federal e assinado pelo Dr. Jorge Armênio.
513
Foi uma das principais tarefas da ABM, a organização e a manutenção do
Patronato. Este recebeu ao longo de sua atuação verbas de diferentes setores,
intitulando-se filantrópico e de cunho federal, estadual e municipal.
A Associação Beneficente de Menores (ABM) recebeu meninos e, no ano de
1957, meninas em situação de pobreza que eram recolhidos das ruas e levados para
essa instituição, embora nesse começo não existisse o sistema de internato ainda
(Caixa 003, PSB 095.1).
Somente em 1959, o patronato foi instituído no espaço onde funcionou uma
fazenda, posteriormente um Núcleo Colonial, portanto tinha como marca o trabalho
agrícola relacionado ao projeto do Distrito Federal para a cidade de Duque de Caxias.
Uma vez que o Núcleo Colonial foi instituído no período de Getúlio Vargas, este
apresentava marcas dessa política nacional de valorização do ruralismo fluminense
para fixação do trabalhador rural, consequentemente, da Baixada Fluminense.
A compreensão de como funcionou financeiramente, assim como as agências e
agentes envolvidos nessa instituição na cidade de Duque de Caxias e o projeto ruralista
que perpassou a mesma, é o objetivo central deste artigo. Isso significa investigar a
ABM, sua institucionalização para consequentemente, compreendermos a do
Patronato, assim como suas relações internas e externas. Ou seja, os acordos firmados
entre o público e o privado para entendermos os usos do dinheiro e dessa infância
específica nesse espaço. Ou seja, entender as imbricações da atuação da Igreja
Católica, do poder público municipal e da implementação de políticas públicas sobre
uma determinada infância no Brasil, a partir de uma análise mais restrita sobre o
município de Duque de Caxias, localizado no estado do Rio de Janeiro - Brasil.
O presente estudo ainda reforça a importância do cuidado com os arquivos
institucionais como fonte de informação das políticas públicas para os meninos. Cabe
ressaltar e registrar que o investimento em políticas públicas na constituição do arquivo
público municipal é nossa preocupação como elo essencial para a compreensão da
história da educação da cidade de Duque de Caxias. Já que, atualmente, desempenho
esse duplo e árduo papel de organizadora e pesquisadora do referido acervo.
Mais especificamente, nesse artigo, trabalhamos com o livro-caixa, de 1956 a
1963, assinado pelo presidente da ABM e prefeito da cidade no ano de 1956 a 1959.
Assim, como, relatórios e ofícios dos referidos anos.
O Patronato São Bento desde seu nascimento estabeleceu uma relação com as
esferas públicas de âmbito municipal, estadual e federal dada a sua própria natureza,
ou seja, instituição privada de caráter filantrópico com financiamento público.
O caráter filantrópico e caridoso atraiu o investimento de comerciantes e de
personalidades importantes da cidade. Evidentemente que por se caracterizar como
514
instituição regida pela Igreja Católica favoreceu a presença frequente da imprensa local
e de políticos fluminenses interessados na promoção pessoal.
Por outro lado, por se constituir lugar de abrigo para meninos pobres ou de
comportamento considerado desviante, manteve também relação direta com o
judiciário. Nos momentos de fuga ou de delito maior a polícia também poderia ser
acionada.
Nesse caminho, estabelecemos um diálogo com autores como Antonio Gramsci
(1981; 2002; 2007), para trabalhar com o conceito de Estado ampliado no sentido de
mapear as instituições e agremiações que constituem o processo histórico da infância
em situação de pobreza no município, compreendendo-o como um lugar de tensão e
conflitos. Identificando, assim, nas práticas educacionais e nos projetos defendidos
pelos diferentes agentes e agências o que querem, quem são e onde estão.
Os patronatos no Brasil
Os Patronatos Agrícolas surgem a partir da Abolição da Escravatura, em 1888,
para atender, inicialmente, a demanda de mão-de-obra no setor agrícola e de uma certa
maneira, a crise instalada neste período como relata Mendonça (2007). Destacam-se
assim, duas entidades, uma formada no eixo São Paulo – SPA (Sociedade Paulista de
Agricultura), outra, no eixo Nordeste, Sudeste e Sul – SNA (Sociedade Nacional de
Agricultura). Ambas entidades, criadas no final do século XIX, enfrentavam dificuldades
concretas no mercado internacional, além de apresentar posicionamentos diferenciados
para superá-las.
A Sociedade Paulista de Agricultura (SPA) apostava no trabalho agrícola com os
imigrantes, enquanto a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), no “trabalhador
nacional”267 "é fornecer-lhes escola primária e aprendizado agrícola para seus filhos,
pois, só assim será possível reunir essa grande massa anônima que vai degradando
pela miséria, fazendo com que ela fique longe de ser uma ameaça contra a vida
rural."268 (Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio apud in
MENDONÇA, 2007, p. 57-8)
A estratégia oficial utilizada para fixar este "trabalhador nacional" foi através do
MAIC – Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio com a criação de Aprendizados
(AAs) e Patronatos Agrícolas (PAs). Nas fazendas, eram estabelecidos os Aprendizados
(AAs), onde a formação educacional tinha uma duração de dois anos, o público-alvo
267 Sua principal característica seria a reatualização de formas de trabalho compulsório no imediato pós-abolição, assegurada por uma indissolúvel, ainda que contraditória aliança entre proprietários agrários e Estado. In MENDONÇA, Sônia Regina de. Estado e Educação Rural no Brasil: Alguns Escritos. Niterói, Rio de Janeiro: Vício de Leitura, FAPERJ, 2007. 5 Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (doravante RMAIC), 1909-10, volume I, PP. 57-8, grifos no original. In MENDONÇA, Sônia Regina de. Estado e Educação Rural no Brasil: Alguns Escritos. Niterói, Rio de Janeiro: Vício de Leitura, FAPERJ, 2007.
515
eram os filhos dos pequenos agricultores, num sistema de internato. Esses
Aprendizados (AAs) estavam dentro dos Patronatos Agrícolas (PAs), que forneciam
todo ambiente necessário para o aprendizado referente ao trato da terra e demais
habilidades no que dizem respeito a criação de animais.
Cada interno tinha uma diária atribuída a ele que a princípio seria subsidiada
pelo Ministério da Agricultura. No entanto, havia a intenção de que o Patronato gerasse
um retorno econômico do que seria produzido pelo educando sendo a renda obtida
direcionada pelo administrador do mesmo para o pagamento desta diária. Isto quer dizer
que esta instituição teria que se manter financeiramente com o que produzisse.
Podemos perceber os objetivos destes espaços, apontados no próprio relatório do
MAIC: “a aprendizagem dos métodos racionais do trato do solo, bem como noções de
higiene e criação animal, além de instruções para o uso de máquinas e implementos
agrícolas.”269 (RMAIC apud in MENDONÇA, 2007, 57)
Em 1910, com o crescimento populacional das cidades, esses pólos agrícolas
passaram a receber aprendizes pertencentes a outros grupos sociais com uma atuação
paliativa para a questão social urbana. Sônia Regina de Mendonça apresenta essa
questão quando fala sobre o grupo assistido:
(...) recrutados pelos Chefes de Polícia e Juízes da cidade do Rio de Janeiro, a Capital Federal – auto-proclamados como ‘guardiões’ da ordem social.270 Estabelecia-se, assim, uma triangulação entre o Ministério da Agricultura, o Poder Judiciário e a Polícia do Distrito Federal (...) (MENDONÇA, 2007, p. 58)
Com este novo perfil e diante da realidade da urbanização, a Professora Sônia
Regina de Mendonça, baseada nos Relatórios do Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio afirma que entre 1918 e 1930, o total dos PAs salta de 05 para 98. Isto porque
essas instituições passam a representar uma mediação “entre ‘mundo rural’ e ‘mundo
urbano’, avalizando a ‘paz social’ entre eles. Contribuindo para a construção de um
paradigma de urbanização ‘moderna’ e ‘profilática’, o Ministério acabava por respaldá-
lo." (RMAIC, 1930, p.136)
Percebemos, assim, como o MAIC interferiu de maneira incisiva na educação do
país permanecendo através do tempo, apesar da criação do Ministério da Educação e
Saúde, em 1930. As atuações se modificaram, no transcorrer do tempo, mas a
intervenção na educação persistiu num viés de educação profissionalizante instituindo
6 RMAIC, 1911, p.57. In MENDONÇA, Sônia Regina de. Estado e Educação Rural no Brasil: Alguns Escritos. Niterói, Rio de Janeiro: Vício de Leitura, FAPERJ, 2007. 7 A presença da Polícia do Rio de Janeiro junto aos Patronatos não se limitava, apenas à arregimentação dos menores, inserindo-se junto à produção de um perfil disciplinar e de certa identidade institucional, já que boa parte da clientela provinha, antes de seu encaminhamento aos PAs, de duas instituições: ora o Depósito de Presos, ora a Colônia Correcional, ambas na Capital Federal e subordinadas ao Chefe de Polícia. In MENDONÇA, Sônia Regina de. Estado e Educação Rural no Brasil: Alguns Escritos. Niterói, Rio de Janeiro: Vício de Leitura, FAPERJ, 2007.
516
o trabalho agrícola como uma solução para a questão social, ao mesmo tempo em que
no momento da Era Vargas, o controle social era o imperativo.
É neste contexto semelhante que identificamos o aparecimento do Patronato
São Bento, objeto de nossa pesquisa. Diferindo apenas por acontecer alguns anos mais
tarde e com a peculiaridade de estar dentro de um Núcleo Colonial, instituído na Era
Vargas (anos de 1932), na Cidade de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.
Outra contribuição significativa para entendermos estas relações neste espaço
e que corrobora com este olhar sobre as influências ruralistas para com a educação
encontra-se na pesquisa realizada pela Professora Amália onde ela investiga a História
dos processos de escolarização no território da Baixada Fluminense entre 1910 e 1950.
Principalmente, quando constata que “Os temas do saneamento, da higiene e da
instrução constituíam a base de um projeto de adaptação do território da Baixada
Fluminense e de sua população ao desenvolvimento das atividades agropastoris”
(DIAS, 2014, pp. 80). Identificando a defesa e experimentação de projetos ruralistas de
educação para a população, além da organização econômica para os usos do território.
O Patronato dentro do território do Núcleo
O Patronato São Bento, localizou-se na antiga Fazenda São Bento, comprada
pelos Beneditinos em 1591. Este mesmo espaço é marcado pela Fazenda do Aguassu,
que foi parte da sesmaria de Cristóvão Monteiro que a recebera da Coroa Portuguesa
por ocasião do fim da guerra contra os franceses.
Após a morte de Monteiro em 1596, a viúva daquele fidalgo português doou
outra porção de terras ao mesmo Mosteiro. Iniciava-se assim, a colonização do Vale do
Rio Iguaçu tendo a fazenda funcionado por um grande período nesse espaço. Até que,
em 1921, o terreno foi desapropriado para sediar a colônia agrícola. Em 1922, a
Empresa de Melhoramentos da Baixada Fluminense desapropriou a Fazenda São
Bento do Iguaçu, saneando-a e fazendo benfeitorias.
Em 1931, o contrato da Empresa foi rescindido e seus bens, entre eles, a
Fazenda de São Bento, foram repassados para o Governo Federal. Em 1932, através
do Decreto 22.226, o governo criou o Núcleo Colonial São Bento271, encarregado por
lotear a Fazenda, colonizar, desobstruir o Rio de Janeiro e garantir o seu abastecimento
alimentar: “Cria-se o Núcleo Colonial ‘São Bento’, em terras da Fazenda Nacional do
mesmo nome, no município de Nova Iguassú, Estado do Rio de Janeiro”. (256.Coleção
das Leis – V.5 – Nov-dez – 1932 – M. A. – C. J. Atos do Governo Provisório. RJ –
Imprensa Nacional)
271 Neste período, a cidade de Duque de Caxias ainda era um distrito de Iguaçu, sendo emancipada em 31 de dezembro de 1943.
517
Dessa forma, o Núcleo Colonial São Bento estava subordinado ao Ministério da
Agricultura e vinculava-se aos projetos políticos e econômicos, vigentes no Estado do
Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, para os usos do território e de sua gente (DIAS,
2014). Esse Núcleo tinha um administrador e uma guarita na entrada, funcionando como
um condomínio fechado, tanto que para um visitante, entrar naquele espaço, sua
presença era anunciada e apenas era permitida se algum morador do local o estivesse
aguardando.
Nesse período, não havia ônibus que circulasse no interior do Núcleo, existia
apenas um caminhão que fazia o transporte para os locais previamente estabelecidos
pelo administrador. Além disso, o colono recebia lotes rurais, com garantia de que o
escoamento da produção teria destino certo. Para conseguir um lote, havia a
necessidade de uma inscrição no Ministério da Agricultura. No início, o colono não
pagava pelo lote, além de ter custeado as ferramentas para o plantio, as mudas e os
serviços médicos. No entanto, após três anos, começava-se contar dez anos para quitar
a dívida referente ao terreno.
É nesse território que se estabelece uma instituição para cuidar dos meninos
considerados carentes ou infratores. Os aspectos instituintes da mesma trazem a
reflexão sobre que características a determinam ou não, como escolar.
Para isso, dialogamos com autores como Saviani a fim de compreendermos
esse processo. Saviani (2007) caracteriza as instituições com um caráter social, já que
são criadas pelos seres humanos em resposta a uma necessidade. Mas, apesar de
responder a esta necessidade, não são transitórias; pelo contrário, permanecem como
um sistema de práticas com seus agentes através da operação de instrumentos para
determinado fim. Pelas características descritas anteriormente, as instituições são
unidades de ação. Ele ainda afirma que as instituições surgem a partir de atividades
que eram realizadas anteriormente informalmente, assistematicamente e que num
determinado momento, houve necessidade de que fossem institucionalizadas. Logo,
uma atividade secundária que se originou de uma atividade primária, ou seja,
espontânea. As instituições, ainda, tem a necessidade de autorreprodução, o que
confere determinada autonomia as mesmas. Segundo o mesmo autor, estas
características se referem às instituições educativas também.
Ao analisarmos as sociedades humanas, percebemos que as instituições
educativas são produtos desta informalidade, assistemática, enfim, original da
educação. Mas, não podemos desconsiderar o fato de que as atividades educativas
não estão relacionadas apenas às instituições educativas, mas também aquelas que
desempenham um caráter educativo, como afirma Saviani:
518
Assim, para além da instituição familiar consagrada, pelas suas próprias características, ao exercício da educação espontânea, vale dizer, do trabalho pedagógico primário, encontramos instituições como sindicatos, igrejas, partidos, associações de diferentes tipos, leigas e confessionais, que, além de desenvolver atividade educativa informal, podem, também, desenvolver trabalho pedagógico secundário, seja organizando e promovendo modalidades específicas de educação formal, seja mantendo escolas em caráter permanente. E não podemos perder de vista que a própria família, embora se dedicando precipuamente ao trabalho pedagógico primário, portanto, não institucionalizado, albergou durante um período de tempo relativamente longo a instituição do preceptorado realizando, pois, trabalho pedagógico secundário. Contudo, em matéria de oferta de educação formal, as instituições que se destacam nitidamente entre as demais são, sem dúvida, a Igreja e o Estado. (SAVIANI, 2007, p. 7)
É importante ainda salientar que ao longo do processo histórico a escola foi se
depurando, se complexificando, se alargando, como afirma Saviani (2007), a ponto de
ser considerada um modelo legítimo de educação para as demais formas. Embora
possamos notar algumas continuidades, assim também como rupturas no
desenvolvimento desta instituição.
É necessário conhecermos a história das instituições escolares, mas devemos
estar atentos aos aspectos básicos que as constituem na sua materialidade, sua
inserção social e seu público-alvo para compor o quadro da história da educação.
A ABM e a instituição do Patronato na cidade
De acordo com o relatório das atividades do primeiro ano de funcionamento da
instituição, de 30 de janeiro de 1957, escrito por Dom Odilão OSB (Ordem de São Bento)
na Cidade dos Meninos, no Acervo do Patronato São Bento, caixa 003, PSB 084.1, no
dia 2 de julho de 1956, o poder legislativo da cidade isentou a ABM de impostos por
considera-la de utilidade pública. Esse fato nos mostra como a ABM, embora fosse
particular e ligada a Igreja Católica, teve ligações com o poder público municipal.
No mesmo relatório, foi descrito que em julho do mesmo ano, o então prefeito e
presidente da instituição Francisco Correa, por deliberação, desapropriou um terreno
para que fosse erguido um prédio a fim de abrigar meninos em sistema de internato.
Também compõem os registros a intensa campanha financeira em que participaram
instituições públicas, privadas e pessoas de todas as idades e classes sociais lançada
pelo bispo diocesano Dom Manoel Pedro a partir de 29 de abril do corrente ano.
Nesse aspecto do documento, notamos a proporção com que o poder público se
insere na instituição no período em que o prefeito assume cargo na administração da
ABM. O referido foi eleito prefeito da cidade entre 31 de janeiro de 1955 a 15 de janeiro
de 1959.
519
Referente à “intensa” campanha financeira, de acordo com o livro Caixa que
consta no Acervo do Patronato São Bento, caixa 001, do PSB 064.01 ao PSB 064.43,
referente aos meses de janeiro a dezembro do corrente ano, percebemos que a partir
de junho de 1956 foram feitas doações em dinheiro por: festa realizada no Núcleo
Colonial São Bento, ação cinematográfica, campanha de cartões (da Escola São Bento,
do Colégio Santo Antônio e Escolas Municipais), Desfile Infantil realizado na Associação
Comercial, show artístico no Cine Clube Campos Elíseos, festival do circo Chabri, rifa,
União Manufatora de Tecidos, Banco Itajubá S. A., indústria Rei H Weker, mercado
Serve Bem, exploração de lenha da própria fazenda S Bento, Metalúrgica Hoffer S. A.,
Pedreira da Capela, Indústria de Bebidas Alves Ramos, entre outros.
Esses aspectos marcaram o envolvimento de diferentes setores, na sua
maioria, de particulares na manutenção das atividades da ABM que começava a se
instituir na cidade. A partir do mês de setembro de 1956 e de acordo com o documento
citado anteriormente, apareceram nomes de pessoas que mensalmente contribuíam
para com a instituição além do aumento da quantidade de pessoas a cada mês. Dentre
essas pessoas, o próprio Dom Odilão e o bispo D Manoel Pedro da Cunha Cintra
inclusive a família de Dom Odilão.
A contar de 27 de outubro de 1956, Dr Gastão Glicério de Gouveia Reis
contribuiu com a primeira cota, uma cota significativa e constante com uma diferença
dos demais por ser intitulada de cota. É importante destacar que o mesmo foi interventor
estadual na cidade de 25 de março de 1946 a 18 de outubro de 1946 e, posteriormente,
prefeito eleito de 28 de setembro de 1947 a 31 de janeiro de 1951, pelo Partido Social
Democrático - PSD. Essa é mais uma marca de personalidades públicas da cidade e do
envolvimento com a ABM.
Em alguns momentos, o vereador Eri Teixeira apareceu como alguém que
articulava a campanha de cartões. Cabe ressaltar, ainda, que o mesmo foi presidente
da Câmara Municipal no ano de 1956, de acordo com as informações dispostas no site
do Instituto Histórico Vereador Thomé Siqueira Barreto.
A partir dos agentes relacionados na gestão da ABM, percebemos como a
instituição foi constituindo com o passar do tempo sua relação com a administração
pública e assim, buscando caminhos para conseguir as subvenções de diferentes
setores públicos tanto municipais, estaduais e federais.
O Instituto Dom Bosco, da Cidade dos Meninos, fez doação de uniformes
também. Levantamento feito a partir do livro Caixa que consta no Acervo do Patronato
São Bento, caixa 001, do PSB 064.01 ao PSB 064.43, referente aos meses de janeiro
a dezembro do corrente ano.
520
O relatório presente na caixa 003, PSB 084.2, foi encerrado com o relato de que
a instituição tinha dinheiro em caixa para comprar o terreno para construção do internato
por terem recebido da Prefeitura Municipal Cr$ 800.000,00 proveniente do selo de
diversões, assim como do estado Cr$ 400.000,00, verba conseguida pelo deputado Sá
Rêgo e do governo federal Cr$ 150.000,00 conseguida por diversos deputados. Além
de que com a Campanha financeira atingiu o valor de Cr$ 200.000,00 que foi gasto nas
questões cotidianas, mas ainda, restou Cr$ 50.000,00 e que a mesma conseguiu a
confiança da sociedade caxiense pela prestação de contas mensal feita pelo tesoureiro.
Esse relato comprova a ingestão de dinheiro público e privado, provenientes de
diferentes agentes da cidade.
Na análise dos documentos, percebemos nesse primeiro ano uma tentativa de
estabelecimento da instituição principalmente, na legalização de documentos para que
pudessem receber as subvenções. Cabe ainda lembrar que a mesma conta com a
Legião Brasileira de Assistência (LBA) no fornecimento de subvenção, além da
importante figura do Juiz de Direito Dr Hélio Albernaz. Apesar de não terem o espaço
para o internamento, cabe salientar que a instituição já fazia um trabalho com os
meninos trabalhadores num total de 431 garotos.
No ano de 1957, o relatório, que consta na caixa 003, PSB 083.1; 083.2 e 083.3,
trata das dificuldades na construção do Patronato e algumas providências importantes
para regularização da arrecadação das verbas do selo de diversões públicas que
estavam depositadas na Prefeitura que acontecia desde setembro de 1956.
Após acordo da Câmara dos vereadores com o prefeito, elaborou-se a
deliberação 478, de 23 de agosto de 1957, para que fossem vendidos diretamente pela
ABM e pelo Ginásio Ana Maria Gomes, o que resolveu a questão do selo, entrando
mensalmente o dinheiro para a instituição a partir dessa deliberação. Já que,
anteriormente, o dinheiro era depositado e ficava em poder da prefeitura municipal.
Quanto a dificuldade do terreno foi relatado que não houve acordo com o dono
do terreno em relação a venda, entretanto, foi doado um terreno no Parque Beira Mar
onde seria construído o Instituto Profissional São José, essa é a primeira denominação
dada a instituição onde os meninos ficariam internados antes de ser Patronato São
Bento.
O trabalho que vinha sendo desempenhado no gabinete do prefeito no ano
anterior não continuou no mesmo espaço pelo fato de que a instituição conseguiu um
local para fixar a sede, sendo chamado de Casa São José e adaptada para que
pudessem acontecer aulas noturnas para os meninos e as meninas, com duas
professoras, uma da prefeitura e outra paga pela ABM. Foram atendidos 404 meninos
e 117 meninas.
521
O relatório apresentava ainda 66 engraxates que trabalhavam nas ruas com féria
média de Cr$ 70,00, com ponto fixo e um chefe, além dos baleiros com féria média de
Cr$ 40,00, com organização e com o fato de adquirir mercadoria em casa credenciada
pela ABM. Embora, não tenhamos, ainda, a relação dos espaços comerciais que esses
meninos compravam as suas mercadorias para venda torna-se importante evidenciar o
interesse no controle desses meninos e meninas.
Conforme a constituição, artigo 157, IX, os meninos atendidos recebiam carteiras
de trabalho e alguns dos meninos conseguiram o trabalho em fábricas. Essa informação
é importante uma vez que o Código de Menores vigente era o de 1927 e, por
conseguinte, o trabalho infantil era permitido.
A ABM construiu ainda, de acordo com o mesmo documento, um espaço na
delegacia para os menores detidos, uma vez que eles ficavam presos junto aos adultos.
Esse relatório foi datado de 1º de março de 1958 e assinado por Dom Odilão Moura
OSB (Caixa 003, PSB 083.3).
No livro-caixa, de janeiro a dezembro de 1957, caixa 001, do PSB 064.44 ao
PSB 064.121, percebemos a permanência dos contribuintes mensais intitulada também
de campanha financeira, são eles: exploração de lenha, Banco hipotecário e agrícola do
estado de Minas Gerais S. A., Casa São João Ltda, Casa Pinto, show, Pedreira da
capela Ltda., indústria de Bebidas Alves Ramos Ltda., Metalúrgica Hoffer S/A, Casa da
Banha Ltda., Casa Leque, Cantina Romana, Casa São João Ltda., Casa Pinto,
Supermercado Serve Bem, Lojas Sud-Lux S/A, Colégio Santo Antônio, recebido por
papel coletado, Casa Marconi, Drogaria Americanas Ltda., recebido da irmandade N Sra
do Pilar por serviços prestados por um funcionário, entre outros. Dom Odilão, sua
família, Dom Manoel Pedro Cintra, o vereador Eri Teixeira e as cotas de donativo do Dr
Gastão Reis se repetem.
A partir do mês de fevereiro, pagavam pelo espaço alugado para a sede
identificado como Casa São José onde faziam o atendimento dos meninos, reuniões
semanais e posteriormente, dava-se aula para meninos e meninas no horário noturno.
A instituição recebeu do governo do estado auxílio concedido pelo serviço de
Loteria do estado do Rio de Janeiro no mês de maio, assim como, no mesmo mês foi
pago um levantamento topográfico do Núcleo Colonial São Bento. Mais uma marca do
vínculo com o governo estadual e o levantamento topográfico, caracteriza a busca por
um espaço para o internato que seria o Patronato São Bento.
O pagamento de passagem de um menor encaminhado ao Abrigo Cristo
Redentor localizado na Cidade dos Meninos e do guarda, o pagamento de passagens
ao Instituto Profissional Getúlio Vargas localizado na Cidade dos Meninos o pagamento
do serviço de uma assistente social e ao Instituto Profissional Getúlio Vargas por
522
impressos demonstram a ligação com a Fundação Abrigo Cristo Redentor que
administrava os institutos que localizados na Cidade dos Meninos.
No livro-caixa, de janeiro a dezembro de 1958, caixa 001, do PSB 064.120 ao
PSB 064.182, a doação feita por particulares permaneceu, assim como o pagamento
dos Selos de Diversões Públicas. No mês de março, começaram a pagar uma
professora para a Casa São José, a partir de maio foi identificada como Professora
Martha Rossi.
A instituição continuava pagando ao tesoureiro da Prefeitura Municipal de Duque
de Caxias (PMDC) pela venda dos selos de Diversões Públicas, ou seja, continuavam
recebendo essa forma de subvenção da PMDC.
Também confeccionavam uniformes para os meninos com o intuito de que
fossem identificados nas ruas da cidade, o que facilitava o recolhimento daqueles que
não estivessem identificados.
A partir do mês de maio, a Casa São José passou a receber contribuição mensal
dos garotos. Manteve-se o registro de continuidade da construção de um compartimento
anexo ao distrito policial para recolhimento de menores detidos. A partir de maio, há
registros de recebimento de subvenções federais vindo da Legião Brasileira de
Assistência (LBA).
Em julho, há referência de cinco refeições pagas para os menores detidos, assim
como a passagem para condução de menores para internação no Serviço de
Assistência ao Menor (SAM) ligado ao Ministério da Justiça que tinha uma proposta
correcional. A ABM recebeu nesse mesmo período doação em dinheiro da União
Democrática Nacional de Duque de Caxias (UDN). Não era frequente, mas no mês de
setembro foi registrado “pago esmola a um menor”. Também receberam dinheiro da
irmandade do Pilar por serviços prestados pelo Sr José M Morale, funcionário da ABM.
O livro-caixa, de janeiro a dezembro de 1959, caixa 001, do PSB 064.183 ao
PSB 064.263, demonstrou a continuidade no recebimento da contribuição mensal dos
garotos, pagando pelo serviço da professora Martha Rossi, pela confecção de
uniformes, pelas refeições dos menores detidos, pelo trabalho dos garotos no reparo e
conservação do São Bento.
A partir do mês de junho há registros de compra de alimentos em grande
quantidade e com frequência, além de tamancos, pijamas, consultas médicas dos
alunos, móveis e utensílios recebidos pela LBA, confecção de calças curtas, compra de
vídeo game, gás de cozinha, conserto de geladeira, material de limpeza, compra de
frutas, trabalho de pedreiro e carpinteiro. A partir de junho, iniciou-se o trabalho de
internação dos meninos no Patronato São Bento.
523
Num relatório sobre as atividades da ABM em 1959 enviado ao bispo da diocese
de Petrópolis, D Odilão relatou que finalmente, em julho do referido ano, conseguiram
concretizar o trabalho que a ABM desejava de construir um Patronato para o
acolhimento dos meninos “após quatro anos de trabalho incessantes (...) a fundação e
manutenção de um estabelecimento de internação de menores de acordo com o
estatuto da ABM” (Caixa 003, PSB 095.1). O relator ainda destaca os “Aliados aos
poderes públicos para amparar os meninos desvalidos da sociedade” quando se refere
ao poder executivo e legislativo municipal sempre presentes e o judiciário com os Juízes
Ary Fontenelle e Hélio Albernaz. Ele ainda menciona a Associação Comercial e
imprensa local como colaboradores nas atividades da ABM. Ao analisarmos os
documentos nesses quatro anos percebemos a permanência do financiamento público
na instituição.
Em 1959 ainda houve eleição para o novo triênio e Dr Jorge Armênio assumiu a
presidência da ABM, tendo como vice Dr Gastao Reis, José Maia como tesoureiro e
Joaquim Vieira Jr como segundo tesoureiro. Nesse ano, a PMDC deixou de pagar a
cota dos selos de diversões públicas. A PMDC ainda tinha uma dívida com a instituição
de dois milhões de cruzeiros e que não tinha possibilidade de ser quitada.
O expediente que era na Casa São José, a partir de fevereiro passou a ser feito
na Fazenda sendo fechada a casa. Continuou prestando serviços aos meninos, apenas
aos engraxates. Enquanto o Prefeito tentou impedir o trabalho dos engraxates nas ruas,
o juiz Hélio Albernaz não permitiu e um número de 40 engraxates registrados
permaneceram inscritos.
Durante as enchentes que assolaram a cidade, a ABM assistiu aos flagelados,
segundo o relatório. A LBA custeou 25 alunos no internato (Caixa 003, PSB 095.2). A
negação do recebimento dos selos por parte da PMDC dificultou a sua manutenção
nesse começo do internato já que isto expressava a perda de uma ingestão financeira
significativa para a instituição.
Considerações Finais
O escrito trouxe a proposição de fazer determinadas pontuações no que tange
as marcas da institucionalização do Patronato São Bento. Principalmente, o
investimento financeiro e a inserção de pessoas públicas no trabalho da instituição que
fez com que recebesse verbas públicas embora fosse uma instituição privada.
Foi possível identificar a pesquisa da instituição escolar que é o patronato São
Bento e identificar algumas de suas contribuições para este campo da história da
educação no território da Baixada Fluminense.
524
Referências Bibliográficas
CAMARA, Sonia Regina de. Sob a Guarda da República – A infância menorizada no
Rio de Janeiro da década de 1920. Rio de Janeiro: Quartet, 2010.
DIAS, Amália. Entre laranjas e letras: processos de escolarização no distrito-sede de
Nova Iguaçu (1916-1950). Rio de Janeiro: Quartet; FAPERJ, 2014.
FREITAS, Marcos Cezar de. História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez,
2011.
FREITAS, Marcos Cezar de; KUHLMANN Jr, Moysés (Orgs). Os intelectuais na história
da infância. São Paulo: Cortez, 2002.
GONZAGA, Marisa e SOUZA, Marlucia Santos de. As políticas ruralistas instituídas no
atual território do município de Duque de Caxias (1900-1961). In: Revista Pilares da
História – Duque de Caxias e baixada Fluminense. Duque de Caxias: ASAMIH, 2011.
MENDONÇA, Sônia Regina de. Estado e Educação Rural no Brasil: Alguns Escritos.
Niterói, Rio de Janeiro: Vício de Leitura, FAPERJ, 2007.
NASCIMENTO, Maria Isabel Moura [et al.] (orgs.) Insittuições escolares no Brasil:
conceito e reconstrução histórica. Campinas: Autores associados, 2007.
PRIORI, Mary Del. (org) História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004.
SOUZA, Marlucia Santos de. Os impactos das políticas agrárias e de saneamento na
Baixada Fluminense. In: Revista Pilares da História – Duque de Caxias e Baixada
Fluminense. Duque de Caxias: ASAMIH, 2006.
SOUZA, Marlucia Santos de. Escavando o passado da cidade: História política da
cidade de Duque de Caxias. Rio de Janeiro: APPH-CLIO, 2014.
REPRESENTACIONES DE INFANCIA EN EL ORIGEN DEL KINDERGARTEN EN
MÉXICO, 1890-1940272
Adriana Alejandra García Serrano Cinvestav, México [email protected]
272 Esta ponencia es producto de mi tesis de maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas
del Cinvestav, en proceso, realizada bajo la dirección de la Dra. Eugenia Roldán Vera. Para la realización de la maestría cuento con una beca del Conacyt.
525
1. Introducción
En este trabajo se analizan las representaciones del niño de cuatro a seis años en
relación con la fundación del Kindergarten en México y sus transformaciones a lo largo
del periodo 1890-1940. Se examinan las formas como los intelectuales y educadores de
finales del siglo XIX y principios del XX discutieron ciertas ideas de infancia en diálogo
con las tendencias pedagógicas de la época. Para alcanzar tales objetivos se realiza
una indagación iconográfica del Kindergarten en la capital.
El trabajo inicial se basa en un corpus de 84 imágenes entre fotografías y grabados
que muestran actividades con los niños en dichas escuelas, materiales utilizados,
maestras u otros aspectos relacionados. Mis fuentes fueron el Periódico Kindergarten
(1911-1912), banco de imágenes del Centro de Investigación y Difusión de Educación
Preescolar (CIDEP), diversos periódicos de la época disponibles en la Hemeroteca
Nacional Digital de México (HNDM) y Boletines de Instrucción Pública y Bellas Artes
resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN).
La fotografía y el grabado se hicieron presentes en occidente en los últimos
decenios del siglo XIX y principios del XX. Ambos instrumentos influyeron en la
transformación de la percepción de la sociedad de aquellos años. A la fotografía se le
otorgaba un carácter científico por considerar que proporcionaba evidencias visibles; a
finales del siglo XIX se le veía como “la imitación más perfecta que podía haber de la
realidad” (Castillo, 2006, p. 85).
Estudiosos de la fotografía escolar como Grosvenor (1999), Burke y Ribeiro (2007)
consideran a la fotografía como el registro de un acontecimiento u objeto que se realiza
en momentos y tiempos reales. La fotografía constituye una evidencia histórica que
aporta información de los eventos capturados, muestra detalles de lo real (por ejemplo:
vestimenta, lugar, mobiliario, entre otros) y de la historia como fue. Ante tal
posicionamiento, la fotografía tiene un valor de verdad en la medida que funge como
evidencia de lo real, ya que las imágenes hacen visible lo invisible y nos permiten ser
testigos oculares del pasado.
Al mismo tiempo, la fotografía construye un discurso sobre la realidad. La
fotografía es usada para reforzar discursos textuales en la prensa escrita con el objetivo
de influir en la opinión pública y la percepción de la sociedad (Comas y Sureda García,
2012). Por lo tanto, las fotografías son también medios para difundir nuevas ideas
pedagógicas, construir y expandir nuevos discursos, así como coadyuvar a la edificación
de una simbología novedosa alrededor de la escuela. De esta manera es posible hablar
de un discurso fotográfico (Grosvenor, 1999) que refuerza subjetividades, ideologías y
opiniones específicas. En ese sentido, la fotografía es una herramienta para influir en
la opinión pública, ya que la sensibiliza respecto a ciertos temas y cambia su percepción
526
respecto al rol de las escuelas y a las funciones de la educación. La fotografía, como
apunta Castillo Troncoso refiriéndose a la infancia, también contribuye a “…replantear
algunos conceptos en torno a la vida cotidiana de esta etapa” (2006, p. 86).
Las fotografías son producidas con fines concretos; Grosvenor señala que el acto
de fotografiar nunca es inocente (1999, p. 90). Quien captura la imagen controla los
elementos enmarcados en ella, lo que se incluye o excluye y la relación entre los objetos.
Por consiguiente, las imágenes son producto de un discurso cultural. Sin embargo, éstas
abren un campo fructífero para la construcción de la realidad a partir de lo que las
imágenes muestran y de lo que el lector sabe y puede interpretar. Quien observa las
fotografías tiene la libertad de elegir cómo mirarlas, donde no hay que perder de vista
que esa acción se está llevando a cabo desde el presente. Ante esto, Grosvenor afirma
que “…la lectura de una fotografía es siempre histórica” (1999, p. 93). Esta idea se
complementa con la aportación de Sekula –citado por el mismo autor–, quien afirma que
el significado de las imágenes está sujeto a la definición cultural. Ese significado es un
espacio donde la sociedad se estructura y las relaciones de poder que existen dentro
de ella se hacen presentes. Las fotografías están abiertas a una pluralidad de lecturas
en función no solo de los propósitos de quien tomó la imagen, sino de lo que significó
en su tiempo y de lo que quien las mira en el presente pretende interpretar o validar.
Así, éstas pueden ser vistas como documentos escritos situados en un tiempo y
contexto, pero también abiertos a la deconstrucción.
En este trabajo me centraré en la fotografía escolar, para lo cual las aportaciones
de Burke y Ribeiro de Castro son referencia obligada. Ellas consideran que las imágenes
escolares permiten a la escuela mirar su propio pasado pero también proyectar su futuro
(2007), es decir, la fotografía puede ser vista como un puente entre el pasado y el
presente (Grosvenor, 1999) pero también con su futuro, o bien, en palabras de
Grosvenor, una “ventana transparente” hacia el pasado (1999, p. 88). La fotografía
escolar contribuye a la formación de cierta imagen de la escuela, educación y cultura
escolar a través del tiempo, constituyéndose en un material valioso de las historias
escolares. También interviene en la edificación de un imaginario colectivo.
Para este documento analizaré una selección de 9 fotografías como evidencias
históricas que permiten un mejor entendimiento de la difusión de ideas pedagógicas, de
la construcción de diversas representaciones de la niñez y del mismo Kindergarten en
el período 1890-1940; en el análisis se buscará dar cuenta de cambios y continuidades
en dichos procesos. Mi estudio será guiado por las siguientes preguntas: ¿Para qué se
tomó cada fotografía? ¿Qué quiso mostrar quien capturó la imagen? ¿Qué permite
hacer visible y qué oculta? ¿Busca definir ciertos comportamientos en esos espacios
escolares? ¿Intenta reforzar determinados estereotipos? ¿Codifica prácticas
527
pedagógicas y/o pudo haber contribuido a definirlas? ¿Qué tipo de disciplina refleja?
¿Cómo eran las ropas, expresiones y disposición de los cuerpos de los niños? ¿Qué
materiales los rodean y cuál es la relación entre éstos y los niños?
2. La introducción del Kindergarten en México
Federico Froebel fundó hacia 1840 en Alemania la primera escuela identificada como
antecedente del Kindergarten (Campos Alba, 2013, p. 54). En México se comenzaron a
organizar escuelas de este tipo en los primeros años del siglo XX, cuando el Secretario
de Justicia e Instrucción Pública Justo Sierra comisionó a las maestras Estefanía
Castañeda y Rosaura Zapata para tal propósito. Eventualmente ambas profesoras
elaboraron un plan para el Kindergarten, la primera en 1903 y la segunda en 1906,
ambos planes eran ligeramente diferentes pero son fundamentales para entender cómo
la propuesta moderna de estas escuelas concebía a la infancia.
Durante el periodo conocido como Porfiriato (1876-1910), los esfuerzos
educativos en México estuvieron concentrados en la capital del país, aunque también
había un número considerable de escuelas elementales a cargo de los gobiernos
municipales y estatales. En este período tuvo lugar la creación de las primeras escuelas
normales, la introducción del método simultáneo para la enseñanza de la lectura y la
escritura y se sentaron las bases de un sistema educativo que a la postre abarcaría
también a las mayorías. Además, en estos años existía en México un alto índice de
analfabetismo, situación que continuó después de la Revolución “En 1910, sólo 19.7 por
ciento de la población del país sabía leer y escribir y, …el porcentaje podía ser más bajo
en las zonas rurales, donde vivía 71 por ciento de la población” (Acevedo, 2011, p. 75).
La educación era concebida como base para la prosperidad, el progreso y medio para
lograr la unidad nacional. En lo que respecta al Kindergarten, hacia finales del Porfiriato
surgieron las primeras escuelas de este tipo, impulsadas por los Secretarios de Justicia
e Instrucción Pública Justino Fernández y Justo Sierra.
Aunque con anterioridad existían cuatro escuelas de párvulos en la capital y
algunas salas de párvulos en los estados, en 1904 Estefanía Castañeda propone
cambiar la denominación escuelas de párvulos por Kindergarten; así en este año se
fundan las primeras tres escuelas bajo ese nombre: Kindergarten “Federico Froebel,
Kindergarten “Enrique Pestalozzi” y Kindergarten “Ramón Manterola”. Si bien la
pedagogía froebeliana era ya conocida en México desde finales del siglo XIX, estas
escuelas fueron creadas en apego a ella.
Las bases del método pedagógico de Froebel eran el juego, el trabajo, la disciplina
y la libertad. Concibió tres grados del desarrollo de una persona antes de ser hombre:
la criatura, el niño y el adolescente (Froebel, 1923). La etapa del niño inicia con la
528
manifestación espontánea del interior al exterior, es decir, con la aparición de la palabra.
Ésta, junto con el juego, son los elementos en que el niño vive. Así el juego es
considerado el mayor grado de desarrollo del niño y la manifestación más bella de su
vida, caracterizándose por ser una manifestación libre y espontánea del interior; de ahí
que, según Froebel (1923, p. 10) “en toda buena educación, en toda enseñanza
verdadera, la libertad y la espontaneidad deben ser necesariamente aseguradas al niño,
al discípulo”. La educación del niño debía darse en familia, constituida por el padre, la
madre y el niño. Para Froebel, la noción de este grado de desarrollo está estrechamente
ligada con Dios: el niño debía ser considerado como garantía viviente de la presencia,
bondad y amor de Él. Desde su más tierna edad, es decir, desde su etapa de criatura,
debía procurarse su actividad para evitar la pereza corporal y posteriormente intelectual.
En las primeras cuatro décadas del siglo XX tuvieron lugar la consolidación
institucional del Kindergarten y su definición como escuela, su expansión a diferentes
estados del país y zonas populares de la capital, así como la construcción de diversas
representaciones de la pequeña infancia. Es entonces cuando esta etapa de la niñez
comienza a ser percibida como distinta a la edad adulta, y se le reconoce como un
período con características particulares, derechos, necesidades de cuidado y educación
específicas.
Desde finales del siglo XIX, la prensa mexicana contribuyó a la difusión de dicha
institución y de cierto ideal de infancia. Se publicaron notas que reconocían la necesidad
de una educación distinta a la que brindaban las primarias, los cuidados específicos que
debían dar las madres a sus hijos más pequeños, y noticias de maestras como Estefanía
Castañeda que contribuyeron a difundir en qué consistía el proyecto del Kindergarten y
el ideal del niño que se pretendía formar. En menor medida aparecieron también
publicaciones en contra de que los párvulos asistieran a estas escuelas ya que
significaba apartarlos del hogar a una tierna edad y la perversión de su moral273. El
método froebeliano fue blanco de críticas también, algunas de ellas apuntaron a ver al
juego como una actividad recreativa que desvirtuaba la voluntad y entendimiento de los
niños274. Sin embargo, desde el Porfiriato la educación era considerada como medio
para el progreso, idea incorporada incluso a los Jardines de Niños.
Los primeros Kindergärten se consideraron como lugares de cuidado y protección
para los párvulos275, posteriormente se les concibió como una ayuda que el Estado
273 HNDM, El Tiempo, Sección: La prensa del día, 12 de enero, 1910.
274 Ibíd., 12 de enero, 1910.
275 AHSEP, Boletín de Justicia e Instrucción Pública, tomo II, núm. 2, 1903, p. 65.
529
Imagen 1. AGN, periódico
Kindergarten, diciembre de
1911
ofrecía a las madres que trabajaban (Galván Lafarga y Zúñiga, s/f.), pero también como
proveedoras de educación fundamental para los grados de instrucción que le seguían276.
En términos generales el Kindergarten fue percibido como morada de tranquilidad e
inocencia.
3. Representaciones de infancia en el Kindergarten 3.1 Los niños en la naturaleza y la naturalización de la figura maternal de la educadora En 1907 comenzó a publicarse el periódico Kindergarten dirigido
por Estefanía Castañeda. Se trataba de un periódico
conformado mayoritariamente por fotografías. En él se
incluyeron fotografías de niños trabajando en los Kindergärten
mexicanos, además de canciones, composiciones, artículos
referentes a los dones de Froebel, el origen del Kindergarten en
Alemania, la relevancia de la educación en estas escuelas,
etcétera. Esta publicación mostraba una escuela benéfica para
los niños, sus imágenes nos acercan al ideal del Kindergarten,
de cómo debía ser la infancia, cómo tenía que ser la maestra y
las madres.
En su portada (Imagen 1), este periódico mostraba un grabado de Froebel y Unger
que data de 1843277. Se observan en él dos columnas con una enredadera ascendente,
en cada una hay un niño sosteniendo una rama. A lo largo de la enredadera se observan
flores. En el centro de la parte superior del grabado se halla un ángel en posición
descendente con una rama en su mano izquierda, imagen delimitada por ramas que se
desprenden de la enredadera. Abajo del ángel hay una paloma entre nubes y debajo
de ella un pensamiento de Froebel que dice:
¡Venid, vivamos con nuestros niños!....Fijemos nuestra atención en las suaves protestas
de su espíritu, en las silenciosas reclamaciones de su sér: entonces nos darán la alegría
y nos enseñarán el camino de la verdad… (Castañeda, 1911).
En la parte inferior del grabado se encuentra una mujer con un libro en su regazo
dirigiéndose a siete niños que la rodean y le prestan atención. Esta escena es
enmarcada por un arco que continúa de la enredadera donde a los costados hay niños
regándola y/o subiendo por ella. En dicha imagen encontramos una representación de
la niñez, la educación que debía recibir y el ambiente que debería rodear al niño.
Recordemos la comparación realizada por Froebel del niño con una planta, idea que
276 AHSEP, Memoria de la Secretaría de Educación Pública, 1928, p. 170. 277 Se sabe que data de este año porque se incluye en la referencia del grabado en la portada
del periódico.
530
Imagen 2.
AGN, periódico
Kindergarten,
diciembre de
1911
impregnó también el pensamiento de los intelectuales y maestras pioneras del
Kindergarten. El Proyecto de la escuela de párvulos278 presentado por Estefanía
Castañeda a la Subsecretaría de Instrucción Pública en 1903, inicia con el siguiente
paralelo:
La planta [refiriéndose al niño] está ávida de todos los jugos, de todos los rocíos, de toda
la luz del cielo; pero la planta es débil y hay que nutrirla con precaución, que despejar el
espacio en que respira, que impartirle un calor suave y confortante… lo que sólo
proporcionaría de una manera completa el aliento de una madre (Castañeda, 1903).
En este mismo documento, la educación del niño era asemejada con el cultivo de una
planta humana. De hecho, la metáfora del niño con la planta u otros elementos de la
naturaleza como mariposas, flores, etcétera, perduró por varios años en el
Kindergarten.
Para Froebel y de igual manera para Estefanía Castañeda y Justo Sierra, la mujer
era la más adecuada para realizar las tareas planteadas en los Kindergärten y brindar
la primera educación a los niños más pequeños. Castañeda caracteriza a las maestras
en relación directa con lo que debería ser una madre, atribuyéndoles cualidades como
delicadeza, ternura, apacible, enérgica y dulce (Castañeda, 1903). Justo Sierra añade
además, que el Kindergarten debía ser dirigido por madres más que por solteras279,
idea vinculada con la percepción de estos espacios como la prolongación del hogar y
no como escuelas propiamente. Según Jorge Vera Estañol, Secretario de Instrucción
Pública y Bellas Artes en 1911, las educadoras deberían actuar como una madre que
se conduce ante sus hijos con inteligencia, prudencia, bondad, amor y al mismo tiempo
ser enérgica280. Tal asociación de la educadora con la madre se ve reforzada por una
imagen aparecida en el periódico Kindergarten (imagen 2). En ella se observa a una
mujer (quizás una virgen) cargando un niño pequeño, ambos están rodeados por una
nube. Ella toca con su mejilla la del niño, se trata de una madre amorosa. Es posible
relacionarla con el ideal de mujer y madre en vínculo directo. Al pie de la foto hay un
pensamiento que alude a ella:
“Feliz aquel, que tiene una madre que se ha
inundado en este ejemplo, y cree en la mujer con
todas las fuerzas de su sangre, y confía en ella, pues
si alguna vez cae, se levantará fácilmente, sin cubrir
su alma de lodo………” (Castañeda, 1911)
278 HNDM, El Diario del Hogar, 05 de mayo, 1904.
279 AHSEP, Boletín de Justicia e Instrucción Pública, tomo II, núm. 1-13, 1903, p. 5.
280 AHSEP, Boletín de Justicia e Instrucción Pública, tomo XVII, 1911, pp. 39-47.
531
Imagen 3. Cantos animados. (Baile del
Trébol y el Girasol). AGN, periódico
Kindergarten, febrero de 1912
Imagen 4. Niños en diferentes
festivales (mariposas y martes de
festival), Lugar: Jardín de Niños
Rébsamen, Año 1906-1915. CIDEP-
SEP
Es preciso mencionar que el vocablo alemán Kindergarten se ha traducido al castellano
como jardín de niños o jardín de infantes, en alusión a la idea de crear un verdadero
jardín para niños donde estén en contacto con la naturaleza, en libertad pero con orden.
Froebel designó como Kindergarten a estos espacios por varias razones: evitando el
nombre de escuela pues se le relacionaba con connotaciones negativas, inspirado en
“el valle florido que se extendía a sus pies” (Campos Alba, 2013, p. 54), para
diferenciarla de las escuelas que ya existían destinadas a niños pequeños, y aludiendo
a la comparación del niño con la planta y su crecimiento natural.
Uno de los ejes fundamentales del Kindergarten mexicano, siguiendo los
principios de la institución alemana, fue propiciar el contacto del niño con la naturaleza.
En los programas redactados por Estefanía Castañeda y Rosaura Zapata281 se
incluyeron actividades que favorecieran en los niños el conocimiento de diversos
elementos de la naturaleza como las estaciones del año, el viento, sol, flores, agua,
animales, arcoíris, frutos, entre otros.
En la Imagen 3 fueron retratados una niña
disfrazada de girasol y un niño con disfraz de trébol
tomados de la mano. Al fondo hay una estructura en
forma de arco cubierto por vegetación. Esta imagen
pudo haber sido tomada en un festival organizado por
el Kindergarten Froebel, ya que este tipo de
actividades eran frecuentes a manera de exámenes
públicos que pretendían mostrar los avances de los
niños, y
que a su vez servían para legitimar la existencia y funcionalidad de estas escuelas.
Al observar esta fotografía, es posible inferir que los niños posaron para su
captura, ya que sus cuerpos se muestran inmóviles y su gesto es serio. Probablemente
sus trajes hayan sido confeccionados para la ocasión –persiguiendo el objetivo de
mostrar el acercamiento de los niños a la naturaleza-, pues al lado de la fotografía hay
una canción titulada El Girasol y el Trébol. Ésta versa sobre los beneficios del sol que
alientan la vida del girasol con su luz, del trébol dice que es un amuleto que dona
felicidad. Características como la gracia, la ternura y la lealtad son frecuentemente
atribuidas a los niños en las diversas publicaciones referentes al Kindergarten de las
primeras décadas del siglo XX.
La imagen 4, tomada entre los años 1906-1915 en
el Jardín de Niños Rébsamen, se compone de un grupo
281 AHSEP, Boletín de Justicia e Instrucción Pública, tomo V, núm. 6-8, 1906, pp. 685-703.
532
de niñas y niños caracterizados como mariposas, mientras
que en el segundo plano de la fotografía se ve a su
maestra, la Srita. Ernestina. La mayoría son niñas
vestidas de blanco portando una aureola con antenas,
bien peinadas, limpias y con alas en la espalda. Algunos
párvulos tienen la mirada fija en el fotógrafo, otros hacia
diferentes
direcciones, sin embargo, todos están ordenados y serios, posiblemente posando para
la foto.
Por medio de actividades como regar plantas, cantar canciones o recitar
composiciones alusivas a la naturaleza, alimentar u observar cómo se alimenta a
animales domésticos, entre otras, se pretendía el acercamiento de los niños a su
contexto natural. Por tratarse de escuelas urbanas, los programas y actividades reflejan
esta condición, es decir, los infantes exploraban y aprendían a cuidar la naturaleza que
les rodeaba en la capital, en ambientes que no en pocas ocasiones eran fabricados por
estas escuelas. En los programas seguidos por los Kindergärten en las primeras
décadas del siglo XX, –tanto el elaborado por Castañeda como el de Zapata–, se
reconoce en los niños la capacidad de observar, cuidar y limpiar la naturaleza.
3.2 La especificidad del niño y el Kindergarten como su segundo hogar
En el período 1903-1934 la representación de los niños fue transitando hacia el
reconocimiento cada vez más claro de capacidades a desarrollarse en la etapa de la
infancia, por lo tanto, la educación de los párvulos requería de un método, espacio,
materiales, maestras y tiempo específicos. Al niño se le fue definiendo como una
persona distinta del adulto y de su madre, llegando a reconocérsele como miembro de
la sociedad que debía ser tratado como tal282, al mismo tiempo se fue construyendo una
idea de niñez asociada con la protección, inocencia, ser que está en proceso de
desarrollo, pureza, obediencia, gracia, bondad, entre otros283. Ante esta representación
de la infancia apropiada y promovida por intelectuales y maestras, la función del
Kindergarten fue cada vez más importante. Para ello, se buscaba construir un vínculo
estrecho entre esta escuela, el hogar y la familia. Desde su concepción el jardín de niños
debía reproducir el ambiente donde ha vivido para ser la continuación de él.
282 AHSEP, Boletín de Justicia e Instrucción Pública, tomo II, núm. 2, 1903, p. 72. 283 AHSEP, Boletín de Justicia e Instrucción Pública, tomo II, núm. 2, 1903, pp. 65-90. Ibíd., tomo V, núm. 6-8, 1906, pp. 685-703. AHSEP, Boletín de Instrucción Pública y Bellas Artes, tomo XVII, 1911, pp. 39-47.
533
Imagen 5. Tomando el lunch. AGN,
periódico Kindergarten, febrero de 1912
Imagen 6. Los niños pobres de los Jardines
“Pestalozzi” y “Zaragoza” ofreciendo humildes y
cariñosos presentes al Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo D.
Venustiano Carranza.
AHSEP, Boletín de Instrucción Pública y Bellas
Artes, tomo I, no. 2, noviembre de 1915
Diversos intelectuales y maestras escribieron acerca de este tema, sobre todo en
documentos oficiales. El Periódico Kindergarten de febrero de 1912 publicó una nota
titulada “El principio familiar en el Kindergarten”, donde destacaba que esta escuela
debía ser el hogar del niño y la educadora se conduciría como una madre; de cumplirse
con estos supuestos el educando no sufriría una transición brusca entre la casa y la
escuela, además de que se propiciaría un desarrollo normal, pacífico y feliz. Estos
preceptos envolvían al proyecto del Kindergarten por completo, de ahí que en los
contenidos a trabajar con los párvulos se incluyeran los trabajos domésticos y
ocupaciones de la familia.
En el afán de representar a los Kindergärten
como extensiones del hogar, la imagen 5 muestra a
nueve niños tomando su lunch. Todos se encuentran
realizando la actividad en orden y dirigiendo su
mirada hacia el fotógrafo. En el extremo izquierdo se
observa a la maestra en cuclillas o
sentada al lado de uno de los niños. Sillas, mesa y loza son acordes al tamaño de los
pequeños. Veremos que la mesa está dispuesta como si se tratara de la de una casa,
está cubierta con un mantel, hay platos, tazas y al centro una jarra. La acción misma de
tomar el lunch todos sentados a la mesa evoca la hora de la comida como debería ser
en un hogar mexicano de aquellos años.
3.3 La revolución y la inclusión de niños pobres en el Kindergarten
Los niños que acudían a los primeros Kindergärten eran en su gran mayoría
pertenecientes a clases media y alta, debido a que eran un número reducido de
planteles la cobertura que alcanzaban era limitada también.
Hacia 1913, en pleno período revolucionario, surgieron rumores sobre la posible
desaparición de los jardines de niños, sin embargo, se hicieron esfuerzos no solo para
mantenerlos sino incluso para extenderlos a las clases más desfavorecidas. En el lapso
de 1917 a 1926, estas escuelas incrementaron su número en la capital de 17 a 25.
La prensa mexicana también difundió ciertas actividades realizadas en dichas
instituciones como acciones de beneficencia, fiestas de cumpleaños para algún
funcionario o fiestas a las que asistía incluso el presidente, entre otras.
534
La fotografía núm. 6 corresponde a un festival realizado el 1º de noviembre de 1915
con motivo del fin de cursos de todos los jardines de niños del Distrito Federal. En primer
plano aparecen Venustiano Carranza y dos niños de los Jardines “Pestalozzi” y
“Zaragoza” ofreciéndole presentes en una charola al Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista; detrás de los pequeños está una maestra que pareciera acercarlos
a él. Esta imagen acompaña una noticia que describe brevemente las actividades
llevadas a cabo en el festival, también se dice que Carranza ama a la niñez prometedora
y sencilla. En ella podemos observar a dos niños que contrastan con los que aparecen
en fotografías anteriores, aquí se trata de dos párvulos con ropas humildes y descalzos,
su gesto es serio, las cuatro figuras principales de la fotografía parecen estar estáticas,
quizá posando.
Lo anterior sugiere que la idea que se buscaba transmitir de acercamiento por
parte de Carranza a la niñez –incluyendo a la más pobre–, fue reforzada con una
imagen construida para ello. También mostraba que los Kindergärten incluían a niños
de bajos recursos. Los documentos revisados no arrojan datos precisos de los párvulos
que asistían a los Kindergärten, sin embargo en diversos documentos aún de años
posteriores, se señala que a ellos asistían niños de familias ricas por ser ellas las que
están en mejores aptitudes de enviar a sus hijos a la escuela284.
La creación de la Secretaría de Educación Pública, por decreto del 25 de julio de
1921, marcó la vida educativa e institucional de México. El principal argumento que
sustentó su creación era la necesidad de centralizar el control de la educación desde el
gobierno nacional y los gobiernos estatales285. Con Plutarco Elías Calles en la
presidencia (1924-1928), la política posrevolucionaria impregnó a la educación de un
nacionalismo incluido el jardín de niños. Cuando Rosaura Zapata fue nombrada
Inspectora General de Jardines de Niños en 1928, presentó un proyecto de
transformación de estas escuelas señalando la necesidad de que fueran espacios
donde se formaran niños “netamente mexicanos, saludables, alegres, espontáneos y
unidos…” (Galván y Zúñiga, s/f, p. 5)
284 AHSEP, Memoria de la Secretaría de Educación Pública, 1928, pp. 170-173.
285 Cabe recordar que durante el siglo XIX la administración de las escuelas primarias, y de los primeros jardines de niños estaba en manos de los municipios. En el Porfiriato inició un proceso que concentró la gestión de la instrucción en los gobiernos estatales, pero en el Congreso Constituyente de 1917 se volvió a dar todo el control a los municipios. Con esta medida se volvía innecesaria la existencia de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, por lo que se determinó suprimirla el 31 de enero de 1917.
535
Imagen 7. Decoración de platos con
acuarelas, Lugar: Jardín de Niños en
el D.F., Año: 1930. CIDEP-SEP
3.4 Educación de la infancia como preparación para la primaria
La idea de que el Kindergarten preparaba a los niños para la primaria cobró fuerza
después de la primera década del siglo XX286 y continuó en las distintas etapas de su
desarrollo. Hacia finales de la segunda década del siglo XX comenzaron a realizarse
registros del desarrollo de niños de 4 a 17 años, fue una práctica impulsada para
alcanzar los objetivos fijados en el documento Bases para la organización de la Escuela
Primaria entre 1923 y 1928 (Solana, 1981, pp. 227-228), así como para demostrar que
los niños que habían asistido al jardín de niños obtuvieron mejores resultados que
aquellos que no pasaron por dichas escuelas. Así, la representación del Kindergarten
como transición entre la casa y la primaria se fortaleció.
Con el paso del tiempo se observan cambios en la organización del Kindergarten,
a pesar de continuar trabajando con el modelo de Froebel, se dieron distintos énfasis
en sus programas. Para la década de 1920 ya se habían suprimido los exámenes y las
promociones de un nivel a otro se dejaron a consideración de las educadoras287. En esa
década comienzan a surgir críticas en torno al método froebeliano, se le empieza a
considerar promotor de prácticas rígidas en las escuelas. Por lo que se crean nuevas
directrices que el jardín de niños debería implementar como: ser espontáneo, libre pero
a la vez ordenado y organizado, promover un verdadero contacto con la naturaleza, las
costumbres y las tendencias artísticas de México. El papel de la educadora era guiar
debidamente la libre manifestación de los pequeños. Hacia 1930 comienzan a
introducirse en los jardines de niños los llamados “centros de interés”288, aunque
continúan aplicándose las doctrinas froebelianas en sus principios fundamentales
incorporando rasgos del ambiente en que los niños se desenvuelven289.
La imagen núm. 7 muestra un grupo de 33 niños
decorando platos con acuarelas. A pesar de que
286 AHSEP, Boletín de Instrucción Pública y Bellas Artes, tomo XVI, núm. 1-3, 1911.
287 AHSEP, Memoria de la Secretaría de Educación Pública, 1928, pp. 170-173.
288 AHSEP, Boletín de la Secretaría de Educación Pública, tomo IX, no. 9 y 10, 1930, p. 98.
289 Los centros de interés fue un método pedagógico creado por el médico, psicólogo y pedagogo belga Ovidio Decroly (1871-1932), consiste en centrar los temas a trabajar con los niños en sus intereses y necesidades. El centro de interés es una unidad de trabajo que articula todos los aprendizajes que debe realizar el niño en torno a un núcleo operativo o tema. Decroly identificó cuatro centros de interés: necesidad de alimentarse, necesidad de luchar contra la intemperie, necesidad de defenderse de los peligros y necesidad de actuar, trabajar, descansar, divertirse y desarrollarse (Los centros de interés en infantil. Revista digital para profesionales de la enseñanza, marzo 2013, núm. 23, 1-8. Revisado el 27 de diciembre, 2015. Tomado de
http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd10031.pdf).
536
las mesas y sillas son específicas para niños como
en la imagen núm. 5, el salón ya es distinto. El
espacio es más amplio e iluminado, el número de
alumnos es mayor, el mueble que hay es del
tamaño de un infante de esta edad. Como
decoraciones del aula se observan motivos florales
en la
pared del fondo y un pizarrón a baja altura, en los marcos de las ventanas hay flores
también, y sobre el muro de la derecha hay dos dibujos de niños. Cada uno está
concentrado en su propia creación, la idea de orden está muy presente en la
fotografía, así como la realización de una única actividad para todos y al mismo
tiempo.
Hacia 1930 el Kindergarten es valorado por ser un espacio que, además de ser
reflejo de la vida del hogar, ofrece el bienestar necesario para el desenvolvimiento
apropiado de los párvulos y continúa persiguiéndose el objetivo de que a él concurran
niños de todas las clases sociales.290. Se enfatizaba el mejoramiento del medio social
del niño a través de estas escuelas a partir de conferencias dirigidas a las madres donde
se abordaron temas como alimentación, embellecimiento del hogar, primeros auxilios,
entre otros; también se les ofrecían bibliotecas relacionadas con la vida del hogar y se
organizaron Sociedades de Madres.
Los niños son representados en un mundo infantil que incluye elementos similares
de un mundo en el que después se encontrará. El jardín de niños es considerado un
mundo en miniatura donde el niño es parte de la sociedad vista como un todo y en
donde siente la relación de su vida con la de los demás291. A partir de la década de
1930 comienza a decirse que el período más interesante de la vida es de los 4 a los 6
años, ya que los niños se encuentran en pleno crecimiento en fuerza y poder tanto en
su adquisición como en su expresión. A mediados de esa década tuvo lugar un debate
sobre la educación socialista y un conflicto surgido por la modificación del Artículo 3º
Constitucional que la incluía. La Escuela Socialista impactó en los jardines de niños
mediante la exaltación del nacionalismo a través del amor a la patria y la transmisión
de tradiciones, costumbres y música mexicanas.
3.5 Trabajadores del futuro
290 AHSEP, Memoria de la Secretaría de Educación Pública, 1930, pp. 167-171.
291 AHSEP, Memoria de la Secretaría de Educación Pública, tomo II, 1934, p. 330.
537
Imagen 8. Limpieza de trastes, Lugar: Jardín de
Niños Ricardo Bell, Año: 1935. CIDEP-SEP
Imagen 9. Taller de carpintería, Lugar: Jardín de
Niños Morelos, Año: 1938. CIDEP-SEP
Las Imágenes 8 y 9 son representativas de las actividades domésticas promovidas por
el Kindergarten con el objetivo de preparar al niño para la vida futura y formarlo como
ser laborioso. El Programa del Jardín de Niños de 1934 incluía para los dos grados que
lo constituían, actividades domésticas donde los párvulos pudieran realizar acciones
del hogar y prepararse para la vida futura292.
En la fotografía 8 se observa a un grupo de seis niñas lavando trastes, las cuales se
encuentran en un espacio abierto en el cual el mobiliario y material es acorde a su
tamaño. Posiblemente se construyeron las condiciones para la captura de la imagen,
pues cuatro de ellas están de frente y es posible mirar con claridad lo que están
haciendo, además de que sus cuerpos se ven estáticos y su gesto es serio. Este tipo de
labores domésticos eran considerados propios de las mujeres, por lo que desde
pequeñas se les preparaba para un buen desempeño de ellos.
En la imagen 9 aparece en primer plano un grupo de tres niños realizando
actividades de carpintería bajo la vigilancia de una maestra. En segundo plano aparece
una maestra sentada de espaldas al fotógrafo acompañando a otro grupo de niños en
una actividad donde no es posible distinguir si se trata del mismo juego u otro diferente.
Al fondo se observa a un grupo de padres de familia y una manta donde se alcanza a
leer “en la comunidad”, por lo que es factible pensar que se trata de una posible
demostración de los avances alcanzados por los niños. Ello sugiere la contribución del
Kindergarten para el mejoramiento de la sociedad y la estrecha relación de las
actividades en la formación de niños trabajadores. Los niños se encuentran muy bien
peinados y aseados. En ambas fotografías la idea del orden se observa en las
actividades, los participantes realizan una misma tarea y al mismo tiempo.
Conclusiones
En este trabajo se han considerado las imágenes como imitación cercana de la realidad
y como el registro de un acontecimiento realizado en un momento y tiempo real. Quisiera
resaltar la apreciación de imitación cercana de la realidad pues, algunas fotografías
pudieron ser construidas con un objetivo específico, lo que significa que no
necesariamente la vida cotidiana del Kindergarten fuera como se muestra en las
292 Ibídem., tomo II, 1934, pp. 328-333.
538
imágenes. Sin embargo, esto no demerita su valor como evidencia histórica que nos
aporta información verdadera: vestimenta de los niños y maestras, características de los
espacios escolares, mobiliario, material didáctico, etcétera.
Para el objetivo de este trabajo, las fotografías permitieron interpretar momentos
de realidad tomando siempre en cuenta que la lectura que se hizo de ellas fue con
muchos años de distancia del momento en que fueron capturadas. Su interpretación fue
posible al considerar otros acontecimientos y procesos ocurridos en los lapsos en que
se tomaron. De esta manera las fotografías nos permiten ser testigos oculares de la
historia del Kindergarten y de las representaciones de infancia del siglo XX.
Las fotografías hacen visibles discursos pedagógicos, conceptualizaciones de la
infancia, del Kindergarten y sus transformaciones; en ellas los niños son el centro de
atención. Es así como se va construyendo una infancia sobre la cual hay distintas
opiniones, pero a la que en términos generales se le va otorgando mayor relevancia
social; en consecuencia, también a su educación y condiciones de vida. En las
fotografías se observan cambios y elementos constantes. Es decir, las ideas que se
tenían sobre los niños transitaron de su analogía con una planta y elementos de la
naturaleza como flores y mariposas, caracterizándolos con la libertad, espontaneidad,
debilidad, gracia, alegría, ternura, lealtad, necesidad de nutrirlos con precaución y
brindarles actividades que evitaran su pereza corporal e intelectual; a representaciones
que sin dejar a un lado lo ya mencionado, agregaban elementos como el que fueran
distintos de los adultos, saludables, unidos, obedientes y bondadosos. Entonces la niñez
de 4 a 6 años significó la etapa más interesante de la vida donde los infantes se
encontraban en pleno crecimiento, se les reconocían características, derechos,
necesidades de cuidado y educación concretas, quienes además eran miembros de la
sociedad que debían ser preparados para la vida futura.
El entorno escolar de la pequeña infancia fue cambiando paralelamente con sus
representaciones, influenciándose mutuamente. El Kindergarten pasó de ser visto como
institución de cuidado y protección, morada de tranquilidad e inocencia a una escuela
benéfica para los niños que les brindaba además educación, los preparaba para los
siguientes niveles, mejoraba su medio social y un espacio en concordancia con sus
características. El juego se mantuvo a lo largo del tiempo como un elemento propio del
niño que reflejaba su mayor grado de desarrollo pero también como actividad por medio
de la cual se recreaba y desarrollaba sus capacidades. Otras constantes fueron el orden
y la protección expresados tanto en el discurso pedagógico como en las fotografías
analizadas. La limpieza y el decoro en el arreglo personal de los niños están muy
presentes en las imágenes. Finalmente, la interpretación de las imágenes utilizadas para
539
este trabajo no termina aquí, reconozco que pueden ser leídas desde diversas
perspectivas que resalten detalles no dichos.
Bibliografía
Acevedo Rodrigo, A. (2011). Muchas escuelas y poco alfabeto: la educación rural en el
Porfiriato, México, 1876-1910. En Civera Cerecedo, A., Alfonseca Giner de los
Ríos, J. y Escalante Fernández, C. (coord.). Campesinos y escolares. La
construcción de la escuela en el campo latinoamericano siglos XIX y XX (pp. 73–
105). México: Porrúa.
Burke, C. y Ribeiro de Castro, H. (2007). Photograph: Portraiture and the Art of
Assembling the Body of the Schoolchild. History of Education, 36 (2), 213–226.
Campos Alba E. (2013). De la escuela de párvulos a los jardines de niños. Construcción
de la cultura escolar en la educación preescolar del Estado de México 1881-1926.
México: El Colegio Mexiquense A. C.
Castillo Troncoso, A. (2006). Imágenes y representaciones de la niñez en México a
principios del siglo XX (pp. 83–115). En Reyes, A. de los (coord.) Historia de la
vida cotidiana en México. Siglo XX. La imagen, ¿espejo de la vida? Tomo V,
volumen 2. México: COLMEX-FCE.
Comas Rubí, F. y Sureda García, B. (2012). The photography and Propaganda of the
Maria Montessori Method in Spain (1911-1931). Pedagogica Historica.
International Journal of the history of education, 48 (4), 571–587.
Fröebel, F. (1923). La educación del hombre. Estados Unidos: D. Appleton y Compañía.
Galván Lafarga, L. y Zúñiga, A. (s/f). De las escuelas de párvulos al preescolar. Una
historia por contar. Revisada el 21 de abril, 2015. Tomado de Diccionario de
historia de la educación en México
http://www.bibloweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_25.htm
Grosvenor, I. (1999). On Visualising Past Classrooms. En Grosvenor, I., Lawn, M. y
Rousmaniere, K. Silences and Images, (83–104). New York: Peter Lang
Publishing.
Solana, F., Cardiel Reyes, R. y Bolaños Martínez, R. (coordinadores). (1981). Historia
de la educación pública en México (1876-1976). México: Fondo de Cultura
Económica (FCE)-Secretaría de Educación Pública (SEP)
Archivos
Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (AHSEP)
Archivo General de la Nación (AGN)
Banco de imágenes del Centro de Investigación y Difusión de Educación Preescolar
(CIDEP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
540
Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM)
REPRESENTAÇÕES DE INFÂNCIAS DIRIGIDAS AOS PAIS-LEITORES DA
REVISTA PAIS & FILHOS (1960-1970)
Liana Pereira Borba dos Santos293
Universidade do Estado do Rio de Janeiro [email protected]
A revista Pais & Filhos, cujo slogan de lançamento a caracterizava como “a
revista da família moderna”, foi lançada em setembro de 1968 e teve como seu
idealizador e primeiro diretor Adolpho Bloch294, sendo atualmente produzida pela Editora
Manchete295, caracterizando-se como uma das publicações periódicas de maior
longevidade do mercado brasileiro.
No exemplar dedicado à comemoração de 10 anos da revista, publicou-se a
seguinte declaração de José Itamar Freitas, primeiro diretor do periódico, que possibilita
a reflexão sobre a criação de Pais & Filhos:
293 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora efetiva de Educação Infantil do Colégio Pedro II. Trata-se de pesquisa em andamento desenvolvida junto ao grupo de pesquisa Infância, Juventude, Leitura, Escrita e Educação/Proped – CNPQ.
294 Adolpho Bloch (1908-1995) foi um empresário nacional que atuou nos ramos da imprensa e da televisão. Em 1952, ele criou a Revista Manchete, que atingiu grande tiragem nacional ao longo de sua história, e fundou, em 1983, a Rede Manchete de Televisão.
295 Pais & Filhos foi publicada pela Bloch Editores S.A. até dezembro de 2001. No ano de 2000, a empresa declarou falência e sua massa falida foi comprada em 2002 pelo empresário Marcos Dvoskin, que criou a Editora Manchete. Em 2003, a nova editora retomou a publicação de Pais &e Filhos, o que segue até os dias atuais.
541
Pais & Filhos, a revista mensal da família moderna. E era. Porque não se fizera nada igual, ainda, no jornalismo brasileiro, nem lá fora. Não precisa perguntar, eu respondo: havia revistas americanas, francesas e italianas que podiam ter servido de modelo, de ponto de partida, de parâmetro, de ideia de mercado. Havia a pergunta essencial: será que o Brasil está pronto para uma revista que fale de amor, casamento, embrião, feto, parto, bebê, adolescente, escola, educação sexual, psicologia, o universo familiar? (PAIS & FILHOS, n. 12, agosto de 1978, p. 85).
No texto, constatam-se as motivações para a criação da revista, como o
interesse em discutir aspectos relacionados à família, sexualidade, comportamento,
saúde e educação, concomitante à inserção em um nicho comercial ainda pouco
explorado no mercado brasileiro.
No editorial do mesmo exemplar, assinado por Adolpho Bloch, então diretor da
Bloch Editores S.A., pode-se ler mais informações acerca dos objetivos da publicação,
destacando-se o interesse em contribuir para a formação do povo brasileiro, em que a
criança é apresentada como “homens do amanhã”:
É uma revista jovem. Está fazendo 10 anos. Ajudou a formar uma geração de crianças que serão os homens de amanhã, responsáveis por um Brasil Grande. A seriedade e a variedade dos nossos temas, selecionados e editados por especialistas em psicologia, puericultura e psicologia, tornaram PAIS & FILHOS a revista da família brasileira. Continuaremos a trabalhar, cada vez mais, para dar ao Brasil aquilo que um país mais necessita: GENTE” (PAIS & FILHOS, n. 12, agosto de 1978, p. 2).
A leitura de tal trecho também permite problematizar o fato de que os pais-
leitores da revista teriam a responsabilidade de formar um “Brasil Grande”, em que seus
filhos seriam os cidadãos do futuro. No entanto, tal afirmação parece atribuir a um
determinado segmento social essa missão, excluindo os não-leitores desse movimento.
Cabe destacar que a leitura da revista trouxe indícios de que seu público-alvo
era composta por leitores das camadas médias da sociedade, com poder aquisitivo para
adquiri-la mensalmente e que provavelmente tinham seus filhos matriculados em
instituições de ensino privadas, considerando que esse tipo de instituição era
recomendado em muitos artigos. Além disso, poderiam consumir os inúmeros produtos
anunciados em suas páginas, como alimentos infantis industrializados, fraldas
descartáveis, brinquedos, roupas e sapatos, que em grande medida não eram
acessíveis para as camadas menos favorecidas da sociedade. De modo preliminar,
esse cenário indica a peculiaridade da dimensão sociológica das crianças
representadas nas páginas de Pais & Filhos, considerando que nem todas as famílias
tinham acesso a esse tipo de bem cultural ou se interessavam pelas temáticas ali
apresentadas.
542
Conforme valorizado por Bloch, o periódico contava com uma equipe de
profissionais consultores, provenientes de áreas como pediatria, psicologia, psiquiatria,
pedagogia, ortopedia, foniatria, entre outros, cuja identificação era apresentada na
página inicial dos artigos, ao lado dos redatores da equipe de Pais & Filhos, e na lista
de consultores comumente publicada em suas últimas páginas.
Faz-se necessário refletir sobre a questão da autoria e da estratégia do uso de
consultores na revista. Dialoga-se com Foucault (2001), para quem a noção de autor,
comumente disponível na sociedade, representa o momento crucial da individualização
na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, e também na história das
filosofias e das ciências. Ele questiona: o que de fato é a obra de um dado autor? A
quem se aplicaria a autoria?
No caso do impresso em questão, não se pode atribuir autoria a uma única
pessoa, ou ao redator do texto. Os artigos eram elaborados a partir do diálogo com os
consultores especializados. A valorização dessa equipe parece caracterizar um certo
modo de ser do discurso, revelando que os textos não são palavras cotidianas, “mas
que se trata de uma palavra que deve ser recebida de uma certa maneira e que deve,
em uma dada cultura, receber um certo status” (FOUCAULT, 2001, p. 274).
O periódico, cujos exemplares somam cerca de 132 páginas, é marcado pelo
potencial de divulgação de discursos sobre infância, contribuindo para a formação dos
leitores-pais das camadas médias da sociedade sobre questões pertinentes à gestação,
cuidados médico-higiênicos, alimentação, educação e sexualidade de crianças e
adolescentes. Merecem destaque, nesse contexto, suas principais colunas:
a) Os Conselhos do Dr. De Lamare296 que trazia informações e dicas sobre os cuidados
com os bebês, fundamentadas no campo da pediatria e da puericultura;
b) Menu do Bebê, contendo receitas consideradas saudáveis e apropriadas para a faixa
etária;
c) Criança diz cada uma, assinada por Pedro Bloch297, era um espaço dedicado à
apresentação de falas e fatos infantis curiosos e engraçados observados pelo autor;
296 Rinaldo De Lamare (1910-2002) foi um importante pediatra brasileiro, colunista de Pais & Filhos e autor do livro A Vida do Bebê, editado até hoje. Nos primeiros exemplares dos anos 1970, sua seção era veiculada no formato de suplemento destacável, com cerca de oito páginas. Ao longo da década, seus textos passaram a ocupar duas páginas no interior da revista, sendo publicados até os anos 1990.
297 Pedro Bloch (1914-2004) era membro da família dona da editora e foi um médico foniatra, jornalista, compositor, poeta, dramaturgo e autor de diversos livros infanto-juvenis e científicos, alguns divulgados em propagandas nas páginas de Pais & Filhos.
543
d) Advogado da família trazia respostas às perguntas dos leitores, como questões
relativas aos processos de separação, desquite e guarda dos filhos. Foi assinada nos
anos iniciais por Dr. Haroldo Lins e Silva, seguido por Dr. Paulo Lins e Silva;
e) Jornal Pais & Filhos apresentava matérias sobre aspectos culturais ao redor do
mundo, como dicas de espetáculos teatrais, filmes, discos e produtos lançados no
mercado brasileiro;
f) Espaço de correspondência dos leitores, existente desde o início da revista, nomeado
como Cartas e Pais e Filhos escrevem (1968, 1970 e 1980), com a proposta de receber
perguntas de leitores sobre Psicologia, Ginecologia, Pediatria e outras áreas, com a
publicação da resposta por consultores especializados298.
No que diz respeito à sua circulação, Pais & Filhos era produzida no Rio de
Janeiro, no bairro de Parada de Lucas, e circulava em todo país. No quadro editorial da
publicação, Identificaram-se indícios de sua circulação em cidades como Nova Iorque,
Paris, Milão e Tóquio:
Pais & Filhos, set. 1970, n. 1, p. 178.
Faz-se necessário, ainda, identificar o possível público-leitor da revista. Nos anos
iniciais, a revista parecia ser destinada às mães e aos pais das camadas médias da
sociedade. Como exemplo, constataram-se uma série de artigos que traziam homens
298 Na apresentação da sessão é possível ver a recomendação de leitura da mesma, pois “nas cartas dos leitores aqui respondidas, você pode encontrar solução para algum problema que esteja enfrentando: seja na educação dos filhos, na sua vida conjugal ou mesmo um pedido de informação. Dificuldades que podem, às vezes, parecer intransponíveis, tornam-se mais simples quando orientadas por um especialista” (Pais & Filhos, ago. 1979, n. 12, p. 102).
544
em contato com as crianças e problematizavam dificuldades e problemas vivenciados
pela figura paterna:
Pais & Filhos, dez. 1968, n. 4, p. 4-5
O artigo abordava o desenvolvimento do bebê nos meses que sucedem o seu
nascimento, contemplando questões físicas (como alimentação e sono) e psicológicas
(como a progressiva interação com os outros). A mãe era destacada na amamentação
e cuidado da criança, enquanto o pai era caracterizado como estimulador do recém-
nascido, a partir da realização de brincadeiras e gestuais. Ambos deveriam participar
dos momentos de descoberta vivenciados pelo bebê.
Conforme dito anteriormente, a publicação vigora até os nossos dias, sendo
publicada no formato impresso e digital299. Pais & Filhos desfruta de uma longevidade
notável se comparada às demais revistas lançadas no Brasil no período, aspecto
valorizado no editorial assinado pela então diretora-executiva Sylvia Leal:
Festa de aniversário é uma delícia. Mas para uma revista que completa 32 anos, com o respeito do seu leitor, ela é ainda mais saborosa. [...] Queremos que você vibre, como nós, ao ver que, apesar dos problemas, essa família vai bem, com uma receita simples: muito amor. Agradecemos pelo carinho de tantas gerações orientadas pela revista. É o que nos estimula a buscar, sempre, o melhor (Pais & Filhos, out. 1999, n.12, p.3).
Tal situação causou inquietação sobre a atualidade do periódico em questão,
considerando a sua função de divulgadora de discursos e representações sociais sobre
infância na sociedade brasileira ao longo de seus mais de 40 anos de existência. Nesse
299A versão online pode ser visualizada no endereço:< http://www.paisefilhos.com.br/revista>.
545
sentido, a investigação emerge das práticas que valorizam a imprensa como espaço de
educação não formal, tida muitas vezes como um veículo que atinge as famílias de
modo mais fácil, objetivo e até mesmo lúdico. Levando em considerações esses
apontamentos, como a revista Pais & Filhos contribuiu para a construção de
determinadas representações de infância? Que discursos em torno da infância eram
divulgados em suas páginas? Pode-se falar de uma infância específica a partir dos
discursos veiculados em Pais & Filhos?
Infâncias em revista
Este estudo teve por objetivo analisar as representações de infâncias dirigidas
às mães e pais leitores da revista brasileira Pais & Filhos, a partir de um recorte histórico
nos anos 1960 e 1970. De modo específico, pretendeu-se analisar os discursos que
circulavam nos artigos e colunas desse impresso, relacionando-os às instituições afins,
como famílias, espaços escolares e médicos.
O corpus documental deste estudo foi composto por vinte e quatro exemplares
da publicação, de 1968 a 1979, conforme disposto no quadro abaixo:
Tabela 1 - Exemplares da revista Pais & Filhos por ano/mês de publicação
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
set jan jan jan jan jan jan mar jan fev mar jan
dez set set set out nov ago set out dez ago ago
A consulta ao acervo foi realizada na Fundação Biblioteca Nacional - FBN,
localizada na cidade do Rio de Janeiro, assim como nas versões digitais disponibilizadas
no website da própria revista300. Na FBN, Pais & Filhos está disponível para consulta no
formato original. Algumas coleções foram encadernadas e outras são disponibilizadas
em pastas.
300 A Biblioteca Nacional possui o acervo impresso de Pais & Filhos de janeiro de 1969 a agosto de 2010. Os seguintes exemplares estão disponíveis no formato digital: a) Revista Pais & Filhos, n. 1, set. 1968 (http://issuu.com/arquivopaisefilhos/docs/revistapaisefilhosnumero1); b) Revista Pais & Filhos, n. 4, dez. 1968 (http://issuu.com/arquivopaisefilhos/docs/revistapaisefilhosnumero4); c) Revista Pais & Filhos, n. 12, ago. 1979 (http://issuu.com/arquivopaisefilhos/docs/p_f1_facing_page3); d) Revista Pais & Filhos, n. 137, set. 1980 (http://issuu.com/arquivopaisefilhos/docs/p_f1_facing_page).
546
Pais & Filhos, coleção jul-dez 1969.
Pais & Filhos, coleção jul-dez 1975.
Tal distinção potencializa o olhar sobre a fonte, pelo fato de que, nos exemplares
avulsos, é possível atentar para detalhes presentes nas lombadas, como títulos de
matérias de destaque no exemplar, assim como ler informações relativas ao preço e ao
ano, impressas no canto esquerdo. Já na coleção encadernada, essas informações não
ficam visíveis.
Destaca-se a aproximação com o campo da história cultural, por considerar que
a mesma propõe “um espaço de trabalho entre textos e leituras, no intuito de
compreender as práticas, complexas, múltiplas, diferenciadas, que constroem o mundo
como representação” (CHARTIER, 1990, p. 28).
Nesse contexto, acredita-se que a incorporação das contribuições de tal
abordagem historiográfica potencializa os caminhos de uma pesquisa “cujo objetivo é
compreender como determinadas visões de mundo – materializadas em produtos
culturais – foram produzidas por diferentes grupos sociais” (LOPES, GALVÃO, 2010, p.
33).
Considerando que este trabalho se pauta no estudo de representações sociais,
é importante indicar que, na perspectiva da história cultural, o conceito de representação
pode ser compreendido como:
Instrumento de um conhecimento mediato, que faz ver um objeto ausente através de sua substituição por uma imagem capaz se o reconstruir em memória e de figurá-lo tal como ele é. [...] Uma relação compreensível é, então, postulada entre o signo visível e o referente por ele significado – o que não quer dizer que seja necessariamente estável e unívoca (CHARTIER, 1990, p. 20).
547
A análise das representações de infância se insere no campo de estudos da
história cultural, emergindo no contexto de renovação e revisão metodológica. Peter
Burke, ao analisar o processo de emergência da História Cultural, coloca a infância ao
lado de outras temáticas até então pouco empregadas, como história da juventude, da
morte, da sexualidade, por exemplo.
Burke indica que os estudos sobre a infância, em grande medida, pautam-se no
papel de “criança”, definido pelas expectativas dos adultos. Para o autor, o conceito de
papel social é “definido com base nos padrões ou normas de comportamento que se
esperam daquele que ocupa determinada posição na estrutura social”, e, neste caso,
nos modos de ser veiculados nas revistas. Tal indicação colabora na compreensão
plural do próprio conceito de infância, já que “o que denominamos ‘infância’ na Idade
Média deve ter sido muito diferente de qualquer coisa que os ocidentais vivenciam na
atualidade[...] e a sugestão de que ‘criança’ é um papel social permanece válida”
(BURKE, 2012, p. 79).
No campo da historiografia da infância, também se destacam estudos que
identificam a infância como uma experiência individual e coletiva, constituída nos
espaços vividos e marcadas pelos símbolos sociais. Kuhlmann Jr. e Fernandes (2004)
compreendem a infância como a concepção ou a representação que os adultos fazem
sobre o período inicial da vida, ou como o próprio período vivido pela criança, o sujeito
real que vive essa fase da vida. A história da infância seria, então, a história da relação
da sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe de idade; a história da criança
como história da relação das crianças entre si e com os adultos, com a cultura e a
sociedade.
A partir dos apontamentos tecidos, destaca-se a necessidade de
problematização das pesquisas com a temática da infância no campo da história da
educação, especialmente em um recorte temporal mais próximo do tempo presente. Em
grande medida, os estudos se debruçam sobre representações de infância que
circulavam no âmbito escolar, fazendo uso de documentos escolares, fotografias,
indumentárias e demais registros. Contudo, faz-se necessário também conhecer os
discursos sobre infância que circulavam em outros espaços sociais, ainda que não
formais, como é o caso da imprensa periódica de grande circulação.
Kuhlmann Jr. colabora com a reflexão, ao indicar que “ historiografia da
educação tem buscado ultrapassar os limites de uma tradição que toma como ponto de
partida exclusivamente o interior do âmbito educacional e escolar”, compreendendo a
educação como elemento “constitutivo da história da produção e reprodução da vida
social”. Nesse contexto, a “história da infância assume uma dimensão significativa nessa
perspectiva de alargamento de horizontes” (KUHLMANN JR, 2010, p. 15).
548
Benjamin (2003) também valoriza a abordagem histórica da infância, ao
apresentá-la como categoria social comum, permeada pelas dimensões sociais,
econômicas, políticas e culturais que transcendem a vida das crianças, concomitante a
compreensão de experiência singular, materializada no cotidiano das mesmas. Diz
ainda que as sociedades e as épocas condensam, em “pequenos artefatos”, os
significados que as crianças têm na cultura ou aquilo que a sociedade delas espera,
como brinquedos, livros e, até mesmo, em revistas sobre a temática da infância,
conforme o estudo em tela.
Nesse sentido, ajudou-me a pensar que os exemplares da revista Pais & Filhos,
em suas propagandas, artigos, fotografias e imagens, podem ser considerados como
“estilhaços da ampla realidade social”, servindo para divulgar, refletir, problematizar ou
criticar formas de ser criança no período estudado. Estilhaços que ligam a materialidade
das pequenas experiências cotidianas, como ir à banca de jornal para comprar Pais &
Filhos, chegar em casa, sentar-se para folhear e ler a revista, às grandes
transformações sociais vividas no período estudado, que se apresentam como férteis
campos de observação do espírito cultural de uma época.
A infância sob a lente da psicologia
Em relação ao campo mais amplo de representações de infância, observou-se
em Pais & Filhos a emergência de uma categoria discursiva marcada por uma
abordagem psicológica da infância. Na leitura de exemplares dos anos 1960-1970,
constatou-se a efervescência de discursos em torno de uma educação ancorada nos
paradigmas mais afinados com o campo da Psicologia, presentes em artigos sobre o
desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças.
De modo recorrente, valorizava-se a dimensão lúdica do brincar e sua relevância
para o desenvolvimento da criança, como pode ser exemplificado pelo artigo “Seu filho
sabe que você o ama?”, de Léa Lerner:
Se os pais se orientam pelos interesses dos filhos, perceberão que é através de uma atividade mais livre do jogo e brinquedo que ele se desenvolve, descobre o seu papel, experimenta seus limites e possibilidades, forma um conceito mais real de si mesmo, aprende a se relacionar com o mundo. É, portanto, uma prova de amor respeitar a atividade lúdica da criança, pois é através dela (e não através de sermões e explicações) que a criança aprende a distinguir seus desejos da realidade, ou a ter iniciativa e autonomia (PAIS & FILHOS, set. 1968, n.1, p. 12).
549
No fragmento, pode-se constatar a representação de infância associada à
brincadeira, em que se criticou a prática explicativa de transmissão verbal de
conhecimentos, em detrimento às experiências práticas, consideradas potenciais
desenvolvedoras de iniciativa e autonomia.
Por outro lado, a relação da criança com o brinquedo não foi sempre apresentada
como algo natural ou espontâneo, na medida em que se observou artigos que sugeriam
brinquedos pertinentes a faixas etárias, reforçando o discurso de campos da psicologia
que enfatizavam as etapas do desenvolvimento. No artigo “Brinquedos”, veiculado na
edição de Natal de 1977, notou-se a ênfase a escolha do brinquedo de acordo com a
etapa de desenvolvimento cognitivo:
Na hora de escolher, leve em conta o desenvolvimento da criança. Ah, não existe nada pior!... A gente compra um brinquedo com todo carinho mas, ao abrir o embrulho, a criança nem tenta - pois não sabe – esconder seu desagrado. É um caso de dupla decepção: de quem dá e de quem recebe o presente. Evitar que isso aconteça é humanamente possível. Afinal, as reações infantis são imprevisíveis. Com alguns conhecimentos a respeito do desenvolvimento da criança, entretanto, fica mais fácil acertar na escolha do presente de Natal que irá agradar a ela (PAIS & FILHOS, dez. 1977, n.4, p. 8).
É interessante observar, a partir da leitura do trecho acima, como o
conhecimento sobre o desenvolvimento infantil é vulgarizado, a fim de garantir, por
exemplo, o sucesso da troca de presentes e a alegria da criança.
A matéria “O trono do reizinho” abordou o período de desfralde da criança.
Assinada por Laís Gama e Silva, com a colaboração dos consultores José Francisco
Gama e Silva, psicólogo clínico, e Dr. Jayme Vaisman, da equipe de pediatra de Pais &
Filhos, constatou-se uma forte referência ao campo de saberes da Psicologia, com
citação de obra de D. W. Winnicott301:
Lembro-me de um trecho do livro “A criança e a família”, do Dr. D. W. Winnicott, psicanalista inglês, que diz: “A palavra adestramento sempre me fez pensar em cuidado com os cachorros. O cachorro,
301 Donald Woods Winnicott (1896-1971), nascido na Grã-Bretanha, foi pediatra, psiquiatra e psicanalista infantil que atuou por mais de 40 anos no Paddington Green Hospital for Children. Colaborou em jornais médicos, psiquiátricos e psicanalíticos, escrevendo também sobre problemas das crianças e das famílias em revistas destinadas ao público em geral. Seu diferencial no campo da Psicanálise foi a decisão de estudar o bebê e sua mãe como “unidade psíquica”, destacando também o conceito de “Preocupação Materna Primária”, como mecanismo importante para envolvimento emocional entre mãe e bebê. Em linhas gerais, a teoria de Winnicott baseia-se no fato de que a psique não é uma estrutura pré-existente e sim algo que vai se constituindo a partir da elaboração imaginativa do corpo e de suas funções – o que constitui o binômio psique-soma. FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PSICANÁLISE. Biografia Donald Woods Winnicott. Disponível em: < http://febrapsi.org.br/biografias/donald-woods-winnicott/>. Acesso em: 28 nov. 2015.
550
porém, não precisa crescer até converter-se em um ser humano, de modo que quando nos referimos a um bebê, devemos partir do começo e o melhor é ver até que ponto podemos deixar de lado a palavra adestramento”. Nenhuma pressão vinda de fora apresenta bons resultados, porque a criança se desenvolve de dentro para fora. A pediatria aponta a maturação progressiva do sistema nervoso como a determinante da ocasião ideal do controle dos esfíncteres. E esta maturação acontece em torno dos 18 meses. A explicação foi dada pelo pediatra (PAIS & FILHOS, jan. 1969, n. 5, p. 17).
Vê-se que o discurso científico em torno da infância é valorizado, em detrimento
de práticas sociais correntes em relação ao desfralde, prevalecendo a maturação
biológica como elemento relevante para o controle das necessidades fisiológicas.
Destacou-se também a afirmação de que o desenvolvimento da criança se dá de dentro
para fora, demonstrando um discurso valorizador da dimensão individual do
desenvolvimento.
A revista publicou também artigos sobre os processos de socialização e
construção de amizades e manifestações de curiosidade e de indagação diante do
mundo. Como exemplo, identificamos a representação de infância marcada pela
curiosidade no artigo “A terrível idade das perguntas”, cujo texto é de André Pinheiro,
com consultoria de Maria Alice Lisboa, psicóloga do CEPA (Centro Editor de Psicologia
Aplicada):
As pesquisas mostraram que geralmente o adulto se sente amedrontado diante de uma criança. Os pais, na sua maioria, desejam mostrar uma imagem mistificada. Para que seus filhos não percebam um sinal de fraqueza, utilizam meios que vão desde a criação de um ambiente rígido, isto é, a fraqueza camuflada por uma força aparente, até as respostas evasivas. [...] Quando a criança é pequena, as respostas devem ser diretas e firmes. Uma ideia mal definida poderá trazer ansiedade. Mas, com os mais velhos, a possibilidade de diálogo é cada dia mais real e bem cedo vários assuntos poderão ser discutidos (PAIS & FILHOS, set. 1968, n. 1, p. 84).
No que diz respeito à divulgação de modos de agir indicados às mães e pais
leitores de Pais & Filhos, chamou a atenção a recorrência ao tema da sexualidade
infantil. O assunto era abordado em artigos, na sessão de cartas dos leitores e até em
suplementos especiais.
Algumas matérias traziam clara referência aos conhecimentos da Psicanálise,
como a intitulada “O universo sexual da criança segundo Freud, que favorece a
vulgarização das etapas do desenvolvimento psicossexual das crianças, ao indicar que:
A sexualidade, segundo Freud, se expressa na criança em fases distintas, nas quais o instinto sexual se localiza, sucessivamente,
551
em diferentes zonas erógenas, que são partes da epiderme ou das mucosas onde o estímulo do prazer emite suas sensações. Como, na criança, este instinto consiste em fazer surgir a sensação pelo estímulo a esta ou àquela zona erógena, compreende-se o objetivo sexual infantil como o da gratificação (PAIS & FILHOS, mar. 1975, n. 7, p. 78).
Virginia Schindhelm (2011) colabora com a discussão, ao apontar que os
discursos contemporâneos sobre a sexualidade infantil se aproximam dos estudos de
Freud. A autora cita a obra Três Estudos sobre a Teoria da Sexualidade (FREUD, 1905)
como marco para a construção de uma nova concepção de infância e de sua
sexualidade, ao indicar, em sua teoria, “que as experiências e condutas sexuais infantis
contribuem para a vida e o comportamento da pessoa adulta” (p. 2).
Dialoga-se também com Foucault em relação ao dispositivo da sexualidade,
caracterizado como:
O nome que se pode dar a um dispositivo histórico que constitui a grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação dos discursos, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder (FOUCAULT, 2009, p. 117).
No caso específico da sexualidade da criança, Foucault ressalta que pode ser
compreendida enquanto meio pelo qual “a família sólida, afetiva, substancial e celular
se constituiu e ao abrigo do qual a criança foi subtraída da família”. Para ele, a sociedade
moderna experimenta um processo de institucionalização dos discursos sobre a
infância, em que a sexualidade assume papel de destaque como “um dos instrumentos
de troca que permitiram deslocar a criança do meio da sua família para o espaço
institucionalizado e normalizado da educação” (2001, p. 226-227). Educação que, como
vimos, se constrói também por meio de veículos culturais como as revistas.
Por uma infância educada
As representações de infância relacionadas ao contexto escolar ganharam
crescente espaço, identificadas nas discussões relacionadas à educação das crianças
pequenas em espaços como creches e maternais. O cuidado e a educação eram
apontados como atributos da família, observando-se também matérias que tematizavam
a escolha entre babás, avós ou creches.
O artigo “Separação mãe e bebê”, assinado por Talita Cavalcanti e com o
psicólogo clínico Hindemburgo como consultor, discutia o dilema vivido pelas mulheres
com o fim da licença maternidade e a situação de afastamento mãe e bebê. O fragmento
552
a seguir apresenta modos de agir sugeridos pela revista em relação à escolha entre
babá, avó ou creche:
Quando chega a hora de escolher quem vai tomar conta da criança, os pais devem levar em consideração os seguintes pontos principais: 1 – os requisitos necessários da pessoa a ser indicada para a tarefa; 2 – a pessoa escolhida deve ter um conhecimento prévio do que os pais exigem. [...] Em relação à creche, as opiniões são contraditórias até mesmo entre os psicólogos infantis. Muitos condenam a colocação de bebês muito novos na creche, alegando a necessidade que eles ainda têm, nesta primeira fase da vida, de receber a atenção exclusiva da mãe (PAIS & FILHOS, fev. 1977, n. 6, p. 81).
Nota-se que a revista dialogava com o cenário social em questão, em que as
mulheres já desempenhavam de um papel social no âmbito público, com o trabalho
realizado fora do espaço doméstico. Por outro lado, tal realidade implicava em novas
formas de cuidado educação dos filhos pequenos e na necessidade de escolher a
melhor opção para realizá-la.
Pais & Filhos publicava matérias com informações relativas aos preços de
mensalidades e produtos escolares, incluindo sugestões de instituições de diversas
cidades do Brasil. O artigo “Eles vão para a escola” (PAIS & FILHOS, dez. 1973, n. 4,
p.118-125) serve de exemplo, pois apresenta orientações sobre a escolha da escola
pelos responsáveis, trazendo critérios que devem ser considerados, como proximidade
de casa, atividades oferecidas, investimento financeiro e método de ensino302.
As páginas seguintes apresentam sugestões de instituições em cidades
brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador,
Recife e Brasília. O quadro abaixo sintetiza as escolas sugeridas na cidade do Rio de
Janeiro, assim como a linha pedagógica que caracteriza as instituições:
Nome Tipo Público Linha Pedagógica
Colégio Israelita Brasileiro Scholem Aleichem
Particular Maternal ao 2º grau Síntese de Piaget e utilização de material montessoriano
Escola Parque Particular Maternal ao primário
Global
Escola Dinâmica do Ensino Moderno (EDEM)
Particular Maternal ao primário
Enfoque psicológico gestaltista e método de ensino baseado na Escola Ativa e nos estudos de Piaget
302 Em quadro disponível na página 124 do número em questão, os seguintes métodos são apresentados, articulando suas principais características e idealizados: Método Global (inspirado em Dewey); Método Piaget; Método Montessoriano; Método personalizado (inspirado em Neill)
553
Colégio Teresiano (Cap PUC) Particular Maternal ao clássico
Personalizado, com material montessoriano
Instituto de Educação Pública Pré-primário ao ensino Normal
Sem indicação
Escola Minas Gerais Pública Classe de alfabetização ao primário
Sem indicação
Escola Shakespeare Pública Classe de alfabetização ao primário
Sem indicação
Cabe destacar que as instituições sugeridas mantêm suas atividades até os dias
atuais e, no caso das instituições particulares, atendem a uma parcela da população
com poder aquisitivo elevado.
De modo geral, os artigos publicados valorizavam perspectivas pedagógicas
mais articuladas ao contexto de renovação dos métodos de ensino. Nos anos 1960 e
1970, eram frequentes as matérias sobre instituições montessorianas e construtivistas,
e até mesmo entrevistas com alunos de escolas ditas liberais, como Summerhill303. A
primeira página da matéria abaixo destaca importantes nomes do cenário educacional,
apresentados como exemplos de uma educação libertária.
Pais & Filhos, set. 1976, n. 1, p. 97
303 Considerada a mais antiga escola democrática do mundo, localizada em Leiston, no Reino Unido e fundada em 1921 por Alexander.S. Neill, autor de obras como Liberdade sem medo e Liberdade sem excesso. Tal perspectiva educacional se baseia na consideração de que as crianças podem escolher as disciplinas e atividades que desejam realizar, sendo o currículo escolar organizado pelas próprias. Cf: <http://www.summerhillschool.co.uk/>. Acesso em 26 nov. 2015.
554
Destacaram-se, ainda, os discursos que relativizavam os papéis
desempenhados pela escola e pela família na formação das crianças, como expresso
no artigo “Não é só na escola que se aprende a viver”, de Elice Munerato, com
colaboração da consultora Esther Ozon-Monfort:
Aprender na escola da vida ou viver na escola? Nem uma coisa nem outra: ambas são fundamentais para a perfeita formação da criança. Não adianta ler mil e uma histórias sobre a reprodução de carneirinhos ou como a vaca dá leite se seu filho nunca viu esses animais numa fazenda. Aulas puramente teóricas cansam a criança e tiram-lhe a curiosidade e o interesse de fazer perguntas. O ideal é unir experiências concretas e ensinamentos teóricos. [...] A verdade não está só nos livros ou nas experiências da vida, mas na aliança dos dois. O papel dos pais modernos é fornecer às crianças oportunidades de desfrutar de ambos os ensinamentos. Elas não devem ficar distantes da realidade; precisam saber enfrentá-la quando for o momento adequado, baseadas na sua vivência e nos exemplos retirados dos livros (PAIS & FILHOS, set. 1969, n. 1, p. 50).
O artigo valoriza aspectos mais relacionados às abordagens metodológicas
ancoradas na experiência prática e na indagação, em detrimento da metodologia
tradicional de ensino, baseada na aprendizagem teórica. Nesse contexto, os pais, para
serem considerados modernos, deveriam ser capazes de educar seus filhos de acordo
com esses paradigmas, mudando suas concepções sobre a aprendizagem infantil, além
de ter condições de matriculá-los em instituições que ofereçam esse tipo de formação.
Considerações finais
Em linhas gerais, pode-se constatar que as páginas Pais & Filhos estavam
permeadas de representações e concepções de infância, como fase da vida marcada
pela curiosidade, pela descoberta da sexualidade, em que se aprende através das
brincadeiras e interações com objetos e pessoas, ganhando destaque a constituição
dos esquemas psicológicos mobilizados pelas trocas afetivas experimentadas nos
primeiros anos de vida.
A análise dos artigos colabora com o entendimento de que a construção de uma
história da(s) infância(s) se estabelece “na relação da sociedade, da cultura, dos
adultos, com essa classe de idade” (KUHLMANN JR, FERNANDES, 2004, p. 15),
tratando-se da busca por conhecer as concepções ou as representações que os adultos
fazem sobre esse período e que colaboram para a construção das crianças reais.
Observou-se, no entanto, que um número considerável de crianças reais foi excluído
dessas representações, como aquelas oriundas dos grupos populares.
555
Sendo assim, espera-se que a investigação contribua para o campo de produção
científica que tem as representações relativas à infância e à sua educação como foco,
assim como para o campo de estudos da Educação que têm a imprensa periódica como
objeto de pesquisa e fonte privilegiada de acesso aos sujeitos sociais, o que permite um
olhar sobre a educação conduzida em espaços para além do âmbito escolar, como é o
caso de Pais & Filhos, um espaço educativo não-formal por excelência.
Referências bibliográficas:
BENJAMIN, Walter. Rua de mão única e Infância em Berlim por volta de 1900. IN: Obras Escolhidas Vol. II. São Paulo: Brasiliense, 2003.
BURKE, Peter. Conceitos centrais In: História e teoria social. São Paulo: Ed. UNESP. 2. Ed. 2012.
CHARTIER, Roger. Introdução: Por uma sociologia histórica das práticas culturais. In: CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel; São Paulo: Bertrand Brasil, 1990.
FOUCAULT, M. História da Sexualidade I: A vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 19ª edição, 2009.
FOUCAULT, M. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
FOUCAULT, Michel. O que é um autor. In: Ditos e Escritos Vol. III. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.
KUHLMANN JR, Moysés, FERNANDES, Rogério. Sobre a história da infância In: FARIA FILHO, Luciano Mendes (Org.). A infância e sua educação: materiais, práticas e representações (Portugal e Brasil). Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 15-33.
KUHLMANN, Jr, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 2010.
LOPES, Elaine Marta Santos Teixeira; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Território plural: a pesquisa em história da educação. 1. ed. São Paulo: Ática, 2010.
SCHINDHELM, Virgínia. G. A sexualidade na educação infantil. Aleph (UFF. Online), v. 16, p. 1-17, 2011.
Fontes consultadas:
REVISTA PAIS & FILHOS. Rio de Janeiro: Bloch Editores, n.1, set. 1968; n.4, dez. 1968; n. 5, jan. 1969; n. 1, set.1969; n. 5, jan. 1970; n.1, set. 1970; n. 5, jan. 1971; n. 1, set. 1971; n. 5, jan. 1972; n. 2, out. 1972; n. 5, jan. 1973; n. 3, nov. 1973; n. 5, jan. 1974; n. 12, ago. 1974; n. 7, mar. 1975; n. 1, set. 1975; n. 5, jan. 1976; n. 2, out. 1976; n. 6, fev. 1977; n. 4, dez. 1977; n. 7, mar. 1978; n. 12, ago. 1978; n. 5, jan. 1979; n. 12, ago. 1979.
556
TRAMAS ESCOLARES ENTRE AS NORMAS E O VIVIDO: AS CARTAS E DIÁRIO
PESSOAL DE ADA THEREZINHA (1946-1952/CAXIAS DO SUL/BRASIL) 304
Pâmela Cervelin Grassi, UDESC, [email protected]
Caxias do Sul, cinco de outubro de 1950. Ada Therezinha, uma jovem moça de
19 anos, extasiada pela paixão por Enio305, iniciara a prática da escrita íntima num diário:
“Foi com o pensamento voltado para ti, Enio, q. comecei esse diário, preenchendo esse
espaço vazio, que mais tarde servirá para recordarmos a mocidade...”. Ali, na
materialidade das folhas brancas, dedicaria minutos e horas de sua rotina cotidiana para
expressar as alegrias e os reveses de sua vida, em especial do seu namoro. Nos anos
anteriores, quando cursava o Ginásio Feminino no Colégio São José, localizado na
mesma cidade, Ada trocara correspondências com Enio, nas quais manifestava seus
desejos e suas expectativas no momento do flerte. A prática da escrita das missivas
perdurou na ocasião do namoro e, concomitantemente, a jovem moça manteve seu
diário íntimo. Após o noivado, os escritos no diário tornaram-se cada vez mais raros até
transformarem-se em folhas em branco. O tempo dedicado aos recônditos escritos do
amor rendeu-se às ocupações preliminares do matrimônio, como a confecção do
enxoval. Do casamento – concretizado em fevereiro de 1952, na Catedral Diocesana,
304 O presente artigo apresenta resultados parciais da dissertação em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em História, na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 305 Os sobrenomes de Ada e de Enio foram preservados, mesmo que seus documentos integram o acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA). Parte-se do princípio que o cuidado no manuseio das informações ali presentes é primordial, visto que a trajetória da família da jovem teve relevância pública e política na cidade.
557
em Caxias do Sul –, restou apenas a lista de convidados, registrada nas últimas páginas
do diário íntimo e cercada por outras marginálias, como o cardápio do enlace
matrimonial, requintado de camafeus, quindins e tortas de morangos. Ada, com 20 anos,
e Enio, aos 23 anos, adentravam na vida de casados, com a constituição de uma nova
família.
O matrimônio pôs fim aos escritos do vivido, mas o desejo de rememoração das
lembranças consumou-se no exercício silencioso e minucioso de guardar. Ada
conservou seu repositório de memórias – o diário íntimo – junto a outros documentos
pessoais que “recordavam a mocidade”, e Enio, por sua vez, zelou com cuidado a
guarda de doze cartas que recebera à época (1946 a 1950), da moça. Hoje,
conservados à ação do tempo, constituem, junto a um amplo conjunto de documentação
pública e particular, o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA), em
Caxias do Sul.
O que contam o diário íntimo e as cartas? A aparente mudez desses
egodocumentos306 nos conduz a um mundo pretérito, dotado da tessitura de tramas
cotidianas e da produção de significados, numa mediação entre passado e presente.
Uma realidade passada torna-se acessível, uma vez que o diário íntimo e as cartas são
vestígios de sensibilidades circunscritas num tempo e espaço. São memórias pessoais
na forma de escrita, que evocam e contam histórias da moça, como a experiência de
namoro, noivado e preparativos para o casamento. Há também vestígios dos seus
momentos amistosos com as colegas do Colégio São José ou o cotidiano depois do
matrimônio, quando era esposa e mãe de três filhos.
Ao contemplá-los e percebê-los como objetos de memória, o exercício da
reflexão propicia a elaboração de perguntas sobre a produção de sentidos que os
sujeitos produziram sobre as experiências vividas, como também as circunstâncias
históricas de produção e de consumo desses suportes da cultura escrita, uma vez que
não se pode entender um texto fora do seu suporte material (CHARTIER, 2002a). O
diário íntimo e o conjunto de missivas apontam para a produção de significados que Ada
conferiu a sua experiência amorosa e para os usos particulares em relação às
representações que circulavam na sociedade, seja com a sustentação das
regularidades ou o fabrico de negociações, desvios e transgressões. A presente
investigação histórica é ancorada, sobretudo, nos estudos da História da Educação e
306 De acordo com Silva (2015), o termo egodocumento foi cunhado em 1958, pelo historiador Jacob Presser, para designar as formas de expressão escrita dos sentimentos e experiências pessoais. O conceito, no âmbito da produção historiográfica, repercutiu nos estudos das cartas, diários, crônicas da família, diário de viagem, entre outros.
558
História da Cultura Escrita, que oferecem subsídios teóricos e metodológicos para a
discussão do tema.
Os vestígios das amizades
Ada Therezinha era uma moça residente de Caxias do Sul, município localizado
no estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, que, no final do século XIX, fora uma das
regiões de imigração italiana. O diário íntimo e as correspondências foram produzidos
quando a cidade presenciava um intenso processo de industrialização e de urbanização
(MACHADO, 2001). A organização da zona urbana de Caxias do Sul, dentro de um
projeto de modernização já sucedido nas grandes cidades brasileiras, apresentava
novos espaços de sociabilidade. Outro traço desse projeto de sociedade moderna era
a demarcação das condutas femininas na representação da mulher cristã, caracterizada
como obediente, submissa ao homem, dedicada ao lar e recatada.
A história de Ada é uma realidade circunscrita que problematiza a experiência
feminina, ao versar sobre narrativas de mulheres que também viveram sua juventude
nos anos finais da década de 1940 e primórdios de 1950 e que, nas suas práticas
cotidianas, agiam com astúcia sobre as brechas, sustentando ou não as normas. Para
estas mulheres, o papel foi o espaço, por excelência, dos prazeres secretos da escrita,
como a expressão dos seus sentimentos, dos seus desejos e de suas memórias do
cotidiano. Cenas minúsculas e gestos furtivos, quase imperceptíveis, do dia a dia, são
vislumbrados nas páginas do diário íntimo de Ada ou nas suas missivas que enviara a
Enio.
Numa leitura inicial, trata-se de escritas de si (GOMES, 2004), de escritas
ordinárias307, de suportes da cultura escrita nos quais os sujeitos normais, a gente
miúda, registram histórias banais e corriqueiras. São escritas íntimas, produzidas no
âmbito privado e secreto, sem a intenção de serem publicadas. São também narrativas
do gênero autobiográfico, que contém a vivência imediata, cujas folhas de papel fixam
o presente e preservam uma memória pessoal tecida de experiências vividas, emoções
e afetos humanos, diferentemente de uma autobiografia ou de um memorial, que são
escritos em retrospectiva. Cada relato do diário íntimo ou expressão das cartas captam
a memória viva e remontam ao instante da escritura, à “autenticidade do momento”
(LEJEUNE, 2014, p.300). É um tempo pretérito fresquinho, com a “transcrição quase
simultânea dos sentimentos experimentados, com o frescor do cotidiano” (ARFUCH,
307 O termo designa as escritas sem qualidades produzidas pelas pessoas comuns e opõem-se as obras literárias, elaboradas para serem prestigiadas pelo público. Ver CUNHA, Maria Teresa Santos, Diários pessoais: territórios abertos para a História. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tânia Regina de (Orgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2011.
559
2010, p.47) e com fios de memórias que delatam Ada, o seu “eu”, naquele momento em
que escrevera.
As escritas de si, são consideradas como uma produção autobiográfica, isto é,
um produto da experiência subjetiva e pessoal, que emergem na confluência do século
XVIII com o XIX. Lejeune (2014) aponta que o diário, por exemplo, – até então de
domínio coletivo e público – adentra na esfera privada e na mais secreta intimidade
mediante a emergência de um foro íntimo, com a passagem de uma jurisdição externa
e social a um tribunal da consciência, de controle interior e individual. Como expressão
de interioridade, as escritas de si são indissociáveis da consolidação do capitalismo e
do mundo burguês, que separa as esferas da vida pública e privada (ARFUCH,2010).
Com a ascensão de uma sensibilidade burguesa, os ritos da vida privada burguesa
ganham significados sentimentais, incidindo sobre diários íntimos e cartas, cuja prática
cresce significamente no século XIX e XX e configura-se como um gesto confessional,
íntimo e comum entre as moças (LIMA 2014).
A escrita de si torna-se uma prática individual do âmbito do privado, com a
interiorização de normas para um controle de si e adequa-se aos novos ambientes
privados do mundo burguês: os espaços solitários, como o quarto, que favorecem a
sensibilidade para a introspecção, para o desejo de narrar-se. Ao gênero epistolar, que
não escapa da divisão sexual dos papéis (PERROT, 2005), sucede-se uma apropriação
feminina, que se utiliza da sua especificidade – a comunicação – para enriquecer as
relações amistosas (VINCENT-BUFFAULT, 1996) e uma apropriação escolar, que
concebe a correspondência como uma habilidade a ser apreendida e fomentada na e
pela escola (GAUSTAD, 2009). Na mesma clave, o diário íntimo consolida-se como uma
escrita fundamentalmente adolescente e feminina (PERROT, 2008), como um rito de
iniciação e uma cultura de grupo, por demais estimulados pelas educadoras, desde o
século XIX (LEJEUNE, 2014).
A educação escolarizada, como espaço de alfabetização, estimulava as moças
a escreverem diários íntimos e cartas, num projeto de educação dos sentimentos e de
controle das emoções, colaborando para que a prática fosse frequente à juventude
feminina, como um ritual de passagem para a vida adulta. Ada, que era matriculada no
Ginásio Feminino do Colégio São José, tinha acesso ao universo da linguagem escrita.
O arquivo pessoal de Ada corrobora com essa premissa. O álbum de recordações e
poesias da moça, por exemplo, é uma prática da cultura escrita, produzida e vivida no
ambiente escolar. Na primeira página do caderno, datada de 4 de abril de 1945, a moça
escreve: “Agradeço sinceramente aos que aqui deixaram sua recordação”.
560
Figura 1: Álbum de poesias e recordações de Ada, 1945 a 1947
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.
A memória de amizades, no intuito de imortalizarem uma época ou registrar uma
marca, eram guardadas no caderno de recordações. Ada também expressava e
registrava seu afeto pelas amigas em outros suportes, como as cartas, que eram os
meios que as amigas usufruíam para comunicarem-se diante da distância e fortalecerem
os laços de amizade. Outros egodocumentos do tempo escolar que compõem seu
arquivo pessoal no AHMJSA e que ganham notoriedade são os telegramas de formatura
do ginásio, as fotografias, os cadernos e as declarações de admiradores secretos.
Abaixo, verifica-se dois documentos: uma missiva produzida por Luisa Olímpia e
enviada a Ada em agosto de 1948 e um caderno escolar. As inscrições “Escola Normal
‘São José”, localizadas na parte superior e à esquerda da carta, informam que o papel
é um vestígio material elaborado no tempo escolar das moças.
561
Figura 2: Carta de Irmã Luisa Olímpia para Ada, 27 de agosto de 1948
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.
Figura 3: Capa do caderno escolar de música
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.
562
A preservação de cartas trocadas com amigas, cadernos escolares, manuscritos
de poesias, cadernos de recordação e questionário, evidencia o lugar afetivo conferido
ao prazer das amizades compartilhadas na juventude e aos anos de estudante da moça.
Ada preocupou-se em eternizar sua memória individual dos tempos escolares. São ego-
documentos, que guardados em arquivo pessoal, transformam-se em objetos-relíquias,
dotados do poder de recordar amizades e amores (RANUM, 1992) e objetos biográficos,
que envelhecem com suas donas ou donos e que representam aventuras afetivas
(BOSI, 2003).
Os vestígios do amor
A produção de sentidos depositados nos egodocumentos dizem respeito a
momentos e experiências vividas que foram guardados com afeto. Como objetos
semióforos (POMIAN, 1984, 1998), extrapolam as fronteiras visíveis da materialidade e
utilidade prática e, investidos de significados por aquelas e aqueles que o manipulam,
passam a reportar a ordem do invisível. Para Pomian, diferente dos objetos úteis, que
são manipulados e consumidos para uma utilidade prática, os objetos semióforos não
apresentam mais valor de uso e são compostos de duas ordens, a material (o suporte)
e a significante (os signos).
Na época em que as páginas brancas do diário íntimo foram dedicadas aos
escritos do vivido ou que as cartas foram produzidas para um destinatário amoroso, os
egodocumentos eram objetos manipulados de acordo com a sua função primária, a
utilidade prática. Como artefatos provenientes da relação humana com a cultura material
(FUNARI,1993), também exerciam sua função secundária, fixada na ordem do
simbólico: eram apropriados e investidos de valores pela moça com as substâncias do
seu cotidiano, como os ocorridos e os sentimentos. Por fim, quando arquivados em
arquivo pessoal e, posteriormente, doados ao AHMJSA, os objetos foram destituídos de
valor de uso e, expostos ao olhar e ao contato dos possuidores ou pesquisadores,
adquiriram novos e particulares significados, como os traços evocativos das memórias.
Ao escrever sobre a história da cultura material escolar, a professora Rosa
Fátima de Souza, registra que para as historiadoras ou historiadores que trabalham com
esta temática, é relevante preocuparem-se tanto com “as representações, os valores,
os significados e as apropriações quanto a materialidade, os processos de produção,
as tecnologias e a circulação dos objetos” (SOUZA, 2007, p.69). A autora destaca os
estudos que tratam do consumo dos artefatos materiais e faz menção ao termo biografia
das coisas, noção empregada por Igor Kopytoff, cuja análise privilegia o processo de
singularização dos objetos no contato com seus consumidores. E também atenta para
563
a circulação dos bens materiais, como os artefatos que são produzidos para o uso
escolar, porém são apropriados fora dos muros das escolas ou aqueles que realizam o
movimento inverso; seus usos sociais são diversos e, ao adentram no mundo escolar,
adquirem outras finalidades.
Desse modo, os apontamentos de Souza auxiliam na abordagem analítica do
conjunto das missivas e do diário íntimo. Procura-se observar os usos e a produção de
sentidos que Ada e Enio operaram diante dos artefatos. O suporte do diário íntimo, por
exemplo, é um caderno escolar, um objeto do universo da escola, produzido para uma
situação precisa, o uso em sala de aula. Cunha (2011), ao estudar dois diários pessoais
dos anos 1960, também constata a prática de subtrair do próprio material escolar um
suporte para a escrita de si. Ada, ao adquirir o caderno escolar para outra finalidade,
acrescenta novos significados simbólicos: de artefato escolar, o caderno transforma-se
num objeto impregnado de afeto, um repositório de memórias que atesta a passagem
do tempo.
Na figura abaixo, que reproduz a capa do diário íntimo de Ada, constata-se que
a parte central oferece um espaço para o possuidor registrar o seu nome e o seu
sobrenome. Logo abaixo, as inscrições “RAMOS S.A”, “Comércio – Indústria –
Representações” e “PORTO ALEGRE – CAXIAS DO SUL” apontam que o caderno
escolar foi produzido pela indústria regional. São indicativos da materialidade do suporte
gráfico que, numa observação inicial, tornam o caderno bastante comum e pouco
chamativo, no entanto os sinais do uso do objeto, expresso, por exemplo, na grafia do
nome, sobrenome e cidade da dona, sugerem que ela o tornou um artefato singular e
único, investido de sentidos.
564
Figura 3: Capa do diário íntimo de Ada
Fonte: ALE 077, Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.
De caderno escolar a diário íntimo. De diário pessoal a caderno de anotações. É
o que as últimas páginas do, então, diário pessoal oferecem como constatação: após o
último registro, escrito em 16 de agosto de 1950, há rabiscos diversos, que remetem ao
casamento, como a lista de pessoas convidadas para o enlace matrimonial, organizadas
em colunas e as equações matemáticas referentes a quartos, fogão, chuveiro e armários
ou camafeus, empanados de frangos, quindins e tortas de morangos. Embora essas
páginas não disponibilizem informações dos dias, meses ou anos, nas quais foram
rabiscadas, é possível presumir que os rabiscos foram produzidos próximos da ocasião
do casamento, concretizado em nove de fevereiro de 1952. Se, num primeiro momento,
o caderno escolar foi consumido como um suporte de escrita de si, desta vez, Ada
transforma o diário íntimo em um espaço de anotações ordinárias, cujo verbo de ação
deixa de ser registrar ou guardar e passa a ser rabiscar ou rascunhar, produzindo outros
sentidos para o suporte.
As cartas enviadas a Enio, como objetos representativos da sociedade
grafocêntrica, também podem ser compreendidas como um desdobramento da escritura
565
escolar, uma vez que foram elaboradas no decorrer do Ginásio Feminino e apresentam
vestígios da cultura escolar da época, como as brechas orquestradas pela moça entre
as tramas das normas e do vivido. Ada, por exemplo, operava com ações furtivas, que
burlava a vigilância da mãe, ao desconsiderar o correio como meio de circulação das
cartas trocadas com Enio. Em uma das cartas, Ada despede-se de Enio e, em seguida,
informa que “a portadora é a senhorita Wannyr Schumacher”, sua colega do Ginásio
Feminino São José. A espera pela carta era atravessada por uma tática sigilosa:
designavam uma mensageira para assegurar a chegada das correspondências ao seu
destino, tarefa esta que exigia rapidez e discrição.
Figura 4: Excerto da carta “5ª recebida” de Ada para Enio
Fonte: ALE 274, Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.
As cartas produzidas por Ada a Enio, durante a etapa do flerte, fazem referência
a papéis da cultura escolar, como um caderno de questionário e fotografias, enviados
junto com as cartas.308 O primeiro – típica produção do universo escolar que, com
perguntas, especificava os gostos e os detalhes da vida juvenil –, é mencionado na carta
“2ª recebida”: “Enio sei que serás meu amigo pois isso aproveito a oportunidade para
pedir-te que te dignes aceitar um simples questionário que pretendo mandar-te” (Ada,
s/data, ALE 271). A quinta e a sexta carta reportam a troca de fotografias entre o par, o
que era motivo de felicidade para ambos. Os indícios sugerem que Ada enviou uma
imagem que retratava seu tempo escolar, na 2ª série no Ginásio Feminino, e nomeia
sua rede de amigas, a “turma”, de “as tagarelas”, cuja “nota mais alta de
308 Os documentos mencionados nas cartas não se encontram no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.
566
comportamento” foi 7 “e mais baixa 5” (Ada, s/data, ALE 275). Se confrontadas essas
informações com os boletins avaliativos do Colégio São José, a moça, de fato, foi franca.
É o que um dos boletins de 1946 indica: são notas inferiores às mínimas exigidas, como
0,5 em Inglês, 3,5 em Matemática e 4,5 em Geografia.
Da pesquisa empreendida até aqui, observa-se que a circulação de artefatos que
adentravam ou extrapolavam a escola estava relacionada com os encontros amistosos
ou amorosos que atravessaram o tempo escolar de Ada. O ato de arquivar papéis e
artefatos é uma tentativa de apreensão de um tempo pretérito que insiste em ser
conservado e que atesta para a produção de sentidos da moça para as experiências
vividas guardadas com afeto. A linguagem, materializada na escrita diarística e
epistolar, é o espaço em que moça estruturou suas experiências vividas e estas, por
sua vez, são tramadas de significações que dizem respeito às experiências históricas
das mulheres.
Ademais, o flerte da moça com Enio, que estava sob a mira de olhares vigilantes,
desdobrava-se em práticas cotidianas que burlavam a vigilância e a disciplina dos pais
e do colégio. Eram golpes que compunham o universo juvenil e que eram executados
nos espaços de poder instituído, demonstrando que a experiência social é um processo
mais dinâmico e complexo e supõe os modos singulares que os sujeitos fabricam com
as condições objetivas. Entre as normas e o vivido, as atitudes de Ada sugerem que a
passividade feminina poderia ser apenas aparente: ela era uma moça tida como “de
família”, que arriscava o controle da sociedade, comportando-se muitas vezes de um
modo que não que não correspondia aos padrões impostos. À representação de mulher
prescrita pela sociedade, que gera determinadas condutas, a apropriação de moça não
era desprovida de neutralidade. Seus gestos oram manifestavam coesão com as
representações, ora provocavam rupturas.
567
UN ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN MÉXICO
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX: MEMORIA DE EXPERIENCIAS
ESCOLARES DE/EN LA DISCAPACIDAD.309
María Concepción Martínez Omaña
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Email: [email protected]
.
El objetivo central de este texto es examinar algunas dimensiones de los procesos de
construcción de identidad de un sector de la población con discapacidad. Entre esas
dimensiones destaca la educativa en cuanto que inculca ideas, valores, acciones y
conductas que contribuyen a dotar de una concepción del mundo y de prácticas
culturales que favorecen una identidad específica.
La memoria posibilita la reconfiguración la historia personal que, en gran medida,
es historia social. Así, con base en el estudio de las trayectorias social y educativa de
una mujer y de un hombre con discapacidad visual se identifican distintas facetas y
ámbitos de convivencia social fundamentales para comprender el significado de las
edades biológica y cultural de la infancia y la juventud discapacidad.
Con el recurso metodológico de la historia oral es posible inquirir en el sentido y
el significado que los sujetos dan a sus vivencias infantiles y juveniles desde la
particularidad de lo vivido y lo vívido de/con discapacidad. Aquí es importante mostrar
que a pesar de las particularidades de cada una de esas vidas, tanto en su condición de
género como por las decisiones personales y familiares, estas convergen en el mundo
de la discapacidad con identidades específicas.
Así, en la medida en que se exploran las trayectorias escolares es posible
reconstruir una etapa de la historia de la educación especial en México de la segunda
mitad del siglo XX por lo que puede considerarse como historia del tiempo presente con
base en las experiencias de los sujetos. Parte de esta historia se resume en los espacios
en los que transcurre la práctica profesional de estos jóvenes con discapacidad.
309 Este trabajo es uno de los resultados de la investigación que desarrollo en el Proyecto interinstitucional
con la Universidad Autónoma del estado de Morelos titulado “Representaciones, actores, prácticas e
instituciones en la educación especial en México, 1890-2005)”. Proyecto que cuenta con financiamiento de
Conacyt.
568
En este sentido, una pregunta que guía este texto es: ¿cuáles son las
condiciones y los elementos en que los individuos le dan a su historia personal y los
alcances que pueden tener para una historia social o colectiva? En términos
metodológicos considero que es útil el enfoque de la historia oral porque profundiza y
por tanto enriquece el conocimiento de procesos sociales y culturales más amplios: se
entrelazan actores sociales y prácticas en distintos ámbitos de la educación especial.
Además afirmo que la historia oral nos permite preservar el conocimiento de los eventos
históricos y sociales a partir del modo en cómo fueron percibidos por los sujetos
sociales, o de la experiencia de vida de un testigo. De este modo, la fuente oral
proporciona información esencial, la cual se complementa con fuentes documentales
necesarias para contextualizar las experiencias de vida,
En este texto tomo en cuenta la trayectoria y experiencias escolares de una
pareja de jóvenes con debilidad visual Jazmin y José Luis, a través de las entrevistas
que realizé con ellos en el lugar de su trabajo, la Universidad de la Ciudad de México,
en la ciudad del mismo nombre. La entrevista basada en un guión temático la
organizamos de manera cronológica en la que vinculamos las etapas de la vida con la
de los grados de estudios, es decir, la vida infantil y la vida juvenil con sus estudios de
la primaria, hasta la elección de sus estudios superiores. Trayectorias de vida que
transcurren durante las décadas de los noventa del siglo XX a la primera década del
siglo actual. 310
Aquí me interesa analizar los relatos orales de Yazmin y José Luis y la manera
en como organizan, ordenan y dotan de significado los recuerdos que, como materia
prima de la historia, ofrecen una comprensión e interpretación de la educación especial
y de la discapacidad desde su propia visión.
Como parte del desarrollo argumentativo, en este trabajo, decido exponer una
parte de los hallazgos de la investigación eligiendo un orden cronológico, en este
sentido, divido la ponencia en dos apartados, en el primero analizo las experiencias y
310 Se aplicaron 4 entrevistas a profundidad con cuatro jóvenes profesionistas, 3 hombres y una
mujer, todos ellos entre 27 y 32 años que pertenecen a la Asociación Civil punto 6 y que laboran
en la micro empresa "Letras habladas" cuya sede se encuentra en la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Teotongo, en la ciudad de México. Las entrevistas las
realicé entre enero y mayo de 2014. La entrevista con Jazmín López Montiel y José Luis Osorio
Hernández se realizó por Concepción Martínez y Elizabeth Zamora el 5 de marzo de 2014.
569
aprendizajes de la escuela primaria y, en el segundo las vivencias en las escuelas
secundarias.
Recuerdos en los estudios primarios y secundarios
Yazmín y José Luis, nuestros personajes, relatan sus estrechos vínculos con la
educación especial desde diferentes rutas. En el caso de Yazmin primero en un centro
de rehabilitación de ciegos y débiles visuales para posteriormente ingresar en una
escuela pública regular que implementa el modelo de integración o inclusión educativa
en la que acuden niñas de clase media citadina y, en el caso de José Luis en una
escuela especial, el Instituto Nacional de Rehabilitación para Niños Ciegos y Débiles
Visuales, en Coyoacán al sur de la ciudad de México.
El ingreso a estos centros escolares estuvo marcado por sus orígenes familiares.
Yazmin de padres originarios del estado de Hidalgo pero avecindados en el Distrito
Federal en donde ella nació, de padre ingeniero y José Luis nacido en el Distrito Federal
cuyos padres se avecindaron en Chimalhuacan, municipio conurbado del estado de
México en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, hijo de obrero. El rasgo en
común de estas dos historias infantiles es la condición de discapacidad visual con la que
nacen y las estrategias que emprenden los familiares, en particular las madres y padres,
para conocer las causas fisiológicas de la ceguera de sus hijos y buscar la atención
adecuada. 311
En las entrevistas damos inicio con este tema. Por el grado de significación que
tiene en sus experiencias de vida, y porque forman parte de las historias familiares, su
condición de discapacidad se visibiliza al momento en que nacen y se dan cuenta los
familiares. Son episodios que narran Jazmin y José Luis con claridad y porque así se
los han trasmitido sus padres. La manera en como desde este presente lo interpretan
311 De acuerdo a fuentes documentales, la discapacidad visual comprende a las personas ciegas
y a las que tienen debilidad visual, llamadas también con baja visión o con visión subnormal, esta
debilidad para ver puede estar provocada por una merma en la agudeza visual perjudicando la
calidad de la visión, o por un recorte en el campo visual afectando la cantidad de visión (Mon,
1998). Los factores de riesgo asociados a la calidad de la visión, o por un recorte en el campo
visual afectando la cantidad de visión. INEGI, Las personas con discapacidad en México. Una
visión censal, México, INEGI, 2004.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion
/2000/discapacidad/discapacidad2004.pdf. Consultada el 22 de enero de 2016.
570
dejan ver el dolor que ocasionó su ceguera para ambas familias. En el caso de Jazmín
esto es evidente.
A la pregunta del ¿Cómo sus padres se dieron cuenta?, ellos relatan:
JLO.- Pues bueno, yo, por lo regular o es lo que mencionan ellos, es que yo jugaba, yo
tiraba los juguetes y yo iba corriendo a alzarlos como, pues al parecer normalmente lo
hacen todos los niños. Cuando en alguna ocasión yo tiré un juguete y en lugar de correr
a recogerlo, a, a alzarlo, pues yo me agaché y empecé a palpar el piso, a rastrear el
piso con las manos, para encontrar lo que se me había caído. Entonces dijeron: “¡A
caray, eso si no está tan bien!”. A partir de ahí, pues ya empezó un peregrinar de
hospitales, de conseguir dinero y, yo, al parecer, me hicieron una primera operación, en
la que mi edad, mi inquietud o los doctores no supieron hacerla, pues no tuvo éxito esa
operación. La poca vista que tenía alcanzaba a observar sombras, luz todavía, … En
una segunda operación, pues ya no hubo vista…”
En el caso de Jazmin, ella comenta:
TJL.- “….mis papás se dieron cuenta de mi problema de visión pues a muy temprana
edad, mi mama desde que tenía unos dos meses, pues se dio cuenta de que la seguía
a ella por su voz, como que no movía los ojos de manera normal. Entonces de ahí
empezaron, pues igual, el peregrinar. Pues en hospitales, y bueno, así pasaron seis
años feos, porque pues era mi mamá que estaba muy triste…Ahora sí que siento que
no disfrutaron como del todo a mi hermano y a mí, como por esa situación…”
Un segundo momento de la conversación abordamos el tema de las escuelas en
donde iniciaron sus estudios de nivel primario. Desde aquí los recuerdos se sitúan en la
etapa de la infancia, vale advertir que éstos son una reconstrucción pero también una
reconstitución del pasado y como lo muestran los fragmentos de los testimonios José
Luis y Jazmin como adultos jóvenes reviven su infancia contándola y son capaces de
ver y conmoverse como antes. Como afirma Halbwash no son niños que sobreviven
sino adultos que recrean en ellos y en torno a ellos, todo un mundo desaparecido, entre
la ficción y la verdad se reconstruye. Aquí la memoria en el sentido concreto del término
juega un papel importante. 312
Los dos emprendieron sus estudios primarios en dos escuelas especiales, José
Luis en el Instituto Nacional de Rehabilitación para Niños Ciegos y Débiles Visuales y
Jazmin en el Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales, CRECIDEVI.
313
312 Halbwachs, Maurice Los marcos sociales de la memoria, España, Anthropos Editorial, 2004, pp. 105-138. 313 El Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales es la parte
operativa del Hospital Conde de Valenciana junto con el Centro Oftalmológico,
571
Jose Luis relata: “…en alguna de mis últimas revisiones, que fue en el Centro Médico,
fue a mis papás les dijeron que me podían…ingresar a un instituto para personas ciegas
y débiles visuales en la Delegación Coyoacán, en la Colonia del Carmen. Entonces, a
partir de ahí como a los cuatro años y medio. Ellos me llevaron y bueno, a partir de ahí
empezó toda mi educación en la escuela….” ¿no?
El Instituto al que ingresa José Luis imparte el nivel preescolar y el nivel primario,
razón por la cual empieza a estudiar desde el nivel preescolar hasta los seis años de la
primaria. En la actualidad es un Instituto que aún existe pero de acuerdo a la información
que nos proporciona José Luis, su función y nombre cambió a un Centro de Atención
Múltiple (CAM) que pertenece a la Dirección de Educación Especial de la Secretaria de
Educación Pública (SEP)
En el caso de Jazmin, ella ingresa de mayor edad al primer año de la primaria. Al
respecto comenta:
T J.- Yo entré al Instituto, se llamaba “Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles
Visuales”, entré un treinta de abril y me acuerdo que estaban en la celebración del día
del niño y me tocó juguete y todo y bueno por la valoración que habían hecho en el
hospital y por mi edad, decían que entraba todavía a kínder, aunque ya tenía casi seis
años cumplidos. Entré a kínder y algo que quiero comentar fue … lo recuerdo bien, para
decir que un niño aparte del diagnóstico médico, sí va a la escuela o no y en qué grado,
se hacía una valoración médica, psicológica, había varias cosas. Recuerdo que el
psicólogo le dijo a mi mamá: “señora es que su hija está bien, la que necesita mucha,
pero mucha ayuda es usted”…Pues sí, o sea, francamente, después de que entré, mi
mamá lloraba y lloraba y le decía a la maestra “Ay maestra, qué va a ser de mi hija”
…Yo no quería entrar en un inicio porque, yo quería estar con mi hermano… la idea de
separarme de mi hermano, no me gustó. Yo ya había ido a la escuela con mi hermano
y no fue bonito…es como un poco difícil…. pues había muchas cosas ¿no? este
se creó en 1986 con el propósito de lograr la autosuficiencia del invidente o débil
visual, mediante técnicas para el desarrollo de habilidades especiales en
orientación. De acuerdo a reportes de la fundación, el CRECIDEVI ha
rehabilitado en sus diferentes áreas a más de 2 mil 100 pacientes, 50% de ellos
menores de 40 años. De los beneficiarios rehabilitados, 10% se ha integrado a
una actividad normal, 20% a escuelas regulares de videntes, 12 % a escuelas
profesionales, 18% a actividades laborales en distintos ámbitos y 50% a
actividades domésticas. Revista Esperanza, Vol. 2. Número 2, abril de 2003.
http://revistaesperanza.com/contenido3.htm, consultada el 20 de enero de 2016.
572
adaptadas, cubos, este, todo ¿no? o sea, plastilina, todo estaba como muy, como muy
amigable, pues obviamente pensado para ciegos …”
Al entrar a la escuela primaria los relatos se centran en sus primeras
impresiones, la descripción de los espacios escolares, de los salones así como de los
materiales y del aprendizaje adquirido en las distintas áreas: ejercicios de
psicomotricidad, conocimientos básicos de aritmética y de lectoescritura en sistema
braille. Los recuerdos son mas claros en Jazmin que en Jose Luis, quien
constantemente comenta lo difícil que para él es el recordar, en particular en el “kínder”
(nivel preescolar) :
JLO.- lo que fue el kínder, pues en realidad no recuerdo muchas cosas. Recuerdo pocos
ejercicios pegar sopa en papel…con resistol, usar algunos colores, crayolas, frijoles,
recuerdo una regleta grande, muy, muy grande, tenía los cuadratines muy grandes…
que es el, el aparato con el que nosotros hacemos el Braille … Eso desde el kínder,
bueno, pero no una regleta ordinaria, no, era una regleta Jumbo. Los punzones que
usábamos también eran grandes. Entonces supongo que los puntos que se hacían,
pues también eran muy grandes…”
Los ejercicios se complementaban con las actividades de esparcimientos en las cuáles
los juegos eran fundamentales:
“… ahí había juegos, corríamos. Hubo dos lugares donde estuvo el Kinder, un lugar
más pequeño y después fue uno más grande, había, pues, juegos. Las maestras, pues
todo, pues no sé, no sé de qué me sirvió eso, pero bueno eso estaba en el kínder…”
La primaria la realiza en el mismo Instituto de Rehabilitación pero en otro edificio,
de acuerdo a su relato, de tres pisos “…pues tenía escaleras…” De nuevo comenta
que ese proceso de aprendizaje lo recuerda poco. Lo cuál nos hace suponer lo difícil o
doloroso que fueron esas primeras experiencias escolares de la infancia. Aunque hay
hechos significativos que los rememora con cierta nostalgia:
“…Desde primer año, fue donde me enseñaron el Braille, la verdad es que también de
ese proceso recuerdo poco. Recuerdo los libros, recuerdo el día que me hicieron escribir
mi primera carta de reyes en la primaria…. recuerdo a mi maestra, recuerdo el salón.
Pero no, no recuerdo lo demás procesos. En segundo año, pues bueno para mí las
cosas eran difíciles, a pesar de que tenía los libros, era una primaria especial una
escuela nacional, supongo que porque llegaban todos los niños de las familias que se
enteraban de que existía esa escuela. Entonces, se dedicaba a rehabilitar a niños ciegos
y débiles visuales…”.
En su relato hace una acotación que nos ayuda a distinguir entre el ciego y el débil
visual, corrigiendo la visión errónea de los “normovisuales” de denominarles débiles
visuales a los ciegos.
573
Yazmin al ingresar al CRECIDEVI lo primero que nos comenta es la anécdota que
motivó su ingreso a la primaria:
TJL.”- …, Yo recuerdo un día que estábamos jugando con plastilina y yo hice un
gusanito. Yo tocaba muchas cosas, porque en el jardín, pues mi hermano y yo
jugábamos con los babosos con todo…Y, pues los agarrábamos. Entonces yo, más o
menos sabía cómo eran. Hice un gusanito de plastilina y me acuerdo que me dijeron:
“Mira, vamos con Anita”. Anita era la psicóloga. Y fuimos y le enseñaron el gusanito a
Anita y yo no sé qué pasó con gusano…En septiembre, me integraron a primero de
primaria. No sé si tuvo algo que ver el gusano…no sé. Pero recuerdo muy
significativamente el gusano y que me llevaron con Anita y bueno…”
Mas adelante los recuerdos de ambos personajes se remontan al area de los
aprendizajes y conocimientos adquiridos. Conforme va transcurriendo la entrevista con
José Luis lo primero que refiere es el apoyo que le brindó su padre, obrero de ocupación,
en el proceso de aprendizaje, sobre todo de las matemáticas:
JLO.-“ …Bueno, el chiste es que, a mí me costaba trabajo la escuela. Sí yo avancé o
sí yo sacaba buenas calificaciones en la escuela, pues era al asesoramiento de mi papá,
que ahí estaba encima de mí en las tareas, en “ahora ponte a leer” o “¿ahora qué te
dejaron de tarea?”; revisaba mis tareas, porque en la fábrica donde él trabajó tuvo ahí
un compañero ciego, por ese compañero ciego yo obtuve mi primer regleta…que era
una regleta grande. Ese amigo de mi papá, pues le enseñó el Braille y pues mi papá
pues me revisaba las tareas. Entonces, si tenía yo que hacer sumas, pues mi papá me
las revisaba…”
Y mas adelante va precisando el proceso de aprendizaje y los libros de las distintas
áreas de conocimiento: “ …yo tenía mis libros en Braille, si decían: “abran la página
treinta”, pues yo abría la página treinta…Teníamos nuestros libros de Historia, nuestros
libros de Matemáticas, de Español, de Ejercicios, de Lecturas, este, me encantaban los
libros de Español, de Lecturas, esos yo los prefería a todos. No me aburrían. Los de
Historia que llevaban los mapas, tenían los mapas, tenían números en determinados
lugares del mapa… abajo del mapa tenían, pues los números ¿no?, que representaban
esos lugares”
Por la extensión de la entrevista aquí seleccionamos algunos fragmentos de su
testimonio, sin considerarlos los únicos pasajes significativos en su trayectoria escolar:
JLO.- Lo que sí me gustaba de los libros de Matemáticas es que hasta el final tenían
algo que ellos llamaban: “anexos”. Esos anexos, tenían figuras recortables….Entonces
había círculos, triángulos y bastantes cosas de ese estilo . Me gustaban, pues nunca los
use….O sea, todo eso venía desde segundo, o sea, todo lo que era la primaria, pues
venían esos apartados en los libros de texto. …Obtuve un conocimiento que hasta ahora
574
me ha servido muchísimo, que se llama el aprendizaje de la estenografía…., lo aprendí
afortunadamente, porque la maestra que tuve, era ciega. Entonces, a ella le interesaba
mucho que sus alumnos aprendieran estenografía y nos hizo comprar un manual que lo
vendían en otro instituto para ciegos que se llama: “Comité Internacional Prociegos”. Lo
aprendí y, en mi segundo cuarto, llegué con otra profesora ciega que se llama Tere… a
ella le interesaba mucho que sus alumnos aprendieran ábaco y dejaran las cajas de
matemáticas. Porque las cajas de matemáticas son apoyos didácticos en los que
hay…es una caja cuadrada. Hay, había dos tipos, pero cuando yo empecé con mi caja
era cuadrada…”
En el relato de José Luis y en sus recuerdos se integran las maestras, los
profesores de los que recibe los aportes de su educación. Experiencias compartidas con
las maestras ciegas, por ejemplo han sido muy importantes:
JLO.-“…Pero la maestra, ella decía que eso era muy lento. Y, pues sí, sí era muy lento,
porque nos dictaban: “trescientos cuarenta y cuatro”; entonces, en lo que
encontrábamos la cajita del tres (sonrisas) y, ya lo poníamos en la tercera, o sea, “el
cuatro”, lo poníamos, “el seis”, “más doscientos ochenta y ocho”; entonces, había que
buscar el “más” y así, ... Lo que representaba el “dos”, “el ocho”, y después el signo de
“igual” y bueno, ya empezar a hacer la operación, entonces decía la maestra: “es que
eso es muy lento, eso no lo pueden llevar a otro lado”. Entonces, ahí ya nos enseñó las
mismas operaciones: suma, resta, multiplicación, división…, llegamos hasta la división
de quebrados…”
Herramientas que a decir de José Luis le facilitaron de ahí para acá la vida, por
una parte, la estenografía, porque llegó a escribir mucho más rápido y el ábaco porque
lo lleva en la cabeza, sin tener un ábaco físico. Los maestros también les dictaban,
complementando los conocimientos registrados en los libros, práctica que les permitió
desarrollar el sentido de la escucha.
Yazmin, por su parte, aborda el tema de las materias y los conocimientos
adquiridos reconociendo y valorando el tipo de escuela que era prácticamente nueva,
un número reducido de alumnos (4 niños) y la calidad de los libros que desde su punto
de vista estaban bien adaptados. Elementos que en su conjunto convirtieron un sistema
novedoso que funcionó bastante bien.
En la conversación va precisando algunos pasajes importantes de su aprendizaje:
JLT: Entonces, pues nosotros igual…Yo recuerdo el proceso de aprender Braille, lo
recuerdo muy bien….Recuerdo que nos enseñaban a la par, letras en tinta y en Braille…
Ahora sí recuerdo que igual, mi papá para convencerme de que entrara me decía: “Ay,
es que mira, vas a poder leer con tus dedos” y no sé qué y bueno, con eso como que
me convenció. Sí recuerdo muchas cosas, actividades, nos llevaban a museos, algunas
575
piezas las podíamos tocar, hacíamos talleres con barro, teníamos un arenero, teníamos
un sembradío. Este, era como muy, muy completo. Había pinturas…que son con olor,
por ejemplo, la verde huele a limón, la roja huele a fresa. Entonces, así. Y son pinturas
digitales, entonces tú las agarras con los dedos y las embarras …Y esas las usábamos
bastante y era muy bonito, a mí me gustaba mucho….”
A diferencia de José Luis, en la memoria de Jazmin están presentes todos los
materiales adaptados a los niños déviles visuales y ciegos y sobretodo el uso que le
daba ella y las reacciones que ocasionaba en ellos.
Una de las particularidades del CRECIDEVI es que es una institución que brinda
atención educativa en preescolar y los tres primeros años de la educación primaria a
todos los niños ciegos y débiles visuales profundos. Después del tercer año, el Centro
los integra a las escuelas normales de videntes y su personal mantiene una supervisión
hasta los años de la secundaria, para asegurarse de su plena integración.
Es por ello que a Yazmin al término de segundo año de primaria la canalizaron a una
escuela primaria regular pública que sigue el modelo de integración o inclusión
educativa. Hacia esa escuela posiciona su relato,
TJL.- Sí, era como, muy bonito. A partir de tercero me integraron a una escuela regular.
Al inicio, fue duro, porque, la escuela ofrecía un asesoramiento pedagógico a la escuela
en donde nos integraron. Entonces decían, va el maestro de la escuela especial,
cuántos días necesitan que esté aquí y se hacían juntas con papás y todo. La directora
de la escuela de la mañana, ni nos recibió…Y la de la tarde nos recibió, incluso estuvo
el Inspector de Zona y dijeron que: “qué padre” y que: “era un orgullo”. Y a las tres
semanas, habló la maestra…y le dijo a mi mamá que ella ya había hecho una carta en
donde decía que si yo aprovechaba o no, si pasaba de año o no, pues que era
responsabilidad de este de mis papás y no de ella… rechazaron el apoyo pedagógico
de la escuela, para eso, ya eran tres semanas de clases….Entonces mi mamá pues si
le dijo: “No, pues cómo cree, pues entonces, lo que yo sepa, mejor se lo enseño en mi
casa. Y dice: “Pues usted, ¿qué me recomienda?” Pues señora, que la lleve a donde
haya niños así, como ella” Entonces, le dijo: “No maestra, pues de un lugar así viene y
salió, porque está preparada y no porque usted, no esté preparada, yo voy a dar un
paso atrás y ella tampoco….”
Ante este rechazo inició la búsqueda de otra escuela hasta que les recomendaron otra
escuela igual que aplicaba la integración educativa en la colonia Santa María la Rivera
de la ciudad de México y ahí es en donde encuentra el personal capacitado y sensible
para implementar la educación primaria de Yazmin.
Nos relata Yazmin que el “….primer año, pues ahora sí que fue muy difícil, después,
ya,a mi hermano ahora conmigo a Santa María la Ribera…Yo en la primaría, tenía un
576
sistema tipo secundaria, que todos estaban ahí (inaudible) por una materia. Entonces,
aunque mis papás seguramente hablaban; pero yo, al final de clase, al inicio de año:
“¿Me permite cinco minutos?” ; “Este, sí” . “Oiga pues mire, bueno, les explicaba yo
según…
La relación con los maestros también fue buena al igual que con su papá quien le
brindaba el apoyo:
“…O sea, en la escuela muy bien y el que me apoyaba mucho era mi papá. Aunque yo
ya no tenía libros en Braille, él me ayudó bastante…pero, digamos que con sí hubo un
poco de problema fue con mis compañeros…”
En el Instituto en donde estudió José Luis se impartía el nivel de la secundaria
especial, que es la segunda etapa de la trayectoria escolar de José Luis como de Jazmin
que nos interesa abordar en este texto.
De este tema, José Luis relata:
JLO.-“… De hecho, la primaria odiaba a la secundaria, la secundaria especial. Porque
la idea que tenían es: “ya terminaste la primaria, ya no tienes por qué estar en ninguna
escuela especial.” Ya tienes que ir a una secundaria regular “normal pues y los que de
mi generación, los que nos atrevimos o los que buscamos la secundaria especial… Pues
casi que éramos vetados, mal vistos, mal olientes, todo…
JLO.- Y qué bueno, porque yo tenía mucho miedo de entrar a una secundaria regular.
Entonces, en la secundaria; ahora si ya entrando a la secundaria, pues bueno, la verdad
es que fue…a partir de ahí fue como un gran desarrollo académico para mí, escolar
¿no? Fue un gran desarrollo porque ahí le agarré amor a todo.
En Jose Luis hay una valoración especial de la etapa de estudios en la
secundaria, a diferencia de lo que significó para él la primaria, el no recuerdo, el no
saber mucho no sucedió en este grado de estudios:
Al respecto relata: “… Le agarré amor a la escritura a escribir bien, como Dios
manda….Este, a las matemáticas. Aunque Geografía Analítica, Trigonometría, nunca,
nunca fui bueno. Incluso, mi primer año de secundaria, cuando llegamos a esa parte de
los ángulos y los triángulos y … ese bimestre lo reprobé y por eso ya no exenté,
Matemáticas …pero bueno de ahí me gustó Civismo, me gustó Historia, me gustó
Geografía, me gustó Física, me gustó Química, me gustó Biolología… todo ya me
gustaba….”
El gusto por las materias y áreas de conocimiento se agregaba el ambiente con
los amigos, con los maestros de quienes recibió un buen trato y excelente actitud.
JLO.- “…Desde la primaria éramos cuatro compañeros; entonces ya nos juntábamos y
todos llevábamos la tarea, cuando hacíamos las tareas juntos y las revisábamos en la
escuela… Entonces yo creo que esa parte de pertenencia también, pues a mí me ayudó,
577
me ayudó mucho. Este pues, la cosa es que no era una secundaria en la que como en
las secundarias regulares o públicas, íbamos de siete a tres ”.
Yazmin, por su parte, también llega a relatar los principales recuerdos de sus
experiencias en la secundaria, refiriéndose primero a las becas que recibió en la
secundaria regular a donde ingresó.
Al respecto menciona:
TJL.- “…Sí, yo seguí en escuelas regulares, este ora sí que como les dije, “no, yo me
quiero ir lejos, lejos, lejos…Y bueno, lo logré. Igual, quiero decir que yo siempre estudié
como gracias a las becas… Desde cuarto de primaria tuve beca, media beca. En quinto
me la dieron completa por un concurso de oratoria que gané. Y, en la secundaria, entré
el primer semestre, sin beca y al siguiente semestre, este ya me dieron la beca, este por
promedio….Sí. Entonces, en la secundaria estuve en un Instituto que estaba en la
colonia Granjas Esmeralda, que se llama Instituto Pedagógico Iberoamericano….Y,
este, no pensamos en la opción de una escuela pública, porque ya traíamos como la
mala experiencia. Mis papás, había un poco de posibilidad qué sí finalmente, mi
hermano y yo en la escuela privada, pues era, era como un gasto. Entonces, yo siempre
tenía la beca y finalmente, estudiar con beca es un peso…”
La beca de Yazmin la obligó a mantener un buen rendimiento en sus estudios de la
secundaria que se reflej+o en el promedio que llegó a obtener.
Como ella lo menciona:
TJL.- Porque tienes que conservar un promedio. Pero yo a diferencia de José Luis, pues
cargaba con el peso, pues yo si me ponía a hacer relajo…O sea, yo sí fui amiguera. Yo
sí este, como que de repente pues me daba por fumar y fumaba y me iba con mis amigos
y me iba y a todos lados ¿no?. Este, si tuve, este muchos amigos; nos íbamos a los
centros comerciales, este, en ese tiempo estaba como muy de moda entre las niñas, así
poner coreografías a todas las canciones. Sin embargo, en la secundaria, al inicio, pues
si llevaba como el miedito…”
En cuanto a las materias y maestros recuerda:
JLO.-“… Me trataban bien. Nunca, ni uno me puso un “pero”… Este, al contrario Yo tenía
dos materias difíciles: dibujo y, eh, ay, algo de Estética, Actividades Estéticas…. De ahí,
yo no volví a tratar con ciegos. Entonces, pues yo usaba el braille, pero no usaba el
bastón. Y, para mí, era muy difícil pensar en usar el bastón, yo decía: “ay no, ya estaba
como en la edad de la vanidad y decía: “si alguien volteara a verme en la calle, no me
van a voltear a ver a mí, van a voltear a ver el mugroso bastón” …
TJL.- Este, igual ¿no?... Un día, sí, él mismo me dijo: “no este”, ya me había dicho que
dejara de platicar, yo generalmente platicaba, pero, pero trabajaba…Entonces, este me
dijo: “te vas a ir a la oficina de la directora por una lista de tus calificaciones” y cuando
578
vio las calificaciones me dijo: “No, ya siéntate”Le digo: “No,pos no que me iba a mandar,
pos ora ¡mándeme!”
Y pues yo sabía que de eso dependía que mi hermano y yo siguiéramos estudiando,o
sea, los dos….. Entonces, este, pues sí, pero sí, sí era un poco respondona, en
tercero…Pues es que era divertido. Entonces si yo incluso un tiempo, este pues creo
que fue como estrategia, me ponían así junto a mí, a los que iban más mal, a los más
burritos….Y, este, entonces, yo siempre sí llevé como buenos promedios y les digo, los
maestros en general, “bien”.
…Aunque hubo una época, en la secundaria nos revisaban “todo”; era así como medio
militar …Y entonces teníamos que llevar el uniforme “perfecto”, el cabello “perfecto”;
llevar los cuadernos diario; entonces, nos revisaban todo. Entonces un día alguien
dijo:”Híjole, pero cómo le vamos a hacer, sí tú no tienes tus cosas en tinta, ¿cómo te
vamos a revisar en braille?”.
En cuanto a las actividades extracurriculares menciona los obstáculos con los
que llegó a enfrentarse por las características de los espacios en donde se practicaban:
TJL.-“… Pero lo malo es que todas eran basquetbol, volibol, así cosas anticiegos Y
entonces, bueno, había un coro, pero yo no soy muy buena cantando; pero pues era lo
único que quedaba y la banda de guerra. Entonces, un año me metí a la banda de
guerra, después me metí al coro y hacía playback…Este, pus ahí iba así como hacer
que cantaba y pus ya, ora sí que aprovechaba y pus estaba yo un rato con mis amigas
y así ¿no?
Por último con relación a las materias nos comenta que:
TJL.- “… Mi papá era quien me ayudaba hasta la secundaria. Y como, mi papá es
ingeniero….Entonces, él, este pues es muy bueno obviamente en mate, en física , esas
materias nos gustaban mucho a ambos; pero… pues bueno, Biología, Historia, Yo
entiendo que por ejemplo: la mitosis es una célula y luego se convierte en dos y luego
en cuatro ¿pero cómo?, pues quién sabe Fuera de Biología, no ¡horrible! Entonces,
este sí, fue como de las materias que pasé de noche…”
Como lo reflejan los fragmentos de los testimonios de Yazmin, para ella lo
significativo en su trayectoria escolar en las escuelas primarias y secundarias son las
experiencias que en paralelo adquiere en otros ámbitos, mas personales, informales,
privados, y en otros planos de su vida, el emocional, en donde se tejen relaciones y
vínculos con las personas que la rodean o están cerca de ella, empezando el trato con
las compañeras, los maestros, el hermano, la mamá y el papá, por último la importancia
de las prácticas y destrezas para enfrentar los obstáculos ante su discapacidad. En
apariencia suele ser una vida plena, no así con José Luis quien su ámbito se inscribe
en el ambiente escolar de la escuela especial primaria y secundaria.
579
Reflexión final a manera de Conclusión
En este texto abordamos la trayectoria escolar de Yazmin y José Luis centrando
nuestra atención en las etapa de sus estudios en las escuelas primarias y secundarias.
Hemos visto como desde la primaria el cultivo de los lazos de amistad con sus
compañeros y profesores es importante, en donde están presentes los familiares mas
cercanos: el padre, la madre de cada uno y el hermano de ella. A través de sus relatos
conocemos las estrategias para integrarse en sus actividades cotidianas, en fin, rutas
en las que transcurren en la ciudad de México: escuelas para ciegos, escuelas regulares
donde se ensayan los modelos de integración educativa, etcétera, compañeros y
maestros ciegos, “normovisuales”, las cuales conformaron identidades individuales y
colectivas desde la cual mirar y actuar el mundo de la discapacidad.
Para terminar les doy la última palabra a José Luis y a Yazmin, seleccionando
dos fragmentos de testimonios en donde relatan su propia percepción de su
discapacidad o de vivir con esta:
Pues sí. En primero de primaria, también. En primero de secundaria es donde yo
empecé a tener más inquietudes sobre ciego …O sea, como que antes, pues ser ciego
para mí, era como normal y que los demás vieran pues, se me hacía algo extra, no sé
como denominarlo. Pero a partir de la secundaria fue donde yo empecé como a tener
más consciencia de mí, de mi situación como ciego, de las cosas que tenía que yo
enfrentar, de cómo me tenía que comportar ante los demás donde, no me tenía que
dejar….
Pero esa, esa identidad, esa noción, esa, esa idea… se empezó a forjar en la
secundaria. ¿Por qué? Porque el director de la secundaria era ciego.
Algunos maestros en la secundaria eran ciegos. Entonces, ellos nos metían consciencia
los maestros; aunque eran normovisuales los demás.ellos nos entendían y tenían
muchos materiales adaptados.
…los normovisuales nos llevaban mucha ventaja, entonces nosotros,nuestras ventajas
iban a ser otras y teníamos que, tenían ellos que exigirnos mucho.
JLO.- “..Bien, entonces decía que los profesores nos exigían, yo pienso que sí nos
exigían muchísimo más que a otros estudiantes de secundaria ¿no? La maestra de
Biología nos exigía muchísimo, la de aquí..la de física, todos, todos, era, era, era como
su meta ¿no? Como profesores de una secundaria especial; no darnos lo que se
proponía el plan de estudios de la Secretaría de Educación, ir más allá.
580
Aunque de prepa, para una persona ciega, no siempre es fácil, porque los libros vienen
por unidades. Entonces te hacen el examen de la unidad pero para esto, visualmente
son como muy específicos porque las preguntas vienen en cuadritos, subrayadas, en
negritas y… así ¿no?..
..Y sí, este, creo que fue…este, pues, las mejores etapas, creo que fue la secundaria y
la universidad. O sea, donde hice muchos, muchos amigos; donde, me la pasé muy
bien… “
En fin, las trayectorias escolares de estos jóvenes transcurre en los estudios de
preparatoria y de universidad, Uno estudiando la carrera de Comunicación, en una
universidad privada y la otra de Administración en una universidad pública. Materias de
otro trabajo.
UNA APROXIMACION A LOS ESTUDIOS SOBRE LA HISTORIA DE LA INFANCIA
EN COLOMBIA: APUNTES PARA UN BALANCE
Ana Cristina León Palencia
Profesora investigadora
Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)
Integrante Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica
1. Introducción
Elaborar un balance es siempre una labor riesgosa. De una parte, porque es inevitable
enfrentarse a la imposibilidad de revisar la totalidad de la producción que sobre la
historia de infancia se ha realizado en los últimos años en el país (2000 - 2015), lo que
implica señalar que no todo lo producido sobre el tema puede verse reflejado en esta
lectura. Y por otra parte, se enfrenta a los balances que se han realizado (y vienen
realizándose), caso del trabajo de Herrera y Cárdenas (2013), Álzate (2003) o Rodríguez
y Mannarelli (2007), lo que implica reconocer que ‟no hay nada nuevo bajo el sol”, pero
a su vez, definir qué motiva un nuevo balance sobre este asunto y desde qué mirada se
realiza.
En primer lugar, es preciso señalar que preguntarse por los estudios sobre la historia de
la infancia, recuerda que ésta se ha constituido en un campo, bien sea discursivo
siguiendo a Noguera y Marín (2007) o bien sea investigativo según Díaz (2012), muestra
de ello es la proliferación de estudios que tienen por objeto a la “infancia”, además del
581
desarrollo de numerosos eventos académicos (Bienal Iberoamericana de Infancias y
Juventudes, Manizales -2014; 2016), libros relativos al tema (Rodríguez y Mannarelli,
2007; Álzate, 2003; Jiménez, 2012), números dedicados al tema en diferentes revistas
(Educación y Pedagogía No.60, 2010; Pedagogía y Saberes No. 37, 2012) e incluso
programas de formación posgradual cuyo énfasis es la infancia (Maestría de estudios
en infancias / UPN-UDEA; Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud / CINDE–
Universidad de Manizales). Se trata de un campo314 cuya proliferación puede ser
cartografiada.
Ahora bien, un estudio de los análisis históricos es una apuesta por buscar alternativas
de respuesta a preguntas tales como: ¿quiénes somos?, ¿qué es ser infante en el
presente? o ¿a qué infante se educa hoy?, interrogantes cuya respuesta se considera,
depende también de análisis históricos. Digámoslo más claramente, se va a la historia
para entender quién se es hoy, se trata entonces, de una pregunta contemporánea.
En segundo lugar, algunos de los balances que sobre el tema se han realizado han
centrado su interés en: las tendencias historiográficas (Herrera y Cárdenas, 2013), los
conceptos y perspectivas sobre la infancia (Álzate, 2003) o en la lectura de ésta según
“los momentos del pasado” (Rodríguez y Mannarelli, 2007:13). De este modo, para
Herrera y Cárdenas (2013), las tendencias analíticas en la historiografía de la infancia
en América Latina son: a) la centrada en las instituciones asignadas al cuidado de la
infancia; b) la focalizada en los regímenes correctivos asignados a los sujetos
considerados no normalizados; c) la articulada al tema de la institución escolar y d) la
que considera la infancia como experiencia. Se reconoce en este análisis la disparidad
histórica de los países analizados –Chile, México, Perú, Argentina, Brasil y Colombia-,
y se entiende siguiendo a Sandra Carli, que este campo de estudios se consolida por la
“influencia de iniciativas y reformas políticas herederas de la promulgación de la
convención Internacional del Derecho del Niño (1989), de los estudios agenciados por
organismos internacionales y estatales y de las investigaciones universitarias” (p.283).
Tales tendencias son, para las autoras, la evidencia que la infancia dejó de ser un objeto
comprendido exclusivamente desde el desarrollo biopsicológico a ser abordado desde
314 Si bien no se dará centralidad al concepto de campo, es preciso apuntar algunos elementos desde los que se usa este concepto siguiendo para ello a Bourdieu (1976). Para este sociólogo francés, un campo se caracteriza porque hay algo en juego y hay gente dispuesta a jugar. Dicha gente, debe contar con un habitus, es decir un cúmulo de técnicas, de referencias, de creencias que dependen de la historia de una disciplina y de su posición en el conjunto de las disciplinas, que son a su vez, condición para que funcione el campo. La estructura del mismo, se define por el estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en dicha lucha.
582
diversas dimensiones: sociales, culturales, políticas e históricas. Quizá por ello, prestan
especial atención a la última de las tendencias enunciadas, pues la consideran
relativamente nueva en los estudios historiográficos, ésta muestra lo que denominan la
“infancia vivida”, cuyo estudio se aproxima a la historia cultural –en ella los estudios
sobre la memoria-, el psicoanálisis, la literatura o los estudios visuales.
A su vez, Álzate (2003) fija su interés en las “concepciones (ideas, categorías
conceptuales) de la infancia que denoten el influjo, mayor o menor, de la moralidad
religiosa tradicional colombiana, de las teorías pedagógicas modernas y
contemporáneas, de las nuevas sensibilidades jurídicas y políticas, históricas y
psicosociales” (p.13). En esta perspectiva, organiza las concepciones de la infancia
según cinco referentes: históricos, pedagógicos, psicosociales, de la infancia como
sujeto de derechos y de la infancia como sujeto de políticas sociales. Para ello, realiza
la revisión de referentes nacionales e internacionales, así como de algunos documentos
de política pública, elaborando a partir de éstos, síntesis de las discusiones en dichos
referentes, y planteando los principales puntos de discusión en los mismos.
Por último, Rodríguez y Mannarelli (2007), coordinadores del libro titulado: “Historia de
la infancia en América Latina”, organizan la discusión según períodos históricos en: a)
época prehispánica; b) época colonial; c) siglo XIX; d) siglo XX y un apartado final, que
en apariencia no guarda mucha coherencia con el criterio anterior, al que denominan e)
trauma e infancia y en el que se incluyen artículos relacionados con los niños
desaparecidos en Argentina (Maffla, 2007), el informe de la comisión de la verdad en
Perú (Acha, 2007) o el reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado en
Colombia (Vergara, 2007), lo que supone una reflexión sobre el siglo XX. En cada
período, se incluyen artículos -de diversos autores- que exploran dichos momentos
históricos; por ejemplo, en la época colonial, las discusiones se relacionan con la
formación de buenos cristianos y jóvenes letrados en Santa Cruz de Tlatelolco –México
(Gonzalbo, 2007); las niñas expósitas de Santa Cruz de Atocha en la Lima Colonial
(Mannarelli, 2007) o las morfologías de la infancia esclava en Río de Janeiro, siglos
XVIII y XIX (Florentino y Pinto de Góes, 2007). A su vez, para el siglo XIX, los temas se
relacionan con: los niños abandonados en Bogotá (1642-1885) (Restrepo, 2007), la
Pediatría en Colombia (Rodríguez, 2007) o las meninas perdidas de Brasil (Abreu,
2007).
Tales clasificaciones, tienen como criterios de organización: los temas de trabajo
vinculados a los estudios sobre la infancia (Herrera y Cárdenas, 2013), las
583
conceptualizaciones a propósito de la misma (Álzate, 2003) y recortes históricos en
elaboraciones sobre el tema (Rodríguez y Mannarelli, 2007). Toda clasificación es
caprichosa, sin embargo, exige definir el criterio organizador. En tal sentido y dado el
desafío de ensayar una clasificación más, ha de decirse en sintonía con Bárbara
Finkelstein (1986), que estudiar la infancia es estudiar la educación, por lo tanto, los
referentes que fueron analizados en este balance, se aproximan a la historia de la
educación, en trabajos publicados en el país para el período comprendido entre el 2000
y 2015. A continuación, se presentarán algunos resultados iniciales en la revisión
realizada, cuyo énfasis, antes que mapear las temáticas vinculadas a los estudios sobre
la infancia, sus conceptualizaciones o recortes históricos, tiene que ver con trazar
algunos de sus puntos de encuentro analíticos, así como algunos de sus puntos de
diferenciación.
De manera general, pueden plantearse algunas coincidencias frente a: los referentes
conceptuales utilizados, las fuentes primarias de estudio y los períodos históricos
estudiados. Frente a las referencias, se mencionan reiterativamente las elaboraciones
de Philippe Ariès (1960), Lloyd deMause (1991), Jacques Donzelot (1998) o Elisabeth
Badinter (1991), asunto que no es de extrañar, pues un texto ineludible en los estudios
sobre infancia, es el ya clásico “El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen” del
historiador francés Ariès, el cual, ha sido objeto de múltiples criticas historiográficas y
analíticas, pero sin duda, se reconoce como el trabajo pionero en este campo. Por otra
parte, trabajos como el de deMause o Donzelot, desarrollan uno de los principales
asuntos vinculados al análisis de la infancia: la familia y las prácticas de crianza. Y en
tal perspectiva, Badinter al cuestionar el instinto maternal, permite interrogar la
configuración histórica de la infancia y la madre moderna. Estos trabajos, evidencian un
asunto que dejó de ser un secreto en el campo: la infancia es una invención histórica,
social y cultural.
De igual forma, pero en el campo de la historia de la pedagogía, se recurre
continuamente a los trabajos de la española Julia Varela (1986) y el argentino Mariano
Narodowski (1999); del primero, al situar a la infancia como uno de los elementos que
configura la escuela moderna y del segundo, en su análisis sobre las infancias
contemporáneas a las que clasifica en desrealizada e hiperrealizada, así, como su
relectura de algunos clásicos de la pedagogía descritos en su libro Infancia y poder
(1994).
584
Finalmente, es necesario plantear para el panorama colombiano, un trabajo que se
evidencia como de obligatorio estudio, corresponde a los dos volúmenes titulados Mirar
la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903-1946, de Sáenz,
Saldarriaga y Ospina (1997), cuya riqueza, se ve representada en los análisis
elaborados, en particular, los relativos al proceso de modernización del país, el período
de estudio analizado de 1903 a 1946 y, el numeroso registro bibliográfico vinculado a
esta investigación, que cobija libros de pedagogía, higiene y puericultura, publicaciones
seriadas en educación, revistas de circulación nacional, prensa, literatura, entre otros.
Estos aspectos exigen, de quienes investigan este campo, una visita obligada a dichos
textos.
En esta lógica, se circunscriben los trabajos de Muñoz y Pachón (1988; 1989; 1991;
1996), quienes llevaron a cabo una ambiciosa investigación sobre la “niñez bogotana”
en el siglo XX (1900-1990). Para ello, exploraron “la condición de salud, educación,
familia, recreación, religión, violencia y protección de la niñez bogotana” (1996: 11), a
partir de una revisión de la prensa bogotana.
Frente a las fuentes primarias de estudio, puede decirse –no sin poca cautela-, que son
recurrentes las publicaciones seriadas, de modo tal que publicaciones como: Cromos o
el periódico El Tiempo, son referenciadas frecuentemente. De igual forma, dependiendo
del período de estudio analizado, es usual encontrar revisiones de ciertos textos
considerados hitos, caso del libro: El Breviario de la Madre de Vasco (1956), para la
primera mitad del siglo XX. También, se consultan manuales de pedagogía, puericultura,
higiene o urbanidad, revistas de pedagogía o de medicina. Y, se estudian los
documentos de legislación educativa nacional, así como aquellos de política pública, en
especial para la segunda mitad del siglo XX, los presentados por la UNICEF –creada en
1946-, y los relacionados con la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas
(1989).
A propósito del período de estudio, probablemente el más analizado corresponde a la
primera mitad del siglo XX, de tal suerte que han sido objeto de estudio durante el
período: los discursos sobre la infancia (Noguera y Marín, 2007), la protección a la
infancia (Pachón, 2007), juegos y juguetes (Cárdenas, 2012), la educación femenina
(León, 2012), el discurso sobre la degeneración de la raza (Sáenz, 2012), la educación
de párvulos (Martínez, 2015), entre otros. Ha de indicarse además, que algunos de los
trabajos que analizan la segunda mitad del siglo XX, se enfocan en el estudio de
organizaciones internacionales dirigidas a la protección de la infancia, caso UNICEF
585
(Martínez, 2011; Acosta, 2012) o en temas vinculados a las tareas escolares (Jiménez,
2010) y, a las pautas de crianza, juego y discursos sobre los procesos de socialización
(Jiménez, 2008). Y unos pocos trabajos abordan momentos históricos amplios; al
respecto puede citarse, por un lado, el estudio sobre el concertaje laboral de niños
abandonados entre mediados del siglo XVII y finales del siglo XX de Restrepo (2007) y,
por otro lado, la construcción escolar de la infancia entre los siglos XVI y el siglo XX de
Saldarriaga y Sáenz (2007).
2. Puntos de encuentro analítico
Una vez revisados diversos libros, capítulos de libros y artículos en revistas
especializadas que, reiterémoslo, presentaron un análisis histórico sobre la infancia y
fueron producidos entre el 2000 y 2015, emergieron dos líneas generales que pueden
considerarse puntos de encuentro analítico a propósito de los estudios sobre la infancia
en el país. El primero, tiene que ver con la relación entre educación e infancia y el
segundo, con la infancia como piedra de toque en las prácticas de regulación de la vida
de la población.
a. Educación e infancia
Aunque suene evidente, pensar la infancia implica pensar la educación. Quizás sea
porque buena parte del discurso pedagógico tiene que ver con educar al hombre en
esos primeros años de vida. Para ello, se recurre a los dos escenarios fundamentales
de socialización: familia y escuela. Estudiar históricamente a la infancia, ha supuesto
indagar por los modos en que se han entretejido los vínculos entre tres aspectos:
infancia, familia y escuela. A propósito de la primera relación que deviene de tal vinculo,
la de infancia y familia, se encuentran algunos estudios que exploran los modos como
se produjeron de modo simultáneo, estas dos expresiones sociohistóricas. En tal
sentido, se comprende que ni infancia, ni familia, han existido siempre. Por el contrario,
pensar su configuración remite a las condiciones históricas en que estas se produjeron,
las cuales, usualmente -según se referencia- tienen por escenario el proceso de
modernización del país. En esa perspectiva, es objeto de estudio un sofisticado conjunto
de discursos y prácticas, a propósito de asuntos como: el debate sobre la degeneración
de la raza, promovido durante las primeras décadas del siglo XX en el país; el ingreso
586
de saberes médicos, higiénicos, psiquiátricos, psicológicos, sociológicos, jurídicos y
criminológicos, considerados modernos por su aproximación a lógicas científicas; las
concepciones de la infancia, derivadas del movimiento internacional de escuela nueva
y, los conceptos y prácticas del cristianismo institucional en el país (Sáenz, 2012). Estas
serían algunas de esas condiciones de articulación. En ese escenario, por ejemplo,
educar a la infancia femenina se convirtió en una prioridad, pues con ello se permitió la
construcción de un personaje cuyo objeto de cuidados y protección fuese el niño. De
ese modo emergió también la madre moderna, quien al mismo tiempo que procuraba
gobernarse a sí misma, gobernaba el hogar y con ello, a su esposo e hijos, siguiendo
para esto preceptos médicos, higiénicos, morales, pedagógicos y económicos (León,
2012).
Para la segunda mitad del siglo XX, un objeto de estudio serán las prácticas de crianza
(Jiménez, 2008), lo que deviene de una nueva sensibilidad a propósito del cuidado del
infante e incluso, la reinvindicación de la paternidad como posibilidad de construir lazos
afectivos en la familia. Por lo tanto, prácticas como la alimentación, el sueño, el
desarrollo de la vida sexual y la calidad del tiempo dedicado al niño, fueron asuntos
identificados en diversas publicaciones seriadas, asumiendo la forma de pautas que
describieron lo que significa: “ser padres hoy”.
De igual forma, se encuentran referencias al proceso de escolarización y en él, a la
segunda relación: infancia – escuela. Por un lado, desde aquellos que exploran algunas
prácticas escolares que configuran la infancia, como a) los juegos (Jiménez, 2008;
Cárdenas, 2012), bien sea desde los discursos de los pedagogos activos, los discursos
sobre las bondades psicosociales del juego o de los juguetes como materiales
educativos; b) la educación física, intelectual o moral en la educación femenina (León,
2012) y en estas, los saberes y prácticas que produjeron al sujeto infantil femenino; o c)
las tensiones entre las modalidades directas e indirectas de formar a la población
(Sáenz, 2012), en las que se encontraba en juego la conversión de una niñez más
primitiva de lo natural, en relación con lo que ocurría en sociedades civilizadas. Lo cuál,
generó en el escenario escolar, que los expertos dirigieran su mirada hacia tres asuntos
centrales de la niñez nacional:
(…) en primer lugar, al fortalecimiento de su debilitada voluntad para que fueran
capaces de adquirir control sobre sus indisciplinados cuerpos, emociones y
fantasías; en segundo, la intensificación de la energía vital —de tanta
importancia para que se convirtieran en individuos productivos— por medio de
587
la educación física para equilibrar sus tendencias degenerativas hacia la
pasividad y el letargo, y en tercero, la prolongación de sus años de escolaridad
—eso es, de su periodo de infantilización— necesaria para imitar a las razas
civilizadas para las que las “leyes naturales”, según los discursos sobre la
degeneración apropiados en el país, habrían previsto una infancia más larga
para que los niños pudiesen adaptarse a la mayor complejidad propia de las
sociedades modernas (Sáenz, 2012: 231).
Según se enuncia, el ideal fue para la primera mitad del siglo XX, que la escuela
moderna y activa tuviese la capacidad de producir una infancia normal en sentido
moderno.
Y del otro lado, mediante la lectura de los modos como circula el discurso sobre la
infancia en textos pedagógicos (Saldarriaga y Sáenz, 2007; Sáenz, 2004) o la
configuración de un saber escolar para educar a la tierna edad y los párvulos (Martínez,
2015). Habría que mencionar, a su vez, aquellos trabajos que exploran los procesos
educativos en escenarios no escolares, casas de menores, hospicios (Yarza, 2010;
Castro, 2010; Pachón, 2007) y dirigidos a poblaciones consideradas anormales, es
decir, con “deficiencias” (Yarza, 2010), niños de la calle (Álvarez, 1999) o niños
delincuentes (Castro, 2010).
b. Educar la infancia - gobernar la población
En varios de los documentos revisados son visibles ejemplos de que educar a la infancia
es considerada una condición para gobernar la población. Tal enunciado es posible en
primer lugar, porque suponer a la infancia: dócil, maleable, débil y germen del hombre
del mañana, se convierte en punto de inicio para impactar al grueso de la población.
Siguiendo a Sáenz (2012), se vive un proceso de “infantilización”, que podríamos llamar
social. Es decir, la clasificación y distribución de los sujetos según características físicas
o morales, como: deficientes, niños de la calle, delincuentes o enfermos, remitiría a las
características asignadas a la infancia, tales como: la debilidad, docilidad o maleabilidad,
de las que serían reflejo estas poblaciones. Es necesario aclarar que se estudia
fundamentalmente la infancia de dichas poblaciones, es decir, la infancia delincuente o
la infancia deficiente, asunto que no representa un capricho investigativo, sino que
evidencia la centralidad que ha tenido y sigue teniendo ésta en tanto objeto de gobierno.
588
En segundo lugar y en articulación con lo anterior, es posible identificar un buen número
de estudios que tienen por objeto prácticas, discursos, sujetos e instituciones de
protección a la infancia. La clave aquí es: proteger es gobernar. Es preciso ahora ampliar
la noción de gobierno. En sus cursos en el Collège de France, en particular en
Seguridad, Territorio, Población (2006), Nacimiento de la Biopolítica (2007) y El
Gobierno de sí y de los otros (2009), además de algunas entrevistas y artículos
dispersos producidos en la década del 70, el foco de análisis de Foucault fue la noción
de gubernamentalidad, desde el estudio de la racionalización de la práctica
gubernamental en el ejercicio de la soberanía política, hasta la autolimitación de ésta en
lo que denominó liberalismo. Para este pensador, dicha noción representó un
desplazamiento en su pensamiento, caracterizado como el “pasar del análisis de la
norma a[l de] los ejercicios del poder; y pasar del análisis del ejercicio del poder a los
procedimientos, digamos de gubernamentalidad”. (Foucault, 2009, p. 21).
En palabras de Foucault, usar la noción de gobierno exige “estudiar y comparar las
distintas técnicas de (…) la dirección de hombres por hombres” (Foucault, 1996, p. 81)
lo cual, demanda abordar dos factores: primero, las técnicas del yo, que como no
requieren el mismo aparato material que la producción de objetos, a menudo son
técnicas invisibles. Y segundo, su relación con las técnicas para la conducción de otros
(p. 82). En síntesis hablar desde el gobierno, entraña estudiar la conducción de las
conductas y por ende, a través de cuáles técnicas es posible tal conducción.
El primer factor, define la relación que uno puede establecer consigo mismo en la
medida en que, por ejemplo, trata de dominar sus placeres y deseos (Foucault, 2007).
Y el segundo factor, “es un conjunto de acciones sobre acciones posibles”, “incita,
induce, desvía, facilita o dificulta, extiende o limita, hace más o menos probable; llevado
al límite, obliga o impide absolutamente.” Es una “acción sobre acciones”. Se trata, en
definitiva, de una conducta que tiene por objeto la conducta de otro individuo o de un
grupo” (Castro, 2011, p. 176). Este factor, tendrá como objeto central la “población”, en
tanto problema político, científico, biológico y de poder (p.222), asegurando una
regulación sobre ésta al actuar de manera global sobre los procesos biológicos del
hombre/especie. Dichos factores permiten comprender que la práctica de conducir las
conductas – es decir, gobernar – al igual que educar (Noguera, 2012), devienen del
juego de una relación entre los sujetos y consigo mismos.
En esta perspectiva, puede rastrearse en los trabajos revisados un conjunto de
prácticas, discursos, sujetos e instituciones de protección a la infancia, que podríamos
589
decir, obedecen a formas de gobierno disciplinar o liberal, siguiendo nuevamente a
Foucault, o como lo diría Sáenz (2012) prácticas de formación y gobierno directas y
prácticas indirectas.
En tal dirección, en lo producido sobre historia de la infancia en el país, pueden
enunciarse trabajos como el de Estela Restrepo (2007), vinculados al estudio de
instituciones como la casa de expósitos y recogidas durante 1642 a 1790, que
posteriormente paso a ser casa de refugio, entre 1834 y 1870 y que finalmente, hacia
1869, se configuro en Escuela – Taller, ejemplifican los modos como se gobernó a la
infancia, vía estrategias disciplinares. Dicha institución, durante el siglo XVII y buena
parte del siglo XVIII, se dedico a “criar a los lactantes, de instruir a los niños, de albergar
a las viudas y beatas que entraran voluntariamente, y de moralizar a las mujeres
remitidas por la justicia” (Restrepo, 2007. p.266). Como casa de refugio tuvo por objeto
“encerrar a los condenados a presidio y a prisión con el fin que enmendaran las faltas
cometidas, y reformar las costumbres de los niños abandonados a través de la destreza
en un oficio” (p.269). Y, finalmente se convirtió en escenario únicamente dirigido al
albergue de los niños, tras la salida de los presos a las cárceles y los enfermos a los
hospitales, los niños fueron instruidos en las horas de la mañana y en la tarde, aprendían
en talleres de: telares, platería y latonería, zapatería, herrería, carpintería o sastrería.
Se pasó así, de encerrar a educar. Otro ejemplo, puede seguirse en el trabajo de Ximena
Pachón (2007), sobre la Casa de Corrección de Paiba, institución dirigida a la infancia
pobre capitalina durante el siglo XX.
Son diversos los sujetos de protección que han sido objeto de estudio, por ejemplo, el
gamín bogotano, según Álvarez (1999), se convirtió en símbolo de la ciudad durante la
primera mitad del siglo XX, hasta el punto que llego a idealizarse y estereotiparse en la
literatura y crónica periodística. Este personaje, se refiere a:
“aquellos niños trabajadores que se ocuparon de una serie de oficios que la ciudad en
crecimiento fue demandando: lustrabotas, pregonero de noticias, vendedor de loterías,
de café, de periódicos y de caramelos. Se les describía como muchachos harapientos,
traviesos, pícaros, alegres, valientes, ladronzuelos de centavos (término que de alguna
manera justificaba su acción), capaces de despreciar la vida en determinados momentos.
Se les consideraba incluso actores callejeros de mítines y revueltas populares donde se
reclamaba la democracia” (p.14).
En su análisis, dicho autor describe el tránsito de una suerte de romanticismo frente a
este personaje, hasta configurarse en una preocupación social, dado su estado de
590
desamparo. A su vez, pueden señalarse estudios sobre el menor delincuente (Castro,
2010) y sobre el anormal (Yarza, 2010).
A propósito de las prácticas de gobierno de la infancia que han sido estudiadas, es
posible listar un gran número de ellas, sin embargo, una buena síntesis, es la elaborada
por el profesor Sáenz (2012) así:
a) La renovación de los esfuerzos para ampliar la escolarización de los niños y niñas
pobres, en tanto asunto de “urgencia nacional”.
b) La intensificación en las escuelas de prácticas antropométricas, fisiológicas, psicológicas
y médicas de examen de la población infantil pobre para detectar las señales, signos o
estigmas que configurarían su estado degenerativo.
c) La introducción de prácticas pedagógicas e higiénicas en las escuelas para pobres, para
anormales y para niños delincuentes, encaminadas a la regeneración y vigorización
física de la población infantil, en tanto estrategia central de civilización del “pueblo”,
considerado como el principal responsable de la degeneración de la raza nacional. Estas
prácticas incluyeron la educación física, las excursiones, el trabajo manual, el
mejoramiento de las condiciones higiénicas de las escuelas, la disminución de los
horarios de clase para evitar la fatiga escolar y, en algunas regiones del país, los
restaurantes escolares.
d) La puesta en marcha en algunas regiones de campañas médicas, nutricionales,
higiénicas y de puericultura para las familias pobres, cuyo horizonte estratégico era que
las familias incorporaran una concepción “civilizada” de infancia, así como el conjunto de
prácticas de infantilización moderna de la niñez colombiana (212).
Por último, en términos de los discursos de protección a la infancia, pueden
referenciarse los trabajos de Martínez (2011) y Acosta (2012) a propósito de sus análisis
sobre el discurso promovido por UNICEF (El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia), que al decir de Martínez, si bien no crea la infancia, sí modula y funda su
discurso como algo coherente. Para Martínez (2011), la infancia de UNICEF se
mundializa: “Es una sofisticación del gobierno de la población que aún lee las
regularidades como dato (cuántos niños nacen, cuántos mueren, cuántos se enferman,
cuántos van a la escuela, etc.), pero que apunta a capturarlos en términos genéricos y
globales” (p.52). Los discursos agenciados por UNICEF, entre otros, se convierten en
condición de posibilidad para hablar de la infancia como sujeto de derechos.
En síntesis, es posible decir que elaborar la historia la infancia en el país, ha significado
construir la relación: educación-infancia-gobierno. Por una parte, a través del mapeo de
591
prácticas y discursos educativos en dos escenarios: familia y escuela. Y por otra parte,
al identificar a la infancia como blanco de gobierno y situar en esta relación la estrategia
de “protección”, pueden delinearse prácticas, discursos, instituciones y sujetos,
gravitando a su alrededor. Tales asuntos, caracterizan caras de aquello que se
denomina “infancia”. Una cara débil, dócil, disciplinada. Otra regulada, pero en
apariencia más libre, aquella de los juegos y juguetes, aquella activa (León y Noguera,
2015). Otra delincuente o enferma. Una a proteger. Y, una de los derechos. Tales caras
constituyen evidencia de la dificultad de conceptualizar a la infancia.
3. Puntos de diferenciación
Los trabajos anteriormente enunciados, presentan múltiples puntos de diferenciación.
De un lado, porque se inscriben en lógicas de análisis historiográfico distintas, algunas
más cercanas a la historia de las ideas, otras a la historia cultural y unas más, desde el
análisis arqueológico y genealógico. Esto se refleja en: las conclusiones; el tipo de
fuentes documentales analizadas, la diversidad de éstas o no y, los extensos o
delimitados recortes históricos para analizar los objetos de estudio.
De otro lado, es evidente en algunos casos, que el objeto de estudio no es directamente
la infancia, sino que al analizar algunos discursos o prácticas, la infancia surge como
pretexto analítico. Sin embargo, no hay un interés explícito por conceptualizarla. Sea tal
vez este, uno de los motivos por lo cuales, se usan indiscriminadamente, nociones como
infancia, niñez o niños. En otros casos, se marcan algunas descripciones de modos
como puede ser conceptualizada la infancia (Noguera y Marín, 2007; Álvarez, 1999;
Álzate, 2003), tomado como referencias análisis sobre tal categoría, es decir, fuentes
secundarias.
4. Los estudios en historia de la infancia en el país
La proliferación de estudios en este tema, permite cartografiar una línea de trabajo que
se posiciona en el campo de la historia de la pedagogía en el país. Aún, esta pendiente
por analizar a que responde dicha proliferación, sin embargo y para finalizar, pueden
indicarse algunos puntos para iniciar dicha cartografía.
592
Las prácticas: es importante reconocer, que éstas han sido objeto de historización. Si
bien los temas de entrada al análisis de la infancia son múltiples, pueden describirse los
modos como ciertas prácticas se han configurado históricamente. De tal suerte que,
alimentar, asear, vestir o educar a los niños de ciertos modos, han sido rastreados
históricamente.
La potencia descriptiva: en ciertas ocasiones, se comprende que describir es dejar la
tarea a medio camino. Camino a la interpretación. A pesar de estas comprensiones, en
materia histórica la descripción es fundamental. De alguna manera, consiste en dibujar
el pasado con palabras. Describir la ciudad, el hogar o la indumentaria infantil, durante
algún período histórico, nos permite imaginar el mundo en años, décadas o siglos
previos. Pero además, comprender los modos en que se han configurado prácticas
contemporáneas, que en desdeño de ciertas opiniones, reflejan que el mundo humano,
no es más que una invención. Por ello, los modos como nos relacionamos con los niños
sean afectivos, protectores e incluso temerosos, se han producido en condiciones
históricas particulares que vale la pena describir.
Los temas de estudio: como se ha mencionado anteriormente, han sido diversas las
entradas para describir los modos como se ha producido la infancia, entre ellas: las
prácticas de crianza, la familia, la escolarización, los juegos y juguetes, la infancia
femenina, la delincuencia infantil, la anormalidad, la pediatría, entre otros. El análisis de
dichos temas, permite configurar redes comprensivas frente al sentido de la infancia.
Sin embargo, tal diversidad temática puede problematizarse, pues así como lo indica
Scott (1990) a propósito de los estudios de género, al hablar de mujeres, no
necesariamente se habla de género, en tanto ésta es fundamentalmente una categoría
analítica, del mismo modo, al hablar de niños, no precisamente se estaría estudiando la
infancia, pues ésta es también una categoría analítica. Es decir, cuando se estudia a la
“infancia”, se analiza en tanto categoría. Por ello, también sería necesario precisar de
qué hablamos cuándo hablamos de ésta y no confundirla con las referencias a los niños
o la niñez. Podríamos arriesgar –con mucha precaución-, algunos elementos a
considerar para hablar de la “infancia” como categoría analítica. En primer lugar,
reconocer su historicidad. Como categoría, es relativamente reciente en el marco de los
estudios histórico sociales, por lo tanto, es posible señalar que no siempre hemos
hablado de infancia, aunque niños hayan existido siempre. En segundo lugar, hacer del
“niño” un objeto de estudio, es decir, “objetivarlo”. Estudiar los modos como se ha
producido el sujeto infantil, en el marco de qué relaciones históricas y sociales, qué
593
disciplinas estudian ciertas de sus esferas, a qué nociones se aproxima el estudio de la
infancia e incluso, interrogarnos por ¿ha qué obedece la exacerbada proliferación de
investigaciones a propósito de dicha categoría? Por último, pensar la “infancia” como
categoría analítica, exigiría comprender la red de relaciones en las que se ha inscrito tal
noción. Relaciones institucionales, relaciones de saber (disciplinar o no) o relaciones
subjetivas. Hasta aquí entonces, algunos apuntes para un balance.
Bibliografía
Abreu, Marta (2007). Meninas perdidas de Brasil. En: En: Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma (2007) (coordinadores). Historia de la infancia en América Latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia. pp.297-321 Acha, Elizabeth (2007). El informe de la Comisión de la Verdad en Perú. En: Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma (2007) (coordinadores). Historia de la infancia en América Latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia. pp.553-575. Acosta Jiménez, Wilson (2012). La infancia como sujeto de derechos según la UNICEF. Aportes para una lectura crítica y de extrañamiento. En: Revista Pedagogía y Saberes. Nº 37. Segundo Semestre. Bogotá-Colombia: Facultad de Educación –Universidad Pedagógica Nacional. Álvarez, Alejandro (1999). Los niños de la calle: Bogotá 1900-1950. En: Álzate, María Victoria (2003). La infancia: concepciones y perspectivas. Pereira: Editorial Papiro. Ariès, Philippe (1987). El Niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid: Tauros. Badinter, Elisabeth (1991). ¿Existe el Instinto Maternal? Historia del Amor Maternal. Siglos XVII al XX. España: Ediciones Paidos. Cárdenas, Yeimy (2012). Infancia, juegos y juguetes: contribuciones a un análisis histórico-cultural de la educación en Colombia (1930-1960). En: Revista Pedagogía y Saberes. Nº 37. Segundo Semestre. Bogotá-Colombia: Facultad de Educación –Universidad Pedagógica Nacional. Castro, Edgardo (2011). Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores. Argentina: Siglo XIX editores S.A. Castro, Jorge Orlando (2010). De polillas a microbios. Una mirada genealógica sobre la invención del menor delincuente en España y Colombia. En: Educación y Pedagogía. Vol. 22. Nº57. Mayo-Agosto. Medellín: Facultad de Educación Universidad de Antioquía. DeMause, LL (1991) La evolución de la infancia. Historia de la infancia. Madrid: Alianza Universidad. Díaz Soler, Carlos Jilmar (2012). Más allá de la infancia escolarizada. Elementos para una discusión sobre el campo investigativo de la infancia. En: Revista Pedagogía y Saberes. Nº 37. Segundo Semestre. Bogotá-Colombia: Facultad de Educación –Universidad Pedagógica Nacional. Donzelot, Jacques (1998). La policía de las familias. España: Pre-textos. Finkelstein, Bárbara (1986). La incorporación de la infancia a la historia de la educación. En: Revista de Educación Nº 281. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
594
Florentino, Manolo y Pinto de Góes, José Roberto (2007). En: Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma (2007) (coordinadores). Historia de la infancia en América Latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia. pp. 171 – 186. Foucault, Michel (2000). Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). Argentina: Fondo de Cultura Económica. Foucault, Michel (2006). Seguridad, Territorio y Población. Curso en el Collège de France. (1977-1978). Argentina: Fondo de Cultura Económica. Foucault, Michel (2007). Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979). Argentina: Fondo de Cultura Económica. Foucault, Michel (2009). El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France. (1982-1983). Argentina: Fondo de Cultura Económica. Foucault, Michel (2010). El coraje de la verdad. Curso en el Collège de France. (1983-1984). Argentina: Fondo de Cultura Económica. Gonzalbo Aizpuru, Pilar (2007). Buenos cristianos y jóvenes letrados en Santa Cruz de Tlatelolco (México). En: Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma (2007) (coordinadores). Historia de la infancia en América Latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia. pp. 107-120. Herrera, Martha Cecilia y Cárdenas, Yeimy (2013). Tendencias analíticas en la historiografía de la infancia en América Latina. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Vol. 40. Nº 2. Jul – Dic. Colombia: Departamento de historia. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. Jiménez Becerra, Absalón (2008). Historia de la infancia en Colombia: crianza, juego y socialización, 1968-1984. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Nº 35. Bogotá-Colombia. Colombia: Departamento de historia. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. León, Ana Cristina (2012). Cartografía de los saberes y prácticas de la educación infantil femenina en Colombia: finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. En: Revista Pedagogía y Saberes. Nº 37. Segundo Semestre. Bogotá-Colombia: Facultad de Educación –Universidad Pedagógica Nacional. León, Ana Cristina y Noguera, Carlos (2015). El gobierno por la libertad: análisis de algunos pedagogos de la escuela activa. (En imprenta) Maffla, Diana (2007). Niños desaparecidos, identidades expropiadas bajo la dictadura militar en Argentina. En: Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma (2007) (coordinadores). Historia de la infancia en América Latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia. pp.551-564. Martínez Boom, Alberto (2011). Unicef…dejad que los niños vengan a mí. En: Educación y Pedagogía. Vol. 23. Nº60. Mayo-Agosto. Medellín: Facultad de Educación Universidad de Antioquía. Martínez Velasco, Miguel Angel (2015). De las escuelas primarias a las escuelas infantiles: la configuración de un saber escolar para la Educación de la Tierna Edad y de los Párvulos en Colombia: 1870-1930. Informe de Investigación. Antioquía: Maestría en Educación. Universidad de Antioquía. Muñoz, Cecilia y Pachón, Ximena (1996). La aventura infantil a mediados de siglo. Bogotá: Planeta. Narodowski, Mariano (1994). Infancia y Poder. La Conformación de la Pedagogía Moderna. Buenos Aires: AIQUE. Narodowski, Mariano (1999). Después de Clase. Desencantos y Desafíos de la Escuela Actual. Argentina: Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires – México. Noguera Ramírez, Carlos (2012). El gobierno pedagógico. Del arte de educar a las tradiciones pedagógicas. Colombia: Siglo del hombre editores, Grupo Historia de la Práctica Pedagógica. Noguera, Carlos y Marín, Dora (2007). La infancia como problema o el problema de la in-fancia. En: Revista Colombiana de Educación Nº 53. Segundo Semestre. Bogotá-Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.
595
Pachón, Ximena (2007). La Casa de Corrección de Paiba en Bogotá. En: Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma (2007) (coordinadores). Historia de la infancia en América Latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia. pp.323-339. Restrepo Zea, Estela (2007). El concertaje laboral de los niños abandonados en Bogotá. 1642-1885. En: Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma (2007) (coordinadores). Historia de la infancia en América Latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia. pp.263-279. Rodríguez Jiménez, Pablo (2007). La Pediatría en Colombia. 1880-1960. Crónica de una alegría. En: Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma (2007) (coordinadores). Historia de la infancia en América Latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia. pp.359-388. Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma (2007) (coordinadores). Historia de la infancia en América Latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia. Sáenz Obregón, Javier (2012). La infancia de la infancia. Particularidades y efectos del discurso sobre la degeneración de la raza colombiano en los años veinte y treinta del siglo pasado. En: Nuevas miradas a la historia de la infancia en América Latina: entre prácticas y representaciones. México: Editorial Universidad Nacional Autónoma de México. Saénz, Javier, Saldarriaga, Oscar, Ospina, Armando (1997). Mirar la Infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia. Colombia: Ediciones Foro Nacional por Colombia, Ediciones Uniandes, Editorial Universidad de Antioquia, Clío. Scott, Joan (1990). Género: una categoría útil para el análisis histórico. En: Historia y Género. Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea. España: Ediciones Alfons El Magnanim. Varela, Julia (1986) Aproximación genealógica a la moderna percepción social de los niños. En: Revista de Educación Nº 281. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Yarza, Alexander (2010) Del destierro, el encierro y el aislamiento a la educación y la pedagogía de anormales en Bogotá y Antioquia. Principios del siglo XIX a mediados del siglo XX. En: Educación y Pedagogía. Vol. 22. Nº57. Mayo-Agosto. Medellín: Facultad de Educación Universidad de Antioquía.