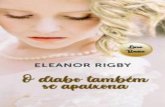(XI) SANTOS, Maria Emília Madeira - No mar também há conchas
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of (XI) SANTOS, Maria Emília Madeira - No mar também há conchas
NO MAR TAMBÉM HÁ CONCHAS
Maria Emília Madeira Santos*
O estudo da introdução e/ou intensificação do uso de várias conchascomo moeda-mercadoria no comércio atlântico africano, através do trân-sito intercontinental promovido pela Casa da Mina e Índia, a partir doséculo XV, não tem atraído a historiografia portuguesa.
Uma vasta bibliografia estrangeira sobre moedas primitivas, moedas--mercadoria e especificamente sobre conchas-moedas, embora concedendoalguma atenção à interferência do comércio de longa distância dos portu-gueses no transporte de determinadas conchas, não se ocupa, como énatural, da organização, articulação e complementaridade deste comér-cio1, promovido pela Casa da Mina e Índia e posteriormente através derotas transversais entre a índia, África e o Brasil.
A minha incursão em tão complexo, como fascinante tema, resultaapenas de encontros documentais fortuitos com estes invólucros vazios,prontos a receber todos os mitos, intenções e significados que se lhesqueira introduzir concreta ou simbolicamente.
Na verdade, ao longo das rotas marítimas e dos caminhos terrestresque tenho percorrido nas minhas investigações, as conchas insistem emse evidenciar desde o século XV até ao XIX, diria mesmo, até hoje.
A minha contribuição para o seu conhecimento, é por isso muitomodesta, pretendo apenas alertar os historiadores da História Marítimapara essas verdadeiras obras de arte oferecidas pelo mar, transportadaspor navios a grandes distâncias e carregadas de significados simbólicos
Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga. IICT.1 Veja-se Jan Hogendorn and Marion Johnson, The Shell Money of the Slave Trade,
Cambridge University Press, 1986, pp. 28-36, 120, 130.
As Novidades do Mundo: conhecimento e representação na Época Moderna, Lisboa,Edições Colibri, 2003, pp. 197-206.
198 Maria Emília Madeira Santos
pelos seus últimos destinatários, conferindo dignidade a quem os usa eriqueza a quem os entesoura, por vezes, aos milhares.
Apresentarei os vários tipos de concha, procurando conciliar a ordemcronológica com que surgiram no conhecimento dos portugueses, asáreas geográficas de origem e os mercados africanos de destino.
A primeira variedade de que vou ocupar-me é exactamente aquelaque não conheço materialmente, isto é, tudo o que sei foi-me transmitidopela documentação (dos séculos XV e XVI) e por estudos de HistóriaNatural antigos e recentes2.
Quando o comércio português se estabelece em São Jorge da Mina,com a estrita finalidade de comprar ouro, através do comércio de troca,haviam já sido feitas prospecções de mercado, no sentido de conhecerquais as moedas-mercadoria mais indicadas para a obtenção do preciosometal. Entre essas mercadorias estavam umas conchas originárias dasilhas Canárias, cujo valor foi de imediato compreendido pelo então Prín-cipe D. João.
Não sabemos por que via chegou ao conhecimento da Fazenda Realportuguesa o valor que tais conchas tinham para as populações africanas.Tão-pouco sabemos desde quando eram conhecidas e valorizadas pelosafricanos. Mas através da História Natural é possível concluir que setrata de um conhecimento ancestral, anterior às ligações marítimas, esta-belecidas por castelhanos e portugueses.
A verdade é que as conchas constituíam um produto vantajoso parao comércio de longo curso que atravessava o deserto do Sara: não sedeterioravam com os imponderáveis do transporte e eram relativamenteleves.
Este facto era já uma evidência para D. João II, em 1480, quandoobtém o monopólio do comércio das referidas conchas, com o pretextode não permitir a depreciação desta moeda-mercadoria.
A carta de lei explicita que é intenção régia proteger os resgates daGuiné, de modo que «em tempo algum que vier possa» não seja a «nego-ciação de menor valor e proveito do que ora ao presente é». Proíbe-seassim o negócio com conchas a todos os naturais e estrangeiros, estabe-lecendo o monopólio do Príncipe, «a que a dita mercadoria e tratodirectamente pertence». Ressalva-se a possibilidade de os castelhanos apoderem trazer a Portugal, mas apenas a venderem exclusivamente ao
2 Entre outros, evidenciam-se M. Adanson, Histoire Naturelle du Senégal. Coquillages,Paris, 1757. J. Meco, Sopondylus Gaederopus, L. del Museo Canario, Las Palmas deGran Maiorca, 1970-1971.
No Mar Também há Conchas 199
detentor do monopólio3. Prescrevem-se graves castigos para os infracto-res4. D. Manuel segue a mesma política, reservando para si os monopóliosde certas moedas de troca, mas estabeleceu contratos com rendeiros.
Em 1504, o contrato das conchas era detido por um tal Martim Vaze um Afonso Alvarez, pelo qual receberam 36 565 réis correspondentes àsétima parte do ouro que rendeu a troca das conchas na Mina5.
Os contratadores forneciam as conchas ao feitor da Casa da Mina,que por sua vez as confiava ao capitão da caravela da Mina, para que asentregasse ao feitor da fortaleza/feitoria6. As conchas eram reservadaspara ofertas aos reis comarcãos do Castelo da Mina, enquanto os merca-dores que vendiam o ouro se sujeitavam a esperar pelos navios do reinopara poderem receber "conchas boas" das Canárias.
As conchas originárias das Canárias são referidas na documentaçãoportuguesa apenas por conchas, sem qualquer outra designação. Sabemos,no entanto, que se trata de conchas grandes, designadas nos textos doséculo XV por ostras. Além de grandes eram apreciadas pela sua conca-vidade, visto que as baixas e pequenas não tinham venda7. O seu valorespecial residia no facto de os africanos as usarem ao pescoço comoamuleto contra os raios8.
A dificuldade em identificar as conchas que serviam de moeda detroca, na fortaleza do ouro, levou Ballong-Wen-Mewuda a considerar queelas seriam originárias do Benim9, mas uma análise mais cuidada dasfontes permite-nos confirmar que as conchas usadas como moeda paracomprar o ouro no Castelo da Mina, além de serem raras, partiam de Lis-boa nas caravelas destinadas àquela fortaleza. Entre 16 de Outubro de
3 24 de Julho de 1480, Portugaliae Monumenta Africana, Lisboa, IICT, vol. 1, 1993,vol. 1, pp. 255-256.
4 18 de Janeiro de 1480, Idem, Ibidem, pp. 248-249.5 ANTT, Núcleo Antigo, n.° 799, Livro do Tesoureiro da Casa da Mina, fol. 200.6 Idem, Ibidem, fol. 523-523v.7 Idem, Ibidem, fol. 201-201v.8 Jerónimo Munzer, 1494, Itinerário do Dr. Jerónimo Munzer (excertos), trad. Basílio
Vasconcelos, Coimbra, 1932, p. 245. Este autor, ao referir-se às conchas das Canárias,afirma que são de ostras. Dapper, em meados do século XVII, descreve "um peixe"muito raro possuindo uma grande concha que talvez possa identificar-se com a conchada referida ostra. D'O. Dapper, Description de l'Afrique, Amesterdan, 1686, p. 508.
9J. Bato'ora Ballong-Wen-Mewuda, São Jorge da Mina 1482-1637: La vie d' uncomptoir portugais en Afrique Occidentale 1482-1637, Fondation Calouste Gulbenkian- Centre Culturel Portugais/Comission National pour les Commemorations desDecouverts Portugaises, Lisboa-Paris, 1993, pp. 326-327.
200 Maria Emília Madeira Santos
1504 e 15 de Outubro de 1505, os contratadores das conchas fizeram oitoentregas ao feitor da Casa da Mina, num total de 529 (34+80+45+18+142+50+78+82). A irregularidade do volume das entregas (oscilam entre18 e 142) demonstra, por um lado, dificuldades no fornecimento, e, poroutro, a grande apetência do mercado de compra que dava vazão a toda equalquer quantidade10. Na verdade, a feitoria recebeu, por exemplo, entreAgosto de 1504 e Janeiro de 1507, uma quantidade de 1133 conchas.Podemos dar outro exemplo: entre Setembro de 1525 e Maio de 1528,entraram 763 conchas. Tais números deixam-nos pensar que se trata deconchas muito valiosas, exactamente as conchas de ostras das Canáriasque recebiam um tratamento especial, visto que na feitoria de S. Jorge daMina existiam dois funcionários dedicados especialmente a esta merca-doria: o "feitor das conchas" e o "alimpador de conchas"11.
No Museu Canario, em Las Palmas de Gran Canaria, existem exem-plares de conchas Spondylus Powelli E. A. Smith, cujas característicaslevam à sua identificação com as conchas transaccionadas no século XV.Diz o naturalista J. Meco que a espécie comum à costa africana do Medi-terrâneo aumenta nas Canárias de tamanho aparecendo exemplares de14 cm x 12 cm, sendo a sua forma quase esférica. E também que os povosdo interior da Costa do Marfim tinham um intenso comércio das valvassuperiores e que quanto mais vermelha e menos erodida estivesse a con-cha mais valor tinha. Para além disso, este bivalve é o mais pesado dazona euroafricana (200 gramas cada valva), e cobertas de aderênciascomo vermes e algas calcáreas12, o que explica que no forte de S. Jorgeda Mina trabalhassem dois alimpadores de conchas. Pela descrição donaturalista Nickles, verificamos tratar-se de uma concha de grande beleza:"Coloração vermelho tijolo ou vermelho vinho; interior branco, larga-mente marginado de vermelho; dentes da valva esquerda, tingidos decastanho" (fig. 1). Em 1910, o seu comércio continuava intenso, princi-palmente na Costa do Marfim, onde as usavam para ornamentar a bainhados seus sabres e facas13.
10 ANTT, Núcleo Antigo, n.° 799, Livro do Tesoureiro da Casa da Mina, fol. 524-524v.11 ANTT, Núcleo Antigo, n.° 867, fólio 5v.12 J. Meco, Spondylus Gaederopus L. Del Museo Canario, El Museo Canario, Las
Palmas de Grã-Canaria, 1970-1971, pp. 24, 25, 27.13 M. Nickles, "Scaphopodes et Lamelhibranches recoltes dans l'Ouest africain. Atlant.
Report, n.° 3, Copenhaga, 1955, p. 176.
No Mar Também há Conchas 201
Fig. 1 - Spondylus Powelli E. A. Smith (= le Guron et le Satal Adanson.Trata-se das "conchas" das Canárias trocadas em S. Jorge da Mina porouro e muito apreciadas pelas populações do interior.
As conchas do Benin eram efectivamente compradas pelos portu-gueses de S. Tomé, quando ali faziam as suas armações, transaccionando--as, em sacos, aos milhares. Tratava-se de búzios denominados, na língualocal e também na documentação portuguesa, por "iguou". Constituíammoeda para toda a região dos Rios, em que se trocavam directamente porescravos.
Estes búzios eram um pouco maiores do que os "Zimbos" do Congosegundo nos informa Duarte Pacheco Pereira14.
Ballong verifica que a troca das conchas por ouro foi irregular. Porexemplo: entre Setembro de 1519 e Janeiro de 1522, venderam-se 1 564conchas, mas entre Janeiro de 1522 e Dezembro de 1523 não se trocouuma única concha. Por outro lado, a partir de meados do século XVI, nafeitoria de São Jorge da Mina, desaparece15 o produto de troca denomina-do simplesmente "concha". Estes factos nunca teriam sucedido se se tra-tasse dos "iguou" do Benim, muito abundantes, e cujo transporte era
14 Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis, 1502, Edição da Sociedade deGeografia de Lisboa, 1905, p. 135.
15 J. Bato'ora Ballong-Wen-Mewuda, 1993, quadros, pp. 326-327.
202 Maria Emília Madeira Santos
extremamente fácil, mas explica-se pelo facto de o fornecimento a partirdas Canárias exigir a compra numa área de domínio castelhano, seguidodo seu transporte para Lisboa, transferência na Casa da Mina e sua con-dução para o castelo de S. Jorge da Mina.
Também no Congo os portugueses encontraram perfeitamente esta-belecida a aceitação de uma concha como moeda corrente (fig. 2). Trata-sedos "zimbos" recolhidos nas Ilhas das Cabras por súbditos do Manicongo,"uns búzios pequenos, que não são maiores que pinhões com sua casca"16.Logo nos primeiros contactos verificaram que eram "tão estimados comomoeda de ouro ou prata"17. Mas aqui o monopólio do rei do Congo sobretal moeda-mercadoria impediu qualquer intromissão por parte dos portu-gueses. Aliás, esta espécie de búzio está hoje extinta, tal foi a intensidadeda exploração.
Fig. 2 - Zimbos arqueológicos, {Olivancillaria naná), moeda corrente no Congo,à chegada dos portugueses, recolhidos na ilha de Luande e extintosdevido a intensa exploração.
16 Duarte Pacheco Pereira, 1905, p. 134.17 Rui de Pina, Chrónica d''el Rei D. João II, ed. Lello e Irmãos, Porto, 1977, p. 1003.
No Mar Também há Conchas 203
Quanto mais distante era a origem das conchas tanto mais alto era oseu valor de troca e também simbólico. Algumas delas provenientes doOriente penetraram primeiro através da costa Oriental de África e sómuito mais tarde chegaram à costa Atlântica.
Tal como sucedeu com algumas plantas, as mesmas conchas, percor-rendo caminhos convergentes, vieram a encontrar-se na África Central.Em 1644, uma expedição que partiu de Sena, tendo chegado à região daMatabelelândia, encontrou ali búzios que, segundo a gente de Moçambi-que, teriam sido vendidos em Angola, chegando ali através do comérciodo sertão18 (fig. 3).
Fig. 3 - Cauris (Cipraea moneta ou Cipraea caurica), conchas originárias dasMaldivas, transportadas para Lisboa e daí para a costa de África, ondefuncionavam como moeda.
Tratava-se dos cauris, "búzios brancos miúdos", originários das Mal-divas19, que terão chegado à costa Oriental em tempos remotos. A sua
18 Bocarro, Década 13 da História da Índia, II Parte, Lisboa, 1876, caps. CXL e CXLV.19 Gaspar Correia, Lendas da Índia, ed. Lello e Irmãos, Porto, 1975, introdução de Lopes
de Almeida, vol. 1, p. 341, referência a 1503.
204 Maria Emília Madeira Santos
expansão pelo interior do continente percorreu caminhos e atingiupopulações, em parte já estudados, de que não nos ocuparemos aqui20. Assuas primeiras incursões na costa Ocidental datam da segunda década doséculo XVI. Em 1510, Gaspar Correia refere-se a estas conchas comomercadoria já transportada pelas naus portuguesas entre as Maldivas eCochim, destinadas ao comércio de troca por tecidos de Cambaia21.
Em Dezembro de 1519, são enviados de Lisboa para a Ilha de S.Tomé, destinados ao comércio da Costa de África, 11 quintais, 1 arroba e11 arráteis dos chamados "búzios da Índia"22. E seis meses depois seguiamais um fornecimento de 20 quintais. O envio consecutivo de dois car-regamentos tão avultados, sendo o segundo quase o dobro do primeiro,sugere que a boa aceitação da mercadoria já teria sido verificada antes.Na verdade, nos circuitos a percorrer desde Lisboa à índia, com a ordemde encomenda, e vice-versa, gastava-se mais de um ano para fazer chegarum carregamento de cauris.
A partir de S. Tomé, entreposto marítimo comercial, os cauris daíndia chegavam aos rios do Golfo da Guiné, ao Congo e Angola, ondeatingiam valores muito superiores aos igous e aos zimbos locais.
O decréscimo das ligações marítimas com a índia viria a resultar, jádurante o século XVIII, na troca dos cauris por búzios semelhantes, vin-dos da costa do Brasil. O seu uso foi fundamentalmente o de moeda detroca, mas era também utilizado como enfeite e elemento de decoraçãodo vestuário e da estatuária. Na Kuba, cujas ligações com o Congo datamdo século XVII, algumas peças de vestuário da aristocracia eram borda-das com cauris, conferindo-se a esta concha um lugar privilegiado dentroda decoração. O cauri aparecia sobre o tecido de mabela aveludado ousobre a baeta vermelha importada (fig. 4).
Os chamados "mandes" ou "pandés" resultam de um minucioso tra-balho artesanal sobre um búzio de grandes dimensões, originário dasilhas Molucas, de que se aproveita apenas a parte superior, o disco for-mado pela espiral23 (Figs. 5 e 6).
20 Jan Hogendom, Marion Johnson, The Shell Money of the Slave Trade, CambridgeUniversity Press, 1986.
21 Gaspar Correia, vol. 2.°, p. 129.22 ANTT, CC II-86-142. Conhecimento de Vicente Rodrigues de Calvos, de 28 de
Dezembro de 1519.23 As populações do Sul de Angola fazem uso da concha de um gasterópode, Conus
papilionaceus importado do oceano Índico. Edmond Dartevelle, "Les «N'Zimbu»monnaie du Royaume du Congo", Bulletins et Memoires de la Société Royale Belged'Anthropologie et de Prehistoire, Mémoire, Nouvelle Serie, n.° 1, Bruxelles, 1953.
No Mar Também há Conchas 205
baeta vermelha
çauris
missanga azul claro
contas cilíndricas grandes:azul claro, branco e preto
base de mabela
BARRETE REAL
Fig. 4 - Chapéu real feminino da Kuba, ornamentado com missangas e cauris.Esboço de outra a partir de um original do Museu de Tervuren.
Depois de trabalhadas, as conchas passavam a constituir uma moedade entesouramento ou um elemento hierarquizante nas sociedades, osten-tadas ao peito e na cabeça das aristocracias africanas.
A sua introdução, criteriosamente estudada pelo antropólogo alemãoBaumann24, teve lugar ao longo da costa Oriental de África penetrandoaté à África Central, mas, a partir de época muito difícil de datar, o portode Benguela, e, mais tarde, o de Moçâmedes passaram a receber grandessacos cheios com esse tipo de conchas vendidas inteiras às populações doSul de Angola.
Embora pouco vulgar em Angola, a Norte de Benguela, esta conchaera reconhecida como moeda forte da África Central, no início do séculoXIX. Tinha câmbio assegurado do Atlântico ao Índico25 e acabava porconstituir a melhor moeda para estabelecerem ligações entre o mar, aOcidente e a Oriente. Hoje, as populações himba da Namíbia ainda usamestes grandes búzios inteiros pendentes do pescoço (Fig. 6). Uma foto-grafia tirada no Verão de 2001 atesta a permanência do seu valor.
2 4 Hermann Baumann, Schõpfung und Urzeit des Menschen im Mythus des afrikanischenvõlker, Berlin, 1936, pp. 256-259.
2 5 Willy Schild, "Die afrikanischen Hoheitszeichen", Zeitschrift fur Ethnologie, 61 , 1929,pp. 141-143.
206 Maria Emilia Madeira Santos
Fig. 5 - Mandes ou Pande (Conus papileonaceus), originárias das Maldivasusadas como ornamento e mais raramente como moeda no Sul de Angola.
Fig. 6 - Ainda hoje, entre as populações doSul de Angola e da Namíbia, se usamos mandes como adorno das mulheres.Fotografia do zoólogo Luís Mendes,Agosto de 2001.