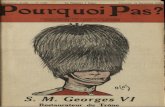VI ENDICT - UTFPR
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of VI ENDICT - UTFPR
UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
ANAIS DO VI ENDICT
E N C O N T R O DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DA UTFPR C Â M P U S TOLEDO
27 a 29 de agosto de 2018
Página do evento:
http://maverick.td.utfpr.edu.br/endict/
ISSN 2526-9364
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
E56 Encontro de Iniciação Científica (6: 2018: Toledo, PR)
Anais do VI Encontro de Iniciação Científica, Toledo (PR), 27 a 29 de agosto de 2018. / organizado por Barbara Winiarski Diesel Novaes e Marco Aurélio Tavares Amaral. Toledo, PR: UTFPR, 2018.
Modo de Acesso: World Wide Web:
< http://maverick.td.utfpr.edu.br/endict/>.
ISSN: 2526-9364
1. Pesquisa. I. Novaes, Barbara Winiarski Diesel II. Amaral, Marco Aurélio Tavares III. ENDICT. IV. UTFPR. V. Título.
CDD: 001.4
Ficha catalográfica elaborada na Biblioteca UTFPR / Toledo Bibliotecária Carla Rech Ribeiro CRB 9/1685
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
Sumario
APRESENTAÇÃO 04
COMISSÃO ORGANIZADORA E COMITÊ CIENTÍFICO DO VI ENDICT 05
RESUMOS 06
RESUMOS EXPANDIDOS 63
ARTIGOS COMPLETOS 128
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Apresentação
O ENDICT - Encontro de Iniciação Científica do Câmpus Toledo - é um
evento promovido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Câmpus Toledo. Justifica-se sua
realização em virtude do crescimento da pesquisa local e consequen temente do
aumento do número de alunos realizando trabalhos de iniciação científica.
O evento proporciona a o s acadêmicos a oportunidade de expor os
resultados d a s pesquisas realizadas em conjunto com s e u s orientadores,
possibilitando a familiarização com eventos d e s s a natureza.
Nesta edição tivemos mais de 90 (noventa) trabalhos acadêmicos
divulgados. Toda e s s a interação deu-se em um ambiente de estímulo à troca de
experiências entre alunos e servidores de todos os cursos da UTFPR Câmpus
Toledo.
Como resultado des te evento, os trabalhos apresen tados compõem os
Anais do VI ENDICT, nas modalidades Resumo, Resumo Expandido e Artigo
Completo.
Comissão Organizadora
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Comissão Organizadora e
Bárbara Winiarski Diesel Novaes
Email: [email protected]
Felipe Walter Dafico Pfrimer
E-mail: [email protected]
Kariana Graziella Fiameti Colombo
Email: [email protected]
Wesley K. Guez Assunção
Email: [email protected]
Douglas José Coutinho
Email: [email protected]
Alexandre Augusto Giron
Email: [email protected]
Rodrigo Manoel Dias Andrade
Email: [email protected]
Jocelaine Cargnelutti
Email: [email protected]
Gracinda Marina Castelo Da Silva
Email: [email protected]
Wagner A. Pansera
Email: [email protected]
itê Científico do VI ENDICT
Silmara Dias Feiber
Email: [email protected]
Gustavo Savaris
Email: [email protected]
Thiago Cintra Maniglia
Email: [email protected]
Alberto Vinicius De Oliveira
Email: [email protected]
Luiz Adriano G. Borges
Email: [email protected]
Heitor Augusto A. Haab
Email: [email protected]
Ivonete Marlene Ely
Email: [email protected]
Renan Pelaquim Bertolini
Email: [email protected]
WEB DEVELOPER João Paulo Da
Silva Adelio
Email: [email protected]
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Resumos
UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
6
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
A RECÍPROCA DO TEOREMA DE LAGRANGE
Adina Verônica Remor1
Wilian Francisco de Araujo2
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma parte do estudo que está sendo realizado no PICME-Programa de Iniciação Científica e Mestrado em Matemática, na área de Álgebra-Teoria de Grupos, sob orientação do professor Wilian Francisco de Araujo. Tal teoria, muito importante para o estudo de equações algébricas, surgiu no século XIX, com o matemático francês Évariste Galois. Mas o que é um grupo? Um grupo é um conjunto munido de uma operação, que é associativa, existe elemento neutro e todo elemento possui inverso. Quando temos um subconjunto de um grupo que, munido da mesma operação, possui estrutura de grupo, temos um subgrupo. Alguns exemplos de grupo são o conjunto dos números inteiros e reais munidos da operação soma, em que o grupo dos números inteiros é subgrupo do grupo dos números
reais. Outro exemplo é o grupo de permutações, denotado por Sn , formado pelo conjunto de permutações dos elementos de 1 a n , munido com a operação de composição de funções. Quando o conjunto é finito, temos um grupo finito, no qual o número de elementos do conjunto representa a ordem do grupo. Assim, o Teorema de Lagrange nos garante que dado um subgrupo de um grupo finito, a ordem do subgrupo sempre divide a ordem do grupo. Porém, a recíproca nem sempre é válida. Desse modo, apresentaremos em nosso
trabalho o grupo A 4 , subgrupo de S 4 , cuja ordem é 12, mas não possui subgrupo de ordem 6.
Palavras-chave: Álgebra; Teoria de Grupos; Teorema de Lagrange; Grupo de permutações.
1 - Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática.
2 - Orientador.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
7
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
SÍNTESE POR MÉTODOS DE QUÍMICA VERDE DE NANOPARTICULAS DE PRATA ESTABILIZADAS POR
CARBOXIMETILCELULOSE.
Alex Diego Manfrin
Resumo: As propriedades únicas das nanopartículas metálicas (M-NPs), provenientes de sua alta área superficial por unidade de volume, atraem grande interesse nas mais diversas áreas. Suas aplicações vão desde a utilização como sensores e biosensores, até catalisadores, bactericidas, armazenamento de informação, entre outros. O presente trabalho teve por objetivo sintetizar nanopartículas de prata (AgNPs) por meio de uma abordagem da química verde. Sintetizou-se AgNPs através da redução química de nitrato de prata (AgNO3), utilizando carboximetilcelulose (CMC) como agente estabilizante e redutor, em meio básico. Também, verificou-se a influência da adição de glicose como um agente redutor externo e a influência da temperatura na formação das AgNPs. Acompanhou-se a formação das AgNPs pela mudança de cor das soluções, de incolor para amarelo, indicando a formação das AgNPs. Para avaliar as interações das variáveis, utilizou-se um planejamento fatorial completo para otimizar os resultados. A formação das AgNPs foram analisadas por espectroscopia na região do visível (UV-Vis), utilizando como resposta analítica (y) para graficar às superfícies de resposta a seguinte equação:
^ A max
1 FWHH
combinanando a absorbância máxima (Amax), que reflete o rendimento de AgNPs formadas, o comprimento de onda no Amax (Àmax), que reflete o tamanho das AgNPs e a largura da banda à meia altura (FWHH do inglês: "full width at half-height"), que reflete a dispersidade no tamanho das nanopartícula. Nesta equação, a melhor resposta (y) será obtida quando o Amax for maximizado e os valores de Xmax e FWHH forem minimizados, indicando a formação de AgNPs pequenas e dispersidade baixa.
Os espectros UV-Vis demonstram banda característica de formação das AgNPs, com absorções máximas entre 416 nm até 430 nm. Apesar dos bons resultados obtidos, as superfícies de resposta não demonstraram relevância estatística.
Palavras-chave: nanopartículas de prata; síntese; química verde; carboximetilcelulose.
1 - Acadêmico do curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia.
2 - Orientador Renato Eising
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
8
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM HIDROLISADOS DE PEIXE
Alex Júnior de Oliveira Santos1
Dra. Ortência Leocádia Gonzalez da Silva Nunes 2
Prof. Dra. Solange Maria Cottica 3
Resumo: O estudo dos antioxidantes tem significativa importância, na qual podem-se destacar aquelas que buscam utilizar subprodutos, como os resíduos de peixe, para a fabricação de óleo e farinha para ração animal, por exemplo. Tais produtos agregam valor comercial, com valor nutricional elevado, além de atividade antioxidante. O objetivo deste trabalho foi determinar a atividade antioxidante de hidrolisados de peixe obtidos a partir de cortes em V de tilápia do Nilo Oreochromis niloticus. Para a reação de hidrólise, empregou-se a enzima alcalase, utilizando planejamento experimental de 23, com pH variando de 7,5 a 9,5, as concentrações da enzima variaram de 0,05 a 0,25 g por 100 g de amostra e temperatura de 55 a 75°C. Foram coletadas 110 amostras, dividas em 11 ensaios com diferentes tempos de coleta. Utilizou-se do método envolvendo a captura do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH), para determinar o potencial antioxidante na amostra. Os resultados obtidos mostram que para o tratamento 1 com tempo de reação de 3 horas para primeira coleta e em seguida de 5 em cinco minutos utilizando as menores condições de pH, concentração e temperatura apresentou em média 1,91 micromol/g de AA. Para os tratamentos 2, 3 e 4 com tempo de reação de 1 hora utilizando pH 7,5 e concentração da enzima e temperatura variando, apresentou em média 2,31 micromol/g de AA. Para os tratamentos 5, 6, 7 e 8 realizados em 1 hora de reação e pH 9,5 e variando concentração e temperatura a atividade antioxidante foi em média de 3,10 micromol/g. Para os tratamentos 9, 10 e 11 com tempo de reação de 1 hora, pH, concentração e temperatura nos valores intermediários, os resultados foram entre 3,00 e 3,50 micromol/g em média. Dessa forma, observou-se que os valores intermediários de pH, temperatura e concentração resultaram nas maiores atividades antioxidantes dos hidrolizados.
Palavras-chave: DPPH; subprodutos; tilápia do Nilo.
1 - Acadêmico do curso de Processos Químicos
2 - Coorientadora (UNIOESTE - Toledo)
3 - Orientadora (COPEQ - UTFPR - Toledo)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
9
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE FIBRAS DE CELULOSE A PARTIR DE BIOMASSA VEGETAL E RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Alexsandra Beatriz Boza1
Kelen Menezes Flores Rossi de Aguiar2
Resumo: As fibras vegetais são materiais lignocelulósicos podendo ser extraídos de fontes naturais ou resíduos industriais, como cascas e palhas, tendo na sua composição principalmente a celulose, a hemicelulose, a lignina, além de pequenas quantidades de minerais. A celulose e suas modificações têm sido amplamente utilizadas em vários setores da indústria, como o de alimentos, o farmacêutico, de materiais e nanotecnologia. Este trabalho de iniciação científica tem por objetivo isolar fibras de celulose a partir de biomassa vegetal, de azevém perene (Lolium perenne), bagaço de semente de acerola e fibra de mesocarpo de palma além de caracterizar química e morfologicamente a celulose extraída destas fontes. As amostras de azevém foram coletadas no interior de São Pedro do Iguaçu- PR, a fibra de palma foi cedida pela empresa Agropalma-PA e o resíduo de semente de acerola foi doado pela Merco Polpa-PR. Para a obtenção da celulose as amostras foram moídas em moinho de rolo e separadas por peneiras de 1,0 mm e 5,0 mm, dando um volume seco e moído para testes com diferentes granulometrias. Para a extração da celulose, processos de hidrólise básica e ácida foram empregados, seguido do processo de branqueamento da amostra. A remoção da lignina após hidrólise básica foi avaliada por espectroscopia no infravermelho (FTIR), onde bandas características da molécula, como grupos fenólicos em 1368 cm-1, grupos aromáticos e alifáticos hidroxila em 3334, 3400, 1032, 1096 cm - 1, vibrações de aromáticos em 1628, 1520 e 1400 cm -
1 foram identificadas. A celulose, como produto final foi também avaliada por FTIR e os resultados comparados com a literatura, onde observou-se bandas características de celulose. A biomassa de celulose apresentou-se com aspecto fibroso e de cor branca, compatível com a celulose comercial.
Palavras-chave: Celulose; Biomassa; Extração; Lignina; Nanotecnologia.
1 - Acadêmica do curso de Tecnologia em Processos Químicos.
2 - Orientadora.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
10
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ÓPTICA E ESTRUTURAL DE PONTOS QUÂNTICOS DE CARBONO PRODUZIDOS POR PROCESSOS BOTTOM-UP
Allan Jr. Gonçalves Afonso1
Daniel Vianey Cardoso1
Kelen Menezes Flores Rossi de Aguiar2
Resumo: Os pontos quânticos de carbono (PQCs) são nanopartículas orgânicas de estrutura amorfa ou cristalina grafítica quasi-esférica, com diâmetro entre 5 e 10 nanômetros, com um núcleo constituído, predominantemente, de carbonos sp2, e superfície externa funcionalizada por grupos orgânicos polares, geralmente nitrogenados e oxigenados. A propriedade de maior interesse nos PQCs é sua forte emissão de fluorescência, provocada pela recombinação radiativa de éxcitons que sofrem confinamento quântico tridimensional em armadilhas energéticas, formadas por defeitos de superfície na partícula. O baixo custo de produção, a alta biocompatibilidade, baixa toxicidade e a ampla área de aplicação (como sensores seletivos de íons e moléculas, dispositivos fotovoltaicos, biomedicina, etc.), são características de grande importância neste nanomaterial. No presente trabalho, os PQCs foram obtidos a partir resíduos de malte cervejeiro, pelo método de obtenção via micro-ondas e método hidrotérmico. Os espectros eletrônicos das amostras obtidas apresentaram bandas características de transições do tipo TC^TC* (250 nm - 300 nm) e n ^ n * (300 nm - 400 nm). O espectro na região do infravermelho (FTIR) identificou picos de absorção característica de grupos funcionais O - H (estiramento 3100cm-1 - 3300cm-1), C=O (estiramento 1650cm-1). Os espectros de fluorescência obtidos utilizando como padrão sulfato de quinino (0,01 mg.L-1), com excitação de 300 - 410 nm, e varredura de emissão de 200 - 600 nm, comprovou a emissão de fluorescência observada em teste qualitativo com lâmpada UV. Portanto, as caracterizações mostraram que os produtos obtidos neste trabalho apresentaram propriedades satisfatórias e que coincidem com dados da literatura, com absorção característica na região do ultravioleta e infravermelho, e emissão fluorescente no visível, mostrando ter potencial para serem desenvolvidas diferentes aplicações para a nanopartícula.
Palavras-chave: carbon-dots; química verde; fluorescência; nanomateriais.
1 - Acadêmico do curso de Tecnologia em Processos Químicos.
2 - Orientadora.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
11
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Equivalência de definições de Álgebra
Andressa Paola Cordeiro1
Larissa Hagedorn Vieira2
Resumo: Na literatura, encontramos diferentes formas de se definir uma Álgebra. Algumas delas utilizam tensor, advindo do Produto Tensorial, grupo abeliano com importante papel no estudo de álgebra multilinear; por outro lado, outras definições apontam certas propriedades que devem ser satisfeitas para que se tenha construída uma Álgebra com unidade. Contudo, estas definições devem ser equivalentes, pois tratam da mesma estrutura algébrica. Por meio da Iniciação Científica desenvolvida há mais de dois anos, muitos conceitos e estruturas importantes para o estudo na área da Álgebra de Hopf foram desenvolvidos, abordando tópicos que não fazem parte da grade curricular do curso de Licenciatura em Matemática, dentre eles Álgebra com unidade e a equivalência de diferentes definições. Por meio de estudo teórico do livro Álgebra, de Hungerford, anotações de uma disciplina do mestrado em Matemática da professora orientadora e do trabalho de conclusão de curso de um acadêmico do campus, estudos avançados na área de Álgebra estão sendo feitos e culminarão na apresentação, ao final deste ano, do trabalho de conclusão de curso da primeira autora deste trabalho. Pode-se inferir que a área da Álgebra possui amplo espaço para estudo e aprofundamento, bem como desenvolvimento, visto que muitos matemáticos, dentre eles vários brasileiros, vêm trabalhando em novos cálculos, estudos e teorias nessa área.
Palavras-chave: K-álgebra. Produto Tensorial. Álgebra com unidade.
1 - Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática
2 - Orientadora
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
12
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
COMPARAÇÃO NA APLICAÇÃO DE ADUBO MINERAL E ORGANIMINERAL NO DESENVOLVIMENTO DA BETERRABA NO
CULTIVO DE VERÃO
Anne Kathleen Oliveira dos Santos1
Gustavo Zolino Agopian2
Bianca rockenbach3
Gabriela Carolina Bündschen4
Emmanuel Zullo Godinho5
Resumo: A beterraba destacasse, dentre as hortaliças, por sua composição nutricional. Para obter maiores produtividades, faz-se necessário estudos para determinar adequadas dosagens de nutrientes no seu cultivo. Objetivou-se avaliar diferentes concentrações de adubação em aspectos de crescimento e produtividade de plantas de beterraba cultivadas na região oeste de Paraná. Para isto, utilizou-se diferentes constituições de adubos um mineral NPK 10-10-10 e organomineral NPK 10-10-10 + esterco boi a 20%. A produtividade média de peso da raiz tuberosa foi de 142 g/planta obtida com a dose de 100 kg/ha. Foi conduzido experimento em delineamento inteiramente casualizado a campo no Colégio Agrícola Estadual de Toledo. A semeadura ocorreu diretamente no campo, colocando uma semente por cova de 0,5 cm de área de 2 m2, com 10 plantas de beterraba de variedade Detroit. A dosagem por tratamento foi de 50 kg/ha e 100 kg/ha do adubo 10-10-10 no mineral e 10-10-10 + esterco de boi, divididos em 3 aplicações (50% uma semana antes do plantio, 25% 15 dias após a semeadura e 25% 30 após a semeadura). As plantas foram colhidas aos 65 dias após a semeadura, separado em folhas e raiz tuberosa, pois o peso deveria ser somente da raiz. Os dados foram submetidos a análise de variância e comparados pelo teste de Tukey ao nível de 5% com auxílio do programa estatístico Action TM, para os gráficos foi usado o Origin 6.0. Foi verificada uma correlação linear entre o aumento na dosagem de adubo e de peso de raiz. A produtividade média da raiz de 142,00 g/pl foi obtida com a dosagem máxima do adubo. Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com outros estudos onde verificou-se aumento de produtividade da beterraba conforme aumentavam-se as doses de N em cobertura. A aplicação do adubo NPK10-10-10 como fertilizante de solo antes e após a semeadura na dosagem de 100 kg/ha promove incrementos superiores em relação ao mesmo fertilizante com uma dosagem menor na raiz tuberosa da beterraba.
Palavras-chave: Action TM; Adubo 10-10-10; Beta vulgaris; Massa Fresca de Raiz; Peso de Raiz Tuberosa.
1, 2, 3, 4 - Acadêmico (a) do curso de Técnico em Agropecuária
5 - Orientador professor do curso de Técnico em Agropecuária
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
13
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Ard-Lock: SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DOMICILIAR E
CORPORATIVO
Arthur de Aguiar Ydalgo Miranda Couto1
Elder Elisandro Schemberger2
Felipe Walter Dafico Pfrimer3
Resumo: A automação é a utilização de processos programados, controlados por técnicas computadorizadas ou mecânicas, a fim de reduzir e/ou substituir o trabalho humano, bem como aumentar a velocidade de execução de processos. Nos últimos anos, seu crescimento tem sido vertiginoso, principalmente no segmento domiciliar e corporativo, automatizando desde processos simples até aqueles de alta complexidade, consequência do baixo custo de equipamentos eletrônicos e acesso facilitado às tecnologias associadas. Nesse contexto, o projeto Ard-Lock propõem uma implementação de baixo custo para segurança em trancas domiciliares e corporativas, gerenciada por smartphones ou computadores pessoais por meio de uma conexão wireless, viabilizando o acesso apenas a pessoas autorizadas. Este projeto utiliza, como plataforma de prototipagem eletrônica, um microcontrolador Arduíno, com suporte de outros componentes, tais como: componentes para conexão wireless e rede Ethernet, bateria recarregável, cartão mini-SD, transistor, buzzer, entre outros. Para o desenvolvimento das camadas de software, foram utilizadas a variante da linguagem C no ambiente Arduino Software 1.8.5 e para geração de chaves de segurança, e tecnologias de desenvolvimento Web (HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL) para interface com o usuário via browser (smartphone ou computador pessoal). Todo acesso é registrado em um banco de dados, o que garante o rastreio de informações sobre data, horário, identidade de usuário e local de acesso. Os resultados obtidos retratam a fase atual do projeto. O protótipo de hardware foi desenvolvido utilizando como tranca adaptada um servo motor, haja vista a indisponibilidade de recursos para uso de componentes específicos. A etapa seguinte consiste na execução de testes que revelarão possíveis falhas, e indicarão diretrizes a serem implementadas na elaboração de uma versão que possa ser colocada em produção para testes em situações reais.
Palavras-chave: Automação; arduino; software; controle de acesso.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia de Computação (UTFPR - TD)
2 - Orientador: Professor lotado na COENC (UTFPR - TD)
3 - Professor lotado na COELE (UTFPR - TD)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
14
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
RESPOSTA DA BETERRABA var. DETROIT A APLICAÇÃO DE ADUBO FOLIAR A CAMPO
Bianca Rockenbach1
Anne Kathleen Oliveira dos Santos2
Gustavo Zolino Agopian3
Gabriela Carolina Bündschen4
Emmanuel Zullo Godinho5
Resumo: A espécie Beta vulgaris é pertencente à família Quenopodiacea. É originária de regiões europeias e norte-africanas de clima temperado. A planta é bienal, cuja parte comestível é uma raiz tuberosa de formato globular e sabor acentuadamente doce, mesmo na beterraba oleracea (Filgueira, 2000). Em sua raiz tuberosa a cor vermelho-arroxeada é devido à presença de betalaínas. Além de possuir substâncias químicas importantes, a beterraba vem se destacando entre as hortaliças, pelo seu conteúdo em vitaminas do complexo B e os nutrientes potássio, sódio, ferro, cobre e zinco (Ferreira & Tivelli, 1990). O objetivo foi avaliar a produtividade desta hortaliça com aplicação de adubo foliar. Quando terminado seu ciclo, as raízes tuberosas foram pesadas, onde a maior produtividade foi de 189,5 g planta-1 obtida no tratamento. O experimento foi totalmente casualizado em triplicata a campo no Colégio Agrícola de Toledo, o adubo Biozyme® (fitoativador composto de macronutrientes e micronutrientes), o tratamento continha 10 plantas e foi aplicado via foliar em 20 dias após o plantio, na dosagem de 2,5 mL L-1, o tratamento controle foi utilizado agua na mesma dosagem, os canteiros para evitar o surgimento de ervas daninhas e afim de manter o solo hidratado foram cobertos com maravalha. A metodologia usada neste trabalho foi descrita e adaptada por Resende et al. (2003), avaliando peso da raiz tuberosa em g planta-1. Os dados foram submetidos a análise de variância e comparados pelo teste de Tukey ao nível de 5% com o programa estatístico Action TM, para os gráficos foi usado o Origin 6.0. Por fim o peso da raiz teve um aumento significativo, exibiu uma media geral de 189,5 g pl-1 no tratamento com Biozyme®, e o tratamento com aplicação de agua obteve uma média geral de 138 g pl-1, com um coeficiente de variação a 5,85%. A aplicação do Biozyme® promoveu incremento um aumento significativo em peso de raiz tuberosa.
Palavras-chave: Action TM; Biozyme®; Beta vulgaris; Origin 6.0; Peso de Raiz Tuberosa.
1, 2, 3, 4 - Acadêmico (a) do curso de Técnico em Agropecuária
5 - Orientador professor do curso de Técnico em Agropecuária
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
15
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE CRESCIMENTO DE PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA EM FOTOBIORREATORES DE
BANCADA
Carla Ishihara Casagrande1
Lorelay da Silva Oliveira2
Ana Maria Vélez3
Resumo: Microalgas são seres simples, que devido à baixa necessidade de cuidados para a grande produção de biomassa acabam gerando grandes interesses biotecnológicos. Devido a ampla variedade de aplicações desses microrganismos (aditivos alimentares, biorremediação, etc), o objetivo desse trabalho foi a determinação da velocidade de crescimento da clorofícea Pseudokirchneriella subcapitata em dois tipos de fotobiorreatores estilo coluna de bolhas, um de proveta e o outro de Erlenmeyer. Para realização das análises, inicialmente, foi feita uma varredura em espectrofotômetro Uv-Visível, obtendo-se o comprimento de onda ideal para as leituras de absorbância. Com o valor obtido, determinou-se a curva de calibração correlacionando absorbância e massa seca. Após essas duas etapas, iniciaram-se as análises nos fotobiorreatores pré-fabricados, pelas próprias alunas do presente trabalho, onde foi determinado o gráfico com os valores correspondentes a velocidade especifica de crescimento. Os valores obtidos para as velocidades específicas de crescimento foram de 0.0095 h-1 para a proveta e de 0.0077 h-1 para o Erlenmeyer. Analisando-os, pode-se observar uma real superioridade do fotobiorreator de proveta, como esperado, uma vez que esse possibilita maior e mais uniforme aeração do meio, e também melhor incidência de luz por todo o sistema. A biomassa obtida será aplicada na área ambiental, compostos nutracêuticos e aumento da concentração da biomassa.
Palavras-chave: Microalgas; Melhoramento; Biotecnologia.
1- Acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
2- Acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
3- Orientadora
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
16
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Aplicação do Método de Elementos Finitos na Transferência de Calor em
Componentes Eletrônicos
Daiany Besen1
Gerson Filippini2
Os transistores se mostram componentes de extrema importância devido a sua utilização em amplificadores, retificadores e na construção de microcontroladores e processadores; estudar e aperfeiçoar componentes eletrônicos garante a continuidade da evolução eletrônica. Dentro dos inúmeros parâmetros a serem analisados o problema da dissipação de calor em transistores é um ramo importante a ser explorado. O modelo matemático para a transferência de calor é complexo e inclui equações diferenciais parciais ordinárias; a solução analítica desse tipo de problema é inviável para situações com geometrias mais complexas. Tendo em vista essa dificuldade é utilizado o Método de Elementos Finitos (MEF), um método numérico que consiste em aplicar sobre o modelo matemático, condições de contorno e características do material á uma complexa região definida como continua que é discretizada para formas geométricas simples chamadas elementos finitos. Para a aplicação do método é preciso passar pelas etapas de Pré Processamento onde ocorre a criação da malha de elementos finitos, aplicação das condições de contorno e atribuição das características dos materiais do transistor; Processamento no qual será gerado e resolvido o sistema de equações obtido pela discretização do domínio do problema; e Pós Processamento que irá exibir os resultados de forma gráfica. Neste trabalho utilizaram-se os aplicativos Gmsh e GetDP para modelagem da geometria do transistor TIP41A, deixando-a de forma genérica. Ou seja, o usuário pode alterar as dimensões do mesmo a qualquer tempo. Além disso o transistor foi dividido em dois grandes domínios, seu encapsulamento (material similar a polímero) e sua face de dissipação de calor (geralmente alumínio) e nestes foram geradas malhas que representam o domínio discretizado em elementos finitos. Em trabalho posterior, a equação da transferência de calor será implementada utilizando-se do Método de Elementos Finitos.
Palavras-chave: elementos finitos, calor, transferência, dissipação, transistor, componentes.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia Eletrônica
2 - Orientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
17
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ANÁLISE DE DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DE TURBIDEZ POR IMAGENS DIGITAIS EM ÁGUAS
David Antonio Brum Siepmanni Alberto Yoshihiro Nakano2
Felipe Walter Dafico Pfrimer3 Ricardo Schneider4
Resumo: Um indicador que está diretamente relacionado com a qualidade da água é a turbidez, sendo definida pela quantidade de partículas em uma amostra de água utilizando-se a Unidade Nefelométrica de Turbidez (NTU) para sua quantificação. O processo de nefelometria refere-se à incidência de um feixe de radiação na amostra e sua leitura em um ângulo de noventa graus. A leitura resulta na quantidade de luz espalhada pelas partículas presentes na amostra. Este trabalho estudou alguns tópicos os quais: avaliar o comportamento da luz espalhada utilizando-se de imagens fotográficas com a aplicação de duas fontes de radiação diferentes, comparar os resultados obtidos com o equipamento proposto (imagens) com um equipamento comercial (fotodiodos), e desenvolver uma interface gráfica para simplificar o uso do dispositivo. Para as fontes de radiação utilizou-se um LED (Light Emitting Diode) e um laser na região do infravermelho, e como receptor utilizou-se uma câmera sem filtro infravermelho (NOIR). Para o processo de análise as imagens capturadas, definida a região de interesse, e segmentadas em componentes dos sistemas de cores RGB (Red, Green, Blue), YCbCr (Luminance, Chrominance Blue, Chrominance Red) e Grayscale. Para cada componente calculou-se a um valor característico, afim de se relacionar com as concentrações de turbidez. A análise utilizou-se somente a câmera NOIR, o resultado obtido para o LED apresentou uma boa correlação com as concentrações estudadas, e para laser infravermelho algumas características diferentes surgiram, contudo, mantendo a convergência dos resultados. A comparação entre o dispositivo elaborado e o comercial apresentou um baixo nível de erro, indicando uma boa equiparação das medidas. O estudo demonstra que a utilização de imagens fotográficas, com diferentes fontes de radiação, permite a determinação dos níveis de turbidez avaliados, com medidas próximas as obtidas em equipamentos comerciais.
Palavras-chave: Turbidímetro; Imagens; Qualidade da água.
1 - Acadêmico do curso de engenharia eletrônica.
2 - Coorientador: Alberto Yoshihiro Nakano, Coordenação Da Engenharia Eletrônica (COELE).
3 - Coorientador: Felipe Walter Dafico Pfrimer, Coordenação Da Engenharia Eletrônica (COELE).
4 - Orientador: Ricardo Schneider, Coordenação Do Curso De Tecnologia Em Processos Químicos (COPEQ).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
18
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O USO DE SOFTWARE NO DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS
Eloiza Becker Zanoni1
Calil Abumanssur2
Resumo
O avanço da tecnologia vem tendo um alto impacto de forma consistente e revolucionária na área da construção civil. Contamos, hoje em dia, com uma grande gama de possibilidades para a elaboração de projetos hidráulicos, que englobam desde métodos manuais de cálculo para dimensionamento de redes, até softwares específicos que, além de desenhar, fazem o dimensionamento de redes de modo automático. Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar os resultados obtidos no dimensionamento de instalações prediais de água fria - a partir do subsistema de distribuição - de um edifício, calculado por meio de fórmulas, aqui denominado manualmente, e o dimensionamento elaborado de forma automática, com auxílio de dois softwares específicos escolhidos e disponíveis para comercialização. Para o dimensionamento manual, foi proposta a utilização de três fórmulas para perdas de carga, sendo que as três equações resultaram no mesmo resultado de dimensionamento. O projeto realizado com a utilização de dois softwares apresentou os mesmos diâmetros entre si, o que era esperado, considerando que ambos utilizam a mesma norma (NBR 5626/98) como diretriz para seus cálculos. Comparando o dimensionamento manual com os de forma automática, estes se mostraram mais práticos e rápidos, porém, o método manual apresentou resultados mais econômicos quanto ao dimensionamento no projeto de redes de distribuição de água em instalações prediais residenciais.
Palavras-chave: Instalações prediais de água fria. Dimensionamento. Softwares. Diâmetros. Construção Civil.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia Civíl
2 - Orientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
19
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
EFEITO DA APLICAÇÃO DE ADUBO DE COBERTURA NA PRODUTIVIDADE DO RABANETE EM CAMPO
Fabiana Tonin1
Kélly Samara Salvalaggio 2
Wesley Ferreira de Andrade 3
Vanessa Conejo Matter 4
Emmanuel Zullo Godinho5
Resumo: O rabanete possui uma grande área plantada dentro da horticultura, mas é cultivada em muitas propriedades, principalmente nos cinturões verdes das regiões metropolitanas. Tendo como objetivo a aplicação de um adubo em cobertura no rabanete. O trabalho foi conduzido no período de junho a julho de 2018. Foi conduzido experimento em delineamento inteiramente casualizado a campo no Colégio Agrícola Estadual de Toledo. Tendo como objetivo analisar a relação final entre a Massa Fresca com a Massa Seca da Folha, em (%) aplicando o adubo 10-24-18 na dosagem de 50 g m-2, a área total da parcela foi de 2,00 m2, com área útil 0,80 m2, com espaçamento usado foi de 0,20 m entre fileiras e 0,1 m entre plantas, o tratamento controle não foi colocado nenhum tipo de adubo. A colheita do rabanete foi realizada aos 28 dias após a semeadura. Análises de variância para as características avaliadas foram realizadas no aplicativo Action TM Com a aplicação do adubo 10-24-18 a MFF teve um incremento de 3,343 g pl-1, para a MSF o incremento foi de 1,676, que corresponde um aumento de 130,3% e 107,39% nos teores de MFF e MSF, respectivamente. Conforme mostrado anteriormente com a aplicação do adubo 10-24-18 no rabanete a relação de MFF com MSF houve um incremento na produtividade final.
Palavras-chave: Action TM; Adubo 10-24-18; Raphanus sativus; Origin 6.0; Massa Fresca de parte Aérea.
1, 2, 3, 4 - Acadêmico (a) do curso de Técnico em Agropecuária
5 - Orientador professor do curso de Técnico em Agropecuária
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
20
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
SIMULAÇÕES DE BANDAS DE UMA MALHA DE PbSe
Fellipe de Souza Reis 1 Ernesto Osvaldo Wrasse 2
Resumo: O seleneto de chumbo(PbSe) trata-se de um material semicondutor com propriedades eletrônicas que o tornam interessante para aplicações em dispositivos eletrônicos e dispositivos termoelétricos. Além disso, a superfície de seleneto de chumbo faz parte de uma classe de materiais denominada isolantes topológicos, que tem como principal característica o fato do bulk ser isolante e a superfície condutora. Este fato faz com que materiais desta classe tenham aplicações em spintrônica. Em nosso trabalho anterior foram estudadas as propriedades estruturais de malhas de seleneto de chumbo na presença de defeitos intrínsecos, ou seja, vacâncias e antissitios. Este trabalho dá continuidade ao trabalho anterior, pois neste trabalho foi estudado a influência que tais defeitos causam nas propriedades eletrônicas do material. Para estudar tais defeitos e suas influência utilizou-se simulações computacionais, mais especificamente foi utilizado o código computacional VASP que utiliza-se do formalismo da teoria do funcional de densidade. O código computacional foi usado no ambiente computacional CENAPAD no qual o mesmo já encontrava-se implementado. Nossos resultados mostram que os defeitos estudados modificam as propriedades eletrônicas da monocamada de Seleneto de Chumbo, tal fato sugere uma mudança nas propriedades termoelétricas deste material, e tais mudanças podem ocasionar também alterações em suas características de material isolante topológico.
P a l a v r a s - c h a v e : Superfícies; defeitos; DFT.
1 - Acadêmico(a) do curso de Engenharia de Computação
2 - Orientador(a)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ELABORAÇÃO DE UM AGITADOR MAGNÉTICO DE BAIXO CUSTO E COM MATERIAIS DE FÁCIL ACESSO
Felipe Guerra de Bortoli, Renato Eising
Resumo: Um dos equipamentos mais utilizados em laboratórios são os agitadores magnéticos, estes são utilizados para agitar soluções por longos períodos de tempo por meio de uma barra magnética colocada dentro da solução a ser agitada e um campo magnético rotativo gerado pelo aparelho. O custo médio de um aparelho deste tipo está em torno de 600 a 700 reais, por este motivo esse projeto tem como objetivo desenvolver um agitador magnético de baixo custo a partir de produtos encontrados na cidade de Toledo, Paraná. Foram utilizados um cooler de refrigeração 12V, um HD inutilizado, um potenciômetro de 10K, um transistor MOSFET, dois resistores de 10K, fios de cobre Jumper, uma fonte 12V,dois cap de encanamento 100mm e 15 cm de encanamento reto 100mm. O esquema de circuito foi montado associando os dois resistores em série e utilizando o MOSFET como regulador de tensão, o potenciômetro foi adicionado no polo positivo do Cooler e o negativo foi ligado diretamente na fonte. Do HD foi retirado o imã e este foi adicionado na parte superior do cooler com o uso de massa Epóxi. Essa aparelhagem foi alocada no cano de PVC de 100mm e o recipiente foi fechado com os cap's. Foram feitos dois orifícios para passagem do fio de energia e a saída do pino do potenciômetro. O equipamento apresentou um bom desempenho nos testes realizados, suas dimensões oferecem muita praticidade e o valor de sua construção, aproximadamente R$60, tornando-o um projeto muito viável para o uso em laboratórios.
Palavras-chave: Agitador magnético; Baixo custo; Equipamentos;
1-Acadêmico do curso de Engenharia de bioprocessos e biotecnologia
2- Orientador Prof. Dr. Renato Eising.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
22
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
QUBITS FERROMAGNÉTICOS
Fernanda Azevedo1 Fagner Muruci De Paula2
A física quântica é uma teoria conhecida por descrever com sucesso o comportamento de sistemas pertencentes a escala atômica e subatômica. No entanto, a partir da década de 1980, avanços tecnológicos na preparação e manipulação de dispositivos com dimensões nano e mesoscópicas vêm permitindo a observação de efeitos quânticos em proporções cada vez maiores. Por exemplo, superposições quânticas do tipo Gato de Schrodinger envolvendo uma supercorrente formada por bilhões de elétrons já foram observadas em um SQUID (Superconducting Quantum interference Device). Além de ser útil na investigação do limite de validade da teoria quântica rumo ao nível macroscópico, o SQUID pode se comportar como um bit quântico (também conhecido como qubit), isto é, um sistema quântico de dois estados que atua como peça fundamental de computadores quânticos em desenvolvimento. O objetivo de nosso trabalho é propor um dispositivo ferromagnético análogo ao SQUID, também capaz de exibir fenômenos quânticos macroscópicos e servir como um qubit. Neste trabalho, consideramos um anel ferromagnético unidimensional descrito pelo modelo XY e, empregando a aproximação do contínuo, mostramos que o comportamento da magnetização do anel é equivalente ao de uma partícula massiva fictícia submetida a um potencial periódico. Expressamos a massa da partícula e o potencial em termos de parâmetros experimentais, mostrando que o sistema pode sofrer tunelamento quântico macroscópico e se comportar efetivamente como um qubit.
Palavras-chave: qubit; ferromagnetismo; informação quântica.
1 - Acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos
2 - Orientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
23
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
SISTEMA ELETRÔNICO PARA MEDIDA DE TEMPERATURA EM FIBRA ÓPTICA UTILIZANDO GRADE DE BRAGG
Gabriel Cacilho Zilio1
Matheus Henrique Mayer Campos2
Felipe Walter Dafico Pfrimer3
Alberto Yoshihiro Nakano4
Resumo: A aquisição e monitoramento de grandezas físicas ocupa um papel importante na engenharia. A partir delas pode-se controlar processos, bem como garantir o funcionamento adequado de equipamentos e segurança da operação dos mesmos. Essas grandezas são monitoradas a partir de sensores que podem ser aplicados sob determinadas condições. No entanto, em alguns tipos de aplicações, assim como o monitoramento da temperatura em transformadores de potência, exige-se sensores imunes a interferência eletromagnética, e nesse contexto a utilização dos sensores ópticos se torna adequado pelo seu funcionamento passivo (não necessita de alimentação elétrica). Este trabalho propõem a validação de um método de interrogação (aquisição de sinal) para a leitura da temperatura utilizando Grades de Bragg em fibras ópticas (\textit{fiber Bragg gratings} ou FBG), que podem ser utilizadas como sensores devido a sua resposta espectral variar conforme ocorra mudanças de temperatura ou deformações. O método a ser testado consiste em variar o espectro de um laser sobre o padrão de reflexão de uma FBG e analisar o sinal de convolução refletido no sensor. Para o projeto, serão utilizadas: uma placa de controle contendo circuitos analógicos de condicionamento de sinais para a detecção do sinal refletido, um conversor analógico-digital, um conversor digital-analógico e um microcontrolador que será programado com o método citado; e uma placa de acionamento e proteção para o laser. Adicionalmente, para os testes, o laser e a FBG serão substituídos por um sistema eletrônico que simula o comportamento destes dispositivos, eliminando os riscos diretos à integridade dos equipamentos ópticos. Com os resultados do projeto, a implementação do sistema com o laser e uma FBG poderá ser realizada com maior segurança aos dispositivos.
Palavras-chave: Grade de Bragg. Interrogação. Temperatura. Medida.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia Eletrônica
2 - Acadêmico do curso de Engenharia Eletrônica
3 - Orientador
4 - Coorientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
24
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO MULTICANAL E ATUAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS
Gabriel Cacilho Zilio1
Matheus Henrique Mayer Campos2
Felipe Walter Dafico Pfrimer3
Alberto Yoshihiro Nakano4
Resumo: Atualmente o processamento digital de sinais é amplamente utilizado em diversas áreas de conhecimento, podendo ser empregado em: sistemas elétricos, eletrônicos ou eletromecânicos; interpretação e processamento de informações ou sinais; ou até mesmo registro de estados (\textit{Data Loggers}). No entanto, fora do contexto digital, dados de interesse como temperatura, pressão, e velocidade são analógicos (contínuos), e não podem ser diretamente interpretados digitalmente. Dessa forma, como os sistemas digitais operam no domínio discreto, é preciso converter as informações analógicas para que seja possível processá-las dentro de um dispositivo digital. A proposta deste projeto é o estudo, elaboração e implementação de um sistema eletrônico que seja capaz de realizar tais aquisições. O instrumento a ser desenvolvido poderá ser empregado em diversas áreas da instrumentação, pois o equipamento não terá um objetivo específico, podendo ser utilizado na captação de grandezas distintas. O conversor analógico-digital que será empregado no protótipo, permitirá a leitura de até oito canais analógicos simples, ou até quatro diferenciais conforme a aplicação empregada. O sistema possuirá um microprocessador para controlar, armazenar e, se necessário, processar os dados, para que haja uma imediata atuação. Isso significa que a disponibilização da informação poderá ser pura ou processada. A motivação desta empreita é a de diminuir o tempo de desenvolvimento de futuros projetos que necessitam deste tipo de equipamento de aquisição para validar seu funcionamento, visto que ele pode ser adaptado às necessidades recorrentes em projetos de engenharia eletrônica. Palavras-chave: Monitoramento. Multicanal. Aquisição. Sistema eletrônico.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia Eletrônica
2 - Acadêmico do curso de Engenharia Eletrônica
3 - Orientador
4 - Coorientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
25
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O EFEITO DO USO DE SUBSTRATO COMERCIAL NO ÍNDICE DE VELOCIDADE DE EMERGÊNCIA EM SEMENTES DE COUVE-FLOR
Gabriela Carolina Bündschen1
Gustavo Zolino Agopian2
Bianca Rockenbach3
Anne Kathleen Oliveira dos Santos4
Emmanuel Zullo Godinho5
Resumo: O sucesso do cultivo da couve-flor começa pela produção de mudas de alta qualidade. O substrato a ser utilizado deverá ter características físicas adequadas, principalmente no que se refere à drenagem e aeração, e atender às exigências nutricionais e hídricas da muda, além de ser isento de fitopatógenos. O objetivo do trabalho foi avaliar o índice de velocidade de emergência da couve-flor usando um substrato comercial. O experimento foi realizado em casa de vegetação do tipo sombrite 50% de luminosidade no Colégio Agrícola Estadual de Toledo no município de Toledo - PR, no período de abril a maio de 2018. Foram semeadas 40 sementes de couve-flor por bandeja de isopor, a mesma continha 200 celulas e o volume do substrato foi de 100 cm3, previamente perfuradas na parte inferior para facilitar a drenagem da água. As sementes foram dispostas em fileira a 1 cm de profundidade, com espaçamento de 25 cm entre plantas. O substrato utilizado foi da marca Carolina Soil® no tratamento e a junção de esterco de boi curtido + areia na testemunha. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizados com 3 repetições. Realizaram-se as avaliações das sementes, desde o dia da semeadura (t0). A verificação do número de plântulas emergidas foi realizada diariamente até o vigésimo dia de avaliação e o índice de velocidade de emergência foi calculado de acordo com MAGUIRE (1962). Os resultados foram submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, através do Action®. Observou-se que o uso do substrato comercial promoveu germinação de 15 sementes enquanto no tratamento controle 9 sementes. O substrato Carolina Soil® proporcionou o melhor desenvolvimento, com um IVE média de 4,65 no final da análise, sendo que o substrato caseiro obteve uma média de 2,19 no mesmo período. O melhor substrato para emergência de couve-flor foi o substrato Carolina Soil® com 100% de sementes emergidas em 20 dias com um IVE de 4,65, o que resultou em uma maior velocidade de emergência em relação ao substrato caseiro.
Palavras-chave: Action TM; Substrato caseiro; Carolina Soil®; Brassica oleracea; IVE.
1, 2, 3, 4 - Acadêmico (a) do curso de Técnico em Agropecuária
5 - Orientador professor do curso de Técnico em Agropecuária
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
26
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
GATOS DE SCHRODINGER EM SISTEMAS SUPERCONDUTORES
Gelson Rocha1
Fagner Muruci De Paula2
A supercondutividade é um fenômeno apresentado por certos materiais que, quando resfriados a baixíssimas temperaturas, conduzem uma supercorrente formada por pares de elétrons, conhecidos como pares de Cooper, que fluem ao longo da rede cristalina sem experimentar resistência. A supercorrente foi descoberta pelo físico holandês H. K. Onnes em 1911 ao observar o desaparecimento abrupto da resistividade elétrica de uma amostra de mercúrio abaixo de 4,2 K. Essa descoberta implicou no desenvolvimento de uma vasta gama de dispositivos. Em especial, o SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) que é um anel supercondutor microscópico contendo uma ou mais camadas isolantes conhecidas como junções Josephson, o qual é capaz de medir campos magnéticos extremamente fracos e está presente em técnicas de ressonância magnética núclear, microscopia, magnetoencefalografia, entre outras. Porém, o SQUID não funciona apenas como um magnetômetro. Por exemplo, resultados teóricos sugerem que uma linha de transmissão composta por uma rede de SQUIDs poderia simular fenômenos associados com buracos negros, tal como a radiação Hawking. Trabalhos teóricos e experimentais mostraram também que uma supercorrente composta por bilhões de pares de Cooper num SQUID pode ser induzida a uma superposição quântica de dois estados, análogo ao estado vivo e morto do gato de Schrodinger, com a supercorrente fluindo no sentido horário e anti-horário ao mesmo tempo. Além disso, SQUIDs estão sendo utilizados como bits de processadores quânticos em desenvolvimento. O objetivo de nosso trabalho é estudar o comportamento um dispositivo supercondutor capaz de exibir efeitos quânticos similares aos apresentados pelo SQUID. O objetivo deste trabalho é investigar o comportamento de supercorrentes elétricas em uma placa supercondutora, quando quando a mesma é submetida a um campo magnético externo. Estas supercorrentes podem se comportar como gatos de Schrodinger, exibindo um comportamento biestável. A presença do campo magnético externo pode corrigir os níveis de energia do sistema, facilitando a observação experimental destes efeitos. Por meio de cálculos analíticos, encontramos a probabilidade de tunelamento em função de parâmetros experimentais para o caso de orifícios idênticos sob a presença de um campo externo aplicado.
Palavras-chave: supercondutividade; tunelamento; qubit; informação quântica.
1 - A c a d ê m i c o d o curso de engenhar ia e letrônica
2 - Orientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
27
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA CASCA DE ROMÃ (Punica granatum L.) PELOS MÉTODOS DPPH E ABTS
Guilherme Dos Santos1
Clayton Antunes Martin2
Resumo: O envelhecimento e as diversas doenças degenerativas e cardiovasculares associadas, são atribuídas a ação oxidativa de radicais livres e compostos oxidantes presentes no organismo. Antioxidantes são moléculas naturais ou sintéticas que podem diminuir ou inibir o estresse oxidativo. Tendo em vista o crescente consumo da romã por todo o país, o propósito desse trabalho foi avaliar a atividade antioxidante pelos métodos de captura radicalar do 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH) e do ácido 2,2-azino-bis (3-etilbenzotiazolona-6-sulfônico) (ABTS), de extratos da casca obtidos com quatro solventes. As romãs utilizadas eram provenientes da Espanha e foram adquiridas na CEAGESP. Para a análise, a fruta foi aberta em temperatura ambiente e após a remoção da polpa, as cascas foram secas a 55°C, por cerca de 12 horas, sendo depois trituradas, embaladas à vácuo e guardadas em congelador (-18°C) até a utilização. Os extratos foram preparados utilizando etanol, isopropanol, acetona e acetato de etila, através de agitação magnética por 4 horas na proporção 1:10 (m/v; fruta/solvente), sendo concentrados em evaporador rotativo. A seguir, os extratos foram padronizados para o volume de 25 ml por meio da adição do solvente extrator. A atividade antioxidante foi expressa em ^mol Trolox g-1 de casca em base seca para as extrações com etanol, acetona, isopropanol e acetato de etila, cujos valores são 119,62 ± 27,06, 76,22 ± 23,90, 17,48 ± 5 , 3 8 e 9,76 ± 3,06 respectivamente para o método DPPH e 134,00 ± 0,82, 61,56 ± 0,62, 38,33 ± 11.47 e 15,86 ± 7,30 para o método ABTS. A avaliação dos resultados indicou que o etanol foi o melhor solvente para a extração de antioxidantes da romã, uma vez que seus valores são superiores aos outros solventes. Por outro lado, a extração com acetato de etila resultou nos menores valores para ambos os métodos.
P a l a v r a s - c h a v e : espectroscopia UV-VIS; extrato etanóico; captura de radicais; variedade wonderfull; equivalente trolox.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.
2 - Orientador.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
28
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
TESTE DE INVASÃO PARA EXPLORAÇÃO DE FALHAS COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANÇA DE SISTEMAS
Gustavo Raí Malacarne Fábio Noth
Edson Tavares de Camargo
Uma aplicação pode ser vista como uma série de rotinas codificadas e lidas pelo processador na linguagem binária, não sendo uma tarefa trivial identificar falhas críticas. Surge então a necessidade de efetuar testes para se certificar que o sistema é seguro. O teste de invasão visa prevenir ataques maliciosos e proteger o sigilo das informações. Para compreender a atuação de um ataque a um sistema, é preciso estabelecer uma metodologia das formas de segurança. Dessa forma, surge o Pentest, derivação regressiva de Penetration Test, no português, Teste de Penetração, que estuda formas de invasão. O objetivo deste trabalho é estudar tanto a teoria quanto a prática envolvida na realização de testes de invasão para então aplicar o conhecimento adquirido no desenvolvimento de uma aplicação. Para atingir esse objetivo, será realizado testes com máquinas virtuais, como o Kali Linux. O Kali Linux é a principal ferramenta para realização de testes de invasão. A partir de então, uma aplicação será escolhida a fim de aplicar um teste de invasão. Será feito o reconhecimento e o mapeamento das funcionalidades da aplicação através da engenharia social e também através de ferramentas como Shodan e Censys. Posteriormente, será efetuada a análise e enumeração das inseguranças. Depois da varredura realizada, encontrado os serviços e dispositivos usados, comandos e scripts serão aplicados para checar a vulnerabilidade do serviço alvo. Ao final, tendo em vista os testes realizados, serão reportadas as vulnerabilidades encontradas. Com o conhecimento adquirido uma aplicação segura deverá ser desenvolvida, ou seja, uma aplicação que observe as melhores práticas de segurança. É importante também enfatizar que um dos resultados deste trabalho é a formação de um profissional capacitado a entender a teoria e prática dos testes de penetração e criar materiais de apoio para a comunidade de segurança.
Palavras-chave: Pentest; Teste de invasão; Desenvolvimento seguro.
1 - Acadêmico do curso de Tecnologia em Sistema para Internet, UTFPR - Toledo
2 - Analista de Sistemas. Parque Tecnológico Itaipu, Foz do Iguaçu, Brasil.
3- Orientador do curso de Tecnologia em Sistema para Internet, UTFPR - Toledo
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
29
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
INCLUSÃO ESCOLAR - MAPEAMENTO DE METODOLOGIAS
Heloisa Teixeira Massola1
Raquel Ribeiro Moreira2
No Brasil, foram criadas políticas e diretrizes que proporcionaram o acesso de, principalmente, crianças com deficiência nas escolas regulares com o objetivo de oportunizar integração, formação e aperfeiçoamento dos sujeitos deficientes. Entretanto, muitos estudos apontam que, mesmo com o incentivo do governo, há muitas dificuldades para a efetivação da inclusão escolar. E isso se dá em especial devido à falta de formação qualificada e de apoio técnico no trabalho dos professores com esses alunos, que precisam de conhecimentos mais especializados e de dispor metodologias específicas que atendam às mais variadades necessidades dos alunos deficientes que frequentam as escolas regulares. De modo geral, professores relatam que as escolas ainda não estão preparadas para a inclusão, com destaque para a falta de formação dos profissionais na área da educação especial. Mas, apesar do reconhecimento das dificuldades, a realidade é que as escolas estão tentando, longe de ser a melhor forma possível, fazer o atendimento dos alunos e, muitas vezes, a saída é a criação de salas de aula não regulares, em contraturno, com o intuito de fazer um atendimento mais especializado a esses alunos. Em Toledo, foram criadas as turmas AE (atendimento especializado) nas escolas municipais, em que um ou dois professores trabalham com todos os alunos deficientes, indenpendente da deficiência, na tentativa de auxiliar no atendimento das necessidades mais especializadas. O objetivo desse trabalho, então, foi o de mapear algumas metodologias de ensino utilizadas nas AEs, para verificar como os professores estão conseguindo efetivar esse trabalho. Foram entrevistadas duas professoras de AE, de duas escolas distintas, e o que se observou é que o atendimento tem uma perspectiva mais de desenvolvimento de habilidades - motoras e/ou sociais - do que propriamente didático-pedagógico, reforçando os estudos que apontam as dificuldades que as escolas enfrentam na efetivação da política de inclusão escolar.
Palavras-chave: inclusão escolar; metodologias de ensino, deficiência.
1 - Aluna PIBIC-EM
2 - Orientadora
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
30
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Reaproveitamento de materiais vítreos para a produção de compósitos vidro-cimento
Isabelle Aparecida Costa1
Ricardo Schneider2
A presença de resíduos vítreos em grande quantidade no lixo doméstico e industrial é um problema iminente para todas as cidades do Brasil, visto que não há uma destinação específica para esse material. Segundo Rodrigues & Peitl (1999), citado por Assis (2006), estima-se que anualmente são descartados 5,57 quilogramas de vidro per capita em todo o país. Além desta quantidade de resíduo descartado, os vidros ainda são materiais não degradáveis, o que implica na necessidade de um longo período de tempo para que sua degradação ocorra. Tais fatos se constituem como um problema de caráter tanto ambiental quanto financeiro, gerando situações dificultosas a muitas empresas do setor, que se veem sem um destino para o montante de vidro produzido por elas mensalmente, e acabam descartando esse resíduo em locais inadequados. Neste panorama, a reciclagem se apresenta como uma alternativa vantajosa, pois o material vítreo, quando limpo, é totalmente reciclável. Isso representa, além de um destino para os resíduos domésticos e industriais, economia de energia, e também, matéria-prima. Com isso, o estudo de novas alternativas para a reutilização deste material se faz necessário. Assim, neste trabalho será dissertado sobre a adição do vidro, na forma de pó, em substituição da areia natural em concretos, apresentando suas especificações e vantagens através de ensaios realizados em laboratório. Referência: ASSIS, O. B. G. O uso de vidro reciclado na confecção de membranas para microfiltração. Cerâmica, São Paulo, v. 52, p. 105-113, 2006.
Palavras-chave: Resíduos vítreos, reciclagem, compósitos vidro-cimento
1 - Academica
2 - Orientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
31
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ESTUDO E FABRICAÇÃO DE CÉLULAS SOLARES ORGÂNICAS E DE PEROVSKITA
Jackson Kenedi Lewandowski1
Douglas José Coutinho2
Resumo: A utilização de energias renováveis vem crescendo com o passar das décadas, resultado de uma maior preocupação com o meio em que vivemos, com isso temos que uma das formas de produção de energia que sofre maior expansão é a das células solares, ainda dentre elas é muito estudado células a base de semicondutores orgânicos, que se enquadra na Eletrônica Green, área muito investida nos últimos anos. Estes e outros motivos engrenaram essa pesquisa, que visa o estudo, tanto da fabricação de células solares quanto de seus problemas, buscando possíveis soluções, trazendo assim um novo ramo de pesquisas na UTFPR Campus Toledo. Para a construção das células foi montado um equipamento chamado Spinner, utilizado para definir a espessura de cada camada da placa fotovoltaica, assim possibilitando a criação de placas com características físicas diferentes. Adquirimos também um Keithley 2614b utilizado para fazer a caracterização de transistores e para fazer a medida de quatro pontas (ferramenta que possibilita medir a resistência de um material) que tem como finalidade observar a condutividade do semicondutor, e também monitorar sua degradação. Esta pesquisa está abrindo novas portas para a UTFPR Campus Toledo, além de adquirir equipamentos que possibilitam a construção de componentes eletrônicos como Ofets e células solares, está introduzindo assuntos atuais como a Eletrônica Orgânica.
Palavras-chave:. Eletrônica Orgânica, Células Solares, Fotovoltaica, Energias Renováveis.
1 - Acadêmico(a) do curso de Engenharia Eletrônica
2 - Orientador(a) Douglas José Coutinho.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
32
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Coerência quântica entre Qubits
Jordano Vinicius Lahm1
Fagner Muruci de Paula2
Resumo: A física quântica é uma teoria que surgiu no início do século XX, a fim de explicar as propriedades de sistemas pertencentes ao mundo microscópico. Um sistema é dito quântico quando seu estado possui coerência quântica, isto é, quando sua matriz densidade é não-diagonal em uma base pré-estabelecida. Sendo a coerência quântica um recurso para a execução de tarefas nas áreas de computação e informação quântica, investigá-la em diferentes sistemas físicos é de grande interesse científico e tecnológico. Neste trabalho, buscamos salientar o comportamento da coerência quântica entre dois qubits acoplados a um banho térmico. A interação entre os qubits é descrita pelo modelo de Heisenberg anisotrópico geral XYZ e o formalismo do ensemble canônico é empregado para escrever a matriz densidade do sistema em termos da temperatura. Para calcular o grau de coerência quântica entre os qubits, utilizamos um quantificador baseado na Norma-l1. Dessa forma, encontramos a expressão analítica geral da coerência quântica em função da temperatura e dos parâmetros do Hamiltoniano do sistema. Além disso, discutimos o comportamento da coerência quântica para casos particulares interessantes (modelo de Ising, modelo XY, modelo XXX e modelo XXZ), fazendo comparações com os resultados correspondentes conhecidos para uma medida de emaranhamento quântico, a concorrência. Para afins mais teóricos, utilizamos aproximações teóricas a partir do hamiltoniano e conforme os métodos fundamentais, procuramos relacionar os fatores gerais de alteração dos parâmetros da coerência térmica entre dois Qubits, com a concorrência num banho térmico de um sistema bipartite. Em suma, concluímos que para tais condições a anisotropia do sistema que está diretamente relacionada com as medidas de correlação, é alterada conforme o aumento da temperatura e as características do banho, como emaranhamento por exemplo.
Palavras-chave: C o e r ê n c i a quânt i ca . Ani so trop ia . H a m i l t o n i a n o . Qubits .
1 - Acadêmica do curso de Tecnologia em Processos Químicos - UTFPR-TD
2 - Orientador e Professor - UTFPR-TD
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
33
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ANÁLISE DA ADIÇÃO DE ÁGUA EM OBRA PARA CORREÇÃO DO ABATIMENTO DO CONCRETO DOSADO EM CENTRAL
José Augusto Venâncio da Silva Ramos1
Juliano Sezar de Andrade2
Gustavo Savaris3
Resumo: Nas centrais dosadoras de concreto, é comum que não seja adicionada toda água do traço já na
central, sendo parte dessa adição realizada na obra, para correção da trabalhabilidade. Fatores como a
temperatura ambiente, umidade relativa do ar, condições dos agregados e agitação da betoneira são os
principais responsáveis pela redução da trabalhabilidade, pois podem causar evaporação de parte da água
de amassamento. O procedimento usual é o motorista do caminhão completar essa dosagem, procedimento
regulamentado pela norma NBR 7212 (ABNT, 2012), a qual permite a adição de água, contanto que não
seja excedido o fator água/cimento. Na prática, essa adição de água muitas vezes não segue controle
rigoroso, ficando a critério da experiência do motorista e ultrapassando esse limite. Essa situação pode
trazer problemas ao desempenho do concreto, caso o fator água/cimento ultrapasse o estipulado para o
traço, podendo causar perda da resistência e homogeneidade da mistura. Dessa forma, o presente trabalho
tem por objetivo avaliar a adição de água para correção do abatimento em obra, verificando os impactos na
resistência média à compressão e a variação do controle dessa prática em função do fCk nominal. Para tanto,
foi monitorado o processo de carregamento e entrega do concreto usinado de uma empresa do município
de Toledo - PR, anotando-se a quantidade de água adicionada na central e na obra, calculou-se o fator
água/cimento e a resistência à compressão aos 28 dias. Os resultados demonstraram uma menor variação
nos resultados em concretos com maior fCk nominal atribuída ao maior controle tecnológico. Com base no
estudo realizado, considera-se ser necessário maior controle tecnológico no momento da dosagem de água
em obra, a fim de reduzir as variações nas características do concreto, principalmente na resistência à
compressão.
Palavras-chave: Concreto dosado em central, fator água/cimento, resistência à compressão, controle tecnológico.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia Civil - UTFPR - Toledo. 2 - Engenheiro Civil - Concresuper Serviços de Concretagem LTDA. 3 - Docente do curso de Engenharia Civil - UTFPR - Toledo.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
34
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
A MATEMATICA FUZZY EM IMAGENS DIGITAIS
José Luiz Lívero Lavaqui 1 Renato Francisco Merli 2
Resumo: Este trabalho procura estabelecer articulações entre a matemática fuzzy e as imagens digitais. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Sabe-se que as imagens digitais são compostas por pixels, e que cada pixel corresponde a certo setor dela. Tais imagens podem pertencer a três tipos de padrões de coloração diferentes: cinza, colorida e binária (preto e branco). A matemática fuzzy busca moldar os raciocínios aproximados, ou seja, aqueles não exatos, os imprecisos. O padrão binário, preto e branco, se baseia em dois valores no qual cada um deles atribui a característica preta ou branca a um pixel e esses constituem a imagem. Já o padrão cinza se baseia nos valores entre o intervalo aberto de 0 a 255, a cada valor é atribuído um tom de cinza - daí a participação da matemática fuzzy - . O padrão colorido é mais complexo, pois se trata de três camadas sobrepostas umas as outras: as camadas RGB (red, green e blue, do inglês vermelho, verde e azul). Todas as cores derivam da interação dessas três cores, portanto, cada camada representa uma (cor) primária. A camada R representa o valor atribuído ao tom vermelho a cada pixel; esse valor varia de 0 a 255 e, assim como nos tons de cinza, quanto mais próximo de 255, mais escuro o tom, e quanto mais perto de 0 mais claro. O resultado final se dá pela interação dessas três camadas sobrepostas uma na outra a partir de uma relação fuzzy que faz a média dos valores das camadas, analisando 0 quão escuro ou claro é cada camada. Por exemplo, se em determinado pixel de uma imagem os valores RGB forem R=245, G=34 e B=142, a cor que mais se sobressairá será o vermelho.
Palavras-chave: Matemática Fuzzy, Imagens Digitais, RGB.
1 - Estudante do Ensino do Médio do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco
2 - Orientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
35
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ABORDAGENS PARA O ENSINO DE FRAÇÕES EQUIVALENTES EM LIVROS DIDÁTICOS, 1960-1970
José Matheus Ramos 1
Barbara Winiarski Diesel Novaes 2
Resumo:
0 presente trabalho é o resultado da Iniciação Científica3 vinculada ao projeto A matemática a ensinar nos primeiros anos escolares: processos de internacionalização e circulação no estado do Paraná, 1960 -1970 do Grupo de Pesquisa em História de Educação Matemática - Paraná (GHEMATPR) e objetivou analisar as abordagens para o ensino de frações equivalentes presentes em livros didáticos da década de 1960 e 1970 (atuais quintos e sextos anos do ensino fundamental). O conceito de equivalência é de extrema importância, por exemplo, para o desenvolvimento das operações com frações, construção dos números decimais e raciocínio proporcional. Como referencial teórico-metodológico para análise dos livros didáticos numa perspectiva histórica nos valemos dos estudos de Alan Choppin (2004). Adotamos estudos que colocam os saberes como foco da análise da profissão docente (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017), bem como textos vindos da história cultural, que possibilitam análises em termos de uma cultura escolar (JULIA, 2001). Neste período além dos estudos específicos, participamos da organização inicial de aproximadamente 200 livros didáticos de matemática (vários níveis de ensino) doados pela professora Neuza Bertoni Pinto que encontram-se no Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) da UTFPR - Câmpus Toledo e agora fazem parte do acervo do grupo. Foram selecionados quatro livros didáticos de acordo com critérios pré-estabelecidos na pesquisa. Por meio do estudo, pudemos observar uma grande variação nas abordagens, mas em todos os livros analisados aparecem os modelos de áreas para ensinar as frações equivalentes.
Palavras-chave: História da Educação Matemática; Frações Equivalentes; Livros Didáticos.
1 - Acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática
2 - Orientador
3 - Agradecemos à Fundação Araucária pelo apoio financeiro.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
36
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
EFEITO DA SECAGEM NA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA CASCA DO ABACATE
Juliana Aparecida Mirante da Silva1
Bruno Ribeiro Gomes2
Alessandra Maria Detoni3
Solange Maria Cottica4
Resumo: O abacate por ser uma fruta tropical, que contém compostos nutricionais com características notórias, tais como, compostos vitamínicos e bioativos como antioxidantes, é muito aproveitado pela indústria alimentícia, estudando casca e semente mostrando que os resíduos do abacate tem muito valor nutricional. Visando explorar algumas destas propriedades, este trabalho teve como objetivo determinar o teor de umidade e cinzas nas parte da composição do abacate (casca, polpa e semente), secar em estufa por planejamento experimental 22 com ponto central, realizar a extração e determinar a capacidade antioxidante pelo método DPPH. A secagem das amostras foi realizada variando o tempo (6, 15 e 24 horas) e a temperatura (30, 45 e 60°C), sendo posteriormente feita a extração com etanol (1:10 - m:v) por 4 horas e depois de colocado no rotaevaporador, para evaporar o solvente. Para a análise de umidade e cinzas foram utilizadas estufa e mufla, respectivamente, a 105°C e a 550°C, ambos por seis horas ininterruptas. Por fim, a análise de DPPH foi realizada no espectrofotômetro, mostrando o nível de absorbância do radical livre presente na solução do radical DPPH em etanol em 517 nm. Na preparação do abacate foi verificada que a maior parte do peso do abacate é composta pela polpa (64%), em seguida casca (19%) e depois pela semente (16%). Já a maior taxa de umidade está presente na polpa (86%), seguido pela casca (74%) e depois pelo caroço (62%). Em relação às cinzas, o caroço e a casca tiveram um percentual parecido (36% e 37%), seguido polpa (30%), respectivamente. Com relação à capacidade antioxidante, a casca do abacate quintal apresentou o maior resultado com o tratamento de 30°C e 24 horas (1474) de secagem em estufa.
Palavras-chave: Casca, DPPH, planejamento fatorial.
1 - Acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Bolsista da UTFPR/Brasil) 2 - Mestrando do curso de Processos Químicos e Biotecnológicos 3- Dra. Pesquisadora do IAPAR - Santa Tereza do Oeste 4 - Orientador (a) Profa. Dra. Solange Maria Cottica
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
37
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
ESTUDO DE DEGRADAÇÃO DE MOLÉCULAS E POLÍMEROS ORGÂNICOS: APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS E EMBALAGENS.
Kêissedy Veridiane Hübner1
Douglas José Coutinho2
Polímeros orgânicos semicondutores possuem alta taxa de degradação, tornando-se um problema para o meio ambiente pois não são muitos os dest inos para e s t e s materiais. Uma solução para e s t e problema é o desenvolv imento de f i lmes f inos com propriedades hidrofóbicas, ou seja, superfícies que possam ser capazes de não interagir com moléculas de H2O, ou que não tenham sua estrutura danificada por essas moléculas, prolongando a vida útil dos equipamentos . Este trabalho t em c o m o objetivo o desenvolv imento de técnicas de caracterização que possam auxiliar na medição do grau de hidrofobicidade dos fi lmes finos poliméricos. A medição deu-se através de um equipamento fe i to pelos autores, de maneira que fo s se possível avaliar o ângulo de contato de uma gota em uma superfície. O equipamento conta com o auxílio de uma câmera de microscópio para a captura de imagens e um software, que utiliza propriedades advindas do m é t o d o de Young para relacionar as interfaces sólidas, líquidas e gasosas, para a obtenção dos ângulos direito e esquerdo da gota. Através dele será possível obter o comportamento dos mais diversos materiais, s endo possível analisar parâmetros de superfície que possam estar relacionados com uma melhora na proteção contra a degradação do material frente a substâncias indesejáveis, que possam vir a prejudicar processos industriais, produtos e até a conservação de alimentos.
Palavras-chave: Ângulo de Contato; Polímeros; Hidrofobicidade; Filmes Finos.
1 - Acadêmica d o curso de Engenharia de B ioprocessos e Biotecnologia .
2 - Professor
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
38
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO ATRAVÉS DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS
ULTRASSÔNICAS Kevin Augusto Cupehinski (1)
Gustavo Savaris (2)
Resumo: É uma necessidade comum na engenharia avaliar as propriedades mecânicas do concreto, tanto nas primeiras idades, como em idades avançadas, a fim de garantir segurança e estabilidade para a estrutura. Em longa data, a maneira mais usual de se obter estas propriedades se dá pela extração de testemunhos da própria estrutura para um futuro ensaio em laboratório, no entanto, esta é uma prática demorada, onerosa e que pode comprometer a integridade estrutural. Nesse sentido, técnicas não destrutivas ganham destaque por suas significativas vantagens no que diz respeito à velocidade de execução, custo e ausência de danos à estrutura. Dentre as técnicas não destrutivas destaca-se a ultrassonografia, que, baseada na velocidade de pulso da onda ultrassônica é possível verificar a uniformidade, detectar falhas internas e estimar a resistência do concreto em uma peça estrutural. Para isso, deve-se estabelecer uma correlação entre a velocidade de pulso com a resistência medida em ensaio de compressão axial de um concreto através do método estatístico da regressão onde ajusta-se equações e modelos matemáticos capazes de prever o comportamento do concreto em função da velocidade de propagação da onda. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo estabelecer correlações entre a ultrassonografia e o ensaio de compressão axial para estimativa da resistência à compressão e módulo de elasticidade do concreto. Para tal, foi dosado um concreto visando resistência à compressão axial próxima a 40 MPa, para moldagem de corpos de prova cilíndricos e prismáticos que foram submetidos aos ensaios de compressão axial, módulo de elasticidade e ultrassom nas idades de 1, 3, 7, 14 e 28 dias. Os resultados obtidos mostram a efetividade do método que permitiu estimar a resistência à compressão do concreto através de equações lineares, exponenciais e logarítmicas com um grau de correlação da ordem de 0,98.
P a l a v r a s - c h a v e : Concreto; Resistência à compressão; Ultrassom;
1 - Acadêmico do curso de Engenharia Civil - UTFPR-TD
2 - Orientador: Prof. Dr. Gustavo Savaris - UTFPR-TD
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
39
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
PROJEÇÃO DE FOTOBIORREATORES PARA O CRESCIMENTO DE MICROALGAS
Lorelay da Silva Oliveira1
Carla Ishihara Casagrande2
Ana Maria Vélez3
Resumo: Biorreatores são equipamentos utilizados para o cultivo de células, tecidos ou órgãos em meio de cultura líquido. Quando se pensa em executar um processo fermentativo, devemos nos preocupar em conhecer o comportamento da célula viva, bem como o produto que queremos gerar, assim como os requisitos mínimos para que o bioprocesso ocorra, como a esterilidade do meio, agitação e aeração empregada sem que ocorra o cisalhamento, temperatura e pH. Devido à necessidade de biorreatores no cultivo de microrganismos para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, foi escolhido o desenho de fotobiorreatores para microalgas e neste trabalho foram desenvolvidos dois tipos de fotobiorreatores com o objetivo de avaliar e comparar o desempenho no crescimento da biomassa em cada projeto. Erlenmeyer, proveta, pipetas, mangueiras, filtros, rolhas, lâmpada e bomba de ar, foram utilizados para a construção dos sistemas. Os fotobiorreatores foram feitos a partir de rolhas furadas pelos quais passou-se as pipetas acopladas a mangueiras, que servem como dutos de ventilação, estes foram acoplados sobre recipientes de vidro, utilizando-se de uma bomba compressora de ar para a entrada no sistema e apenas um filtro na saída do mesmo, uma lâmpada para a realização do fotoperíodo necessário para o crescimento das microalgas e uma incubadora BOD foi utilizada para manutenção da temperatura. Os resultados mostraram melhor desempenho por parte do fotobiorreator de coluna de bolhas (proveta) com um diâmetro de 6 cm e altura de 43,5 cm, obtendo uma concentração de microalgas de 0,18067 g/L em 360 horas, enquanto o crescimento em erlenmeyer atingiu uma concentração celular, no mesmo período de tempo, de 0,07767 g/L. A partir desse resultado conclui-se que para continuidade de experimentos com crescimento da biomassa algal deverá ser utilizado o biorreator de coluna de bolhas, devido a sua geometria favorecer os parâmetros necessários para o crescimento das microalgas.
Palavras-chave: Crescimento; Melhoramento; Biotecnologia.
1- Acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
2- Acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
3- Orientadora
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
40
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPOSITORES DA MÚSICA DODECAFÔNICA
Lucas Francesco Piccioni Costa1
Andrés Eduardo Coca Salazar2
Resumo: No estilo musical o individualismo de cada compositor é plasmado de forma inerente a sua personalidade, visando o reconhecimento das suas obras de forma particular através da própria obra musical. Desta forma, é possível categorizar um subgênero musical em um nível mais profundo mediante a identificação do compositor a partir das suas obras. No entanto, as características de cada compositor são, por vezes, tão imperceptíveis e variadas que dificultam a sua identificação de forma precisa. Nesta pesquisa foram usados métodos de aprendizado de máquina supervisionado e não-supervisionado para classificar obras da música dodecafônica segundo o compositor, sob a hipótese de que na escolha da série dodecafônica ficou refletida uma parte da sua assinatura musical. O dodecafonismo é definido como uma técnica de composição contemporânea que consiste na elaboração de uma série de doze notas da escala cromática sem repetição, chamada de série dodecafônica, de onde é derivada a obra em si. Medidas descritivas e estatísticas calculadas a partir do conjunto de intervalos de séries extraídas de várias obras de dois compositores dodecafônicos famosos do século XX, Arnold Schoenberg e Igor Stravinsky, foram usadas para gerar o vetor de características. O aprendizado supervisionado foi desempenhado mediante o uso dos algoritmos AdaBoost e árvores de decisão, e o não-supervisionado usando os algoritmos k-médias e agrupamento hierárquico aglomerativo. A partir de 14 medidas, incluindo duas novas medidas especialmente propostas para abordar este problema, foram aplicados os quatro métodos de aprendizado, obtendo com AdaBoost e k-médias os melhores resultados de acurácia, os quais, usando as técnicas de reamostragem resubstituição e validação cruzada 10-fold, resultaram em 94.74% e 62.50%; e em 60.53% e 31.59%, respectivamente. Os resultados experimentais confirmaram a evidencia da existência de uma relação entre compositor e série.
Palavras-chave: Estilos musicais; Classificação de dados; Aprendizado de máquina; Dodecafonismo.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia de Computação.
2 - Orientador Professor Andrés Eduardo Coca Salazar.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
41
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
REVISÃO SOBRE EXTRAÇÃO DE ENZIMAS
Lucas Froes Olivi Dantas
Karina Graziella Fiametti Colombo
Tendo como enfoque a otimização de processos e também a busca por novas tecnologias sustentáveis, a obtenção e utilização de enzimas obtidas por rotas biológicas vem crescendo ao longo dos anos. Diversas metodologias e processos estão sendo desenvolvidos para garantir a eficácia da produção das mesmas. No presente estudo, serão descritas as metodologias a serem utilizadas para a extração e purificação da enzima lipase, produzida pelo fungo Penicillium sumatrense, por fermentação em estado sólido. A enzima será obtida empregando semente de girassol triturada e peneirada como substrato. Será adicionado ao caldo fermentado NaCl 2% 1g/5mL, após filtrado e centrifugado, ocorrerá a adição de sulfato de amônio 80% a 4°C com agitação branda, as amostras serão guardadas em geladeira por 2h e centrifugadas assim que retiradas. Será feita a diálise do corpo de fundo obtido, através de membranas mergulhadas em água, permitindo assim, a troca osmótica entre a amostra e a água, retendo os sais. As amostras serão colocadas em um liofilizador a -80°C e expostas por um período de 4 dias para completa liofilização. A atividade enzimática será determinada através do método de hidrólise de p-NPP e seu teor de proteínas por meio do método descrito por Bradford (1976). Os resultados esperados são aqueles citados nas literaturas descritas.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
2 - Orientadora Karina Graziella Fiametti Colombo
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
42
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
INTERAÇÃO DE OXIGÊNIO COM NANOESTRUTURAS SEMICONDUTORAS
Lucas Nascimento Giacobbo1
Ernesto Osvaldo Wrasse2
Resumo: Diversas informações a nível molecular podem ser obtidas através de programas computacionais, que nos ajudam a compreender o comportamento intrínseco de cada material. A obtenção de dados de propriedades eletrônicas e estruturais pode determinar se um material será isolante ou condutor, se é propenso a oxidação, qual será sua conformação final em cadeia, dentre inúmeras outras possibilidades que poderão determinar alguma característica macro. Neste estudo, revisou-se algumas das propriedades da Teoria dos Orbitais Moleculares, Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) e características básicas dos polímeros PELBD, PVDC e PVDF, além da obtenção por simulação de valores de bandas de energia e conformações moleculares mais estáveis para cada material. Os dados coletados foram obtidos através do algoritmo SIESTA, e o programa executado nas máquinas do CENAPAD (CEntro NAcional de Processamento de Alto Desempenho). Por se tratar de polímeros amorfos, a conformação real da cadeia será diferente da encontrada pois as interações intermoleculares das cadeias vizinhas, dispostas de maneira aleatória, irão influenciar no resultado final. Apesar de não ser possível prever com exatidão as cadeias poliméricas, as propriedades eletrônicas obtidas na simulação resultam em características que se assemelham muito aos reais, sendo possível relacioná-las com outras moléculas a fim de obter informações a respeito da interação entre seus orbitais moleculares (MOs).
P a l a v r a s - c h a v e : Propriedades e le trônicas; Teoria d o s Orbitais Moleculares ; Interações Intermoleculares; Espécies Reativas d e Oxigênio;
1 - A c a d ê m i c o d o curso d e Engenharia de B ioprocessos e Biotecnologia;
2 - Professor;
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
43
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
DESENVOLVIMENTO DE FILME POLIMÉRICO COMESTÍVEL ASSOCIADO A INGREDIENTES NATURAIS COM PROPRIEDADES
ANTIOXIDANTE S
Lucas Teixeira Mori 1
Ricardo Fiori Zara 2
Resumo:
Filmes poliméricos comestíveis são finas películas usadas para revestir um alimento, conservando-o por mais tempo. Os filmes de quitosana e zeína, ambas comestíveis possuem características favoráveis para a aplicação em alimentos, principalmente frutas. Os objetivos da pesquisa foram quantificar os teores de antioxidantes presentes nos filmes com a presença e ausência de erva-mate. Além disso, foram preparadas soluções de erva-mate solubilizadas em três diferentes solventes: água, ácido acético 0,5 mol L-1 e etanol 96°GL, na qual foram examinados a atividade antioxidante em cada uma delas. Foram preparados filmes de quitosana em concentrações de 10, 15 e 20 g L-1 preparado em ácido acético 0,5 mol L-1. Os filmes de zeína foram preparados em concentrações de 20, 40 e 60 g L-1 diluídos em etanol 96°GL. As soluções de erva-mate foram preparadas com uma concentração de 0,1 mg mL-1 com os três solventes mencionados anteriormente. Os filmes de zeína e quitosana com a presença e ausência de erva-mate foram submetidas a análise de DPPH e as soluções de erva-mate foram submetidos a análise de DPPH e fenólicos totais. Os resultados para os filmes foram expressos em TEAC (atividade antioxidante equivalente ao Trolox (^mol.g-1), na qual os filmes que continham erva-mate apresentaram uma maior atividade antioxidante. Os resultados do teste de DPPH e de fenólicos totais obtidos para as soluções de erva-mate dissolvidas em água, etanol e ácido acético apresentaram valores semelhantes entre si, indicando que o solvente pouco interfere na atividade antioxidante. Os filmes de quitosana apresentaram valores TEAC superiores em relação aos filmes de zeína, sendo assim mais efetivos no processo de conservação.
Palavras-chave: Quitosana; Zeína; Erva-mate; DPPH; Fenólicos totais.
1 - Acadêmico(a) do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
2 - Orientador(a)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
44
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
LINGUAGEM E MODELAGEM MATEMÁTICA NOS QUINTOS E SEXTOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Luiz Gabriel Martins1
Emerson Tortola2
Resumo: Este texto apresenta atividades realizadas em uma Iniciação Científica3 desenvolvida no âmbito de um projeto que investiga a cultura escolar, os processos de ensino e de aprendizagem e as concepções de docentes e discentes que estão em fase de transição do quinto para o sexto ano do Ensino Fundamental. Nosso objetivo foi investigar a linguagem, nesse contexto, mediada por atividades matemáticas que se configuram ou se assemelham a atividades de modelagem matemática, uma vez que essas atividades possuem características que podem minimizar essa transição, como a problematização e a investigação de temas de interesse dos discentes. Para isso foram elaboradas algumas atividades e desenvolvidas com os alunos, as quais estão sob análise à luz da filosofia da linguagem de Wittgenstein. Na elaboração dessas questões foram levados em consideração aspectos característicos de atividades de modelagem matemática, como o cuidado com os dados e informações, a observação de regularidades, a possibilidade de realizar generalizações e de definir estruturas matemáticas para expressá-las. Também analisamos os livros didáticos que são utilizados nas escolas públicas do munícipio de Toledo, participantes do projeto. A análise dos livros resultou na produção de dois artigos. O primeiro identifica os jogos de linguagem associados ao conteúdo de frações, permitindo conhecer como a linguagem é abordada nos materiais utilizados em sala de aula, nesse caso foram observadas as definições, notações, contextos e exercícios dos capítulos dos dois livros que abordam esse conteúdo. O segundo, por sua vez, analisa as situações-problema e os exercícios contextualizados, com dados reais, do livro didático do quinto ano e aponta elementos que nos permitem abordar a modelagem matemática nessa série, como exemplo apresentamos o desenvolvimento de uma atividade acerca do tema crescimento populacional.
Palavras-chave: Educação Matemática; Linguagem; Modelagem Matemática.
1 - Acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática
2 - Orientador
3 - Agradecemos à Fundação Araucária pelo apoio financeiro.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
45
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ESTUDO TEÓRICO DA IMPUREZA DE ÍNDIO NO NANOFIO DE TELURETO DE ESTANHO (SnTe)
Maicon Luan Stefan 1 Ernesto Osvaldo Wrasse 2
Resumo: A busca por nova fontes de energia tem levado ao estudo de materiais termoelétricos., que possuem a capacidade de transformar energia térmica em energia elétrica. Um dos candidatos a serem materiais termoelétricos eficientes são os nanofios semicondutores. O SnTe é um dos materiais mais estudados para a aplicação em dispositivos termoelétricos, e estudos recentes mostram que o confinamento quântico e a dopagem deste material podem aumentar a sua eficiência termoelétrica. Para determinação da eficiência termoelétrica e verificação do amento da eficiência, foram feitos os estudos dos efeitos termoelétricos da dopagem no bulk e no nanofio do SnTe com os elementos do Grupo IIIA (In, Al, Ga e Tl). Os Cálculos computacionais foram realizados com a Teoria do Funcional de Densidade (DFT), conforme implementado no código VASP. Os resultados para as propriedades eletrônicas do SnTe indicam um acréscimo na eficiência termoelétrica com o confinamento quântico, devido a um aumento na densidade de estados próximo ao topo da banda de valência e ao fundo da banda de condução. Entre as impurezas estudadas, Ga e Tl substitucionais ao Sn introduzem níveis de impureza próximo ao topo da banda de valência, tornando-os bons candidatos para aumentar a eficiência termoelétrica de nanofios de SnTe, e mais promissores para a aplicação em materiais termoelétricos.
Palavras-chave: bulk; Propriedades Termoelétricas; Figura de mérito (ZT); dopagem; gap.
1 - Acadêmico do curso de Tecnologia em Processos Químicos - UTFPR-TD
2 - Orientador e Professor - UTFPR-TD
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
46
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O MODELO DO MOVIMENTO VERTICAL DA PONTE DE TACOMA
Natalí Galdino Medeiros1
Larissa Fiori1
Sara Fátima Cardoso1
Jocelaine Cargnelutti2
Resumo: Este trabalho contempla o f enômeno da ressonância causado pelo vento na ponte de Tacoma Narrows, localizada na cidade de Tacoma, no estado de Washington, nos Estados Unidos da América. Caracterizada como pênsil, a ponte possuía 1600 metros de comprimento e o cenário era de ventos que chegavam à aproximadamente 65 km/h. Uma das possíveis causas que levou a estrutura ao colapso foi a ressonância, que gerou movimentos verticais na ponte. Assim, o presente trabalho tem como finalidade deduzir a equação diferencial ordinária (EDO) que governa tal movimento. Trata-se de uma EDO de segunda ordem, linear e não-homogênea, obtida por meio de conhecimentos físicos e solucionada pelo método de abordagem por superposição. A partir da solução obtida, pôde-se observar que, caso o valor da frequência angular do vento se aproxime do valor da frequência angular natural da ponte, o movimento tende ao infinito, ou seja, entra em ressonância. Desse modo, por meio desse trabalho, foi possível verificar que a teoria condiz com a prática ocorrida no momento do colapso e, além disso, as EDOs são ferramentas valorosas para solução de problemas em diversas áreas da ciência e, em especial, na Engenharia Civil.
Palavras-chave: Equações Diferenciais Ordinárias; Fenômeno da Ressonância; Aplicação na Engenharia Civil
1 - Acadêmico (a ) d o curso de Engenharia Civil
2 - Orientador(a)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
47
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE HIDROLISADOS DE APARAS DE TILÁPIA DO NILO
Patrícia Salete Daga 1
Dra. Ortência Leocádia Gonzalez da Silva Nunes 2
Prof. Dra. Solange Maria Cottica 3
Resumo: Devido ao aumento da demanda no cultivo de peixes, faz-se necessária a instalação de unidades adequadas de processamento de filés que minimizem o desperdício dos subprodutos da filetagem. Uma das alternativas para o aproveitamento desses subprodutos é a utilização da hidrólise enzimática. Essa tecnologia consiste em transformar os resíduos em um produto de alto valor biológico agregado. Os hidrolisados proteicos são produzidos para serem utilizados como ingredientes em uma ampla variedade de alimentos. Além disso, tem-se estudado os peptídeos bioativos obtidos pela hidrólise. A presente pesquisa teve por objetivo avaliar a atividade antimicrobiana do hidrolisado de aparas de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), oriundas do processamento de filé, utilizando duas proteases: Alcalase® e Brauzin®. Seis amostras de hidrolisados proteicos foram avaliados nos testes antimicrobianos. Primeiramente, foi verificada a esterilidade das amostras, sendo necessária a descontaminação pelo método de filtração por filtros de seringa de 22^m. Após esse procedimento, foram realizados os métodos de difusão em discos (correspondendo a duas baterias de testes com concentrações diferentes, 50mg/mL-7 ^L e 200mg/mL-7^L, sobre cada disco), e o teste de micro diluição em microplacas de 96 poços, no qual foram testadas as amostras 1, 3 e 6 usando 100^L de material, de acordo com a metodologia proposta pela ANVISA. A atividade antimicrobiana foi avaliada para as bactérias Stafilococoos aureus, Salmonela sp. e Echerecheria coli. Os resultados demonstraram que as amostras utilizadas não atingiram a atividade antimicrobiana esperada, não havendo inibição de nenhum dos tipos de bactérias em nenhum dos testes. Esse resultado pode estar relacionado com as condições de produção asséptica e armazenamento das amostras, com as concentrações utilizadas para a realização dos testes antimicrobianos e também com os microrganismos avaliados. Sugere-se a continuação da pesquisa, aumentando a concentração da amostra e também, diversificando os microrganismos a serem testados.
Palavras-chave: Tilápia; atividade biológica; subproduto de peixe
1 - Acadêmica do curso de Processos Químicos
2 - Coorientadora (UNIOESTE - Toledo)
3 - Orientadora (COPEQ - UTFPR - Toledo)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
48
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
DISPOSITIVO DE ANALISE DE TURBIDEZ E COR Paulo Afonso Gaspar
Ricardo Schneider Alberto Yoshihiro Nakano
Felipe Walter Dafico Pfrimer
Resumo: Um dispositivo de quantificação de partículas e nanopartículas é utilizado para analisar cor e turbidez de líquidos. A cor e a turbidez têm sido usadas como um indicador efetivo da qualidade da água. Os métodos baseados em imagens digitais têm alcançado muitos campos de pesquisa devido a sua capacidade de realizar análises confiáveis e rápidas de baixo custo. O objetivo deste projeto é desenvolver um método simples, de baixo custo, para análise de turbidez e posteriormente de cor, rápido e facilmente reproduzível baseado em imagens digitais processadas instantaneamente através de feixes de radiação eletromagnética em um meio de espalhamento. O dispositivo compreende um compartimento à prova de luz, onde a cubeta padrão de 20 mm de diâmetro, é colocada ortogonalmente a dois orifícios laterais e, ortogonais entre si. Dentro do dispositivo é usado um LED e uma câmera como fonte de radiação e sensor de luz, respectivamente. As analises são feitas por meio de software criado para utilização no computador Raspberry Pi 3 e escrito inteiramente em linguagem Python. Os resultados apontam uma considerável sensibilidade ao usar o LED branco como fonte luminosa. Foram feitas analises usando câmera comum e câmera sem filtro infravermelho. A eficácia do dispositivo proposto foi verificada com dados experimentais, mostrando alta linearidade e sensibilidade. Ainda, mostrou alta equivalência com turbidímetros comerciais e, forneceu informações para o desenvolvimento de um turbidímetro de preço acessível, adequado para o monitoramento básico da qualidade da água.
Palavras-chave: Turbidez; Cor; Processamento Digital; Analise; Imagem.
1 - Acadêmico do curso de engenharia eletrônica
2 - Orientador
3 - Co orientador
4 - Co orientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
49
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DE ALGORITMOS ADAPTATIVOS DE PASSO VARIÁVEL EM SISTEMAS DE
CANCELAMENTO DE RUÍDO
Rafael Rodrigo Pertum1
Eduardo Vinícius Kuhn2
Resumo: Sistemas de cancelamento adaptativo de ruído são utilizados em diversas aplicações práticas, tais como na atenuação de interferência dos batimentos cardíacos maternos em exames de eletrocardiograma fetal, bem como na supressão de ruído de ambiente em aparelhos celulares (smartphone) e equipamentos de áudio-conferência. Em tais sistemas, técnicas de filtragem adaptativa emergem como uma solução interessante para atenuar o ruído que corrompe o sinal de interesse (por exemplo, sinal de fala), as quais podem utilizar algoritmos adaptativos de passo variável por exibirem uma rápida velocidade de convergência associada a um pequeno erro em regime permanente. Nesse contexto, o presente projeto de pesquisa trata da implementação prática de algoritmos adaptativos de passo variável, visando analisar o desempenho desses algoritmos em condições de operação realistas como também desenvolver estratégias eficientes de implementação. Para isso, foi utilizada a placa de desenvolvimento Cortex-FM4 Starter da Cypress Semiconductors, a IDE (integrated developent environment) Keil ^Vision® MDK (microcontroller development kit) e o software MATLAB®. Inicialmente, foi realizada na placa de desenvolvimento a implementação do algoritmo VSS-NLMS (variable step-size normalized least-mean-square) introduzido por Zipf, Tobias e Seara [IEEE International Telecommunications Symposium (Set. 2010)]. Em seguida, foram conduzidas comparações de desempenho entre os resultados obtidos a partir da placa de desenvolvimento e do MATLAB®, as quais confirmam a validade da implementação proposta por meio da métrica NRR (noise reduction ratio). Também, avaliações subjetivas preliminares atestam a eficácia do sistema na atenuação de ruído. Por fim, um protótipo preliminar de um arranjo com microfones de eletreto e pré-amplificadores de áudio foi construído para avaliar o desempenho prático do sistema. Tendo em vista os resultados alcançados e visando dar continuidade ao projeto, pretende-se agora avaliar outros algoritmos adaptativos, incluir uma planta na entrada de referência para emular imperfeições na aquisição dos sinais, bem como aprimorar o arranjo de microfones integrado ao sistema.
Palavras-chave: Algoritmo VSS-NLMS; algoritmos adaptativos de passo variável; cancelamento adaptativo de ruído; filtragem adaptativa; processamento digital de sinais.
1 Acadêmico do curso de Engenharia Eletrônica. 2 Orientador.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
MICRORREDE CC - PROCESSAMENTO E CONTROLE DE ENERGIA SOLAR COM ARMAZENADORES DE ENERGIA
Raphael Sauer de Castro Cassius Rossi de Aguiar
Resumo: Desenvolver tecnologias que gerem energia de forma limpa é um dos principais desafios enfrentados do século XXI. Desta forma, o uso de fontes de energias renováveis vem crescendo globalmente. Neste sentido, esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de conversores CC-CC para o processamento e gerenciamento de fontes alternativas de energia como, por exemplo, painéis fotovoltaicos. Neste trabalho, o foco está no desenvolvido de um conversor CC-CC bidirecional para o gerenciamento da carga e descarga dos armazenadores de energia que compõem a microrrede. Esses armazenadores de energia são fundamentais para a maioria das fontes de energia limpa, principalmente em sistemas fotovoltaicos, pois o sistema é dependente das condições climáticas. A carga dos armazenadores de energia ocorre quando há produção de energia excedente, ou seja, a fonte está suprindo mais energia do que está sendo utilizada. A descarga desses armazenadores ocorre quando a fonte alternativa não está conseguindo suprir a demanda de energia da rede, sendo assim necessário o consumo da energia armazenada nos períodos excedentes. A carga ou a descarga dos armazenadores indicam o fluxo de energia do sistema, que está sujeito a variações diárias. Seria possível, por exemplo, ter um excedente de energia na parte da manhã, onde o painel fotovoltaico supre às demandas da rede e o restante de sua produção é armazenada. Também é possível ter um cenário intermediário, no final da tarde, onde a produção do painel não é suficiente para suprir a rede, sendo necessário um fluxo de energia do painel e dos armazenadores para a rede. Fica evidente que situações onde a rede é suprida só pelos armazenadores de energia também ocorrem, como por exemplo, no período noturno. Espera-se com esse trabalho, o desenvolvimento técnico científico do acadêmico bem como resultados que propiciem a publicação em periódicos relevantes na área de eletrônica de potência.
Palavras-chave: Conversor CC-CC, armazenamento de energia, fontes alternativas de energia.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia de Computação
2 - Orientador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
51
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
DETERMINAÇÃO DO GRAU DE HIDRÓLISE A PARTIR DE UM MIX
ENZIMÁTICO PARA A PRODUÇÃO DE HIDROLISADOS DE PROTEÍNAS DE FRANGO
Schaline Winck Alberti1
Tatiane Francini Knaul2
Ana Maria Velez3
Resumo: Dentro das características nutricionais da ração encontra-se fibras, carboidratos, ácidos graxos, vitaminas e minerais, sendo a mais importante a proteína. As proteínas são moléculas orgânicas nitrogenadas mais abundantes na célula representando cerca de 50% ou mais do peso seco, sendo essenciais para a nutrição animal. O teor de proteína bruta em um alimento está relacionado diretamente à quantidade de nitrogênio presente, visto que a molécula de aminoácido apresenta em sua estrutura uma molécula de nitrogênio. A indústria busca constantemente alternativas para atender as exigências do mercado, em muitos casos utilizam-se proteínas hidrolisadas para suplementação nutricional e enriquecimento de alimentos. Neste estudo analisou-se resíduos avícolas que passam por tratamento de hidrólise enzimática para produção da ração de aves. Quantificou-se o grau de proteína bruta pelo método de Kjeldahl e da proteína hidrolisada através da metodologia de Lowry obtendo respectivamente 39,9% e 26,8%, determinando assim o grau de hidrólise de 67,2%. O grau de hidrolise obtido para o presente estudo é similar com outros hidrolisados proteicos obtidos a partir de resíduos da indústria de alimentos, sendo um produto de grande interesse para cooperativas pois enriquece a ração animal favorecendo a engorda, logo o hidrolisado proteico apresenta vantagem em relação ao método tradicional, tendo alto potencial no mercado visando as tecnologias verdes que tem como objetivo reduzir os impactos dos recursos tecnológicos no meio ambiente.
P a l a v r a s - c h a v e : Nutrição animal , prote ínas , grau de hidrólise.
1 - Schaline Winck Alberti a c a d ê m i c a d o curso de Engenharia de B ioproces sos e Biotecnologia .
2 - Tatiane Francini Knaul a c a d ê m i c a d o curso de Engenharia de B ioproces sos e Biotecnologia .
3 - Orientadora Ana Maria Velez Professora Doutora d o curso de Engenharia de B ioprocessos e Biotecnologia .
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
52
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ESTUDO TEORICO DE DEFEITOS INTRÍNSECOS EM NANOFIOS DE TELURETO DE ESTANHO
Tainá Matendal de Souza 1
Ernesto Wrasse 2
Resumo: Nanofios semicondutores são estruturas com dimensão na ordem de nanômetros que apresentam um gap de energia pequeno e possuem grande potencial de aplicação na área eletrônica. Dentre as aplicações de nanofios semicondutores estão os dispositivos termoelétricos, nos quais diferenças de temperatura são convertidas em corrente elétrica devido ao efeito Seebeck. Um dos nanofios termoelétricos mais utilizados atualmente é o Telureto de Chumbo (PbTe), porém devido a preocupações ambientais busca-se materiais substitutos. A proposta deste trabalho foi substituir o chumbo por estanho, pois o Telureto de Estanho (SnTe) possui a mesma estrutura cristalina de sal de rocha do PbTe. Porém, eletronicamente, o SnTe tem um desempenho inferior ao PbTe. Sendo assim, existe a necessidade de uma otimização nas propriedades termoelétricas do SnTe e sabe-se que defeitos podem melhorar as propriedades de um material. Neste trabalho avaliou-se a influência de defeitos (vacâncias e antissítios) visando o aumento da eficiência termoelétrica desse material. Através de cálculos computacionais foi possível definir os parâmetros de rede mais estáveis do material, tanto no bulk como no nanofio. Após localizar 0 sítio com energia mais estável de cada defeito realizamos simulações com e sem a influência da Interação Spin-Órbita (ISO) afim de verificar as mudanças ocorridas em cada um. Podemos concluir que a vacância de estanho modifica as propriedades eletrônicas de forma semelhante no bulk e nanofio, introduzindo níveis de defeito no interior da banda de valência, tornando este defeito um bom candidato a material Termoelétrico. Os outros defeitos não se mostraram eficientes, pois o antissítio de telúrio no lugar do estanho apresentou níveis no gap e a vacância de telúrio assim como o antissítio de estanho no lugar do telúrio não apresentaram níveis de defeito no nível de Fermi, não diferenciando muito suas características eletrônicas do semicondutor pristino.
Palavras-chave: Nanofios semicondutores; Nanofios termoelétricos; Interação Spin-Órbita; Material pristino.
1 - Acadêmica do curso de Tecnologia em Processos Químicos - UTFPR-TD
2 - Orientador e Professor - UTFPR-TD
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
53
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
EFEITO DO RALEAMENTO NA PRODUTIVIDADE DE CENOURA
Taís Glienke Dos Santos1
Wesley Ferreira de Andrade2
Kélly Samara Salvalaggio3
Caio Reolon4
Emmanuel Zullo Godinho5
Resumo: A cenoura é uma cultivar que necessita de tratos culturais específicos quando plantada em canteiro definitivo, como por exemplo o raleamento. Em alguns casos o resultado de sua produtividade é mais elevado quando as plantas estão em espaçamentos recomendados. Por este motivo o trabalho teve como objetivo produzir cenoura em canteiro definitivo alterando-se os espaçamentos entre plantas e medindo então o peso de raiz por planta e produtividade em toneladas ha-1. O delineamento usado foi o de blocos ao acaso com três repetições. O experimento foi realizado a campo no Colégio Agrícola Estadual de Toledo no município de Toledo - PR, no período de março a junho de 2018. A semeadura foi em linhas com espaçamento entrelinhas de 35 cm. A adubação foi igual para ambos tratamentos. Após 30 dias após a emergência, foi feito um raleamento especifico de 25 cm entre as plantas no tratamento e no tratamento não foi feito este procedimento. Após 85 DAS, forma colhidas 10 plantas ao acaso em cada bloco e posteriormente suas raízes foram pesadas. Os resultados foram submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, através do Action® e o Origin para criação dos gráficos. Observou-se que o controle obteve uma maior produtividade que o tratamento, o p-valor 0,00000238, sendo que na área que foi raleada a produtividade foi de 23.8 t ha-1, com a maior produtividade no tratamento 21.0 t ha-1. Conclui-se então que o raleamento pode ser uma saída para aumentar a produtividade da cenoura, pois o mesmo pode resultar em uma maior área de absorção de nutrientes e consequentemente maior produtividade da cultura.
Palavras-chave: Action TM; Cenoura; Produtividade; Cultivo de verão; Tratos culturais.
1, 2, 3, 4 - Acadêmico (a) do curso de Técnico em Agropecuária
5 - Orientador professor do curso de Técnico em Agropecuária
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
54
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526 - 9364
ALIMENTOS FUNCIONAIS: BEBIDA PROBIÓTICA DE KOMBUCHA
Taíse Cecchin1
Jessica Cristina Zandonai1
Letícia Baldório1
Priscila Vaz Arruda2
Resumo:A kombucha é uma simbiose de leveduras e bactérias, que quando cultivada em chás derivados da Camellia sinensis e fonte de carbono obtem-se uma bebida gaseificada probiótica. Os alimentos probióticos são organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. O resultado da fermentação desses chás é uma bebida com inúmeros compostos bioativos, como os polifenóis, flavonóides, vitamina C, B2, B6, ácidos orgânicos. Neste sentido o presente trabalho apresentará uma revisão bibliográfica sobre alimentos funcionais, suas classificações, bem como o processo de fermentação da bebida kombucha e as atividades antioxidantes dos chás. Tal revisão fornecerá subsídios para prover maiores esclarecimentos da importância destas bebidas fermentadas para a saúde humana.
Palavras chaves: Kombucha. Probióticos. Alimentos Fermentados. Atividade
antioxidante.
1 - Acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. 2 - Professor
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
55
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS VÍTREOS NA PRODUÇÃO DE
CONCRETO PARA ELEMENTOS NÃO-ESTRUTURAIS
Tássia Mayara Fochesato1
Ricardo Schneider2
O grande volume de resíduo vítreo gerado nas cidades em decorrência do comércio e/ou indústrias acaba por tornar inviável o descarte em aterros sanitários, tratando-se assim de um resíduo industrial. Sendo o vidro um material não degradável e aliando-se ao fato de que há excesso de volume, cria-se um problema de âmbito ambiental e financeiro, visto que, a grande maioria das empresas do setor privado não possuem um descarte correto do montante de vidro produzido mensalmente, acarretando no despejo do material em locais impróprios. Assim sendo, a reciclagem torna-se vantajosa, pois o vidro é totalmente reciclável quando limpo. Entre os benefícios da reciclagem encontram-se: a destinação do vidro descartado, economia de energia e também de matéria prima. A construção civil é um campo que pode fazer grande uso do vidro em sua forma de pó na substituição de parte da areia no concreto de uso não-estrutural, isto é, na construção das guias dos passeios ("meiofio") e também na produção dos chamados "pavers" para sua utilização nas calçadas, por exemplo. Tais soluções possuem grande potencial em razão de o produto final não ser prejudicado, podendo até ter seu desempenho aperfeiçoado, sendo as características do concreto com a adição do vidro em sua forma de pó analisado em laboratório.
Palavras-chave: vidro, concreto, reciclagem, construção civil
1 - Acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. 2 - Professor
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
56
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
HIDRÓLISE ENZIMATICA DE VÍSCERAS DE FRANGO
Tatiane Francini Knaul 1
Schaline Winck Alberti 2
Ana Maria Vélez 3
Resumo: Dentro dos diversos processos industriais tem-se a necessidade da destinação dos subprodutos gerados pela agroindústria, as vísceras de frango, por exemplo, podem ser incorporadas juntamente com outras substâncias e destinadas para a produção de ração animal. Dentro dos diversos métodos empregados pela indústria de ração animal observa-se a oportunidade da utilização de enzimas como sendo substâncias que catalisam e aceleram a velocidade da reação e que podem ser usadas no processo de hidrólise. A hidrólise enzimática modifica as propriedades químicas, físicas e biológicas das proteínas, podendo melhorar suas características nutricionais e funcionais. As enzimas têm alto custo, no entanto, permitem que as reações sejam operadas sob condições brandas de trabalho, evitando formação de subprodutos e conduzindo a maiores rendimentos. Neste estudo utilizou-se o processo de hidrólise enzimática de proteína a partir de vísceras de frango a fim de obter-se um caldo rico que posteriormente poderia ser utilizado na alimentação de aves. Durante o procedimento variou-se quatro parâmetros fundamentais para a atividade enzimática da lipase sendo estes: tempo 1, 3, 5 e 7 minutos, temperatura entre 27°C, 37°C e 47°C, pH 6, 7 e 8, e razão enzima substrato 5, 10 e 15 mg/mL para encontrar os melhores parâmetros que satisfazem a atividade enzimática, os quais foram 1 min, 37 °C, pH 7, razão enzima/substrato 5 mg/mL obtendo 9,8 U/mg sendo está quantidade de ácido graxo liberado pela atividade da enzima. Foi feita uma caracterização das enzimas envolvidas no processo a partir de uma eletroforese SDS-PAGE, encontrando lipases com peso molecular de 34 kDa aproximadamente.
Palavras-chave: Vísceras de Frango; Hidrólise enzimática; Resíduo industrial;
1 - Tatiane Francini Knaul acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
2 - Schaline Winck Alberti acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
3 - Orientadora Ana Maria Vélez Professora Doutora do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
57
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
EFEITO DO CULTIVO CONSORCIADO DE RABANETE E CENOURA NA PRODUTIVIDADE
Tayrine Mainko Hoblos Pozzobon1
Anne Kathleen Oliveira dos Santos2
Bianca rockenbach3
Gabriela Carolina Bündschen4
Emmanuel Zullo Godinho5
Resumo: O rabanete e a cenoura são culturas pouco estudadas e que merecem assim maiores pesquisas sobre estas olericolas que são bastante cultivadas no Brasil. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do consórcio das culturas de rabanete e cenoura na produção. O experimento foi realizado na área de produção de hortaliças do Colégio Agrícola de Toledo -CAET, de maio a julho de 2018. Foram 4 tratamentos com três repetições com delineamento experimental de blocos ao acaso. Os tratamentos foram monocultura de rabanete, monocultura de cenoura; consórcios duplos de rabanete nas bordaduras com cenoura na linha central e cenoura nas bordaduras com rabanete na linha central. A produção das culturas foi avaliada medindo-se a massa fresca de 5 plantas de rabanete e de cenoura por parcela e seus pesos das raízes aos 55 e 85 dias após a semeadura. As maiores produtividades foram observadas no plantio em monocultura no rabanete e na cenoura em consórcio com o rabanete usando a cenoura nas bordaduras e cenoura nas laterais, 6,4 e 3,2 kg/m2. Embora tenha sido observada maior produção do rabanete em monocultura, o plantio em consórcio aproveita melhor a área e os demais recursos disponíveis como solo, água, luz e nutrientes, além de aumentar a diversidade de produtos e reduzir os riscos econômicos do produtor.
Palavras-chave: Daucus carota; Raphanus sativus L.; ActionTM; consorciação; agroecologia.
1 - Mestranda Bioenergia Unioeste.
2, 3, 4 - Acadêmico (a) do curso de Técnico em Agropecuária
5 - Orientador professor do curso de Técnico em Agropecuária
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
58
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
AS FRAÇÕES NO MANUAL PEDAGÓGICO "METODOLOGIA DA MATEMÁTICA" DE IRENE DE ALBUQUERQUE
Thalisson Wedley Rabelo Amâncio 1 Barbara Winiarski Diesel Novaes 2
Apoio do CNPq - EM
Resumo:
Irene de Albuquerque foi uma reconhecida pesquisadora, escritora e professora catedrática de prática de ensino do curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, e de Metodologia dos cursos de aperfeiçoamento do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Sua carreira foi marcada por obras que ajudaram a mudar a forma como vemos o processo de ensino-aprendizagem de matemática. O objetivo do trabalho de iniciação científica foi descrever como era proposto o ensino das frações no manual pedagógico "Metodologia da Matemática" (5a edição, 1964) tendo como referencial teórico-metodológico os trabalhos de Alan Chopppin sobre análise de livros didáticos numa perspectiva histórica. O livro é dividido em duas partes principais, a primeira, mais teórica sobre o ensino da matemática, com críticas e sugestões de como deveria ser realizado o ensino de frações nas escolas primárias; a segunda, trata da parte mais prática do ensino da matemática, com metodologias aplicadas e resultados de pesquisas. A autora faz diversas críticas às metodologias e aos conteúdos empregadas até então no ensino das frações em escolas primárias, alertando que o uso de cálculos com frações ordinárias é reduzidíssimo na vida do brasileiro, uma vez que nossas unidades de medida obedecem quase todas, ao sistema decimal. Além disso, muitos desses estudos estão acima do nível mental das crianças de nossas escolas primárias. O livro sugere o que deveria ser ensinado em nossas escolas primárias quanto ao conteúdo de frações ordinárias. São apontados no livro, diversas teorias e formas de como ensinar frações nos anos iniciais, com metodologias, materiais a serem empregadas (material dourado, valores de cruzeiro, sistema monetário da época, desenhos de barras divididas em frações, etc.), explicações de conteúdos com teorias, práticas e ilustrações bem correntes ao que está sendo ensinado, tornando assim o entendimento do conteúdo relativamente mais simples.
Palavras-chave: História da Educação Matemática; Manual Pedagógico; Frações.
1 - Estudante do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco
2 - Orientadora
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
59
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ORIENTAÇÕES PARA O USO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ENSINAR FRAÇÕES
Tuanny Katielly Costa de Souza 1 Barbara Winiarski Diesel Novaes 2
Apoio do CNPq - EM
Resumo:
0 presente trabalho tem por objetivo investigar orientações para o uso de materiais didáticos para ensinar frações presentes no manual pedagógico "Ver, sentir e descobrir a aritmética". Analisamos a décima edição do Manual didático de aritmética baseado no material aconselhado por Foster E. Grossnickle, William Metzner e Francis A. Wade. Compilado por Rizza Araújo Pôrto com a colaboração de Evelyn L. Bull do Departamento de Aritmética do PABAEE - Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar de Belo Horizonte-MG. Segundo Vilella et al (2016, p.270) "esse livro circulou de 1959 até 1968, demonstrando grande abrangência e influenciando propostas curriculares da época, com as do Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal entre outros". Rizza Porto foi professora do Instituto de Educação de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e Especialista em Ensino de Matemática na Escola Primária, além de integrar o Departamento de Aritmética do PABAEE. O referencial teórico-metodológico vale-se dos estudos de Choppin (2004) sobre a história dos livros didáticos. Os materiais introduzidos no livro em análise provêm experiências para o aluno com objetivo de introduzir, enriquecer, classificar e generalizar conceitos aritméticos abstratos; desenvolver na criança, uma atitude de apreciação pela aritmética; estimular maior interesse e atividade da criança na aprendizagem; desenvolver o hábito de procurar, pelo raciocínio, a solução para problemas reais, mesmo quando o processo formal ainda não é conhecido, considerando, com cuidado, o bem-estar emocional da criança. A autora ressalta que os materiais didáticos muitas vezes são estudados e discutidos sem consideração com o problema fundamental da aprendizagem, de forma vaga e sem direção. No livro em análise a autora sugere e exemplifica diversos materiais para o ensino de frações: Discos de contagem, Flanelógrafo, Quadro de cem, Partes fracionárias, Quadro de frações. No presente estudo percebemos que o uso dos materiais didáticos para o ensino de frações trazem uma forte preocupação com a aprendizagem, carácter exploratório e de descoberta por parte dos alunos, características marcantes do período em estudo.
Palavras-chave: História da Educação Matemática; Manual Pedagógico; Materiais Didáticos; Frações.
1 - Estudante do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco
2 - Orientadora
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
60
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS EM MOTORES DE INDUÇÃO EMPREGANDO REDES NEURAIS
Victor Hugo Milani Alberto Yoshihiro Nakano
Resumo: Os motores de indução trifásicos (MIT) estão presentes em muitos ramos da atividade econômica. No ramo da indústria a maior parte da energia elétrica consumida é transformada em energia mecânica pelos MITs e, assim, é importante que sejam desenvolvidos métodos para detecção de falhas para realização de manutenção preditiva. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um método de identificação de falhas nas barras do rotor gaiola de esquilo de um MIT por meio de redes neurais. Para isso foram utilizados dois parâmetros extraídos do sinal de corrente de entrada de motores com e sem defeitos utilizando-se um sensor de efeito hall e a placa National Instruments Elvis II para amostragem deste sinal. O primeiro parâmetro estudado foi a diferença de amplitude relativa entre a frequência fundamental e a primeira banda lateral direita. O segundo parâmetro foi a distância entre a frequência fundamental e a frequência da primeira banda lateral direita. Estes foram utilizados no treinamento de uma rede neural feedforward que foi capaz de classificar motores com e sem defeitos com uma taxa de 100% de acerto para o primeiro parâmetro citado e 77% para o segundo. Quando utilizamos os dois parâmetros combinados para o treinamento da rede neural, obtemos uma taxa de 100% de acerto. Neste estudo inicial e dentro do conjunto de dados obtidos podemos concluir que é viável a utilização de parâmetros extraídos do sinal de corrente para detecção de defeitos nas barras de um MIT.
Palavras-chave: Falhas em motores. Motor de indução. Redes neurais.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
61
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS: O PROBLEMA DE CONDUÇÃO DE CALOR EM UMA BARRA DE METAL.
Vitor Oscar da Silva 1
Karen Carrilho da Silva Lira 2
Resumo: Na Matemática aplicada, equações diferenciais são de extrema importância para a ligação e interação com algumas outras ciências, desde problemas que envolvam Física às equações ligadas a Biologia, tendo um papel fundamental nas Engenharias, Química e Economia. Jean Baptiste Joseph Fourier foi o matemático Francês que estudou a análise do fluxo de calor em uma barra metálica, além de ser o criador da Série de Fourier que aproxima soluções de problemas físicos com periodicidade por meio de somas infinitas de funções senos e cossenos. O presente trabalho tem por objetivo mostrar o problema de condução de calor em uma barra de metal e calcular, utilizando o conhecimento de equações diferenciais parciais e Séries de Fourier, a função que descreve a temperatura desta barra em relação à posição e ao tempo. Utilizou-se como base alguns autores sendo o principal Boyce e DiPrima (2015). Como resultado obteve-se o gráfico (utilizando o software Geogebra®) da função temperatura em relação a posição para determinados instantes de tempo a fim de mostrar que a partir de um determinado instante entrará em equilíbrio térmico. Conclui-se então que as Séries de Fourier podem aproximar soluções de problemas físicos complexos de forma precisa, em geral, usando apenas alguns termos da série.
Palavras-chave: Condução de calor - Equações diferenciais parciais - Séries de Fourier.
1 - Acadêmico do curso de Engenharia Civil.
2 - Orientadora.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
62
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Resumo Expandido
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
63
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Extração d e ó l e o essencial da casca d o abacaxi (ananás)
1 RESUMO
A d r i e l J o s é d a S i l v a Objetivo: O objetivo do experimento realizado e saber se, a extração de óleo [email protected] . . . . , . r , . / . . .
Universidade Tecnológica Federal essencial da casca do abacaxi seria rentável e favoravel. Métodos: Utilizando um d o p a r a n á , T o l e d o , p a r a n á , B r a s i l aparelho clevenger industrial, foi-se feita a hidrodestilação de casca secas por no P r o f ( a ) D r ( a ) V M A N E D A S I L V A mínimo 5 (cinco) horas a 60° C em uma estufa de secagem com circulação de ar, LOBO tendo variável de tempo de secagem e de quantidade de cascas envolvida em L o b o v i v i a n e @ q m a i l . c o m cada extração sendo que, utilizou-se o dobro da quantia com relação a primeira Universidade Tecnolóqica Federal
do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil feita. Resultados: A porção encontrada foi muito baixa, obteve-se menos de 0,06% de óleo essencial uma porcentagem relativamente muito baixa. Conclusão: Concluísse que no método utilizado e nas porções de cascas envolvidas a extração de óleo essencial do ananás não é favorável. ABSTRACT: Objective: The objective of the experiment was to know if the extraction of essential oil from pineapple peel would be profitable and favorable. Methods: Using an industrial clevenger apparatus, the dried bark hydrodistillation was done for at least 5 (five) hours at 60 ° C in a drying oven with air circulation, having variable drying time and number of peels involved in each extraction and double the amount was used in relation to the first one. Results: The portion found was very low, less than 0.06% of essential oil was obtained, a relatively low percentage. Conclusion: Conclude that in the method used and in the portions of shells involved the extraction of essential oil from the pineapple is not favorable.
PALAVRAS-CHAVE: Abacaxi. Óleo essencial. Hidrodestilação. KEYWORDS: Pineapple. Essential oil. Hydrodistillation.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
64
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
INTRODUÇÃO
Há diversos aparelhos de fazer a extração de óleo essencial, mas todos tem o mesmo princípio, o arraste a vapor. O utilizado nessa pesquisa foi o arraste a vapor do aparelho de escala piloto, tendo dentro de si uma resistência em sua base, fazendo o processo todo dentro do aparelho. Arraste a vapor nada mais é que o processo onde o vapor de água destilada passa pela planta levando consigo o óleo essencial existente, neste trabalho foi usado a casca do abacaxi, Ananas comosus. Óleos essenciais são definidos como compostos voláteis derivados de plantas e suas principais características são odor e sabor. A estrutura química destes compostos consiste em elementos de carbono, oxigênio e hidrogênio, mas sua classificação química é mais complexa, uma vez que eles são formados a partir de uma mistura de várias moléculas orgânicas. Óleos essenciais são geralmente produzidos por estruturas especializadas de secreção que podem ser encontradas em uma parte específica da planta ou na planta inteira. (NUNES, ADRIANA, 2000) O abacaxi tem diversos benefícios para a saúde sendo uma fonte de vitamina C, ajudando na absorção de ferro presente em vegetais e como a manganês na fruta seu óleo também leva consigo, e esse elemento presente no óleo, é um grande facilitador para a saúde dos tecidos ósseos. O abacaxi e uma fruta ácida, pois nele existe a presença de ácido cítrico, ácido ascórbico (vitamina C), ácido málico e bromelina.
Materiais e métodos
Foram feitas duas extrações sendo que o tempo em estufa e a quantidade de uma para a outra
foram maiores.
• Primeira amostra:
Pegou-se 4 abacaxis e lavou-os com hipoclorito de sódio e descascou-os o mais perto possível
da casca para que a quantidade de polpa presente seja o menor possível, após feito isso
utilizando uma colher foi raspado o lado de dentro da casca para diminuir ainda mais a presença
de polpa na casca, então com uma balança eletrônica digital foram pesados 1,224 kg da amostra
úmida, feito isso colocou-as dentro de recipientes bem espalhadas e levadas a estufa com
circulação de ar por 5 horas em uma temperatura de 60° C, passado o tempo as cascas foram
pesadas novamente para sabermos quanto quilogramas de amostras foram obtidas após a
secagem, verificou-se que seu peso era de 0,752 kg de amostras secas, então adicionou as cascas
dentro do Clevenger, que já estava funcionando a 30 minutos para que sua higienização fosse
feita e caso houvesse algum resíduo no aparelho, ele saia antes de entrar em contato com o
óleo do abacaxi, esse processo foi feito para não haver interferências nos resultados, então
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
65
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
colou-se mais água destilada dentro do Clevenger e deixou ele funcionando por 40 minutos após
começar a saindo o óleo.
Após isso, misturou-se a solução aquosa três vezes com 41 ml de hexano PA. Como a água
presente na mistura é polar e o hexano é apolar, as duas soluções não se misturavam, e o óleo,
sendo uma substancia apolar, misturou-se com o solvente. Para fazer a separação da mistura e
o solvente foi utilizado um funil de separação, esse procedimento foi repetido três vezes para
cada amostra.
Para separar o solvente do óleo, utilizou-se dois balões de fundo redondo e um evaporador
rotativo, que consiste em utilizar o vácuo para diminuir o ponto de ebulição do solvente e
manter sua baixa temperatura, fazendo assim a separação da solução.
• Segunda amostra:
Nesta extração foram utilizados 6 abacaxis, lavou-os com hipoclorito de sódio e descascou-os o
mais próximo possível da casca, de modo que a quantidade de polpa presente era a menor
possível, depois de fazer isso usando uma colher raspou-se no interior da casca para diminuir
ainda mais a presença de polpa na amostra. Em seguida, com uma balança eletrônica digital
foram pesadas 1,952 kg da amostra ao natural, feito isso colocá-los dentro de recipientes tão
espalhados quanto possível, mas devido a maior quantidade havia cascas em cima das outras,
então levou-as para uma estufa com circulação de ar durante 6 horas a uma temperatura de 60
° C, após o passar o tempo foram novamente pesadas para descobrir quantos quilogramas de
amostras foram obtidas após a secagem, o seu peso foi de 1,348 kg de amostras secas, depois
adicionou-as as cascas no interior do Clevenger, que já estava operando a 30 minutos para que
sua higienização fosse feita e se houvesse algum resíduo no aparelho, ele deveria sair antes do
contato com o óleo do abacaxi, esse procedimento foi feito para evitar interferências nos
resultados, em seguida, mais água destilada foi colada no Clevenger e deixado a funcionando
por 40 minutos após o início da saída de óleo.
Depois disto, verificou-se que o óleo não podia ser visto claramente, então a mistura foi
separada em duas quantidades de 400 ml, estas soluções foram misturadas três vezes com 43
ml de hexano PA que foram medido a quantidade em uma proveta graduada e como a água
presente na mistura é polar e o hexano é apolar as duas soluções não foram misturadas e o óleo
sendo uma substância apolar foi misturado com o solvente, para separar a mistura e o solvente
foi feito por meio de um funil de separação, este procedimento foi repetido três vezes para cada
amostra.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
66
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Para separar o solvente do óleo, utilizou-se dois balões de fundo redondo e um evaporador
rotativo, que consiste em utilizar o vácuo para diminuir o ponto de ebulição do solvente e
manter sua baixa temperatura, fazendo assim a separação da solução.
Resultados e Discussões
Ao passar pelos processos de extração, foram obtido 760 ml de solução aquosa de água e óleo
no primeiro procedimento, e cerca de 800 ml, no segundo. Na mistura notou-se que a
quantidade de óleo presente não era visivelmente perceptível, porém o cheiro de ambas
misturas estavam com o aroma característico do abacaxi, por isso foi necessário que a mistura
aquosa passasse por um solvente apolar para que o óleo se misturasse com o solvente e então
conseguir fazer sua separação.
Obteve-se misturas contendo hexano e óleo cerca de 246 ml no primeiro procedimento e 258
ml no segundo, e para fazer sua separação utilizou-se um evaporador rotativo em temperatura
ambiente, pois o hexano evapora com uma temperatura bem menor que o óleo, então com isso
nesse processo conseguiu-se a separação do óleo e o solvente.
Após feito todos os procedimentos nas duas extrações de óleo essencial da casca do ananás
observou-se que, a fração alcançada de óleo essencial foi muito baixa, assim não seria possível
fazer análises mais aprofundadas na composição do óleo. Porem pode-se dizer que foi obtido
óleo essencial pois seu aroma era facilmente percebido.
A quantidade encontra em ambas extrações tiveram um rendimento muito baixo, menos de
0,06%. Comparando com o trabalho de Romano (2017), os resultados são condizente, pois,
segundo o autor, o rendimento da extração da casca do ananás é de 0,003%. (ROMANO,
MATHEUS, 2017)
Percebeu-se durante a evaporação do hexano pelo evaporador rotativo a formação de cristais
em alguns pontos em volta do balão de fundo redondo, estes cristais podem ser a frutose
encontrada no abacaxi, estudos não forem feitos mas sua aparência assemelhava-se a cristais
de sacarose.
Considerações finais
Pode-se concluir que houve a obtenção de óleo, porem em uma quantidade muito baixa em
ambas as extrações. O experimento foi bem executado tendo seus resultados pertinentes com
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
67
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
teóricos, e pode-se dizer que as variações de tempo e quantidade para este modo de extração
não tiveram um grande impacto pois ambos tiveram resultados baixos e sem possibilidades de
melhor analises.
REFERÊNCIAS
NUNES, ADRIANA WOLFFENBUTTEL bacharel em química, Mestre em Engenharia, ciências dos Materiais, Quimica Toxicologista e Especialista em Óleos Essenciais. 2007. Resumo disponível em: <http://www.oleoessencial.com.br/artigo Adriana. pdf> Acesso em: 25 jul. 2018.
ROMANO, MATHEUS LIBERATO FREIRE MOREIRA. Caracterização Do Óleo Extraído Da Casca E Coroa Do Abacaxi (Ananas Comosus L. Merril). Novembro de 2017. Disponível em: <https:/ /monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/5331/1/CaracterizacaodooleoMono grafia.pdf> Acessado em 23 jul. 2018
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
68
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Extração d o ó l e o essencial da planta Kalanchoe pinnata e de terminação d e suas at iv idades
Alexandre Henrique G o m e s de S o u z a [email protected] r Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, PR, Brasil
Viviane da Silva Lobo [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, PR, Brasil
Extraction of essent ia l oil from t h e Kalanchoe pinnata plant and determinat ion of its activities
1 RESUMO A utilização de plantas medicinais vem desde a pré-história, fazendo
parte da evolução humana sendo o primeiro recurso de cura e terapêutica para os povos e com o passar do tempo para as grandes civilizações. As diversas substâncias que se encontram em plantas para cura ou tratamento variam de espécie para espécie e muitas vezes estão relacionadas com a defesa da planta e a atração de insetos polinizadores. Dentre as principais substâncias que proveem em ação farmacológica, são os alcaloides, mucilagens, flavonoides, taninos e óleos essenciais. O objetivo deste trabalho foi extrair e estudar a composição química do óleo essencial da planta Kalanchoe pinnata, análise microbiológica e análises físico-químicas do óleo volátil. Foram utilizados dois sistemas de aparelhos para extração do óleo essencial: sistema piloto de arraste a vapor e CLEVENGER em escala laboratorial por hidro destilação. A secagem do material (as folhas da espécie) foi realizada em estufa de circulação forçada. Com a utilização dos aparelhos CLEVENGER por hidro destilação e o sistema piloto de araste a vapor, o principal objetivo que era a obtenção do óleo essencial para poder analisá-lo, no qual não foi atingido. Com a não obtenção do óleo volátil não se pode concluir os demais experimentos de identificação de compostos, análises microbiológicas e análises físico-químicas. PALAVRAS-CHAVE: Kalanchoe pinnata, óleo essencial, plantas medicinais.
1 ABSTRACT
Receb ido: 09 fev. 2016.
Aprovado: 12 mar. 2016.
Direito autoral:
Este trabalho está licenciado sob os termos da Licença Creative Commons-Atribuição 4.0 Internacional.
The use of medicinal plants comes from prehistory, being part of the human evolution being the first resource of healing and therapeutics for the peoples and with the passing of time for the great civilizations. The various substances found in plants for healing or treatment vary from species to species and are often related to plant defense and the attraction of pollinating insects. Among the main substances that provide in pharmacological action are alkaloids, mucilages, flavonoids, tannins and essential oils. The objective of this work was to extract and to study the chemical composition of the essential oil of the plant Kalanchoe pinnata, microbiological analysis and physical-chemical analyzes of the volatile oil. Two systems of apparatus for extracting the essential oil were used: pilot steam trailing system and CLEVENGER in laboratory scale by hydro distillation. The drying of the material (leaves of the species) was carried out in a forced circulation oven. With the use of the CLEVENGER appliances for hydro distillation and the pilot steam turbine system, the main objective was to obtain the essential oil in order to analyze it, in which it was not reached. By not obtaining the volatile oil, it is not possible to conclude the other experiments of compound identification, microbiological analyzes and physicochemical analyzes.
KEYWORDS: Keyword one. Keyword two. Keyword tree.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
69
f VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526 - 9364
1 INTRODUÇÃO
A utilização de plantas medicinais vem desde a pré-história, fazendo parte da evolução
humana sendo o primeiro recurso de cura e terapêutica para os povos e com o passar do t empo
para as grandes civilizações. Bem antes do surgimento da escrita, as ervas já eram utilizadas na
alimentação e tratamento de doenças. Uma grande variedade de espécies de plantas medicinais
existe no planeta sendo que 50% destas ervas estão localizadas na floresta amazônica de acordo
com os dados de pesquisa da região tendo 25 mil espécies já catalogadas (GASPAR, 2008)
Os óleos essenciais são compostos aromáticos presentes na maioria das plantas já
conhecidas pelo mundo. Esses compostos podem ser extraídos das raízes, caules, folhas, flores
e frutos de plantas aromáticas. Os aromas no decorrer da história contribuíram muito para
diversas civilizações, tanto para embalsamar os mortos quanto para a medicina, culinária,
maquiagem e cerimônias religiosas. Elas podem ser obtidas da forma natural ou sintética, e
possuem grandes aplicações na indústria farmacêutica e cosmetologia. Os óleos essenciais
voláteis têm como sua principal característica o aroma e o sabor. Esses compostos são insolúveis
em água e solúveis em solventes orgânicos. Diversas técnicas são empregadas para extrair esses
óleos (TRANCOSO, 2013).
A Bryophyllum pinnatum da família Crussulaceae é utilizada a muito tempo na medicina
popular na África tropical, América, Índia e China. Contém diversos compostos como terpenos,
alcaloides, glicosídeos, esteroides e diversos tipos de compostos medicinais. Essa variedade de
planta é amplamente utilizada na medicina como anti-inflamatório e antidiabética, cicatrizantes
e propriedades homeostática. Elas crescem amplamente em climas quentes e úmidos em torno
de terrenos em residenciais e áreas rurais. Suas folhas são grandes e suculentas com uma
enorme quantidade de água (KAUR et al, 2000).
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Obtenção da matéria-prima: Kalanchoe pinnata
A matéria-prima utilizada Kalanchoe pinnata (Bryophyllum pinnatum) foram coletadas em
uma zona rural localizada na cidade de Toledo - PR, latitude: -24.75125403, longitude: -
53.71563065, altitude 544 metros acima do nível do mar, em latossolo roxo.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
70
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2.2 Beneficiamento pós-colheita
Toda a matéria-prima foi coletada no mesmo dia antes dos experimentos, em um total de
15 coletas e uma quantidade de 1 kg de amostras para ter uma obtenção de melhores resultados
e evitar alta perda de água e compostos químicos compondo sua estrutura. Elas foram coletadas
na época entre janeiro a maio.
2.3 Estufa de circulação forçada de ar
No processo de secagem utilizou-se uma estufa de circulação forçada do laboratório
de química orgânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (campus Toledo), no qual
as folhas de diferentes tamanhos foram pesadas em balança analítica (precisão de 0,0001g),
com um total de 150 g de matéria-prima nas temperaturas entre (45 e 60 °C) em um intervalo
médio de (±7), para obter-se um melhor rendimento de óleo essencial.
2.4 Extração do ó leo volátil
O procedimento seguiu-se com a utilização de 150 g de folhas frescas e ambos os
equipamentos, CLEVERNGER e sistema piloto de hidrodestilação, com um tempo de arraste com
aproximadamente 2 horas e coletado um volume do hidro lato de 1 L. Após, seguiu-se os
mesmos procedimentos descritos acima utilizando as folhas secas. O óleo essencial por ser mais
denso ele seria visível flutuando acima do nível da água e retirado com uma pipeta micro
volumétrica segundo (SILVA, 2015).
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Obtenção da matéria-prima: Kalanchoe pinnata (Bryophyllum pinnatum)
As folhas de kalanchoe foram coletadas em uma zona rural próxima a área urbana, os
proprietários concederam a permissão para coletar as amostras da planta que cresciam ao longo
de seus terrenos. As folhas foram analisadas em função do tamanho e espessura. A quantidade
de água contida internamente nas folhas dá o status de folhas do tipo suculentas. As coletas
foram realizadas com extremo cuidado, com uso de tesoura e corte feitos na metade do caule,
a precisão do corte é essencial para uma boa coleta de óleo.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
3.2 Umidade das amostras
O conteúdo de umidade das folhas de Kalanchoe pinnata foram analisadas com proporção
direta entre a massa de água presente no material e a massa seca. Os índices de umidades das
folhas foram variados conforme os dias mais úmidos e mais secos ao longo dos experimentos.
Uma tabela foi construída a fim de colocar as diferentes secagens feitas nas folhas da
matéria-prima e uma média foi feita.
Tabela de secagem das folhas de Kalanchoe pinnata em estufa de circulação forçada de ar.
Amostras Peso das
amostras fresca Peso da
amostra seca Peso de água
Índice de umidade das folhas
1 150.050 g 95.0817 g 54.9683 g 58%
2 150.025 g 95.0642 g 54.9433 g 58%
3 150.000 g 95.0287 g 54.9713 g 58%
4 150.100 g 95.0987 g 55.0013 g 58%
5 150.010 g 95.0542 g 54.9558 g 58%
Fonte: Próprio autor (2018)
3.3 Extração do ó leo volátil
As folhas, tanto secas quanto frescas, foram submetidas aos testes nos dois equipamentos para as extrações do óleo essencial. O método de arraste a vapor pelo equipamento industrial foi o mais utilizado por ter um bom desempenho. Ao passar pelo condensador o vapor voltaria a virar liquido e justamente como o óleo é mais denso que a água ambos iriam se separarem no recipiente da coleta. Em todas as coletas feitas de 1L de hidro lato o óleo essencial não estava presente. No aparelho CLEVENGER de vidro com manta aquecedora ocorreram os mesmos princípios, 1L de hidro lato coletado e o óleo não era visível, não continha as duas fases óleo/água.
CONCLUSÃO
Com a não observação e coleta do óleo essencial da Kalanchoe pinnatun, não foi possível completar os seguintes testes planejados que seria a identificação da composição química do óleo essencial, determinação das atividades físico-químicas e das atividades microbiológicas. Os possíveis erros destacados anteriormente condizem ao ocorrido e também por não ter um
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
72
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
aroma forte, falta de atualizações a respeito de artigos científicos, trabalhos e conhecimento da planta em geral. A planta possui sim aspectos e benefícios farmacêuticos, mas com esses poucos estudos creio eu que ainda tem muito mais coisas a serem descobertas com essa planta.
REFERÊNCIAS
GASPAR, Lúcia. Plantas medicinais. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com content&id=627>. Ano: 2008; Acesso em: 16 de julho de 2018.
TRANCOSO, M. D.; Projeto Óleos Essenciais: extração, importância e aplicações no cotidiano. Disponível em: <http://web.unifoa.edu.br/praxis/ numeros/09/89-96.pdf>. Ano: 2013. Acesso em: 16 de julho de 2018.
KAUR, N. BAINS, R. NIAZI, J.; A Review on Bryophyllam pinnatum - A Medicinal Herb. Journal of medical and pharmaceutical innovation. Disponível em: < http://www.jmedpharm.com/index.php?journal=JMPI&page=article&op=view&path%5B%5D= 7>. Acesso em: 14 de abril de 2018.
SILVA, R. M.; Estudo fármacognóstico, prospecção fito química e composição química do ó leo essencial das folhas de bryophyllum calycinum salisb (crussulaceae). Anápolis - 2015. Acesso em 14 de maio de 2018.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
73
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ENZIMAS COMERCIAIS
PARA A EXTRAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM LIMÃO
1 RESUMO A n d r e s s a Monique de G o d o y andressagodoym@gmail .com Acadêmica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Toledo, Paraná, Brasil. Jaquel ine Duncke [email protected] Acadêmica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Toledo, Paraná, Brasil. Leticia Fernanda Bast ian Leticia [email protected] Acadêmica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Toledo, Paraná, Brasil. Viviane da Silva Lobo [email protected] Professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil.
OBJETIVO: O presente trabalho t eve c o m o objetivo a quantificação do rendimento de ó leo essencial com uso de enzimas comerciais. MÉTODOS: As amostras da planta foram coletadas na cidade de Toledo, Paraná. O pré-tratamento enzimático foi realizado utilizando enzima de origem comercial Celluclast 700 U/g sendo usada as concentrações 0 ,01 %, 0 ,05 % 0,1% e 0,5 %, todos sendo realizados em triplicata. O processo escolhido para a extração de ó leo essencial foi a hidrodestilação, metodologia Clevenger. A hidrodestilação foi realizada para ambos os sistemas: apenas uso da planta com água; e as misturas de planta pré-tratada com enzima celulase. RESULTADOS: Ao se extrair o ó leo de cada amostra com suas respectivas concentrações de enzima foi possível determinar que a concentração de 0,1% teve maior rendimento. CONCLUSÕES: Foi possível observar que ao se utilizar a enzima é possível obter uma variante de até 71 % a mais que da amostra in natura. ABSTRACT: OBJECTIVE: The objective of this work was to quantify the yield of essential oils using commercial enzymes . METHODS: The plant samples were collected in the city of Toledo, Paraná. The enzyme pretreatment was performed using Celluclast enzyme of commercial origin 700 U / g and the concentrations of 0.01%, 0.05%, 0.1% and 0.5% were used, all of them being performed in triplicate. The process chosen for the extraction of essential oil was hydrodistillation, Clevenger methodology. Hydrodistillation was performed for both systems: only use of the plant with water; and the plant mixtures pretreated with cellulase enzyme. RESULTS: When extracting the oil from each sample with its respective concentrations of enzyme, it was possible to determine that the concentration of 0.1% had a higher yield. CONCLUSIONS: It was possible to observe that when using the enzyme it is possible to obtain a variant of up to 71% more than the in natura sample. PALAVRAS-CHAVE: Enzima. Óleo essencial. Capim Limão. KEYWORDS: Enzyme. Essential oil. Lemon grass.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
74
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
INTRODUÇÃO
Óleos essências são porções voláteis naturais de mistura complexa, extraídas de plantas
aromáticas, de composição química variada (BIZZO; HOVELL; REZENDE, 2009).
Pesquisadores realizaram estudos em prol de obter mais conhecimentos a cerca desse
componente oleoso e sua composição química, e que era obtido da extração de algumas
plantas, até chegar-se ao conceito de óleos essenciais que se tem atualmente (BASER;
BUCHBAUER, 2010).
Com o passar dos anos, surgiu uma gama muito grande de plantas que fornecem óleo
essencial (BASER; BUCHBAUER, 2010). Os métodos mais utilizados para obtenção
desses óleos são por arraste a vapor, prensagem a frio, extração por solventes e
hidrodestilação. Todavia, sua extração e comercialização ainda são processos que
possuem um alto valor comercial agregado, devido a equipamentos de alto custo, elevado
volume de solventes orgânicos e a presença de ceras e pigmentos da matéria prima
caracterizados como contaminantes do óleo essencial (BIASI et al., 2009).
Com intuito de elevar o teor de óleo essencial aplica-se o tratamento com catalisadores
biológicos, as enzimas. A utilização de enzimas contribui para a degradação da parede
celular vegetal, e dessa forma facilita a remoção do óleo essencial. Esse processo de pré-
tratamento enzimático minimiza o tempo de extração, podendo aumentar o rendimento
de óleo essencial obtido (REIS, 2015). Enzimas hidrolíticas são as enzimas mais aplicadas
no processo de extração de óleos essenciais. O uso dessas enzimas no pré-tratamento da
biomassa para extração de óleos vem adquirindo grande interesse pela indústria
biotecnológica (CASSINI, 2010).
Estes óleos se encontram dentro das células das plantas, e estão protegidos pela parede
celular da mesma, sendo então um processo lento de extração tanto por métodos
mecânicos como a moagem, quanto por processos físicos como o arraste a vapor. Contudo
o uso de pré-tratamento multienzimático mostrou um aumento na quantidade final de óleo
extraído, uma vez que as enzimas degradam a parede celular, fazendo com que a energia
gasta no processo de extração diminua, sem que ocorra alteração nas características do
produto.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
75
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
MATERIAIS E MÉTODOS
As amostras de capim limão foram obtidas em terreno na cidade de Toledo, Paraná.
Foram coletadas, lavadas trituradas e devidamente armazenadas para posterior
tratamento. O pré-tratamento enzimático foi realizado utilizando enzima de origem
comercial Celluclast 700 U/g da marca Sigma Aldrich. O pré-tratamento enzimático é
realizado em um balão de 2 L de capacidade, utilizando 60 g de substrato (folhas de
capim-limão), adicionando-se a essa biomassa a concentração 0,1% de enzima comercial
para 1,2 L de água. Cada mistura de biomassa de capim-limão e caldo de enzima foi
submetida a um pré-tratamento com banho-maria por 2 horas, a temperatura de 50°C
(FRANCO et al., 2015; REIS, 2015). O processo escolhido para a extração de óleo
essencial foi a hidrodestilação, metodologia Clevenger. A hidrodestilação foi realizada
para ambos os sistemas: apenas uso da planta com água; e as misturas de planta pré-
tratada com enzima celulase.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As amostras de óleos essenciais in natura e pré-tratatos com a enzima Celluclast 700 U/g
à 0,1% apresentaram as seguintes composições (Tabela 1).
Tabela 1: Porcentagem de óleos essenciais obtidos após extração por aparelho Clevenger,
por meio de dois métodos: com aplicações de enzimas à concentrações 0,01%, 0,05%,
0,1% e 0,5%, e amostra in natura.
Tratamento Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3
In natura 0,85% 0,84% 0,85%
Celluclast 0.01% 1.04% 1.06% 1.03%
Celluclast 005% 133% 1,36% 1,34%
Celluclast 0,1% 1,46% 1,47% 1,43%
Celluclast 0,5% 2,29% 2,27% 2,28%
Fonte: Autor (2018).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
76
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
A porcentagem de óleo essencial obtidos nas amostras in natura atingiu uma média igual a 0,84%. Os resultados obtidos na elevação do teor de óleo demonstraram que todas extrações realizadas utilizando pré-tratamento, houve aumento da massa de óleo extraído e, portanto, um maior teor de óleo essencial. Dentre os resultados objetos, é possível verificar que a metodologia que utilizou-se da concentração de 0,1% de enzima demonstrou-se mais eficiente quanto a relação concentração versus rendimento. Pela metodologia de pré-tratamento descrita, pode-se observar rendimento médio de extração de 1,45% para concentração de 0,1% de enzima aplicada. Com a concentração de enzima aplicada, obteve-se 71% de aumento médio no rendimento da extração em comparação à amostra padrão. Esse resultado encontrado é totalmente favorável frente à metodologia aplicada, demonstrando que os resultados apresentados foram satisfatórios para a extração de óleo essencial utilizando as enzimas. Todavia, muitas variáveis influenciam no pré-tratamento com enzima, bem como na hidrodestilação do óleo essencial. Este trabalho visou realizar um estudo preliminar em condições específicas de operação, em que se aplicou a concentração de 0,01%, 0,05% 0,1% e 0,5% de caldo enzimático, considerando 50°C e 2 horas para a temperatura do banho no pré-tratamento e 1 hora de hidrodestilação. Para o banho maria, não foi ajustado o pH, uma vez que a própria planta capim-limão, por ser ácida, ajustou o pH do meio em 5,0 à 6,0 (sendo assim ideal para a ativação da enzima celulase). Embora tais condições adotadas tenham sido eficientes, só um estudo das variáveis independentes (temperatura, tempo de contato e volume de extrato enzimático) assim como as suas interações, proporcionarão uma avaliação de quais condições desejáveis são mais favoráveis ao aumento da extração de óleo essencial.
REFERÊNCIAS
BASER, K. Hüsnü Can; BUCHBAUER, Gerhard. Handbook of Essential Oils: Science, Tchnology, and Applications. UEA: CRC Press, 2010.
BIASI, Luiz Antônio et al. Adubação orgânica na produção, rendimento e composição do óleo essencial da alfavaca quimiotipo eugenol. Horticultura Brasilera, Brasília: v. 27, n. 1, jan./mar. 2009.
BIZZO, Humberto R., HOVELL, Ana Maria C. e REZENDE, Claudia M.. Óleos essenciais no Brasil: aspectos gerais, desenvolvimento e perspectivas. Química Nova, Rio de Janeiro: 32 ed., n. 3, p. 588-594, 2009.
CASSINI, Juliane. Utilização de enzimas para obtenção de óleos essenciais e cumarinas de casca de Citrus latifólia Tanaka. 2010. 78 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS, 2010.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
77
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
FRANCO, M., NASCIMENTO-JUNIOR, B. B. e TAVARES, M. C. Utilização de extrato enzimático bruto produzido a partir de resíduo agroindustrial na otimização da extração de óleo essencial. In: CONGRESSO BRASILEITO DE SISTEMAS PARTICULADOS, 37., out. 2015, São Carlos, SP. Anais eletrônicos... São Carlos, SP, ENEMP, out. 2015. Resumo. Disponível em: <http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1 .amazonaws.com/chemicalengineeringproceedings/enemp2015/TC-727.pdf>.
REIS, Nadabe dos Santos. Aplicação de enzimas produzidas por Aspergillus niger na extração do óleo essencial de Mentha arvensis. 2015. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência dos Alimentos) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, BA, mar. 2015.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
78
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Sistema integrado para produção d e b iop igmentos ant iox idantes por R. toruloides e S. platensis a partir de
caldo de cana-de-açúcar
1 RESUMO Estef fany d e S o u z a C a n d e o [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
Eduardo Bittencourt S y d n e y [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, Paraná, Brasil
O presente estudo objetiva integração da produção de biopigmentos antioxidantes obtidos por R. toruloides e S. platensis. Obteve-se biomassa de levedura por fermentações de caldo de cana-de-açúcar suplementado com ureia. Seguiu-se protocolo extração líquido-líquido (1:1) utilizando Clorofórmio. Caracterizou-se o potencial antioxidante do pigmento extraído. Ao efluente líquido da fermentação foi adicionado água destilada em diferentes porcentagens e realizou-se o cultivo de S. platensis. A quantificação de ficocianina, ficoeritrina e aloficocianina foi realizada na biomassa úmida obtida. O biopigmento de R. toruloides apresentou concentração de compostos fenólicos totais de 7518^g.mL-1 e IC50 de 2,08mg.mL-1. O rendimento de ficocianina resultou em 15,47mg.g-1. Este estudo demonstrou a possibilidade de integração da produção de pigmentos com ação antioxidante por R. toruloides e S. platensis.
PALAVRAS-CHAVE: Pigmento. Antioxidante. Ficocianina.
Integrated system for the production of antioxidant biopigments by R. toruloides and S. platensis from sugarcane juice
RESUMO
The present study aims to integrate the production of antioxidant biopigments obtained by R. toruloides and S. platensis. Yeast biomass was obtained by fermentations of sugarcane juice supplemented with urea. Liquid-liquid extraction protocol (1:1) was followed using Chloroform. The antioxidant potential of the extracted pigment was characterized. To the liquid effluent from the fermentation distilled water was added in different percentages and the culture of S. platensis was carried out. The quantification of phycocyanin, phycoerythrin and allophycocyanin was performed in the obtained biomass. The biopigmento of R. toruloides presented a concentration of total phenolic compounds of 7518^g.mL-1 and IC50 of 2.08mg.mL-1. The yield of phycocyanin resulted in 15.47mg.g-1. This study demonstrated a possibility of integration of the pigments production with antioxidant action by R. toruloides and S. platensis. KEYWORDS: Pigments. Antioxidant. Phycocyanin.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
79
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
INTRODUÇÃO
A produção de biopigmentos tem sido assunto de intensa pesquisa devido ao seu potencial de aplicação na indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica. De modo a minimizar as barreiras associadas à produção dos pigmentos, se promove a integração de processos produtivos com menor custo.
Pelas simplórias condições de cultivo e pelo eminente acúmulo de lipídios e proteínas respectivamente, a levedura Rhodosporidium toruloides e a cianobactéria Spirulina platensis, têm potencial de aplicação na produção de pigmentos com capacidade de estabilizar e sequestrar radicais livres (VONSHAKE, 2002).
O presente estudo objetiva o desenvolvimento de um sistema integrado de produção de biopigmentos a partir da fermentação de caldo de cana-de-açúcar por R. toruloides e posterior aproveitamento do efluente da fermentação para o cultivo de S. platensis.
MÉTODOS
As análises foram realizadas no laboratório de microbiologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Toledo.
Obteve-se biomassa de levedura R. toruloides por fermentações em biorreator de 7,5L com controle de pH (7,0±0,2), temperatura (30°C) e oxigênio dissolvido (30%). As fermentações tiveram duração de 51 horas e foram realizadas de caldo de cana-de-açúcar (60g.L-1) suplementado com ureia (3,15g.L-1), perfazendo relação C/N igual a 17.
A partir da biomassa úmida, seguiu-se protocolo de hidrólise com HCl a pH 1,0 (121°C, 1 hora) e posteriormente extração líquido-líquido (1:1) utilizando Clorofórmio como solvente.
Caracterizou-se o potencial antioxidante da fração lipídica extraída por meio das análises de Folin-Ciocalteu (SINGLETON et al., 1999) e radical de DPPH (BRAND-WILLIAMS et al., 1995).
Ao efluente líquido da fermentação foi adicionado água destilada e meio sintético Zarrouk (0, 10, 30, 50, 70 e 100%) e conduziu-se o cultivo de S. platensis por 14 dias, sob regime de fotoperíodo de 12 horas a 3500 lux.
Realizou-se quantificação de ficocianina, ficoeritrina e aloficocianina na biomassa úmida obtida de acordo com Walter (2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi produzida 36,18g.L-1 de biomassa de levedura. Os resultados de IC50 e compostos fenólicos totais, caracterizando o potencial
antioxidante, do pigmento extraído estão apresentados na tabela 1, juntamente com o IC50 do hidroxitolueno butilado (BHT).
Tabela 1. IC50 e compostos fenólicos totais (CFT) do carotenoide extraído com clorofórmio em comparação com BHT.
IC50 CFT (^g.mL-
(mg.mL-1) 1) Carotenoide 2,082 7518 BHT* 0,031
Fonte: Autoria própria (2018). * CAPUZZO et al. (2014).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
80
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Com a concentração dos CFT e o IC50, se confirma o potencial antioxidante do biopigmento produzido por R. toruloides. O valor de IC50 encontrado no carotenoide quando comparado com o IC50 do antioxidante sintético BHT, mostra que sua atividade é aproximadamente 67 vezes menor, entretanto a adição parcial do pigmento em formulações cosméticas pode agregar outras características importantes, como por exemplo, espalhabilidade e permeabilidade.
Quanto à produção de biomassa de S. platensis, os resultados estão apresentados na tabela 2.
Tabela 2. Crescimento de S. platensis em meios a base de efluente fermentativo diluídos em água destilada e meio sintético Zarrouk.
Porcentagem de efluente (%)
Biomassa seca (g.L-1) em meio diluído com H2O destilada
Biomassa seca (g.L-1) em meio diluído com Zarrouk
0 0,30 0,33 10 0,36 0,53 30 0,46 0,57 50 0,55 0,77 70 0,71 0,77
100 1,10 Fonte: Autoria própria (2018).
A multiplicação celular da alga foi proporcional à suplementação, sendo o cultivo em efluente puro (sem diluição) o mais produtivo, atingindo crescimento de 1,10g.L-1.
O meio de H2O destilada suplementada obteve crescimento muito próximo ao do meio sintético Zarrouk suplementado, o que garante a potencial substituição das formas padrões de cultivo da alga, reaproveitando efluentes de fermentações anteriores e integrando processos produtivos industriais.
A tabela 3 indica os rendimentos de ficobiliproteínas encontradas na biomassa de S. platensis cultivada em efluente puro, também é expresso concentrações de ficobiliproteínas encontradas por outros autores em biomassas de S. platensis.
Tabela 3. Rendimento de ficocianina (FC), ficoeritrina (FE) e aloficocianina (AFC) em S.
FC FE AFC (mg.g-1) (mg.g-1) (mg.g-1)
Autores 15,47 5,73 8,46 RODRIGUES (2017) 10,87 4,22 13,30 OLIVEIRA (2014) 13,28 1,73 9,06
platensis cultivada em efluente puro. Fonte: Autoria própria (2018).
Os rendimentos obtidos confirmam que o aproveitamento de efluente fermentativo é eficiente na produção dos biopigmentos de interesse, principalmente a ficocianina. Os resultados alcançados também estão de acordo com os encontrados na literatura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das análises realizadas se comprova o potencial antioxidante do pigmento da levedura Rhodosporidium toruloides; se valida a hipótese de produção de biomassa de Spirulina
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
81
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
platensis em meio constituído por efluente fermentativo; se confirma a presença intracelular de ficocianina em biomassa de S. platensis. Dessa maneira, demonstra-se possível o desenvolvimento de um processo integrado de produção de biopigmentos antioxidantes.
REFERÊNCIAS
BRAND-WILIAMS, W.; CUVELIER, M.E.; BERSET, C. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. Food Science and Technology, v.28, p.25-30. 1995. CAPUZZO, A.; OCCHIPINT, A.; MAFFEI, M.E. Antioxidant and radical scavenging activities of chamazulene. Jul, 2014. WALTER, A. Estudo do processo biotecnológico para obtenção de ficocianina a partir da microalga Spirulina platensis sob diferentes condições de cultivo. Universidade Federal do Paraná - Programa de Pós-Graduação em Processos Biotecnológicos, p. 63, 2011. Disponível em:< http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/26959/ALFREDO%20WALTER.PDF?sequen ce=1&isAllowed=y>. Acesso em: 22 jul. 2018.
OLIVEIRA, C. A. Caracterização da produção de pigmentos e da atividade antioxidante de Nostoc spp. sob diferentes intensidades luminosas. Universaidade Federal de Viçosa -Programa de Pós-Graduação. Minas Gerais, 2012. RODRIGUES, R. D. P. Extração e purificação de ficobiliproteínas de Spirulina (Arthrospira) platensis com líquidos iônicos próticos. Universidade Federal do Ceará - Programa de Pós-Graduação. Fortaleza, 2017. SINGLETON, V. L.; ORTHOFER, R.; LAMUELA-RAVENTOS, R. M. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Meth Enzymology.p.152-78. 1999.
VONSHAKE, A. Physiology, cell-biology and Biotechnology. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 196, 2002. Disponível em: <http://www.bashanfoundation.org/vonshak/2002-.Vonshak-S.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2018.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
82
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Uma i m p l e m e n t a ç ã o MPI to lerante a falhas d o algori tmo de ordenação paralela Quickmerge
Felipe Natã d e Camargo Xavier [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil Edson Tavares de Camargo
[email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
Um dos problemas mais frequentes em computação é a ordenação de dados. Os algoritmos de ordenação resolvem o problema da ordenação de forma sequencial ou paralela. A versão paralela se destaca por ordenar uma sequência grande de elementos em tempo de execução menor. Para tanto, o problema é dividido em partes menores e distribuído para um conjunto de nodos ou processos computacionais. Cada processo é responsável por resolver parte do problema. Este trabalho apresenta os esforços iniciais na obtenção de uma implementação tolerante a falhas do algoritmo de ordenação paralela chamado Quickmerge no modelo de memória distribuída. O algoritmo Quickmerge é uma versão paralela do algoritmo Quicksort e destaca-se por utilizar a topologia de uma hipercubo virtual para organizar os processos. A implementação foi realizada usando o padrão MPI. O MPI é o principal padrão para o desenvolvimento de aplicações paralelas e distribuídas que fazem uso do paradigma de troca de mensagens. No entanto, o padrão não tolera falhas de processos. São apresentados resultados preliminares de desempenho do algoritmo implementado e um estudo das estratégias para transformá-lo em uma versão tolerante a falhas.
PALAVRAS-CHAVE: Ordenação de dados. Quickmerge. Interface (MPI). Quicksort. Tolerância a falhas.
Message Passing
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
83
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
1. INTRODUÇÃO O propósito de um algoritmo de ordenação é posicionar os elementos de um conjunto de
acordo com um método de organização como, por exemplo, ordem crescente, ordem alfabética, ordem cronológica, entre outros. O objetivo da ordenação é auxiliar o processo de busca de elementos em um conjunto de dados (Aaron M. Tenenbaum et al, 1995).
O algoritmo sequencial Quicksort (Hoare, 1962) é um dos algoritmos de classificação mais utilizado devido ao seu bom desempenho. A estratégia utilizada pelo algoritmo é a de divisão e conquista. Inicialmente, um elemento pivô é escolhido. Os elementos menores que o pivô são posicionados à sua esquerda e os elementos maiores que o pivô são posicionados à sua direita. Esse processo é repetido até que todos os elementos estejam ordenados.
Uma maneira de aumentar significativamente a eficiência do algoritmo é paralelizá-lo. Uma das versões paralelas do algoritmo Quicksort é o algoritmo Quickmerge (Michael J. Quinn, 1989). O Quickmerge é um algoritmo paralelo que faz uso de uma arquitetura de memória distribuída. Um sistema distribuído é um conjunto de unidades de processamento, também chamados de processos, ou nodos, os quais cooperam entre si para resolver um problema (Peter S. Pacheco, 2011, p.9). Em um sistema distribuído de memória, cada processo tem sua própria memória. Todos os processos devem se comunicar, enviando ou recebendo mensagens através da uma rede.
Um dos principais modelos de programação paralela para memória distribuída é o padrão MPI (Message Passing Interface), atualmente na sua versão 3.1 (MPI Forum, 2015). Não se conhece uma implementação do algoritmo Quickmerge em MPI. Além disso, tradicionalmente, o padrão MPI é conhecido por não lidar com falhas de processos. A falha de processo enquanto uma ordenação está ocorrendo leva à interrupção completa do algoritmo, ou seja, todo o processamento realizado é perdido.
O objetivo deste trabalho é apresentar uma implementação MPI do algoritmo Quickmerge e descrever os passos para realizar uma implementação tolerante a falhas. Para realizar a programação tolerante a falhas do Quickmerge será utilizado o padrão ULFM (User-Level Failure Mitigation) (Wesley Bland et al., 2013) proposta pelos padronizadores do MPI. A ULFM oferece um conjunto de funções de programação para recuperar a capacidade do MPI de continuar transportando suas mensagens após a ocorrência de falhas. São apresentados resultados preliminares que exibem o tempo de execução do Quickmerge ao ordenar um conjunto grande de números.
Este trabalho segue da seguinte forma. A seção 2 descreve o algoritmo Quickmerge. A seção 3 apresenta uma estratégia tolerante a falhas usando a biblioteca ULFM. A Seção 4 apresenta os resultados de tempo de execução. Por fim a conclusão é apresentada na Seção 5.
2. ALGORITMO QUICKMERGE A ordenação no algoritmo Quickmerge ocorre da forma descrita a seguir (Quadro 1). Os
processos, ou nodos, responsáveis pela ordenação são organizados de acordo com a topologia de um hipercubo virtual. O hipercubo é uma importante estrutura largamente utilizada, seja como topologia de interligação e comunicação de nodos ou para a execução de algoritmos paralelos (Parhami, 1999, p.466). Um hipercubo de dim dimensões consiste de uma rede com 2dim nodos numerados de 0 a 2dim — 1. Ou seja, um hipercubo de 3 dimensões possui os nodos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada nodo é identificado pelo código binário do seu identificador. Uma ligação entre dois nodos existe se os seus códigos diferem em um bit.
Inicialmente todos os processos recebem uma lista inicial com t / n elementos, onde t é igual ao tamanho da lista original e n é igual ao o número de processos. Todos os processos ordenam sua lista inicial utilizando o Quicksort sequencial (linha 3). Então, o processo 0 escolhe
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
84
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2dim — i elementos de sua lista inicial que serão utilizados como pivôs em todo algoritmo por todos os processos (linha 7). Após a escolha de pivôs, o processo 0 os distribui para todos os processos (linha 10). A ordenação ocorre em rodadas de ordenação (linhas 11 a 23). A cada rodada os processos ordenam localmente suas listas e trocam parte da lista entre si de acordo com um elemento pivô, explicado abaixo.
A troca de lista entre os processos ocorre aos pares, que são formados a cada rodada. Os pares de processos que trocam listas utilizam o mesmo pivô. Um novo pivô é escolhido a cada rodada (linha 13). Após a escolha do pivô, cada processo divide sua lista entre elementos maiores e elementos menores que o pivô. Todos os processos, em paralelo, enviam sua lista com elementos menores que o pivô e recebem a lista do parceiro com elementos maiores que o pivô caso seu rank for maior que o rank do parceiro (linhas 15 e 17). O procedimento é invertido caso o seu rank for menor que o rank do parceiro (linhas 18 e 20). Ao final de cada troca, as duas listas são reunidas em uma lista local ordenada utilizando o Quicksort sequencial (linha 22). Para um hipercubo de dim dimensões são necessárias dim rodadas de ordenação para concluir a classificação de todos os elementos. Ao final, um processo i, onde i < j, possuirá elementos menores ou iguais aos elementos do processo j.
A comunicação para a troca de lista entre os processos fundamenta-se no padrão Message Passing Interface (MPI). O MPI fornece um conjunto de bibliotecas que possibilitam a comunicação ponto a ponto e a comunicação coletiva entre os processos. A estrutura de dados que estabelece a comunicação entre os processos do grupo é o comunicador. Cada processo dentro de um grupo recebe um identificador, um número inteiro positivo, chamado rank. A implementação do algoritmo MPI pode ser encontrada em https://bitbucket. org/feelipeexavieer/auickmerge. git.
Quadro 1 - Pseudocódigo do algoritmo Quickmerge (processos executam os comandos em paralelo)
{dim - Dimensão do hipercubo}
{rank - Número que identifica o processo (0 até 2 a i m — 1)}
{n - Número de elementos por processo}
Ordena n elementos iniciais utilizando o Quicksort sequencial
Rd dim > 0 dmsãn
Rd rank > 0 dmsân
2dim — 1 O'q' i = 1 'sè
splitter [i] = a [ (i x n) / 2 ^ i m ]
Ehlo'q'
Ehlrd
O processo 0 distribui o vetor de pivôs, splitter, entre os processos
O'q' i = dim - 1 'sè 0
parceiro = rank WNQ 2^
. , , ,ndim ndim-1, ... ndim-1 index = rank @MC ( 2 — 2 ) NQ 2
Particiona-se a lista entre lista menor e lista maior que o splitter [index]
0
fi
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
85
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
15 Rd rank > parceiro dmsãn
16 Envia lista menor para o parceiro
17 Recebe lista maior do parceiro
18 Rdmân
19 Envia lista maior para o parceiro
20 Recebe lista menor do parceiro
21 Ehlrd
22 Reune as duas listas em uma única lista ordenada
23 Ehlo~ qa
24 Ehlrd
Fonte: Autoria própria (2018), adaptado de (Michael J. Quinn, 1989).
3. ESTRATÉGIA TOLERANTE A FALHAS A ULFM é a mais recente especif icação para padronizar a tolerância a falhas em MPI. A
ULFM oferece suporte para continuar as operações de trocas de mensagens do MPI após falha de algum processo. O objetivo não é uma estratégia de recuperação específica, mas permitir que o desenvolvedor escolha a técnica de tolerância a falhas que melhor se adeque ao programa. Para implementar a versão tolerante a falhas do algoritmo Quickmerge, será usado uma abordagem semelhante ao usado no trabalho (Camargo, 2016). Duas abordagens são possíveis. Na primeira, sempre que a falha de um processo é detectada, um novo processo é criado automat icamente . Na segunda abordagem, um processo do hipercubo assume a responsabilidade de executar as tarefas do processo que falhou. Em ambas as abordagens, cada processo salva sua lista ao final da rodada de ordenação, procedimento es se chamado de checkpointing. Dessa forma, os e l e m e n t o s ordenados pelo processo falho podem ser recuperados.
4. RESULTADOS Os resultados apresentados na Tabela 1 foram obtidos a partir da implementação em MPI
e m um notebook de uso pessoal. Importante informar que o notebook possui apenas 1 processador e, portanto, os t e s t e s serviram apenas para verificar a corretude da implementação. A Tabela 1 apresenta a quantidade de números ordenados por 2 e 4 processos MPI, respect ivamente. É apresentado o t e m p o de ordenação e m segundos . Como é possível perceber, os t e m p o de execução para 4 processos é superior à 2 processos, isso se deve a arquitetura do computador utilizado que acaba dividindo um único processador em 2 ou 4 processos. Os resultados devem ser diferentes quando executados em uma máquina multiprocessos/multicore.
Tabela 1 - Resultados preliminares
Quantidade de números 2 processos MPI 4 processos MPI 262144 0,694s 0,985s
524288 0,811s 1,321s 1048576 3,21s 3,5s
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
86
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Fonte: Autoria própria (2018). 5. CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou os esforços iniciais para obtenção de uma implementação MPI tolerante a falhas do algoritmo Quickmerge. São apresentadas o algoritmo implementado em MPI e as possíveis estratégias a serem empregada na sua versão tolerante a falhas. Importante frisar que não se conhece na literatura uma implementação MPI do algoritmo. Os próximos passos deste trabalho são a execução do algoritmo em um cluster, ou seja, uma máquina que possua vários processadores. A partir de então, o algoritmo poderá ser executado para ordenar uma sequência muito grande de elementos como, por exemplo, 1 bilhão de números inteiros. Na sequência, a implementação será adaptada para tolerar falhas de acordo com a especificação ULFM.
6. REFERÊNCIAS CAMARGO, E. T. ; DUARTE, E. P. . Uma Implementação MPI Tolerante a Falhas do Algoritmo Hyperquicksort. In: Workshop de Testes e Tolerância a Falhas, 2016, Salvador. Anais do WTF 2016 - Workshop de Testes e Tolerância a Falhas, 2016. Hoare, C. A. R. (1962). Quicksort. The Computer Journal, 5(4):10-15. Michael J. Quinn:Analysis and Benchmarking of Two Parallel Sorting Algorithms: Hyperquicksort and Quickmerge. BIT 29(2): 239-250 (1989). MPI Forum (2015). Document for a standard message-passing interface 3.1. Technical report, University of Tennessee, http://www.mpi-forum.org/docs/mpi-3.1. Pacheco, Peter S. An introduction to parallel programming. Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2011. Print. Parhami, B. (1999). Introduction to Parallel Processing: Algorithms and Architectures. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA. Tanenbaum, Andrew S., and Maarten Steen. Sistemas distribuídos. São Paulo: Pearson Educación, 2008. Print. Tenenbaum, Aaron M., Yedidyah Langsam, and Moshe Augenstein. Estruturas de dados usando C. São Paulo (SP: Pearson Makron Books, 1995. Print. Wesley Bland, Aurelien Bouteiller, Thomas Herault, George Bosilca, Jack J. Dongarra: Post-failure recovery of MPI communication capability: Design and rationale. IJHPCA 27(3): 244-254 (2013).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
87
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
FLAVIA SATIE NOGUTI [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil EDUARDO BITTENCOURT SYDNEY eduardosydney@utfpr .edu.br Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, Paraná, Brasil RENATO EISING renatoeis [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
Biossíntese de nanopartículas de prata através do fungo Aspergillus niger
RESUMO
O trabalho em questão propõe a biossíntese de nanopartículas de prata através do fungo Aspergillus niger, conhecido pela sua capacidade de promover a redução química de alguns metais como a prata de maneira natural e espontânea. O procedimento pode ser dividido em duas etapas: a etapa de obtenção das células do fungo e a etapa de biossíntese. A primeira consiste no crescimento do fungo em placas de petri, seguida pela separação dos esporos e crescimento da biomassa em meio líquido, resultando no filtrado de células. O filtrado de células é então usado para a segunda etapa, onde o mesmo é misturado à uma solução de nitrato de prata, a qual sofrerá o processo de redução química, resultando na nanopartícula de prata, caracterizada pela mudança de coloração na solução, de turva esbranquiçada para tons de amarelo a marrom. Para a caracterização do processo foi realizada a leitura por espectroscopia UV-vis, que confirmou a presença da banda de ressonância de plasmon de superfície. Todas as amostras apresentaram resultado positivo para a síntese de nanopartículas, tendo duas delas com absorbância maior no ponto de interesse: amostra NP32 e a amostra NP12. PALAVRAS-CHAVE: Biossíntese. Nanopartículas de prata. Aspergillus niger.
ABSTRACT This paper proposes the biosynthesis of silver nanoparticles through a fungi called Aspergillus niger, known for its capacity to naturally and spontaneously cause a chemical reduction of some metals like silver. The procedure can be divided in two phases: the obtention of the fungi cells and the biosynthesis. The first phase consists on the growth of the fungi in petri plates and separation of the spores followed by growth of the biomass in liquid media, resulting in a cell filtrate. The cell filtrate is then required for the second phase, in which the filtrate is merged with a solution of silver nitrate, the compost that will suffer the chemical reduction process, originating the silver nanoparticles, characterized by a change of the coloring in the solution, from a turbid white color to shades of yellow to brown. For the characterization of the process an UV-vis spectroscopy was made, and confirmed the presence of the superficial plasmon resonant peak. All the samples had a positive result for silver nanoparticle synthesis, with two of them being of our interest with a higher ratio of absorbance: samples NP32 and NP12. KEYWORDS:Biosynthes is . Silver nanoparticles. Aspergillus niger.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
88
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
1 I N T R O D U Ç Ã O
A nanotecnologia atrelada a outras áreas tecnológicas vem sendo amplamente explorada nos últimos tempos, principalmente quando combinada às áreas biológicas. As nanopartículas metálicas (M-NPs) sintetizadas por maneiras alternativas, como a biossíntese, vem sendo um domínio muito estudado por não precisarem de grandes investimentos no processo. Segundo DE MELO, G. B. (2015), por exemplo, "o uso da síntese verde não utiliza reagentes e solventes que possam provocar toxicidade tanto no produto da síntese quanto no resíduo do processo". De modo geral, as propriedades atribuídas às nanopartículas estão ligadas particularmente ao procedimento realizado para a síntese das mesmas, como afirma DOPAZO, P. J. (2017, p. 166-168), que sugere que "o processo de síntese confere às nanopartículas diferentes formas e tamanhos, resultando em diversas aplicações nas mais diferentes áreas tecnológicas". O trabalho em questão averigua a síntese de nanopartículas de prata mediada pelo fungo Aspergillus niger. O procedimento é simples, podendo ser dividido na etapa de obtenção das células do fungo e na biossíntese em si. A síntese ocorre de maneira extracelular, através da redução química do íon nitrato (NO3-) ao nitrito (NO2-) mediada pela enzima nitrato redutase, naturalmente presente no fungo.
2 M É T O D O S
O fungo foi primeiramente cultivado em meio sólido, utilizando o ágar batata dextrose (PDA, Himedia). A incubação foi realizada em estufa, por aproximadamente 7 dias à 27oC. A separação dos esporos foi realizada quando o fungo ocupou completamente a placa e apresentar esporos verde-escuros em sua superfície, como mostra a Figura 1.
Figura 1 - Crescimento total do fungo Aspergillus niger.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Para a separação dos esporos, a colônia foi inundada com aproximadamente 20 mL de soro fisiológico e 0,5 mL de Tween 20 em meio estéril. A solução obtida foi então filtrada com algodão previamente esterilizado para a obtenção da suspensão de esporos. Para este trabalho, a incubação da suspensão de esporos foi feita em duplicata para 1,5, 1,0 e 0,5 mL de esporos em Erlenmeyers com 100 mL de meio glucose-caseína hidrolisada (GC, Sigma-Aldrich) em shaker à 27oC e 150 rpm por aproximadamente 72 horas. Para a obtenção do filtrado de células deve ser observada a presença de biomassa nas amostras. Os
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
89
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
experimentos foram separados conforme a quantidade de esporos utilizados na produção da biomassa, sendo 1,5 mL de esporos equivalente a NP1, 1,0 mL de esporos a NP2 e 0,5 mL de esporos a NP3.
O filtrado de células é obtido através da peneiração da biomassa presente nas amostras e adição de 100 mL de água destilada previamente esterilizada incubados a 27oC por 48 horas. No presente trabalho, foi feita a média aritmética para os pesos de biomassa obtidos em NP1, NP2 e NP3, sendo o de NP1 equivalente a 7,8 g, NP2 a 8,65 g e NP3 a 8,72 g. Para a biossíntese, 50 mL de filtrado de células foram misturados com 10 mL de nitrato de prata (AgNO3) à concentração de 10 mM. As seis amostras foram então incubadas em um shaker à temperatura de 28oC por 24 horas, fora do alcance da luz para evitar a reação de redução fotoquímica da prata. Ao final da reação, conforme a Figura 3, as soluções tem coloração em tons de marrom.
Figura 3 - Soluções de nanopartículas.
Fonte: Elaborada pelo autor.
As soluções foram então purificadas por processo de centrifugação em tubos de falcon de 30 mL à 4000 rpm por um total de 40 minutos. O sobrenadante contendo as nanopartículas de prata é então separado e caracterizado por espectrometria de UV-vis entre 300 e 800 nm, sendo usada a água destilada como branco. As amostras analisadas foram separadas em NP11 e NP12 para NP1, NP21 e NP22 para NP2 e NP31 e NP32 para NP3.
3 R E S U L T A D O
Segundo VIGNESHWARAN et al. (2007) "espera-se que nanopartículas de prata esféricas apresentem um pico máximo de absorção em torno de 420 nm", o que pode ser observado em todas as amostras. O resultado, no entanto, se apresentou particularmente melhor em duas amostras, a NP32 e NP12, conforme apresentado na Figura 4.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
90
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 4 - Espectro UV-vis das AgNPs de maior absorbância NP32 e NP12.
350 400 450 500 550 600
Comprimento de onda (nm)
Fonte: Elaborada pelo autor.
4 D I S C U S S Ã O
As nanopartículas de metais nobres, tais como prata, ouro e platina, apresentam uma banda de ressonância de plasmon de superfícíe (SPR), a qual tem sua origem na interação com a radiação eletromagnética, a qual causa oscilações nos elétrons de condução, induzindo a formação de momentos de dipolo pelo carregamento da superfície, como consta na Figura 5. Uma força de restauração nas nanopartículas tenta compensar este efeito, resultando em um comprimento de onda ressonante único que aparece na região do espectro eletromagnético em torno dos 420 nm para nanopartículas esféricas.
Figura 5 - A - Em metais nobres a luz induz oscilações coletivas de elétrons (plasmons). B - A eficiência de espalhamento e o comprimento de onda de ressonância
são dependentes do tamanho e forma da partícula além da vizinhança da nanopartícula.
Fonte: Adaptado de TOSHIMA, 2003.
5 C O N S I D E R A Ç Õ E S FINAIS
Através dos resultados obtidos pode-se afirmar que a biossíntese de nanopartículas de prata através do fungo Aspergillus niger é possível e plausível de melhoramentos, como condições de síntese ótimas e relação de esporos/biomassa para melhor controle da síntese. Entre as
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
91
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
perspectivas para este trabalho estão o manuseamento de outros fungos, como Aspergillus flavus para o processo de biossíntese, análise de diferentes variáveis de cultivo, bem como outros métodos de caracterização, como análise por microscopia eletrônica de transmissão (TEM).
6 AGRADECIMENTOS
Os agradecimentos vão para a Fundação Araucária, PIBIC, pelo auxílio financeiro fornecido e à UTFPR-TD pela disponibilização de local, equipamento/materiais e reagentes.
7 REFERÊNCIAS
DE MELO, G. B. Síntese verde e caracterização de nanopartículas de prata usando extraro aquoso de erva mate (Ilexparaguariensis). 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2015.
VIGNESHWARAN, N.; ASHTAPUTRE, N. M.; VARADARAJAN, P. V.; NACHNANE, R.P.; PARALIKAR, K. M.; BALASUBRAMANYA, R. H. Biological Synthesis of silver nanoparticles using the fungus Aspergillus flavus, ELSEVIER, Materials Letters, 61, 1413-1418, 2007.
TOSHIMA, N. Metal Nanoparticles for Catalysis. In: LIZ-MARZÁN, M. L.; KAMAT, V. P. NANOSCALE MATERIALS. Estados Unidos: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 81-94.
MOHAREKAR, T. S. et al. EXPLOITATION OF ASPERGILLUS NIGER FOR SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES AND THEIR USE TO IMPROVE SHELF LIFE OF FRUITS AND TOXIC DYE DEGRADATION. International Journal of Innovative Pharmaceutical Sciences and Research, Índia, p. 2106-2118, set. 2014.
DOPAZO, P. J. Application of Nanomaterials in Nanomedicine, Dermatology and Cosmetics by Endor Nanotechnologies. In: ZIVIC, Fatima; DOPAZO, P. J.Supporting University Ventures in Nanotechnology, Biomaterials and Magnetic Sensing Applications. Espanha: Springer International Publishing AG 2018, 2017. p. 165-170.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
92
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Música e Matemát ica
1 RESUMO
J e f e r s o n d o s S a n t o s s j e f e r s o n s a n t o s 1 5 @ g m a i l . c o m Univers idade T e c n o l ó g i c a Federal d o Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
J a m e s J e i s o n Zimmermann james [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
Bruna d e Oliveira Ziviani [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
Bruna Zuleide da Silva L o p e s [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
Neste trabalho será apresentado um estudo da relação entre música e matemática, iniciando com os tipos e propriedades das ondas, sendo elas: ondas eletromagnéticas, que não precisam de meios materiais para existir, ondas de matéria, que estão associadas a átomos, moléculas e outras partículas elementares, e ondas mecânicas, que precisam de um meio material para existir. O estudo das ondas mecânicas, por hora denominadas ondas sonoras, é objeto de estudo desse trabalho. Vale ressaltar que existem ondas sonoras que possuem frequência fora da faixa de audição dos seres vivos, por isso é de suma importância destacar que ondas como a de um ultrassom, mesmo sendo ondas sonoras, não são perceptíveis aos seres humanos devido a sua alta frequência. Será construída neste trabalho, uma associação entre as ondas sonoras e as funções trigonométricas, sendo esse o seu principal objetivo, abordando para isso, desde conceitos físicos como o comportamento de ondas mecânicas no espaço, até o uso de softwares para a visualização gráfica das ondas sonoras e ondas senoidais, realizando assim um encadeamento entre as propriedades dessas ondas, como a amplitude e a frequência, com elementos fundamentais presentes nas funções seno e cosseno.
PALAVRAS-CHAVE: Música; Ondas sonoras; Matemática; Funções Trigonométricas.
ABSTRACT
This paper we will present a study of the relationship between music and mathematics, starting with the types and properties of waves, being: electromagnetic waves, which do not need material means to exist, waves of matter, which are associated with atoms, molecules and other elemental particles, and mechanical waves, which need a material means to exist. The study of mechanical waves, too called sound waves, is the objective this paper. It is worth noting that there are sound waves that have frequency outside the hearing range of living beings, so it is very important to note that waves like an ultrasound, even being sound waves, are not perceptible to humans due to their high frequency. It will be built in this work, an association between sound waves and trigonometric functions, which is its main objective, addressing for this, from physical concepts such as the behavior of mechanical waves in space, to the use of software for the graphic visualization of waves and sinusoidal waves, thus making a connection between the properties of these waves, such as amplitude and frequency, with fundamental elements present in the sine and cosine functions. Finally, from this study it was proposed the creation of a didactic sequence in the form of a lesson plan that can be used in the teaching of trigonometric functions in basic education.
KEYWORDS: M u s i c ; S o u n d W a v e s ; M a t h e m a t i c s ; T r i g o n o m e t r i c F u n c t i o n s .
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
93
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2 A Física do som Tipos de ondas As ondas podem ser classificadas em três tipos principais, são elas: Ondas eletromagnéticas: são ondas que não precisam de meios materiais para existir,
elas se propagam no vácuo a velocidade de c = 2 9 9 . 7 9 2 . 4 5 8 m / s . Um exemplo desse tipo de onda é a luz das estrelas, que se propaga mesmo no vácuo, ou até mesmo qualquer luz, outros exemplos são as ondas de rádio, micro-ondas, raios X, raios gamma, etc.
Ondas de matéria: são ondas que estão associadas a átomos, moléculas, prótons e a outras partículas elementares.
Ondas mecânicas: são ondas que obedecem às leis de Newton e não se propagam por meios não materiais, por exemplo, as ondas sonoras, que serão abordadas no presente trabalho, porém, antes será entendido melhor o funcionamento das ondas mecânicas de modo geral.
Ondas Mecânicas Quando se fala, se bate em algum objeto ou é tocado algum instrumento musical, a
vibração provocada no objeto físico em questão causa uma perturbação no ar a sua volta, que se propaga em todas as direções. Entretanto é importante ser ressaltado que nenhuma partícula de ar é deslocada pelo efeito sonoro, mas sim a vibração, que é transportada de partícula para partícula de ar para qualquer direção do espaço, por esse motivo, essas ondas necessitam de um meio material para sua propagação. Ondas sonoras são classificadas como sendo ondas mecânicas. Para que uma onda mecânica exista, é necessário que ela apresente mais duas propriedades: uma densidade linear e uma força de tração que una as unidades de massa.
Ondas Sonoras Existem dois tipos de ondas mecânicas: as ondas transversais, quando a direção de
vibração das partículas do meio é perpendicular a direção de propagação da onda; e as ondas longitudinais, quando a direção de vibração é a mesma da propagação. Para este trabalho, ondas sonoras serão definidas como ondas longitudinais, ou seja, ondas em que a oscilação ocorre na direção de propagação das mesmas. Uma onda sonora pode ser entendida ainda como sendo os níveis de alta e baixa pressão no espaço em cada instante de tempo no intervalo referente à sua propagação.
Um equívoco que pode ocorrer é o de definir ondas sonoras como sendo apenas as ondas que podem ser ouvidas pelos seres vivos. Vale ressaltar que, pela definição que foi dada acima, existem ondas sonoras que não são perceptíveis aos ouvidos, por exemplo, ondas de um ultrassom não possuem frequências dentro da nossa faixa de audição.
A imagem abaixo mostra o deslocamento de uma onda sonora no ar.
Figura 1 - Representação do deslocamento das Ondas Sonoras no ar
b) ^
Fonte: Adriano Gomes Santana (2016).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
94
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
A imagem a) mostra as partículas no espaço antes da perturbação inicial, na imagem b) existe a primeira vibração causada pelo efeito sonoro, nela as partículas são levemente forçadas para frente devido ao efeito de vibração, entretanto, note que na imagem c) as partículas que foram forçadas pela vibração da onda retornam para o ponto inicial e, logo atrás da onda sonora existe uma região de rarefação do ar. Dessa forma na imagem d) temos a representação do espaço com a perturbação sonora constante, no qual, existe regiões de concentração e de rarefação de partículas. Em suma, as partículas vibram de um lado para o outro e depois retornam para a posição inicial.
Um efeito interessante ocorre quando duas ondas se chocam. Diferentemente dos objetos, o comportamento de ambas continuam o mesmo, entretanto, o meio físico reconhece à soma ou a diferença da perturbação de ambas as ondas. Desta forma, a colisão de duas ondas é entendida como a seguinte sobreposição, no qual, y 1 e y 2 representam o deslocamento de duas ondas sonoras no ar.
Figura 2 - Sobreposição de ondas Sonoras
VÍ y-i
a) to+Vi
Fonte: Adriano Gomes Santana (2016). Como foi dito anteriormente, ondas mecânicas possuem níveis de alta e baixa pressão,
quando uma onda de alta pressão se sobrepõe no mesmo instante a uma onda de baixa pressão e ambas causam perturbações iguais, essas perturbações se anulam.
3 Música e Matemática
Amplitude, frequência, período e fase de uma onda O som produzido por um instrumento musical nada mais é que uma sequência ordenada
de pulsos que ocorrem em períodos regulares. Como as funções seno e cosseno possuem comportamentos semelhantes, usam-se tais funções para representar o comportamento de uma onda sonora em um ponto do espaço com relação ao tempo.
As notas puras, sem sobreposição de outros sons, são representadas por ondas do tipo senoidal, isto é, repetem-se num certo intervalo de tempo. Por isso é possível analisá-las graficamente, sendo o tempo (t) a variável independente e a pressão (y) a variável dependente. Pode-se descrever uma onda de pressão senoidal da seguinte forma:
y = f ( t ) = A * sen(f * 2 n *t + c)
Onde "A" refere-se à amplitude do som, que é responsável pela intensidade do som e é causada pela pressão do ar, quanto maior a pressão exercida maior a amplitude. Analogamente é possível comparar com uma conversa, quanto mais longe a pessoa estiver, mais alto vai precisar falar, aumentando assim a pressão do ar exercida.
Graficamente, a amplitude é um multiplicador simples que escala os valores máximos e mínimos que a curva pode tomar. A curva senoidal normal tem equação y = sen x, com amplitude 1, ou seja a curva varia entre 1 e - 1 .
Assim, pode-se afirmar que a amplitude esta relacionada com a imagem da função.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
95
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
Também é possível dizer que a freqüência da nota esta relacionada com o período da função, pois frequência é o número de vezes que a partícula completa seu movimento vibratório e volta ao seu estado inicial em uma determinada unidade de tempo. A unidade de frequência mais utilizada é Hertz ( H z ) . Hertz é a unidade de frequência no sistema internacional de unidades equivalente à frequência de um fenômeno periódico cujo período tem a duração de um segundo, ou seja, é o numero de oscilações no intervalo de tempo de 1 segundo.
Chama-se de período o tempo necessário para 1 oscilação, uma das relações que se
pode ter no estudo das ondas sonoras é f = ^ , sendo f = frequência e p = período. Ao multiplicar a frequência pelo período da função sen x, ou seja, (f * 2 n ) , o valor da
frequência será o número de oscilações da onda num intervalo de tempo de 1 segundo. Analisando o gráfico da onda abaixo, é possível notar que a frequência é de 4 Hz pois num intervalo de 1s a onda oscilou 4 vezes.
Sendo b = f * 2n pode-se reescrever como f ( t ) = A * sen(bt + c). Onde "c" representa a fase. Graficamente é o deslocamento da função no eixo das
abscissas. Observe:
Figura 4 - Fase
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
96
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
A função destacada na cor roxa representa s e n ( x + ^) , enquanto a função verde representa a função s e n x.
Timbre Na música e no estudo dos sons, existe também o timbre. O timbre é a característica
peculiar de cada som. Até agora o som foi apresentado apenas na forma parecida com funções seno e cosseno, porém o som na realidade não é aquele conjunto de oscilações ondulares, que visivelmente parecem mais agradáveis e tranquilas. Observe as seguintes figuras:
Figura 5 - Nota Mi violão
A ^ - A / A r i „ „ / A A . / v w v •A^J V W v '•yv.j
Fonte: Os autores (2018).
Figura 6 - Nota Mi violão com voz
Através do software "Audacity"foi gravado a nota Mi (329Hz), esse programa dispõem de uma ferramenta que possibilita enxergar o gráfico da nota. Na figura 5 podemos notar uma repetição das oscilações, observe que a parte destacada em azul mais claro define 1 oscilação. Baseado no que foi visto anteriormente podemos dizer o período dessa nota num intervalo de tempo de 1s é aproximadamente 0 ,003039 . Pois a f = -
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
97
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
A figura 6 representa a soma da onda da nota Mi do violão com a voz. Apesar da soma de ondas estar mais ligadas ao dia-a-dia, não será aprofundado nesse trabalho, pois se trata de um estudo mais complexo.
Nessas imagens é possível notar que existe repetição, porém, não são oscilações vistas frequentemente nas funções trigonométricas. Isso ocorre por que cada onda sonora apresenta um formato característico, que depende do material que produziu o som. Isso é o que define o timbre do som. Timbre é o que diferencia dois sons de mesma frequência (mesma nota). Por exemplo, a nota Dó tocada no violão tem um som muito diferente da nota Dó tocada no teclado ou na flauta. Isso significa que esses instrumentos possuem timbres diferentes.
4 REFERÊNCIAS
CHANG, P. Aplicação das Séries de Fourrier c o m o análise acústica de instrumentos musicais. 2016. 56 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Matemática, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2016. LAZZARINI, V. Elementos de Acústica. Londrina: Uel, 1998. 47 f. Disponível em: <http:/ /www.fisica.net/ondulatoria/elementos de acustica.pdf>. Acesso em: 25 maio 2018. HALLIDAY, D.; WALKER, J.; RESNICK, R. Fundamentos de Física 2: Gravitação, Ondas, Termodinâmica. 9. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen-LTC, 2012. QUINELATO, A. L.; et al. UTFPR Toledo 10 anos: Crescimento em pesquisa, ensino e extensão. Toledo: DRHS, 2016.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
98
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Obtenção de diagramas de fases ternários do Sistema r
Agua/Isopropanol/Dicloro-metano para a preparação de Partículas Poliméricas
1 RESUMO Latoya Cres lem Batista Rusche l [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil. Rafael Admar Bini
[email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
Os sistemas coloidais, tais como emulsão micro/nanoemulsão, vem sendo objetivo de estudo devido sua grande aplicação, principalmente em controle de liberação de fármacos. Esses sistemas são formados por metodologia simples e reprodutível. O atual estudo buscou testar diferentes composições de água/álcool na presença de tensoativo tween 80. A partir das diferentes composições foi possível projetar diagramas de fase, pelo método da titulação com Diclorometano. A construção do diagrama de fases comprovou-se o que havia sido mostrado visualmente quanto o aspecto, cor e miscibilidade, além de comparar os resultados das caracterizações como temperatura, tensão interfacial e viscosidade. O estudo mostrou-se eficiente uma vez que o diagrama de fases mostrou com clareza várias regiões, inclusive as de emulsão, facilitando a escolha da melhor composição. Os resultados quanto a caracterização ressaltou as composições que apresentaram maior estabilidade cinética, podendo essas serem utilizadas futuramente na incorporação de fármacos.
PALAVRAS-CHAVE: Sistemas Coloidais. Diagrama de fases. Partículas Poliméricas.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
99
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
INTRODUÇÃO
Os s istemas transportadores de fármacos funcionam c o m o compart imentos de substâncias ativas, direcionadores para o tecido-alvo, e controlam a velocidade de liberação sem alterar a estrutura química das moléculas (OLIVEIRA, et al., 2004). Em relação a esses , os s is temas emuls ionados vêm sendo es tudados afim de incorporar fármacos.
As microemulsões (ME) são s is temas considerados termodinamicamente estáveis, transparentes e opt icamente isotrópicos, compos tos de uma mistura de lipídios, água, tensioativo e co-tensioativo (LOPES, 2014). Esses s istemas possuem várias características únicas, como, facilidade de preparação, viscosidade adequada e capacidade de solubilizar fármacos (DAMASCENO, et al., 2011). Essas características possibilita uma alteração na biodisponibilidade e na diminuição da toxicidade dos fármacos (GUPTA, MOULIK, 2008). As ME diferem das e m u l s õ e s tradicionais devido alguns fatores. As emul sões apresentam aspecto leitoso e turvo, possuem estabilidade cinética e não são termodinamicamente estáveis (NESAMONY, et al., 2013). Já as ME possuem aspecto transparente e translúcido, apresentam gotículas com diâmetros menores , são mais estáveis termodinamicamente (RUCKESTEIN, CHI, 1975). A relação entre a composição, o aspecto e o número de fases apresentadas por determinada emulsão pode ser capturada com ajuda de um diagrama de fases (LAWREWNCE, REES, 2000). Os diagramas são construídos em duas d imensões a partir de dados obtidos por titulação, possibilitando a análise de um grande número de preparações de forma rápida, indicando as proporções adequadas para a realização das misturas (DAMASCENO, et al., 2011). Os s istemas coloidais podem ser obtidos pelo m é t o d o da nanoprecipitação. O m é t o d o baseia-se na emulsif icação espontânea, no qual o polímero precipita a partir de uma solução orgânica e a difusão do solvente orgânico no meio aquoso (RODRIGUEZ, et al., 2004).
O presente resumo tem c o m o objetivo geral desenvolver e caracterizar o sistema Água/Isopropanol/Dicloro-metano para preparar partículas poliméricas de poli(hidroxibutirato). E ainda, possui c o m o objetivos específ icos avaliar a partir do diagrama de fases as e m u l s õ e s com e sem tensoativo. Além de caracterizar os s istemas obtidos, contemplando as seguintes análises: Tensão interfacial, viscosidade e temperatura.
METODOLOGIA
Foram preparadas 12 so luções com diferentes proporções e composição, as quais 6 es tão apresentadas na Tabela I, e as demais com as mesmas proporções, no entanto na ausência de Tween 80.
Tabela I- Fórmula geral das microemulsões preparadas
Amostra Água
deionizada (%) Isopropanol
(%) Tween 80 (%)
Dicloro-metano (M-D
A 0 100 1 -
B 20 80 1 -
C 40 60 1 850
D 60 40 1 100
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
100
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
E 80 20 1 100
F 100 0 1 750
Fonte: Autor
Para a construção dos diagramas de fases foi necessária a realização de uma titulação com Dicloro-metano, adicionando gota a gota, com auxílio de uma seringa micro volumétrica, e m temperatura ambiente. Durante a titulação a mistura foi homogeneizada em um agitador magnético. A agitação e a titulação foram mantidas até a mistura alcançar a turbidez. Considerando as proporções dos componentes , após as t itulações plotou-se os pontos em que se deu a transição dos s is temas transparentes para sistema opaco, ou seja, a transição de ME para emulsão, ou apenas uma solução transparente. Os diagramas foram plotados utilizando o Software Spyder (Scientific Python Development Environment) As amostras passaram por análises para garantir a estabilidade, como: Análise organoléptica, avaliação da temperatura, avaliação da viscosidade, e t ensão interfacial. A análise organoléptica baseou-se em uma avaliação visual da cor e da homogene idade , para garantir que não houve problemas durante a preparação das ME, além de facilitar na escolha da melhor composição. A temperatura foi analisada com ajuda de um termômetro digital, a fim de analisar a estabilidade das preparações. A viscosidade das amostras foi determinada por um viscosímetro SV-10 A&D Company- Japan. E as medidas de t ensão interfacial foram determinadas por um tens iômetro OCA-10 Dataphysics Instruments GmbH- German, via m é t o d o da gota pendente . Um pré-teste foi realizado utilizando a solução E para a preparação de partículas poliméricas de PHB.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sistemas obtidos a partir de diagramas ternários e s tão apresentados na figura I. A figura I mostra que a emulsão se encontra na parte superior do diagrama. A grande área de emulsão no diagrama é de suma importância pois é possível escolher diferentes compos ições a serem estudadas.
Figura I - Diagrama de fases ternário
Semterisoativo Comtensoativo
Fonte: Autor Os dados obtidos a partir da caracterização das so luções investigadas antes da titulação
está representado na tabela II.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
101
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Tabela II- Caracterização d a s s o l u ç õ e s
Amostra Composição inicial água/ álcool (%m)
Tensão Interfacial (mN.m-1)
Viscosidade (cP)
Temperatura (°C)
Região no diagrama
A 100/0 49,54 0,89 25,5 Imiscível
B 8 0 / 2 0 38,40 1,77 25,2 Imiscível
C 60 /40 27,50 2,22 25,6 Miscível
D 4 0 / 6 0 26,16 2,20 25,7 Miscível
E 20 /80 27,17 2,09 25,5 Miscível
F 0 / 1 0 0 23,96 2,00 25,3 Miscível
Fonte: Autor A temperatura é um fator importante a se avaliar durante o processo, pois o aumento da
temperatura causa alterações nas possíveis interação entre o tensoativo e a fase aquosa (SHINODA, FRIBERG, 1986). As formulações foram preparadas a temperatura ambiente e conforme a tabela II, observa-se que não houve variações significativas. Observa-se que as amostras C e D, foram as quais obtiveram um maior valor de viscosidade. As emulsões com tamanho de partículas muito disperso, onde tem sua distribuição mais homogênea apresenta um valor de viscosidade maior. Este comportamento é atribuído à redução do tamanho das partículas resultando em um aumento da área interfacial, maior interação entre as gotas e consequentemente maior estabilidade (ROSEN, 2012). Quando um co-tensioativo é adicionado ao sistema, esse é adsorvido na interface espontaneamente, provocando a redução da tensão interfacial. (ADAMSON, 1982). Com base nisso, verifica-se pela tabela II que quanto maior a concentração de co-tensioativo (Isopropanol), menor a tensão interfacial do sistema, resultando em emulsões mais estáveis (OPAWALE, BURGESS, 1998). A figura II mostra imagens de partículas poliméricas de PHB obtidas por microscopia eletrônica de varredura preparadas a partir da solução E. Pode-se observar que não houve uma correta precipitação do polímero devido ao excesso de concentração na solução de diclorometano.
Figura II - Microscopia eletrônica das partículas poliméricas
Fonte: Autor
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
102
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
PERSPECTIVAS FUTURAS
A razão entre a concentração do polímero e do solvente é importante para obter as melhores condições para a preparação de partículas poliméricas. Assim, como perspectivas futuras, pretende-se analisar como a concentração de polímero influencia o tamanho das partículas. Também, os regimes de micro e nanoemulsão serão investigados juntamente com a o regime de nanoprecipitação.
CONCLUSÃO
A técnica empregada para a construção dos diagramas de fase é simples, reprodutível e de grande utilidade, uma vez que mostra om clareza as várias regiões do diagrama, facilitando na escolha das proporções dos componentes . Verificou-se ainda que somente a utilização de tensioativo Tween 80 não foi o suficiente, necessitando também de um co-tensioativo, pois, altas concentrações desse causou uma redução na tensão interfacial, o que acarreta ao sistema uma maior estabilidade. Ademais, a temperatura dos sistemas se manteve estável. E os valores da viscosidade permitiu garantir que as amostras C e D possuem maior estabilidade que as demais. Sistemas coloidais são sistemas vantajosos por apresentarem boa estabilidade em relação a agregação ou separação de gotículas, fácil reprodutibilidade e custos razoavelmente baixo. Além disso, podem ser utilizadas como veículo de substâncias ativas, já que aumenta a biodisponibilidade dessas. Testes iniciais mostraram que a solução testada pode preparara partículas na escala nanométrica, entretanto, uma melhor investigação das variáveis torna-se necessária.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao Professor Luís Fernando Cóttica e a estudante de doutorado Raquel D. Bini da Universidade Estadual de Maringá pelas análises de microscopia eletrônica de varredura.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OLIVEIRA, A.G.; SCARPA, M.V.; CORREA, M.A.; CREA, L.F.R.; FORMARIZ, T.P.
M i c r o e m u l s õ e s : estrutura e ap l i cações c o m o s i s t ema d e l iberação d e fármacos . Química
N o v a , v . 2 7 , n.1 , p. 1 3 1 - 1 3 8 , 2 0 0 4 .
LOPES, L.B. Overcoming t h e c u t a n e o u s barrier with microemuls ions .
Pharmaceut ics , v .6 , n .1 , p. 5 2 - 7 7 , 2 0 1 4 . Disponíve l e m :
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
103
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
h t t p s : / / w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s / P M C 3 9 7 8 5 2 5 / p d f / p h a r m a c e u t i c s - 0 6 -
0 0 0 5 2 . p d f . A c e s s a d o e m : 0 8 d e A g o s t o d e 2 0 1 8 .
DAMASCENO, B.P.G.L.; SILVA J.A.; OLIVEIRA, E.E.; SILVEIRA, W.L.L.; ARAÚJO, I.B.; OLIVEIRA, A.G.; EGITO, E.S.T. Microemulsão: um promissor carreador para moléculas insolúveis. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v.32, n. 1, p. 9-18, 2011. Disponível em: https:/ /repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/72501/2-s2.0-79959509620.pdf?sequence=1. Acessado em: 08 de Agosto de 2018.
GALINDO, R.S.; ALLEMAN, E.; FESSI, H.; DOELKER, E. Physicochemical parameters associated with nanoparticle formation in the salting-out, emulsification-diffusion and nanoprecipitation methods. Pharma, v.21, n.8, p.1428-1439, 2004.
GUPTA, S.; MPULIK, S.P. Biocompatible microemulsions and their prospective uses in drug delivery. Journal of Pharmaceutical Science, v.97, n.1, p. 22-45, 2008. Disponível em: https://jpharmsci.org/article/S0022-3549(16)32444-3/fulltext. Acessado em: 08 de Agosto de 2018.
NESAMONY, J.; ZACHAR, C.L.; JUNG, R.; WILLIAMS, F.E.; NAULI, S. Preparation, characterization, strility, validation, and in vitro cell toxicity studies of microemulsions possessing potential parenteral applications. Drug Development and Industrial Pharmacy, v.39, n. 2, p. 240-251, 2013.
RUCKESTEIN, E.; CHI, J.C. Stabiliy of microemulsions. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2: Molecular and Chemical Physics, v.71, p. 1690-1707, 1975. Disponível em: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1975/f2/f29757101690#!divAbstract. Acessado em: 08 de Agosto de 2018.
LAWRENCE, M.J.; REES, G.D. Microemulsion-based media as novel drug delivery systems. Advanced Drug Deivery Reviews, v.45, p.89-121, 2000)
SHINODA, K.; FRIBERG, S.E. Factors affecting the phase inversion temperature in emulsion.
Emulsions and Solubization, p. 96-123, New York, 1986.
ROSEN, M.J. Surfactants and interfacial phenomena. London, 2012.
ADAMSON, A.W. Physical chemistry of surfaces. Jhon Willey and Sons, v.4, p.777, 1982.
OPAWALE, F.O.; BURGESS, D.J. Influence of interfacial rheological properties of mixed films on the stability of water-in-oil-in-water emulsinons. Journal of Pharmacology, v.50, p. 965-973, Chicago, 1998.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
104
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Uma i m p l e m e n t a ç ã o MPI to lerante a falhas d o algori tmo paralelo Bitonic Mergesort
1 RESUMO
Lucca Gabrel Mauli d o s S a n t o s [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil E d s o n Tavares de Camargo [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
Algoritmos paralelos são conhecidos por realizarem uma tarefa em menor tempo de execução quando comparados com a sua versão sequencial. Geralmente, o problema inicial é dividido entre um conjunto de unidades de computação, ou processos, que se comunicam entre si a fim de resolver o problema. Entre os algoritmos de ordenação paralela, destaca-se o Bitonic Mergesort. O Bitonic Mergesort ordena uma sequência bitônica de números fazendo uso das propriedades de um hipercubo virtual. Este trabalho apresenta os esforços iniciais para implementar uma versão tolerante a falhas do algoritmo Bitonic Mergesort usando o padrão de memória distribuída MPI. O MPI é o principal padrão para o desenvolvimento de aplicações paralelas e distribuídas baseadas no paradigma de troca de mensagens. Não se conhece uma implementação MPI do algoritimo Bitonic Mergesort Além disso, o padrão MPI não é capaz de tolerar falhas de processos. Resultados preliminares demonstram que o algoritmo implementado ordena de forma eficaz qualquer sequência de números ao transformá-la em uma sequência bitônica. São também apresentadas possíveis estratégias para transformar a implementação realizada em uma versão tolerante a falhas através da proposta de tolerância a falhas User-Level Failure Mitigation (ULFM) proposta recentemente pela organização padronizadora do MPI.
PALAVRAS-CHAVE: Bitonic Mergesort. Tolerância a falhas. MPI,
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
105
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
1 INTRODUÇÃO
Um sistema de computação paralela e distribuída consiste em uma coleção de elementos de computação (processadores), geralmente do mesmo tipo, interconectados de acordo com uma topologia para permitir a coordenação de suas atividades e a troca de dados (Parhami, 1999). Algoritmos paralelos fazem uso dos sistemas de computação paralela e distribuída para solucionar um problema em menor tempo computacional quando comparados com a versão sequencial do algoritmo. Nesse contexto estão os algoritmos paralelos de ordenação. A ordenação é uma das operações fundamentais em computação (Chen; Chung, 2001). Algoritmos paralelos de ordenação são utilizados, por exemplo, em processamento de imagens, geometria computacional e teoria dos grafos.
O Bitonic Mergesort (Wagar, 1987) é um algoritmo paralelo de ordenação que combina a topologia e as características de um hipercubo com a estratégia de ordenação sequencial bitônica. O hipercubo é uma estrutura largamente utilizada como topologia de interligação e comunicação e para a execução de algoritmos paralelos e distribuídos (Parhami, 1999). A ordenação bitônica, basicamente, consiste em ordenar uma sequência bitônica. Uma sequencia bitônica é uma sequência monotonicamente crescente seguida de uma monotonicamente decrescente (ou uma rotação cíclica dessa sequência).
O MPI (Message-Passing Interface) é o principal padrão para o desenvolvimento de aplicações paralelas e distribuídas (Fagg; Dongarra, 2000). O padrão assume que a infraestrutura subjacente é confiável (MPI, 2015). Dessa forma, o MPI não define o comportamento que as implementações devem adotar perante falhas (Bland et al., 2013). Recentemente, a especificação ULFM (User-Level Failure Mitigation) foi apresentada pelos padronizadores do MPI com o objetivo de permitir às implementações MPI tolerarem falhas. A ULFM oferece um conjunto mínimo de interfaces para recuperar a capacidade do MPI de continuar transportando suas mensagens após uma falha. No entanto, a responsabilidade de elaborar a estratégia de tolerância a falhas a ser utilizada é do desenvolvedor da aplicação.
O objetivo deste trabalho é apresentar os esforços iniciais para obter uma implementação MPI tolerante a falhas do algoritmo Bitonic MergeSort. A implementação MPI do Bitonic Mergesort foi executada em um computador de uso pessoal para ordenar 220 números inteiros. Resultados da execução do algoritmo com até 8 processos são reportados. São também apresentadas as possíveis estratégias a serem empregadas para transformar a implementação realizada em uma versão capaz de tolerar falhas de processos durante a execução do algoritmo.
Este artigo segue organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta o algoritmo Bitonic Mergesort e a sua implementação MPI. A Seção 3 descrever a especificação ULFM e a estratégia para implementar uma versão tolerante a falhas. A Seção 4 apresenta os resultados da execução da implementação MPI. Por fim a Seção 5 apresenta a conclusão.
2 ALGORITMO BITONIC MERGESORT
O método de operação do Bitonic Mergesort baseia-se na ordenação de uma sequência bitônica em uma sequência ordenada. Uma sequência (s0, s1, ..., sn - 1) e chamada de bitônica se existir um index j, 0 < j < n, de tal modo que (s1, s2, ..., sj) seja monotonicamente crescente e (sj + 1, sj + 2, ..., sn - 1) seja mononicamente decrescente ou exista uma rotação cíclica que satisfaça. Por exemplo, s1 = (2, 3, 6, 8, 7, 5, 4, 1) é uma sequência bitônica para j = 3, formada pela sequência monotonicamente crescente {2, 3, 6, 8} e pela monotonicamente decrescente {7, 5,
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
106
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
4, 1}. Como (6, 8, 7, 5, 4, 1, 2, 3) é uma rotação cíclica da sequência original, também e bitônica. Qualquer subsequência de uma sequência bitônica também é considerada bitônica.
O Bitonic Mergesort considera que os processos, ou nodos, responsáveis pela ordenação são organizados de acordo com a topologia de um hipercubo virtual. Um hipercubo de dim-dimensões consiste de uma rede com 2dim nodos numerados de 0 a 2dim - 1. Ou seja, um hipercubo de 3 dimensões possui os nodos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada nodo é identificado pelo código binário do seu identificador. Uma ligação entre dois nodos existe se os seus códigos diferem em um bit.
O algoritmo foi implementado em MPI da forma descrita a seguir. Inicialmente, o processo 0 lê os valores de um arquivo de entrada e distribui os números uniformemente entre os demais processos, ou seja, cada processo possui uma lista de números de mesmo tamanho. A parte de então a função ParallelBitonicMergeSort é chamada (Quadro 1).
Quadro 1 - Função ParallelBitonicMergeSort
1 void OqkkdkAhsnmhbLdqfdRnqs (int *LocalList, int Size, int Rank, int Process, MPI_Comm Comm){
2 int *Temp, Dim, Partner, Round, Bit;
3 Temp = (int *) malloc(Size * sizeof(int));
4 Dim = (int )(log(Process) / log(2));
5 Bit = 1 << (Dim - 1) ;
6
7 enq (int i = 0; i < Dim; i++) {
8 Partner = Bit " Rank;
9 LOHRdmcqdbu (LocalList, Size, MPI_INT, Partner, 0, Temp, Size, MPI_INT, Partner, ...);
10 he(Rank < Partner) {
11 for (int j = 0; j < Size; j++){
12 if(LocalList[j] > Temp[j])
13 SwapParallel(LocalList, Temp, j);
14 }
15 }dkrd{
16 for (int j = 0; j < Size; j++){
17 if(LocalList[j] < Temp[j]){
18 SwapParallel(LocalList, Temp, j);
19 }
20 }
21 }
22 Bit >>= 1;
23 }
24 free (Temp);
25 AhsnmhbLdqfd (LocalList, 0, Size);
26 }
Fonte: Autoria própria
No início, a função calcula a dimensão do hipercubo (Dim) (linha 4). A variável Bit (linha 5) é usada para definir os parceiros em cada rodada, e cria-se uma lista temporária para armazenar os valores recebidos do parceiro (Temp). No início do laço for (linha 8) ,utiliza-se o operador binário OU exclusivo (XOR) com o Rank (rank é o identificador do processo) e a variável Bit para encontrar o parceiro da rodada. A parte de então cada processo envia/recebe a lista para/do parceiro. As linhas 10 e 14 fazem comparações entre os índices de cada lista. Por exemplo, o índice 0 da primeira lista é comprado com o índice 0 da segunda lista e assim por diante até o tamanho total da lista. Se o Rank do processo for menor que o rank do parceiro (Partner), o processo vai manter as menores chaves, caso contrário, irá manter as maiores chaves (linhas 13 e 18, respectivamente). No final da rodada a variável Bit é deslocada um bit para a direita (linha 22). Depois de Dim rodadas os menores valores estão no processo zero, os valores do processo um serão maiores que no zero, e menores que o processo dois, e assim sucessivamente com os
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
107
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
maiores valores no processo Process -1. Após isso somente resta ordenar localmente a LocaiList (linha 25). A implementação completa do algoritmo pode ser encontrada no seguinte link: <https://bitbucket.org/WorstOne/parallel-bitonic-mergesort/src/master/>.
3 ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO TOLERANTE A FALHAS
Para implementar a versão tolerante a falhas, será usado uma abordagem semelhante a usada no trabalho (Edson, 2016). Duas abordagens são possíveis, ambas baseadas na especificação ULFM. Na primeira sempre que a falha de um processo é detectada, um novo processo é criado. Na segunda abordagem, um processo do hipercubo assume a responsabilidade de executar as tarefas do processo que falhou. Em ambas abordagens, cada processo salva sua lista ao final da rodada de ordenação em um diretório compartilhado entre todos os processos, ação essa chamada de checkpointing. Dessa forma, os números ordenados pelo processo falho podem ser recuperados. A estratégia a ser usada no Bitonic Mergesort difere do trabalho de (Edson, 2016) devido a dinâmica usada pelo algoritmo sequencial adotado em ambos.
4 RESULTADOS
Os resultados apresentados na Tabela 1 foram obtidos a partir da implementação em MPI em um notebook de uso pessoal. Importante informar que o notebook possui apenas 1 processador e, portanto, os testes serviram apenas para verificar a corretude da implementação. A Tabela 1 apresenta a quantidade de números ordenados por 2, 4 e 8 processos MPI, respectivamente. São apresentados o tempo de ordenação em segundos. Como é possível perceber, os tempo de execução para 8 processo é superior à 4 processos, que é superior à 2 processos. Isso se deve a arquitetura do computador utilizado que acaba dividindo um único processador em 2, 4 e 8 processos. Os resultados devem ser diferentes quando executados em uma máquina multiprocessos/multicore.
Tabela 1 - Resultados preliminares Quantidade de números 2 processos MPI 4 processos MPI 8 processos MPI
1 048 576 1,30s 2,18s 4,38s
5 CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou os esforços iniciais para obtenção de uma implementação MPI tolerante a falhas do algoritmo Bitonic Mergesort. São apresentadas o algoritmo implementado em MPI e as possíveis estratégias a serem empregada na sua versão tolerante a falhas. Importante frisar que não se conhece na literatura uma implementação MPI do algoritmo. Os próximos passos deste trabalho são a execução do algoritmo em um ciuster, ou seja, uma máquina que possua vários processadores. A partir de então, o algoritmo poderá ser executado
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
108
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
para ordenar uma sequência muito grande de números como, por exemplo, 1 bilhão de números inteiros. Na sequência, a implementação será adaptada para tolerar falhas de acordo com a especificação ULFM.
6 REFERÊNCIAS
CAMARGO, E. T. ; DUARTE, E. P. . Uma Implementação MPI Tolerante a Falhas do Algoritmo Hyperquicksort. In: Workshop de Testes e Tolerância a Falhas, 2016, Salvador. Anais do WTF 2016
Bland, W.; Bosilca, G.; Bouteiller, A.; Herault, T.; and Dongarra, J. (2012a). A proposal or user-level failure mitigation in the mpi-3 standard. Technical report, Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Tennessee.
Bland, W.; Bosilca, G.; Bouteiller, A.; Herault, T.; and Dongarra, J. (2013a). Post-failure recovery of MPI communication capability: Design and rationale. International Jour-nal of HPC Applications.
Chen; Chung (2001). Improved fault-tolerant sorting algorithm in hypercubes. TCS: Theoretical Computer Science.
Fagg, G. E.; Dongarra, J. (2000). FT-MPI: Fault tolerant MPI, supporting dynamic applications in a dynamic world. In Recent advances, PVM-MPI.
Gropp, W.; Lusk, E.; Doss, N.; Skjellum, A. (1996). A high-performance, portable implementation of the MPI message passing interface standard.
Dongarra, J. (2015). Practical scalable consensus for pseudo-synchronous distributed systems. In SuperComputing conference.
Leighton, F. T. (1991). Introduction to Parallel Algorithms and Architectures: Array, Trees, Hypercubes. Morgan Kaufmann Publishers.
Parhami, B. (1999). Introduction t o Parallel Processing: Algorithms and Architectures. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA.
Wagar, B. (1987). Hyperquicksort: A fast sorting algorithm for hypercubes. Hypercube Multiprocessors.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
109
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Plataforma de D e s e n v o l v i m e n t o para Microcontroladores
1 RESUMO
Luiz A u g u s t o Garonce Ferreira luiz [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil Felipe Walter Daf ico Pfrimer
[email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
O presente projeto descreve o desenvolvimento de um novo kit didático voltado para disciplinas envolvendo microcontroladores, que possibilita a potencialização do aprendizado dos alunos. O uso das novas placas pode solucionar problemas como defasagem tecnológica, construção volumosa e custo elevado de kits antigos. Dessa forma, foi projetado um kit de hardware livre, que contempla as funcionalidades básicas e avançadas para o aprendizado que o estudante necessita. O equipamento poderá ser utilizado em disciplinas acadêmicas e cursos técnicos, além de possuir utilidade em pesquisa e desenvolvimento. Inicialmente, foi criado um protótipo de uma placa principal contendo o microcontrolador, onde foram feitas analises e correções para se obter um modelo definitivo. Para o desenvolvimento verificou-se: a importância da depuração; programação em linguagem C/C++ e Assembly; diversidade de periféricos; e a quantidade de terminais. A placa principal foi projetada com base no MSP430F5529, de forma que através de conectores, outros módulos possam ser acoplados. Adicionalmente, a placa contém oito LEDs (light emitting diodes), um display de 7-segmentos e dois botões. Também foram desenvolvidas outras duas placas: uma de displays que comporta um display de 7-segmentos com quatro dígitos e um LCD (liquid crystal display); e uma placa que aciona motores CC (corrente contínua), motor de passo e utiliza sensor de temperatura e rotação. Portanto, o projeto possibilitou desenvolver um hardware livre modular, que atende as necessidades do curso de Engenharia Eletrônica do Campus Toledo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
PALAVRAS-CHAVE: Microcontrolador. Projeto de PCB. Material didático.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
INTRODUÇÃO
A Engenharia Eletrônica está intimamente ligada aos avanços tecnológicos, e para que os
novos conceitos sejam compreendidos ou concebidos, faz-se necessário que o entendimento de
determinados princípios básicos esteja bem consolidado na mente dos engenheiros. Segundo
Kenski, 2012, "a presença de uma determinada tecnologia pode induzir profundas mudanças na
maneira de organizar o ensino". Dessa forma, este trabalho, patrocinado pela fundação
Araucária, visou o desenvolvimento de um novo kit didático para utilização em disciplinas
relacionadas a microcontroladores (MCUs).
O desenvolvimento deste equipamento foi motivado pela necessidade de atualização dos
conjuntos educacionais presentes no laboratório de Sistemas Digitais do curso de Engenharia
Eletrônica do Campus Toledo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que são
volumosos, caros, de difícil manutenção e incompatíveis com os atuais sistemas operacionais.
O kit projetado contém três placas: uma principal, com um microcontrolador do tipo
MSP430; uma de displays; e uma de acionamento de motores e sensores. O conjunto apresenta
modularidade, simplicidade, bem como hardware e software compatíveis com os atuais
sistemas operacionais. Além disso, devido a forma como foi esquematizado, poderá ser utilizado
em projetos de pesquisa e desenvolvimento como ferramenta de controle de processos e
aquisição de dados. Adicionalmente, devido a sua forma modular, futuras atualizações ou
modificações podem ser feitas nas aulas práticas ministradas pelo docente. Com a utilização do
kit desenvolvido espera-se que os alunos possam fixar de maneira mais eficiente o
conhecimento adquirido durante as aulas teóricas.
MÉTODOS
O presente projeto apresenta o desenvolvimento de um kit de Hardware livre (em inglês,
Open source hardware) que pode ser utilizado tanto em pesquisa e desenvolvimento como uma
ferramenta de aprendizado em laboratórios de ensino. O principal e lemento desse tipo de
equipamento é o MCU, cuja as ferramentas e periféricos disponibilizados pelo fabricante
possuem papel fundamental no fluxo de aprendizado do aluno.
Para escolha do MCU levou-se em consideração cinco quesitos: i) A possibilidade de
depuração (debugging) em dentro do próprio circuito; ii) custo; iii) programação em linguagem
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
111
V VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
C e Assembiy; iv) o maior número de funcionalidades possíveis que poderiam ser exploradas nas
aulas práticas; e v) quantidade de pinos. No mercado internacional, foi possível encontrar
diversos MCUs que atendiam total ou parcialmente os requisitos listados e, após uma análise
aprofundada, foi escolhido o chip MSP430F5529 produzido pela Texas Instruments (TI) (TEXAS
INSTRUMENTS, 2008; TEXAS INSTRUMENTS, 2009). Este circuito integrado (CI) satisfazia todas
as necessidades, além de possuir vários protocolos de comunicação embutidos, consumir pouca
energia (Low Power) e disponibilidade de ambiente de programação com todas as funções
disponíveis gratuitamente pelo fabricante. Adicionalmente, este MCU permite ser gravado e
depurado pela placa de baixo custo MSP-EXP430F5529LP (TEXAS INSTRUMENTS, 2013), também
produzido pela TI.
Assim como mencionado na introdução, o novo kit didático foi planejado para ser
constituído por três placas: i) a principal contendo o MCU; ii) a dos displays; e iii) a dos motores
e sensores. As três foram desenvolvidas através do o software EDA (Electronic Design
Automation) Kicad, que é distribuído gratuitamente (open source). A Figura 1 apresenta o
diagrama simplificado do kit, onde os blocos Aplicação 1, 2 e 3 representam possíveis expansões.
Dessa forma, o kit pode ser montado em sua configuração básica ou, dependendo das práticas
propostas pelo docente, uma ou várias placas adicionais podem ser conectadas à placa principal.
As placas adicionais podem ser adquiridas de terceiros ou produzidas pelos próprios usuários,
proporcionando grande versatilidade ao conjunto.
Figura 1. Diagrama de blocos do kit didático.
£ 4 bits
Fonte: Autoria própria (2018).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
112
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
RESULTADOS
A placa principal, vista na Figura 2a, possui o microcontrolador escolhido, oito LEDs (Light
Emitting Diodes), um display de sete segmentos e dois botões do tipo push button. Ela é
alimentada com 5 V por um conector do tipo micro-usb e pode ser programada pela placa MSP-
EXP430F5529LP. Seis conjuntos de I/O (entradas ou saídas) digitais de 8 bits estão disponíveis
ao redor da placa, o que torna o kit modular e permite a criação de expansões. Foram utilizados
componentes de montagem em superfície (Surface Mount Device ou SMD) para que a placa
tivesse um tamanho reduzido (10 cm x 6 cm, aproximadamente).
A placa de displays, mostrada na Figura 2b, foi desenvolvida para possibilitar a programação
de um display de sete segmentos com quatro dígitos ou de um display LCD (liquid crystal display)
de duas linhas com dezesseis caracteres (2x16). Um conjunto de chaves permite a escolha do
display a ser utilizado. Adicionalmente, quatro pinos de I/O estão disponíveis para utilização em
outras aplicações e a placa recebe alimentação de 5 V da placa principal.
Figura 2 - Placa principal (a) e placa de displays (b)
>2,0 3 adaoaaae »j>e »««««»«« »e« «eeeeeeeeee* píl.oi i 3 4 5 i 7 SVÍKfc
Dispta™
(a) (b)
Fonte: Autoria própria (2018).
A placa de motores e sensores, que deve ser alimentada por uma fonte de 12 V com saída
de 1 A no mínimo, contém: uma ponte H dupla do tipo L298N (STMICROELECTRONICS, 2000)
para o acionamento de motores de corrente contínua (CC) de 12 V com até 500 mA; um drive
de motor de passo ULN2003AP (TOSHIBA, 2001); um sensor de temperatura LM35 (TEXAS
INSTRUMENTS, 1999); e um sensor de rotação para a medida de velocidade dos motores CC
(encoder óptico). A imagem da placa pode ser vista na Figura 3a.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Para a fixação de um motor CC e de um motor de passo projetou-se um suporte plástico
com o auxílio de um software livre de modelagem 3D, que foi impresso em uma impressora 3D.
A imagem do suporte pode ser vista na Figura 3b.
Figura 3 - Placa de motores e sensores (a) e suporte de fixação para a acomodação de um motor CC e de um motor de passo (b)
(a)
Fonte: Autoria própria (2018).
O software Code Composer Studio (CCS) é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE)
que o aluno utilizará para desenvolver os códigos para as aulas práticas. Esse ambiente permite
a programação do MCU em linguagem C/C++ e Assembly. A utilização da placa MSP-
EXP430F5529LP como gravador permite acesso gratuito a todas as funcionalidades do CCS,
como a otimização de código, simulação e depuração em tempo real.
Um protótipo do kit foi montado e testado, validando o funcionamento e integralidade da
placa principal. No total, dez conjuntos serão montados para serem utilizados em aulas práticas
de microcontroladores.
DISCUSSÃO
Com o desenvolvimento deste trabalho, alunos do curso de Engenharia Eletrônica do
Campus Toledo da UTFPR terão a sua disposição um kit didático atualizado. Um manual está
sendo elaborado para o kit desenvolvido. Nele, o usuário irá encontrar a descrição da placa,
informações técnicas sobre o MCU MSP430F5529, informações técnicas sobre o CCS, exemplos
de código em C/C++ e Assembly, atividades práticas e exercícios. O kit será aplicado em um
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
114
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
minicurso sobre o microcontrolador MSP430 para verificar sua funcionalidade e praticidade em
sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este projeto contemplou o desenvolvimento de um novo kit didático voltado para
disciplinas de microcontroladores e sistemas embarcados. Espera-se que esse equipamento
possa proporcionar o aprendizado de forma eficiente para os alunos, capacitando-os para os
diversos desafios do mercado de trabalho. Adicionalmente, estima-se que o kit possa auxiliar
projetos de pesquisa e desenvolvimento da área de instrumentação eletrônica.
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Fundação Araucária pela bolsa de Iniciação científica, que me permitiu
aprofundar meus conhecimentos na área do meu curso de Engenharia Eletrônica. A experiência
e o aprendizado diários tornaram-me um aluno e profissional melhor.
REFERÊNCIAS
KESKI, V. M. Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação. São Paulo, Brasil: Papirus, 2012. STMICROELECTRONICS, L298 Dual Full-Bridge Driver. STMicroelectronics, 2000. Disponível em: <https:/ /www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298 H Bridge.pdf>. Acesso em: 09 de agosto de 2018. TEXAS INSTRUMENTS. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors. Dallas: Texas Instruments Incorporated, 1999. Disponível em: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2018. TEXAS INSTRUMENTS, MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide. Dallas: Texas Instruments Incorporated, 2008. Disponível em: <http:/ /www.ti .com/lit /ug/slau208q/slau208q.pdf>. Acesso em: 09 de agosto de 2018. TEXAS INSTRUMENTS, MSP430F552x, MSP430F551x Mixed - Signal Microcontrollers. Dallas: Texas Instruments Incorporated, 2009. Disponível em: <http:/ /www.ti .com/lit /ds/symlink/msp430f5529.pdf>. Acesso em: 09 de agosto de 2018. TEXAS INSTRUMENTS, MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit (MSP-EXP430F5529LP). Dallas: Texas Instruments Incorporated, 2013. Disponível em: <http:/ /www.ti .com/lit /ug/slau533d/slau533d.pdf>. Acesso em: 09 de agosto de 2018. TOSHIBA, ULN2003,04AP/AFW. Toshiba, 2001. Disponível em: <http://biakom.com/pdf/ULN2003 TOS.pdf>. Acesso em: 09 de agosto de 2018.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Sobre os m o d o s d e lidar de a lunos de quintos e s ex tos a n o s c o m at iv idades de matemát ica - o q u e revelam
suas produções
1 RESUMO S i m o n e Ribeiro da Silva [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil Rodol fo Eduardo Vertuan [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
Este trabalho trata da realização de uma pesquisa que tem como objetivo investigar as estratégias que alunos de quintos e sextos anos do Ensino Fundamental mobilizam e os conhecimentos que eles revelam quando da resolução das mesmas atividades de matemática. Para isso, elaboramos dois tipos de questionários para serem aplicados aos alunos envolvidos -alunos de quintos e sextos anos matriculados em instituições públicas de ensino, que funcionam na mesma estrutura - nos quais, a produção escrita destes alunos frente as questões que os compõe, constitui a fonte de dados da pesquisa. A análise da produção escrita destes alunos está sendo realizada de acordo com as orientações presentes na análise de conteúdo de Bardin (2016). Com ela, esperamos encontrar respostas que nos permitam traçar estratégias e encaminhamentos que venham a contribuir, principalmente, com o ensino e aprendizagem de matemática dos alunos de quintos e sextos anos.
PALAVRAS-CHAVE: Produção escrita. Matemática. Educação
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
116
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho trata da realização de uma pesquisa qualitativa, que tem
como objetivo investigar a s estratégias que alunos de quintos e sextos a n o s do
Ensino Fundamental mobilizam e os conhecimentos que eles revelam quando
da resolução d a s m e s m a s atividades de matemática. Esta investigação es tá
relacionada ao projeto de pesquisa que busca investigar, na transição do quinto
para o sexto ano, a s rupturas e continuidades sent idas pelos alunos em relação
a disciplina de Matemática, a s quais acredi tamos ter influência sobre a
aprendizagem e o desenvolvimento deles nesta disciplina.
O problema a ser investigado n e s s a pesquisa foi formulado da seguinte
maneira: "Quais estratégias mobilizam e quais conhecimentos emergem quando
alunos de quintos e sextos anos resolvem a s m e s m a s atividades de
Matemática?" e, para buscar respondê-lo, a pesquisa s e dará com alunos
matriculados em duas instituições públicas de ensino no município de Toledo,
que funcionam na m e s m a estrutura física, uma escola municipal e um colégio
estadual. A produção escrita des te s alunos constituirá a fonte de dados para a
pesquisa. Assim, a s informações para subsidiar os resultados da pesquisa, se rão
levantadas com a análise dos modos de lidar dos alunos ao resolverem ques tões
de matemática e laboradas para es ta investigação.
Deste modo, fez parte do planejamento des ta investigação, a e laboração
de ques tões e, posteriormente, de dois tipos de questionários. A fim de explicar
sobre a construção e a escolha d a s ques tões que constituíram os questionários
aplicados, ap resen tamos a próxima s e ç ã o - O processo de e laboração d a s
ques tões para a pesquisa, a qual também apresen ta a s ques tões definidas para
a aplicação e como elas foram organizadas nos questionários. Em seguida,
ap resen tamos a s Considerações finais, e posteriormente listamos a s referências
utilizadas.
2 O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES PARA A PESQUISA
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
117
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Estando definidas a s características dos dados e o local onde e s t e s seriam
coletados - primeira e tapa da pesquisa, a construção e escolha d a s ques tões
para a pesquisa foi estruturada em três momentos, que constituíram a segunda
e tapa da investigação. No primeiro momento, com a leitura dos Parâmetros
Curriculares Nacionais referente ao segundo ciclo (4° e 5° ano) e terceiro ciclo
(6° e 7° ano) (PCN, 1997; 1998) e com o a c e s s o a livros didáticos do quinto e do
sexto ano, encontrados no Laboratório de Ensino em Matemática da
universidade, dest inado ao curso de Licenciatura em Matemática, buscamos
levantar: a) conteúdos que eram comuns a ambos, mesmo com enfoques
diferentes, b) conteúdos que eram específicos de cada ano, e c) os conteúdos
que es tavam além d e s s e s dois anos; para posteriormente elaborar a s ques tões .
Assim, o segundo e o terceiro momento, referentes a s egunda etapa, s e
direcionaram a e laboração e a escolha d a s questões , respectivamente,
considerando o conteúdo d e s s e s três itens, para serem elaboradas. Ao final do
segundo momento, t ínhamos um total de dez ques tões elaboradas, uma
quantidade alta de questões . Diante disso, o terceiro momento s e configurou
como aquele em que definiríamos tanto a quantidade de questões , como a s
ques tões , que comporia o questionário. Até o terceiro momento, vislumbrávamos
a e laboração de a p e n a s um questionário.
Ao analisar os possíveis modos de resolução ou de interpretação das dez
ques tões elaboradas, decidimos que seriam escolhidas seis questões , e que
seriam montados dois questionários, denominados de A e B. Cada questionário
seria constituído de quatro questões , sendo que em cada um havia duas
ques tões comuns a ambos, pois eram interessantes de serem resolvidas por
todos os alunos que participariam, já que uma tratava de um conteúdo que ainda
não teria sido desenvolvido formalmente no contexto escolar - ope rações com
números inteiros, enquanto que a outra questão, s e relacionaria a um conteúdo
que e s t e s alunos estariam habituados a lidar, t rata-se do conteúdo de f rações
parte-todo e f rações equivalentes, e duas ques tões que seriam específ icas a
cada questionário.
As seis ques tões que foram e laboradas e que constituíram os questionários
s ã o ap re sen tadas no quadro seguinte (Quadro 1). Além disso, n e s s e quadro
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
118
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
também t razemos o que nos interessava sabe r com a proposição de cada
questão.
Quadro 1 - Os enunciados d a s ques tões da pesquisa e comentários
Questões
1.
Mariana e Eduarda, irão jogar um jogo de tabuleiro. Para decidir quem irá iniciar, elas precisam lançar dois dados de seis faces, 3 vezes. Quem fizer uma soma maior de pontos depois de todas as jogadas iniciará o jogo.
O primeiro dado é numerado de 1 a 6, o segundo dado é numerado de - 1 a - 6.
Observe o quadro abaixo, que traz as faces obtidas em cada uma das três jogadas realizadas por Eduarda e Mariana.
JOGADAS
NOMES
EDUARDA
MARIANA
2 e - 5 1 e - 4
6 e - 5
2 e - 4
5 e - 1
TOTAL DE PONTOS
-3
Mariana ainda não sabe o total de seus pontos. Ajude Mariana a calcular sua pontuação e diga quem irá começar no jogo.
• Esta questão está presentes nos dois questionários elaborados - A e B. • Com esta questão nos interessava saber: Como os alunos operariam com os números
inteiros, sem que os tivessem aprendido formalmente no contexto escolar, já que é um conteúdo trabalhado no sétimo ano? Como fariam a comparação entre um número negativo e um positivo (pontuação esperada para Mariana)?
2.
Mariana e Téo ganharam, cada um, uma barra de chocolate do mesmo tamanho, 2 4
Mariana comeu - da barra e Téo comeu - de sua barra. Quanto ainda resta da 3 6
barra de chocolate de cada um? Quem comeu mais chocolate?
• Esta questão está presente nos dois questionários elaborados - A e B. • Com esta questão nos interessava saber: Como os alunos lidariam com uma situação em
que aparecem frações, e frações equivalentes? Que registros eles articulariam para interpretar e, ou, resolver a questão?
3.
Dona Rita é conhecida na cidade por fazer empadão de frango. Ela vende cada pedaço de empadão a R$ 3,50. Sabendo disso, complete a tabela:
Se comprar: 1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços 5 pedaços 8 pedaços 10 pedaços 15 pedaços
Você pagará
RS 3.50
RS17 50
a) Caso uma pessoa compre seis pedaços, quanto ela pagará? E se forem nove pedaços?
Para uma festa de aniversário, dona Rita vai fazer 30 pedaços de empadão de frango. Explique para ela como calcular o preço que ela irá cobrar.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
119
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
• • Esta questão está presente apenas no questionário A.
Com esta questão nos interessava saber: Como os alunos interpretariam a questão? Fariam uso somente da operação de adição ou somente da operação de multiplicação? Ou usariam ambas? Eles utilizariam os valores da tabela para responder os itens a) e b)? Ou fariam de outro modo? Qual modo? Como explicariam a ideia que tiveram para resolver o item b)?
4. Um quadrado, tem lado medindo 5 centímetros. A diagonal desse quadrado o divide em dois triângulos. Qual é a área desses triângulos?
• •
Esta questão está presente apenas no questionário A. Com esta questão nos interessava saber: Quais registros e, ou estratégias, eles mobilizariam para tentar resolver a situação?
5.
Juca e Mateus vão de bicicleta para a escola, indo e voltando sempre pelo mesmo caminho. Mateus pedala 200 metros para chegar na casa de Juca. A distância da escola até a casa de Juca é 2 quilômetros. Quantos metros Mateus pedalou para ir e voltar da escola?
• •
Esta questão está presente apenas no questionário B. Com esta questão nos interessava saber: Como os alunos interpretam a questão? Que registros eles mobilizariam para tentar resolvê-la? Como lidariam diante da necessidade de conversão de medida?
6. Divida 3009 por 3. Depois escreva um texto explicando passo a passo como pensou par resolver.
• • Esta questão está presente apenas no questionário B.
Com esta questão nos interessava saber: Como os alunos realizam a divisão? Eles usam o algoritmo da divisão, método da chave? Se usarem, como lidariam com a tarefa de explicar por escrito como fizeram a divisão? Fonte: Autoria própria (2018).
Com a montagem dos questionários, a pesquisa s e direcionou a uma nova
e tapa - a aplicação dos questionários, para a coleta dos dados. Assim, levamos
até a instituição escolar o material para ser aplicado nos quintos e sextos anos
e o en t regamos a o s respectivos profissionais pedagogos responsáveis, já
cientes da pesquisa e d a s r ecomendações para o momento da aplicação. Com
o material, anexamos um bilhete com recomendações para os professores d a s
turmas envolvidas procederem quanto ao momento de aplicação, já que não
ter íamos como falar com cada um, bem como os termos de consentimento e de
consentimento para uso de imagem e som de voz, que foram encaminhados a o s
pais an tes da aplicação dos referidos questionários.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
120
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Após a busca dos questionários já aplicados, iniciamos a e tapa de análise
da produção escrita dos alunos, que ainda s e encontra em desenvolvimento. Ao
realizá-la, buscamos considerar a s orientações presentes na análise de
conteúdo de Bardin (2016), pois vem ao encontro do que pre tendemos
"enxergar" ao analisar a produção escrita dos alunos. De acordo com a autora
Bardin (2016, p. 50), "a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que es tá
por trás d a s palavras sobre a s quais s e debruça" e "é uma busca de outras
realidades por meio d a s mensagens" possível a partir da manipulação d e s s a s
mensagens , a s quais seriam o conteúdo e expressão d e s s e conteúdo.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vislumbramos com a análise da produção escrita dos alunos, na
perspectiva da análise de conteúdo, encontrar respos tas à s interrogações
levantadas acerca de cada ques tão aplicada (Quadro 1), a fim de que no
processo de organização dos dados, se ja possível a e laboração de categorias,
pois como coloca Bogdan e Biklen (1994) é com a leitura dos dados que
observamos a repetição e o des taque de certas palavras, f rases , padrões de
comportamento, formas dos sujeitos pensarem e acontecimentos, e a s
categorias s ã o f rases , palavras ou registros que vem a representar isso
(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Sendo com a d iscussão e descrição d e s s a s
categorias, buscar responder ao problema delineado nesta pesquisa.
Pretendemos, no futuro, realizar es ta investigação com alunos de quintos
e sextos a n o s matriculados em instituições de ensino que não compartilham a
m e s m a estrutura física, tendo em vista obter respos tas ao problema d e s s a
pesquisa bem como acerca dos aspec tos de continuidade e rupturas que podem
s e revelar quando da transição do quinto para o sexto ano, em diferentes
contextos, visando a ap reensão do todo para traçar estratégias e
encaminhamentos mais consis tentes que contribuam com o ensino e
aprendizagem de matemática d e s s e s alunos.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
121
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Tradução: Luiz Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016. BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: Uma introdução à teoria e aos métodos . Portugal, Porto Editora, 1994. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Matemática. Ensino Fundamental. Primeiro e segundo ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1997.
. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Matemática. Ensino Fundamental. Terceiro e quarto ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1998.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
122
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Aproximações d e n util izando o m é t o d o de N e w t o n -Raphson e o pacote RMPFR no software R.
1 RESUMO
Well ington Luis Savaris [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil Gus tavo Henrique D a l p o s s o [email protected] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil
OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é utilizar o pacote RMPFR do software R para calcular dígitos do número n por meio de uma função de iteração obtida pelo método de Newton-Raphson. MÉTODOS: Para determinar a função de iteração foi considerada a função seno e utilizou-se para aproximação inicial o número 3 escrito em MPFR com precisão de 220 bits. RESULTADOS: Sem definir uma precisão foi possível calcular apenas 15 casas decimais corretas e considerando a precisão de 220 bits foi possível calcular 192443 casas decimais corretas. CONCLUSÕES: A função mpfr do pacote RMPFR é uma excelente alternativa para realizar cálculos que exijam uma elevada precisão.
PALAVRAS-CHAVE: Número n. Newton-Raphson. pacote RMPFR.
1 ABSTRACT
OBJECTIVE: The purpose of this paper is to use the RMPFR package of R software to calculate digits of number n using an interation function obtained by Newton-Raphson method. METHODS: To obtain the iteration function the sine function was considered and the number 3 written in MPFR with an accuracy of 220 bits was used for the initial approximation. RESULTS: Without setting an accuracy it was possible to calculate only 15 correct decimal places and considering the accuracy of 220 bits it was possible to calculate 192443 correct decimal places. CONCLUSIONS: The mpfr function of the RMPFR package is an excellent alternative for performing calculations requiring high accuracy. KEYWORDS: Number n. Newton-Raphson. RMPFR package.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
123
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
1 INTRODUÇÃO
Na matemática, o número n é uma proporção numérica originada da relação entre as grandezas do perímetro de uma circunferência e seu diâmetro. A letra grega n foi adotada para representar o número a partir da palavra perímetro ( n e p i m e t o Z ), provavelmente pelo matemático galês William Jones em 1706 e popularizada por Leonard Euler alguns anos mais tarde (OLIVEIRA, 2013). Outros nomes para este número são constante circular ou constante de Ludolph.
O n é um número irracional e transcendental, e no Oriente Antigo este número era aproximado como 3 (CARDOSO, 2011). Em 200 a.C. no papiro Rhind (Egípcio) utilizava-se a seguinte aproximação n = 4 • ( ( 8 / 9 ) ) 2 « 3 , 1 6 0 4 (OLIVEIRA, 2013). Arquimedes de Siracusa (287-212 a.C.) criou um método para aproximar n e com um polígono de 96 lados, obteve que 3 , 1 4 1 0 < n < 3 , 1 4 2 8 (BOYER, 1996).
O n é utilizado para diversos tipos de cálculos, que envolvem desde o volume e área de superfície de esferas, até a determinação de rotações de objetos. A NASA- National Aeronáutics and Space Administration, constantemente utiliza n em suas pesquisas como por exemplo, para calcular o quanto de hidrogênio poderia estar disponível, no oceano de uma lua de Júpiter (NASA, 2015). O n é util para testar a velocidade e a precisão de diferentes computadores. Utilizando o programa SuperPI, que calcula o n até um certo número de casas decimais é possível obter uma espectativa da velocidade de cálculo de um computador. As tentativas para aproximar o valor de n motivaram milhares de pesquisadores na história a desenvolver técnicas matemáticas para tal, fato este que influência diretamente no próprio desenvolvimento da matemática.
Uma forma utilizada para calcular os dígitos de n é porporcionada por métodos numéricos, que representam técnicas pelas quais os problemas matemáticos são formulados de modo que possam ser resolvidos com operações lógicas e aritméticas. Existem diversos métodos numéricos que podem ser utilizados para a obtenção dos dígitos de n, no entanto, o método de Newton-Raphson se destaca entre os demais. Este método é baseado em uma aproximação de primeira ordem da série de Taylor sobre a raiz da função (RICHARDS, 2002) e se destaca por apresentar uma rápida convergência (RAJARAMAN, 1993).
Embora os métodos computacionais permitam obter aproximações para o número n, em virtude dos números em ponto flutuante apresentarem precisão limitada, é necessário a utilização de bibliotecas que permitam definir números com precisão arbitrária. Dentre as diversas bibliotecas existentes, destaca-se a MPFR, uma biblioteca C para executar cálculos de ponto flutuante de precisão múltipla com arredontamento correto.
O objetivo deste trabalho é utilizar a função mpfr do pacote RMPFR do software R para calcular dígitos do número n por meio de uma função de iteração obtida pelo método de Newton-Raphson.
2 MÉTODOS
2.1 O MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON
Dentre os diversos métodos numéricos utilizados para obter aproximações para raízes de equações não lineares, o método de Newton-Raphson é o mais utilizado, devido à sua
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
124
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
simples implementação e à sua ordem quadrática de convergência (PALACIOS, 2002). Existem várias maneiras de deduzir este método, como por exemplo, por meio de sua interpretação geométrica, apresentada na Figura 1.
Figura 1 - Interpretação geométrica do método de Newton-Raphson
Fonte: Elaborada pelos autores. Considerando o número xk como uma aproximação inicial para a raiz a da equação
f(x) = 0, traçamos a reta L0(x) = f(xk) + f'(xk). (x — xk), tangente ao ponto (xk,f(xk)). Sabendo que esta reta passa pelo ponto (xk+1,0) t emos a seguinte função de iteração:
f(^k) + ff(^k)- (xk+1 —xk) = 0^ ff(xk
). (xk+1 — xk) = —f(xk
) » xk+1 = xk f'(xk) Em razão desta interpretação gráfica, o método de Newton-Raphson também é
conhecido como método das tangentes.
2.2 RECURSOS COMPUTACIONAIS
Como sen( n) = 0, utilizou-se a função f(x) = sen(x) para determinar uma função de iteração pelo método de Newton-Raphson, obtendo-se xk+1 = xk — tan(xk). Esta função de iteração foi implementada no software R (R Core Team, 2017) e considerou-se a aproximação inicial x0 = 3. Para utilizar uma precisão arbitrária, considerou-se x0 = 3 um número escrito em MPFR por meio do pacote RMPFR (MAECHLER, 2018) com precisão de 220 bits. Os cálculos foram realizados em um computador com sistema operacional Windows 7 Ultimate, com processador Intel Core i3-2120 de 3,30GHz e 4 GB de memória RAM.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos ao utilizar o método de Newton-Raphson considerando a função f(x) = sen(x) e uma aproximação inicial x0 = 3.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
125
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Tabela 1 - Aproximações para o número n considerando a aproximação inicial x 0 = 3
Iteração Aproximação Casas decimais corretas
1 a 3 . 1 4 2 5 4 6 5 4 3 0 7 4 2 7 7 8 3 1 6 6 4 1 7 6 2
2 a 3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 3 0 0 4 7 6 9 8 9 3 8 6 4 2 5 9
3a 3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 1 1 5 9 9 7 9 6 3 15
4a 3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 1 1 5 9 9 7 9 6 3 15
Fonte: Elaborada pelos autores.
Observa-se que após a terceira iteração a quantidade de casas decimais corretas para o número n não se altera, permanecendo e m 15. Este comportamento se deve ao fato de que o sof tware R realiza cálculos com números reais considerando a classe numérica double, referente a números de ponto flutuante de precisão dupla. A precisão dupla aloca 52 bits para a parte fracionária para dar uma precisão relativa de 53 bits (Grant, 1989), produzindo 15 dígitos de precisão (Fehily, 2008). Como o objetivo é determinar uma quantidade elevada de dígitos de TC, utilizou-se o m é t o d o de Newton-Raphson considerando a função / (x ) = sen(x) e uma aproximação inicial x 0 = 3 com precisão de 2 2 0 bits, s endo os resultados apresentados na Tabela 2.
As quantidades de casas decimais corretas obtidas após as duas primeiras iterações utilizando uma aproximação inicial x 0 = 3 com precisão de 2 2 0 bits (Tabela 2) são as mesmas obtidas sem considerar a precisão arbitrária. No entanto, a partir da terceira iteração é possível observar que a quantidade de casas decimais corretas se altera, pois o fato de fixar a precisão e m 2 2 0 bits proporcionou um a u m e n t o de 13 casas decimais corretas na terceira iteração.
Tabela 2 - Aproximações para o número n considerando a aproximação inicial x 0 = 3 com precisão de 220 bits
Iteração Casas decimais corretas Iteração Casas decimais corretas
1a 2 7a 2375
2a 9 8a 7126
3a 28 9a 2 1 3 8 1
4a 87 10a 64147
5a 263 11a 192443
6a 791
Fonte: Elaborada pelos autores.
Destaca-se que a cada iteração, a quantidade de casas decimais corretas praticamente triplica e que com onze iterações, a quantidade de casas decimais corretas é de 192443. Em trabalhos futuros pretende-se além de aumentar a precisão e m bits, utilizar outros métodos numéricos com vistas a obter uma maior quantidade de casas decimais corretas preferencialmente com uma menor quantidade de iterações.
4 CONCLUSÕES
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
126
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Foi possível obter uma quantidade significativa de dígitos de n e embora quantidades maiores sejam facilmente encontradas na literatura, destaca-se a metodologia utilizada, podendo esta ser facilmente adaptada para realizar cálculos que exijam uma elevada precisão.
4 REFERÊNCIAS
5
FEHILY, C. SQL: Visual Quick Start Guide. 3. ed. Berkeley: Peachpit Press, 2008.
GRANT, C. Computing for Engineers: A Problem-solving Approach to Programming in Pascal. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1989.
MAECHLER, M. (2018) Rmpfr: R MPFR - Multiple Precision Floating-Point Reliable. R package version 0.7-0.
PALACIOS, M. Kepler equation and accelerated Newton method. Journal of Computational and Applied Mathematics, Amsterdam, v. 138, n. 2, p. 335-346, 2002.
R Core Team, 2014. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
RAJARAMAN, V. Computer Oriented Numerical Methods. New Delhi: Prentice-Hall, 1993.
RICHARDS, D. Advanced Mathematical Methods with Maple. Cambridge: CUP, 2002.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
127
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Artigos Completos
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
128
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
INVESTIGAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE SUBÁLGEBRAS DE CARTAN EM gl(3.R)
Adriana Livi1
Adriéli Aline Duarte2
Wüian Francisco de Araújo3
1 Resumo
Este trabalho apresenta resultados de um estudo bibliográfico sobre a teoria da
Álgebra de Lie, desenvolvido em Projeto de Iniciação Científica Voluntária na UTFPR
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Toiedo, sob orientação do Prof,
Or. Wilian Francisco de Araújo, O trabalho em questão tem como finalidade verificar
a aplicabilidade de exemplos de subálgebras de pi(3.IR) de dimensão l t 2 e 3 no
assunto em estudo, no caso as subálgebras de Cartan, levando em consideração os
conceitos e definições envolvidos para tais análises e utilizando resultados de estudos
anteriores. Trabalho este motivado por uma discussão ocorrida na apresentação de
um trabalho anterior, durante a qual percebemos a existência de muitos trabalhos
sobre o corpo dos números complexos {€). porém poucos sobre os reais (R).
2 Álgebra de Lie
As definições contidas neste trabalho podem ser encontradas em [2] e [3].
Definição 1 Uma algebra de Lie consiste de um espaço vetoriaf g munido de um
produto, denominado colchete ou comutador, que respeita as seguintes propriedades:
1. é bilinear, isto é, possui duas entradas lineares;
2. antissimétrico. isto ér [X. V = -[Y. X] para todo X. V pertencentes a g;
3. satisfaz a identidade de Jacobi. isto é7 V X. V. Z g g, temos que
[x\ [y; z]] + \z. [À\y]] + % \z. x\] = o. 1 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática - UTFPFVTD 2Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática - UTFPFVTD 3Professor do Curso de Licenciatura em Matemática - UTFPRTD
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
129
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Exemplo 2 O espaço vetoriaIM3 munido do produto vetorial usual definido por [u, v] =
uxv, com u,v e é uma Álgebra de Lie.
Exemplo 3 O espaço das matrizes de ordem n sobre Rf denotado por jil^IR), com
colchete definido por [A 13} = A13 - BA para A, 13 e gi(n, E), é uma álgebra de Lie.
D e f i n i ç ã o 4 Uma álgebra de Lie g é abeliana se [.XT Y] = 0 para quaisquer X, Y e 0.
2.1 Subálgebras de Lie
Definição 5 Seja ri uma álgebra de Lie. Uma subálgebra de ç\ é um subespaço veto-
rial b de ri que é fechado pelo colchetet isto é. [X, Y] e h se A', Y e h-
Observação 6 Toda subálgebra de Lie li pode ser vista como uma álgebra de Lie. [3]
Exemplo 7 O espaço das matrizes triangulares superiores de 0t(n,M) é uma subál-
gebra de Lie.
Exemplo 8 O espaço sl(2TE)T espaço das matrizes de ordem 2 em que o traço (a
soma dos elementos da diagonal principal) é igual a zero é uma subálgebra de Lie.
A seguir serão apresentados aíguns exemplos de subálgebras de Lie em
com suporte teórico em [4].
Exemplo 9 Álgebra de dimensão 1
Dada uma matriz 3 x 3 .ela sempre será equivalente a uma das matrizes {a), (b), (c)
ou (d).
Q 0 0 A 1 0 a 1 0 A 1 0
0 p 0 • (6) 0 A 0 , (c) -1 a 0 e (d) 0 A 1
0 0 M _ 0 0 M _ 0 0 p _ 0 0 A
Exemplo 10 Álgebra de dimensão 2
{Álgebras abelianas) Para encontrar subálgebras abelianas de 0 i ( 3 , R ) de dimen-
são 2, tomamos uma matriz A com a forma de (a),(6),(c) ou (d). A partir dessa
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
130
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Exemplo 12 Álgebra de Dimensão 3
Considerando uma álgebra ri com base {elíe2,e3}. apresentaremos exemplos que
satisfa7em nada um dos casos abaixo:
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
131
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
e\ =
0 1 0
0 0 0
0 0 0
<?2 =
0 0 1
0 0 0
o o o
e-A =
e 0 0
0 a + e b
0 c d-he
A partir disso conseguimos encontrar vários exemplos:
i) Se a — 1, b = 0, c — 1 ed = 1. temos [eu e3] = elT [e2í e3] = ei + e2.
y/7 Se a = 1,& = ü,c = 1 = temos [ei,c3] = e1,[e2ye3[ = e2.
iii) Se a = 1. b = 0, c = 0 e d = a(a ^ ±1), temos [eu e3] = e^ [e2, e3) = ae2.
iv) Se a = 0. b = —1, c = 1 e d = 0, temos [ex, e3] = - e 2 , [e2) e3] • ei.
vj Se a = aT ò = — l T c = 1 e d = q , temos [ e i , e 3 ] = q ê ! ~ e 2 , e3] - ej + a e 2
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
132
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
0 1 0 0 0 1 0 0 0
- 1 0 0 , e2 0 0 0 , e3 = 0 0 1
0 0 0 - 1 0 0 0 - 1 0
tii < = .. < ' = '>*.].'_< ;•f i — /•••' ,!. temos
0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 , e2 • 0 - 1 0 > e3 • 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Álgebras Nilpotentes
De acordo com [1 ] consideramos g uma álgebra de Lie, A e B dois subconjuntos de
g denota-se por [A, Z?] o subespaço gerado por {[X, Y]\ X e A, Y e /?}. A partir disso,
temos a seguinte seqüência de subespaços dessa álgebra, denominada série central
descendente:
9(1) = M
0t3) = M a ) ]
Q(k) = [0.0(*-1)], para k è 2.
Definição 13 [3] Uma álgebra de Lie g é nilpotente se sua série central descendente
se anula em algum momento. isto é. g*30 = {0} para algum k0 ^ 1. Portanto, $k = 0
para todo k >
Observação 14 Toda áígebra abeliana é também nilpotente. [3]
Através dessa observação, sabemos que o exemplo 10 e o caso 1 do exemplo 12
são álgebras nilpotentes. Verificaremos se os demais exemplos são ou não nilpotentes
utilizando a série central descendente.
O exemplo 11 é nilpotente, pois temos: g(2^ = [g7 ] — {0} e gfc — {0} para todo
k ^ 2.
O exemplo 12 está dividido em quatro casos, analisaremos cada caso.
* O caso 1 é álgebra nilpotente, pois é abeliana, como dito anteriormente;
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
133
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
• O caso 2 é álgebra nilpotente, pois encontramos ^ 2 ) = [ck g(1)] = {0} = {0}
para todo k > 2.
• O caso 3 está subdividido, porém todos os itens não são áigebras nilpotentes, já
que encontramos ^ {0} para todo k.
• O caso 4 está subdividido, porém todos os itens não são áigebras nilpotentes,
pois também encontramos 0f2), ^ {0} para todo k.
4 Subálgebras de Cartan
Seja h uma subãlgebra de uma Álgebra de Lie g, então o normalizador de h é
definido por N(h) = {X e g \[X, h] C b}.
Definição 15 [2] Uma subálgebra h de uma Álgebra de Lie # é chamada de subál-
gebra de Cartan se b á nilpotente e é seu próprio normalizador em g.
Dentre os exemplos citados neste artigo, analisaremos os exemplos de subálgebras
nilpotentes a fim de verificar quais delas são subálgebras de Cartan. Consideramos
X a matriz genérica, onde a, b, c, d, e, / , g, h, i e ffi:
a b e
x = d e f
g h i
• Exemplo 10: considerando n = d = 1 temos a subálgebra abeliana h com base
{A:B}, onde:
0 1 0
ü 0 0
n n í
. D =
1 0 0
0 1 0
n n 1 Precisamos verificar se b é seu próprio normalizador, ou seja, se [X t aA + j3B] c
h. com a. 3 g M:
[X, aA + /*£] = a [X ,4] + 8 [X, B) -
—a d aa — ae ac — otf
0 ad af
—aq aq — ah 0
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
134
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
135
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
—ad — pg a a - ae + pb — ph —af + pa - pi — pc
-pd ad pd - 2pf
pg 2 ph + ag pg
Agora precisamos verificar se essa matriz encontrada é combinação linear de
A e B, ou seja, se pode ser escrita como:
fiA + A B =
A /£ A
0 2A 0
0 0 0
Igualando AB com [X.aA + f$B], obtemos o seguinte sistema:
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
136
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
i) Caso 1
Sabemos que [X, aex -h pe2 4- 7^3] = a\X, ei] + 0[X. e2] 4- 7[X,e3]
0 &{/? - a) c(7 - a)
d { a - 0 ) 0 / ( 7 — /?)
g(a- 7 ) M ^ - 7 ) 0
Agora precisamos verificar se essa maíriz encontrada é combinação linear de
ei, c2 e e*, ou seja, se pode ser escrita como:
A^j 4- n e 2 + âe^ =
A 0 0
0 /Í 0
Q 0 S
Para que [A\oe, + fie* + 7e3 pertença a h, podem ser quaisquer, mas é
necessário b = c = d = f = 9=k = 0.
Desta forma se A' pertence ao normalizador de h temos que A' € b< Portanto b é
uma subalgebra de Cartan de
ii) Caso 2
Sabemos que \X. aeY 4 0e2 4- 7^3] = a[X, « i ] 4 / ? [ A \ e J 4- 7 [ A \ e 3 ]
—— yd —ah -h 7a — 7ê on — ai 4 /3d — 7 /
—3g —dh 4- 7</ ar/ íte -
0 75 4- 0h
Agora precisamos verificar se essa matriz encontrada é combinação linear de
eue2 e e3t ou seja, se pode ser escrita como:
ÀCi 4- ue2 4- óe3 =
3/1 + 2 8 8 X
0 3/1 4- 28 n
0 0 3/i 4- 26
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Igualando À^ + + Se3 com [_Y, a?! 4- Se-2 + 7^3], obtemos o seguinte sistema:
—ag — 7d = Sfi + 26
= 0
—ah 4- jo. — 7 e = 5
—ph + -yd = 3/ j + 26
7 9 = °
ftfl — fti 4- fid — 7 / = À
ftrf + fie — pi = fi
Analisando o sistema concluímos que X pode serdefinida da seguinte forma:
X =
a 0 c
0 a O
0 O í i
A' normaliza t?t mas a ? ü implica que Ar £ ij. Logo, esse caso náo é uma
subãlgebra de Cartan.
5 Considerações Finais
Corn base em um estudo bibliográfico realizado anteriormente, é que foi desen-
volvido o presente trabalho, onde realizou-se a análise de exemplos de subálgebras
de Lie em gl(3,]R) e a verificação da existência de uma subálgebra de Cartan entre
os exemplos em questão. Realizando os cálculos necessários foi determinada uma
subálgebra de Cartan. A partir desse trabalho, estudos posteriores podem ser feitos
para as demais dimensões das subálgebras de nl(3.R),
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
138
* VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
Referências
11] AGUITONI, M. C. Algebras de Lie, grupos de Lie e espaços giroveioriais de
Lie. Monografia (Pós-graduação em Matemática), UEM (Universidade Estadual
de Maringá), Maringá, BraziL 2010.
[2] JACOBSON, N. Lie Algebras. Dover, New York, 1979.
[3] SAN MARTIN, L. Álgebra de Lie, 2 ed. Editora da UNICAMP. Campinas, SR
2010.
[4| THOMPSON, G. & WICK, Z \ Subalgebras of gl(3,R), EXTRACTA MATHEMA-
TICAE, Vol. 27, Num. 2, 201-230, 2012.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
139
f VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS APLICADAS NA LEI DO RESFRIAMENTO DE NEWTON:
RESOLUÇÃO EXPERIMENTAL E EMPÍRICA DO TEMPO DE RESFRIAMENTO DO BOLO
Adriana Livi1
Adriéli Aíine Duarte2
Raphael Fernando de Melo3
Joceíaine CargneJutti4
1. Resumo
Este trabalho apresenta a modelagem matemática e experimental de um problema
envolvendo a Lei do resfriamento de Newton, Matematicamente, o problema do resfri-
amento é governado por uma equação diferencial ordinária (EDO) linear e de primeira
ordem. Procedeu-se com a construção da solução analítica por meio do método de
separação de variáveis e como condições iniciais utilizou-se os dados de acordo com
as medições de temperatura no decorrer do tempo. De posse dos dados experimen-
tais e da solução analítica, ajustada para o problema, pode-se comparar a s duas
situações. Os resultados do experimento são satisfatórios, principalmente quando
avalia-se o enriquecimento de cunho científico e ínvestígativo, ligando os conhecimen-
tos teóricos e a prática. Ressalta-se que, devido as medições manuais, os dados estão
sujeitos a erros grosseiros, sistemáticos e aleatórios e queT portando, recomenda-se
novas medições para que o observado se aproxime mais do modelo teórico.
2. Fundamentação Teórica
2.1. Equações Diferenciais
Una equação diferencial é uma lei que relaciona uma função e suas derivadas, ou
seja, é uma equação que contém derivadas (ou diferenciais) de uma ou mais variáveis
dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes [7}.
Acadêmica de Licenciatura em Matemática - Universidade Tecnológica Federal do Paraná f UTFPR) 2Acadêmica de Licenciatura em Matemática - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 3Acadêmico de Licenciatura em Matemática - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 4Professora do Curso de Matemática - Universidade Tecnológica Federa! do Paraná (UTFPR)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
140
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Denomina-se equação diferencial ordinária (EDO) quando a equação contém so-
mente derivadas de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma única
variável independente. Uma equação diferencial também é classificada de acordo
com sua ordem, que corresponde a ordem da maior derivada existente na equação
na A solução de uma equação diferenciai ê uma função que não contém derivadas e
que satisfaz a equação diferencial dada, ou seja. transforma a equação em uma iden-
tidade. Existem vários métodos de resolução de EDOs, cada um deles específicos
para um tipo ou ordem, dentre os métodos existentes aiguns são analíticos e outros
numéricos, devido à complexidade dos sistemas modelados [6J,
2.2. Lei de Resfriamento de Newton
Newíoa por meio de seus estudos, encontrou uma maneira eficaz de estimar tem-
peraturas de até 1000 algo que os termômetros da época não conseguiam men-
surar [3]. Essa lei empírica se tornou o método atualmente conhecido como Lei de
Resfriamento de Newton, o qual mostra que a temperatura em que um corpo varia é
proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio que o
rodeia, a temperatura ambiente [7].
Considerando T(t) como a temperatura do corpo no instante /t e Ta a temperatura
ambiente e k- a constante de proporcionalidade característica do corpo, tem-se a EDO
de primeira ordem que caracteriza a lei:
dT di = k(T-TàV (1)
O valor da constante de proporcionalidade varia de acordo com o corpo, ou seja,
materiais diferentes possuem constantes diferentes. Para os casos em que o corpo
perde calor para o ambiente, tem-se uma constante de proporcionalidade negativa,
porém nos casos em que recebe calor do ambiente a constante é positiva.
Uma das formas de resolução da EDO (1) é por meio do método da resolução de
equações diferenciais com variáveis separáveis.
2.3. Modelagem matemática
Utilizando a modelagem matemática é possívef encontrar a taxa de variação em
relação ao tempo das grandezas que caracterizam uni problema ou sistema de inte-
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
141
* VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
resse. Ao encontrar uma equação diferencial que caracteriza determinado sistema
é possível obter informações relevantes capazes de estimar o comportamento do
mesmo.
A fim de aplicar a modelagem matemática é preciso identificar as variáveis do sis-
tema definir as unidades de medida das variáveis, determinar as leis (teóricas ou
empíricas) que relacionam as variáveis e a dinâmica do sistema, além de expressar
as leis em termos das variáveis [6].
Para o sistema analisado neste trabalho, tem-se como variáveis o tempo, dado em
minutos e a temperatura dada em graus Celsius (°C), sabe-se que a lei que rege o
sistema é a Lei de Resfriamento de Newton e a forma de expressá-la utilizando as
variáveis é de acordo com a equação (1).
2A. Erros experimentais
Quando se realiza um experimento requer-se uma coleta de dados e, quando essa
coleta se dá pelo processa de medição, o principal objetivo é produzir um número que
represente tal processo. A experiência demonstra que não existe nenhuma medição
isenta de erros, por mais cuidadosa que seja a sua realização. Por isso, identificar e
dimmuir esses erros é essencial para a realização da coleta de dados de um experi-
mento [2J.
Experimentos que requerem algum equipamento na sua realização podem so-
frer desvios na coleta de dados devido aos erros originados tanto pelo equipamento,
quanto por quem está manuseando-o. Os erros de um processo que podem surgir
com a coleta dos dados são classificados como sistemáíícos ou aleatórios [1]
Erros sistemáticos podem em princípio ser reduzidos ou corrigidos, pois geral-
mente originam no equipamento, devido algum defeito ou falta de calibração correta
ou ainda no despreparo do operador [1].
Quando há variações em observações repetidas, ocorre o erro aleatório que se
origina em variações imprevisíveis. Assim, quando se inicia uma coleta de dados e
a mesma já começa com um desvio daquifo que se é esperado, esse desvio irá se
acumular com os demais resultados, expandindo a margem de erro. Uma das manei-
ras de obter um resultado de maior confiança é aumentar o número de observações e
examinar os resultados obtidos, compensando assim os erros aleatórios [5].
Há também outro erro, mais específico, que pode causar alguma influência sobre
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
142
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
os dados coletados, erro este nomeado de grosseiro. Um erro grosseiro é aquele que
tem sua origem na falta de atenção do operador, desde observar errado o valor men-
surado ou até mesmo na hora de transcrever coíocando algum dado diferente daquele
encontrado [5].
3. Materiais e Métodos
Para realização do experimento, foram feitos 3 bolos de cenoura, com o intuito de
coletar dados das variáveis tempo e temperatura no decorrer do resfriamento de cada
boío.
Os bolos foram feitos um de cada vezT todos assados a temperatura de 180 C no
período de 40 minutos- Após estarem assados, os bolos foram retirados do forno e
mensurou-se a temperatura utilizando um termômetro digital infravermelho com mira
laser, em intervalos de tempo cronometrados por 30 minutos, a fim de organizar uma
tabela com os dados experimentais.
Por meio desses dados, foi possível determinar a constante k de resfriamento dos
botos e apoiando-se em conceitos matemáticos de equações diferencias ordinárias,
estimar o tempo de resfriamento até atingir a temperatura ambiente,
4. Resultados e Discussões
4.1. Dados experimentais
As temperaturas mensuradas durante os 5 primeiros minutos para os bolos 1, 2 e
3 estão dispostas na Tabela 1.
Tabela 1: Temperatura dos Bolos 1. 2 e 3
Tempo (min) Tem peratura CC) Tempo (min) Bolo 1 Bolo 2 Bolo 3 0 98 80 87 1 76 69 70 2 83 63 66 3 60 62 64 4 67 57 63 5 69 55 60
Fonte: Autores (2018)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
143
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Além disso, acompanhou-se a temperatura dos bolos por 30 minutos após a reti-
rada do forno, a Figura 1 mostra o gráfico de dispersão dos dados coletados para os
três bolos.
L00 -i
90 ~ 80 * L> * 2 70
£ 60 * * | " * £ * * " * * | só É 40
U b 10 lb 20 1b 3Ü l i m p o (minutos)
Figura 1; Variação <ía temperatura no cteoorrer do tempo
Fonte: Autores (2018).
C o í t i o observado na Figura 1t o Bolo 1 apresentou grande oscilação nas tempe-
raturas iniciais, o que gerou grande diferença ao ser comparado aos demais. Tal fato
pode ter ocorrido por erros sistemáticos do processo, principalmente pelo despreparo
no manuseio do equipamento, fazendo com que obtivessem valores muito distantes
daqueles esperados. Outro fator que pode ter influenciado nos resultados obtidos,
pode estar associado ao fato das temperaturas mensuradas terem sido anotadas a
cada 30 segundos, conforme a observação dos alunos, o que não é de extrema pre-
cisão, ou seja, a temperatura anotada naquele determinado tempo, pode não ter sido
a real temperatura que o bolo estava.
Os bolos 2 e 3 apresentaram uma oscilação menor de temperatura no decorrer
do tempo, mas mesmo apesar da oscilação no boío 1 nos intervalos iniciais, pode-se
perceber uma tendência parecida de resfriamento para os três bolos analisados.
4.2. Modelagem
Para modelar a EDO que representa o resfriamento de cada um dos bolos, requer-
se a temperatura ambiente, a temperatura inicial do bolo e uma situação de contorno,
• Bolo 1 • Bola 2 • Bolo 3
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
144
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
neste caso escolheu-se a condição dada no tempo 5 minutos, de acordo com a Tabela
1. Com esses dados modelou-se a equação que representa o resfriamento de cada
um dos bolos.
4,2,1, Bolo 1
No momento em que o Bolo 1 foi retirado do forno a temperatura ambiente (7a)
era de 17 °C. Como a temperatura do bolo é maior que a ambiente, considera-se o
valor de k negativo. Modelando a EDO (1):
(lL = - k { T - \ l ) d t .
hAs - / " « In \T — 17| = -Jtf + C,
(2)
(3)
(4)
Assim, a equação que define o sistema é dada por:
T(M = 17 + C&t-W.Qmte C2 = eCt , (5)
Para determinar os valores de C2 e A- da equação, utiliza-se os dados obtidos no
experimento. Utilizando ~F(0) = 98 encontra-se o valor de C:
T(t)
T( 0)
98
9 8 - 17
C,
17-h C 2 e ^ H \
17-h
17 4 C^
C2.
81
(6)
(7)
(8)
O)
(10)
Reescrevendo (5):
T(t) = 17 + Sle í-jfcti (11)
Para determinar a constante de proprocionalidade k utiliza-se a condição de con
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
145
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
torno 7(5) = 69, substituindo a condição em (11), tem-se:
T(t)
T( 5)
6 9 - 17 52 SI
0, G-U 975308
/íi|Ü« 6419753ÜS|
- 0 , 4432G543G
k
1 7 + 8 1 ^ ,
1 7 - f Sle" 5*.
81c w .
- € -5 k
e
—5Ar,
-5Jfc.
0.088GU087
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Desse modo. definiu-se a equação final que representa o resfriamento do Bolo 1:
r{í) = 17 + 81eí-00fl8641^ (20)
Com equação (20) é possível estimar o tempo que levará para o Bolo 1 atingir a
ternperaíura ambiente:
17.1 CM ~sT
0,0012345
tn|0,0Ü12345|
-G. G970S9
t
— G
17 -hSlff ÍJÍW.SAJIJ
-&.D88641Í
-ürÜ8864U,
-0,088641/.
75.552.
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
Portanto, o Solo 1 se aproximará da temperatura ambiente de 17 "C, após 75,552
minutos, o que é equivalente à uma hora e vinte e cinco minutos.
4.2.2. Bolo 2
A temperatura ambiente no momento em que o Boio 2 foi retirado do forno era de
13 °C. Temos TfO) = 80 e a condicão de contorno Ti5) = 55, informações que são
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
146
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
utilizadas para modelar a EDO do Bolo 2.
Assim, a equação que define o sistema:
T(t) = 18 + (27)
Os cáícuíos para o Bolo 2 é análogo ao Bolo desse modo. definiu-se a equação
final do Bolo 2:
TH) = 18 4- (28)
Portanto, o Bolo 2 se aproxima da temperatura ambiente de 18 °Ct após 62.277
minutos, ou se ja uma hora e três minutos após ser retirado do forno,
4.2.3. Bolo 3
No caso do Bolo 3. tem-se Ta = is, 7{ií) = 87 e a condição de contorno 7(5) = GO.
A equação finai do Bolo 3 é definida por:
TU) = l3 + 69c .{-n.ostt&TO (29)
Com a qual é possível estimar o tempo que levará para o bolo atingir aproximada-
mente a temperatura ambiente de 18 "C, que é 66.836 minutos, ou seja, após uma
hora e nove minutos.
4.3. Análise dos dados amostrais e empíricos
Sabemos que a constante de proporcionalide é característica do corpo estudado,
neste caso o bolo de cenoura, portanto deveria ser encontrado o mesmo valor para os
três boios analisados, mas os valores de k que encontramos foram o. 08864;0.1032J e
0.09929 para os bolos 1, 2 e 3 respectivamente. Apesar dos valores de k não serem
iguais, são próximos, essa variação ocorreu devido aos erros pelos quais o experi-
mento prático estava suscetível.
Ao longo do desenvolvimento do trabalho, os resultados obtidos referentes ao
tempo de resfriamento dos bolos, nos levou a diversos questionamentos desde as
variações grosseiras de temperatura que ocorreram com o Bolo 1 até a determinação
da constante de proporcionalidade ík).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
147
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Para obtenção de resultados com grau de confiabilidade maior se faz uso das
equações diferenciais ordinárias. Frente a essas situações, foram realizados os devi-
dos cálculos e análises apoiando-se nos conceitos de equações diferenciais, de modo
a obtermos os resultados analiticamente.
Utifizando as EDOs de cada bolo obtidas pela modelagem, calculou-se as tempe-
raturas nos tempos de 0 a 5 minutos e observou-se algumas variações quando compa-
radas com as temperaturas mensuradas no experimento prático. Essas variações são
devidas a fatores externos ao sistema, muitas vezes imperceptíveis ao operador do ex-
perimento, mas que quando comparados aos resultados obtidos por meio de métodos
mais precisos, são evidenciados. Nas Tabelas 2, 3 e 4t pode-se observar a relação
das temperaturas do experimento e das temperaturas calculadas analíticamente.
Tabela 2 Relaçao entre temperatura experimentai {7Y) e calculada (7Y) - Bolo 1
Tempo {min) Temperatura experimental CG)
Temperatura calculada (^C)
Variação Tc-T*
0 98 98 0 1 76 91 15 2 83 85 2 3 60 79 19 4 67 74 7 5 69 69 0
Fonte: Autores (2018}
Como já era esperado o Bolo 1 apresentou a maior variação entre a temperatura
experimental e a calculada analiticamente. Para os demais bolos a variação não foi
tão grande, encontra-se dentro do esperado.
Tabefa 3: Retação entre temperatura experimental J7c) e calculada (Tc) - Boío 2
Tempo (min) Temperatura experimental f C )
Temperatura calculada (°C)
Variação Tc-Te
0 80 80 0 t 69 74 5 2 63 68 5 3 62 63 1 4 57 59 2 5 55 55 0
Fonte: Autores (2018)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
148
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Tabela 4: Relação eritre temperatura experimental (7^) e calculada (Tc) - Bolo 3
Tempo (min) Temperatura experimental (°C)
Temperatura calculada (°C)
Variaçao Tc-T
£
0 87 87 0 1 70 80 10 2 66 74 8 3 64 69 5 4 63 64 1 5 60 60 0
Fonte: Autores (2018)
Tendo em vista os aspectos mencionados, apresentamos a Figura 2, onde a função
em azul representa a EDO modelada para o Bolo 1, a função em vermelho representa
a EDO modelada para o Bolo 2 e a função em verde a EDO modelada para o Bolo 3.
1 Bolo, BOICL, } 1B°|03 L
\ \
30 30
0 no » (jO 00 100
Figura 2: Função que determina a variação da temperatura em cada um dos bolos
Fonte: Autores (2018).
Observando o comportamento das funções, verifica-se que nas proximidades do
tempo 75 minutos que as três funções tendem à temperatura ambiente correspodente.
Desse modo, mesmo com os dados dispersos de suas temperaturas experimentais,
observa-se que após determinado tempo a de redução da temperatura se estabilizou.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
149
* VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526 - 9364
Comparando-se o tempo em que os bolos levariam para chegar a temperatura am-
biente, sendo (em minutos) 75,6, 62 t3 e 65,8 para os boios 1, 2 e 3 respectivamente,
observamos que o bolo 1 se diferenciou bastante dos demais, porém os bolos 2 e 3,
que apresentaram um comportamento mais uniforme no resfriamento, tiveram apenas
3,5 minutos de diferença.
Desconsiderando então o Bolo 1 que sofreu maior interferência de erros, concluiu-
se que a modelagem através de equações diferenciais foi coerente para o sistema
analisado.
5, Conclusão
Ao longo da realização do presente trabalho, pode-se verificar a aplicabilidade da
Lei do Resfriamento de Newton, no resfriamento de bolos. Tais verificações foram rea-
lizadas pela elaboração de um experimento, do qual obteve-se dados que embasaram
a resolução analítica por meio de equações diferenciais ordinárias, nos possibilitando
comparar os resultados e verificar os erros cometidos no experimento, erros estes
que, conceituados e analisados, sua influência na precisão dos mesmos.
Nesse norte, a aplicação de equações diferenciais, pautada no domínio e com-
preensão de seus conceitos, nos possibilita melhor compreensão das soluções, na
possibilidade da construção de representações, como gráficos e tabelas, dentre ou-
tros, Viu-se que a matemática junto com a física se faz presente em várias situações,
onde, por meio da modelagem matemática é possível retratar experimentos físicos,
compreendendo numericamente as variações que os resultados podem sofrer, como
no presente trabalho em que foi demonstrado que no processo de resfriamento do
bolo, o comportamento da temperatura do mesmo, é dado de forma exponencial.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
150
* VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
Referências
[1] FONSECA, Isabel M, A. Erros experimentais uma abordagem
pedagógica - Parte L Disponível em https://www.eq.uc.pt/ fon-
seca/artigos/019_Erros_experimentais_l.pdf. Acesso em 24 junho 2018.
[2] PRESTON, D.W; DIETZ, E.R. Tipos de erros experimentais. Ed: John Wiley &
Sons. Nova York, 1991. pág.8.
[3] SOUZA, Luiz Fernando. Um experimento sobre a dílatacão térmica e a lei de
resfriamento. 25 f, TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Física, Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro- RJt 2007.
[4] SUSIN, Robson; CARGNELUTTI, Jocelaine; SEGOBAIA B. Pedro. Aplicação
da Lei do Resfriamento de Newton em blocos cerâmicos: modelagem,
resolução analitica e comparação prática dos resultados. I Semana da Ma-
temática da UTFPR - Toledo Perspectivas do Ensino e da Pesquisa em Ma-
temática. Toledo, 2013.
[5] TABACNIKS, Manfredo H. Conceitos básicos da teoria de erros. Insti-
tuto de Física da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003, Disponível
em: jhttp://fapjf.usp.br/ tabacník/tutoriais/tabacniKs_concbasteorerr_rev2ao7.pdfõ.
Acesso em: 24 jun, 2018.
[6] THOMAS, Lucas Rangel. O uso de equações diferenciais na modelagem de
sistemas naturais e outros. Faculdade UnB PlanaltinaT Universidade de Brasília.
Brasília, 2013.
[7] ZiLL, Dennis G. Equações Diferenciais, volume 1 / Dennis G. Zill, Michae! R.
Cullen; tradução Antonio Zumpano, revisão técnica: Antonío Pertence J r São
Paulo: Pkarson Makron Books, 2001.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
151
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO
CONCRETO DE ULTRA ALTO DESEMPENHO
(UHPC) COM A VARIAÇÃO DO TIPO DE CIMENTO PORTLAND
Ana Claudia Kronbauer 1
Carlos Eduardo Tino Balestra 2
Resumo
O UHPC é um concreto de ultra alto desempenho constituído de cimento, sílica ativa, areia
de quartzo, água e aditivos, e que devido ao empacotamento das suas partículas permite atingir
resistências acima de 150MPa, além de ser um concreto mais durável devido a sua baixa
permeabilidade. O cimento Portland é um aglomerante hidráulico que compõe o concreto e o
material responsável por lhe conferir resistência mecânica. Pesquisas feitas sobre o
comportamento do concreto de ultra alto desempenho revelam a importância de estudar a
influência do aglomerante em suas propriedades mecânicas. Este trabalho apresenta uma
revisão de literatura sobre os principais tipos de cimento Portland e a sua influência nas
propriedades mecânicas do UHPC. Os resultados mostram que a composição química e
mineralógica tanto quanto a finura do cimento, são fatores que influenciam diretamente na
resistência mecânica, e que para uma boa hidratação do cimento é indicado a combinação de
superplastificantes resultando em menor custo e melhorando o desempenho do concreto.
1 I n t r o d u ç ã o
Nos últimos anos, novos métodos construtivos e, principalmente novos materiais, têm sido
pesquisados com o intuito de obter estruturas com maior durabilidade e melhor desempenho.
Assim o concreto convencional vem gradativamente sendo substituído por concretos de alto
desempenho, que atinjam maiores resistências mecânicas e tenham maior vida útil. O concreto
convencional é definido como um material constituído por agregados graúdo e miúdo que são
envolvidos por uma pasta composta por água, cimento e espaços vazios, conforme apresenta
Bauer (2008). A resistência deste tipo de concreto é limitada pela composição da matriz,
particularmente pelo teor de cimento. Podem ser adicionados ao concreto convencional
aditivos, pigmentos, fibras, agregados especiais e adições minerais, visando obter características
específicas do concreto. (HELENE; ANDRADE, 2010).
1 Acadêmica de Engenharia Civil - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - [email protected] 2 Prof. Dr. - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - [email protected]
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
152
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O principal constituinte do concreto é o cimento Portland, que por sua vez é definido pela NBR-
5732 (1991) como um aglomerante hidráulico que pode ser obtido pela moagem do clínquer.
Durante esse processo pode ser adicionado material pozolânico, escórias granuladas de alto
forno e /ou material carbonático. Dependendo da composição mineralógica e da porcentagem
de cada matéria prima utilizada na mistura, o cimento pode apresentar propriedades específicas
e adequadas para diversas situações, resultando assim em vários tipos de cimento.
De acordo com Silva (1994) os principais tipos de cimento são: cimento Portland comum,
cimento Portland composto, cimento Portland de Alto Forno, Cimento Portland Pozolânico,
Cimento Portland de alta resistência inicial e Cimento Portland resistente a sulfatos.
Cada tipo cimento, possui uma composição química e mineralógica diferente, bem como o
tamanho das partículas, que caracteriza a finura do material. Desta forma as propriedades
mecânicas de um concreto podem ser afetadas dependendo de qual cimento é utilizado.
Para concretos de alto desempenho, como é o caso do UHPC (Concreto de Ultra Alto
Desempenho), que é constituído de cimento, sílica ativa, areia de quartzo, água e aditivos, os
materiais utilizados para sua execução são de extrema importância, pois é devido ao
empacotamento das suas partículas que esse material atinge resistências acima de 150MPa.
A densidade de empacotamento das partículas do UHPC proporciona maior durabilidade ao
material, o que consequentemente torna mais durável as estruturas. Essa característica reduz
os custos de manutenção e torna a construção mais sustentável. (ALKAYSI et al., 2015).
Além do UHPC apresentar uma resistência à compressão mais elevada, comparado ao concreto
convencional, ele dispõe de uma resistência a tração maior, principalmente com a adição de
fibras. Além disso, seu módulo de elasticidade e ductilidade são maiores, apresentando
comportamento menos frágil do que o concreto convencional. (SHAFIEIFAR; FARZAD;
AZIZINAMINI, 2017).
Essas propriedades permitem a aplicação do UHPC em vários tipos de estruturas. Lafarge-Holcim
(2018), empresa multinacional francesa de cimentos, recomenda a aplicação do UHPC para
pavimentação, estruturas de pontes, estruturas para torre de energia eólica, além da
possibilidade de ser moldado no local ou através de estruturas pré-moldadas. As figuras 1, 2 e 3
apresentam algumas aplicações do UHPC.
De modo geral este trabalho tem o objetivo de apresentar uma revisão de literatura sobre os
principais tipos de cimento Portland e a sua influência nas propriedades mecânicas do UHPC.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
153
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 1: Apl icação d o UHPC na r e c u p e r a ç ã o d e u m p a v i m e n t o F o n t e : Lafarge-Holc im (2018)
Figura 3: Aplicação do UHPC em torres de energia eólica Fonte: Lafarge-Holcim (2018)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
154
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2 R e v i s ã o B i b l i o g r á f i c a
2.1 E f e i t o d o S u p e r p l a s t i f i c a n t e n o UHPC
Para Schrofl, Gruber e Plank (2012) as principais características do UHPC são: a otimização do
empacotamento das partículas, uma relação água cimento muito baixa, inferior a 0,25, e uma
alta resistência à compressão, atingindo valores maiores do que 150 MPa. Para ocupar os
espaços vazios entre as partículas e os agregados, são utilizados materiais finos como o pó de
sílica, por exemplo, que é composta por partículas que tem 1/10 do tamanho do cimento
normalmente utilizado.
De acordo com Schrofl, Gruber e Plank (2012) a adição de pó de sílica diminui a trabalhabilidade
do concreto, e por isso é necessário a utilização de superplastificantes. Os aditivos compostos
de policarboxilato se mostraram eficazes na dispersão das partículas do UHPC.
Os autores fizeram ensaios utilizando dois tipos de superplastificantes, o PCE (Éter
Policarboxilato) à base de APEG (Éteres Alílicos de Polioxietileno) e à base de MPEG (Éster do
ácido metacrílico), misturados ao cimento e à sílica. O objetivo foi verificar a adsorção de cada
aditivo com cada um dos materiais cimentícios, e posteriormente fazer a combinação dos
superplastificantes e aplicá-lo na mistura do UHPC.
Na figura 4 observa-se a adsorção de cada um dos superplastificantes com a partícula de cimento
e com a partícula de sílica. Já na figura 5 é apresentado a combinação dos dois aditivos e a sua
adsorção nos grãos de cimento e de sílica.
Figura 4: Esquematização de diferentes coberturas superficiais de c imento e micro sílica por PCE 11 baseado em éster de ácido metacrílico e PCE baseado em aliléter 21.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
155
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
F o n t e : Schrofl , G r u b e r e Plank (2012)
Figura 5: Esquematização da adsorção de uma combinação de aditivos no c imento e na micro sílica.
F o n t e : Schrofl , G r u b e r e Plank (2012)
Os resultados obtidos indicam que a combinação de MPEG e APEG, promove a adsorção dos dois
tipos de PCE tanto no cimento quanto na sílica, e esse efeito permite que sejam utilizadas doses
menores de superplastificante mantendo a mesma fluidez que os PCEs individuais.
2.2 E s t u d o s s o b r e o e f e i t o d o s t i p o s d e c i m e n t o e a d i ç õ e s m i n e r a i s n o
UHPC
Alkaysi et al. (2015) avaliou a durabilidade e a resistência à compressão do UHPC a
partir de um traço base em que foram feitas alterações na quantidade de sílica e de cimento,
para então verificar a influência desses materiais na resistência à compressão do concreto.
Os traços executados estão apresentados na tabela 1. Os autores utilizaram três tipos de
cimento, o cimento branco (comum), cimento tipo V e cimento tipo I com escória de alto forno.
Para esses três tipos de cimento, utilizou-se pó de sílica entre 0% e 25% em relação ao cimento.
Além disso foi utilizado o aditivo redutor de água Advacast 575 na proporção de 1,35% do
cimento para todas as misturas. Utilizou-se também 1,5% de fibras de aço e
duas granulometrias diferentes de areia de sílica, a F100, que contém partículas com tamanho
médio de 100^m, e a F12, com tamanho médio dos grãos de 500^m.
Para avaliar a resistência à compressão de cada mistura foram feitos 6 corpos de prova no
formato de um cubo com medidas de 50x50x50mm, sem vibração. Cada amostra foi submetida
a um carregamento de 1,12kN/s até seu rompimento. (ALKAYSI et al., 2015).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
156
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Como conclusão os autores observaram que em relação ao tipo de cimento, as misturas feitas
com cimento Portland Tipo I / GGBS apresentaram menor permeabilidade, seguida pelas
amostras feitas com cimento branco e por último com o cimento Portland tipo V.
Tabela 1: Traços utilizados para o UHPC
Nome Cimento Branco Sílica Ativa Pó de Sílica Fibras (%) F100 F12
W - 25 1,00 0,25 0,25 1,50 0,26 1,06
W - 15 1,00 0,25 0,15 1,50 0,29 1,14
W - 00 1,00 0,25 0,00 1,50 0,31 1,26
Cimento Tipo V
V - 25 1,00 0,25 0,25 1,50 0,26 1,05
V - 15 1,00 0,25 0,15 1,50 0,28 1,14
V - 00 1,00 0,25 0,00 1,50 0,31 1,26
Cimento tipo I-GGBS
IG - 25 1,00 0,25 0,25 1,50 0,26 1,06
IG - 15 1,00 0,25 0,15 1,50 0,28 1,14
IG - 00 1,00 0,25 0,00 1,50 0,31 1,26
F o n t e : A d a p t a d o d e A lkays i e t a l . ( 2 0 1 5 )
Os traços que contém 25% de pó de sílica apresentaram uma permeabilidade um pouco maior
do que as amostras com um teor 15%. Sendo que as misturas com 0% de sílica são menos
permeáveis.
Por fim as variações no teor de sílica tiveram pouco efeito sobre o desempenho de durabilidade
das misturas do UHPC, e, embora tenha afetado levemente a densidade de empacotamento das
partículas, a mesma ficou próximo da densidade ótima. Dessa forma Alkaysi et al. (2015) sugere
que o pó de sílica é um material que poderia ser eliminado para diminuir os custos deste
concreto, porém pesquisas mais avançadas devem ser feitas para confirmar a possibilidade de
eliminação da sílica do UHPC, de forma que não interfira nas propriedades mecânicas deste
material.
Já Dils, Boel e Schutter (2013) ressaltam em suas pesquisas que o bom desempenho do UHPC é
resultado da otimização na densidade de empacotamento das partículas, da boa escolha do
cimento e superplastificante, e também de um processo de mistura adequado.
Para os autores, ao utilizar um cimento com baixo teor de álcalis (K2O e Na2O) consegue-se uma
boa trabalhabilidade. No entanto um cimento com alto teor alcalino resulta em um slump maior,
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
157
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
devido que e s s e s álcalis são a l tamente solúveis e c o m o consequência, os sulfatos c o m p e t e m
com o superplastificante para o consumo das moléculas de Aluminato Tricálcico (C3A). Portanto
para ter um concreto com alta durabilidade, Dils, Boel e Schutter (2013) recomendam um teor
moderado de óxido sulfúrico (SO3) e álcali.
A escolha de um bom superplastificante t a m b é m é importante, e para o UHPC, Dils, Boel e
Schutter (2013) indicam uma combinação de aditivos à base de éter policarboxilato (PCE), um
para a dispersão do c imento e outro para a dispersão do pó de sílica.
Dils, Boel e Schutter (2013) executaram a mistura do UHPC com 6 tipos de cimentos,
e analisaram a resistência à compressão. O traço base utilizado nos ensaios é apresentado na
tabela 2.
Tabela 2: Traço base do UHPC
C SF S F1 F2 SP W
1 0 ,23 1,1 0 ,273 0 ,117 0 ,0185 0 ,21
F o n t e : A d a p t a d o d e Dils , B o e l e S c h u t t e r ( 2 0 1 3 )
Sendo que:
C = Cimento;
SF = Sílica Ativa;
S = Areia de Quartzo;
F1 = Areia de Quartzo com diâmetro médio de 58,52^m;
F2 = Areia de Quartzo com diâmetro médio de 3,41^m;
SP = Superplastificante;
W = Água;
Para cada tipo de c imento os autores utilizaram uma quantidade específica de
superplastificante. A figura 6 apresenta a quantidade de aditivo utilizado e o slump para cada
cimento. Essa diferença da quantidade de aditivo para cada tipo de c imento é explicada pela
diferença da composição química e finura do cimento.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
158
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Figura 6: Influência d o t ipo de c i m e n t o no t e s t e de slump.
F o n t e : Dils, B o e l e S c h u t t e r ( 2 0 1 3 )
Os autores aplicaram vácuo nas misturas para poder analisar a sua influência nas propriedades
mecânicas do UHPC. A tabela 3 apresenta as resistências à compressão para cada tipo de
cimento, tanto na condição de vácuo quanto na condição de pressão atmosférica.
Tabela 3: Influência do vácuo na resistência à compressão do UHPC
C1 C2 C3 C4 C5 C6
fc ,7d- 1013 mbar (MPa)
fc,7d - 50 mbar (MPa)
fc,28d - 50 mbar (MPa)
104,9 104,3 107,1
105,5 112,4 115,4
137,9 122,3 146,0
110,8 76,8 92 ,6
125.4 78,2 86,5
158.5 115,9 -
F o n t e : A d a p t a d o d e Dils, B o e l e S c h u t t e r ( 2 0 1 3 )
Portanto Dils, Boel e Schutter (2013) concluiram que para o UHPC é indicado utilizar um c imento
com baixo teor de Aluminato Tricálcico (C3A), e uma proporção adequada de materiais alcalinos.
Verificou-se que a resistência à compressão foi maior nas misturas que apresentaram menor
quantidade de ar incorporado, isso porque a aplicação de vácuo aumenta a densidade do
concreto.
Por fim, Dils, Boel e Schutter (2013) afirmam que para obter um concreto de qualidade é
fundamental reduzir a quantidade de ar incorporado, pois essa característica influencia
diretamente na trabalhabilidade da mistura e na resistência final do material.
Já nos es tudos de Xiao, Deng e Shen (2014), os autores ressaltam que, comparado com o
concreto convencional, compos to por agregados, c imento e água, o UHPC possui maior
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
159
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
resistência à compressão, maior resistência à tração e maior ductilidade, quando fibras metálicas
ou poliméricas são adicionadas.
Analisando as propriedades mecânicas do UHPC ao substituir uma quantidade de cimento por
misturas minerais de cinzas volantes e escória de alto forno sob diferentes condições de cura,
descobriu-se que as misturas minerais podem substituir uma parte da quantidade de cimento
para manter as propriedades e reduzir custos. (XIAO; DENG; SHEN, 2014).
Há alguns problemas no uso da sílica ativa no UHPC, entre eles está a dificuldade em controlar
a qualidade da sílica e o preço elevado do produto final devido ao baixo rendimento para a
indústria de concreto. Por esses motivos Xiao, Deng e Shen (2014) elaboraram uma mistura
utilizando cimento superfino e eliminando a sílica ativa do UHPC. Para os autores o cimento
superfino e os aditivos minerais desempenham a função básica da sílica ativa, que é preencher
os vazios e reforçar a reologia do concreto, portanto a mesma pode ser substituída pelo cimento
superfino.
De acordo com Xiao, Deng e Shen (2014) foram utilizados quatro tipos de materiais cimentícios,
o cimento superfino (SC), cimento Portland comum (OPC), cinzas volante e escória de alto forno.
Foram feitas 7 misturas, e em cada uma delas foi feita a variação de um parâmetro de cada vez,
a água, a areia, o superplastificante, o tamanho dos agregados, a quantidade de cinzas volantes,
a quantidade de escória de alto forno e a quantidade de cimento superfino.
Nos resultados obtidos a relação água/cimento que teve o melhor desempenho foi
em 0,17, pois reduziu o teor de ar incorporado e melhorou a densidade de empacotamento,
consequentemente a resistência à compressão foi maior.
Já para a relação areia/cimento a melhor proporção é de 1:1,1, considerando uma
trabalhabilidade adequada e um baixo custo. Com relação ao superplastificante, os autores
concluíram que 1,5% em relação ao cimento, é um teor ideal visto que apresentou uma boa
eficiência e baixo custo.
Quanto ao tamanho do agregado, obteve-se uma resistência à compressão mais elevada quanto
utilizou-se o agregado com tamanho da partícula entre 0,16 e 0,63mm, isso porque deixou a
mistura mais homogênea.
Para Xiao, Deng e Shen (2014) quando se substitui o cimento superfino por 20% de cinzas
volantes, a resistência à compressão é mantida, mas se aumentar a quantidade de cinzas
volantes para 40% a resistência a compressão diminui. Por outro lado, quando o cimento
superfino for substituído por 20% e 40% de escória de alto forno granulada, a resistência a
compressão é maior do que sem adições, isso se deve ao fato de que mais poros capilares foram
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
160
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
preenchidos pela escória de alto forno, portanto ela tem o mesmo efeito que o cimento
superfino.
Conforme Xiao, Deng e Shen (2014) a melhor e a segunda melhor resistência a compressão
ocorre quando é feita uma substituição total de 40% de adições minerais, sendo 30% de escória
de alto forno e 10% de cinzas volantes ou só com 40% de escória de alto forno. A resistência à
compressão corresponde a 160MPa e 158MPa, respectivamente. Essas duas proporções são
sugeridas considerando a resistência, trabalhabilidade e custo do UHPC com cimento superfino.
3 C o n s i d e r a ç õ e s F i n a i s
Este artigo teve como objetivo principal analisar a influência do tipo de cimento na resistência à
compressão do concreto de ultra alto desempenho (UHPC) através de uma revisão de literatura
sobre o assunto. As principais conclusões sobre o assunto são:
1. Os cimentos com partículas menores apresentam menor permeabilidade e maior
resistência mecânica. Porém ao comparar um cimento superfino com um cimento com
teor de adições, como a escória de alto forno, esse segundo cimento confere ao concreto
uma resistência à compressão maior, isso ocorre devido a composição química e
mineralógica que as adições proporcionam ao cimento, além de que sua finura preenche
os poros capilares.
2. É consensual na literatura que fazendo uma combinação de aditivos superplastificantes,o
resultado obtido com relação ao envolvimento da pasta com as partículas do cimento
é benéfico, pois reduz os custos e mantém a eficiência do concreto.
3. Além de considerar a granulometria do cimento para otimizar as propriedades do UHPCé
importante analisar a sua composição química, pois a partir das análises feitas por Dils,
Boel e Schutter (2013), um cimento com baixo teor de aluminato tricálcico e uma
proporção equilibrada de materiais alcalinos contribui para um melhor desempenho do
concreto.
R e f e r ê n c i a s
ALKAYSI, M.; EL-TAWIL, S.; LIU, Z.; HANSEN, W. Effects of silica powder and cement type on durability of ultra high performance concrete (uhpc). Cement and Concrete Composites, v. 1, n. 1, p. 47 -56 , 2015.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
161
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
BAUER, L. A. F. Materiais de Construção. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
DILS, J.; BOEL, V.; SCHUTTER, G. D. Influence of cement type and mixing pressure on air content, rheology and mechanical properties of uhpc. Construction and Building Materials, v. 1, n. 1, p. 455 -463 , 2013.
HELENE, P.; ANDRADE, T. Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais - Capítulo 29: Concreto de Cimento Portland. Rio de Janeiro: IBRACON, 2010.
LAFARGE-HOLCIM. Innovative UHPC Solutin. 2018. Disponível em: <https: / /www.ductal .com>. Acesso em: 08 de agosto de 2018.
NBR-5732. Cimento Portland Comum. Rio de Janeiro: ABNT, 1991.
SCHRoFL, C.; GRUBER, M.; PLANK, J. Preferential adsorption of polycarboxylate superplasticizers on cement and silica fume in ultra-high performance concrete (uhpc). Cement and Concrete Composites, v. 1, n. 1, p. 1401-1408 , 2012.
SHAFIEIFAR, M.; FARZAD, M.; AZIZINAMINI, A. Experimental and numerical study on mechanical properties of ultra high performance concrete (uhpc). Construction and Building Materials, v. 1, n. 1, p. 402-411 , 2017.
SILVA, R. J. d. Análise Energética de Plantas de Produção de Cimento Portland. Campinas: Universidade Estadual de Campinas - Faculdade de Engenharia Mecânica, 1994.
XIAO, R.; DENG, Z. cai; SHEN, C. Properties of ultra high performance concrete containing superfine cement and without silica fume. Journal of Advanced Concrete Technology, v. 12, n. 1, p. 73-81 , 2014.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
162
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
CLASSIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE COMPOSTOS UTILIZANDO DADOS DE ESPECTROMETRIA DE MASSA E
ÁRVORES DE DECISÃO
Carolyne Izaira Prates Crivelli3
Renato Eising4
Jefferson Gustavo Martins5
Resumo O objetivo des te projeto consiste na classificação de compostos orgânicos por meio da espectrometria de massas , bem como o algoritmo mais eficiente para isso. Foram coletados os dados dos espectros de massa de 11 compostos nas b a s e s NIST, Massbank e SDBS, os quais geraram um banco de dados com 44 amostras. Este banco de dados foi testado com 7 algoritmos de árvores de decisão disponibilizados pela ferramenta Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) na tentativa de identificar aquele com maior porcentagem de acertos na classificação. Como resultado, foi possível criar um banco de dados para os 11 compostos com dados confiáveis. Além disto, nos tes tes realizados, os algoritmos RandomForest, RandomTree e HoeffdingTree obtiveram a s melhores taxas e conseguiram distinguir totalmente os compostos, enquanto que o pior resultado ficou com DecisionStump com cerca de 31% de acertos, sendo que tais taxas o próprio algoritmo calcula. Diante dos resultados obtidos conclui-s e que os algoritmos RandomForest, RandomTree e HoeffdingTree s ão os mais eficientes para o problema aqui abordado. Palavras-chave: Algoritmos. WEKA. Compostos orgânicos.
1 Introdução
A bioquímica usa a identificação de compostos químicos, para determinar
quais metabolitos secundários (antibióticos e substâncias antimicrobianas) que
podem ser produzidas por uma bactéria. Esse processo de identificação também
pode ser aplicado na engenharia ambiental, sendo utilizada para detectar
resíduos farmacêuticos potencialmente perigosos, os quais podem induzir
alterações no material genético de se res vivos. Em outras á reas também é
3Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Acadêmica do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. 4Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Docente do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. 5Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Docente do Curso Tecn. Sistemas para Internet.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
163
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
possível observar aplicações práticas de tal processo, tal como na ciência
forense, cujo emprego na análise de compostos toxicológicos pode ajudar na
resolução de crimes. Assim, é possível observar que em diversas á reas podem
s e beneficiar da análise de compostos orgânicos, sendo primordial o ace s so a
métodos eficientes de identificação de compostos (PETTA, 2008).
A espectrometria de m a s s a s é uma ferramenta analítica que detecta e
identifica moléculas pela medição da razão massa/carga de íons, o que permite
a caracterização da sua estrutura. Comparada a outras técnicas, como a
Ressonância Magnética Nuclear (RMN), é uma técnica de custo mais baixo e
mais presente em laboratórios analíticos. Todavia, é uma técnica de
interpretação mais complexa e normalmente a interpretação dos espectros de
massa é realizada sem auxílio computacional, o que faz com que a análise seja
lenta e suscetível a erros humanos, além de tornar o exame de espectros
complexos de difícil execução.
Nos espectros de massa são apresentadas a s quebras da molécula que
levam a formação íons carregados positivamente, apresentados em um gráfico
de intensidade relativa versus sua razão massa/carga. No processo de
interpretação manual, primeiramente, é observado o pico de maior razão
massa/carga, o íon molecular, onde no seu eixo horizontal identifica-se a massa
molecular do composto. Em seguida, é analisado o pico base, que é o pico de
maior intensidade no espectro, que corresponde ao fragmento mais estável. No
caso da acetona (C3H6O) representada na Figura 1, o pico extremo a direita
mostra que es te possui uma massa/carga de 58, e quando ocorre a quebra da
molécula - neste caso por clivagem alfa - aparece um pico em m/z de 43, isto
é, efetuando a subtração da m a s s a total pela quebra tem-se que for 15 de m/z
foram 'retirados' da estrutura total, e o sendo o fragmento perdido um CH3 (m/z
=15).
Atualmente existem alguns softwares como o Sequest (YATES, 2018) e o
Mascot (MATRIX, 2018), sendo utilizados para análise de proteínas. Ambos
utilizam o método de correlação cruzada, sendo que o Sequest utiliza o algoritmo
MOWSE (HAROUN e SAHEER, 2017). Todavia, es tes softwares s ão capazes
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
164
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
de identificar apenas proteínas e não compostos que englobam todos os grupos
funcionais e estruturas menores.
FIGURA 1 : ESPECTRO DE MASSA DA ACETONA.
FONTE: NIST (2018).
Data Science é um conjunto de técnicas e ferramentas de diversas á reas
do conhecimento cujo objetivo é converter um grande conjunto de dados em
padrões por meio de métodos estatísticos (ABERNETHY, 2010a). A Waikato
Environment for Knowledge Analysis (WEKA) é uma ferramenta de software
muito utilizada em análises químicas que permite seu uso por meio de um
Application Programming Interface (API), ou através de outro programa de
computador que utilize suas funcionalidades ou por meio de uma interface
gráfica própria (ABERNETHY, 2010b). O WEKA disponibiliza, dentre suas
ferramentas, o método de classificação por árvores de decisão, retratado
visualmente por nós e ramos. Os nós principais localizados no topo e os nós
internos realizam testes nos valores dos atributos fundamentais, dando origem
a vários ramos e criando folhas em suas pontas que são representadas pelos
resultados do modelo preditivo (MEGETO et al., 2014).
O objetivo des te projeto é classificar compostos orgânicos englobando
todos os grupos funcionais com estruturas de baixa massa molar, por meio dos
dados de espectrometria de massas . Também é utilizado Data Science, mais
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
165
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
especificamente a técnica de árvores de decisão. Neste contexto, os algoritmos
disponibilizados na WEKA que empregam o modelo árvores de decisão foram
analisados para averiguar qual deles é capaz de efetuar a identificação de
compostos químicos de forma mais eficiente. Diante da importância des te tema,
o presente trabalho foca a identificação de compostos orgânicos por meio do
reconhecimento de características b a s e a d a s em espectrometria de massas , da
técnica baseada em árvores de decisão e da ferramenta WEKA. A Seção 2
apresenta os materiais e métodos. Os resultados e d iscussões são
contemplados na Seção 3 e a s conclusões finais es tão na Seção 4.
2 Material e métodos
Inicialmente foram escolhidos 11 compostos orgânicos com estruturas
simples contendo até 9 carbonos e 2 ligações, os quais englobam grupos
funcionais como: cetonas, ácido carboxílico, álcool, aldeídos, aminas e haletos.
Os compostos escolhidos foram 3-pentanona, acetato de etila, ácido acético,
benzeno, ácido butírico, dimetilamina, etanol, propionaldeído, ciclo hexanona,
acetona e tolueno.
Foram coletados os valores de massa/carga e intensidade relativa de
cada pico dos espectros de massa das bases de dados National Institute of
Standards and Technology - NIST (NIST, 2018), Massbank (MASSBANK, 2018)
e SDBS (SDBS, 2018). O a c e s s o ao banco de dados da NIST foi ocorreu por
meio do software disponibilizado pelo próprio NIST, enquanto a s outras duas
b a s e s foram a c e s s a d a s pelos s eus respectivos sites oficiais. Foram geradas
tabelas para cada componente com as informações encontradas. Para os casos
onde alguns picos foram encontrados em uma determinada base de dados, mas
não nas outras, na base em que os picos não foram encontrados considerou-se
a referida informação com a intensidade relativa como zero. Outra
particularidade ocorreu para compostos como o etanol, ácido acético
dimetilamina, 3-pentanona, tolueno e propionaldeído. Para estes, s e na mesma
linha da tabela a s intensidades relativas tivessem mais do que um zero, aquele
pico era desconsiderado. Já para a acetona, cicloexanona, benzeno, acetato de
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
166
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
etila e ácido butírico, que tiveram mais que 3 espectros encontrados, caso
existisse mais da metade de zeros na mesma linha da tabela, aquele pico era
considerado como irrelevante.
A partir dos 11 compostos mencionados, foi gerada uma base com 44
amostras (Quadro 1), sendo que cada composto tem pelo menos 3 amostras.
Criou-se então um arquivo no padrão Attribute-Relation File Format (ARFF) com
61 atributos e uma classe. Como alguns espectros possuem até 30 picos, 30
dentre os 61 atributos foram destinados aos valores de massa/carga, outros 30
representam os valores de intensidade relativa, 1 refere-se à massa , além é claro
de 1 para a c lasse com o nome dos compostos. Dada a extensão dos dados, no
Quadro 1, a s reticências (...) significa que há uma sequência de atributos ou
instâncias (na vertical) ou valores/medições (na horizontal). Nesta
representação, a s vírgulas separam os valores das medições obtidas para cada
um dos 61 atributos.
Posteriormente, foram tes tados os dados do arquivo com 7 algoritmos que
utilizam classificação por árvores de decisão, sendo estes: RandomForest,
RandomTree, REPTREE, LMT, J48, HoeffdingTree e DecisionStump para
averiguar qual era o mais eficiente para identificação de compostos. Para todos
os testes, utilizou-se 70% das amostras para treinamento e 30% para testes.
3 Resultados e discussão
A Tabela 1, a seguir, contém os resultados dos tes tes com os 7 algoritmos
baseados em árvore de decisão para os espectros de massa dos compostos: 3-
pentanona, acetato de etila, ácido acético, benzeno, ácidos butírico,
dimetilamina, etanol, propionaldeído, ciclo hexanona, acetona e tolueno. Cada
linha da tabela apresenta a s porcentagens de classificação correta e os erros
relativos fornecidos pelo WEKA.
A partir da Tabela 1 pode-se observar que os algoritmos RandomTree,
RandomForest, Hoeffding TREE e LMT obtiveram maiores eficiência nos tes tes
de classificação, com des taque aos três primeiros supracitados em que
classificaram corretamente todos os compostos. Já o REPTREE, J48 e o
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
167
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
DecisionStump foram menos eficientes, principalmente o último. Para
compreender melhor os acertos e erros de classificação, foram construídas
matrizes de confusão relacionando a classe real (linha) com a c lasse predita
(coluna) pelo sistema (DAVIS e GOADRICH, 2006).
Tabela 1 - Classificação dos algoritmos.
Algoritmo Correta Erro relativo RandomForest 100,00 0,00 RandomTree 100,00 0,00
REPTREE 53,85 0,85 LMT 92,31 0,08 J48 69,23 0,44
HoeffdingTree 100,00 0,00 DecisionStump 30,77 2,24
Fonte: Autoria própria (2018).
A Tabela 2, a seguir, apresenta a s matrizes de confusão construídas para
os três algoritmos menos eficientes. Diante da definição anterior para matriz de
confusão, tem-se que os algoritmos que acertaram todas a s amostras de tes tes
produziram matrizes diagonais, pois a s c lasses reais (linha - a-k) e a s c lasses
preditas (coluna - a-k) para a s instâncias de teste eram a mesma e assim a s
demais posições ficaram com o valor zero. Por meio das matrizes de confusão
apresen tadas na Tabela 2, percebe-se que o J48 não identificou etanol, ácido
butírico e tolueno; o REPTREE não classificou corretamente o etanol,
dimetilamina 3-pentanona, ácido butírico, tolueno, propionaldeído e
cicloexanona; já o DecisionStump só identificou o benzeno.
4 Conclusão
A coleta dos dados dos espectros de massa foi um processo trabalhoso,
haja vista a e s ca s sez de banco de dados confiáveis para melhor classificação
dos compostos. Além disto, alguns compostos simples não es tão incluídos em
determinados bancos que foram usados no projeto. Ao final, foi possível criar um
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
168
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
banco de dados para os 11 compostos com dados confiáveis para a condução
dos experimentos.
Diante dos resultados dos algoritmos, foi visto que alguns d e s s e s
possuem 100% de precisão para os compostos utilizados. Com um software livre
e de fácil integração por meio de API, é possível tomar a adoção desta
metodologia de identificação mais acessível aos praticantes de análises de
compostos.
Tabela 2 - Matriz de confusão dos algoritmos.
J48 REPTREE DecisionStump Composto a b c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k Composto
10000000000 10000000000 00000000010 a ácido acético 00000200000 00002000000 00000000020 b etanol 00100000000 00000100000 00000000010 c dimetilamina 00010000000 00000010000 00000010000 d 3-pentanona 00000000000 00000000000 00000000000 e Ácido butírico 00000100000 00000100000 00000010000 f acetato de etila 00000010000 00000010000 00000010000 g benzeno 00000000000 00000000000 00000000000 h tolueno 20000000000 00002000000 00000000020 i propionaldeido 00000000030 00000000030 00000000030 j ciclo hexanona 00000000001 00000000001 00000010000 k acetona
Fonte: Autoria própria (2018).
Portanto, a próxima etapa será englobar mais compostos ao banco de
dados e construir um aplicativo para que os usuários insiram os dados referentes
ao composto a ser identificado pelo software, utilizando um dos três algoritmos
que foram mais eficientes. Também será criado um aplicativo utilizando a
linguagem de programação Python com interface gráfica própria que permitirá
que o usuário possa inserir os dados dos compostos que deseja identificar e
utilizará os algoritmos implementados na WEKA.
REFERÊNCIAS
ABERNETHY, M. Mineração de dados com WEKA, parte 1: introdução e regressão. 2010a. Disponível em: https://www.ibm.com/developerworks/br/opensource/library/os-weka1/index.html. Acesso em: 23 de jul.de 2018.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
169
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ABERNETHY, M. Mineração de d a d o s c o m WEKA, parte 2: classificação e a rmazenamento em cluster. 2010b. Disponível em: https://www.ibm.com/developerworks/br/opensource/library/os-weka2/index.html. Acesso em: 23 de jul.de 2018.
DAVIS, J. e GOADRICH, M. The relationship between precision-recall and roc curves. Technical report #1551, University of Wisconsin Madison, January 2006.
HAROUN, N. S. e SAHEER, E. G. Maldi-tof and tandem MS for clinical microbiology. John Wiley and Sons Ltd. Weinheim: Wiley. p. 648. 2017.
MASSBANK High Resolution Mass Spectral Database . 2018. Disponível em: https:/ /massbank.eu/MassBank/. Acesso em: 25 de jul. de 2018.
MATRIX SCIENCE. Mascot. 2018. Disponível em: http://www.matrixscience.com/distiller_download.html. Acesso em: 28 de jul.de 2018.
MEGETO, G.A.S.; OLIVEIRA, S.R. de M.; PONTE, E.M.D.; MEIRA, C.A.A. Árvore de d e c i s ã o para c lass i f i cação de ocorrências de ferrugem asiática em lavouras comercia is c o m b a s e em variáveis meteorológicas . Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.34, n.3, p.590-599, 2014.
NIST MS search program 2.0. 2018. Disponível em: https:/ /chemdata.nist .gov/mass-spc/ms-search/. Acesso em: 28 de jul.de 2018.
PETTA, T. Técnicas modernas em espectrometria de m a s s a s apl icadas ao i so lamento de herbicidas produzidos por microrganismos. 2008. Dissertação (Mestrado em ciências) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.
SDBS Spectral Da tabase for Organic Compounds. 2018. Disponível em: https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi. Acesso em: 25 de jul de 2018.
YATES LABORATORY. Seques t . 2018. Disponível em: http://fields.scripps.edu/yates/wp/?page_id=17. Acesso em: 28 de jul.de 2018.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
170
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ANÁLISE DE ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA INCORPORAÇÃO DE TÉCNICAS SUSTENTÁVEIS EM HABITAÇÕES DE
INTERESSE SOCIAL
Chih Jou Chang 6
Lúcia Bressiani7
Eduardo Cesa r Amancio2
Maria Isabel lijima2
Natalia Luiza Cavichioli8
1 Resumo
No cenário mundial, o uso de técnicas sustentáveis em edificações têm s e tornado uma forte aliada ao desenvolvimento de comunidades. Essa técnica, quando aplicada em residências de interesse social, além do caráter ambiental, ganha também um papel social e transformador. Este trabalho tem como objetivo analisar es tudos desenvolvidos na á rea de sustentabilidade na construção de habi tações de interesse social (HIS), voltado para a viabilidade econômica dos projetos. Para tanto, analisou-se três trabalhos voltados para e s s a vertente. Como resultado, observou-se que o custo inicial para instalação dos e lementos sustentáveis, corresponde a um acréscimo de aproximadamente 25% em relação à s construções convencionais. Entretanto, e s te valor possui um retorno financeiro ao longo da vida útil da residência, a través da economia no consumo de água e de energia elétrica. Des taca-se também a prática social e ambiental que e s s a s construções desempenham, devido ao uso racional dos recursos naturais e a inclusão social. Palavras-chave: Habitações sustentáveis. Desenvolvimento sustentável. Inclusão social.
Abstract
In the world scenario, the use of sustainable techniques in buildings has become a strong ally to the development of communities. This technique, when applied in homes of social interest, bes ides the environmental character, also gain a social and transforming role. This work aims to analyze different studies developed in the area of sustainability in the construction of housing of social interest, focused on the economic viability of the projects. For that, three papers were analyzed for this aspect . As a result, it was observed that the initial cost for installing the sustainable e lements corresponds to an increase of approximately 25% over conventional constructions. However, this value has a financial return over the life of the residence, through savings in water and electricity consumption. The social and environmental practice that these constructions play due to the rational use of natural resources and social inclusion also s tands out. Keywords: Sustainable housing. Sustainable development. Social inclusion.
6 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Graduandos do curso de Engenharia Civil 7 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Professora do curso de Engenharia Civil 8 Universidade Estadual de Ponta Grossa - Especializanda de Engenharia e Gestão Ambiental
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
1 Introdução
O termo desenvolvimento pode ser facilmente confundido com
crescimento econômico, o qual por sua vez, d e p e n d e do consumo energético e
de recursos naturais. Em 1988, a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e de
Desenvolvimento (CMMAD) definiu o conceito de desenvolvimento sustentável
como "aquele que a tende à s necess idades dos presen tes sem comprometer a
possibilidade de a s ge rações futuras sat isfazerem s u a s próprias necess idades"
(BRANDALISE E NAZZARI, 2012).
Os impactos c a u s a d o s pelo setor da construção civil chegam a
aproximadamente metade da energia consumida e 70% dos materiais extraídos
atualmente, além de ser um grande gerador de resíduos (CORBELLA E
YANNAS, 2003). A partir disso, percebeu-se a necess idade de mudanças de
perspectivas de projeto, buscando a adoção do desenvolvimento sustentável nas
construções.
Nos últimos anos, o déficit habitacional brasileiro vem chamando a tenção
do governo federal, de modo que es te criou diversas fer ramentas e s i s temas de
financiamento para a construção de moradias para famílias de baixa renda
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2012). E s s e s empreendimentos, na maioria
dos casos , não abrangem preocupações com o impacto ambiental, portanto, é
de suma importância um es tudo com o intuito de incorporar parâmetros
sustentáveis para a s construções d e s s a categoria e provar sua rentabilidade e
viabilidade.
Existem diversos es tudos que correlacionam construção com
sustentabilidade, no entanto, e s te é um tema amplo que pode proporcionar
diversos tipos de abordagem, se ja em f a s e de projeto, planejamento ou
execução.
Des sa forma, no presente artigo, buscou-se realizar uma abordagem com
ê n f a s e nos custos, entre obras de construções convencionais e obras de
construções sustentáveis para c a s a s de interesse social, incentivando, assim, a
prática da sustentabilidade e do desenvolvimento socioeconômico.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
172
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2 Estudos analisados
A seguir s ão ap resen tados alguns es tudos referentes ao cálculo de
custos de implantação de empreendimentos sustentáveis e de interesse social,
desenvolvidos pelos autores Trevisan (2017), Oliveira e Melo (2015) e Ribeiro
(2014).
2.1 Estudo 1
Objetivando colaborar com a minimização dos impactos da construção
civil sobre o meio ambiente, Trevisan (2017) estudou a viabilidade da
implantação de e lementos sustentáveis em Habitações de Interesse Social
(HIS). Para isto, a autora comparou os custos dos s i s temas prediais (hidráulico
e elétrico) de edificações de características convencionais com a s de
características sustentáveis.
Para o es tudo de caso, aplicado em Ijuí - RS, a autora utilizou o projeto-
padrão das residências populares da Caixa Econômica Federal, com área de
41,16 m2, distribuídos entre dois quartos, sala, cozinha, banheiro e á rea de
serviço.
Para eficiência na utilização dos recursos hídricos, a autora propôs a
implantação de um sis tema de captação de á g u a s pluviais e para eficiência
energética a geração de energia solar. Na Tabela 1, apresen ta - se o valor do
investimento necessár io e o valor de retorno para ambos os s i s temas
sustentáveis.
Tabela 1 - Valor do investimento, economia média e período de retorno do investimento.
Descrição Sistema de captação de Sistema de geração de
Descrição águas pluviais energia solar
Consumo médio mensal 18,6 m3 /mês 200 kWh/mês
Custo total de implantação R$ 3.315,58 R$ 9.384,01
Economia média mensal R$ 31,29 R$ 84,20
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
173
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Economia média anual R$ 375,47 R$ 1.010,40
Retorno do investimento 8 a n o s e 10 m e s e s 9 anos e 4 m e s e s
Fonte: Adaptado de Trevisan (2017).
A partir da Tabela 1 observa-se que o custo total para implantação do
s is tema de cap tação de á g u a s pluviais consistiu em R$ 3.315,58, relativo a o s
seguintes itens: custo do reservatório, instalações hidráulicas, filtros,
equipamentos para melhoria da qualidade da água na cisterna e mão de obra
(TREVISAN, 2017).
Ainda segundo a autora, considerando-se o custo total e a economia
média anual de R$ 375,47 na tarifa de fornecimento de água, tem-se que o
período de retorno do investimento seria de 8 anos e 10 meses .
Concernente ao sis tema de geração de energia solar, nota-se que o
custo total de implantação foi de R$ 9.384,01. Para o cálculo do valor a autora
considerou os módulos fotovoltaicos, o inversor, a estrutura de fixação, cabo
solar, dispositivos DPS - Dispositivo de Proteção contra Surtos - , disjuntor e
mão de obra especializada. Assim, com a economia anual de R$ 1.010,40, o
valor total do investimento seria abatido em aproximadamente 10 anos.
Trevisan (2017) apresenta , ainda, que o custo de implantação do
s is tema de captação da água da chuva equivale a um acréscimo de 8% em
comparação com o custo básico de uma obra no modelo convencional, enquanto
que, o acréscimo para a instalação do s is tema de geração de energia solar
corresponde a 19% comparado ao mesmo valor.
2.2 Estudo 2
Neste estudo, Oliveira e Melo (2015) realizam uma análise de 3 projetos
com tipologia residencial unifamiliar de interesse social, localizados na cidade de
Cascavel - PR executados na última década e compararam os custos da
implantação de itens que contribuem com a sustentabilidade do empreendimento
com o custo original de cada unidade executada. A Tabela 2 apresenta a s
características de cada projeto.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Tabela 2 - Características d o s empreendimentos objetos de e s tudo
Nome do projeto Entidades r e s p o n s á v e i s
Área d a s unidades
N° Moradias Bairro
Conjunto Habitacional S a n g a Funda COHAPAR 40,65m2 288 Floresta
Programa Habitacional Nosso Lar
Rotary, Prefeitura Municipal, CREA-PR 44,00m2 8 Santa
Felicidade Programa Habitacional
Rivadávia COHAPAR 40,00m2 110 Morumbi
Fonte: Adaptado de Oliveira e Melo (2015)
Para tanto, foi levantado o valor médio por metro quadrado (m2) de
empreendimentos em que foram utilizados e lementos sustentáveis, como:
aquecimento solar de água, cap tação de á g u a s pluviais, equipamentos
reguladores de vazão e melhorias no conforto térmico. A Tabela 3 apresen ta os
empreendimentos utilizados n e s s a f a s e da pesquisa.
Tabela 3 - Projetos de referência para incorporação de itens sus tentáve i s Nome Responsáve l Itens de interesse Localização Torre
Sustentável LABEEE -
UFSC - Sis tema de aquecimento solar; - Aproveitamento água pluvial.
Florianópolis-SC
C a s a Eficiente
LABEEE -UFSC
- Redução consumo de água; - Uso de materiais locais; - Trat. ef luentes por zona de raízes; - Aproveitamento água pluvial.
Florianópolis-SC
C a s a Ecoeficiente SENAI - PB
- Energia solar térmica/fotovoltaica; - Energia eólica; - Ventilação e Iluminação natural; - Reuso de águas ; - Uso de materiais alternativos.
Campina Grande-PB
Home Energy -
- Painéis fotovoltaicos; - Painéis solares aquec. água; - Iluminação de elevada eficiência;
Lisboa-PT
C a s a Genial PUC-RS/Eletrobrás
- Medidores consumo controlado; - Iluminação de elevada eficiência;
Porto Alegre-RS
Fonte: Adaptado de Oliveira e Melo (2015)
Após isso, calculou-se o valor médio do metro quadrado (m2) d e s s e s
empreendimentos sustentáveis e aplicou-se e s s e valor nas três unidades
habitacionais de Cascavel-PR, resultando assim, no custo unitário d e s s e s
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
175
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
projetos ca so fossem adotados parâmetros sustentáveis. Posteriormente,
comparou-se e s s e s valores com o orçamento padrão dos empreendimentos . A
Tabela 4 apresenta o resumo d e s s e procedimento.
Tabela 4 - Comparação dos custos das unidades habitacionais
Nome Custo Total Orçamento
padrão
Custo Total Orçamento sustentável
Custo/m2
Padrão Custo/m2
Sustentável Nosso Lar R$ 48.247,73 R$ 61.092,47 R$ 1.096,54 R$ 1.388,47
S a n g a Funda R$ 29.082,79 R$ 36.733,16 R$ 715,44 R$ 903,64
Rivadávia R$ 31.386,69 R$ 37.011,19 R$ 743,76 R$ 877,04 Fonte: Adaptado de Oliveira e Melo (2015)
Como pode ser observado na Tabela 4 o custo de construção d a s
unidades localizadas em Cascavel sofreriam um aumento caso fossem
execu tadas nos padrões de sustentabil idades presen tes nos empreendimentos
discriminados na Tabela 3. A média do aumento entre os três conjuntos seria de
25,62%.
2.3 Estudo 3
Nessa pesquisa, o objetivo principal de Ribeiro (2014) era analisar a
viabilidade técnico-econômica da implementação de moradias sustentáveis de
interesse social na cidade de Campo Mourão-PR.
Para isso, a autora utilizou-se de uma metodologia que comparou o
orçamento de um conjunto habitacional executado na cidade no ano de 2011,
com o custo de implantação do projeto Casa Alvorada, concebido na cidade de
Porto Alegre, no ano de 2006.
Devido à s diferenças de localização dos empreendimentos, fez-se
necessár io inicialmente a utilização de fatores que corrigissem e s s a disparidade
considerando aspec tos como: clima, projeto arquitetônico, materiais utilizados e
mão de obra empregada . Logo, foi realizada a a d e q u a ç ã o do protótipo C a s a
Alvorada à cidade de Campo Mourão e percebeu-se que, de acordo com a s
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
176
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
especif icações presentes no projeto, todos os itens de materiais detalhados nos
subs i s temas s e adequaram à cidade. Materiais como madeira, cimento, areia e
brita s ã o amplamente utilizados em a m b a s a s cidades, o que torna a acei tação
do protótipo mais fácil, já que não resulta em grandes diferenças arquitetônicas
devido a restrições de insumos.
Outro aspec to considerado foi com relação à diferença do ano de
concepção dos projetos. Para a correção des te fator tomou-se como b a s e o
CUB/m2 (Custo Unitário Básico da Construção Civil), de janeiro de 2006, para
edificação classificadas como "casa popular" no es tado do Paraná, que
apresentou um valor de 588,11 R$/m2. Assim, pode-se levantar com proximidade
aceitável o custo unitário c a s o a obra t ivesse sido executada na cidade de
Campo Mourão no referido ano.
Após feita e s s a correção, calculou-se o valor do custo total de unidades
habitacionais convencionais construídas em Campo Mourão, considerando
a p e n a s os subs is temas em comum. Isso s e deu pois os subs i s temas de
instalações elétricas e hidráulicas, serviços preliminares, pintura e serviços
complementares finais não foram projetados na Casa Alvorada.
Após isso, comparou-se os valores do empreendimento construído na
cidade de Campo Mourão no ano de 2011, com o protótipo da C a s a Alvorada,
construído no ano de 2006, porém com os custos acer tados para o ano de 2011
e cidade de Campo Mourão. Os resultados es tão apresen tados no Figura 1.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
177
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 1 - Comparativo de custos unitários Fonte: Ribeiro, (2014)
2.4 Estudo 4
O es tudo de caso realizado por Limberger (2015) objetivou, como nos
trabalhos anteriores, analisar a viabilidade econômica das habitações
sustentáveis em comparação d a s convencionais. Para isto, a autora elaborou
um orçamento detalhado para cada uma d a s si tuações, utilizando como
referência o projeto de uma residência unifamiliar de 70 m2, do Programa Casa
Fácil do município de Cascavel.
Para quantificação dos serviços identificados, a autora utilizou como
referência a Tabela de Composição e Preços para Orçamento (TCPO). J á para
a cotação dos preços de mercado, a pesquisa foi fundamentada nos custos
ap resen tados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI), referente ao mês de fevereiro de 2015. Para os
valores referentes aos s i s temas sustentáveis, não apresen tados nes tas tabelas,
realizou-se co tações em diferentes e m p r e s a s do ramo, utilizando a média entre
os valores.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
178
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Para composição do orçamento sustentável, a autora sugeriu a
substituição de técnicas convencionais e a inclusão de e lementos sustentáveis,
tais como:
• Alvenaria: Substituição do tijolo cerâmico por tijolo de solo cimento;
• Cobertura e s e r v i ç o s preliminares: Utilização de telhas ecológicas
fabricadas com tubos de creme dental ao invés de telhas de
fibrocimento e do tapume de chapa compensada ;
• Esquadrias: A autora incluiu a instalação de brises metálicos;
• Pintura: Substituição do conjunto m a s s a acrílica e PVA e tinta
acrílica e PVA comum, pelo conjunto de m a s s a corrida mineral e tinta
mineral;
• Instalações hidrossanitárias: Sis tema único de descarga e torneira
do lavatório dos sanitários, substituídos pela instalação do s is tema
de acionamento duplo de descarga e torneira de fechamento
automático com arejador de vazão. Restante d a s torneiras com
arejador de vazão;
• Instalações elétricas: Instalação de lâmpadas LED ao invés d a s
lâmpadas f luorescentes comuns;
• S i s tema de aquec imento solar de água: Este s is tema foi
adicionado ao orçamento da habitação sustentável para aquecimento
de água para o chuveiro do banheiro;
• S i s tema de reaproveitamento de á g u a s pluviais: Foi incluso na
planilha orçamentária da residência sustentável um sis tema com
cisterna para cap tação e reaproveitamento de á g u a s pluviais.
Na Tabela 5 ap resen tam-se os resultados obtidos por Limberger (2015)
para cada um dos orçamentos.
Tabela 5 - Comparação do orçamento convencional e sustentável .
Descr ição Convencional Sustentável Descr ição Custo total Custo total Serviços preliminares R$ 7.866,40 R$ 10.184,48
Infraestrutura R$ 6.945,38 R$ 6.945,38 Superestrutura R$ 4.656,18 R$ 0,00
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
179
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Alvenaria R$ 6.156,14 R$ 12.834,84 Cobertura R$ 5.600,46 R$ 9.251,86
Impermeabilização R$ 335,28 R$ 335,28 Revestimento de pa redes R$ 12.386,74 R$ 12.386,74
Esquadrias R$ 9.030,60 R$ 16.113,93 Forros R$ 3.651,42 R$ 3.651,42 Pisos R$ 8.285,20 R$ 8.285,20
Pintura R$ 7.947,27 R$ 7.417,65 Louças e metais R$ 1.191,18 R$ 1.292,62
Vidros R$ 701,18 R$ 701,18 Instalações hidráulicas R$ 3.763,83 R$ 4.005,84
Instalações elétricas R$ 6.032,08 R$ 6.720,26 Aproveitamento de água pluvial R$ 0,00 R$ 2.943,33
Aquecimento solar R$ 0,00 R$ 4.493,30 Total geral R$ 84.549,33 R$ 107.563,29
Fonte: Adaptado de Limberger (2015).
Comparando-se os dois orçamentos, Limberger (2015) concluiu que
haveria um aumento de 27,22% no custo final da habitação com elementos
sustentáveis, ou seja, um acréscimo correspondente a R$ 23.013,96 com
relação à edificação convencional.
3 Discussão
Os empreendimentos anal isados n e s s e es tudo mostraram que a adoção
de medidas sustentáveis em habitações de interesse social podem ter a s mais
diversas aplicações como: reutilização de á g u a s pluviais, placas solares
fotovoltaicas e para aquecimento de água, dispositivos que diminuem a vazão
em pontos de consumo, aproveitamento de iluminação natural e ventos,
materiais com melhor isolamento térmico, entre outros.
O uso d e s s a s premissas, resulta num acréscimo no custo d e s s e s
empreendimentos da ordem de aproximadamente 25%, como os autores
Oliveira e Melo (2015), Trevisan (2017) e Limberger (2015) concluíram. Porém,
devido à natureza d a s tecnologias empregadas n e s s a s edificações, existe uma
economia de gas tos ao longo da vida útil d e s s e s empreendimentos o que os
tornariam como investimentos viáveis.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
180
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Segundo Trevisan (2017) e s s a economia começaria a dar retorno
financeiro e compensar o investimento a partir de 8 a n o s e 10 meses , para o
ca so de s is temas de cap tação da água da chuva, e 9 anos e 4 meses , para o
ca so de s is tema de geração de energia solar. Ambos valores s ão relativos ao
es tudo de caso desenvolvido pelo autor.
Além de ganhos ambientais com a economia do consumo de água
potável e energia elétrica, a adoção d e s s a s medidas vão de encontro com o uso
a que s e destinam e s s a s residências, pois e s s a economia financeira ao longo da
vida útil do empreendimento resultaria numa vantagem social para a s famílias
ocupantes dos edifícios.
Também vale ressaltar que, em alguns subsis temas, dependendo do
tipo de materiais utilizados na execução, a utilização de técnicas sustentáveis
resultam em uma economia já no próprio custo de construção das estruturas,
como aponta Ribeiro (2014). De acordo com o autor o custo de s i s temas como
a fundação e a alvenaria, quando executados com técnicas e materiais
sustentáveis, apresentaram uma redução de 28,30% e 72,46%,
respectivamente, quando comparados com a s metodologias e materiais
tradicionais. J á Limberger (2015) obteve uma redução de 6,66% no serviço
pintura, ao adotar materiais ecológicos (massa e tintas minerais) ao invés de
insumos convencionais.
É interessante ressaltar também que, ao adotar insumos e técnicas
sustentáveis, há a possibilidade de mudança, criação ou extinção de alguns
serviços, como aponta Limberger (2015). No es tudo desenvolvido pelo autor,
houve uma substituição do método construtivo adotado na alvenaria da
residência, onde foi utilizado o tijolo ecológico. E s s e método d ispensa a
confecção de elementos estruturais, uma vez que a superestrutura é embutida
nos furos dos blocos, formando um sistema único de estrutura e vedação.
Ademais, a mão-de-obra especializada necessár ia para a construção de
residências sustentáveis, resultam em uma condicionante social. Segundo
Ribeiro (2014) devem ser e s tudados meios de inclusão social, de modo que haja
o desenvolvimento de artifícios de treinamento para p e s s o a s de baixa renda,
para que possam trabalhar na confecção de c a s a s com e s s a tecnologia, o que
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
181
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
diminuiria os custos com a construção e consolidaria e s s e s empreendimentos
também como de caráter social.
Em relação à bibliografia acerca do tema, Limberger (2015) aponta o fato
de que grande parte da produção acadêmica correlacionada es tá voltada para
a s a ç õ e s com o objetivo de tornar a construção sustentável, porém, es tudos de
custos e comparação do investimento em s is temas sustentáveis em relação ao
convencional, s ã o pouco usuais.
3 Considerações finais
A incorporação de s i s temas e dispositivos sustentáveis em habitações
de interesse social vai além do ganho ambiental e ecológico adquirido. E s s a s
práticas contribuem para um retorno financeiro a longo prazo e imediato, em
a lgumas s i tuações específicas, e um ganho social, visto seu caráter inclusivo e
consciente.
Porém, a p e s a r d a s van tagens comprovadas d e s s e s s is temas, eles
dependem de inciativas dos ges tores públicos para o seu emprego, pois o custo
inicial da execução d e s s e s empreendimentos é ligeiramente superior ao usado
em construções com materiais e métodos tradicionais.
Também é importante a conscientização para a viabilização d e s s a s
iniciativas, visto a necess idade de uma ação integrada entre construtor e
ocupante, para o bom funcionamento do s is tema e maximização de resultados.
O incentivo ao uso racional de recursos naturais e a adap tação a novas
tecnologias e hábitos, constituem uma parcela significativa da melhoria da
qualidade em habitações d e s s e tipo.
É evidente que a tarefa de conciliar ques tões econômicas, ambientais e
sociais é um assunto difícil, porém possível e estri tamente importante para o
desenvolvimento sustentável, que há muito ganhou o caráter de necessár io e
urgente e não apenas , complementar ou de ornamento.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
182
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
REFERÊNCIAS
BRANDALISE, Loreni. T., NAZZARI, Rosana. K. Políticas de sustentabilidade: responsabilidade social corporativa das questões eco lóg i cas . Cascavel, PR: EDUNIOESTE, 2012.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Demanda Habitacional no Brasil. 2012 Disponível em:http:/ /downloads.caixa.gov.br/arquivos/habita/documentos_gerais/demanda _habitacional.pdf
CMMAD. Nosso Futuro Comum: relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988.
CORBELLA, Oscar., YANNAS, Simas. Em busca de uma arquitetura sustentável para o s trópicos. Rio de Janeiro: Revan, 2003.
LIMBERGER, Débora C. M. Levantamento de cus tos para implantação de sistemas sustentáveis em uma edificação residencial. 2015. 139 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Toledo, 2015.
OLIVEIRA, Ricardo R. de, Melo, Thaís C de. Análise do c u s t o de implantação de parâmetros sustentáveis em unidades habitacionais de interesse social . Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia. 2015. Fortaleza - CE.
RIBEIRO, Jaqueline R. Estudo de viabilidade de implantação de unidades habitacionais sustentáveis de interesse social na cidade de Campo Mourão, PR. 2014, 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo Mourão, 2014.
TREVISAN, Monalisa. Viabilidade econômica do uso de elementos sustentáveis em moradias de interesse social. 2017, 70 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. Ijuí, 2017.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
183
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS COM COEFICIENTES VARIÁVEIS POR MEIO DE SÉRIES DE POTÊNCIA
Eduarda Simonis Gavião9
Emilly Zucunelli Krepkij 10
Jocelaine Cargnelutti11
1 Resumo
Este estudo aborda a utilização de sér ies de potência na resolução de e q u a ç õ e s diferenciais ordinárias com coeficientes variáveis. As funções definidas por elas, geralmente s ã o soluções de EDO's e s ão de extrema importância, já que derivam de problemas da física e da matemática. A utilização d e s s e método para resolução de problemas, convém, quando não é possível solucionar a equação pelos métodos convencionais. A decifração base ia -se em supor que exista uma solução por meio de séries de potência e substitui-se os termos da EDO por e s s a série, seguindo a ordem da equação . A resolução da EDO foi definida também por uma série de potência, obtida pela relação de recorrência e dependen te dos coeficientes consecutivos. Afim de validar o t ema presente, apresen ta - se a resolução da equação de Airy, utilizada nos ramos da física para explicação de diversos fenômenos , cuja solução analítica s e dá a p e n a s por e s s a seriação.
9 Acadêmica do Curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná câmpus Toledo. 1 0 Acadêmica do Curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná câmpus Toledo. 11 Docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná câmpus Toledo.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
184
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2 Introdução
A utilização de e q u a ç õ e s diferenciais ordinárias na resolução de problemas da
engenharia, s ão recorrentes, se ja em circuitos elétricos, reações químicas,
s i s temas m a s s a s mola e problemas de crescimento e decrescimento. Porém em
a lgumas ocas iões não é possível resolver e s s a s e q u a ç õ e s pelos métodos
tradicionais, então é necessár io utilizar sér ies de potência. Um exemplo de
e q u a ç ã o que pode ser resolvida a p e n a s pelo método d a s séries, é a equação de
Airy, utilizada nos ramos da física para o es tudo da difração de ondas de luz,
ondas de rádio na superfície terrestre, na aerodinâmica e na deflexão (ZILL,
2003).
Uma série de potência s e diferencia das demais sér ies pois é dependen te de
um coeficiente variável, geralmente s ão empregadas quando s e dese ja
aproximar uma função de um polinômio. Conhecidos polinômios na matemática
s ã o os polinômios de Taylor e Maclaurin que podem ser es tendidos e
t ransformados em séries de potência, pois e s t e s s ão correspondentes a s s o m a s
parciais dos termos. Transformar funções em série de potência, é relevante
quando, o cálculo de integrais e EDO's, s e tornam maçan tes e em alguns c a s o s
sem solução pelos métodos tradicionais (F. SIMMONS; G. KRANTZ, 2008).
Resolver uma e q u a ç ã o diferencial por séries de potência consiste em
substituir os termos da EDO por séries. Obedecendo a ordem d a s derivadas, os
coeficientes se rão encontrados a partir da relação de recorrência que se rá
dependen te de e lementos que s e repetem e o número de coeficientes depende
da ordem da equação (ZILL, 2003).
Para aplicar a s séries de potência na resolução de EDO's, obteve-se
inicialmente a resolução da equação de Airy, demonst rando passo a passo,
como proceder na utilização do método.
3 Materiais e Métodos
Uma série de potência é uma série definida em x, conforme a expressão:
Zn=0cnxn = c0+c1x+c2x2+...+cnxn. (1)
Segundo Anton, Bivens e Davis (2007), séries de potência ao invés de
possuir termos constantes, apresentam uma variável, s endo cc, c1, c2 s u a s
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
185
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
cons tantes e x, sua variável. As séries de potência mais conhecidas s ão a s
sér ies de Maclaurin e a s sér ies de Taylor.
Uma série definida em x, deve convergir em um dos casos , conforme
apresen tado no Quadro 1.
X Convergência xx v/11 v wi U w i i w i n
0 Converge apenas para x=0.
R (Reais) Converge para todos os valores reais de x.
(-R, R) Converge para todos os valores reais de x, do intervalo aberto
finito.
Quadro 1 - Conjunto de Convergência definido em x Fonte: Autoras (2018).
O conjunto de convergência é utilizado para definir o raio de convergência
da série. Quando a série convergir a p e n a s para zero, então o raio de
convergência é zero. S e a série convergir para todos os números reais, então o
raio de convergência é + w . Caso a convergência es te ja contida em um intervalo
o seu raio se rá R, como ilustra a figura abaixo:
Diverge
R=0
R=+o°
Diverge
R R
Figura 1- Raio de convergência centrado em 0
Fonte: Autoras (2018).
Uma série de potência definida em x-xo possui o seguinte formato:
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
186
f VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
Zn=o Cn(X-Xo)n=co+c (X-Xo)+C2(X-Xo)2+. • • +Cn(X-Xo)n, (2)
onde Xo é uma constante . Obtém-se (2) substituído X por X-Xo em (1)(ANTON;
BIVENS; DAVIS, 2003). Assim como a definida em x, a definida em x-xo
t ambém possui um conjunto de convergência, que deve necessa r i amen te
a tender a um dos c a s o s a p r e s e n t a d o s no Quadro 2.
Xo
Convergência Converge apenas para x=xo.
R (Reais) Converge para todos os valores reais de x.
(xo-R, Xo+R) Converge para todos os valores reais de x, do intervalo aberto
finito, e diverge se x>x0+R ou x<x0-R. Caso x for igual a x0-R ou
x0+R a série pode tanto convergir c o m o divergir.
Quadro 2 - Conjunto de Convergência definido em x-xo
Fonte: Autoras (2018).
S e a série convergir a p e n a s para xo, o raio de convergência é zero, s e
convergir parar todos os números reais o raio de convergência é + n porém, c a s o
a convergência es te ja contida em um no intervalo xo-R e xo+R o seu raio s e rá R,
como ilustrado abaixo:
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
187
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 2- Raio de convergência centrado em xo
Fonte: Autoras (2018).
3.1 Resolução de EDO's por sér ies de Potência
Geralmente EDO's lineares com coeficientes variáveis e de ordem superior
não podem ser resolvidas pelos métodos tradicionais, tais como a s funções
elementares , então é necessár io recorrer à métodos não convencionais (ZILL,
2003).
De acordo com Zill (2003), a solução de uma equação diferencial ordinária
por série de potência consiste em supor que exista uma solução em forma de
série infinita, e resolve-la de forma análoga ao método dos coeficientes.
Uma série de potência tem a forma da Eq. (3), onde é dependen te de
constantes , de um x e centrada em um ponto qualquer, aqui denominado E. Os
índices do somatório definem o ponto de partida e o ponto de parada. Deste
modo, a estrutura da série é dada conforme segue:
Zn=0cn (X-E)n. (3)
Para s e iniciar a resolução por sér ies é necessár io diferenciar pontos
ordinários e pontos singulares, dada a Eq.(4), P(x) e Q(x), devem ser analíticas
em x0 (ponto qualquer) para es te ser um ponto ordinário, s e P(x) e Q(x) não
sat isfazerem es ta condição, dizemos, que X0 é um ponto singular.
2
dxy+P(x) dy+Q(x)y=0. (4)
Considerando agora que a Eq. (5) é uma solução em torno de um
ponto ordinário x0 para uma determinada EDO, s e x0=0 então a série solução
se rá similar a Eq. (6).
y = z n ^ c n (X-X0 ) n , (5)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
188
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
y= zn=0cnXn. (6)
Ainda é necessár io substituir (6) em uma determinada e q u a ç ã o
diferencial todos os termos dependentes , obedecendo sua ordem de derivação
e combinando a s ser ies resultantes. Porém para isso, é necessário, que a
potência d a s séries e os termos iniciais, se jam iguais, seguindo a s regras de
adição e subtração de séries.
3.2 Equação de Airy
A equação de Airy, utilizada nos ramos da física para explicar f enômenos
e modelar a difração de ondas, pode ser apresen tada de três formas diferentes,
Eq. (7), Eq. (8) e Eq. (9), onde para argumentos positivos e s s a s funções s ão
relacionadas a s funções modificadas de Bessel, enquanto que para termos
negativos relacionam-se a s funções de Bessel.
Afim de exemplificar a solução por meio de série de potência, será
utilizada a Eq. (7), a representação mais conhecida d a s funções de Airy.
Independente do formato da equação, e s sa , como já citado, só pode ser
resolvida por seriação, m e s m o parecendo simples.
y' + xy=0, (7)
y''- xy= 0 (8)
e
y '+a2xy=0. (9)
Primeiramente deve-se considerar a Eq. (10), como não há pontos
singulares concluímos que a equação possui d u a s soluções, centradas em zero,
na forma de série de potência. A equação possui uma derivada de segunda
ordem, por isso é necessár io derivar a série d u a s vezes , respeitando o grau da
equação . Derivando a série duas vezes obtém-se a Eq. (11). Como y es tá sendo
multiplicado por x, a Eq. (10) p a s s a a ser como a Eq. (12).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
189
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
y= Zn=ocnxn,
y''= Zn=2n(n-1)cnxn-2
(10)
(11)
e
xy= Zn=ocnxn+1. (12)
Anal isando s e p a r a d a m e n t e c a d a série, ob tém-se a s segu in tes sequenc ias :
1) co+c1x+c2x2+c3x3+...+cnxn para Eq. (10).
2) 2c2+6c3x+12c4x2+...+ n(n-1) cnxn-2 para Eq. (11)
3) c0x+c1x2+c2x3+c3x4+...+cnxn+1 para Eq. (12).
Como t rabalhou-se com séries, para realizar a s o m a e qualquer outra
o p e r a ç ã o entre elas, é necessá r io q u e o s e x p o e n t e s de x s e j am os m e s m o s em
a m b a s , ass im como os índices iniciais dos somatórios, por isso é fundamenta l
manipula-las. A partir do t ra tamento da Eq. (11) e Eq. (12) ob t emos a Eq. (13).
y'+xy= 2c2+ Zn=1 xn [((n+2)(n+1)cn+2)+cn-1 ]=0. (13)
Conclui-se q u e c2 é igual a zero. Porém, os dema i s coeficientes
a inda s ã o desconhec idos , d e s s a forma para encontrá- los criou-se a re lação de
recorrência Eq. (14), que nos da rá e s s e s termos. A partir daí, ob t emos
coeficiente consecut ivos a p r e s e n t a d o s no Quadro 3, d e p e n d e n t e s a p e n a s dos
coeficientes c0 e c1, que s e subst i tuídos n a s s e q u e n c i a s iniciais nos dão, a s d u a s
so luções procuradas .
c n + 2 = - (n+2)(n+1)" ( 1 4 )
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
190
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Quadro 3 - Coeficientes Consecutivos
N Coeficiente (c) = 1 C3 C 0
3 * 2
2 C4 C1
4 * 3
3 C5 C 2 =0 5 * 4
4 C6 C 3 C 0
6 * 5 6 * 5 * 3 * 2
5 C7 C 4 C 1
7 * 6 7 * 6 * 4 * 3
Fonte: Autoras (2018).
Afim de obter a s d u a s soluções, considerou-se primeiramente ci s endo
igual a zero e co igual a 1, então surge a primeira solução Eq. (15). Para segunda
solução, consideramos ci s endo 1 e co s endo zero, o que nos dá a Eq. (16).
x 3 x 6 x 9 in y - 1 x | x x = 1 + 1 * x 3 n ( 1 5 )
1 3 * 2 6 * 5 * 3 * 2 9 * 8 * 6 * 5 * 3 * 2 Z j n - 1 3n * (3n-1) V '
x 4 x 7 v 1 0 _1 n „ „ y - x _ x + x v = x + y ^ 1 * x 3 n + 1 ( 1 6 ) Y 2 4 * 3 7 * 6 * 4 * 3 10 * 9 * 7 * 6 * 4 * 3 Z j n - 1 3n * ( 3 n + 1 ) V '
4 Resul tados e d i scussões
A solução de EDO's por séries de potência é uma alternativa quando,
e s s a s e q u a ç õ e s não s ã o solucionáveis por métodos comuns, geralmente em
c a s o s lineares, de ordem superior e com coeficientes variáveis, porém por conta
de a s funções não serem d a d a s de forma elementar, e s s e método é pouco
utilizável. Afim de provar que o m e s m o resultado é obtido por métodos
tradicionais e por séries de potência, se rá resolvida a Eq. (17).
y'+ y=0. (17)
e
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
191
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Considerando que a EDO é separável resolveremos por e s t e método, por
ser considerado um dos mais simples. Primeiramente iremos separar de um lado
da igualdade os termos dependen te s de x, e do outro os de y. então iremos
integral ambos os lados.
; d y = ; x dx. (18)
Após a integração foram feitas a s manipulações necessár ias para obter a
solução que s e procura. Obtendo assim:
y= e - x * c0. (19)
Como já visto anteriormente, parar resolver por seriação, vamos
considerar y, s endo Eq. (10) e y' sua derivada primeira Eq. (20). Após isso
fa remos como foi feito com a equação de Airy, rearranjamos o expoente de x, e
o índice inicial da série, para obter a Eq. (21).
y'= Zn=1 cn nx n - 1 , (20)
y = Zn=1 x n - 1 * (cn +cn-1) . ( 2 1 )
Encontrando a relação de recorrência conclui-se que c1=-c0 assim é
possível montar a sequência Eq. (22) dependen te a p e n a s de c0.
x 2 x 3 1 n
y=c0 - c0x + - c 0 - + . . .+ c ^ x " . (22)
x2 x
3
Porém s a b e - s e que e - x =1 - x+ —-— portanto a solução é a Eq. (19), o que
prova a solução por ser iação é a m e s m a que por qualquer outro método.
5 Conclusão
Com b a s e no que foi visto nes te trabalho pode s e ressaltar a importância
da resolução de e q u a ç õ e s diferenciais ordinárias por série de potência, uma vez
que funções de extrema relevância na física u s a d a s para modelar a difração de
ondas e explicar os f enômenos da aerodinâmica e deflexão, s ão solucionadas
a p e n a s por es te método. Utilizar sér ies de potência para resolver EDO's é uma
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
192
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
maneira d e reduzir o s cálculos m a ç a n t e s que p o s s a m surgir a o decorrer da
solução, e maximizar o t empo gasto, já q u e em todas a s á reas , e spec ia lmen te
n a s engenhar ias , o s p roblemas precisam se r resolvidos de forma rápida e
precisa.
REFERÊNCIAS
ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo: Volume II. 8. ed. Porto Alegre: bookman, 2007. p. 675-704. Tradução de: Claus Ivo Doering.
ERCOLE, Grey. Cálculo V: Séries Numéricas. Belo Horizonte: Ufmg, 2010. p. 55-69.
F. SIMMONS, George; G. KRANTZ, Steven. Equações Diferenciais: Teoria, Técnica e Prática. São Paulo: Mcgraw-hill, 2008. Tradução técnica: Helena Maria Ávila Castro.p.147-194.
ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com Aplicação em Modelagem. São Paulo: Cengage Learning., 2003. p. 269-305.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
193
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
SOFTWARES NA MODELAGEM DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Eduardo Cesar Amancio12
Silvana da Silva13
1 Resumo
Com o advento dos programas computacionais, a análise e o cálculo de um projeto de engenharia s e dá de forma cada vez mais rápida, e a modelagem hidráulica constitui um dos principais instrumentos de apoio na concepção, operação, planejamento e manutenção de redes de abastecimento de água. Atualmente existem no mercado diversos modelos para simulação hidráulica, cada um apresentando particularidades que divergem desde a instalação até a análise de resultados. Este trabalho s e dispõe a analisar a s diferenças e elencar a s vantagens e desvantagens de três modelos comerciais e gratuitos de softwares para o dimensionamento de redes de abastecimento de água potável, quanto ao desempenho e manuseio do usuário. Os softwares es tudados foram: o Epanet, o WaterCAD e o Aqua Rede. O objetivo foi subsidiar futuros usuários na escolha do modelo que melhor se adapte à s necess idades do sistema que s e pretende simular.
Palavras-chave: Redes de distribuição de água. Simulação hidráulica. Epanet. WaterCAD. Aqua Rede.
2 Simulação hidráulica
Como parte constituinte dos s is temas de abastecimento de água, a rede
de distribuição é o conjunto de tubulações, acessórios, registros e conexões, em
que a água é transportada e fornecida em quantidade e qualidade adequadas
em todos os pontos de consumo, sejam eles doméstico, industrial, público ou de
irrigação (ABNT, 1994).
Este subsistema de abastecimento apresenta uma grande dificuldade de
monitoramento do es tado de conservação dos s e u s acessórios, pois são poucos
os componentes visíveis, e consequentemente passíveis de inspeção. Logo, a
12 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Acadêmico do curso de Engenharia Civil 13 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Professora do curso de Engenharia Civil
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
194
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
medição de pressão, vazão ou de qualidade da água distribuída acabam sendo
insuficientes, devido à complexidade d a s redes, número de pontos de consumo
e variabilidade des t e s (COELHO et al., 2005).
Diante d e s s a s necess idades , surge a simulação hidráulica, modelo
computacional cujo objetivo é reproduzir, a t ravés de equacionamentos
matemáticos e com maior exatidão possível, o comportamento real do s is tema
físico que representa. Não é necessár io a reprodução de todos os componentes
físicos do sistema, mas sim somente aqueles significativos, dependendo da
confiabilidade exigida e do uso ao qual será dest inado (GUMIER e JUNIOR,
2006).
Diuana e Ogawa (2015) citam que através da simulação hidráulica é
possível explorar dados de diversos cenários, prevendo o comportamento físico
do sistema, com uma margem de erro estimável, a partir d a s características dos
s e u s componentes , da sua forma de operação e dos consumos solicitados. A
Figura 1 apresen ta a funcionalidade de um modelo de simulação hidráulica
aplicado à s i s temas de abastecimento de água.
FIGURA 1 - FUNCIONALIDADE DE UM SIMULADOR Fonte: Adaptado de Silva, R. A. (2009).
Como esquemat izado na Figura 1, os simuladores hidráulicos permitem
a verificação rápida e dinâmica de formas de projeto, otimização, manutenção e
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
195
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
expan- são, sem submeter um sis tema de abastecimento de água a modos de
operação desconhecidos, ou interferir fisicamente n e s s e s is tema (DIUANA e
OGAWA, 2015).
Um modelo de simulação hidráulica possui uma gama de características
que podem sofrer a l terações de um simulador para outro, porém Pádua e Heller
(2006) citam a s mais comuns dentre os softwares disponíveis no mercado como
sendo:
• Pos suem uma interface gráfica;
• Possibilidade de trabalhar com diferentes s i s temas de unidades;
• Geração de gráficos d a s variáveis selecionadas;
• Capac idade de simular diferentes cenários.
Com relação a es ta última característica citada, a maioria dos
simuladores hidráulicos possuem suporte para a realização de diferentes
cenários físicos (aqueles em que s e alteram configurações da rede de
distribuição, dos reservatórios ou ainda dos conjuntos motobombas), temporais
(consumo variando ao longo do dia ou considerando projeções populacionais e
horizontes de planejamentos) ou ainda operacionais (considerando o
acionamento ou desl igamento de válvulas, registros, reservatórios).
Através de todas e s s a s características, nota-se a importância e o
potencial que os modelos de simulação hidráulica possuem na tomada de
dec isões de uma companhia de saneamento . Consti tuem-se atualmente num
instrumento com grande aplicabilidade em face ao projeto, operação e
manutenção de s i s temas de abastecimento de água (OLAIA, 2012).
A simulação hidráulica pode ser aplicada considerando o s is tema como
estático ou variável. A simulação estática p rocessa -se quando es ta é efe tuada
num determinado momento temporal. Já a simulação em período prolongado, ou
seja, variando ao longo do tempo, ocorre quando s e efetua uma simulação
sequencial, que traduz os acontecimentos em vários períodos (ROSSMAN,
2002).
3 Principais modelos de simulação hidráulica
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
196
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Os softwares de simulação hidráulica disponíveis no mercado
apresentam diferenças em relação aos recursos disponíveis, e por isso são
classificados de maneiras diferentes quanto ao uso (BORGES, 2003).
Para uma otimização do uso dos modelos de simulação hidráulica é
preciso que o usuário tenha domínio de suas funções, afim de que seja possível
explorar ao máximo os recursos, e concomitantemente possibilite uma correta
interpretação dos resultados (DIUANA e OGAWA, 2015).
Com uma variedade considerável de modelos disponíveis, a primeira
decisão do projetista/gestor começa na escolha de qual s e fará uso. Nessa
pesquisa são apresentados, discutidos e comparados três modelos:
• Epanet 2.0: desenvolvido pela U.S. Environmental Protection
Agency14;
• WaterCAD V8i: desenvolvido pela Bentley15; e
• Aqua Rede: desenvolvido pela Sanegraph1 6 .
O primeiro software é apresentado no mercado de forma gratuita para
qualquer número de nós e os outros dois, a partir de um pequeno número de nós
são comercializados pelas empresas
3.1 Epanet
O Epanet é um software de modelagem hidráulica criado pela United
States Environmental Protection Agency (USEPA), nos Estados Unidos no ano
de 2000. De acordo com a definição da própria USEPA, o software modela os
s is temas de tubulações de distribuição de água, realizando simulações de tempo
prolongado do movimento de água e comportamento da qualidade desta nas
redes de distribuição dos s is temas de abastecimento de água. Esse simulador
pode também ser utilizado para s is temas de irrigação, combate a incêndios,
entre outros.
14 Endereço eletrônico: https://www.epa.gov/ 15 Endereço eletrônico: https://www.bentley.com/pt 16 Endereço eletrônico: http://www.sanegraph.net.br/
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
197
f VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
O simulador permite o aumento do conhecimento do sis tema por parte
do operador no que tange a s s u a s variáveis hidráulicas (vazão e pressão), o
transporte e destino dos e lementos constituintes da água dest inada ao
abastecimento (GOMES, 2004).
3.1.1 Recursos e aplicações
Dentre o conjunto de fer ramentas de cálculo que dão suporte à
simulação hidráulica no Epanet, s e des tacam como principais:
• Cálculo da perda de carga utilizando a s fórmulas de Hazen-Williams,
Darcy-Weisbach ou Chezy-Manning;
• Considerações das perdas de carga singulares em curvas,
alargamentos, estreitamentos, etc;
• Modelagem de bombas de velocidade constante ou variável;
• Cálculo da energia de bombeamento e do respectivo custo;
• Modelagem dos principais tipos de válvulas, incluindo válvulas de
seccionamento, de retenção, reguladora de p ressão e de vazão;
• Modelagem de reservatórios de a rmazenamento de nível variável de
formas diversas, a t ravés de curvas de volume em função da altura de
água;
• Múltiplas categorias de consumo nos nós, cada uma com um padrão
próprio de variação no tempo;
• Modelagem da relação entre p ressão e vazão efluente de dispositivos
emissores (aspersores de irrigação ou consumos dependen tes da
pressão);
• Possibilidade de simulação com diversas regras de operação do
sistema.
3.1.2 Aquisição, Instalação e inserção de dados
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
198
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O Epanet é um programa gratuito e s e des taca também por ser
encontrado muito facilmente para download. Referente à instalação e suporte do
programa aos sis temas operacionais, es te é o que ocupa o menor espaço no
disco rígido, sendo que qualquer máquina da geração Intel Core é capaz de rodar
e s s e modelo. Possui também versões até o Windows 98.
Para o traçado da rede no programa, o Epanet pode apresentar uma
metodologia um tanto trabalhosa, pois cada ponto, trecho e acessório deve ser
inserido manualmente. Porém existem maneiras de tornar e s s e processo mais
fácil, utilizando recursos do próprio programa, como a possibilidade de colocar a
imagem da rede já traçada no software gráfico AutoCAD como plano de fundo,
e em seguida escaloná-la corretamente, com a opção auto-comprimento ligada,
traçando a rede por cima da imagem. Essa opção dispensa a inserção dos
comprimentos de cada trecho, porém o processo ainda assim pode ser
trabalhoso e demorado, uma vez que é preciso posicionar todos os nós e depois
os trechos.
Outra possibilidade do simulador é através do programa EpaCAD,
desenvolvido pela Universidade de Valência, ser possível converter arquivos dxf
(diretamente do AutoCAD) em arquivos inp, e de s sa forma abri-los no Epanet.
Nesse processo, todas polylines serão convertidas em trechos e os nós serão
alocados ao fim de cada trecho. Esse processo é muito simples de ser usado e
apresenta resultados satisfatórios.
Cada nó e trecho apresentam variáveis que devem ser inseridas também
de forma manual, como mostra a Figura 2:
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
199
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
FIGURA 2 - INSERÇÃO DE DADOS EPANET. ( A ) CAIXA DE ENTRADA DE DADOS DE UM NÓ GENÉRICO. ( B ) CAIXA DE ENTRADA DE DADOS DE UM ELEMENTO GENÉRICO TRECHO. Fonte: Autoria Própria (2018).
Na caixa de entrada ilustrada na Figura 2, existem 4 informação a serem
fornecidas para cada nó, sendo que a s coordenadas cartesianas são
desnecessár ias caso o desenho da rede já tenho sido concluído.
Para os reservatórios e bombas o procedimento é semelhante, deve-se
inserir os dados de forma manual, não sendo possível a importação ou cópia de
tabelas em outros formatos ou dentro do próprio programa.
Também como ponto desfavorável do layout do programa é o fato de
não ser possível a utilização do scroll lock para dar zoom, o que dificulta
sobremaneira traçar detalhes da rede.
3.2 WaterCAD
O WaterCAD é outro software de modelagem hidráulica que possibilita a
simulação da operação e da qualidade da água em um sistema de
abastecimento de água. Desenvolvido pela empresa Bentley, o programa
disponibiliza soluções e serviços altamente diferenciados e avançados na área
de modelação e engenharia hidráulica, que visam otimizar, gerir e controlar uma
distribuição eficiente de água e todos respectivos custos associados.
Esse modelo permite uma análise de forma muito mais particular e
pormenorizada do que o Epanet, no tempo e no espaço, dos problemas mais
usuais relacionados à ges tão e manutenção de s is temas de distribuição de água
(MVM, 2003). É comercializado com valores iniciais em torno de 200 dólares
possibilitando dimensionar redes com até 10 trechos, incluindo apoio
técnico/manual (DIUANA e OGAWA, 2015). A Figura 3 mostra uma tela da
interface para um novo projeto.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
200
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
J l * 4J J ' » - „ * tt f 1 * 9 - Í 4 B 3 - / f 9 - ,
ir*
^ ~ ~ j njfrtu* T IIÉJMMA n-: j Q -
FIGURA 3 - INTERFACE DE TRABALHO DO W A T E R C A D Fonte: Bentley (2018).
Como pode ser observado na Figura 3, o programa possui uma interface
muito parecida com o Epanet, porém com um número maior de recursos e
funções.
3.2.1 Recursos e aplicações
O software possui grande capacidade de integração com outros
programas, reconhecendo arquivos do AutoCAD, da plataforma GIS, Epanet e
planilhas do Excel.
Entre a s principais possibilidades do programa, s e destacam:
• Análise de vazões de incêndio;
• Dimensionamento de bombas;
• Construção de modelos otimizados;
• Custos de energia elétrica;
• Análise de qualidade da água;
• Mistura em reservatórios;
• Calibração e detecção de vazamentos;
• Modelagem e análise de válvulas;
• Possibilidade de comparação de cenários de modelagens estáticas e
dinâmicas.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
201
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
3.2.2 Aquisição, Instalação e inserção de dados
O WaterCAD é um produto pago, com um processo de instalação muito
simples e semelhante ao do Epanet, sendo necessário a p e n a s prosseguir com
os pas sos que são indicados pelo instalador. Como requisitos mínimos da
máquina, mostra-se necessário um processador superior a um Pentium IV,
memória RAM de 256 MB e sistema operacional superior ou igual ao Windows
2000.
O guia de uso do programa é disponibilizado no momento da instalação
do programa, e vem em idioma inglês. É relativamente extenso (1608 páginas),
porém muito bem explicado e completo, ficando como ponto negativo o fato de
ter pouco passo-a-passo (OLAIA, 2012).
O WaterCAD possibilita a importação da rede já traçada em arquivos
dwg ou shapfile, através da opção "Modelbuilder ' . Também como ferramenta, s e
des taca a opção "Trex", que possibilita a importação de arquivos de modelos
digitais de topografia de um arquivo do AutoCAD para obtenção das cotas
topográficas dos nós.
Outra facilidade que es te modelo apresenta no que tange a inserção dos
dados é referente a importação da vazão. Ao fornecer os dados, o modelo os
distribui nos nós de acordo com o comprimento dos trechos ou com a área dos
nós.
Porém com todos e s s e s recursos o WaterCAD, para um usuário
iniciante, pode parecer confuso, devido ao grande número de ferramentas e
opções de comando (DIUANA e OGAWA, 2015).
3.3 Aqua Rede
Desenvolvido pela empresa Sanegraph, o Aqua Rede é um software
gráfico destinado para elaboração e simulação de projetos de redes de
saneamento .
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
202
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O software possui boa integração com outros programas, como o
SanCAD (destinado a redes de coleta de esgoto) e Drenar (destinado a redes de
drenagem urbana), inclusive roda em conjunto com o AutoCAD e IntelliCAD.
3.3.1 Recursos e aplicações
De acordo com a empresa fornecedora do software, a s principais
características d e s s e modelador são:
• Utiliza o Método de Hardy-Cross para cálculo da rede em anéis
fechados e o método do seccionamento para os trechos abertos;
• Verificação hidráulica de trechos existentes em combinação com
trechos projetados;
• Importação e exportação automática de informações entre os
módulos de desenho e cálculo;
• Obtenção de planilha de resultados, com possibilidade de exportação
da mesma para os formatos pdf. e xls.;
• Possibilidade de simulação de boosters (conjuntos moto-bomba) e
válvulas redutoras de pressão (VRP).
3.3.2 Aquisição, Instalação e inserção de dados
O Aqua Rede é um software pago, possui um processo de instalação
simples também, porém s e revelando o mais complexo dos três em função da
quantidade de passos e necess idade de reiniciar a máquina. Tanto o manual de
instalação, como o de uso são encontrados para download na página do
programa no site da empresa.
Referente à inserção de dados, o Aqua Rede possibilita o lançamento
dos elementos do projeto, como nós cotados da rede, os trechos e numeração
destes, sobre planta topográfica digitalizada, georreferenciada ou não, conforme
ilustra a Figura 4. O desenho final da rede, após o dimensionamento, também
pode ser obtido sobre a planta topográfica.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
FIGURA 4 - ARRUAMENTO E NÓS SOBRE A PLANTA TOPOGRÁFICA Fonte: Sanegraph (2018).
A Figura 4 apresenta um projeto de rede de abastecimento, com
detalhes em relação ao arruamento e desenhado sobre a planta topográfica.
Essa visualização conjunta da topografia do terreno auxilia na verificação de
eventuais irregularidades no dimensionamento, bem como favorece a finalização
do projeto gráfico propriamente dito. Percebe-se também a semelhança da
interface com o software AutoCAD.
4 Considerações finais
É notável que o Epanet seja o programa mais difundido no meio de
suporte a decisão nas companhias de saneamento e também em funções
didáticas em universidades. Isso s e dá devido a sua gratuidade e a facilidade
que o programa proporciona na sua utilização, com uma interface amigável, e
apesa r de não possuir todas a s funções apresen tadas pelos outros dois
softwares, realiza todos os comandos necessários para o dimensionamento e
simulação de uma rede de distribuição.
O WaterCAD e o Aqua Rede possuem uma interface mais completa e
robusta, com funções que facilitam a inserção de dados, como a possiblidade de
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
204
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
importação de cotas de um arquivo dwg., de dados de planilhas, e a
compatibilidade com outras ba se s de dados e programas. Esses pontos
justificariam o pagamento de sua licença.
Apesar de avaliados nos mesmo quesitos, não é possível escolher o
melhor programa, pois isso depende da relação do projetista com cada interface
e do uso a que s e faz necessário. Inclusive, recomenda-se que o usuário não se
restrinja ao uso de a p e n a s um modelo para simulação hidráulica, mas sim, que
execute diferentes e tapas em diferentes softwares, fazendo uso de recursos
próprios de cada um, de acordo com o seu objetivo nas e tapas do projeto.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12218: Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público. Rio de Janeiro, 1994.
BORGES, Viviane Marli Nogueira de Aquino. Acoplamento de um modelo de previsão de demanda de água a um modelo simulador em tempo real. Um estudo de caso: Sistema Adutor Metropolitano de São Paulo. 2003. Dissertação. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003
COELHO, Sérgio Teixeira; ALEGRE, Helena; ALMEIDA, Maria do Céu; VIEIRA, Paula. Controle de perdas de água em s i s t emas públicos de adução e distribuição. Lisboa: Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR). Lisboa, 2005
DIUANA, Fabio Amendola; OGAWA, Seiti Caio Contardo Pereira. Análise comparativa d o s mode los hidráulicos Epanet, Watercad e Sistema UFC para s i s t emas de abastecimento de água - rede de distribuição. 2015. 105 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
GUMIER, Carlos César; LUVIZOTTO JUNIOR, Edevar. Aplicação de modelo de simulação-otimização na g e s t ã o de perda de água em s i s t emas de abastecimento. 2007. Artigo técnico. Vol. 12, N° 1. 32 - 41 p.
HELLER, Léo; PÁDUA, Valter L. de (Org.) Abastecimento de Água para Consumo Humano. Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 2006. 859 p.
MVM(2003), WaterCad user 's guide. 2003
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
205
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
OLAIA, Ana Isabel Santos. Ges tão de s i s t e m a s de abastec imento de água através de mode lação hidráulica. 2012. (Dissertação), Licenciatura em Engenharia de Recursos Hídricos. Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2012.
SILVA, Rui Agostinho. Ges tão e monitorização do s i s t ema público e distribuição de água de Vila Real - Zona do Pisco, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real, 2009.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
206
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
INFLUENCIA DA TAXA DE ARMADURA TRANSVERSAL NA
RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DIRETO DO CONCRETO17
HIRANO, Eduardo Lovera18,
SAVARIS, Gustavo1 9
Resumo
Há mais de 50 anos, e s tuda-se a resistência ao cisalhamento de p e ç a s
monolíticas de concreto, principalmente devido a d e s d e então crescente
utilização de pré-moldados na construção civil. O presente trabalho busca avaliar
a influência do aumento na taxa de armadura na resistência última ao
cisalhamento. O efeito pode ser aferido através do rompimento de corpos de
prova de cisalhamento direto com diferentes taxas de armadura. Para tal, foi
estipulado um modelo com área de cisalhamento igual a 44.000 mm2 com taxas
de armadura iguais a 0%, 0,19%, 0,37% e 0,56%. O concreto empregado buscou
uma resistência característica aproximada de 40 MPa. As resistências foram
então conferidas por meio de ensa ios de compressão axial e diametral. A partir
dos resultados de resistência ao cisalhamento dos corpos de prova, tornou-se
possível a comparação com a literatura vigente. A análise dos resultados aponta
que o aumento da taxa de armadura influencia em uma relação diretamente
proporcional no aumento da resistência última ao cisalhamento do concreto,
s endo tal efeito corroborado pela literatura.
Palavras-chave: push-off test; cisalhamento direto; taxa de armadura; resistência
ao cisalhamento.
17 Pesquisa de Iniciação Científica na área de Estruturas do curso de engenharia civil da UTFPR-TD. 18 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Acadêmico de engenharia civil. 19 Doutor docente do curso de Engenharia Civil da UTFPR -TD, coautor e orientador deste trabalho.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
207
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
1 Introdução
Por volta dos anos 60, começaram-se es tudos relativos à resistência ao
efeito de cisalhamento em conexões de concreto pré-moldado [1]. Des taca-se
nes ta época o es tudo realizado por Birkeland & Birkeland (1966), onde é
mostrado a s diferentes s i tuações onde a ques tão do cisalhamento é verificado
em pré-moldados.
Porém o fenômeno es tá presente em outras si tuações, como em reparos
ou aumento de resistência de um elemento de concreto armado através de novas
s e ç õ e s de concreto, no suplemento de concreto pré-moldado com a aplicação
de conreto moldado in-loco e em interfaces de concreto com idades diferentes
[2]. (Randl, 2013)
No mesmo es tudo de Birkeland & Birkeland (1966), foi descrita a "teoria
do atrito cisalhamento". Esta dispõe que o atrito garante a transferência de
esforços entre d u a s interfaces de concreto-concreto ou concreto-aço quando
submet idas à esforços de cisalhamento e compressão simultaneamente. Tal
teoria é amplamente aceita por representar bem o fenômeno e por ser de fácil
compreensão [3]. Pode-se compreender melhor pela observação da figura 1 e
e q u a ç ã o 1 propostas pelos autores para explicar o fenômeno [1]. (Santos &
Eduardo, 2012)
Figura 1 - Modelo de "dente de serra" para o atrito cisalhamento.
Fonte: Birkeland & Birkeland (1966)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
208
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Segundo Mattock & Hawkins [4] (2001), à medida que a fissura s e abre
pelos esforços aplicados, a s projeções d a s interfaces correm uma sobre a outra
e forçam a s e separar , como demonstrado na figura 1.
E s s e a fas tamento causa um alongamento da armadura, conhecido como
efeito de pino, de tal maneira a causar o e scoamento da m e s m a e, como
consequência , comprime a s interfaces do concreto, auxiliando no atrito
cisalhamento [3]. Segundo Walraven et. al. (1987), tal efeito de afas tamento
flexiona o aço, gerando esforços axiais [5]. A resistência última ao esforço
aplicado é a lcançado quando o aço começa a e scoa r [2].
A resistência ao cisalhamento é então uma combinação de fatores como
a d e s ã o do concreto, intertravamento dos agregados , atrito e efeito de pino [2].
O intuito d e s s e trabalho é avaliar o efeito do aumento da taxa de armadura
na resistência ao cisalhamento último através da análise comparativa com os
dados dispostos pela literatura.
2 Material e Métodos
De modo a aferir a interferência da variação de taxa de armadura no tes te
de cisalhamento direto, do inglês "push-off test", os corpos de prova foram
confeccionados com dimensões aproximadas à s propostas por Savaris (2016)
como padrão de corpo de prova. Na figura 2 s ão ap resen tadas a s características
geométr icas do modelo utilizado como base .
Figura 2 - Dimensões dos corpos de prova e detalhamento da armadura .
Fonte: Savaris (2016).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
209
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Houveram al terações com relação ao cobrimento efe tuado de 2 cm para
3 cm, o que alterou a altura da á rea de cisalhamento de 220 mm para 200 mm,
gerando uma área de cisalhamento de aproximadamente 44.000 mm2.
A fim de assegura r que a ruptura ocorresse no plano indicado, reduziu-se
a s e ç ã o através da colocação de dois filetes de madeira nas pa redes do molde.
Tal efeito reduz a s e ç ã o de análise em relação à largura do corpo de prova,
a s segurando uma menor resistência nesta á rea e, por consequência , garantindo
que a ruptura ocorra na seção .
2.1 Armaduras empregadas e moldes
Para avaliar o efeito na resistência última do corpo de prova ocasionado
pela taxa de armadura transversal no ensaio de cisalhamento direto, foram
confeccionados 4 corpos de prova. O primeiro corpo de prova (C0) não
apresentou taxa de armadura, s endo e s s e uma referência ao comportamento
frágil do concreto. Os corpos de prova C1, C2 e C3 foram armados na s e ç ã o de
análise com 1, 2 e 3 estribos respectivamente. As diferentes taxas es tão
dispostas na tabela 1. Todos os estribos são de CA-60 com diâmetro nominal de
5 milímetros.
Tabela 1 - Taxas de armadura.
Corpo de Prova Taxa de Armadura (%) C0 0 C1 0,192 C2 0,377 C3 0,566
Fonte: Autor (2018).
Na figura 3, é demonstrado a s barras de aços já a r m a d a s com os estribos.
É possível também visualizar a s a rmaduras de cisalhamento adotadas .
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
210
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 3 - Armaduras dos corpo de prova.
Fonte: Autor (2018).
Os moldes usados para a concretagem dos corpos de prova foram
confeccionados com material MDF. As armaduras foram posicionadas de modo
a respeitar um cobrimento de 3 cm.
2.2 Concreto empregado
Quanto ao concreto, foi utilizado como aglomerante o CP-V-ARI. Usou-se
como b a s e para o traço um estudo realizado por Pufal (2017), s endo o traço
1:2,43:2,80 (cimento:areia:brita) e a relação água cimento (a/c) de 0,52. O
objetivo do traço é uma resistência característica próxima a 40 MPa.
Foram feitos aproximadamente 60 litros de concreto para a execução dos
4 corpos de prova de push-off e mais os 8 corpos de prova cilíndricos com
diâmetro nominal de 100 mm. Realizou-se o ensaio de abatimento de tronco de
cone seguindo o disposto na NBR NM 67 (1998) para o controle tecnológico. A
tabela 2 apresen ta a quantidade de materiais empregados na confecção do
concreto no total.
Tabela 2 - Materiais empregados para a execução de 60 l de concreto.
Cimento (kg) Areia (kg) Brita (kg) Agua (l) 23,09 49,07 61,91 12
Fonte: Autor (2018).
2.3 Determinação da resistência à compressão e tração do concreto
Os corpos de prova cilíndricos foram confeccionados para aferir a s
características de resistência característica (fck), como apresen tado na NBR
5739 (1994) e de resistência à t ração por compressão diametral (ft, D), pela NBR
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
211
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
7222 (1994), do concreto. Os procedimentos realizados, tanto na moldagem
como no processo de cura, seguiram o disposto na NBR 5738 (2003). A cura foi
realizada durante 28 dias em câmara úmida à temperatura ± 23°C e o
rompimento realizado 28 dias após a concretagem.
Como a resistência do concreto previsto pelo traço é relativamente alta,
foram executados os ensa ios de compressão axial na prensa com auxílio de
mangueira hidráulica com esforço máximo de 200.000 kgf, tendo em vista que a
resistência p a s s a o esforço aplicável pela prensa normal (27.000 kgf).
2.4 Corpos de prova de cisalhamento direto
A figura 4 exibe os corpos de prova 1 dia após a concretagem, data a qual
foi realizada a desforma dos mesmos . Os corpos de prova de cisalhamento direto
repousaram então em cura à temperatura ambiente durante os m e s m o s 28 dias
dos corpos de prova cilíndricos.
Figura 4 - Corpos de prova de cisalhamento direto com os moldes.
Fonte: Autor (2018).
2.5 Ensaio cisalhamento direto
Na figura 5 é possível observar os corpos de prova já posicionados na
prensa para o ensaio, s endo respectivamente, da esquerda para a direita os
corpos de prova C0, C1, C2 e C3. Para o ensaio, foi utilizada a prensa com
esforço máximo aplicável de 27.000 kgf.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 5 - Ensaio de cisalhamento direto.
Fonte: Autor (2018).
O incremento de carga é dado pelo des locamento constante da prensa
pelo tempo. A velocidade de des locamento empregada para os ensa ios foi de
0,5 mm/min. Foi aplicada uma carga de a s sen tamen to para garantir o contato da
prensa com os corpos de prova. Fez-se uso de um programa de computador,
análogo à prensa, para o recebimento dos dados de deformação pela carga
aplicada a té a ruptura dos corpos de prova.
3 Resultados e discussões
3.1 Propriedades mecânicas do concreto
Os resultados das resistências tomadas pelos ensa ios de compressão
axial e diametral es tão dispostos na tabela 3.
Tabela 3 - Resistência à compressão e tração do concreto.
Corpo de Prova fc (MPa) ft (MPa) CP1 43,77 1,54 CP2 35,28 2,07 C P 3 40,10 2,36 CP4 43,38 2,83
Média 40,63 2,20 coef. Variação 9,66 24,53
Fonte: Autor (2018).
O concreto obteve s u c e s s o em atingir uma resistência característica
aproximada de 40 MPa.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
213
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
3.2 Ensaio de abatimento do tronco de cone.
A figura 6 apresen ta o resultado do ensaio de abtimento do tronco de
cone. Pode-se afirmar, com um abatimento de 11,5 cm, que a trabalhabilidade
do concreto é dada como baixa. Como seu adensamen to foi realizado de forma
manual, é plausível afirmar para futuros corpos de prova a utilização de
adensador .
Figura 6 - Resultado do ensaio de abatimento do tronco de cone segundo NBR NM 67.
Fonte: Autor (2018).
3.3 Resistência última ao cisalhamento dos corpos de prova
A tabela 4 apresen ta a s resistências últimas ao cisalhamento dos corpos
de prova juntamente com os resultados referente à s e q u a ç õ e s dispostas na
literatura aplicando a s condições de contorno utilizadas nos corpos de prova
confeccionados. As e q u a ç õ e s porpostas por Walraven (1987), Mattock [12]
(1988), Sonnenberg [13] (2003) e a disposta pela norma da ACI -318 [14] (2014)
foram utilizadas para a comparação dos dados coletados para verificar s e os
dados coletados es tão de acordo com o es tado da arte.
Tabela 4 - Resistências últimas ao cisalhamento
pfy Vu (MPa) Vn (MPa)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
214
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Mattock & Hawkings
(1972)
Walraven (1987)
Mattock (1988)
Sonnenberg Resul tados (2003) Exp.
ACI -318 (2014)
0,00 1,38 0,00 3,60 4,06 4,64 0 1,15 2,30 4,24 4,52 - 6,35 1,61 2,26 3,19 6,01 5,41 - 7,13 3,17 3,40 4 1 0 7,40 6 32 8 56 4 7 6 3,40 I u r j i w
Fonte: Autor (2018).
Gráfico 1 - Apresentação dos resultados comparado com a s e q u a ç õ e s
dispostas na literatura.
pfy x vu 9 . 0 0
8 . 0 0
7 . 0 0
^ 6 . 0 0
Ph 5 . 0 0
W 4 . 0 0 ^ 3 . ° °
2 . 0 0
1 . 0 0
0 . 0 0
y = 1 . 1 1 0 2 x + 4 . 7 7 8 R2 = 0 . 9 8 3 8
% M a t t o c k & Hawkings ( 1 9 7 2 )
% W a l r a v e n et . al. ( 1 9 8 7 )
— M a t t o c k ( 1 9 8 8 )
% S o n n e n b e r g ( 2 0 1 3 )
• R e s u l t a d o s Exp.
— A C I - 3 1 8 ( 2 0 1 4 )
Linear ( R e s u l t a d o s Exp.)
0 . 0 0 1 . 0 0 2 . 0 0 3 . 0 0 4 . 0 0
Pfy Fonte: Autor (2018).
Pode-se observar um comportamento frágil do corpo de prova C0 pelo
fato de não haver estribos neste. Ocorreu neste corpo de prova em específico a
falta do efeito de pino causado pela armadura ortogonal à seção, ou seja, a
resistência nele presente s e dá somente pela coesão do concreto e uma
pequena parcela do engrenamento dos agregados . Tal resultado pode ser
comparado com o disposto por Sonnenberg (2013), que apresentou es tudos
sobre a resistência ao cisalhamento sem a presença de taxa de armadura, porém
não é expressivo, por somente s e tratar de um corpo de prova confeccionado
sem armadura.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
215
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Através da análise do gráfico é possível afirmar que a resistência ao
cisalhamento do concreto aumenta conforme o aumento da taxa de armadura no
corpo de prova e que os dados gerados pelos ensa ios s e aproximam do que é
disposto na literatura.
3.4 Fissuração dos corpos de prova
A figura 7 apresenta os corpos de prova rompidos após os ensaios, da
esquerda para a direita C0, C1, C2 e C3, respectivamente. Fica visível a ruptura
frágil no corpo de prova sem armadura, efeito já explicado anteriormente. As
f issuras c a u s a d a s nos corpos de prova es tão marcadas em vermelho. Uma
hipótese para o aparecimento d e s s a s é a falta de armadura nas partes do corpo
de prova fora da s e ç ã o de análise.
Figura 7 - Corpos de prova rompidos pelo ensaio de cisalhamento direto
Fonte: Autor (2018).
4 Conclusões
Os ensa ios conseguiram aferir a resistência ao cisalhamento dos corpos
de prova confeccionados. Os resultados apresentados , com o auxilio da
comparação com a literatura, indicam que o aumento da taxa de armadura
utilizada. Esses , também muito s e aproximaram à s curvas dispostas na literatura
vigente, tornando os dados fidedignos.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
216
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
REFERÊNCIAS
[1] BIRKELAND, P. W., and BIRKELAND, H. W. Connect ions in Precast Concrete Construction. ACI Journal Proceedings, vol. 63, no 3, 1966. Crossref, doi:10.14359/7627.
[2] RANDL, Norbert. Des ign Recommendat ions for Interface Shear Transfer in Fib Model Code 2010. Structural Concrete, vol. 14, no 3, se tembro de 2013, p. 230-41 . Crossref, doi:10.1002/suco.201300003.
[3] SANTOS, Pedro M. D., e EDUARDO, N. B. S. Júlio. A State-of-the-Art Review on Shear-Friction. Engineering Structures, vol. 45, dezembro de 2012, p. 435-48 . Crossref, doi:10.1016/j.engstruct.2012.06.036.
[4] MATTOCK, Alan H., e Neil M. Hawkins. SHEAR TRANSFER IN REINFORCED CONCRETE - RECENT RESEARCH. PCI Journal, vol. 17, no 2, março de 1972, p. 55-75 . Crossref, doi:10.15554/pcij.03011972.55.75.
[5] WALRAVEN, Joost, et al. Influence of Concrete Strength and Load History on the Shear Friction Capacity of Concrete Member. PCI Journal, vol. 32, no 1, janeiro de 1987, p. 66-84 . Crossref, doi:10.15554/pcij.01011987.66.84.
[6] SAVARIS, Gustavo. ESTUDO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE VIGAS DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL. 2016. 207 f. T e s e (Doutorado) -Curso de PÓs-graduaÇÃo em Engenharia Civil, Ppgec, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.
[7] PUFAL, Kellyn Maressa. COMPARATIVO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DIRETO ENTRE CONCRETOS AUTOADENSÁVEL E CONVENCIONAL. 2017. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Coeci, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2017.
[8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 67: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 1998.
[9]ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 1994. [10] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7222: Argamassa e concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilíndrico. Rio de Janeiro, 1994.
[11] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova. Rio de Janeiro, 1994.
[12] MATTOCK, A. H. Influence of concrete strength and load history on the shear friction capacity of concrete members , publicado em PCI Journal,
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Janeiro-fevereiro 1987;32(1):66-84, by Walraven J, Frénay J, Pruijssers A. PCI J 1988;33(1):165-6.
[13] SONNENBERG, A. M. C., et al. Behaviour of Concrete under Shear and Normal s t r e s s e s . Magazine of Concrete Research, vol. 55, no 4, agosto de 2003, p. 367-72 . Crossref, doi:10.1680/macr.2003.55.4.367.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
218
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
ANÁLISE DA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DOS CONCRETOS DE PÓS
REATIVOS COM ADIÇÃO DE FIBRAS: UMA REVISÃO DA LITERATURA. Elizamary Otto Ferreira 1
Carlos Eduardo Tino Balestra 2
Resumo: O concreto é um material com propriedades mecânicas amplamente conhecidas, atualmente a tecnologia para melhoria des te material vem sendo amplamente es tudada. Com a necess idade de realizar obras e p e ç a s pré-moldadas mais esbel tas e com maior resistência mecânica, os concretos de pós reativos (CPR) surgiram para que fos se possível confeccionar produtos que a tendam a e s s a s necess idades . As pesquisas buscam atingir altas resistências a t ravés da utilização de materiais provenientes da sílica ativa, do quartzo, cimento Portland, superplastificante e água. Quando s e aplicam processos de execução e cura com alto controle tecnológico nos CPR, a s propriedades físicas e mecânicas s ão melhoradas. O presente trabalho tem por objetivo es tudar metodologias aplicadas a o s CPR que geram valores significativos de resistência a t ração pelo ensaio de compressão diametral e como seria a aplicação para confecção de tubos de concreto de pós reativos através de referências encontradas na literatura. Utilizando a plataforma Scopus e Science Direct, encontrou-se três pesquisas de CPR ensa iados a resistência por compressão diametral e um artigo relacionado a confecção de tubos de concretos de pós reativos. A revisão indicou que fatores como o traço definido, o método de cura e a s características d a s fibras - se ja o material de qual é fabricado e a porcentagem aplicada no CPR - s ão importantes para definir a s características finais dos CPR, além de que, quando comparado ao tubo de concreto de pós reativos, existem melhorias de traços e cura que poderiam melhorar a resistência a o s esforços de tração.
Palavras-chave: Concreto de Pós Reativos; Resistência a tração; Fibras metálicas.
1 UTFPR - Acadêmica do Curso de Engenharia Civil 2 UTFPR - Orientador e docente do Curso de Engenharia Civil
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
219
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
1. Introdução
Os concretos de pós reativos (CPR) foram desenvolvidos com o
propósito de resistirem a maiores esforços quando comparados aos concretos
convencionais, isso s e dá pelo fato da arquitetura definir estruturas cada vez
mais esbel tas (VANDERLEI, 2004). S u a s primeiras aplicações ocorreram na
França e no Canadá e a composição dos CPR é formada principalmente por
materiais pulverulentos e com baixa granulometria, sendo eles o cimento
Portland, sílica ativa, areia de quartzo, superplastificante e água (CIESLAK &
GRZYBOWSKI, 2012).
As resistências finais dos CPR possuem valores superiores significantes
quando comparado ao concreto tradicional, podendo variar de 200 MPa até 800
MPa e em ensa ios de t ração os valores variam entre 25 a 150 MPa (WANG et
al., 2015). Tais valores podem ser atingidos quando os CPR são submetidos a
p rocessos controlados de temperatura e umidade durante o processo de cura,
garantindo a ativação d a s atividades pozolânicas e a p resença da água de
a m a s s a m e n t o (CIESLAK & GRZYBOWSKI, 2012).
A utilização de sílica ativa é feita pelo fato de ela atuar como micro filler,
diminuindo zonas de transição pelo preenchimento de pequenos vazios
(CIESLAK & GRZYBOWSKI, 2012). O quartzo, se ja na forma de areia ou pó,
apresen ta elevada resistência mecânica (TUTIKIAN, ISAIA; HELENE, 2011). A
relação água/cimento (a/c) deve ser de aproximadamente 0,15 - proporção
possível quando s e utiliza superplastificante na mistura para garantir certa
trabalhabilidade do material (VANDERLEI, 2004).
Quando s e aplica cura térmica em concretos de pós reativos, a s
atividades pozolânicas da sílica ativa e do pó de quartzo s ã o ativadas, elevando
a resistência mecânica do material e diminuindo a porosidade, podendo ele
variar de temperatura e de umidade (CIESLAK & GRZYBOWSKI, 2012).
A aplicação de concreto como material de fabricação de tubos foi
difundida pelas características do concreto de resistência, durabilidade e
impermeabilidade (FUGII, 2008). Os tubos de concreto s ã o aplicados nas obras
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
220
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
de engenharia enterrados, tendo assim que resistirem a o s esforços de
compressão diametral - quando a força é aplicada ao longo do comprimento útil
do tubo. Este ensaio é adotado para identificar o suporte de carga do tubo, por
sua fácil execução e por gerar valores correspondentes com os aplicados em
campo (SILVA, 2011).
Tendo em vista a necess idade do concreto atingir altos valores de
resistência a tração e a flexão, utiliza-se a adição de fibras de aço para que o
concreto torne-se mais dúctil, durável e apresen te melhor resistência ao impacto.
Sua adição é feita conforme a s características da fibra - como comprimento e
diâmetro - relacionado ao volume total do concreto, tendo uma proporção
máxima satisfatória (SU et al., 2016).
Tendo em vista a s características mecânicas e econômicas solicitadas
pelos tubos de concreto, existe a necess idade de criar novas tecnologias para
que a partir da aplicação des te tipo de material s e obtenham produtos mais
resistentes a o s esforços mecânicos e ao a taque de sulfetos, assim como
mantenha seu valor econômico viável. Desta forma, o trabalho tem por objetivo
analisar o comportamento dos concretos de pós reativos ao ensaio de
compressão diametral com ên fa se na sua aplicação em tubos e a utilização de
fibras a t ravés de uma revisão da literatura sobre o tema.
2. Materiais e Métodos
2.1. Materiais
Para desenvolver a pesquisa em relação a o s tubos de concretos de pós
reativos criou-se uma biblioteca de aproximadamente 40 artigos referentes ao
CPR e analisou-se publicações relacionadas ao es tudo de resistência a t ração
do material. Todos os artigos, d isser tações e t e s e s foram adquiridas a t ravés d a s
plataformas Scopus, Science Direct e SciELO. As palavras-chaves utilizadas
para a pesquisa foram: Reactive Powder Concrete, Tensile Strength, Concrete
Pipes, Fibres, Tubos de Concreto, Concreto de Pós Reativos, Fibras de Aço e
Compressão Diametral.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Baseado nos resumos e metodologias de cada artigo, analisou-se os que
apresentavam informações mais relevantes em relação a resistência a t ração
por compressão diametral do concreto de pós reativos com adição de fibras e
quando es te era moldados em formato de tubo. Sendo assim, definiu-se quatro
artigos para seguir a pesquisa. Os artigos selecionados foram anal isados com
ê n f a s e e com aprofundamento, s endo s e u s resultados ap resen tados nes te
trabalho.
• SHAFIEIFAR, Mohamadreza. , FARZAD, Mahsa., AZIZINAMINI, Atorod.
Experimental and numerical study on mechanical properties of Ultra High
Performance Concrete (UHPC). Construction and Building Materials, p. 402 -
411. 2017.
• MACHADO, Gabrieli. F., & PICCININI, Ângela C. Análise experimental
do comportamento do concreto de pós reativos - CPR. 18p. Artigo de
Conclusão de Curso (Graduação) - Engenharia Civil, Universidade do Extremo
Sul Catarinense, 2017.
• SU et al. Effects os steel fibres on dynamic strength of UHPC.
Construction and Building Materials, p. 11. 2016.
• STANG, H., LI, Victor. Extrusion of ECC-material. 10 p. Es tados Unidos
da América. 2003.
2.2. Método
Shafieifar, Farzad e Azizinamini (2017) realizaram es tudos de resistência
a t ração em concretos de pós reativos reforçados com fibras. A relação a/c
adotada pelo autor foi de 0,15 e a s fibras de aço tinham 0,2 mm de diâmetro,
12,5 mm de comprimento e resistência de 2600 MPa. O volume de fibra
adicionado foi de 2% em relação ao volume de concreto. O traço do concreto,
em massa , é apresen tado na Para a confecção do concreto, misturou-se primeiro
os materiais pulverulentos com metade dos materiais líquidos por 4 minutos num
misturador mecânico, após isso adicionou o restante dos líquidos e deixou a
mistura por mais 15 minutos. Ao final do processo, a s fibras de aço foram
adicionadas manualmente no concreto e s e devolveu a mistura para o misturador
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
222
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
para agitação por mais 6 minutos para total dispersão d a s fibras. O concreto foi
moldado em cilindros de 75 mm de diâmetro por 150 mm de altura. A
desmoldagem ocorreu a p ó s 24 horas e a s amost ras ficaram em cura úmida por
27 dias. O ensaio realizado foi o de tração por compressão diametral.
Tabela 1.
Para a confecção do concreto, misturou-se primeiro os materiais
pulverulentos com metade dos materiais líquidos por 4 minutos num misturador
mecânico, após isso adicionou o restante dos líquidos e deixou a mistura por
mais 15 minutos. Ao final do processo, a s fibras de aço foram adicionadas
manualmente no concreto e s e devolveu a mistura para o misturador para
agitação por mais 6 minutos para total dispersão d a s fibras. O concreto foi
moldado em cilindros de 75 mm de diâmetro por 150 mm de altura. A
desmoldagem ocorreu a p ó s 24 horas e a s amost ras ficaram em cura úmida por
27 dias. O ensaio realizado foi o de tração por compressão diametral.
Tabela 1 Traço adotado por Shafieifar, Farzad e Azizinamini com
adição de fibras de aço, em massa . -
Cimento 1
Silica Ativa 0,32
Areia de Quartzo 1,43
Pó de Quartzo 0,30
Acelerador de pega 1,36%
Superplastif icante 1,36%
Fibra de a ç o 2%
Água 0,15
Fonte: Shafieifar, Farzad, & Azizinamini (2017)
No segundo artigo pesquisado, Machado e Piccinini (2017) realizou a
análise de CPR com e sem a adição de fibras metálicas, ensa iando 10 corpos
de prova para cada situação. Para a confecção dos corpos de prova os autores
utilizaram a s fibras de aço com 0,15 mm de espessura , 13 mm de comprimento
e módulo de elasticidade de 200 GPa. O traço é apresen tado na Tabela 2.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
223
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Para a fabr icação dos C P R utilizaram um misturador mecânico,
homogene izando o s materiais s e c o por 5 minutos, depois adicionaram uma
so lução de á g u a e superplast if icante e homogene iza ram por mais 10 minutos.
O s moldes e ram cilindros de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura, s e n d o
d i s p e n s a d o em 4 c a m a d a s e a d e n s a d o com trinta golpes d e soque t e padrão.
Repet iu-se novamente a metodologia para confeccionar a s amos t r a s
re forçadas com fibras, s e n d o q u e a o s 13 minutos de mistura, o s au to res
adicionaram a porcen tagem de fibras pré-determinada em partes, para que
h o u v e s s e uma boa d i spe r são de las na mistura.
Tabela 2 - Traço ado tado por Machado e Piccinini c o m ad ição de
f ibras metál icas , e m m a s s a .
Cimento 1
Silica Ativa 0,15
Areia d e Quartzo 1,10
Pó de Quartzo 0,24
Fibra d e a ç o 3%
Superplast i f icante 3%
Agua 0,20
Fonte: MACHADO & PICCININI (2017)
O s au to res Su et al. (2006) realizaram a fabr icação d e C P R adicionando
nano partículas CaCO3 - aditivo utilizado para melhorar a resistência a o impacto
e a t ração nos concre tos - e fibras d e a ç o s na mistura. O s modelo d e fibra
a d o t a d o s s ã o descri tos na Tabe la 3. O s t raços s ã o descri tos na Tabela 4.
Tabela 3 - D i m e n s õ e s d a s f ibras util izadas por Su et al. (2006).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
224
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Modelo Módulo de Elasticidade (GPa) Diâmetro (mm) Comprimento (mm)
MF 06 210 0,12 6
MF 15 210 0,12 15
TF 03 210 0,30 30
TF 05 210 0,50 30
Fonte: SU et al (2016).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
225
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Tabela 4 - Traço adotado por Su et al. com adição de fibras metálicas,
em massa.
Cimento 1
Sílica Ativa 0,30
Sílica Moída 0,25
Areia de Quartzo 1,37
Superplastificante 2%
Nano partícula CaCO3 3%
Agua 0,25
Fibra de Aço 0,25
Fonte: SU et al (2016).
Para a confecção realizou-se a mistura dos materiais s e c o s em um
misturador mecânico por 5 minutos. Adicionou-se 70% da m a s s a de água e
agitou-se por 3 minutos. O superplastificante e o restante da água foram
adicionados processando o CPR por mais 5 minutos. A adição d a s fibras de aço
foi realizada manualmente para evitar aglomeração e garantir a distribuição por
todo o material. Moldou-se um corpo de prova de 75 mm de diâmetro e 37 mm
de altura com 2,5% de fibra para os modelos TF 03, TF 05, MF 15 e MF 06,
assim como para 1,0% e 0,5% de fibras do modelo MF 15. A cura iniciou em um
lugar com temperatura controlada de 20°C e úmido nas primeiras 24 horas, em
seguida foram desmoldados e seguiram para a cura térmica submersos em água
a 90°C durante 48 horas. Por fim, os corpos de prova voltaram para o ambiente
inicial e permaneceram lá a té data de ruptura.
Para analisar a capacidade de resistência dos CPR quando possuem
conformação de tubo, Stang e Li (2003) es tudaram a aplicação d e s d e material
em tubos extrudados, utilizando fibras de polietileno, com diâmetro de 0,038 mm,
comprimento de 19 mm e módulo de elasticidade é de 210 GPa. Por conta do
processo de extrusão, s e adicionou metil-hidroxietilcelulose (MHEC), produto
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
226
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
para aumentar a viscosidade do concreto no seu es tado fresco. O traço adotado
para o CPR es tá apresen tado na Tabela 5.
Tabela 5 - Traço adotado por Stang e Li com adição de fibras, em massa.
Cimento 1
Sílica Ativa 0,125
Pó de Quartzo 0,125
Areia de Quartzo 0,5
Superplastificante 0,01
MHEC 0,0012
Fibra de aço 1,43%
Agua 0,3
Fonte: STANG & LI (2003)
Os materiais s ão misturados dentro da extrusora, garantindo uma boa
homogeneização dos materiais do concreto e d a s fibras. Durante a extrusão, o
material p a s s a por um processo de consolidação e de compactação, garantindo
um bom empacotamento d a s partículas e d a s fibras. Os autores utilizaram uma
extrusora que conformava o concreto de pós reativos em tubos de 100 mm de
diâmetro com e spes su ra d a s pa redes de 10 mm. Os corpos de prova foram
curados inicialmente a temperatura ambiente com 100% de umidade durante 24
horas. Após isso, a s amost ras foram para um processo de cura térmica a 50° C
submersos em água durante uma semana .
3. Resultados e discussão
Para o ensaio realizado por Shafieifar, Farzad e Azizinamini (2017) o
carregamento foi aplicado até que o corpo de prova apresen ta - se uma abertura
no centro do cilindro, representando que o limite de resistência foi atingido. O
resultado médio da resistência à t ração do teste para o concreto de pós reativos
reforçados com fibra foi de 20,7 Mpa. A abertura de f issuras demonstra que o
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
227
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
material teve sua ductilidade e módulo de elasticidade melhorados, gerando um
valor expressivo de resistência a t ração diametral.
Machado e Piccinini (2017) realizaram a ruptura para a s amost ras a o s 7
dias, onde o CPR sem fibras metálicas teve resistência a compressão diametral
de 6,36 MPa, sendo que, para os concretos reforçados com fibras metálicas a
resistência foi de 6,65 MPA. Para os 28 dias a resistência final d a s amost ras sem
fibras foi de 7,01 MPa, enquanto os reforçados com fibras tiveram resistência de
9,17 MPa.
Su et al. (2016) obtiveram 20,5 MPa de resistência a compressão
diametral para o CPR com o modelo de fibra MF 06; 22,2 MPa para o CPR com
a fibra MF 15; 13,5 MPa com a adição da fibra TF 03 e 15,0 MPa com a fibra TF
05.
O concreto onde s e adicionou a fibra MF 15 apresentou a maior
resistência a tração, indicando melhor ductilidade e capacidade de absorção do
esforço. Já para os resultados d a s porcentagem volumétrica de fibra adicionado
nos concretos, com b a s e na Figura 3, nota-se que a resistência final ao esforço
de tração foi melhorada em relação ao aumento da porcentagem de fibras
adicionadas, assim como a ductilidade do material.
Figura 3- Resistência a compressão diametral com diferentes volumes de fibras.
Fonte: Su et al. (2016)
Quando Stang e Li (2003) realizaram o ensaio de resistência a tração
por compressão diametral nos tubos de concreto, o resultado obtido demonstrou
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
228
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
um comportamento linear inicial a té 14 MPa aproximadamente, com 0,4 mm de
deformação. Em seguida, houve um aumento irregular de resistência a té 22,5
MPa, dentro de um intervalo de 2 a 8 mm, sendo definido como valor máximo
para os tubos extrudados.
4. Conclusão
O enfoque principal des te artigo é realizar uma análise dos concretos
de pós reativos, observando seu traço, o processo de cura e a resistência a
t ração pelo ensaio de compressão diametral. E s s e s dados foram utilizados para
comparar com o valor de resistência a tração em concretos moldados em forma
de tubo, avaliando os resultados obtidos na literatura referente ao tema.
• Quanto a o s traços adotados, observa-se que Shafieifar, Farzad e
Azizinamini (2017) e Su et al. (2016) possuíam traços com a proporção
dos materiais próximos. Porém, Su et al (2016) utilizou a adição de nano
partículas de CaCO3, favorecendo a melhoria do d e s e m p e n h o mecânico
dos CPR.
• O processo de cura aplicado pelos autores ocorreu sempre com a
presença de umidade, porém, Su et al. (2016) realizaram o processo
com a temperatura de 90° C e Stang e Li (2003) utilizaram 50° C. E s s a s
temperaturas e levadas contribuem para que os resultados finais de
resistência a t ração sejam maiores, uma vez que ocorre a melhoria d a s
atividades pozolânicas dos CPR.
• Observa-se que, Su et al. (2016) apresentaram valores
significativos de resistência, em comparação com os outros autores, isso
pode s e dar pelo fato deles terem aplicado fibras com módulo de
elasticidade maior que Machado e Piccinini (2017) e com maior
porcentagem em comparação ao Shafieifar, Farzad e Azizinamini
(2017).
• Quando s e observa os resultados de ensa ios de resistência a
t ração por compressão diametral em corpos de provas cilíndricos e os
compara com o resultado dos tubos extrudados, é possível observar que
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
229
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
s ã o valores proporcionais. É possível que es tudos mais avançados de
teor da porcentagem de fibras, adição de aditivos e melhorias nos
p rocessos de cura gerem tubos de CPR com maiores resistências finais.
5. Referências
BEVILACQUA, Nelson. Materiais de tubulação utilizadas em s i s t e m a s de
coleta e transporte de e s g o t o s sanitários de c a s o da área norte de S ã o
Paulo. Dissertação de Mestrado, Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo, S ã o Paulo, 2006.
CIESLAK, Malcon., GRZYBOWSKI, Tiago. Anál ise experimental comparativa
entre concre tos de p ó s reativos d o s a d o s pe los m o d e l o s de Alfred e
Andreasen. Artigo de Graduação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Curitiba, 2012.
FUGII, Ana P. Avaliação de tubos de concreto reforçados c o m fibras de a ç o
s e g u n d o a NBR 8890. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia de
Ilha Solteria, Departamento de Engenharia Civil, Ilha Solteria, 2008.
HU, Ji-hong et al. Mechanical performances and evolution of stiffness of thin-
walled strain hardening cement-based composites pipes during cyclic loading.
Construction and Building Materials, p. 400-407, jan. 2018.
MACHADO, Gabrieli. F., & PICCININI, Ângela C. Análise experimental do
comportamento do concreto de p ó s reativos - CPR. 18p. Artigo de Conclusão
de Curso (Graduação) - Engenharia Civil, Universidade do Extremo Sul
Catarinense, 2017.
SHAFIEIFAR, Mohamadreza. , FARZAD, Mahsa., AZIZINAMINI, Atorod.
Experimental and numerical study on mechanical properties of Ultra High
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Performance Concrete (UHPC). Construction and Building Materials, p. 402 -
411. 2017.
SILVA, Jefferson. L. Análise de tubos circulares de concreto armado para o ensaio de compressão diametral com base na teoria de confiabilidade. Tese
de Doutorado, Escola de Engenharia de S ã o Carlos da Universidade de S ã o
Paulo, S ã o Carlos, 2011.
STANG, H., LI, Victor. Extrusion of ECC-material. 10 p. Es tados Unidos da
América. 2003.
SU et al. Effects os steel fibres on dynamic strength of UHPC. Construction and
Building Materials, p. 11. 2016.
TUTIKIAN, B., ISAIA, G., & HELENE, P. Concreto de Alto e Ultra-Alto
Desempenho. Concreto: Ciência e Tecnologia 2011.
VANDERLEI, Romel. D. Análise experimental do concreto de pós reativos:
dosagem e propriedades mecânicas. São Carlos, 2004.
WANG, Dehui et al. A review on ultra high performance concrete: Part II.
Hydration. Construction and Building Materials, p. 368-377, 2015.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
231
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
RESOLUÇÃO NUMÉRICA DE UM CIRCUITO RLC POR MEIO DO MÉTODO
DAS DIFERENÇAS FINITAS Emilly Zucunelli Krepkij20
Eduarda Simonis Gavião2
Jocelaine Cargnelutti 3
1 Resumo
As e q u a ç õ e s diferenciais ordinárias (EDOs) s ã o importantes em vários
ramos da Engenharia, pois, por meio delas é possível observar o comportamento
de processos físicos e químicos. Em muitos casos , a s e q u a ç õ e s diferenciais não
possuem solução analítica ou sua obtenção é complexa. Deste modo, buscam-
s e outras formas de obter o comportamento des t e s problemas. Neste sentido, os
métodos numéricos ap resen tam-se como uma alternativa para estimar o
comportamento des te s problemas. Um des tes métodos é o método d a s
diferenças finitas (MDF). O método d a s diferenças finitas substitui a s derivadas
da equação governante do problema, por aproximações obtidas a partir da série
de Taylor. O objetivo do presente trabalho é aplicar o MDF em uma equação
diferencial ordinária que modela um circuito elétrico de segunda ordem que
possui dois e lementos de armazenamento , capacitores e/ou indutores. A partir
de cálculos numéricos, obteve-se a s variáveis d e s e j a d a s que s ão a t ensão de
sa ída do capacitor e/ou a corrente que p a s s a pelo indutor. Posteriormente,
realizou-se a comparação entre os resultados obtidos na solução analítica e
numérica. A equação diferencial de um circuito elétrico, como o estudado, é uma
e q u a ç ã o diferencial homogênea de coeficientes constantes . A solução analítica
é feita usando técnicas conhecidas para resolução de e q u a ç õ e s diferenciais
ordinárias homogêneas . Por fim, a comparação entre a solução analítica e
numérica foi obtida por meio do erro relativo. Ao final d a s operações , é possível
observar um pequeno erro. Para tornar es te erro menor deve-se utilizar
20 Acadêmica do Curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná câmpus Toledo. 2 Acadêmica do Curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná câmpus Toledo. 3 Docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná câmpus Toledo.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
232
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
pequenos intervalos na discretização. Finalmente, o resultado da solução
numérica foi muito próximo da solução analítica o que comprova a eficiência do
método numérico para resolver e q u a ç õ e s diferencias.
2 Métodos numéricos
As soluções de alguns problemas podem ser deduzidas usando
estratégias analíticas que fornecem o comportamento des t e s problemas. Porém,
e s s e s métodos só podem ser usados para um número finito de sis temas, porque
em problemas reais a resolução s e torna muito mais complexa ou impossível,
por isso, utiliza-se métodos numéricos, que possibilitam encontrar soluções
numéricas por meio de operações aritméticas, conforme Fortuna (2012).
Os métodos numéricos s ã o uma maneira de resolver problemas por um
número finito de operações , tais como, ope rações aritméticas elementares ,
cálculo de funções, consulta a um gráfico ou tabela de valores. Para isso, faz-se
necessár io a modelagem que consiste em encontrar e q u a ç õ e s governantes dos
problemas analisados. E s s e s modelos explicam o comportamento do sistema. É
importante lembrar também que, a representação a d e q u a d a d a s características
físicas do problema por meio d a s condições iniciais ou de contorno é um fator
crucial para a estabilidade e precisão d a s s imulações numéricas (GALINA, et al.
2017). Com b a s e nos resultados des te estudo, Fortuna (2012), descreveu a s
van tagens da solução numérica que s ão a não restrição à linearidade, uso em
geometr ias e processos complicados e evolução temporal do processo. Do
m e s m o modo, ocorrem desvan tagens como, erros de truncamento, prescrição
d a s condições de fronteira apropriadas e custos computacionais.
No fim da década de 1940, a disponibilidade dos computadores digitais
levou a um grande uso dos métodos numéricos. Segundo Chapra (2008), e s s a s
implementações s ão um veículo eficiente para o aprendizado do uso de
computadores, principalmente para aprender a programar e ainda serve para o
profissional reforçar sua cognição matemática.
Com a vinda da era digital, ocorreu uma procura muito maior por métodos
numéricos na Engenharia, por serem mais rápidos e eficientes ao resolver um
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
233
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
problema, por isso, ainda de acordo com Chapra (2008), s e tornou uma
alternativa de grande importância para cálculos mais complicados.
2.1 Método das diferenças finitas
O método d a s diferenças finitas é uma técnica numérica usada para
resolver e q u a ç õ e s diferenciais muito complexas ou impossíveis de serem
resolvidas analiticamente. De acordo com Silva (2016), o método consiste em
aproximar a derivada de uma função a partir de dois pontos consecutivos e
quanto menor o e spaçamen to entre os dois pontos, mais próximo será o
resultado, ou seja, menor se rá o erro.
O MDF transforma a resolução da equação diferencial em um sis tema de
e q u a ç õ e s algébricas. Conforme Cargnelutti (2015), compreende na
discretização do domínio, que leva a substituição da região contínua pelo
discreto e na substituição d a s derivadas por e q u a ç õ e s aproximadas, e s s a s
aproximações provêm da Série de Taylor.
A discretização é feita porque o método só é válido para regiões
descont ínuas, ou seja, que possui pontos finitos no seu domínio. Por isso, ele é
dividido em pontos, a isso é dado o nome de discretização do domínio
representado por pontos de maneira a formar uma malha computacional. O
conjunto de pontos é chamado de malha e espera-se , com o aumento da
quantidade de pontos, que os resultados obtidos se jam mais precisos. A Figura
1 ilustra uma malha bidimensional.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
234
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 1 - Malha discretizada bidimensional Fonte: Autoras (2018).
Diferenças finitas s ã o aproximações para o limite do quociente que define
uma derivada. A definição de derivada em um ponto x é dada por:
£ = | i m f(x + h) - f(x) dx h ^ 0 h J
(1)
s endo h a distância entre dois pontos de f.
Como visto anteriormente, a s aproximações de diferenças finitas ocorrem
por meio da expansão da série de Taylor de uma função f em torno de um ponto.
Se ja f(x) uma função contínua em [a, b] e a m e s m a possui derivadas de ordem
N contínuas nes te intervalo, o Teorema de Taylor permite escrever:
f(xo) = f(xo) + (Ax) df + (Ax)2 d2f
xo 2! dx 2 + (Ax)3 d3f
x o 3! dx3 + ...+RN ,
x o (2)
onde Ax = x - x0 e RN é o resto. Considere na Figura 2, os pontos da malha
unidimensional:
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
235
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 2 - Malha unidimensional
Fonte: Autoras (2018).
os pontos s ã o e s p a ç a d o s de xj - xj-1 = Ax.
Para determinar a primeira derivada de uma função no ponto xj = jAx
denotada por df ., feita a expansãode f(xj + Ax) em série de Taylor em torno do
ponto X.,
f ( x j + Ax ) = f(x.) + (Ax) d + (Ax)2 d2f
2! dx 2 + (Ax)3 d3f
3! dx3 + ... + RN . (3)
Quando a derivada primeira da função é isolada e descons iderando a s
derivadas de ordem acima de um, obtém-se a derivada progressiva:
_ f ( x + Ax ) - f(xj) Ax J (4)
assim chamada porque foi utilizado um ponto adiante de x., o x. + Ax. Em
seguida tem-se a derivada a t rasada e central, respectivamente:
= f(xj) - f(xj - Ax)
Ax
e
_ f(x. + Ax ) - f(x. - Ax)
2Ax
(5)
(6)
Quando há o rearranjo dos termos tem-se que ;
d2f = f(xj + Ax ) -2f(xj) + f(xj - Ax)
dx 2 : = (Ax)2 (7)
Por fim, substitui-se a s aproximações acima nas derivadas da equação
diferencial e a partir d a s condições de contorno ou iniciais, obtém-se a s
e q u a ç õ e s algébricas que levarão a solução numérica da equação diferencial.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
236
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
É importante avaliar o erro relativo entre a solução analítica e a solução
numérica, s e possível. Seu cálculo pode ser feito por meio da expressão (8),
E R _ I solução analítica-solução numérica (8) I solução analítica " ^ '
3 Equação diferencial para um circuito elétrico RLC
Na Engenharia Elétrica, a s EDOs são bastante utilizadas para modelar
circuitos elétricos compostos por resistores, indutores e capacitores. A e s s e
circuito é dado o nome de circuito RLC podendo estar em série ou em paralelo.
De acordo com Sadiku (2013), um circuito RLC é um circuito de segunda ordem
que é caracterizado por uma e q u a ç ã o diferencial de segunda ordem. Ele é
formado por resistores e o equivalente dos e lementos de armazenamento .
Há circuitos com e sem fontes. Com fontes s ã o modelados por e q u a ç õ e s
diferenciais ordinárias não homogêneas , já os sem fontes, s ã o representados
por e q u a ç õ e s diferenciais ordinárias homogêneas , o qual será es tudado nes te
trabalho.
Em circuitos elétricos a s condições iniciais s ã o muito importantes para
determinar o comportamento final da t ensão de sa ída de um capacitor ou
corrente de um indutor. Para encontrar a s condições iniciais é necessár io
analisar o circuito em ques tão e aplicar a s propriedades e s tudadas em circuitos
elétricos.
As raízes da equação característica também têm significados importantes
para os circuitos elétricos. Elas fornecem a resposta natural e s ã o c h a m a d a s de
f requências naturais. Quando a s raízes encont radas s ão raízes reais e distintas,
diz-
s e que a resposta foi de amortecimento supercrítico. Quando a s raízes s ão reais
e iguais, ocorre um caso de amortecimento crítico e quando há raízes
complexas, diz-se que a resposta foi subamortecida, conforme Sadiku (2013).
Todos os c a s o s es tão representados no gráfico da Figura 3.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
237
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Subamortecido
Figura 3 - Gráfico do comportamento do circuito elétrico
Fonte: Autoras (2018).
4 Materiais e m é t o d o s
Primeiramente, usando os conhecimentos em circuitos elétricos, aplicam-
s e a s Leis de Kirchhof e também determinam-se a s condições iniciais do circuito
apresen tado na Figura 4. Por fim, encontra-se a EDO que descreve o
comportamento do circuito RLC da Figura 4 que se rá resolvida analiticamente e
numericamente, utilizando o método d a s diferenças finitas. O resultado fornece
a corrente que p a s s a pelo indutor.
Figura 4 - Circuito RLC em série s e m fonte
Fonte: Autoras (2018).
r 4 + 100d! + 1000i = 0 d t 2 dt
i(0) = 2 (9)
^ = -200.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
238
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Para resolver analiticamente, utilizam-se os mecanismos conhecidos para
a resolução de EDO. Para a solução numérica, implementa-se na linguagem C
por meio do software livre software livre CodeBlocks.
5 Resultados e discussões
Inicialmente, encontrou-se a solução analítica da e q u a ç ã o diferencial.
Para determinar a solução analiticamente, foram aplicados métodos de
resolução de EDOs homogêneas de coeficientes constantes . A e q u a ç ã o
característica assoc iada a EDO em (9) é dada por m2 + 100m + 1000 = 0 e s u a s
raízes s ão iguais a m1 = -11,27 e m2 = -88,73, e que para a s condições iniciais
d a d a s anteriormente, a solução analítica será igual a i(t) =
-0,29e - 1 1 , 2 7 t + 2,29e - 8 8 , 7 3 t e o circuito tem uma resposta de amortecimento
supercrítico.
Posteriormente, s ão feitos os p a s s o s para chegar a solução numérica pelo
método d a s diferenças finitas. As fórmulas do MDF de derivada segunda e
derivada primeira progressiva s ã o substituídas na EDO do circuito elétrico como
descrito,
•f(xj + Ax ) - 2f(xj) + f(xj - Ax)
(Ax) + 100
rf(x; + A x ) - f(xjV
Ax + 1000f(x), (10)
x será substituída por t, o tempo e f(x) se rá substituída por i(t), a corrente variável
no tempo que p a s s a pelo indutor. O índice j = 0,1,2,3...
A equação (10) é organizada de maneira que f(xj + Ax ) es te ja em
evidência e obtém-se:
f ( x + A x V f ( x j ) [-1000(Ax)2+ 100Ax + 2] - f(xj - Ax) v i j 1 + 1 0 0 A x " ( )
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
239
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
As condições iniciais podem ser u s a d a s para encontrar f(xj - Ax), por
exemplo, utilizando a derivada primeira central e igualando a derivada primeira
no ponto inicial como descrito anteriormente, s e g u e que:
d f ( 0 ) _ f ( x j + A x ) - f ( x j - A x ) _ - 2 0 0 ( 1 2 ) dx 2Ax ' ( )
f(x j - Ax) _ f(x j + Ax) + 400Ax. (13)
Substituindo (14) em (12) e isolando f(xj + Ax) novamente, obtém-se:
k N f ( x ) [-1000(Ax)2+ 100Ax + 2] - 400Ax f(xj + Ax) _ — - . (14) v j J 2 + 1 0 0 A x v '
Então, o s is tema s e torna:
. \ f íx,) [-1000(Ax)2+ 100Ax + 2] - 400Ax . ^ f ( x + A x )_ — (2 )+ ] para j _ 0
2 + 1 0 0 A x
f(xj + Ax )_ f ( j [ - 1 0 0 0 ( A x 1 2 + 1 00
00 A x + 2 ] - f ( x j - A x ) , para j _ 1, 2, 3...
(15)
O índice zero corresponde a origem da malha, portanto, o valor no ponto
zero. O valor do incremento, Ax, foi s endo alterado para obter a s soluções
numéricas. O primeiro tes te foi realizado utilizando Ax _ 0,01. A comparação
entre a s soluções numérica e analítica, para es te caso, é apresen tada na Figura
5. O erro relativo foi de 0,12199%.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
240
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 5 - So lução com Ax = 0,01
Fonte: Autoras (2018).
A segunda simulação foi realizada utilizando Ax = 0,001. A comparação
entre solução numérica e analítica, para es te caso, é apresen tada na Figura 6.
O erro relativo foi de 0,03173%.
Figura 6 - So lução com Ax = 0,001
Fonte: Autoras (2018).
6 Conc lusão
De acordo com os resultados obtidos, pode-se perceber a eficiência dos
métodos numéricos aplicados em problemas de Engenharia. Em particular,
nes te trabalho, o MDF respondeu de maneira satisfatória quando comparado a
solução analítica do problema envolvendo circuito elétrico RLC. Verificou-se,
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
241
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
nes te trabalho, a importância de aliar métodos numéricos e métodos analíticos
para a resolução de e q u a ç õ e s diferenciais, permitindo ao aluno a ampliação de
s e u s conhecimentos técnicos e científicos, com a aplicação de importantes
conteúdos relacionados com a matemática, Engenharia e programação.
REFERÊNCIAS
CHAPRA, Steven C. Métodos numéricos para engenharia. 5. ed. S ã o Paulo, SP: McGraw-Hill, 2008. xxi, 809 p. ISBN 9788586804878.
SILVA, Adilson Costa da et al. Simulador de Oscilações Mecânicas. Revista Brasileira de Ensino de Física, [s.l.], v. 38, n. 3, p.3310-3324, set. 2016. FapUNIFESP (SciELO).
SADIKU, Matthew N. O.; MUSA, Sarhan M.; ALEXANDER, Charles K. Análise de circuitos elétricos c o m apl icações . Porto Alegre, RS: AMGH, 2014. 680 p. ISBN 9788580553024.
GALINA, Vanderlei et al. S imulação de e s c o a m e n t o de água em canal entre placas paralelas utilizando o método do reticulado de Boltzmann. Proceeding Ser ies Of The Brazilian Society Of Computational And Applied Mathematics, [s.l.], v. 5, n. 1, p.1-7, 14 abr. 2017. SBMAC. http://dx.doi.org/10.5540/03.2017.005.01.0326.
CARGNELUTTI, Jocelaine; GALINA, Vanderlei. Aplicação do método d a s diferenças finitas em e q u a ç õ e s diferenciais ordinárias. In: SEMINÁRIO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO DA UTFPR, 5., 2015, Campo Mourão. Seminário de Extensão e Inovação da UTFPR. Campo Mourão: Utfpr, 2015. p. 1 - 10.
FORTUNA, Armando de Oliveira. Técnicas Computacionais para Dinâmica d o s Fluidos. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2012. 552 p.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
242
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ASPECTOS DA INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA NO PROJETO DE EDIFÍCIOS
Fernanda Garcia Silva21
Patricia de Lima Accorsi2
Gustavo Savaris3
Resumo
O artigo apresen ta uma revisão bibliográfica sobre a importância da
consideração da Interação Solo-Estrutura (ISE) no dimensionamento d a s
estruturas de edifícios. A revisão aborda o conceito da interação solo-estrutura,
os efeitos da consideração ISE e a s formas de modelagem do solo para a
realização do estudo. Além disso, é feita uma comparação entre os métodos
ap resen tados na literatura. Por fim, é observada a necess idade da
implementação da consideração ISE nos projetos para melhor aproveitamento
d a s estruturas e maior compreensão do comportamento da m e s m a em situação
mais condizente com a realidade.
1 Introdução
A concepção dos projetos estruturais é, usualmente, realizada através
da suposição simplificada de fundações apoiadas sobre vínculos indeslocáveis.
Isto possibilitou significantes avanços na área durante várias décadas , porém
durante o processo de execução a lgumas vezes a consideração simplista não
reflete o comportamento real da estrutura.
Apesar dos avanços tecnológicos na área de informática e a evolução
dos métodos de análise estrutural por meio de métodos numéricos, grande parte
21 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Acadêmica de Engenharia Civil. 2 Bacharel em Engenheira Civil. 3 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Professor Doutor.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
243
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
dos projetistas ainda seguem a hipótese simplista de solo rígido resultando em
um inferior aproveitamento d a s estruturas.
A e s s e respeito Borges (2015) afirma que: A condução de uma análise mais ajustada à realidade física, considerando a deformabilidade do solo, tem sido efetuada apenas em escritórios de alto nível e, mesmo nestes casos , as investigações são feitas apenas para os c a s o s julgados especiais. Este tipo de análise recebe o nome de Interação Solo-Estrutura (ISE) e deveria ser realizada mediante parceria dos engenheiros de estruturas com engenheiros de fundações. (BORGES, 2015, p.2)
A compreensão de que o solo consiste em um meio compressível, cujos
recalques irão depender diretamente do tipo de solo, da disposição d a s
partículas, do carregamento a qual es tará sujeito e dos demais parâmetros
geotécnicos, torna-se crucial para assimilar a sua conexão com a s deformações
e des locamentos apresentados . Assim, será possível en tender que a s
cons iderações de apoios indeslocáveis fogem do comportamento apresen tado
pela interação de esforços dos e lementos e a então necess idade da
representação do solo por meio de apoios deslocáveis com molas.
Gonçalves (2004) afirma que a consideração da interação solo-estrutura
resulta na redistribuição dos esforços nos e lementos estruturais, como pilares, e
na diminuição dos recalques diferenciais es t imados pela hipótese de apoios
indeslocáveis. Além disto, ressal ta-se a importância da consideração de
redistribuição de esforços uma vez que es ta pode acarretar em problemas como
o aparecimento de f issuras em lajes e vigas e o e smagamen to de pilares.
Soa re s (2004) expressa em seu trabalho que a literatura sobre e s s e
t ema é bas tante vasta, uma vez que a consideração da interação solo-estrutura
é abrangente e es tá relacionada a diversos problemas de engenharia, porém
existem muitos progressos a serem feitos.
Nes se sentido, e s s e artigo visa apresentar os efeitos da consideração
da interação solo-estrutura no dimensionamento estrutural de edifícios,
anal isando a diferença nas reações de apoio e momentos apresen tados
comparados à hipótese de apoios indeslocáveis.
2 Interação solo-estrutura
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
244
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O termo interação solo-estrutura compreende um vasto campo de es tudo
que abrange todos os tipos de estruturas em contato com o solo, como por
exemplo, estruturas de prédios, pontes, silos e muros de arrimos (COLARES,
2006).
Mendes (2016) define a ISE como uma análise conjunta da
superestrutura, infraestrutura e maciço de solo, s endo observada ainda nas
primeiras f a s e s da construção e s e prolongando até que a s t ensões e a s
deformações s e estabilizem na estrutura e no maciço de solo.
A interação solo-estrutura condiciona a forma como uma estrutura reage
à s solicitações ao ser submetida a um carregamento externo, apresen tando
cargas nas fundações em função d a s condições particulares do solo suporte e
do tipo de estrutura (DANZIGER, 2005).
2.1 Efeitos da consideração da interação solo-estrutura
A interação solo estrutura ocasiona efeitos mecânicos na edificação que
podem alterar a concepção do dimensionamento realizado por apoios
indeslocáveis. Segundo Testoni e Corrêa (2016), pode ainda viabilizar projetos
de fundações que outrora não fossem aceitos em uma análise convencional
devido à magnitude dos recalques.
Moura (1999) avaliou numericamente os efeitos da ISE no
comportamento da super e infraestrutura de uma edificação, verificando a
ocorrência de transferência de carga dos pilares de maior carregamento para os
de menor carregamento e a suavização de deformação dos recalques. Além
disso, observou-se a redução dos momentos fletores nas vigas e pilares à
medida que o número de pavimentos aumenta .
Gusmão e Gusmão Filho (1994) e Crespo (2004), relatam que a ISE
tende a uniformizar os recalques, dependendo da rigidez do conjunto solo-
estrutura, conforme apresen tado na Figura 1. Isso caus a a diminuição d a s
distorções angulares (rotação relativa) devido à diminuição da curvatura da
deformada dos recalques, podendo então, evitar o aparecimento de certos
danos .
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
245
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 1 - Efeitos da interação solo-estrutura Fonte: GUSMÃO, GUSMÃO FILHO, 1994, p.1804
Segundo Porto (2010), a consideração da ISE, não irá necessar iamente
resultar em uma estrutura mais econômica e sim em uma estrutura mais realista,
pois se rão avaliadas a s distribuições de t ensões considerando a deformabilidade
do maciço de solos, necess i tando para isso a modelagem numérica com
integração entre o engenheiro estrutural e geotécnico.
3 Modelagem de estruturas considerando a ISE
A metodologia mais precisa para a consideração da deformabilidade do
solo, indicada por Scarlat (1993), é a análise interativa tridimensional, a qual
modela o solo e a estrutura como um sis tema único. Contudo, e s s e método é
muito sofisticado e requer o emprego de métodos numéricos e, por isto, a caba
sendo empregada a p e n a s no meio científico.
De forma simplificada o solo pode ser modelado com o uso de molas que
representam sua deformabilidade, tornando possível a simulação da interação
solo-estrutura. Segundo Velloso e Lopes (2012), há dois modelos principais para
representar o solo numa análise da interação solo-estrutura: Hipótese de Winkler
e meio contínuo, ambos exemplificados na Figura 2.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
246
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 2 - Representação (a) Hipótese d e Winkler (b) Meio cont ínuo Fonte: adaptado d e Ve l lo so e Lopes , 2012, p. 126.
3.1 Hipótese de Winkler
O modelo do meio discreto b a s e a d o no conceito do coeficiente de reação
foi proposto por Winkler (1867). Neste modelo o solo é assimilado por uma série
de molas independentes com comportamento elástico e linear (SANTOS, 2008).
O método considera o solo, segundo Antoniazzi (2011), como um
sis tema de molas lineares e independentes entre si. Ou seja, s ão cons ideradas
a s deformações que ocorrem a p e n a s na região d a s fundações e não a s
deformações provenientes do efeito de car regamentos no entorno da estrutura.
A Figura 3 ilustra a consideração de deformabilidade pela hipótese de Winkler.
C a r g a
C a m a d a "indeformável")
Figura 3 - Deformabil idade d o s o l o pela h ipó te se d e Winkler Fonte: Antoniazzi, 2011, p.61.
Essa hipótese é aplicável para car regamentos verticais (radiers,
sapa tas , vigas de fundação) e para a ç õ e s horizontais (escoramento de
e scavações , e s t a c a s sob forças horizontais). Além disto, a s p re s sões de contato
s ã o proporcionais a o s deslocamentos .
Porto (2010) relata que e s s e modelo é o mais utilizado nos escritórios de
projeto para o es tudo da interação solo-estrutura, porém são encontrados
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
247
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
transtornos na determinação da rigidez d a s molas elásticas aplicadas na
representação do solo abaixo da fundação. O autor relata ainda que e s s e modelo
apresen ta a problemática de não considerar a dispersão da carga sobre uma
área de influência c rescente com o aumento da profundidade e, também, por
considerar o solo com comportamento tensão-deformação linear. Além dos
problemas apresentados , o modelo considera a s molas como independentes, ou
seja, não há ligação coesiva entre a s partículas no meio do solo.
Silva (2006) expressa que o módulo kv indica a p ressão (q) por unidade
de á rea da superfície de contato entre uma viga - ou uma placa carregada - e o
solo no qual s e apoia para transferir a carga. Portanto, e s s e módulo depende
d a s propriedades elásticas do solo e d a s d imensões da área sob a ação da
reação do solo.
A partir da estimativa do recalque da fundação, com a suposição de uma
fundação rígida submetida a um carregamento vertical, calcula-se o coeficiente
de reação por meio da Equação 1:
' (1) w onde:
kv = coeficiente de reação vertical, em kN/m3;
q = p ressão vertical média obtida pela razão entre a somatória de carga vertical
e a á rea da sapata , em kN/m2;
w = previsão média de recalque, em metros.
3.1.1 Estimativa de kv considerando a Teoria da elasticidade
O recalque imediato est imado pela teoria da elasticidade considera a
forma, a rigidez e a largura d a s sapa tas , considerando-as apo iadas sobre uma
c a m a d a argilosa semi-infinita, homogênea, com módulo de elasticidade
constante com a profundidade (ANTONIAZZI, 2011).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
248
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Segundo Velloso e Lopes (2012), existem soluções da teoria da
elasticidade que permitem o cálculo de recalques para um número de casos . O
recalque de uma sapa ta sob carga centrada pode ser previsto pela Equação 2:
w=qxBx 1 — V '
E
xlh
XLXl (2)
onde:
w = recalque imediato, em metros;
q = p ressão média aplicada, em N/m2;
B = menor d imensão da sapata , em metros;
v = coeficiente de Poisson do solo;
E = módulo de elasticidade do solo, em N/m2;
Is = fator de forma da sapa ta e de sua rigidez;
Id = fator de profundidade/embutimento;
Ih = fator de e spes su ra de c a m a d a compressível.
O módulo de elasticidade longitudinal (Es), o coeficiente de Poisson (v)
e o módulo de reação vertical (kv) s ã o propriedades elásticas necessár ias para
o es tudo das propriedades do solo. E s s e s valores s ã o comumente utilizados no
cálculo de estimativas de recalque de fundações (BOWLES, 1988).
O valor do coeficiente de Poisson pode variar de -1 a 0,5, podendo
assumir valores negativos quando ocorre contração lateral, segundo Bowles
(1988). Os valores típicos sugeridos pelo autor s ã o apresen tados na Tabela 1.
Tabela 1 - Valores t íp icos d e v TIPO DE SOLO v
Argila saturada 0,40 - 0,50 Argila parcialmente saturada 0,10 - 0,30 Argila arenosa 0,20 - 0,30 Silte 0,30 - 0,45 Areia comum 0,30 - 0,40
Fonte: BOWLES, 1988, p.123.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
249
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Além de ensa ios experimentais para obtenção do módulo de elasticidade
longitudinal, faixas de valores para es ta propriedade também podem ser obtidas
na literatura, como apresen tado na Tabela 2.
Tabela 2 - Valores t íp icos d e Es
TIPO DE SOLO E s (MPa) Argila muito mole 2 -- 15 Argila mole 5 - 25 Argila média 15 - 50 Argila dura 50 -- 100 Argila arenosa 25 - 250 Areia siltosa 5 - 20 Areia fofa 10 - 25 Areia compacta 50 - 81 Areia fofa e pedregulhos 50 -- 150 Areia compacta e pedregulhos 100 - 200 Silte 2 - 20
Fonte: BOWLES, 1988, p.125.
O fator Is pode ser retirado da Tabela 3, sugerida por Velloso e Lopes
(2012):
Tabela 3 - Fatores d e forma
Forma Flexível
Centro Borda Média Rígido
Círculo Quadrado L/B = 1,5
2 3 5 10
100 1000
1,00 1,12 1,36 1.52 1,78 2,10 2.53 4,00 5,47
0,64 0,56 0,67 0,76 0,88 1,05 1,26 2,00 2,75
0,85 0,95 1,15 1,30 1,52 1,83 2,25 3,70 5,15
0,79 0,99
Fonte: adaptado Ve l loso e Lopes , 2012, p.44
Os valores ap resen tados na Tabela 3 s ão para carregamentos na
superfície, ou seja, id = 1,0, e de um meio de e spes su ra infinita, ih = 1,0. Velloso
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
250
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
e Lopes afirmam que os fatores de embutimento devem ser usados com
restrição, d e s s a forma é recomendável desprezar e s s e fator.
Considerando um solo de camada semi-infinita e homogênea, o
coeficiente de reação vertical é dado por:
E K = ( 1 - V 2 ) X £ X / S
( 3 )
Observa-se que, segundo a equação apresentada, há uma relação
inversamente proporcional entre a forma da sapa ta e o coeficiente de reação.
Além disso, quanto mais retangular for a forma da sapa ta menor será o
coeficiente kv .
É notável então que a rigidez da placa e o tipo de solo influenciam a
forma de distribuição das t ensões desenvolvidas entre uma placa uniformemente
carregada e o solo (ANTONIAZZI, 2011).
3.2 Meio contínuo
Segundo Porto (2010), a representação do maciço por meio contínuo s e
torna necessár ia em si tuações em que s e pretende analisar a distribuição de
t ensões ao longo do sistema geotécnico ou os recalques d a s diversas camadas ,
pois n e s s e caso a hipótese de Winkler é insatisfatória.
Assim, Netto (2014) afirma que es te modelo é a maneira mais real de
representar o solo, pois permite a avaliação d a s t ensões ao longo do solo de
forma contínua. Contudo, o autor ressalta a desvantagem do uso d e s s e método,
uma vez que a imprecisão dos resultados obtidos aumenta conforme s e
aproxima da borda do maciço de solo.
O meio contínuo pode ser elástico ou elastoplástico. No primeiro caso,
há algumas soluções para vigas e placas pela teoria da elasticidade. No segundo
caso, com aplicação dificilmente justificada em projetos correntes, é requerida
solução numérica (BARBOSA, 2017).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
251
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
3.3 Comparação entre os modelos - Hipótese de Winkler x Meio contínuo
Velloso e Lopes (2012) analisam a resposta dos diferentes modelos em
c a s o s extremos, isto é, quando a rigidez relativa é nula e infinita. Como
apresen tado na Figura 4, para fundações rígidas, a diferença é notável nas
p r e s sões de contato e, para fundações muito flexíveis, nota-se diferença nos
recalques. Além disso, como já mencionado, a hipótese de Winkler apresen ta
recalques a p e n a s sob a fundação, sendo incoerente com a prática observada.
Figura 4 - R e s p o s t a d o s diferentes m o d e l o s Fonte: Ve l loso e Lopes , 2012, p. 127.
4 Considerações finais
Observando a necess idade de maior compreensão do comportamento
apresen tado pela estrutura e dos possíveis efeitos dos atuais procedimentos
ado tados para o dimensionamento des tas , e s s e artigo apresentou os principais
pontos a serem observados e os métodos descritos na literatura.
Com a revisão apresen tada torna-se evidente a importância da
atualização dos métodos para a concepção d a s estruturas, uma vez que a
redistribuição de esforços, por exemplo, pode comprometer o conforto, a
durabilidade ou a té mesmo a segurança da obra.
Portanto, ressal ta-se a necess idade da integração entre os projetistas
de fundações e estruturas para resultados mais consis tentes da interação solo-
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
252
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
estrutura e es tudos mais detalhados do solo para melhor conhecimento do
m e s m o para, então, obter resultados mais próximos da realidade da construção.
REFERENCIAS
ANTONIAZZI, J. P. Interação solo-estrutura de edif íc ios c o m f u n d a ç õ e s superficiais . 2011. 138p. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2011.
BARBOSA, G. R. P. Análise da influência d o s parâmetros de deformabilidade do s o l o no comportamento estrutural de edi f icação c o m fundação tipo radier. Trabalho de Conclusão de Curso. Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017.
BOWLES, J. E. Foundation analys is and des ign . 5th ed., McGraw-Hill co. New York, 1988.
BORGES, H. D. Estudo da interação entre e s tacas . Revista Especialize On-line, Instituto de Pós Graduação, Goiânia, ed.10, v.1, 2015.
COLARES, G. M. Programa para análise da interação solo-estrutura no projeto de edif ícios. Dissertação (mestrado). Escola de Engenharia de S ã o Carlos, Universidade de S ã o Paulo. S ã o Carlos, 2006.
CRESPO, V. A. de S. Estudo da sensibi l idade de ed i f i cações em relação ao so lo . Dissertação (mestrado). Centro de Ciência e Tecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Campos dos Goytacazes, 2004.
DANZIGER, B. R. Estudo de c a s o de obra c o m análise da interação s o l o estrutura. Departamento de Estruturas e Fundações , Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005.
GONÇALVES, J. C. Avaliação da influência d o s recalques d a s f u n d a ç õ e s na variação de cargas d o s pilares de um edifício. Tese (mestrado). Programa de Pós-Graduação de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2004.
GUSMÃO, A. D.; GUSMÃO FILHO, J. A. Construction s e q u e n c y effect on se t t l ements of buildings. XIII ICSMFE, pp. 1803-1806, Índia. New Delhi, 1994.
MENDES, E. J. Análise de edif íc ios cons iderando a interação so lo -estrutura. 2016. 153p. Departamento de Engenharia Civil, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2016.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
253
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
MOURA, A. R. L. U. Análise tridimensional de interação solo-estrutura em edif ícios. Solos e Rochas, v. 22, n. 2, pp; 87-100.
NETTO, W. R. L. Análise de interação solo-estrutura aplicada à galerias de concreto armado. Trabalho de conclusão de curso. Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014.
PORTO, T. B. Estudo da interação de paredes de alvenaria estrutural com a estrutura de fundação. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas, Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2010.
SANTOS, J. A. Fundações por e s t a c a s a c ç õ e s horizontais: e lementos teóricos. Disciplina de Obras Geotécnicas, Instituto Superior Técnico, Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura, Mestrado em Engenharia Civil, 2008.
SCARLAT, A. S. Effect of soil deformability on rigidity: related a spec t s of multistory buildings analysis. ACI Struct. J., Detroit, v. 90, n. 2, p. 156-162, 1993.
SILVA, N. U. P. da. Análise de t e n s õ e s verticais em edif íc ios de alvenaria estrutural cons iderando a interação solo-estrutura. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas, Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2006.
SOARES, J. M. Estudo numérico-experimental da interação solo-estrutura em dois edif íc ios do Distrito Federal. Tese (doutorado). Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília. Brasília, 2004.
TESTONI, E., CORRÊA, M. R. S. Análise de interação s o l o estrutura em edifício de paredes de concreto moldadas no local. Revista Fundações e Obras Geotécnicas, p. 36-46, 2016.
VELLOSO, D. de A.; LOPES, F. de .R. Fundações: critérios de projeto, investigação do subsolo, fundações superficiais, f undações profundas. Oficina de Textos, volume único, São Paulo, 2012.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
254
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES RELATIVO A ENSAIOS
ACELERADOS EM CORROSÃO DE ARMADURAS
Flavia de Fatima Emi Murakami 22
Carlos Eduardo Tino Balestra 23
Resumo
A corrosão das armaduras recentemente tem chamado muita atenção nos estudos de
concreto armado e seus problemas relacionados a durabilidade. Na literatura, há diversas
metodologias que tem sido desenvolvidas referentes a aceleração da corrosão, mas ainda há
necessidade de muitos estudos para que haja uma padronização. Nesse artigo, foram
averiguadas algumas metodologias disponíveis na literatura, relativo a ensaios acelerados em
corrosão de armaduras, no intuito de constatar quais as características analisadas pelo autor,
quais os métodos abordados e seus respectivos resultados. Para isso, foram escolhidos seis
artigos científicos recentes, todos internacionais, disponíveis na literatura onde que para cada
um foi elencado suas particularidades e relações. No decorrer do trabalho, serão abordadas
algumas situações como a utilização de técnicas não destrutivas, métodos que utilizam uma
modelagem matemática, mapeamento da evolução da corrosão, elaboração de equações de
decaimento das propriedades mecânicas, entre outras metodologias. O processo de corrosão
está associado à degradação pela carbonatação do concreto e é provocada pela ação do CO2 e
pelo ataque de cloretos. A revisão da literatura aponta que independentemente da metodologia
utilizada para acelerar a corrosão, há alteração no comportamento das propriedades mecânicas
da armadura, devido a perda da seção transversal provocado pela corrosão. E
consequentemente , a alteração do comportamento da barra de aço de dúctil para frágil.
Palavras-chaves: corrosão acelerada. corrosão de armaduras. concreto armado.
1 I n t r o d u ç ã o
De todas as épocas da civilização humana, os materiais cimentícios foram considerados
essenciais por suprir as necessidades básicas como segurança, transporte, lazer entre outros. Foi
a partir de então que a empregabilidade do concreto na construção civil se tornou indispensável
devido a junção de fatores econômicos e vínculos de causa e efeito. Composto basicamente por
água, agregados graúdos e miúdos, cimento e aditivos, faz com que haja disponibilidade de
22 Acadêmica de Engenharia Civil - Universidade Tecnológica Federal do Paraná -flaviaemi21 @yahoo. com.br 23 Prof. Dr. - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - [email protected]
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
255
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
matéria-prima e fácil execução. Isso fez com que o concreto se tornasse o segundo produto mais
consumido do mundo, perdendo somente para água (BALESTRA,
2015).
A presença do concreto é amplamente abundante, fácil exemplo disso é olhar ao redor e
perceber sua existência em grande parte do que está ao teu envolto, ou melhor ainda, imaginálo
como seria em sua ausência ou quais materiais seriam bons o suficiente para substituí-lo
(BALESTRA, 2015).
O concreto tem uma resistência a tração na ordem de 10% em relação a compressão. Isso fez
com que a sua junção com barras de aço que resistem muito bem a tração formasse o concreto
armado e o protendido. Foi a partir de então que estudos sobre o concreto armado e seu
comportamento, que a patologia onde acontece a corrosão em armaduras começou a ser
considerada preocupante por comprometer toda a vida útil de uma estrutura. De acordo com
Gentil (2011), a corrosão pode ocorrer por ação química ou eletroquímica. Na ação química
ocorre uma decomposição na pasta de cimento e no agregado, já a ação eletroquímica ocorre
na barra de aço da armadura e indica as formas de corrosão uniforme, puntiforme, intergranular,
transgranular e fragilização pelo hidrogênio.
Uma estrutura pode ser danificada devido ao resultado de cargas que excedem sua capacidade
estrutural, expiração da vida útil e as propriedades físicas e mecânicas se alteram devido a
exposição as condições ambientais mais agressivas como ambientes marinhos e industriais
(ORTEGA; ROBLES, 2016).
As morfologias da corrosão podem ser uniformes ou localizadas, estas estão associadas a
processos de degradação pela carbonatação, provocada pela ação do CO2 e pelo ataque de
cloretos. O processo de corrosão é acelerado na presença de íons cloreto, que não são
responsáveis pela formação da ferrugem, mas auxiliam no desenvolvimento de regiões anódicas
e cadióticas no metal. No ataque de cloreto, a camada protetora é destruída e a barra então é
sujeita a corrosão (IMPERATORE; RINALDI; DRAGO, 2017).
A dificuldade principal da manutenção devido a corrosão é a perda da seção tranversal da barra,
que altera o seu comportamento, como a diminuição da capacidade de carga e a perda da
ductibilidade, além do produto da corrosão que causa uma expansão volumétrica e
consequentemente fissuras que afetam integralmente o e lemento estrutural (YU et al., 2015).
Desse modo, na literatura foram encontrados muitos estudos que analisam o comportamento
da barra com a aceleração da corrosão e várias são as metodologias abordadas. Nesse artigo
foram analisados alguns desses métodos e seus resultados, como forma de explanar algumas
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
256
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
vertentes das técnicas laboratoriais que preveem o comportamento estrutural. O estudo da
corrosão de armaduras é conveniente pois além de entrever o desempenho físico e mecânico
da estrutura, faz com que diante disso seja possível aumentar sua vida útil e principalmente
garantir segurança aos usuários.
2 O b j e t i v o
Apresentar uma revisão literária sobre o estado da arte de publicações referentes aos ensaios acelerados em corrosão de armaduras por meio da análise de artigos recentes.
3 M a t e r i a i s e M é t o d o s
Na literatura, foram encontrados os métodos destrutivos em que após a aceleração da
corrosão, a armadura é levada ao ensaio de tração e há também as metodologias não destrutivas
para se analisar o comportamento da corrosão, através de uma intensidade de corrente aplicada
na estrutura.
Ortega e Robles (2016) elaboraram uma técnica não destrutiva para prognosticar a vida útil do
concreto armado em vigas, com resultado da corrosão. Foram utilizados vigas com diferentes
tipos de concreto conforme a tabela 1, composto basicamente pelo mesmo traço do concreto
usado em estruturas usuais. Para o experimento foi utilizado uma relação água/cimento de 0,6
e a resistência a compressão média de 17 MPa. Foram produzidos dois corpos de prova para
cada tipo de concreto, um cilíndrico para ser testado a resistência a compressão e outro
prismático com dimensões de 8 x 16 x 110 cm, utilizado para os testes de corrosão acelerada.
Tabela 1: Proporções da mistura de concreto (Por m3 de concreto)
Componentes 1 2 3 4
Cimento (kg) 300 300 290 283
Agregados finos Areia fina Areia misturada Areia Fina Pedra britada
Quantidade (kg) 1035 1049 872 938
Agregado graúdo Quartzo Quartzo Pedregulho Pedregulho
Quantidade (kg) 840 826 1050 1010
^ máx do agregado(mm) 19 19 26,5 26,5
Fonte: Adaptado de Ortega e Robles (2016).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
257
f VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
O processo eletroquímico da corrosão foi quantificado através da aferição da
inten-sidade da corrente na armadura. Uma densidade de corrente de 100 mA/cm2 foi aplicada
externamente a armadura da estrutura em análise e posteriormente foram medidas as larguras
das fissuras e frequência da vibração. Com base nas informações obtidas o autor propôs um
modelo matemático com intuito de prever o desempenho da estrutura, onde a profundidade
do ataque da corrosão é dada pela Lei de Faraday. A figura 1 representa o experimento, onde
na área central foi colocado um acelerômetro piezoelétrico que gera um sinal e o envia para um
espectro "LabQuest", que analisa e afere as frequências e amplitudes correspondentes. Desta
forma, a equação 1 foi utilizada para estimar a perda teórica da seção das armaduras devido a
corrosão, que aliado aos resultados obtidos e a modelagem matemática, foi proposto a equação
2, na qual estima a vida útil residual VUR da estrutura (ORTEGA; ROBLES, 2016).
Figura 1: Configuração experimental do t e s t e de corrosão acelerada Fonte: Ortega e Robles (2016).
P =0,032X |COrr X t (1)
31,25x P V UR = - Ta (2)
Icorr
Em que:
P = Perda teórica do raio ou profundidade de penetração da barra (mm);
0,032= Fator de conversão de unidade (mA/cm2 para mm/dia); Icorr = Valor
médio da densidade de corrente (mA/cm2); t = Tempo desde que a corrente
foi aplicada (dias);
Ta = Tempo de duração do deste (dias);
Poucos estudos envolvem a corrosão natural em comparação com a corrosão acelerada
em laboratório. Zhu et al. (2013) analisaram o comportamento de vigas de concreto
précarregadas para representar o comportamento estrutural e ambiental real, armazenados em
ambiente com cloretos, por 26 anos. O objetivo da pesquisa era entender o processo de corrosão
em um e lemento de concreto armado e sua influência no desempenho mecânico. Para
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
258
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
experimento, foram utilizadas 4 vigas, duas delas com dimensões de 150 x 280 x 3000 mm,
outras duas com 150 x 280 x 1150 mm, ambas com relação de água/cimento de 0,5, resistência
a compressão de 45 MPa, cobrimento de 10 mm, diâmetro das barras superiores a 12 mm e
estribos de 6 mm espaçadas a cada 220 mm.
Foram analisadas as fissuras recorrentes da corrosão, e para o ensaio da viga foram utilizadas 4
amostras, sendo realizado o ensaio de flexão três pontos até sua ruptura, para duas vigas com
corrosão das armaduras e duas vigas sem corrosão, ambas as amostras com a mesma idade. As
vigas foram expostas em um ambiente salino com uma névoa salina de 35 g/l correspondente a
concentração de NaCl da água do mar, conforme representado na figura 2. Através dessa
exposição, as vigas foram submetidas a corrosão acelerada pelos ciclos de molhagem e secagem
durante 6 anos (ZHU et al., 2013).
Figura 2: Ambiente utilizado para acelerar a corrosão Fonte: Adaptado de Zhu et al. (2013).
Zhu et al. (2013) observaram a corrosão por pite com distribuição aleatória e mapeou conforme
destacado em vermelho na figura 3. Na parte superior da barra, foi identificada uma corrosão
generalizada e por pite menos grave do que na parte inferior da barra, devido ao caminho mais
longo e preferencial para o ingresso dos cloretos. Os resultados mostraram que a corrosão em
viga induzida pelo cloreto tem um efeito muito importante sobre o comportamento mecânico
das vigas, como perda de área da transversal barras e um efeito muito significante na capacidade
de flexão. Após o ensaio mecânico das vigas, as barras de aço foram sacadas e limpas através de
solução, e posteriormente, submetidas ao ensaio de tração.
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 3: Mapeamento da corrosão Fonte: Zhu et al. (2013).
Na pesquisa de Imperatore, Rinaldi e Drago (2017), foi definida a equação de decaimento
apropriada para as propriedades mecânicas como forma de modelar o comportamento da
corrosão através de ferramentas numéricas. Foram então analisadas 80 barras com diâmetros
de 8 mm, 12 mm, 16 mm e 20 mm e aproximadamente 300 mm de comprimento, com
65 diferentes graus de corrosão. O processo corrosivo foi acelerado conforme demonstrado na
figura 4. Para acelerar o processo de corrosão em barras aplicou-se uma corrente de 0,10 mA e
as barras foram imersas em solução de cloreto de sódio a 3%.
Figura 4: Aparato utilizado para acelerar a corrosão Fonte: Imperatore, Rinaldi e Drago (2017).
A partir dos dados obtidos foram formuladas equações de degradação das propriedades
mecânicas do aço com auxílio de regressão linear e regressão exponencial. Os testes de tração
foram conduzidos a uma temperatura ambiente, taxa de alongamento de 2 mm/mim. Os
resultados mostram que há uma diminuição da resistência final e ductibilidade mais considerável
para barras de diâmetros menores. A figura 5, mostra as camadas da barra de aço que são a
martensita, bainita e perlita.(IMPERATORE; RINALDI; DRAGO, 2017)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
260
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 5: Indicação das camadas de uma barra Fonte: Adaptado de Imperatore, Rinaldi e Drago (2017).
De acordo com Imperatore, Rinaldi e Drago (2017) a martensita é mais forte, porém menos
dúctil que a bainita. Eles constataram que a perda de massa esta estritamente relacionada com
a camada de martensita, a qual garante dureza e força. Por fim, comparou as equações obtidas
no experimento com as disponíveis na literatura, observando a redução das propriedades
mecânicas das barras com o aumento do grau de corrosão e uma degradação maior para o
menor diâmetro (8 mm).
Abosrra, Ashour e Youseffi (2011) analisaram o processo de corrosão em concretos com
classe de resistência de 20, 30 e 46 MPa, as proporções são demonstrados na tabela 2. Os corpos
de prova possuíam dimensões de 150 x 150 mm, e uma barra de 12 mm de diâmetros com
comprimento de cinco vezes o diâmetro da barra (60 mm) conforme a figura 6(a), os testes
foram realizados após a cura de 28 dias. Após o t empo de cura, os corpos de prova foram
imergidos em solução de 3% de NaCl por 1, 7 e 15 dias, o efeito da corrosão após os 15 dias é
dado pela figura 6(b). A figura 7 mostra o esquema utilizado para acelerar a corrosão, através da
aplicação de uma corrente de 0,4 A e voltagem de 200 a 1200 mV. A figura 8 representa o efeito
da corrosão nas barras em 1, 7 e 15 dias.
T a b e l a 2 : P r o p o r ç õ e s d a m i s t u r a d e c o n c r e t o ( P o r m 3 d e c o n c r e t o ) e
R e s i s t ê n c i a a c o m p r e s s ã o (oc, e m M P a )
Concreto Água (kg) Cimento (kg) Areia (kg) Agregado (kg) a / c o c
1 187 415,5 775 1022 65 20
2 187 340 720 1021 55 30
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
261
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
3 187 287 ,7 659 1009 45 46
Fonte: Adaptado de Ortega e Robles (2016).
(a) 1= dia (b) 15' dia
Figura 6: Efeitos da corrosão Fonte: Abosrra, Ashour e Youseffi (2011).
Stecthxr
Itai f iiipfilt
Figura 7: Configuração d o m o d e l o utilizado para acelerar a corrosão Fonte: Abosrra, Ashour e Youseffi (2011).
(a) 1 dia
(c) 15 dias
Figura 8: Análise dos e f e i t o s da corrosão e m de terminados per íodos Fonte: Abosrra, Ashour e Youseffi (2011).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
262
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Esses experimentos mostraram que a taxa de corrosão de barras de aço e a resistência da
união entre aço/concreto eram dependentes da resistência do concreto e do t empo em que a
corrosão foi acelerada. Quanto maior a resistência do concreto, menor a taxa de corrosão e as
barras de aço retiradas das amostras após os testes, revelaram que a gravidade da reação da
corrosão aumenta conforme a redução do diâmetro da barra, e aumenta também conforme o
período de aceleração (ABOSRRA; ASHOUR; YOUSEFFI, 2011).
Dua, Cullen e Li (2013) investigaram experimentalmente o desempenho estrutural de cinco
vigas de concreto com corrosão e aplicação de carga simultaneamente. Os corpos de prova
(figura 9) possuíam as dimensões de 100 x 150 x 1300 mm e cobrimento de 20 mm. Uma parte
das amostras foram submetidas a uma corrosão acelerada nas barras de tração, enquanto
sustentava a carga do peso próprio mais a aplicação de uma carga pontual, até a sua ruptura.
Para acelerar a corrosão uma solução de 3,5% de NaCl foi pulverizada no corpo de prova por 24
horas e em seguida foi aplicado a corrente de 0,25 mA/cm2 nas duas primeiras semanas e 0,50
mA/cm2 nas seis semanas posteriores. As vigas estavam submetidas a ciclos de molhagem e
secagem.
Figura 9: Análise dos efe i tos da corrosão em determinados períodos Fonte: Dua, Cullen e Li (2013).
Observaram que para a amostra sujeita apenas ao peso próprio e corrosão a deflexão depende
do tempo em que a corrosão aumenta. Já para a amostra em que uma carga adicional foi
aplicada sem a corrosão, constatou que carga máxima quanto a deflexão aumentou bastante
comparada com a amostra anterior, ou seja, o desenvolvimento da corrosão associado com um
excesso de carga ocasional pode colapsar, sem aviso significativo (DUA; CULLEN; LI, 2013).
Apostolopoulos, Demis e Papadakis (2013) compararam os efeitos da indução da corrosão em
barras de aço de 8 mm de diâmetro embutida em concreto e amostras de barra de aço expostas
(figura 10(a)), ambas com 460 mm, imergidas em uma câmara de névoa salina. Foram utilizados
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
263
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
para embutir as barras de aço dentro do concreto, moldes de tubos de plástico cilíndrico com
diâmetro de 32 mm e 340 mm de comprimento. Usou-se uma relação água/cimento de 0,5 e
para aumentar a trabalhabilidade do concreto foi utilizado 0,4% sobre a massa de cimento de
superplastificante. A solução salina foi preparada, dissolvendo 5 partes em massa de cloreto de
sódio (NaCl) em 95 partes de água destilada e os 10 corpos de prova foram expostas a
pulverização por 1 ano. O aparato de teste consistiu em uma câmara com solução salina e a
pulverização foi feita por meio de um bocal, a fim de produzir o ambiente corrosivo (figura
10(b)).
Como resultado, para o mesmo nível de perda de massa, a degradação nas amostras
incorporadas no concreto foram muito mais severas do que as "amostras nuas", relacionado a
perda do limite de escoamento e alongamento uniforme. Foi evidenciado que a corrosão nas
barras embutidas em concreto é mais rigoroso devido a um pite mais profundo e estendido,
como observados na figura 11. Constatou-se que esse fato é explicado devido ao nível de
influência que o concreto implica sobre a natureza eletroquímica do processo de corrosão
acelerada por cloretos (APOSTOLOPOULOS; DEMIS; PAPADAKIS, 2013).
(a) Corpo* de Prova (b) Aparato para aceleração
Figura 10: Corpos de prova e Câmara de pulverização salina Fonte: Apostolopoulos, Demis e Papadakis (2013)
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
264
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Amostra incorporada no Amostra de barra nua exposta co ncr et o exp osta a a solução por 2 0 d ia s solução por um ana
Figura 11: Análise d o s e f e i t o s da corrosão e m de terminados per íodos Fonte: Aposto lopoulos , Demis e Papadakis (2013)
4 A n á l i s e e d i s c u s s ã o d o s r e s u l t a d o s
O m é t o d o não destrutivo proposto por Ortega e Robles (2016), onde a estrutura se mantém,
é instigante pelo fato de que na prática seja útil comparado com técnicas destrutivas onde que
para se fazer uma análise minuciosa da corrosão na barra, necessitaria de equipamentos
específ icos c o m o microscópios e o de ensaio de tração.
Nas pesquisas de Zhu et al. (2013), Abosrra, Ashour e Youseffi (2011) e Dua, Cullen e Li
(2013), t êm-se c o m o resultado da corrosão acelarada a perda da seção tranversal e
c o n s e q u e n t e m e n t e a alteração nas propriedades mecânicas. Os produtos da corrosão fazem
com que a barra perda inicialmente a camada protetora e sequencia lmente a área da seção. Em
resultado disso, há a perda de ductibilidade e em ensaio de tração na barra, constata-se o
comportamento da barra de aço c o m o um material frágil. Em suas metodologias o sistema é
integrado pela produção do corpo de prova, t e m p o de cura mínima de 28 dias, aceleração da
corrosão por determinado t e m p o e aferição das consequências da corrosão nas armaduras. A
solução utilizada para acelerar o processo de corrosão variou entre 3% a 3,5% de NaCl,
proveniente da concentração de água no mar. Variáveis c o m o a compos ição do concreto e sua
respectiva resistência, diâmetro da barra, cobrimento, tamanho de corpo de prova, aplicação de
corrente, entre outros, diversificaram de acordo com cada pesquisa.
Apostolopoulos, Demis e Papadakis (2013), compararam seus resultados de corrosão entre
barras nuas e barras embutidas e m concreto. Na compos ição do concreto utilizado para os
corpos de prova, foi acrescentado em sua metodologia a utilização de aditivo superplastificante
de 0,4% na massa de cimento, justificado pelo aumento da trabalhabilidade do concreto.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
265
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Em suas conclusões Apostolopoulos, Demis e Papadakis (2013) observaram que para o mesmo
nível de perda de massa, a degradação era muito mais grave em barras embutidas em concreto
do que nas "barras nuas", fato explicado devido ao ambiente que o concreto proporciona no
processo da corrosão. Por outro lado, Imperatore, Rinaldi e Drago (2017), pesquisaram um
modelo de decaimento para as propriedades mecânicas em amostras de "barras nuas".
Comparando as pesquisas de Imperatore, Rinaldi e Drago (2017), e Apostolopoulos, Demis
e Papadakis (2013) e seus respectivos resultados o modelo referente a amostras
"nuas"propostas por Imperatore, Rinaldi e Drago (2017) não se encaixaria com as estruturas
reais devido as condições referentes ao ambiente proporcionado pelo concreto e sua alteração
na natureza eletroquímica da corrosão, evidenciado por Apostolopoulos, Demis e Papadakis
(2013). Ou seja, Imperatore, Rinaldi e Drago (2017) proporcionaram um modelo cuja as
condições estariam um pouco mais distantes do que se aconteceria na prática, se considerado
uma estrutura composta por concreto armado.
5 C o n c l u s õ e s
O estudo que envolve a corrosão é inegavelmente indispensável, visto que a mesma pode
comprometer todo o desempenho de uma estrutura, além de imiscuir a segurança dos usuários
e prolongar a vida útil da estrutura.
A solução de NaCl (cloreto de sódio) mais adequada para acelerar a corrosão é de 3-3,5%,
por simular a concentração de sal da água do mar.
A corrosão afeta principalmente o desempenho mecânico, ou seja, a barra de aço passa a
ter um comportamento como se fosse uma barra de ferro, agindo com uma ruptura frágil. A
ductibilidade da barra de aço é indispensavél por fazer com que uma estrutura tenha uma
segurança quando suscetível a um colapso, garantindo um aviso prévio em caso de ruptura.
Para análises de estruturas de concreto armado, é considerável o uso de metodologias que
envolvam a utilização de barras de aço embutidas em concreto, devido a alteração do
comportamento da natureza eletroquímica da corrosão, provocado pelo concreto.
Referências
ABOSRRA, L.; ASHOUR, A.; YOUSEFFI, M. Corrosion of steel reinforcement in concrete of different compressive strengths. Construction and Building Materials, p. 3915-3925 , 2011.
APOSTOLOPOULOS, C. A.; DEMIS, S.; PAPADAKIS, V. G. Chloride-induced corrosion of steel reinforcement - mechanical performance and pit depth analysis. Construction and Building Materials, p. 139-146 , 2013.
BALESTRA, C. E. T. Materiais de Construção Civil - Notas de aula. Toledo - PR, Brasil, 2015.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
266
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
DUA, Y.; CULLEN, M.; LI, C. Structural effects of simultaneous loading and reinforcement corrosion on performance of concrete beams. Construction and Building Materials, p. 1 4 8 -152, 2013.
IMPERATORE, S.; RINALDI, Z.; DRAGO, C. Degradation relationships for the mechanical properties of corroded steel rebars. Construction and Building Materials, p. 219-230 , 2017.
ORTEGA, N. F.; ROBLES, S. I. Assessment of residual life of concrete structures affected by reinforcement corrosion. HBRC Journal, p. 114-122 , 2016.
YU, L.; FRANÇOIS, R.; DANG, V. H.; L'HOSTIS, V.; GAGNÉ, R. Structural performance of RC beams damaged by natural corrosion under sustained loading in a chloride environment. Engineering Structures, p. 30-40 , 2015.
ZHU, W.; FRANÇOIS, R.; CORONELLI, D.; CLELAND, D. Effect of corrosion of reinforcement on the mechanical behaviour of highly corroded RC beams. Engineering Structures, p. 544-554 , 2013.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
267
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
DESEMPENHO DE UMA BOLA DE FUTEBOL AMERICANO
Gustavo de Medeiros1
Rodrigo Matheus Ritter24
Anderson Alves Miguel1
Luiz Gabriel Martins1
Orientador(a) Aracéli Ciotti de Marins
Resumo O trabalho tem por objetivo mostrar o porquê de uma bola de futebol americano
alcançar uma distância maior em comparação com outras bolas. Para tanto foram utilizados conhecimentos de Cálculo Integral, Geometria Espacial e Física, além de destacada a inclusão dos surdos neste esporte. Para isso, foram confeccionadas bolas de maneira conveniente para mostrar o objetivo do estudo, em seguida foram realizados dez lançamentos de cada uma das bolas confecc ionadas e ass im foram obtidos o s dados necessár ios para a análise, dentre e las des taca - se o uso da interpolação polinomial para encontrar a s curvas do lançamento e consequentemente obter a curva média de cada bola, que foi utilizada para a s análises d o s dados. Foram determinados o comprimento de arco e a área abaixo da curva, área de s e c ç ã o de cada uma das bolas utilizadas, o s volumes aproximados de cada bola pelo Princípio de Cavalieri e o coeficiente de arrasto de cada bola. Deste modo, conclui-se que o formato do objeto influencia na ação e intensidade da força de arrasto. Por conta disso, a bola de futebol americano apresenta melhor d e s e m p e n h o aerodinâmico em relação à s outras bolas.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol Americano; Lançamento; Volume; Coeficiente de arrasto; Inclusão.
1 Introdução
A prática dos espor tes não é um evento recente. Pelo contrário, segundo
Funari (2010) é uma prática que an tecede o início do calendário cristão, e
exemplifica isso com os jogos gregos que tem começo por volta de 776 a. C.,
m a s nos chama a a tenção para o fato de que e s s e s jogos eram pautados na
religião, militarismo e rituais. O esporte moderno começa na era industrial como
recreamento e mais tarde s e torna um objeto da elite. Ao longo dos séculos foram
apa recendo outras práticas esportivas, como o futebol americano.
Particularmente, e s te por sua vez, chama a a tenção pelo formato da bola, que
não foi escolhida ao acaso . Neste espírito de curiosidade, busca-se pelo motivo
24 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
268
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
do uso d e s s e formato de bola nes te esporte, foram confeccionadas bolas de
t amanhos e formatos diferentes, para compará-las com a bola de futebol
americano, a fim de verificar por qual motivo, e s te formato é utilizado no esporte.
2 Material e Métodos
Para início de estudo, foi necessár io confeccionar bolas, com es fe ras de
isopor e EVA, que a t endes sem algumas exigências a fim de facilitar a análise
sobre os lançamentos d a s mesmas . Logo, foram confeccionadas bolas com
tamanho, m a s s a e material conveniente, des te modo obtendo ao todo seis bolas.
Es tas bolas foram confeccionadas da seguinte forma: uma bola de futebol com
m e s m a m a s s a de uma bola de futebol americano, uma bola de futebol
americano, uma de futebol, uma de rugby e uma bola de futsal com m e s m a
m a s s a entre si e distinta em comparação com a primeira bola, e uma bola de
tênis.
Foram realizados 10 lançamentos à mão com cada uma d a s bolas, com
força e ângulos de lançamentos aproximados e foram marcadas a s distâncias
em que elas tocaram o solo. Todos os lançamentos foram gravados em vídeo.
Após realizados os lançamentos, os vídeos foram editados de modo a criar uma
imagem que ilustrasse o traçado que a bola percorreu e utilizando a técnica de
interpolação polinomial pelo método de resolução de sis temas, foram modeladas
e q u a ç õ e s do 2°grau, pois melhor descrevem o trajeto de bola.
Tendo a s e q u a ç õ e s referentes a o s lançamentos da cada bola, foi
encontrada a média dos pontos de máximo de cada lançamento, assim como a
média da altura em que a bola foi lançada e a distância média a lcançada.
Obtendo e s t e s valores médios e novamente fazendo uso da interpolação foi
determinada a curva média dos 10 lançamentos de cada bola. Partindo disso, o
es tudo foi b a s e a d o na análise d a s curvas médias de cada lançamento. Com a
finalidade de obter o resultado e spe rado do es tudo em questão, iniciou-se
anal isando os dados de comprimento de curva, á rea abaixo da curva, distância
máxima percorrida e o volume de cada bola, utilizando para isso, métodos
geométricos e de Cálculo Integral.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
269
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Para encontrar a á rea abaixo da curva, foi utilizada a função média
obtida e a técnica de integração definida, na qual os extremos de integração vão
de 0 ao ponto que representa o ponto da distância média percorrida,
considerando a escala 1cm = 1m. A área abaixo da curva média determinada
pelo lançamento da bola de futebol americano por exemplo é de
aproximadamente 37,08m2 . O processo para encontrar a á rea abaixo d a s demais
curvas é análogo a este.
Para determinar o comprimento de arco de cada curva média também
foi utilizada a integral definida. Fazendo a s substituições necessár ias para que
haja a integração, surgiu a necess idade de utilizar mais uma técnica de
integração: a integral por substituição trigonométrica. Efetuando todos os
cálculos necessár ios foi determinado o comprimento da curva média
correspondente à bola de futebol americano que mede aproximados 13,96m. O
processo para encontrar os demais comprimentos é análogo a este.
Por Gerônimo (2006), pode-se entender á rea de seção, nes te caso,
como uma projeção ortogonal do objeto, que é determinada pelos planos
diametrais, planos e s t e s que cortam um corpo redondo e que contém os
segmen tos do diâmetro d e s s e corpo, sendo assim, a circunferência máxima
deste .
Para a determinação dos volumes dos objetos, com base em Gerônimo
(2006), foram utilizadas fórmulas definidas para o cálculo do volume de es fe ras
e da elipsoide. J á para a determinação do volume aproximado das bolas de
futebol americano, fez-se uso do Princípio de Cavalieri.
Realizados os cálculos referentes à á rea abaixo da curva e comprimento
de arco de todas a s curvas médias, pode-se distribuí-las, juntamente com a s
d imensões a serem manipuladas, conforme mostra a Tabela 1.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
270
de bola transversal
(cm2)
(cm3) (m) curva (m2)
to de arco (m)
B1 219,04 3680 12,19 37,08 13,96
B2 314,16 4188,79 7,59 17,30 8,78
B3 196,06 2776,5 11,12 27,41 12,26
B4 196,06 2918,11 12,55 34,61 13,88
B5 196,06 2065,23 11,89 32,83 13,30
B6 78,54 523,6 13,44 38,05 14,76
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
de bola transversal
(cm2)
(cm3)
Distância
média
(m)
Área
abaixo da
curva (m2)
Comprimen
to de arco (m)
B1 219,04 3680 12,19 37,08 13,96
B2 314,16 4188,79 7,59 17,30 8,78
B3 196,06 2776,5 11,12 27,41 12,26
B4 196,06 2918,11 12,55 34,61 13,88
B5 196,06 2065,23 11,89 32,83 13,30
B6 78,54 523,6 13,44 38,05 14,76
Fonte: Os autores (2018). B1: Bola de Futebol Americano Original; B2: Bola de Futebol; B3: Bola de Rugby; B4: Bola de Futebol Americano Confeccionada; B5: Bola de Futsal e B6: Bola de Tênis
Ao s e analisar a s bolas com m e s m a área de s e ç ã o transversal, e
considerando que foram lançadas com velocidades aproximadas, foram obtidas
distâncias médias, á r ea s abaixo d a s curvas e comprimentos de arco diferentes.
Isso s e dá por conta dos respectivos formatos, que é explicado através da
Aerodinâmica.
3 Aerodinâmica
De acordo com Rodriguez (2013), aerodinâmica é o es tudo do movimento
dos fluídos relativos à s s u a s propriedades e características, e à s forças
exercidas sobre sólidos imersos nes tes fluídos. O objetivo da aerodinâmica é
otimizar movimentos. E s s a s forças são: força de sustentação, força de arrasto e
força peso.
3.1 Força de Sus ten tação
Ainda conforme Rodriguez (2013), a força de sus ten tação é a
capac idade que um corpo tem, de acordo com seu formato, de s e "manter" em
voo. O formato de uma aeronave, principalmente de s u a s a sas , garantem que a
força de sus ten tação vença o peso, mantendo a aeronave em voo.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
271
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
A seguir, é ilustrado o formato da a s a de uma aeronave e abaixo o
formato de uma das bolas e s tudadas
Figura1: Asa de um avião Fonte: Fundamentos da Engenharia Aeronáutica (2013).
Figura 2: Projeção da bola de futebol americano Fonte: Os autores (2018).
A diferença de uma aeronave e um projétil de mesmo formato e peso, é
que a aeronave possui um trabalho que mantém sua ace leração e velocidade
cons tantes enquanto plana. Portanto, objetos com m e s m o s peso e velocidade
m a s com formatos diferentes, têm capac idades de sus ten tação diferentes.
3.2 Força de atrito
Para Halliday; Resnick; Walker (1996), a s forças de atrito s ão inevitáveis.
A força de atrito é a soma vetorial de muitas forças que agem entre os á tomos
da superfície de um corpo e os á tomos da superfície do outro corpo. S e não
f o s s e m o s c a p a z e s de vencê-la, fariam parar todos os objetos que es t ivessem s e
movendo e todos os eixos que es t ivessem girando. Cerca de 20% do
combustível consumido por um automóvel s ã o usados para compensar o atrito
d a s peças do motor e da t ransmissão. Por outro lado, s e não houvesse o atrito,
não poder íamos caminhar nem andar de bicicleta. Quando d u a s superfícies
comuns s ão colocadas em contato, somente os pontos mais salientes s e tocam.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
272
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
A área microscópica de contato é muito menor que a aparente á rea de contato
macroscópica, possivelmente 104 vezes menor. As soldas a frio (referente a
"grudar") s ão responsáveis pelo atrito estático que surge quando uma força
aplicada tenta fazer uma superfície deslizar em relação à outra.
S e a força aplicada é suficiente para fazer uma d a s superfícies deslizar,
ocorre uma ruptura d a s soldas (no instante em que começa o movimento)
seguida por um processo contínuo de formação e ruptura de novas soldas
enquanto ocorre o movimento relativo e novos contatos s ão formados
aleatoriamente. A força de atrito cinético que s e opõe ao movimento é a soma
vetorial d a s forças produzidas por e s s e s contatos aleatórios.
Quando um objeto é lançado, há uma força de atrito a tuante entre ele e o
ar em que es tá imerso. Como os projéteis e s tudados foram feitos com o mesmo
material, a força atrito não precisa ser levada em consideração no que s e refere
à superfície, já que os objetos possuem o m e s m o material e e s tão no mesmo
meio. Porém, o formato exercerá influência na p ressão d a s soldas a frio entre o
material e o ar, referentes ao ângulo de a taque da superfície do objeto com o ar,
comprimindo-o com determinada pressão, que é determinada pelo ângulo de
ataque, relativo à força de arrasto. Além do material es tabelecer diferentes graus
de soldas a frio, o ângulo de a taque altera proporcionalmente o atrito entre objeto
e ar e também é um dos fatores que influenciam na determinação do Coeficiente
de arrasto (Ca). Quanto maior o ângulo de ataque, maior será o e scoamento do
fluído e menor se rá a compressão do mesmo, moderando a intensidade do atrito.
3.3 Força de Arrasto
Quando um corpo s e move em um fluído, o fluído exerce uma força de
resistência denominada força de arrasto, es ta t ende a reduzir a velocidade do
corpo. Esta força depende da área de s ecção do objeto, do coeficiente de
arrasto, das propriedades do fluído em que es tá inserido e da velocidade do
corpo. Esta força atua sobre a parte inicial do corpo até a linha da s ecção
transversal.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
273
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Pode-se dizer que a área de secção do objeto lançado é a área de corte
transversal no qual a força de arraste e atrito exercerá influência. Por exemplo,
a secção de uma esfera é um círculo e de uma elipsoide pode ser um círculo ou
uma elipse, dependendo da forma como é lançado. Desse modo, quanto menor
a área de secção, menor será o arrasto sobre ela e menor a perda de velocidade.
Segundo Rodriguez (2013), a força de arrasto varia com a variação da
velocidade do corpo, mas nem sempre de forma linear, isso dependerá das
forças externas que atuam no fluido. A força de arraste varia com um percentual
relativamente maior que o percentual de variação da velocidade.
Foi verificado no experimento, três forças de arrasto definidas por
Rodriguez(2013), que são:
• Arrasto de atrito: representa o arrasto devido à s tensões de
cisalhamento atuantes sobre a superfície do corpo.
• Arrasto de pressão ou de forma: representa o arrasto gerado pelo
desbalanceamento de pressão causado pela separação do
escoamento do fluido.
• Arrasto de perfil: é a soma do arrasto de atrito com o arrasto de
pressão, es te termo é utilizado quando s e trata do escoamento
em duas dimensões, ou seja, o fluido exerce atrito com o corpo e
é desviado sob um ângulo e, quanto maior es te ângulo, maior é a
compressão do fluido e a pressão do ar em torno do objeto
aumenta.
O cálculo da força de arrasto depende da velocidade, do coeficiente de
arrasto devido à forma do objeto e da área frontal ou área de secção, onde p é
a densidade do meio (foi desconsiderado ao cálculo, pois a s bolas foram
lançadas no mesmo meio), A a área de seção, Ca o coeficiente de arrasto, Fa a
Força de arrasto e V a Velocidade do objeto. Deste modo, temos:
1 Fa = 2CaAV2
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
274
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 3 - Movimento do arrasto Fonte: www.if.ufrj.br/~sandra/Topicos/palestras/futebol2.
3.3.1 Coeficiente de arrasto
O coeficiente de arrasto ou coeficiente de resistência aerodinâmica (Ca), é
um número adimensional usado para quantificar a resistência do fluido sobre um
objeto. Um coeficiente de arrasto baixo, indica que o objeto sofrerá menos força
de arrasto. Está sempre assoc iado à uma área de superfície específica. O
coeficiente compreende os efeitos de dois contribuintes fundamentais: fricção de
superfície e arrasto de forma. Dirigíveis e alguns corpos de revolução usam o
coeficiente de arrasto volumétrico, no qual seu Ca é aproximado pela expressão
a seguir, onde A é a á rea de s ecção e Z é o volume.
A c« = z
A tabela a seguir contém os coeficientes e a s forças de arrasto d a s bolas
de acordo com a s cons ta tações ap resen tadas na Tabela 2.
Tabela 2 - Arrasto
Bolas Velocidade Área Volume Coeficiente Força
(Km/h) de s e ç ã o (cm3) de arrasto de arrasto
(cm2) (N)
B1 30,89 219,04 3680 0,05952 6220,02
B2 30,89 314,16 4188,79 0,075 11241,33
B3 30,89 196,06 2776,5 0,0706 6603,88
B4 30,89 196,06 2918,11 0,06718 6283,98
B5 30,89 196,06 2065,23 0,0949 8876,89
B6 30,89 78,54 523,6 0,155 5620,66
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
275
f VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
Fonte: Os autores (2018).
Considerando a s bolas de m e s m a s e ç ã o transversal, pode-se construir a
Tabela 3 que relaciona a s forças de arraste com a s distâncias percorridas e o
comprimento dos arcos.
Tabela 3 - Eficiência
Bola Força de Distância Comprimento
arrasto (N) percorrida (m) do arco (m)
B3 6603,88 11,12 12,26
B4 6283,98 12,55 13,88
B5 8876,89 11,89 13,30
Fonte: Os autores (2018).
A partir da análise d e s s e s resultados, en tende-se melhor o porquê de
corpos aerodinâmicos com forma alongada otimizarem a distância. Isso ocorre
porque e s s e formato faz com que a c a m a d a limite e a s trajetórias das partículas
contornem com mais facilidade o corpo, não causando ace le rações muito
bruscas que criariam um elevado gradiente adverso de p re s sões e um grande
deslocamento. Sendo assim, quanto mais aerodinâmico é um corpo, menor será
a força de arrasto agindo sobre ele. Pode-se pensar que quanto mais alongado
é o corpo, maior será o arrasto, uma vez que haverá uma maior á rea de
interação entre o corpo e o fluido, entretanto, tal arrasto é chamado arrasto de
superfície e no experimento não é o principal responsável pela mudança de
comportamento entre a s bolas, e sim o arrasto de forma. Logo, o chamado "corpo
aerodinâmico" é aquele que causa menor soma dos efeitos de forma e
superfície.
No caso do experimento, a bola de futebol americano é mais aerodinâmica
que a bola de futebol. Isso porque s e trata de um corpo mais alongado, em que
sua geometria favorece a diminuição do arrasto, ou seja, os efeitos que o
e scoamen to tem sobre o corpo s ã o minimizados. Pode-se entender também, que
a s linhas de corrente de escoamento incidindo sobre a bola de futebol sofrem
um desvio muito maior que a de futebol americano, o que a c a b a gerando um
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
276
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
arrasto maior, devido à forma. J á na bola de futebol americano, e s s a s linhas
contornam mais suavemente o corpo. Sendo assim, é possível perceber que a
geometria de um corpo influencia no comportamento que e s s e terá submetido a
um escoamento .
4 Os surdos e o esporte
Bailey (2005, p.72) conforme citado por Johnson (2014, p. 7, t radução e
grifo nosso) define esporte como um conjunto de atividades, processos , relações
sociais com resultados físicos, psíquicos e sociológicos. Baseando-se n e s s a
visão pode-se compreender que os espor tes s ã o uma d a s formas que poderão
fornecer condições para o desenvolvimento de habilidades sociais,
principalmente aque les formados por equipes, como por exemplo, basquete ,
futebol americano, handebol, vôlei, futsal, handebol, em que o espirito da
coletividade é um dos fatores fundamentais para determinar o d e s e m p e n h o de
um time.
É possível então, dizer que os espor tes entre os surdos s e constituem como
uma ferramenta favorável para interação e contato entre os membros da
comunidade surda. Os espor tes para Surdos promovem um enriquecimento
social e comunicativo entre sujeitos que es tão em uma soc iedade ouvinte que
impõe isolação social, baixa autoestima e com o s e n s o de excluídos por serem
diferente deles (Columna & Lieberman (2011, p.12); Stewart (1991, apud
JHONSON, 2014, p.8, t radução e grifo nosso). Dessa forma, os espor tes
permitem a o s surdos, além dos benefícios naturais, como s e exercitar, também
promovem um sentimento de confiança, autoestima. Segundo Stewart e Ellis
(2005, apud JHONSON, 2014, p.9, t radução e grifo nosso) para muitos deles,
participar de um esporte ou s e juntar a um clube de espor tes representa muito
em termos de socializar.
Uma d a s formas com a s quais os Surdos tinham contato com os espor tes
eram através das assoc iações . Conforme Strobel (2009) relata que a s
a s soc iações a princípio serviam de e s p a ç o para entretenimento, m a s com o
avançar da história, apareceu à necess idade de outras práticas esportivas e a s
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
277
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
competições eram a p e n a s de futebol. Diante da necess idade de s e criar
organizações que permitissem uma janela para o conhecimento de outros
esportes, surge a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos - CBDS
(essa é uma d a s várias que existem). Através da CBDS foi possível a realização
da I Olímpiada de Surdos do Brasil, em 2002, no Rio Grande do Sum em P a s s o
Fundo. Durante o evento ocorreram desfiles, has teamento da bandeira e Hino
Nacional na Língua de Sinais. Conforme o site oficial da CBDS foi promovido
competições de atletismo, ciclismo, natação, tênis de m e s a e de quadra, xadrez,
halterofilismo, basquete , futebol de salão, handebol, vôlei de quadra e praia.
Particularmente para o contexto do futebol americano temos como
referência o jogador Derrick Coleman. Segundo uma matéria publicada no site
da uol em 2014, Coleman é surdo d e s d e a o s três a n o s e sempre nutriu o sonho
de ser jogador de futebol americano. A sua trajetória es tá documentada em The
Sound of the Silence in the NFL (em português é traduzido como O Som do
Silêncio na NFL). Atualmente ele ocupa a posição de fullback no time Seattle
Seahawks . Apesar da eventual surdez, conforme a matéria de Pereira, Derrick
nunca encarou como motivo de limitação para a prática dos esportes,
ens inamento e s s e dado pelo pai. Diante d e s s a si tuação apresentada , percebe-
s e conjuntamente com o quadro apresentado, que a surdez não é uma limitação
para prática de esportes, m a s a p e n a s adap tações s ã o necessár ias .
A inserção de surdos no mundo dos espor tes pode ocorrer no período
escolar, começando com a s aulas de Educação Física. As aulas de educação
física também s e constituem como meios de socialização e integração, além da
construção de habilidades que, mais tarde, podem os conduzir para uma carreira
atlética profissional. Para Casarotto (2012), e s s e s e s p a ç o s a judam na
convivência em grupo, descober ta de potenciais, conhecimento do corpo e
formação de identidade e de es tabelecimentos escolares que acolhem
indivíduos com necess idades especiais. Des se modo, a escola s e torna
ferramenta que contribui para que mais Surdos s e sintam incluídos e atraídos
para o mundo do esporte.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
278
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
5 Conclusão
Como Mostramos, a força de arrasto na bola de futebol é maior do que na
bola de futebol americano. Sendo assim, em uma si tuação onde a m b a s a s bolas
s ã o a r remessadas , considerando como únicos os efeitos resistivos e os efeitos
devido ao arrasto na bola, a bola de futebol americano atingirá maior distância.
Isso s e deve ao fato de que a força de arrasto na bola de futebol é maior, logo,
haverá maior resistência imposta ao movimento da bola após a m e s m a ser
a r remessada , fazendo-a frear mais rapidamente e atingindo, consequentemente ,
uma distância menor. J á para a bola de futebol americano, como o arrasto
imposto à m e s m a é menor, devido à sua geometria, haverá uma menor
resistência ao seu movimento e posteriormente ao seu lançamento, fazendo-a
atingir maiores distâncias.
Além disso, através da literatura, podemos compreender o esporte como
ferramenta auxiliar para o desenvolvimento de habilidades sociais (comunicação
e integração) e psicológicas (favorecimento da autoest ima e identidade surda)
entre os membros da comunidade surda. Exemplos de s u c e s s o como Derrick
Coleman, demonstram que a s p e s s o a s surdas s ão tão c a p a z e s quanto os
ouvintes nes sa área, a diferença es tá na necess idade de adaptações , m a s que
não significam limitações para prática. Através dos espor tes também, que os
c idadãos procuram participar da cultura surda como maneira de aprender a
interagir com o surdo.
Referências
MARQUES, A. H. O que faz um avião voar?. 2003. Disponível em:
<http://www.if.ufrgs.br/text/fis01043/20031/Andre/>. Acesso em: 04. Abr. 2018.
PORTAL SÃO FRANCISCO. Como funciona a aerodinâmica. Disponível
em: <https://www.portalsaofrancisco.com.br/fisica/como-funciona-
aerodinamica>. Acesso em: 05 abr. 2018.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
279
f VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
HALLIDAY, D; RESNICK, R; WALKER, J. Fundamentos de física:
Mecânica, vol. 1. 9. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
CASAROTTO, C. L. J. V. Educação física e o aluno surdo. Seminário
Internacional da Educação no Mercosul. Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Brasil,
2012.
JOHNSON, L. (2014). The barriers enconteured by Deaf people within the
Sporting environment. Cardiff: Dissertação (Mestrado em Ciências) - Cardiff
Metropolitan University.
PEREIRA, F. Atleta de Futebol Americano supera surdez e vira des taque nas finais da NFL. 2014. Disponível em:
<https://esporte.uol.com.br/futebol-americano/ultimas-
noticias/2014/01/15/atleta-de-futebol-americano-supera-surdez-e-vira-
destaque-nas-finais-da-nfl.htm>. Acesso em: 04 abr. 2018.
RODRIGUEZ, L. E.. Fundamentos da Engenharia Aeronáutica. São
Paulo: Cengage Learning, 2013.
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 2. ed. rev.
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2009.
GERÔNIMO, J. R.. Geometria Plana e Espacial: Um estudo axiomático.
Maringá: Eduem, 2006.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
280
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
GEOMETRIA DO GLOBO TERRESTRE, O AEROPORTO DE TOLEDO-PR E UMA ABORDAGEM DE GEOMETRIA DO GLOBO
TERRESTRE PARA SURDOS
Gustavo Henrique Zanette Maurício Eduardo Lamb
Jackson Rauber de Oliveira Daniela Alves Vieira
Aline Keryn Pin Loreci Zanardini
Barbara Winiarski Diesel Novaes
1 Resumo
O artigo consiste no resultado do Projeto Integrador, desenvolvido no
terceiro período do Curso de Licenciatura em Matemática, envolvendo a s
disciplinas de Geometria II, Libras II, Didática Geral. O problema levantado para
o desenvolvimento do projeto baseou- se na divulgação como anunciado em
veículos de comunicações locais, do possível início de operação do aeroporto
municipal Luiz Dalcanale Filho localizado na cidade de Toledo (estado do
Paraná), previsto para o ano 2018, com voos diários para o Aeroporto
Internacional Afonso Pena, localizado na cidade de S ã o J o s é dos Pinhais, na
Região Metropolitana de Curitiba, assim surgiu a ques tão de estudo: para irmos
a S ã o Paulo, se rá Curitiba a melhor rota de e sca la?
Levando em consideração que no Paraná t emos o aeroporto de Maringá
que é qualificado para a esca la nesta viagem para S ã o Paulo. Vamos analisar
com es te trabalho, s e a cidade de Maringá pode ser uma melhor rota de escala
que temos a disposição ao invés de Curitiba.
De tal modo, se rão ap resen tados a seguir conceitos de geometria esférica
utilizados para a análise do problema, assim como os cálculos realizados para
verificação de possíveis rotas e s u a s viabilidades. Com o objetivo de integrar a s
disciplinas de Didática Geral e Libras II, utilizamos es te problema de es tudo e
desenvolvemos materiais manipuláveis visando o ensino de alguns conceitos
sobre geometria esférica para alunos Surdos.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
281
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2 Alguns conce i tos sobre geometria esférica
A Geometria esférica ou elíptica, é uma geometria não euclidiana, derivada
da negação do quinto postulado de Euclides. No qual abordaremos alguns
tópicos que iremos utilizar tanto para a problemática dos aeroportos quanto do
ensino para surdos.
Circunferência Máxima: Uma circunferência máxima da esfera resulta da
interseção de um plano que passa pelo centro da esfera (Figura 1). Todas as
circunferências máximas da esfera são iguais, pois todas têm como raio o raio
da esfera. Uma circunferência é dita menor quando a interseção de um plano
com a superfície esférica não passa pelo centro da esfera.
Figura 1 - Circunferência Máxima
CIRCULO MÁXIMO
Fonte: Costa (2014) Hemisfério: Qualquer plano que passe pelo centro da superfície esférica a
decompõe em duas partes chamadas hemisférios, conforme (Figura 2).
Figura 2 - Hemisférios
Fonte: Costa (2014)
Retas: As retas correspondem, no modelo esférico, às circunferências ou
círculos máximos (também são chamadas geodésicas). Observa-se que por dois
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
282
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
pontos quaisquer sobre uma esfera sempre será possível traçar uma reta. Além
disso, quaisquer duas retas sempre se interceptam em dois pontos (Figura 3)
Figura 3 - Retas na esfera
Fonte: Costa (2014)
Distância na superfície esférica: Sejam dois pontos A e B da superfície esférica
de centro O. O plano secante a que contém estes dois pontos e o centro da
esfera determina uma circunferência máxima que contém A e B, conforme
(Figura 4) A distância entre os pontos A e B é o comprimento do menor arco de
circunferência máxima que passa por esses pontos e essa distância corresponde
ao segmento de reta no modelo esférico.
Figura 4 - Distância na superfície esférica
Fonte: Costa (2014)
3 Cálculo das distâncias das poss íve i s rotas aéreas
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
283
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Inicialmente para calcularmos a distância de uma cidade a outra
precisaremos da seguinte fórmula:
360° 2nr
a° d(A,B)
Para entendermos e s s a fórmula precisamos da ideia que uma reta na
esfera é uma circunferência máxima o todo d e s s a circunferência representa
360°, vamos precisar do perímetro de s sa circunferência, que seria toda a
distância passando por dois pontos em linha reta retornando ao ponto inicial,
mas qual é o perímetro de uma circunferência? Temos pela geometria plana que
é 2 n r , mas para encontrar a distância entre apenas os dois pontos temos que
encontrar um ângulo a° parte do "todo"(360°), que representa o arco AB, logo:
A primeira informação que precisamos é o raio(r) da terra, que é de 6 . 3 7 1
Km (Fonte: Google), também precisamos considerar a altura que os aviões
voam, que segundo a revista Super Interessante é na casa dos 11 Km de altura,
logo, podemos considerar nosso raio como 6 .382 Km.
O valor do ângulo a, como dito antes é o ângulo formado das cidades com
o centro da terra e para encontrarmos es te valor a primeira coisa que precisamos
são das coordenadas dos aeroportos.
Tabela 1 - Coordenadas das cidades parte 1
Aeroporto da cidade Coordenadas
Toledo 24,69°S, 5 3 , 7 0 ° W
Curitiba 25,53°S, 4 9 , 1 7 ° W
Maringá 23,48°S, 5 2 , 0 1 ° W
Campinas 23,01°S, 4 7 , 1 4 ° W
Fonte: Autores
Utilizaremos a s coordenadas reais de latitude e longitude das posições dos
aeroportos encontradas pelo aplicativo Google Earth.
Agora que temos a s coordenadas podemos calcular o valor de a que pode
ser calculado segundo os conceitos desenvolvidos e demonstrados no capítulo
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
284
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
4, A Superfície Esférica em Coordenadas Cartesianas, da apostila 6, A
Geometria do Globo Terrestre de Sérgio Alves a partir da seguinte forma:
x = v cosO • COSty
y = r • cosO • siny
z = r • sinO
Precisamos apontar ao fato de que os valores de 0 s ão referende a latitude,
representada por S e N, e y a longitude, representada por E e W.
Outro fato importante é de que a latitude de nossas coordenadas está no
sul do globo, por isso suas representações trigonométricas são negativas de
mesma forma a longitude de nossas coordenadas que es tão ao oeste do globo
e também tem representação trigonométrica negativa.
Além disso, para encontrar a que é o nosso objetivo, nós não utilizaremos
a fórmula com o r multiplicando porque o valor que obteríamos possivelmente
não estaria entre [-1,1]. Logo, e s s e valor não seria o resultado do cosseno de
alfa.
Agora temos a tabela com os valores respectivos de nossas coordenadas
no globo.
Tabela 2 - Coordenadas das cidades parte 2
Cidade x y z
Toledo COS - 24,69° • COS - 53,70° cos -- 24,69° • sin - 53,70° sin - 24,69°
Maringá COS - 23,48° • cos - 52,01° COS - 23,48° • sin - 52,01° sin - 23,48°
Curitiba COS -- 25,53° •cos - 49,17° COS - 25,53° • sin - 49,17° sin - 25,53°
Campinas COS -23,01° •cos - 47,14° COS - 23,01° • sin - 47,14° sin -23,01°
Fonte: Autores
Resultados:
Tabela 3 - Coordenadas da s cidades parte 3
Cidade x y z
Toledo 0,5378 -0,7321 -0,4177
Maringá 0,5644 -0,7227 -0,3984
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
285
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
C u r i t ib a 0,5899 - 0 , 6 8 2 6 - 0 , 4 3 0 9
Campínãs 0,6260 - 0 , 6 7 4 6 - 0 , 3 9 0 8
Fonte: Autores
Portanto com n o s s a s coordenadas es tabelecidas podemos calcular o valor
de a.
Para calcular o ângulo alfa entre d u a s cidades, precisamos usar a formula:
c o s a = • x 2) + ( y x • y 2
) + ( z x • z 2) ]
Vamos exemplificar descobrindo o ângulo formado entre a s c idades de
Toledo e Maringá utilizando a formula do produto escalar:
c o s a = [(0, 5378) , ( - 0 , 7 3 2 1 ) , ( - 0 , 4 1 7 7 ) ] • [(0, 5644) , ( - 0 , 7 2 2 7 ) , ( - 0 , 3 9 8 4 ) ]
c o s a = [ (0 ,3035) + (0, 5290) + (0 ,1664) ]
c o s a = 0 , 9 9 8 9
O ângulo que o cosseno da 0,9989 é o ângulo alfa.
Logo a é 2 , 6 8 7 6 ° aproximadamente.
Analogamente conseguimos os outros valores dos ângulos (Tabela 4).
Tabela 4 - Ângulo formado entre a s c idades
Cidade 1 Cidade 2 Angulo formado entre 1 e 2 Toledo Maringá 2,6876°
Toledo Curitiba 4,5848°
Curitiba Campinas 4,4392°
Maringá Campinas 3,7138°
Fonte: Autores
Agora que temos todos nossos resultados parciais podemos finalmente
calcular a s distancias entre a s c idades pela formula já mostrada da página 5.
360°
a°
Distância entre os aeroportos de Toledo e Maringá:
360° 2 ^ - 6 3 8 2
2 , 6 8 7 6 °
Logo:
360° • £ ) = 2, 6876° • • 6382
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
286
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Assim encontramos que a distância do aeroporto de Toledo até o Aeroporto
de Maringá percorrida pelo avião é de 2 9 9 , 3 6 3 4 KM, de maneira análoga
encontramos os outros seguintes resultados:
Tabela 5 - Distância entre c idades
Cidade 1 Cidade 2 Angulo formado entre 1 e 2 Toledo Maringá 299,3634 Km
Toledo Curitiba 510,6867 Km
Curitiba Campinas 494,4687 Km
Maringá Campinas 413,6687 Km
Fonte: Autores.
Logo podemos ver a distância percorrida com sa ída em Toledo e chegada
em Campinas pelas duas rotas:
D(T,M) + D(M,CA) = 2 9 9 , 3 6 3 4 + 4 9 4 , 4 6 8 7 = 7 9 3 , 8 3 2 1 Km
D(T, C) + D(C, CA) = 5 1 0 , 6 8 6 7 + 413, 6 6 8 7 = 9 2 4 , 3 5 5 4 Km
Portanto a rota de Toledo a Campinas com esca la em Maringá é de
aproximadamente 130 Km menor que a esca la em Curitiba.
4 O ensino de geometria esférica para estudantes surdos
Nós como futuros professores, devemos nos importar com o processo de
aprendizado dos alunos, e tendo em vista que a s geometrias não euclidianas
e s t ão nas diretrizes curriculares p a r a n a e n s e s propomos a criação de recursos
didáticos que podem vir a nos auxiliar a mediar a aprendizagem de conteúdos
de matemática. S e entre nossos alunos estiver presente 1 aluno surdo, será que
podemos usar a m e s m a metodologia da aprendizagem para ouvintes e para
surdos? Será que todos iriam ter a s m e s m a s facilidades ou dificuldade de
aprender?
E s e aula fos se ministrada em uma escola bilíngue para Surdos, que no
ca so do nosso município t emos como referência a APADA, utilizarem a m e s m a
metodologia que foi u sada para uma aula inclusiva, ou onde todos os alunos
fossem ouvintes?
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
287
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Segundo (NOGUEIRA, 2013) a imagem para o surdo, pode ser aquilo que
a palavra (som) representa para o ouvinte. A imagem e a visibilidade s ã o a
linguagem fundamental para o surdo, tanto para a função de verificação
perceptiva e representação, quanto para o d e s e m p e n h o na reflexão e na
e laboração de estratégias de pensamento e ação.
Para isso, não devemos a p e n a s traduzir para a língua de sinais,
metodologias, estratégias e procedimentos que s ã o usados em uma aula para
ouvintes, devemos sim nos preocuparmos em organizar atividades que
proporcionem um salto qualitativo na aprendizagem de alunos surdos, onde o
m e s m o possa desenvolver sua autonomia. Libras é uma língua discursiva de
características viso-espacial, portanto quando buscamos estratégias onde o
aluno ouvinte visualize melhor e com maior facilidade, os conteúdos que es tão
sendo mediados, é indispensável para o seu desenvolvimento cognitivo
matemático de alunos surdos, ou seja, a s s u m e um caráter de necess idade .
Para sabe r s e a metodologia aplicada alcançará os objetivos é necessár io
que a comunicação entre os es tudantes e o professor ocorra de forma eficaz,
ressal tando a importância de considerar o surdo um sujeito com uma cultura,
identidade e língua diferenciada, em que o professor precisa ter um contato
maior com o surdo por meio da utilização da Libras e com a ajuda dos intérpretes.
5 Algumas estratégias elaboradas
Como estratégias, se rão sugeridas a utilização de recursos didáticos para
o ensino de matemática e principalmente para a aprendizagem de surdos,
auxiliando a compreensão do es tudante quanto a o s conceitos matemáticos
es tudados . Assim, para o ensino de es tudantes surdos, no ensino de uma
geometria não euclidiana durante o desenvolvimento des te trabalho, utilizamos
uma bola elástica, para assim, demonstrar os conceitos descritos acima
relacionados, como: retas, circunferência máxima e hemisférios.
Com a bola elástica podemos replicar um modelo de esfera, e como não é
viável de senha r na bola, utilizamos elásticos de costura para fazer a s retas
esfér icas como mostra abaixo, possibilitando ao es tudante surdo experiência
visual e manipulável, conforme apresen tado na figura abaixo
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
288
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 5 - Bola elástica e elásticos de costura
Fonte: Autores
Outro recurso utilizado é uma bola de isopor e alguns palitinhos, utilizados
para o ensino dos conceitos de: diâmetro, pontos ant ípodas e hemisférios,
também de maneira visual e manipulável.
Figura 6 - Bola de isopor e palitos de madeira
Fonte: Autores
Acreditamos que a utilização d e s s e s recursos didáticos pode facilitar o
ensino dos conceitos matemáticos abordados nes te trabalho para es tudantes
surdos. Pois conforme Botas e Moreira (2013)
[...] apesar da utilização do material não determinar por si só a aprendizagem, é importante proporcionar diversas oportunidades que contam com materiais para despertar interesse e envolver o aluno em situações de aprendizagem matemática, já que os materiais podem constituir um suporte físico através do qual as crianças vão explorar, experimentar, manipular e desenvolver a observação. (BOTAS e MOREIRA, 2013, p.254)
Os materiais utilizados s ã o baratos e de fácil a c e s s o e podem ser utilizados
por professores de matemática como dito an tes o surdo aprende muito com o
visual, e p rezamos por isso nos nossos materiais.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
289
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Estes materiais podem ser trabalhados com várias metodologias e
tendências metodológicas, pois permitem trabalhar modelagem matemática,
laboratório de ensino de matemática, resolução de problemas (como o problema
base des te trabalho), sala de aula invertida e outras. Sendo es te um recurso
didático que pode ser utilizado por professores de matemática para trabalhar o
conceito/conteúdo apresentado neste trabalho pois "o recurso didático não é em
si um conhecimento, mas o meio que auxilia a construção do conhecimento e
sua compreensão" (BOTAS e MOREIRA, 2013, p. 258) no entanto, é de
responsabilidade do professor escolher qual o melhor recurso didático à ser
utilizado para o processo de aprendizado de conteúdos matemáticos.
6 Considerações finais e trabalhos futuros O desenvolvimento deste trabalho nos possibilitou concluir que, em relação
à problemática dos aeroportos a diferença das distâncias dos percursos é
desprezível em relação ao tempo poupado, pois, segundo a reportagem do site
Aviation For All, os aviões comerciais têm uma velocidade média de 890 Km/h.
Logo 130 Km não faz uma diferença considerável no tempo final da viagem. No
entanto, uma diferença significativa encontrada foi que, devido aos voos diários,
já citados na reportagem, há um gasto de combustível diário maior pela escala
em Curitiba e d e s s a forma após uma semana são rodados 910 Km por s emana
a mais que na rota de Maringá para ir a Campinas e por mês 3.640 Km. O que
de fato, faz uma diferença significativa no valor gasto pela companhia
aeronáutica em combustível, segundo a pesquisa da Folha De São Paulo o
combustível aeronáutico no Brasil é um dos mais caros no mundo, e assim,
refletindo no preço da passagem, desta forma afetando o consumidor.
No que tange o ensino da geometria do globo des te trabalho, acreditamos
que os materiais trabalhados podem auxiliar tanto os alunos surdos quanto os
ouvintes, de forma geral temos que o auxílio dos materiais podem ser usados no
ensino com a utilização de diferentes tendências metodológicas, como
metodologias ativa, acreditamos que trabalhar com es tes materiais traz um ar
mais lúdico e interativo e faz com que a visualização no 3D de um conceito seja
mais fácil de compreender do que em um quadro onde temos certas limitações.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
290
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Como dito an tes acreditamos que os materiais desenvolvidos nes te trabalho
podem ser utilizados por qualquer professor, o preço dos materiais é acessível
e de fácil manuseio, assim qualquer colégio terá condições de ter determinados
materiais.
J á para nossos trabalhos futuros pre tendemos aprofundar a pesquisa sobre
os preços de combustíveis e a s variáveis que fundamentam os preços d a s
p a s s a g e n s aéreas , a lmejamos também estudar os critérios da construção de
aeroportos no Brasil, como aspec tos políticos, geográficos e econômicos.
REFERÊNCIAS
COSTA, Marcos J o s é Machado da. Rotas Aéreas e a Geometria do Globo Terrestre. 2014. 67 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Curso de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
SACONI. Alexandre. Preço do combustível torna p a s s a g e n s aéreas nacionais mais caras do que a s internacionais. Disponível em: https://noticias.r7.com/brasil/preco-do-combustivel-torna-passagens-aereas-nacionais-mais-caras-do-que-as-internacionais-12112015/> Acesso em 12 de junho de 2018
LIRA. Suzi. Aeroporto de Toledo terá v o o s diários a partir do dia 4 de junho. Disponível em: http://www.toledo.pr.gov.br/noticia/aeroporto-de-toledo-tera-voos-diarios-a-partir-do-dia-4-de-junho/> Acesso em 11 de junho de 2018
AVIATION FOR ALL. Qual a ve loc idade de um avião comercia l? Disponível em: http://www.aviationforall.com/qual-a-velocidade-de-um-aviao/> a c e s s o em 13 de junho de 2018
DE SÃO PAULO. Preço do combust ível de aviação no Brasil é 46% maior do que n o s EUA. Disponível em: http://estudio.folha.uol.com.br/brasil-que-voa/2017/05/1886629-preco-do-combustivel-de-aviacao-no-brasil-e-46-maior-do-que-nos-eua.shtml/> Acesso em 15 de junho de 2018
NOGUEIRA, Clélia Maria Ignatius (Org.). SURDEZ, INCLUSÃO E MATEMÁTICA. Brasil: Editora Crv, 2013. 282 f.
BOTAS, Dilaila; MOREIRA, Darlinda. A utilização dos materiais didáticos nas aulas de Matemática - Um estudo no 1° Ciclo. Revista Portuguesa de Educação, Braga, Pt, v. 26, n. 1, p.253-286, jan./jun. 2013. Semestral .
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
291
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ANÁLISE DA ADIÇÃO DE ÁGUA EM OBRA PARA CORREÇÃO DA TRABALHABILIDADE DO CONCRETO
DOSADO EM CENTRAL
J o s é Augusto Venâncio da Silva Ramos 2 5
Juliano Sezar de Andrade2 6
Gustavo Savaris2 7
1 Resumo
Nas centrais dosadoras de concreto, é comum que não seja adicionada toda água do traço já na
central, sendo parte d e s s a adição realizada na obra, para correção da trabalhabilidade. Fatores
como a temperatura ambiente, umidade relativa do ar, condições dos agregados e agitação da
betoneira são os principais responsáveis pela redução da trabalhabilidade, pois podem causar
evaporação de parte da água de amassamento. O procedimento usual é o motorista do caminhão
completar e s s a dosagem, procedimento regulamentado pela norma NBR 7212 (ABNT, 2012), a
qual permite a adição de água, contanto que não seja excedido o fator água/cimento. Na prática,
e s s a adição de água muitas v e z e s não s e g u e controle rigoroso, ficando a critério da experiência
do motorista e ultrapassando e s s e limite. Essa situação pode trazer problemas ao desempenho
do concreto, caso o fator água/cimento ultrapasse o estipulado para o traço, podendo causar
perda da resistência e homogeneidade da mistura. Dessa forma, o presente trabalho tem por
objetivo avaliar a adição de água para correção do abatimento em obra, verificando os impactos
na resistência média à compressão e a variação do controle d e s s a prática em função do fCk
nominal. Para tanto, foi monitorado o processo de carregamento e entrega do concreto usinado
de uma empresa do município de Toledo - PR, anotando-se a quantidade de água adicionada
na central e na obra, calculou-se o fator água/cimento e a resistência à compressão aos 28 dias.
Os resultados demonstraram uma menor variação nos resultados em concretos com maior fCk
nominal atribuída ao maior controle tecnológico. Com base no estudo realizado, considera-se ser
necessário maior controle tecnológico no momento da dosagem de água em obra, a fim de
reduzir as variações nas características do concreto, principalmente na resistência à
compressão.
Palavras-chave: Concreto dosado em central, fator água/cimento, resistência à compressão,
controle tecnológico.
25 Acadêmico do curso de Engenharia Civil - UTFPR - Câmpus Toledo. 26 Engenheiro Civil - Concresuper Serviços de Concretagem LTDA. 27 Orientador: Docente do curso de Engenharia Civil - UTFPR - Câmpus Toledo.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
292
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2 Introdução
Nas centrais dosadoras de concreto, é comum que não se ja adicionada
toda a água do traço ao concreto já na central, s endo necessár ia adição de água
para a correção da trabalhabilidade em obra. Fatores como a temperatura
ambiente, umidade relativa do ar, condições dos agregados , agitação da
betoneira, entre outros fatores, s ã o os principais responsáveis por e s s a redução
do abatimento, pois podem causar evaporação de parte da água de
amassamen to . Essa correção na obra é muito importante, pois o retorno do
concreto para redosagem ou até m e s m o lançamento do concreto com
trabalhabilidade inadequada, podem comprometer o d e s e m p e n h o do mesmo,
gerando ônus à s partes envolvidas.
O procedimento usual é que o motorista do caminhão complete a
dosagem de água em obra, s endo es te procedimento regulamentado pela norma
NBR 7212 (ABNT, 2012). A norma permite a adição de água, contanto que não
s e exceda o limite do fator água/cimento (ABNT, 2012).
Na prática, e s s a quantidade de água muitas vezes não s e g u e um
controle rígido, ficando a critério da experiência do motorista. Essa si tuação pode
trazer consequênc ias prejudiciais ao d e s e m p e n h o espe rado do produto
fornecido, pois em alguns c a s o s o fator água/cimento (a/c) pode ultrapassar o
limite estabelecido pelo traço. Segundo Teixeira e Pelisser (2007), e s s a adição
de água ao concreto aumenta o fator a/c, causando vários problemas de
d e s e m p e n h o no concreto, como perda de resistência e homogeneidade da
mistura. Também possibilita diversos problemas de deterioração no concreto -
devido ao aumento da porosidade - prejudicando sua durabilidade.
Neste sentido, e s te trabalho avalia a adição de água em obra para a
correção da trabalhabilidade do concreto dosado em central, verificando quais
impactos isso traz na resistência média à compressão e como varia o controle
d e s s a prática em função do fck nominal.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
293
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
3 Revisão Bibliográfica
3.1 Concreto Dosado em Central
O concreto dosado em central para fins estruturais é normatizado pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através do CB-18 - Comitê
Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados. As normas que orientam sobre a
produção e utilização do concreto são: NBR 6118 (Projeto e Execução de Obras
de Concreto Armado), NBR 7212 (Execução do Concreto Dosado em Central),
NBR 12654 (Controle Tecnológico dos Materiais Componentes do Concreto),
NBR 12655 (Preparo, Controle e Recebimento de Concreto), e NBR 8953
(Concreto para Fins Estruturais - Classificação por Grupos de Resistência)
(ABESC, 2007).
Os materiais utilizados na produção do concreto devem passa r por um
controle de qualidade rigoroso e devem ser a rmazenados de maneira a d e q u a d a
ao uso. Segundo a NBR 7212 (ABNT, 2012), os ag regados devem ser s epa rados
de maneira a evitar a mistura entre granulometrias, fornecedores e demais
características que os diferenciem. O cimento deve ser a rmazenado
sepa radamen te em função d a s s u a s propriedades - o mais usual é o
a rmazenamento em grandes silos. A água deve ser s epa rada igualmente em
função d a s diferentes origens e qualidade e os aditivos devem ser a rmazenados
de acordo com a s recomendações dos fabricantes.
O transporte do concreto dosado em central para o canteiro de obras deve
ser feito de maneira ágil para minimizar os efeitos de enrijecimento e de perda
de trabalhabilidade e não dificultar o adensamen to e o acabamen to apropriados.
Em condições normais, geralmente há uma perda desprezível da consistência
durante os primeiros 30 minutos após o início da hidratação do cimento. Quando
o concreto é mantido em reduzido es tado de agitação ou remisturado
periodicamente, pode ocorrer alguma perda de trabalhabilidade com o tempo
que, geralmente, não representa qualquer risco sério para o lançamento e
adensamen to do concreto f resco durante os primeiros 90 minutos (POLESELLO
et al., 2013).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
294
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Em geral, a correção da trabalhabilidade do concreto é realizada pela
adição suplementar de água em obra, mesmo contrariando o que prescreve a
NBR 7212 (ABNT, 2012), a qual permitia a prática em sua versão mais antiga,
s endo hoje o limite de adição de água especificado pelo fator água/cimento.
A trabalhabilidade da mistura ditará em todos os ca sos a quantidade
mínima de água que pode ser usada. Métodos para assegura r a melhor
granulometria do agregado e o uso do concreto mais seco, que se ja trabalhável,
s ã o cons ideradas a lgumas fer ramentas que permitem alcançar um concreto com
menor fator água/cimento (ABRAMS, 1919).
De acordo com Neville e Brooks (2013), a relação água/cimento (a/c)
necessár ia para produzir uma determinada resistência média é melhor quando
determinada por meio de relações prévias para misturas produzidas com
componentes similares ou pela realização de ensa ios utilizando misturas
experimentais com os materiais que se rão utilizados na produção do concreto.
O aumento do fator água/cimento no concreto tem como consequência natural o
enfraquecimento progressivo da matriz c ausado pelo aumento da porosidade
(MEHTA e MONTEIRO, 1994).
4 Materiais e Métodos
Visando avaliar a influência da adição de água na resistência à
compressão do concreto, foi monitorado o processo de carregamento e entrega
de concreto produzido em uma central dosadora no município de Toledo - PR
por um período de 4 meses .
Na central em estudo, a produção do concreto inicia com o carregamento
de todas a s quant idades de material est ipuladas pelo traço, s endo os ag regados
p e s a d o s em balança única com capacidade para 20 t, enquanto os aditivos, a
água inicial e o cimento s ão p e s a d o s em balanças com capacidade de 50 kg,
500 kg e 5 t, respectivamente. Todo e s s e material é colocado no balão do
caminhão betoneira, onde o motorista finaliza a adição da água da central,
utilizando para tal a água a rmazenada no reservatório do próprio caminhão,
medida através de um hidrômetro.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
295
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Ao chegar à obra, quando solicitado pelo responsável pela obra, é
realizado o ensaio de abatimento de tronco de cone, conforme norma NBR NM
67 (ABNT, 1998), caso contrário es ta é medida através de um manômetro
acoplado ao balão do caminhão betoneira, sendo adicionada água até o
estabelecimento da trabalhabilidade especificada em nota. Em algumas
situações, o responsável pela obra pode solicitar que se ja aumen tada a
trabalhabilidade do concreto e, n e s s e s casos , o motorista adiciona de água e o
responsável pela obra ass ina um termo de responsabilidade pelas al terações
d a s características finais do produto.
Durante a coleta de dados o volume de água adicionada foi anotado na
planilha de consumo de materiais, juntamente com a data e horário, o número
da nota fiscal e número da série dos corpos-de-prova, o fck nominal, o volume de
concreto produzido e a umidade dos agregados miúdos. Para o cálculo do fator
a/c, foi considerada como água total a soma da quantidade de água adicionada
na central, da água presente nos ag regados e da água adicionada na obra,
dividida pela quantidade de cimento adicionada no momento da dosagem na
central.
Amostras foram coletadas em cada carga analisada, consistindo em 4
corpos-de-prova cilíndricos (100x200 mm), os quais permaneceram na obra nas
primeiras 24 horas, quando foram recolhidos para a desforma e cura na central.
A cura foi realizada em câmara úmida com temperatura de (23 ± 2) ° C e umidade
relativa do ar superior a 95 %, conforme especificado pela norma NBR 5738
(ABNT, 2015). O rompimento dos corpos-de-prova foi realizado conforme a NBR
5739 (ABNT, 2007), sendo dois para a idade de 7 dias e dois para 28 dias. Para
o presente es tudo foram utilizados os resultados de compressão axial a o s 28
dias, adotando-se o maior resultado dentre os dois corpos-de-prova como o valor
da resistência à compressão , conforme NBR 7212 (ABNT, 2012).
As amost ras coletadas foram divididas considerando o fck especificado
em nota fiscal (fck nominal). Relacionando a resistência à compressão axial a o s
28 dias medida experimentalmente e o fator água/cimento calculado para todas
a s amostras , foram realizadas anál ises estatíst icas de dispersão d a s amost ras
e e laborados gráficos para cada fck nominal.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
296
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
5 Resultados e Discussões
5.1 Resistência à compressão
Utilizando os resultados de resistência à compressão, obtidas
experimentalmente, foram calculadas a s resistências médias, os desvios
padrões e os coeficientes de variação para cada classe, ap resen tados na Tabela
1.
Tabela 1 - Resistência à compressão média. fck nominal (MPa) 20 25 30 35 40
Tamanho da amostra 53 89 52 32 16 fcm (MPa) 22,51 30,08 34,81 43,28 49,56
Desvio Padrão (MPa) 5,78 6,44 5,91 3,29 8,15 Coef. Var (%) 25,67 21,40 16,97 7,60 16,44
Fonte: Autores (2018).
Observa-se uma tendência à redução do coeficiente de variação dos
resultados com o aumento da resistência à compressão do concreto. Isto pode
ser justificado pela solicitação de adição de água em obras de pequeno porte,
que utilizam concreto de menor resistência, visando aumentar a trabalhabilidade.
Essa prática aumenta o fator água/cimento do traço diminuindo então a
resistência à compressão do concreto. Por outro lado, concretos com
resistências e levadas s ã o geralmente empregados em obras execu tadas por
g randes construtoras e possuem controle de qualidade mais rigoroso.
5.2 Consumo de cimento
Os resultados de resistência à compressão aos 28 dias demonstram que
quanto maior o consumo de cimento, maior a resistência média à compressão .
No momento da dosagem, a s características como dimensão máxima do
agregado graúdo, abatimento e resistência à compressão a o s 28 dias dese jada ,
determinam a quantidade de cimento a ser empregada , sendo proporcional ao
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
297
r VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
fck almejado (HELENE e TERZIAN, 1992). A Tabela 2 apresenta a variação da
resistência à compressão axial em função do consumo de cimento.
Tabela 2 - Resistência à c o m p r e s s ã o média classif icada pelo c o n s u m o de cimento.
Consumo de cimento (kg/m3) 235-280 280-320 320-360 360-400 400-440
fcm (MPa) 22,53 32,91 38,79 43,90 50,33 Desvio Padrão (MPa) 4,41 6,15 8,16 4,65 8,66
Coef. var (%) 19,58 18,69 21,04 10,60 17,20 Fonte: Autores (2018).
A relação entre a resistência à compressão axial e o consumo de
cimento pode ser observada na Figura 1, porém em alguns casos amostras com
diferente consumo de cimento apresentaram mesma resistência. Ressal ta-se
que apesa r da relação direta entre o consumo de cimento e a resistência à
compressão, também outros fatores como o teor de a rgamassa e propriedades
dos agregados podem influenciar na resistência à compressão.
Figura 1 - Resistência à c o m p r e s s ã o a o s 28 dias vs. Consumo de Cimento
7 0 . 0 0
6 0 . 0 0
5 0 . 0 0
r M 9éi
£ 4 0 . 0 0 f T .
§ 3 0 . 0 0 âJÊÊ • J V • 2 0 . 0 0
m R = : 0 . 6 3 8 8 1 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0
Consumo de cimento (kg/m3)
Fonte: Autores (2018).
5.2 Relação água / cimento
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
298
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Pelos dados representados na Tabela 3, é possível verificar que para s e
obter concretos de maior fck nominal faz-se necessár ia a redução do fator a/c. O
elevado valor da relação a/c nos concretos de fck nominal igual a 20 MPa pode
ser justificado pela utilização em obras de pequeno porte, onde é comum a
adição de água para aumentar a trabalhabilidade.
Tabela 3 - Fator água/c imento médio por c l a s s e fck nominal 20 25 30 35 40 a/c médio 0,826 0,689 0,645 0,556 0,50
Desvio Padrão 0,11 0,091 0,062 0,045 0,077 Fonte: Autores (2018).
Nas Figuras 2 a 6 s ão ap re sen tadas a s relações entre a resistência à
compressão a o s 28 dias e o fator a/c para cada classe.
Figura 2 - Resis tência à c o m p r e s s ã o a o s 28 dias vs. fator água/c imento para concre tos com fck nominal = 20 MPa
4 5 . 0 0
4 0 . 0 0 •
3 5 . 0 0
3 0 . 0 0
| 2 5 . 0 0
§ 2 0 . 0 0
1 5 . 0 0
1 0 . 0 0
0 . 0 0
• • » •>u s»
y = 4 8 . 9 2 8 x 2 - 1 1 3 . 1 3 x + 8 1 . 9 9 9
5 . 0 0 R2 = 0 . 3 7 7 5
0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 1 .2
Fator água/cimento
Fonte: Autores (2018).
0
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
299
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Figura 3 - Resistência à compressão aos 28 dias X fator água/cimento para concretos com fck nominal = 25 MPa
6 0 . 0 0
5 0 . 0 0
4 0 . 0 0
a
• U • 1
• • U
• 1 tf. . « • .
y = - 3 6 . 4 3 5 x 2 - 2 . 2 2 7 3 x + 5 1 . 5 7 7 R2 = 0 . 2 6 0 3
0 . 0 0
y = 1 2 6 . 8 7 x 2 - 1 9 9 . 5 1 x + 1 0 6 . 3 R2 = 0 . 1 6 4 7
0 . 2 0 . 4 0 . 6
Fator água/cimento 0 . 8
Fonte: Autores (2018).
Figura 4 - Resistência à compressão aos 28 dias vs. fator água/cimento para concretos com fck nominal = 30 MPa
6 0 . 0 0
5 0 . 0 0 •
4 0 . 0 0
f
è 3 0 . 0 0
2 0 . 0 0
1 0 . 0 0
0 . 0 0
• » • • í i V
y = - 3 6 . 4 3 5 x 2 - 2 . 2 2 7 3 x + 5 1 . 5 7 7 R2 = 0 . 2 6 0 3
0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9
Fator água/cimento
Fonte: Autores (2018).
0 1
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
300
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Figura 5 - Resistência à compressão aos 28 dias vs. fator água/cimento para concretos com fck nominal = 35 MPa
6 0 . 0 0
5 0 . 0 0
4 0 . 0 0 * § • •
• • •
• t •
— y = 5 5 . 8 9 5 x 2 -R2 =
1 1 4 . 5 1 x + 9 2 . 2 4 8 0 . 3 1 1 3
y = - 1 4 7 . 7 8 x 2 + 1 5 4 . 7 1 x + 3 . 2 4 2 1 R2 = 0 . 0 2 9 6
0 . 0 0
0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5
Fator água/cimento 0 . 6
Fonte: Autores (2018).
Figura 6 - Resistência à compressão aos 28 dias vs. fator água/cimento para concretos com fck nominal = 40 MPa
7 0 . 0 0
6 0 . 0 0
5 0 . 0 0
4 0 . 0 0
% •
^ 3 0 . 0 0
2 0 . 0 0
1 0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 1
y = 5 5 . 8 9 5 x 2 - 1 1 4 . 5 1 x + 9 2 . 2 4 8 R2 = 0 . 3 1 1 3
0 . 2 0 . 3 0 . 4
Fator água/cimento
0 . 5 0 . 6
Fonte: Autores (2018).
0 . 7
0 . 7
É possível verificar que o parâmetro R2 s e mostra bas tante reduzido para
a s amostras , evidenciando a dispersão dos resultados obtidos. Embora o fator
a/c seja o principal responsável pela variação da resistência à compressão do
concreto, há outras variáveis que podem ter influenciado os resultados, como o
0
0
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
301
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
uso de ag regados de diferentes fornecedores ao longo do tempo e o uso de
aditivos de diferentes categorias.
6 Conclusão
Observou-se que em concretos com maiores fck nominal, normalmente
utilizados em obras de grande porte, há menor variação de fator água/cimento,
como consequência os resultados de resistência à compressão a o s 28 dias
também apresentam menor dispersão quando comparados a o s concretos com
menor fck nominal.
O es tudo realizado traz à tona grandes variações de resistência à
compressão a o s 28 dias de concretos com consumos de cimento similares. Isso
s e deve à s variações de controle de recebimento e acei tação do concreto por
parte d a s obras, alterando o fator água/cimento de concretos cujos traços s ão
iguais.
Apesar de a s resistências médias serem atingidas a o s 28 dias pelos
traços dest inados a a tender o fck desejado, é necessár io maior controle no
processo de dosagem e acei tação do concreto usinado em obras. A falta de
limitação numérica da quantidade de água no traço traz consigo altas variações
nos resultados de resistência à compressão a o s 28 dias.
REFERÊNCIAS ABESC, Associação Brasileira d a s Empresas de Serviços de Concretagem do Brasil. Manual concreto d o s a d o em central. S ã o Paulo, Abril, 2007.
ABRAMS, Duff Andrew. Design of concrete mixture. Chicago: Lewis Institute, 1919.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738: Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. 2 ed. Rio de Janeiro, 2015. 12 p.
. NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 1994. 4 p.
. NBR 7212: Execução de concreto dosado em central - Procedimento. 2 ed. Rio de Janeiro, 2012. 21 p.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
302
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
NBR NM 67: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 1998. 8 p.
HELENE, Paulo; TERZIAN, Paulo. Manual de D o s a g e m e Controle do Concreto. S ã o Paulo: Editora Pini, 1992.
MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais. 2 a ed., São Paulo. IBRACON, 674p., 2014.
NEVILLE, A. M.; BROOKS J.J. Tecnologia do Concreto. 2a ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
POLESELLO, Eduardo et al. O limite de tempo especificado pela NBR 7212, para mistura e transporte do concreto, pode ser ul t rapassado? Revista Ibracon de Estruturas e Materiais, Gramado, v. 6, n. 2, p.339-359, abr. 2013.
TEIXEIRA, R. B.; PELISSER, F. Análise da perda de resistência à c o m p r e s s ã o do concreto c o m adição de água para correção da perda de abatimento ao longo do tempo. Revista de Iniciação Científica da UNESC, Vol. 5, No 1, 2007.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
303
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ANÁLISE DO IMPACTO DA SUBSTITUIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS POR COPOS PLÁSTICOS NO
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UTFPR-TD
J o s é Gustavo Venâncio da Silva Ramos 2 8
J o s é Augusto Venâncio da Silva Ramos 1
Guilherme Roque Chiella1
Yan Carlos do Nascimento1
Ivan J o s é Coser2 9
1 Resumo
A partir de 20 de novembro de 2017, o Restaurante Universitário - RU da UTFPR
câmpus Toledo cessou a disponibilização gratuita de copos descar táveis
durantes a s refeições. Na verdade, e s s a medida é uma ação definida em nível
institucional e que deverá ser adotada por todos os câmpus da UTFPR. Para
sensibilizar a comunidade acadêmica e os servidores, foram realizadas
c a m p a n h a s de esclarecimento e distribuídos copos reutilizáveis a o s usuários
internos do câmpus. Assim, a presente pesquisa tem o intuito de analisar os
impactos que es ta medida causou entre os usuários. Para isso, foi
disponibilizado a o s usuários do RU um questionário que serviu para avaliar a
opinião dos m e s m o s com relação a es ta medida, após se t e m e s e s de aplicação.
Além dos dados obtidos por meio do questionário, foram anal isados dados
obtidos durante a composição gravimétrica realizada em dois momentos
distintos no câmpus. Com a composição gravimétrica foi possível verificar o
quantitativo de copos descar táveis usados an tes e depois da implantação da
medida de substituição dos copos descartáveis por copos reutilizáveis. Por fim,
percebeu-se que os usuários do RU ficaram satisfeitos com a implantação da
medida, além disso, ficou evidente a redução drástica no consumo de copos
descar táveis no âmbito do restaurante universitário do câmpus.
28 UTFPR - Acadêmico do curso de Engenharia Civil. 29UTFPR - Docente do Curso de Licenciatura em Matemática e Presidente da Comissão de Planejamento de Gestão Logística do Câmpus Toledo da UTFPR.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
304
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Palavras-chave: Restaurante Universitário; Copos descartáveis; Gravimetria;
Usuários.
2 Introdução
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná - câmpus Toledo possui
um Restaurante Universitário (RU), o qual a tende servidores, discentes e por
vezes a comunidade externa. A média de refeições servidas por dia é de 900. A
partir de novembro de 2017, os copos descartáveis que eram fornecidos
gratuitamente a cada refeição foram substituídos por copos plásticos reutilizáveis
fornecidos pela própria UTFPR. Antes da alteração, eram utilizados em média
2000 copos descartáveis por dia e, a p ó s a alteração, o número foi reduzido para
algo em torno de 200 copos/dia. Para a comunidade externa que utiliza o RU, o
copo descartável ainda é fornecido, porém, para a comunidade interna que optar
pelo uso do copo descartável, é cobrado o valor de R$0,50 por unidade,
jus tamente para desestimular o uso d e s s e tipo de copo.
P a s s a d o s aproximadamente se te m e s e s de implantação da alteração,
foi elaborado e aplicado um questionário a o s usuários do RU. O questionário
procurou avaliar a percepção dos usuários sobre os impactos causados pela
implantação da medida no que diz respeito à substituição dos copos descar táveis
pelos copos reutilizáveis. As perguntas que compunham o questionário
envolviam a frequência de uso do restaurante universitário, frequência de uso do
copo reutilizável, opinião sobre o valor cobrado atualmente pelos descartáveis,
entre outras.
Deste modo, o objetivo des ta pesquisa é analisar a opinião dos usuários
do RU com relação ao não fornecimento gratuito dos copos descartáveis, bem
como o impacto gerado por es te fato, no que diz respeito à conduta e a s atitudes
dos usuários.
3 Revisão Bibliográfica
3.1 Resíduos Sólidos
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
305
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Resíduo e lixo tendem a significar a m e s m a coisa. De forma genérica,
pode-se afirmar que constituem substâncias resultantes de não interação entre
o meio e aque les que o habitam, ou somente entre es tes , não incorporado a e s s e
meio, isto é, que determina um descontrole entre os fluxos de certos e lementos
em um dado sis tema ecológico. Em outras palavras, é o resto, a sobra não
reaproveitada pelo próprio sistema, oriunda de uma desarmonia ecológica
(FIORILLO, 2006).
Segundo a norma NBR 10004 (ABNT, 2004), resíduos sólidos s ã o
aque les que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar,
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam inclusos nesta definição os
lodos provenientes de s i s temas de tratamento de água, aqueles gerados em
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública
de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções, técnica e
economicamente, inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.
A definição de resíduos sólidos é algo complexo, pois existem diversos
conceitos de resíduos, dificultando a se leção dos resíduos para sua disposição
final. De acordo com Silva (2003), resíduos s ão matérias resultantes de processo
de produção, transformação, utilização ou consumo, oriundos de atividades
humanas ou animais, ou decorrentes de f enômenos naturais, a cujo descar te s e
procede, s e propõe proceder ou s e es tá obrigado a proceder.
A evolução da população e forte industrialização contribuem para o
crescimento vertiginoso de resíduos, d a s mais diversas naturezas:
biodegradáveis, não biodegradáveis, que acarretam um processo contínuo de
deterioração ambiental com sérias implicações na qualidade de vida humana
(COSTA, 2011).
Existem alguns fatores que influenciam a produção de resíduos sólidos
urbanos, dentre e les des taca-se : o número de habitantes, á rea de produção,
variação sazonal, condições climáticas, hábitos e costumes, nível educacional,
poder aquisitivo, tempo de coleta, eficiência do sis tema de coleta, disciplina e
controle dos pontos produtores, leis e regulamentações específ icas etc. "O
aumento da população, assoc iado ao incremento da necess idade de produção
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
306
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
de alimentos e bens de consumo, conduz a t ransformação crescente da matéria-
prima, gerando maiores quant idades de resíduos, tanto no processo de
produção industrial quanto no consumo". (BIDONE e POVINELLI, 1999, p.09).
A NBR 10004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos como resíduos c lasse
I - perigosos e resíduos c lasse II - não perigosos. Os resíduos c lasse II s ã o
divididos entre resíduos c lasse II A - não inertes e resíduos c lasse II B - Inertes.
A Figura 1 representa a classificação prescrita pela norma em questão.
Figura 1 - Classificação dos resíduos sólidos.
Fonte: Autores, 2018.
3.2 Gerenciamento de Res íduos Sólidos
De acordo com a Lei n°. 12.305 do ano de 2010, que institui a Política
Nacional de Res íduos Sólidos, o gerenciamento de resíduos sólidos consiste no
conjunto de atividades ambientalmente adequadas , desenvolvidas nas e t apas
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e dest inação final de rejeitos.
Conforme e s s a m e s m a lei, s ão proibidas a s seguintes formas de
dest inação final dos resíduos sólidos no território nacional brasileiro:
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
307
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
• Lançamento e/ou queima a céu aberto, em território urbano e rural;
• Despejo em corpos d 'água, manguezais , terrenos baldios, redes públicas,
poços;
• Despejo em redes de drenagem pluvial, esgoto, eletricidade e telefone.
No es tado do Paraná, a Lei Estadual n° 19.261/2017 é responsável pelo
estabelecimento do programa Paraná Resíduos, para atendimento à s diretrizes
da Política Nacional de Res íduos Sólidos no Estado do Paraná, além de abordar
outras providências relacionadas ao tratamento e dest inação ambientalmente
a d e q u a d a dos resíduos sólidos.
De acordo com o Plano Municipal de Ges tão Integrada de Resíduos
Sólidos - PMGIRS da cidade de Toledo-PR, o índice de reciclagem de plástico
no Brasil era de cerca de 17,4% em 2011.
Alguns objetos plásticos como garrafas, galões e garrafões, s ão
constituídos de diferentes tipos de resina, s endo assim é de suma importância
que se ja realizada a triagem d e s s e s materiais, a fim de que possam receber o
manejo adequado futuramente (PMGIRS, 2011).
Segundo o PMGIRS (2011), os principais benefícios gerados por a ç õ e s
de redução, reutilização e reciclagem de resíduos plásticos são:
• Redução do volume de lixo enviado para aterros sanitários;
• Economia de materiais que dão origem ao plástico, como o petróleo;
• Economia de energia elétrica para produção do plástico;
• Geração de empregos, como catadores, sucateiros, entre outros.
3.3 Composição Gravimétrica
A caracterização gravimétrica é muito importante para o
gerenciamento e ges tão dos resíduos sólidos urbanos, pois através desta, é
possível conhecer aquilo que é gerado (SOARES, 2011).
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
308
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Sendo assim, é importante que o planejamento s e inicie pela
caracterização dos resíduos gerados, a través da análise da composição
gravimétrica, onde é possível obter o percentual de cada componente em
relação à quantidade total de rejeitos (REZENDE et al., 2009).
De acordo com Soares (2011), por meio da composição gravimétrica,
é possível compreender o comportamento dos resíduos. Sendo assim, e s s e
es tudo contribui para o monitoramento ambiental, a través da análise do
processo de decomposição dos rejeitos e na suposição da vida útil da área.
Segundo a COMLURB (2009), a caracterização dos resíduos sólidos
urbanos permite um melhor planejamento a respeito do manejo dos
mesmos , d e s d e a f a s e de coleta a té o destino final, de maneira viável em
termos econômicos e ambientais.
4 Metodologia
Para a realização des ta pesquisa foram utilizados dados de d u a s
atividades de composição gravimétrica, durante duas s e m a n a s nos m e s e s de
outubro de 2017 e maio de 2018. A partir d e s s e s dados foi possível ter uma ideia
da geração média semanal em (kg) de vários tipos de resíduos, inclusive os
copos descartáveis.
Além disso, no período de 28 de junho à 09 de julho de 2018 foi
disponibilizado um questionário aos usuários do RU, sendo es te respondido por
282 pessoas , o objetivo do m e s m o foi levantar opiniões acerca da não
disponibilização gratuita dos copos descartáveis pela instituição, assim como,
avaliar os impactos que e s s a medida gerou entre os usuários.
5 Resultados e Discussões
5.1 Gravimetria
Com relação à gravimetria, foi possível observar uma redução significativa
na quantidade de copos plásticos descartáveis utilizados pelos usuários do RU
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
a p ó s a substituição dos m e s m o s pelos copos reutilizáveis. No m ê s de outubro
de 2017 quando foi realizada a primeira gravimetria, a estimativa semanal era de
8,79 kg, enquanto que em maio de 2018 e s s a estimativa semanal passou a ser
de 2,1 kg, ou seja, houve redução para aproximadamente um quarto do que era
gerada anteriormente. A intenção da instituição é reduzir ainda mais, m a s isso
demanda tempo e trabalho. Deve-se atentar para o fato de que a p e s a r da
gravimetria ter sido realizada para os resíduos do câmpus como um todo e não
somente para os resíduos do RU, acredita-se que isso não compromete os
dados anal isados ao longo da pesquisa, já que o RU é o local onde os copos
descar táveis apareciam e/ou ainda aparecem com maior incidência.
5.2 Análise d a s respos tas do questionário
No período de 28 de junho à 09 de julho de 2018 foram obtidas 282
respos tas dos usuários do RU, composta em sua grande maioria por acadêmicos
dos cursos oferecidos no câmpus, como pode ser observado na Figura 1. Do
total, 33,7% d a s respostas foram d a d a s por discentes de Engenharia Civil, 16,3%
por discentes de Engenharia Eletrônica, 13,8% por discentes de Engenharia de
Computação, 12,4% por discentes de Engenharia de Bioprocessos, 9,9% por
discentes de Licenciatura em Matemática, 6% por discentes de P rocessos
Químicos, 5% por discentes de Sis temas para Internet, 1,8% por servidores,
participantes dos programas de pós-graduação e de formação pedagógica
somaram 1,1%.
Figura 1 - Curso dos entrevistados.
U T T P R UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
310
' VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
# Engenharia de Bioprocessos
# Engenharia Civil
# Engenharia Eletrônica
# Engenharia da Computação # Matemática
# Sistemas para internet
# Processos Químicos # Servidor # PROFOP # Mestrado
Fonte: Autores (2018).
Uma vez que a pesquisa foi enviada via e-mail para todos os alunos e
servidores do câmpus, para que es ta t ivesse sentido, a maioria d a s respos tas
deveria ser de p e s s o a s que de fato utilizassem o RU, sendo assim, foi
quest ionada com qual a frequência a pe s soa utiliza o mesmo, a s respos tas
obtidas podem ser observadas na Figura 2.Considerando o total de respos tas
enviadas pelos usuários, 43,3% relatam que utilizam o restaurante todos os dias,
39,4% q u a s e todos os dias e a p e n a s 17,4% o utilizam raramente.
Figura 2 - Frequência de utilização do RU pelos entrevistados
Fonte: Autores (2018).
Como o questionário foi enviado a o s usuários em um semes t re letivo
posterior a implantação da medida de substituição dos copos descartáveis,
alguns dos atuais usuários não tinham conhecimento do cenário anterior à
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
311
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
implantação da mesma, des ta forma acredita-se que os usuários que
participaram des t e s dois momentos distintos tenham mais ciência dos impactos
gerados . Sendo assim uma d a s perguntas do questionário diz respeito a es te
fator. Pode-se observar no Figura 3 que 88,7% dos usuários utilizavam o RU
quando es te disponibilizava copos descartáveis gratuitamente e,
consequen temente durante a transição para o uso de copos reutilizáveis.
Figura 3 - Quando ingressou na Universidade, o RU disponibilizava c o p o s
descartáve is gratuitamente?
Fonte: Autores (2018).
Grande parte dos usuários do RU acredita que o não fornecimento de
copos descartáveis gratuitamente tenha sido benéfico, visto que, em uma escala
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
312
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
de 1 a 5, sendo 1 benefício nulo e 5 máximo benefício, 81,5% d a s respos tas
registradas, foram 4 ou 5, conforme pode-se observar no Figura 4.
Figura 4 - Nível de benefício que a substituição dos copos descartáveis gerou segundo os pesquisados (Nível 1 benefício nulo e Nível 5 benefício
máximo).
Fonte: Autores (2018).
A principal justificativa dos usuários para e s s a avaliação foi a
conscientização para a diminuição do uso desenf reado dos copos descartáveis,
uma vez que 79,8% dos usuários acreditam que a não disponibilização gratuita
dos copos descartáveis é um estímulo para que os m e s m o s mudem s u a s
atitudes, acreditando assim, que es te gesto ocorrido na Universidade possa ser
levado para a sociedade.
A redução no consumo de copos descartáveis também auxiliou na
redução da sujeira que muitas vezes era observada nas proximidades d a s
lixeiras externas, pois com a sobrecarga de material, muitos copos acabam
ficando jogados pelo chão deixando o ambiente sujo e atraindo diversos tipos de
insetos.
Como já dito anteriormente, a a ç ã o da Universidade visa conscientizar a s
p e s s o a s a respeito do uso dos copos descartáveis, procurando substituí-los por
copos reutilizáveis, que foram disponibilizados gratuitamente. Observou-se que
30,5% dos quest ionados sempre utilizam es t e copo, 13,1% utilizam q u a s e
sempre, 19,5% utilizam à s vezes, 14,9% utilizam outro copo reutilizável e a p e n a s
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
313
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
22% nunca utilizam o copo disponibilizado pela instituição, tais dados s ão
ap resen tados no Figura 5.
Figura 5 - Frequência com que os entrevistados utilizam o copo reutilizável disponibilizado pela Universidade.
Fonte: Autores (2018).
Com relação a o s copos descartáveis disponibilizados pelo valor de
R$0,50, 86,5% dos usuários afirmaram que não fazem a aquisição do mesmo.
Além disso, 58,5% acreditam que es te se ja um valor justo para a compra do
copo, justificando que, embora es te valor se ja caro, o m e s m o incentiva a o s
usuários a não utilizarem copos descartáveis.
6 Considerações Finais
Através des ta pesquisa foi constatado que grande parte dos usuários do
Restaurante Universitário da UTFPR - Câmpus Toledo identificam como
benéfica a substituição dos copos descartáveis pelos copos reutilizáveis.
Também pode-se observar através dos dados obtidos por meio da gravimetria
que a quantidade de copos plásticos gerada diminuiu consideravelmente,
chegando a praticamente % do que era gerado an tes de tal substituição. Uma
vez que a redução é um dos pilares de um gerenciamento de resíduos
adequados , consta ta-se que a medida contribui para a preservação do meio
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
314
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ambiente e auxilia o desenvolvimento do pensamento crítico de comunidade
acadêmica no que diz respeito a ques tões ambientais.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (ABETRE). Class i f icação de res íduos s ó l i d o s norma ABNT NBR 10.004:2004. S ã o Paulo, 2006.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: Res íduos sólidos - Classificação. 2 ed. Rio de Janeiro, 2004. 77 p.
BIDONE, Francisco Ricardo Andrade; POVINELLI, Jurandyr. Conce i tos B á s i c o s de Res íduos Sól idos . São Carlos: EESC/USP, 1999.
BRASIL. 2010. Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. In: Presidência da República Brasileira, Brasília 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007/2010/2010/lei/l12305.htm> Acesso em: 30jul. 2018.
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA (COMLURB). Caracterização gravimétrica e microbiológica d o s res íduos s ó l i d o s do município do Rio de Janeiro. Centro de Informações Técnicas - CITE da COMLURB, Rio de Janeiro, 2009.
COSTA, Ana Lúcia. Res íduos e Sustentabilidade. 2011. 55 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito Ambiental, Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2011.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Direito Ambiental Brasileiro. 7 a ed. Revisada e ampliada - S ã o Paulo - Saraiva, 2006.
PARANÁ. Lei Estadual n° 19.261, de 07 de Dezembro de 2017. Cria o Programa Estadual de Res íduos Sólidos Paraná Resíduos para atendimento à s diretrizes da Política Nacional de Res íduos Sólidos no Estado do Paraná e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, PR, 08 dez.2017.
Plano Municipal de Ges tão Integrada de Res íduos Só l idos de Toledo-PR. -2ed. -- Toledo, 2011. 202 p.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
315
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
REZENDE, Jozrael Henriques et al. Composição gravimétrica e peso específico dos resíduos sólidos urbanos em Jaú (SP). Engenharia Sanitária Ambiental, Jaú, v. 18, n. 1, p.1-8, Mar., 2013.
SILVA, Maria José. Uma abordagem sobre resíduos sól idos urbanos: importância social, econômica e ambiental do lixo s eco na região da Costa do Dendê e adjacências . Monografia (Especialização Ges tão Agroambiental). UFLA: Lavras - MG, 2003.
SOARES, Erika Leite de Souza Ferreira. Estudo da caracterização gravimétrica e poder calorífico dos resíduos sólidos urbanos. 2011. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
316
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
DESCRITORES BASEADOS EM PONTOS DE ATENÇÃO APLICADOS AO RECONHECIMENTO DE ESPÉCIES
FLORESTAIS
Juliano Wunsch Dias30
Jefferson Gustavo Martins31
Resumo A correta identificação da espéc ies florestais é de suma importância, pois diferentes espéc ies produzem madeiras com diferentes propriedades que determinam s u a s possíveis apl icações e seu valor comercial. Este trabalho foca a classificação de espéc ies florestais por meio de imagens microscópicas de sua madeira. Para isso, descritores b a s e a d o s em pontos de a tenção s ão extraídos e utilizados na construção dos classificadores. As taxas de reconhecimento a lcançadas foram 87,13% (a = 0,54) e 92,46% (a = 0,73) para SIFT e SURF, respectivamente. Estas s ã o superiores à s a lcançadas em outros trabalhos realizados com a m e s m a b a s e de imagens e descritores clássicos de textura. Palavras-chave: visão computacional; pontos de atenção; espéc ie florestal.
1 Introdução
A diversidade dos tipos de madeira e consequente variação de sua
aparência em termos de cores e texturas, além de propriedades químicas, físicas
e mecânicas que a s tornam próprias ou impróprias para certas aplicações e
implicam em grandes diferenças em seu valor comercial (IOANNOU et al., 2009).
Assim, a correta identificação de espéc ies florestais para garantir a autenticidade
de peças de madeira é de grande importância tanto para comerciantes quanto
para garantir que não haja extração irregular d a s florestas (MARTINS, 2014).
As principais características (folhas, frutos, sementes , cores, odores,
dentre outras) s e perdem ao s e retirar os troncos d a s florestas e o
reconhecimento s e torna ainda mais difícil, principalmente devido à subjetividade
dos especialistas humanos e ao processo repetitivo, monótono e demorado.
Neste contexto, s i s temas dotados de visão computacional tornam-se
30Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Acadêmico do Curso de Engenharia Eletrônica. 31Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Docente Coord. Tecn. Sistemas para Internet.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
317
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
interessantes devido a uma série de vantagens providas por es tes quando
comparados ao processo realizado por especialistas humanos (RADOVAN et al.,
2001).
Alguns estudos têm focado a identificação de defeitos decorrentes de
irregularidades externas aos troncos (CARON-DECLOQUEMENT, 2010),
detecção e classificação de defeitos em placas de madeira (RADOVAN et al.,
2001) e otimização de cortes de peças de madeira (CHAPLIN, 1999). Assim
como este, outros trabalhos ainda focam a classificação de espécies florestais.
Em seu trabalho, Tou et al. (2007) empregaram características extraídas de
Matriz de Co-ocorrência em Níveis de Cinza (Gray-Level Co-occurrence Matrix -
GLCM) para treinar um classificador baseado em Multi-layer Perceptron (MLP).
As taxas de reconhecimento ficaram entre 60% e 72% para 5 diferentes
espécies . Khalid et. al. (2008) trabalharam com 20 espécies florestais da Malásia
e classificador baseado em GLCM e MLP (back-propagation). Foram utilizadas
1753 imagens (90% do total) para o conjunto de treinamento dos classificadores
e a p e n a s 196 para o conjunto de testes, com taxas de até 95%. Weber e Martins
(2017) e Wideck et al. (2017) empregaram diferentes estratégias para identificar
a s espécies florestais da base apresentada na Seção 2.3. Seus melhores
resultados foram 85,25% (o = 1,21) e 80,20% (o = 0,82), respectivamente.
Inserido neste tema, procura-se identificar espécies florestais utilizando
imagens microscópicas da madeira e características b a s e a d a s em pontos de
atenção. A Seção 2 apresenta os materiais e métodos. Resultados e discussões
es tão na Seção 3 e a s conclusões finais es tão na Seção 4.
2 Material e métodos
2.1 Reconhecimento de Padrões
Um sistema para reconhecimento de padrões contempla a s seguintes
etapas: aquisição, pré-processamento, segmentação, extração de
características e classificação. Cada etapa constitui um diferente contexto,
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
318
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
possui diferentes níveis de complexidade e envolve conhecimentos específicos
próprios, além daqueles inerentes ao domínio da aplicação.
Durante a aquisição, a imagem é capturada e a rmazenada utilizando um
sistema de cores, resolução e quantização específicos. Devido à possibilidade
de problemas decorrentes da aquisição, o pré-processamento foca a melhoria
da qualidade da imagem por meio de técnicas de a tenuação de ruídos, correção
de contraste ou brilho e suavização de determinadas propriedades da imagem.
A s e g m e n t a ç ã o constitui a e tapa em que s e extrai e s e identifica a s á reas de
interesse presentes em uma imagem. A partir des te ponto, a extração de
características permite identificar uma abstração (descritor ou conjunto de
características) adequada para a representação e a descrição das á reas de
interesse. A c lass i f icação utiliza a s representações anteriores para diferenciar
os objetos nas imagem, atribuindo-lhe um identificador e um significado de
acordo com s u a s características e descritores (PEDRINI e SCHWARTZ, 2008).
Este trabalho foca características extraídas de pontos de atenção, os
quais são amplamente empregadas na identificação de objetos e possuem alto
potencial para auxiliar na solução do problema tratado neste artigo devido aos
padrões texturais decorrentes dos diferentes tipos celulares e s u a s frequências
de ocorrência nas diversas espécies florestais (Figura 1).
2.2 Base de Imagens
A base de imagens utilizada foi produzida pelo Laboratório de Anatomia
da Madeira, do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e publicada por Martins et. al. (2012), podendo ser requisitada
para o desenvolvimento de pesquisas no endereço eletrônico
http://web.inf.ufpr.br/vri/forest-species-database. Esta base composta por 112
espéc ies florestais, cada uma com 20 amostras, num total de 2.240 imagens.
Seguindo a s definições da Anatomia da Madeira, a s imagens da base podem ser
agrupadas de diferentes formas. No primeiro nível hierárquico a s imagens
podem ser classificadas dentro de um dos dois grupos botânicos: Gimnospermas
e Angiospermas.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
319
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
As imagens, conforme ilustrado nas Figuras 1 e 2, foram adquiridas da
seguinte maneira (MARTINS, 2014):
1. Extração de amost ras de madeira para cada uma d a s espécies , s endo e s t a s
amost ras caracter izadas por blocos com aproximadamente 2 cm 3 extraídos
de peças maiores de tronco;
2. Cozimento dos blocos de madeira, por tempo variado de acordo com a
espéc ie florestal, para seu amolecimento;
(a) Cephalotaxus drupacea Siebold & Zucc. (Taxodiaceae)
(b) Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl.
(Cupressaceae)
(c) Keteleeria fortunei (A. Murray bis) Carrière (Pinaceae)
w s í s » * WÊMt&m WmWmtW I * Í S l l Í § l
(d) Copaifera trapezifolia Hayne (Fabaceae)
(e) Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori (Lecythidaceae)
(f) Melia azedarach L. (Maliaceae)
Figura 1 - Exemplos de texturas presentes em imagens da madeira. Fonte: O Autor (2018).
3. Realização de cortes histológicos (pequenas amostras) de madeira, com
e spes su ra aproximada de 25 micras32 de forma paralela à s e ç ã o transversal
ao tronco da planta, com o emprego de um micrótomo de deslizamento;
4. Coloração dos cortes histológicos de madeira pelo processo de tripla
coloração com a s substâncias acridina vermelha, crisoidina e azul de astra;
32Uma micra eqüivale à milionésima parte do metro ou 10-6 metro.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
320
f VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
5. Desidratação em série alcoólica ascendente ;
6. Montagem da lâmina para observação com a fixação dos cortes histológicos
de madeira entre lâmina e lamínula; e
7. Coleta d a s imagens com o auxílio de um microscópio Olympus modelo CX40,
produzindo imagens com aproximação ótica de 100 vezes e resolução de
1024x768 pixels, tais como a s ap resen tadas na Figura 2.
(a) Gimnosperma (b) Angiosperma
Figura 2 - Amostras da Base de Imagens. Fonte: Martins (2014).
Cabe salientar que, devido ao procedimento de coloração definido no
p a s s o quatro, não é possível utilizar características relacionadas à cor para a
diferenciação d a s espécies .
A Figura 3 apresen ta exemplos de imagens microscópicas e
macroscópicas de uma m e s m a espécie, nas quais pode-se perceber diferenças
substanciais em s e u s padrões texturais. Neste sentido, Burger e Richter (1991)
des tacam que muitos a spec tos anatômicos da madeira podem ser identificados
macroscopicamente, m a s que a observação de imagens microscópicas permite
melhor identificação das estruturas apresen tadas . Neste contexto, a abordagem
b a s e a d a em padrões texturais permite que sejam utilizados os m e s m o s
descritores (conjunto de características) empregados nos trabalhos com foco em
imagens macroscópicas.
2.3 SIFT
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
321
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Transformação de Características Invariantes à Escala (Scale Invariant
Feature Transform - SIFT) foi proposto por Lowe (1999), com o objetivo de
identificar regiões de interesse e extrair características que permitam a
comparação de imagens de objetos ou cenas capturadas de diferentes
perspectivas. A detecção das regiões de interesse é realizada por um processo
de filtragem em cascata tomando uma mesma imagem sob diferentes escalas .
A cada iteração são tomadas novas amostras dos pixels da imagem, a s quais
são geradas pela interpolação bilinear dos pontos contidos numa vizinhança de
raio 1,5 da escala imediatamente anterior. Este processo garante a estabilidade
do descritor, pois tenta correlacionar uma região detectada em uma iteração com
aquelas identificadas nas demais iterações (LOWE, 1999; LOWE, 2004).
(a) Microscópica (b) Macroscópica
Figura 3 - Amostras de madeira de Araucária angustifolia (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae). Fonte: Martins (2014).
As regiões identificadas são caracterizadas por pontos que apresentam
diferenças máximas e mínimas da função Gaussiana. Estas altas variações das
regiões e esca las constituem a s principais garantias para a estabilidade do
descritor e para a invariância a translação, escala e rotação, além de invariância
parcial a mudanças de iluminação e projeções 3D (LOWE, 1999; LOWE, 2004;
VEDALDI e FULKERSON, 2008). Maiores detalhes quanto ao descritor SIFT
podem ser obtidos em Martins (2014).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
322
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Embora o descritor SIFT considere um conjunto de 4x4 descritores
computados em uma vizinhança 16x16, a Figura 4(b) mostra a p e n a s 2x2
descritores computados em uma vizinhança 8x8 (Figura 4(a)), o que não
prejudica o entendimento. Os gradientes da Figura 4(a) s ã o ponderados pela
Gauss iana e acumulados em um histograma de orientação que sumariza os
conteúdos em 4x4 sub-regiões (Figura 4(b)), com o comprimento d a s a res tas
correspondendo à soma d a s magnitudes dos gradientes que pertencem àquela
sub-região e que possuem a m e s m a direção (LOWE, 1999; LOWE, 2004;
VEDALDI e FULKERSON, 2008).
Considerando os histogramas d a s 4x4 regiões e que cada um acumula a
avaliação dos gradientes nas oito direções possíveis, cada ponto é representado
por um vetor de características com 128 elementos. Além disso, geralmente s ão
de tec tados cen tenas ou a té milhares de pontos para cada imagem, todos
potencialmente candidatos a compor o conjunto de s u a s características (LOWE,
1999; LOWE, 2004; VEDALDI e FULKERSON, 2008).
Figura 4 - Descritor SIFT: (a) apl icação da máscara na imagem e obtenção d o s gradientes para cada direção na região sobreposta; (b) acúmulo d o s gradientes para cada sub-região para a s oito direções .
Fonte: Martins (2014).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
323
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2.4 SURF
Proposto por Bay et al. (2006), Características Robustas Aceleradas
(Speed-Up Robust Feature - SURF) apresenta semelhanças com relação a SIFT
e também permite detecção e descrição de regiões de interesse. Os autores
afirmam que SIFT apresentou o melhor desempenho dentre os descritores
analisados. Dentre s u a s vantagens, es tão a capacidade de representar
informações dos padrões espaciais e robustez a pequenas deformações e erros
de localização das regiões detectadas. Porém, SIFT apresenta alta
dimensionalidade em seu descritor e seu custo computacional dificulta seu uso
para aplicações on-line (BAY et al., 2008).
Seguindo esta linha de raciocínio, Bay et al. (2006) propuseram um
descritor com a metade do número de elementos do SIFT e baseado em matrizes
Hessianas, a s quais garantem maior estabilidade que detectores de cantos de
Harris, além de apresentar boa performance em termos de tempo computacional
e taxas de acerto. A proposta ainda inclui o uso de determinantes da matriz
Hessiana, devido a sua robustez quanto a estruturas mal localizadas e
alongadas, e o conceito de imagens integrais (BAY et al., 2006; BAY et al., 2008).
Maiores detalhes quanto ao descritor SURF podem ser obtidos em Martins
(2014).
Após identificar a região de interesse e sua orientação, o próximo passo
consiste em calcular os valores do descritor. Para isso, define-se uma região
quadrada (8x8) centrada no ponto de interesse e alinhada com a orientação
previamente identificada. Para cada um dos 64 elementos, obtém-se a resposta
da wavelet de Haar nas direções x e y, denominadas respectivamente dx e dy.
Para cada sub-região 2x2, dx, dy, \dx\ e \dy\ s ão acumuladas separadamente ,
gerando 16 conjuntos com as quatro características (X dx, X dy, X \dx | e X \dy |),
num total de 64 elementos. Ao final, como SIFT, geralmente são detectados
centenas ou até milhares de pontos para a imagem. Todos es tes pontos são
invariantes à translação, escala e rotação, além de ser parcialmente invariante a
mudanças de iluminação e projeções 3D e potencialmente candidatos a compor
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
324
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
o conjunto de características que descreve a imagem (BAY et al., 2006; BAY et
al., 2008).
Os autores também apresentaram a variante SURF-128, a qual duplica o
número de características que compõem o vetor final. Esta variante acumula dx
e ldxl separadamente para dy < 0 e dy> 0, sendo o mesmo considerado para
dy e ldyl de acordo com o sinal de dx. Embora esta variação garanta descritores
mais discriminantes, a maior dimensionalidade do vetor de características exige
maiores recursos computacionais (BAY et al., 2006; BAY et al., 2008).
3 Resultados e discussão
A extração dos descritores para SIFT e SURF empregou a implementação
disponível no software MatLab. Para SIFT foram tes tadas a s implementações de
Lowe (1999) e Vedaldi e Fulkerson (2008), seguindo exatamente a mesma
metodologia para ambas. Para SURF foram consideradas a s versões original e
SURF-128, com 64 e 128 elementos, respectivamente. Dado que os vetores de
características foram gerados para cada ponto de interesse identificado pelos
detectores SIFT e SURF e a variação do número des tes pontos em cada
imagem, optou-se por utilizar momentos estatísticos para padronizar sua
representação. Esta abordagem é comumente utilizada com filtros de Gabor
(YANG e NEWSAM, 2008; ZHU et al., 2008).
Foram calculadas média, variância, obliquidade e curtose para cada
coluna dos vetores gerados pelos descritores, dando origem a vetores com
dimensões de 64 ou 128 elementos para cada um dos quatro momentos
estatísticos utilizados. A partir dos vetores obtidos para os momentos
estatísticos, foram analisadas diferentes combinações de concatenação entre
eles, além do número de pontos de interesse identificados em cada imagem,
com vetores de características com dimensões entre 128 e 513 elementos para
SIFT. Para SURF, a partir da média, variância, obliquidade e curtose, foram
gerados vetores com dimensões de 64 e 128 elementos. Aqui também foram
anal isadas diferentes combinações de concatenação dos vetores gerados e do
número de pontos de interesse identificados nas imagens. Para a versão original,
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
325
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
o número de elementos dos vetores finais ficou entre 64 e 257, enquanto para
SURF-128 a s dimensões variaram de 128 à 513.
Após a extração de características, realizou-se 3 repetições de cada
experimento a partir das quais s e obteve os resultados em termos de média e
desvio padrão (a) apresentados. Em cada repetição, criou-se aleatoriamente os
conjuntos para treino e teste para cada descritor. Estes eram compostos
respectivamente por 14 e 6 imagens dentre a s 20 existentes para cada uma das
112 espécies florestais que compõem a base empregada, com totais de 1568
imagens para treino e 672 para teste. O algoritmo de classificação utilizado foi
SVM (Support Vector Machine), por meio da implementação LibSVM 3.2
disponibilizada no endereço eletrônico http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/.
Embora a combinação com o número de pontos detectados em cada
imagem e do momento média, num total de 129 elementos no vetor final de
características, tenha gerado os melhores resultados para a s duas
implementações tes tadas para SIFT, a versão disponibilizada por Vedaldi e
Fulkerson (2008) garantiu resultados superiores de 87,13% (o = 0,54), com 5,25
pontos percentuais de diferença. Para SURF, a s melhores taxas, 92,46% (o =
0,73), foram alcançadas com a versão SURF-128, com a combinação do número
de pontos de interesse identificados na imagem e dos momentos média,
variância e obliquidade, num total de 385 elementos no vetor de características.
Considerando os trabalhos de Weber e Martins (2017) e Wideck, Silva e
Martins (2017) com a mesma base de imagens, os melhores resultados
apresentados são superiores em 7,21 e 12,26 pontos percentuais,
respectivamente, o que demonstra o potencial dos descritores baseados em
pontos de a tenção SIFT e SURF.
4 Conclusão
Este trabalho avaliou a aplicação de classificadores construídos a partir
dos descritores baseados em pontos de atenção SIFT e SURF ao problema de
reconhecimento de espécies florestas por meio de imagens microscópicas de
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
326
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
sua madeira. Os resultados obtidos s ão superiores a o s a lcançados em outros
trabalhos realizados com a m e s m a b a s e de imagens utilizando descritores
texturais clássicos. Nossos melhores resultados foram 87,13% (a = 0,54) e
92,46% (G = 0,73) para SIFT e SURF, respectivamente.
Na sequência busca-se por novos descritores e algoritmos de se leção
de classificadores na tentativa de melhorar os resultados obtidos, bem como sua
aplicação e validação em outros problemas que demandem por s i s temas
dotados de visão computacional.
REFERÊNCIAS
BAY, H.; TUYTELAARS, T.; e VAN GOOL, L. Surf: Speeded up robust features. In ECCV, p. 404-417, 2006.
BAY, H.; ESS, A.; TUYTELAARS, T.; e VAN GOOL, L. Speeded-up robust features (SURF). Compute Vision. Image Understanding, v. 110, n. 3, p. 346-359, 2008.
BURGER, L.M.; RICHTER, H.G. Anatomia da Madeira. S ã o Paulo: Nobel, 1991.
CARON-DECLOQUEMENT, A. Extractives from Sitka spruce. T e s e de Doutorado, Department of Chemistry, University of Glasgow, 2010.
CHAPLIN, R.I.; HODGSON, R.M.; GUNETILEKE, S. Automatic wane detection in the images of planks using a neural network. Fifth Intern. Sympos ium on Signal Process ing and its Applications, v. 2, p. 657-659, 1999.
IOANNOU, K.; BIRBILIS, D.; LEFAKIS, P. A pilot prototype decision support system for recognition of greek forest species . Operational Research, v. 3, n. 9, p. 141-152, 2009.
KHALID, M.; LEE, E.L.Y.; YUSOF, R.; NADARAJ, M. Design of an intelligent wood spec ies recognition system. International Journal of Simulation S y s t e m s , S c i e n c e & Technology Special Issue on: Artificial Intelligence, p. 9-17, 2008.
LOWE, D. G. Object recognition from local scale-invariant features. Proceed ings of the International Conference on Computer Vision, v. 2, p. 1150-, Washington, DC, USA, 1999. IEEE Computer Society.
LOWE, D. G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. International Journal of Computer Vision, v. 60, n. 2, p. 91 -110, 2004.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
327
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
MARTINS, J.G.; OLIVEIRA, L.E.S.; NISGOSKI, S.; SABOURIN, R. A d a t a b a s e for automatic classification of forest species . Machine Vision and Applications, v. 24, p. 567-578, 2012.
MARTINS, J.G. Identificação de E s p é c i e s Florestais utilizando S e l e ç ã o Dinâmica de Class i f icadores no Espaço de Dissimilaridade. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Informática do Setor de Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, 2014.
PEDRINI, H.; SCHWARTZ, W.R. Análise de Imagens Digitais: princípios, algoritmos e aplicações. S ã o Paulo: Thomson Learning, 2008.
RADOVAN, S.; GEORGE, P.; PANAGIOTIS, M.; MANOS, G.; ROBERT, A.; IGOR, D. An approach for automated inspection of wood boards. International Conference on Image Process ing , n. 1, p. 798-801, 2001.
TOU, J.Y.; LAU, P.Y.; TAY, Y.H. Computer vision-based wood recognition system. Intern. Workshop on Advanced Image Technology, p. 197-202, 2007.
VEDALDI, A.; FULKERSON, B. VLFeat: An Open and Portable Library of Computer Vision Algorithms. URL: http://www.vlfeat.org/, 2008.
YANG, Y.; NEWSAM, S. Comparing SIFT descriptors and gabor texture features for classification of remote sensed imagery. 15th IEEE International Conference on Image Process ing , p. 1852-1855, 2008.
WEBER, E.F.; MARTINS, J.G. Descritores de Textura aplicados ao Reconhecimento de Espécies Florestais. V ENDICT - Encontro de Iniciação Científica, Toledo, p. 1-12, 2017.
WIDECK, T.A.; SILVA, U.S. MARTINS, J.G. Reconhecimento de Espécies Florestais b a s e a d o em uma Estratégia "Dividir para Conquistar". V ENDICT -Encontro de Iniciação Científica, Toledo, p. 1-12, 2017.
ZHU, J.; HOI, S.C.H.; LYU, M.R.; YAN, S. Near-duplicate keyframe retrieval by nonrigid image matching, 16th ACM international conference on Multimedia, p. 41-50, 2008.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
328
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
O uso da Modelagem Matemática para a determinação do peso de aves de um aviário do Oeste
do Paraná Leticia Natalia Langaro1
Jahina Fagundes de Assis Hettori2
Márcia Regina Piovesan3
1. Resumo
Neste trabalho faremos um estudo do uso da Modelagem Matemática para a deter-
minação do peso de aves, em relação ao tempo, de uni aviário do oeste do Paraná. Utili-
zamos os Modelos de Gompertz e Von Bertalanfíy, modelos matemáticos já existentes na
literatura. Iremos primeiramente fazer um estudo dos modelos que iremos utilizar e após
faremos a aplicação em dados fornecidos pelo aviário. Para terminar faremos a validação
e comparação entre os modelos para ver qual melhor se adequa aos dados reais.
2, Fundamentação Teórica
Segundo [l]p-12] a modelagem é, assim uma arte, ao formular, resolver e elaborar ex-
pressões que valham não apenas para uma solução particular, mas que também sirvam,
posteriormente, como suporte para outras aplicações e teorias .
Em linhas gerais a modelagem matemática é um processo que resulta na obtenção de
um modelo, na qual nos possibilita obter um resultado que pode ou não ser eficiente,
não podemos deixar de lembrar que o objetivo da modelagem matemática não é apenas
encontrar um modelo matemático que expresse a realidade, e sim resolver o problema
estudado.
2,1. MODELO DE GOMPERTZ
Benjamin Gompertz, considerou que a população humana, não cresce exponencial-
mente como afirmava Malthus. mas é limitada superiormente, isto é, a população cresce
Acadêmica de Licenciatura em Matemática - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR.) ~ Professora da Licenciatura em Matemática - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) ^Professora da Licenciatura em Matemática - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
329
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
até uma quantidade e depois disso se mantém quase que constante. Devido a este fato,
um dos pressupostos de seu modelo 6 quo a taxa de crescimento de uma determinada
população é muito alta no início, e rapidamente torna-se mais lenta. Seu modelo foi pu-
blicado no ano do 1825, e atualmente tem sido usada por vários autores como curva cie
crescimento de fenômenos biológicos e econômicos"e por diversas áreas do conhecimento.
O modelo de Gompertz é dada por uma equação diferencial com condição inical,
proposta por Cauchy:
^ = ax — bx In x = :r (a — b In x) (D
:r(ü) = xQ com a > 0 e b > 0
A taxa de crescimento r(x) = a — Mn:r com x > 0 decresce com x. Onde o valor de
estabilidade de x é obtido com r(x) = 0 . isto é:
dx — = xr ^ x - 0 = 0 dt
a a s (a — ò lnx) = 0 —> a = bhix —> - = l n x —> e*> = e
b
•<=> = e^ com x > 0
Quando x é muito pequeno r(x) é muito grande.
Temos também que:
l im r ( x ) = + o c
Como a—b ln x — 0, podemos rescreve-la como a = b ln x^. Substituindo em (l) t obtemos
r(x) = ln ( Ç ) 6
A solução da equação (1)T é obtida através de substituição de variáveis, z = lnx
dz _ Idx _ dt ~ x dt ~ °
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
330
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
331
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O modelo proposto por Bertalanfly e uma adaptação do modelo logístico de Verlmist,
neste modelo temos que:
• P(t) —» massa do animal (peixe) de tempo t;
• a -¥ constante de anabolismo (taxa de massa por unidade de superfície do animal);
• /?—)• constante de catabolismo (taxa de diminuição da massa);
• | —> peso relacionado com a área corporal do peixe;
[1] prôpos uma generalização para o modelo (4). dada por:
dP ãt = aP~> - 3P
(4) P(0) = P0 * 0
Com 7 sendo o parâmetro alométrico, (peso relacionado com a área corporal do peixe),
0 < 7 < 1.
Observe que o modelo proposto por Bassanezi é do tipo Bernoulli. Portanto realizando
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
332
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
a
A solução geral é obtida através da combinação linear da solução homogênea e a
solução particular
Assim
= Zfr
í(t) = | ( 1 + a a
Retomando a substituição realizada. isto r. tomando p{t) = z(í)' r<, temos
P(t) ^ ( l + ^ C e - í 1 - ^ ' ) a rt
1 ~
Sabemos que
px = lim p(t\ t—IKX
assim p x = í ^ J . Utilizando o PVI, isto é, /?(0) — j o encontramos o valor de C.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
333
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
que
P(t)=P«( 1 + ^ ' t e T -a r K l ) r r
Substituindo novamente u valor de K, onde K = /?(!— 7),
p(t) = P< M^r-W' f (5)
Este á o modelo generalizado, onde pode ser aplicado a várias espeeies. O parâmetro
Pot pode ser encontrado utilizando o Metódo de Fbrd-Walford. Para encontrar o valor de
7 o necessário considerar o ponto de inflexão da curva (p»),
2.2A. Estimar o parâmetro 7
Como dito anteriormente, existe o ponto pm. como sendo o ponto de inflexão da curva,
isto é. onde a variação da curva é máxima. Tal ponto pode ser encontrado realizando
Temos que — °TP T _ 1 ^ — ^df t a s s ^ i n
n i-i dp dp 0 = o" i ) — — .1 — dt dt
No ponto pi
Temos que ^ > 0. isto devido ao fato de ^ ser a taxa de alimento de peso. Então temos
que (ofTPÍ -1 ~~ fi)- Portanto
3
Realizando a substituição temos que:
(p^) = •
Através da equação acima podemos encontrar o vaior fie 7 desde que conheçamos o valor
de p..
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
334
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O valor de 7 pode ser obtido, calculando a intersecção das curvas y = jz^ln ^^ v
9 = ln ( « * )
líma observação importante na expressão acima, ê que7 —* 1; quando ob ti vermos a razão
^ tnaior que - ss 0.3G79.11 ao é possível utilizar este modelo para ajustar os dados-
2.2/2. Estimar o Parâmetro k
Para estimar o valor dc Â\ que é a taxa de catabolismo, podemos isolar o mesmo na
equação 5
pU)
Elevando ambos os lados por (1 — 7).
P(t) kt
Como K = 1 — ' } . temos qtie:
ln
tll-rt)
3. Crescimento de Aves
A prática da avicultura> trata da produção dc avesh destinada especificamente a
produção de alimentos, entre eles podemos colocar a carne c os ovos, que são os mais
explorados no mercado. Os dado» foram coletados cm a viários da cidade de Santa Helena
no Paraná, de duas empresas diferentes, no primeiro aviáxio foram coletados dados de
dois lotes diferente, no segundo aviário foi coletado apenas de um lute, Para realizar a
coicta dos dados, foi recolhido uma amostra dc frangos, colocados em uma caixa, para
posteriormente realizar a pesagem, Para obter o peso de cada frango foi realizado a media
pela quantidade de frangos pesados. Na tabela 1 o tempo (t) ê dado em dias o o peso (p)
é dado em gramas.
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
t (Av01:Ll) P t(AvOJ:L2) P t (Av02: LI) P Média dc t Média do p 0 43 0 42 0 42 0 42 7 195 7 198 7 190 7 194 14 495 14 520 14 540 14 518 21 1000 21 1020 21 960 21 993 28 1585 28 1570 28 1G70 28 1608 35 2984 35 2350 35 2278 35 2339 42 2984 42 29G0 42 2925 42 2956 47 3244 4G 3150 49 3575 47 3323
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Tnhrla 1; Dtidos do A viário t (AvÜl:Ll) p t(Av01 :L2) p t (Av02: LI} p Média de t Média do p
0 7 14 21 28 35 42 47
43 195 495 1000 1585 2984 2984 3244
0 7 14 21 28 35 42 4G
42 198 520 1020 1570 2350 29G0 3150
0 7 14 21 28
35 42 49
42 190 540 960 1G70 2278 2925 3575
0 7 14 21 28 35 42 47
42 194 518 993 1608 2339 2950 3323
Fonte: Autor es
Utilizaremos os dados coletados sobre o crescimento de aves para os modelos de Gom-
pertz e Vou BeTtalanffy.
3.1. Modelo de Gomperiz
Para aplicar o modelo de Gompertz, consideremos que o peso máximo que um frango
pode atingir é de 5000g. isto é 5kg. Portanto o valor de x^ = 5000. O valor de x^ O,
peso inicial do frango, consideramos 42g. isto é a ave nasce com um peso estimado de 42g.
Portanto, basta encontrar o valor de b,
Para encontrar o valor de b, utilizamos o software GooGcbra, e encontramos b =
0.0528,
Aplicando os valores encontrados na equação geral do modelo de Gompertz, obtemos
a seguinte equação pura crescimento de aves
( \ ( ! - 0 ' 0 5 ! W í
- — ] 5000 )
PI oi ando o gráfico uo software GeoGebra obtemos a curva expressa na Figura 1
3.2. Modelo de Von Berixdanffy
Para obtermos o modelo de Von Bertalanfíy específico para aves, 6 necessário primei-
ramente obter o valor de p^. isto é. o peso máximo que a população pode atingir. Para
isso iremos utilizar o Método dc Ford-Walfor realizando o ajuste linear através riu sofware
Geogebra.
Na figura 2T podemos perceber que a reta que melhor ajusta os dados, obtidos com o
modelo de Ford-Walfor d c dada pela seguinte expressão:
f(i) = 0.73345r + 1184.99851
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
336
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Analisando os dados, percebemos que a maior variação de peso ocorreu entre 28 e 35
dias, portanto iremos considerar p* = 2339
O próximo valor a ser encontrado é o valor alométrico (7), realizando a intersecção das
curvas y = —^ In ^ j e y = I11 utilizando o software Geogebra, obtemos a Figura 3
Como o valor de 7 é representado pela parte em x do ponto de interseccão das duas
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
337
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
338
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Fonte: Autores
4, Resultados e Discussões
Analisando o estudo aqui abordado, percebemos que a modelagem matemática, é uma
ferramenta importante para resolução de problemas do cotidiano. Além de perceber o
quão interessantes são os problemas aplicados que podem ser descritos ou resolvidos por
modelos matemáticos.
4-1. Comparação dos modelos
Com a utilização do software Excel foram calculados os valores, do modelo de Gom-
pertz e do modelo de Von Bertalanífy para todos os intervalos de tempo, como podemos
visualizar na Tabela 2
Analisando a Tabela 2, podemos perceber que o modelo que teve a menor variação
dos dados coletados foi o modelo de Von Betalanffy, sendo este considerado mais preciso
para este caso.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
339
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Tabela 2: Dados obtidos dos modelos encontrados t Peso Gompertz Von Bertalanffy 0 42 42 42 7 194 184 194 14 518 510 510 21 993 1033 1004 28 1608 1682 1637 35 2339 2355 2320 42 2956 2972 2947 47 3323 3353 3321
5. Referências
Referências
[1] BLEMBENGUT- M_ S.. AND HEIN. N. Modelagem matemática no ensino, 5 ed. Con-
texto, São Paulo. 2009.
[2] SCAPIM. J . . BASSANEZK R. C . . AND A B C - U F A B C , S. A. Modelo de von ber-
talanffy generalizado aplicadoas curvas de crescimento animal. IMECC -ÚNICAMP
(2008)T 1.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
340
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA ENVOLVENDO SOMBRAS: UMA APLICAÇÃO DE TRIGONOMETRIA A TOPOGRAFIA
Marco Aurélio Tavares Amaral1
Carlos Henrique Smeki J o s é Rodrigues dos Santosi
Luana Demarchi Grassii Raphael Kenji Kobayashi3 3
Tatiany Mottin Dartora34
RESUMO O seguinte trabalho é resultado de um Projeto Integrador envolvendo a s
disciplinas do 3° período do Curso de Licenciatura em Matemática e tem como
objetivo elaborar uma simulação computacional de um terreno irregular, bem
como construir um material manipulável que o represente. Foi realizada uma
pesquisa de campo, onde foram obtidas a s medidas d a s sombras projetadas
pelo Sol em uma has te de ferro dividida em três partes (0,62 metros, 1,26 metros
e 1,90 metros) em dois momentos distintos. O local escolhido para coleta de
dados foi o Parque do Povo Luiz Cláudio Hoffmann, Toledo, Paraná. Com os
dados obtidos, foram montadas tabelas e construídas projeções des te terreno
no software GeoGebra, usando triângulos. E s s a s projeções indicam a posição
de pontos que pertencem ao terreno analisado no e s p a ç o cartesiano. Com b a s e
nisto, um material manipulável que p u d e s s e ser usado numa aula investigativa
de Trigonometria na Educação Básica foi construído.
PALAVRAS-CHAVE: Trigonometria. Topografia. Sombra. Material Manipulável.
INTRODUÇÃO
A matemática es tá presente intrinsecamente em absolutamente tudo. Na
natureza, nas construções, na arquitetura. É comum conseguirmos observar
apl icações matemáticas, e uma delas é a trigonometria.
Os gregos usavam relógios de sol de forma análoga à d a s pirâmides. De
acordo com lezzi (2004, p. 36) "as pirâmides egípcias eram construídas de
maneira com que a inclinação de uma face sobre a b a s e fo s se constante." 33 UTFPR - Acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática. 34 UTFPR - Docente do Curso de Licenciatura em Matemática
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
341
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Já no âmbito da topografia, Borges (1977, p. 01) cita que o termo
topografia que surge "do grego topos (local) e graphein (descrever), é a ciência
aplicada, cujo objetivo é mostrar a configuração de uma porção terreno".
Para Tuler (2014, p. 02), topografia é "a ciência ba seada na geometria
e na trigonometria plana" que utiliza pontos capazes de definir o formato,
dimensão e acidentes naturais e artificiais de uma porção de terreno limitada.
O uso da matemática e da topografia pelos se res humanos é muito
antiga, talvez não formalizado como s e encontra hoje com definições e teoremas.
Ao calcular a s d imensões de um triângulo, seria muito simples usar a
noção do teorema de Pitágoras, mas quando nos deparamos com figuras
geométricas encontradas na natureza fica difícil a obtenção de dados e
respostas a p e n a s usando a noção de triângulos retângulos. Para tal, existem
duas leis que podem ser aplicadas para calcular dimensões de triângulos
quaisquer: a lei dos senos e a lei dos cossenos .
Com es te trabalho pretende-se mapear computacionalmente uma área
de terreno irregular, e com base neste modelo, criar um material manipulável.
Para isto, foram usadas noções de Trigonometria e de Geometria
Espacial para construção via GeoGebra de uma representação do terreno. Após
isto, foi confeccionada uma réplica des te terreno para ser utilizada no Ensino de
Trigonometria.
Segundo Ponte (2009, p. 9), investigar significa "trabalhar com questões
que nos interpelem e que s e apresentam no inicio de modo confuso, mas que
procuramos clarificar e estudar de modo organizado." Desta forma, es te trabalho
investigativo, procurou transformar dados da linguagem natural para tabelas, de
tabelas para gráficos e dos gráficos para um material manipulável representando
o terreno irregular.
Com a s investigações feitas, analisadas, representadas de várias
maneiras e replicadas, propomos um modelo de material manipulável
(representação do terreno irregular) para ser fonte de investigações matemáticas
por alunos da Educação Básica.
O envolvimento ativo do aluno é fundamental para a aprendizagem, por
isso, Ponte (2009, p. 23) afirma que "o aluno aprende quando mobiliza os s e u s
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
342
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
recursos cognitivos e afetivos com vista a atingir um objetivo". E e s s e é o ponto
forte das investigações matemáticas.
MÉTODOS No dia 21 de abril de 2018, foi realizada a primeira visita ao terreno
analisado, situado no Lago do Povo Luiz Cláudio Hoffmann, Estrada Carroçável,
Jardim Planalto, Toledo, Paraná. O local escolhido para a coleta de dados foi um
terreno em formato de "ferradura".
Gil (2002, p. 53) ao falar sobre a pesquisa de campo, afirma "como é
desenvolvido no próprio local em que ocorrem os fenômenos , s e u s resultados
costumam ser mais fidedignos. Como não requer equipamentos especiais para
a coleta de dados, tende a ser bem mais econômico." Por es te motivo, optou-se
por coletar os dados em um local conhecido, público e de fácil acesso .
Foi usada uma haste de ferro de 1m de altura, que foi posicionada no
alto do terreno, formando um ângulo reto com o chão, uma trena de fibra de vidro
de 30 metros de comprimento, barbante, caneta e uma tabela de marcação.
A cada período de tempo, uma ponta do barbante era posicionada no
alto da has te de ferro e o barbante era esticado até a ponta da sombra projetada
pela has te e então até a b a s e da has te novamente. Desse modo, o barbante e a
has te formavam um triângulo escaleno, um d e s s e s momentos foi registrado na
figura 1.
Figura 1 - Método de o b t e n ç ã o d o s tr iângulos
Fonte: D o s autores (2018).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
343
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
As medidas dos lados d e s s e triângulo determinados pelo barbante eram
a n o t a d a s numa tabela como a seguinte:
Tabela 1 - Tabela utilizada em 21 de abril
Hora Lado de Cima Lado de Baixo
7h30min 16,94m 16,85m
11h35min 2,62m 2,49m
Fonte: Dos autores (2018).
Após a coleta d e s s a s medidas, o GeoGebra foi utilizado para construção
da primeira projeção do terreno. GeoGebra é um software livre d e geometria
dinâmica, na qual é possível criar pontos, figuras, funções em 2 ou 3 d imensões .
Para es ta construção, foram utilizados conceitos de ângulo entre planos,
ângulo entre retas e planos, determinação de planos e construção de triângulos
provenientes da Geometria Euclidiana plana e espacial. Usamos como
referência o livro Geometria Plana e Espacial: Um es tudo axiomático de Franco
(2010).
Foi cons ta tado que a primeira sombra observada à s 7h30min formava
um ângulo de 60,56° com a última sombra à s 11 h35min. Portanto, a cada minuto,
a sombra da has te s e movia 0,2471797754° naquele dia.
Devido a isso, para cada triângulo, foi preciso criar um plano que
fo rmasse um ângulo a d e q u a d o com o plano do primeiro triângulo. Para tanto,
multiplicamos 0,2471797754° pelo número de minutos p a s s a d o s depois de
7h30min. O triângulo d a s 08:00h, por exemplo, foi criado formando um ângulo
de 0,2471797754° X 30 = 7,415393262° com o primeiro plano.
A has te foi criada sobre o eixo z e o primeiro triângulo foi posicionado no
plano que contém os eixos x e z. Para criação dos outros planos, foi utilizada a
ferramenta "Ângulo com Amplitude Fixa" do GeoGebra no plano que contém os
eixos x e y. Este ângulo determinava uma semirreta com origem na origem do
s is tema cartesiano. Com a ferramenta "Plano Determinado por três pontos", os
planos eram criados selecionando os pontos A e B - extremidades da has te - e
um ponto da reta formada pelo ângulo construído.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
344
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Para construção dos triângulos, foi utilizada a vista 2D dos planos
construídos. Nela, com centro em A (extremidade superior da haste) era t raçado
um círculo com o raio correspondente ao lado de cima do triângulo obtido nas
medições. E com centro em B (extremidade inferior da haste) era t raçado um
outro círculo com raio correspondente ao lado de baixo do m e s m o triângulo. Na
interseção des t e s círculos es tá o terceiro vértice do triângulo. Usando a
ferramenta polígono, o triângulo era formado.
Figura 2 - Vista 2D d o plano Fonte: D o s autores (2018).
Os vértices dos triângulos s ã o a s extremidades d a s sombras projetadas,
portanto, s ão pontos per tencentes ao terreno.
Por fim, foram t raçados segmentos unindo e s t e s pontos e formando um
caminho poligonal, ou seja, uma s e ç ã o do terreno observado.
No dia 20 de junho foram feitas novas marcações , des ta vez usando uma
has te de ferro de dois metros de altura dividido em três partes: 1,90m, 1,26m e
0,6m.
O método utilizado foi similar ao primeiro, porém o barbante foi
substituído por uma fita métrica de 30 metros, minimizando possíveis erros de
medida, e a cada momento eram medidas a s projeções dos três
comprimentos da haste, ou seja, eram obtidos três triângulos por momento.
Novamente a s medidas obtidas foram colocadas numa tabela como a
seguir:
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
345
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
Tabela 2 - Tabela utilizada em 20 de junho
Hora Triângulo 1,90m
Triângulo 1,26m
Triângulo 0,62m
08:10h
Lado de cima 18,70m 17,85m 17,10m
08:10h Lado de baixo 18,50m 17,70m 17,00m
13:10h
Lado de cima 5,40m 3,55m 1,70m
13:10h Lado de baixo 4,45m 2,90m 1,35m
Fonte: D o s autores (2018).
A tabela 2 completa encontra-se no Anexo II. Novamente, os dados
obtidos foram usados para construção da projeção do terreno no software
GeoGebra.
O método usado foi o mesmo, exceto que ao criar a vista 2D de cada
plano, eram criados três triângulos, determinando três pontos do terreno para
cada momento.
Figura 3 - Vista 2D d o plano Fonte: D o s autores (2018).
Com três pontos por momento, obtemos não uma seção, mas sim uma
pequena região do terreno observado.
Após a coleta de dados, foi realizada a elaboração de um material
manipulável, onde procuramos representar o ambiente em que estava o terreno
irregular.
Para construção d e s s e material, foram utilizadas serra tico-tico, lixadeira
e furadeira para a modelação da madeira no formato obtido com a projeção
construída; após o trabalho feito nas peças de madeira, foram unidas a s partes
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
346
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
de madeira, utilizando latas vazias de tinta, que foram serviram para modelação
da superfície. Utilizou-se EVA para cobertura da superfície que representaria o
solo, o mesmo foi fixado com cola quente. Foi feito um furo lateral para fixação
de uma haste de cano de PVC através de um flange preso na madeira. Usou-se
uma bola de isopor para simulação do sol. Internamente a bola, foi instalada uma
lâmpada dicroica, e a fiação foi guiada pela haste do cano PVC. O resultado
pode ser observado nas figuras 8 e 9.
RESULTADOS
Com os dados obtidos no dia 21 de abril, organizados na tabela 1, foi
criada a primeira projeção deste terreno, usando o software GeoGebra.
Figura 4 - Vista frontal da s e ç ã o Fonte: D o s autores (2018).
Figura 5 - Vista superior da s e ç ã o Fonte: D o s autores (2018).
Nas figuras 4 e 5, os pontos azuis e pretos são os pontos pertencentes
ao terreno e em marrom estão os triângulos formados.
Já com os dados obtidos no dia 20 de junho, foi criada a segunda
projeção do terreno, que traz mais pontos pertencentes ao terreno.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
347
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
• 1 —UV-
-Sa -13 -16 -14 -12 -1D -H
Figura 6 - Vista frontal da região Fonte: D o s autores (2018).
Figura 7 - Vista superior da região Fonte: D o s autores (2018).
Apresentamos a s duas vistas (frontal e superior), para melhor
visualização da projeção. Na primeira projeção, unimos os pontos obtidos com
segmentos , pois es tavam mais distantes entre si. J á na s egunda projeção, isso
não foi necessário, pois mais pontos foram obtidos e consequentemente , ficaram
mais próximos.
Com b a s e nas projeções realizadas no GeoGebra o material
manipulável foi construído, de forma a ser utilizado no ensino de Trigonometria
na Educação básica. Este material simula o percurso do Sol durante uma manhã,
permitindo calcular a projeção da sombra e os ângulos formados. Dessa forma,
o professor pode trabalhar conteúdos como Lei dos Cossenos , Lei dos Senos ,
Soma de ângulos, Desigualdade Triangular, entre outros.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
348
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 8 - Material manipulável construído Fonte: D o s autores (2018).
Figura 9 - Material manipulável construído Fonte: D o s autores (2018).
DISCUSSÕES Ao final da construção da primeira projeção, percebeu-se que o resultado
obtido, a p e s a r de lembrar o terreno original, era bas tante limitado. Pois
representava uma pequena s e ç ã o do terreno e não permitia visualizar uma á rea
maior.
Com a segunda projeção, a á rea obtida foi maior, e consequentemente ,
mais eficiente para representar o terreno original. Pe rcebe - se com isto, que ao
utilizar uma has te maior e com mais divisões, o resultado s e torna mais próximo
do terreno real.
Portanto, quanto mais dados (medidas, triângulos) s ã o coletados, maior
é a precisão do resultado obtido. Outro ponto que garante maior exatidão s ã o os
instrumentos utilizados. Com o uso do barbante e a posterior construção no
GeoGebra , perceberam-se a lgumas falhas em medidas. Como pontos
claramente fora de s e ç ã o projetada, muito mais altos ou muito mais baixos que
os demais. Já com o uso de uma fita métrica resistente e s s a s falhas não foram
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
349
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
encontradas.
Ao comparar a s duas projeções construídas no GeoGebra, é possível
perceber que a trajetória das sombras mudou. Isso acontece porque a primeira
projeção foi feita no meio do outono, enquanto a segunda foi realizada no início
do inverno. Ao longo do ano, a s trajetórias das sombras mudam devido a
inclinação do eixo imaginário da Terra. Assim, o Sol incide sobre o solo com
ângulos diferentes. Quanto maior o espaço de tempo entre a s duas aferições,
maior seria a diferença entre a s trajetórias obtidas.
Além do ponto de vista geométrico espacial, es te trabalho pode ser
utilizado como base para aulas de Trigonometria para o Ensino Médio. Conforme
citado anteriormente, é importante que a s atividades matemáticas motivem o
aluno. As investigações chamam o aluno "a agir como matemático, formulando
ques tões e conjecturas, realizando provas e refutações e também apresentando
resultados e discussões. "
Com a s projeções e o material manipulável criado, é possível ver a
matemática em situações diferentes, como em um terreno irregular, e a partir
disso, investigar formas de transformar e s s a matemática que se encontra língua
materna (natural) e em outros registros de representação, como tabelas,
construções geométricas, entre outros.
De acordo com Duval (2004 apud Vertuan, 2007, p. 20) "a utilização de
diferentes representações semióticas contribui para uma reorganização do
pensamento do aluno e influencia a atividade cognitiva da pessoa que a s utiliza".
Dessa forma, procuramos construir um material que instigasse a investigação,
coleta e tratamento de dados, promovendo a aprendizagem.
É possível realizar es te tipo de atividade, em que o aluno investiga,
coleta dados, analisa-os, transforma-os e levanta conjecturas com base em
várias si tuações cotidianas, como rampas de acesso, escadas , relógios de sol,
redes de saneamento, entre muitas outras situações.
Com o material manipulável, os alunos podem medir comprimento da s
sombras projetadas, distâncias entre a extremidade das sombras e da estaca,
distância entre sombras, reproduzindo representações das si tuações da
realidade com o mesmo. A partir disso, podem ser criados triângulos para o
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
350
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
estudo dos ângulos envolvidos: ângulo de incidência da luz, soma de ângulos de
um triângulo, razões trigonométricas, Lei dos cossenos, Lei dos senos, entre
outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira geral, durante a realização deste trabalho encontramos
algumas dificuldades, como a coleta de dados e a construção das projeções por
meio do GeoGebra.
Ao coletar os dados, percebemos que seria necessário permanecer no
local por pelo menos 4 horas e meia para que a s pontas das sombras projetadas
pela haste percorressem um lado ao outro do terreno. Já ao transformar es tes
dados em desenhos no Geogebra, percebemos que usaríamos muitos planos e
muitas cônicas. Portanto, optamos por ocultar a maior parte dos objetos usados
na construção, mantendo a p e n a s a haste e os pontos pertencentes ao terreno,
e d e s s a forma, facilitando a visualização da projeção.
É importante ressaltar que a escolha pela utilização do GeoGebra s e
deve ao fato de ser um software livre e de fácil a c e s s o aos alunos da Educação
Básica, pois está instalado na maior parte dos computadores de escolas da rede
pública.
Com es te trabalho, percebe-se que a utilização da matemática é
extremamente abrangente. Com o auxílio tecnológico, é possível recriar
qualquer tipo de superfície, usando construções b a s e a d a s na geometria
euclidiana plana e espacial.
Dessa forma, é preciso cada vez mais, oportunizar aos alunos da
Educação Básica, atividades investigativas, onde eles possam criar, produzir,
construir, analisar e aprender. Por meio de atividades como e s s a s os alunos se
tornam protagonistas de seu aprendizado.
Ainda segundo Vertuan (2007), para que o aprendizado ocorra é
necessário que o aluno conceitue os saberes matemáticos por meio das
representações. Ou seja, o aluno aprende na medida em que consegue
comparar e transformar representações de um mesmo objeto matemático.
O material desenvolvido após a pesquisa é um exemplo de objeto de
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
351
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
aprendizagem em que o aluno tem papel ativo e investigativo. Por meio dele, é
possível analisar, levantar hipóteses, fazer t es tes e concluir. Com a orientação
do professor, o aluno pode aprender diversos conteúdos, tanto matemáticos,
quanto científicos, sobre projeções, incidência do sol e p a s s a g e m do tempo.
REFERÊNCIAS
BORGES, Alberto de Campos . Topografia: Aplicada à Engenharia Civil. 2. ed. S ã o Paulo: Blucher, 1977. 191 p.
Franco, João Roberto; FRANCO, Valdeni Soliani. Geometria Plana e Espacial: Um estudo axiomático. 2. ed. Maringá: Uem, 2010.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa . 4 Ed. S ã o Paulo: Editora Atlas, 2002.
GONÇALVES, J o s é Alberto; MADEIRA, Sérgio; SOUSA, J. João. Topografia: conceitos e aplicações. 3. ed. Lisboa: Lidel, 2012. 357 p.
IEZZI, Gelson. Fundamentos da matemática elementar: Trigonometria. 8. ed. S ã o Paulo: Atual, 2004. 312 p.
PONTE, Pedro da; BRACARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Invest igações Matemáticas na Sala de Aula. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 160 p.
TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de Topografia. Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2014. 308 p.
VERTUAN, Rodolfo. Um olhar sobre a modelagem matemática à luz da teoria d o s registros de representação semiótica. 2007. 141 f. Dissertação de Mestrado - UEL, Londrina, 2007.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
352
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O USO DO SOFTWARE R NA PREVISÃO DAS LEITURAS DO PÊNDULO DIRETO E INVERTIDO
Matheus Pabis Esteves1
Suellen Ribeiro Pardo Garcia2
Resumo
Modelos estatísticos têm sido amplamente utilizados para prever a res-
posta de um instrumento de monitoramento de barragens de concreto. Tais
modelos têm o objetivo de detectar mudanças no comportamento da barragem
previamente, permitindo a implementação de medidas corretivas adequadas
que auxiliam na segurança da obra. O principal objetivo deste trabalho é cons-
truir modelos no Software R para fins de previsão de leituras de pêndulos direto
e invertido de monitoramento de barragens de concreto considerando ações de
variáveis ambientais como a s variações da temperatura ambiente, para tanto
utilizou-se o modelo dinâmico autorregressivo de de fasagens distribuídas
(ADL). Espera-se com e s s e trabalho levar ao conhecimento de engenheiros e
técnicos responsáveis pela segurança de barragens modelos capazes de auxi-
liar no monitoramento da estrutura, diminuindo os custos e o tempo destinados
è vigilância.
Palavras-chave: Barragens de concreto; Modelo autorregressivo de de fasa -
gens distribuídas; pêndulos direto e invertido; Software R.
1 Introdução
Os desas t re s em Barragens de Usinas Hidrelétricas são eventos de ca-
racterísticas únicas, como o grave acidente de Sayano-Shushenskaya em
2009. na Rússia, que custou a vida de mais de 70 p e s s o a s e paralisou o siste-
ma elétrico do país causando vários transtornos, O acidente primário ocorreu
na unidade 2, provocando uma sequência de acidente nas outras unidades
(CBDB).
Wcadêmico do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Toledo 2Doceníe do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Toledo
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
353
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
A figura 1, mostra a destruição que ocorreu ©m Sayano-Shushenskaya
Figura 1 - Casa de Força parcialmente destruída com todas as 10 uni* d a d e s g e r a d o r a s inoperan tes .
Fonte: CBDB.
O rompimento de uma barragem pode ter conseqüências diversas,
sendo de caráter social, econômico, governamentais, ambientais e perdas hu-
manas (SERRANO-LOMBINHO, MORALE-TORRES, GARCÍA-KAB, 2012).
Conforme Sarmento e Moiina (2014), a evolução de situações comuns de s e -
rem solucionadas para situações mais graves, se dá pela não adoção de provi-
dências relacionadas ao monitoramento d a s barragens,
O monitoramento de barragens consiste em inspeções visuais e a cole-
ta e análise dos dados da instrumentação {PENNA, ARAGÃO, FUSARO,
2015),
Entre os vários instrumentos de monitoramento de barragens estão os
pêndulos direto e invertido, que determinam os deslocamentos horizontais da
crista em relação a um ponto fixo na fundação (MATOS, 2002),
Uma d a s maneiras de detectar mudanças no comportamento da barra-
gem é utilizar a previsão de modelos estatísticos para os dados dos instrumen-
tos considerando ações de variáveis ambientais como a variação do nível do
reservatório e variações da temperatura ambiente (GARCIA, 2016).
O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia com o uso do
Software R na previsão d a s leituras dos instrumentos pêndulo direto e invertido
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
354
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
considerando as varrições de temperatura ambiente através do modelo esta
tístico autorregressívo de defasagens distribuídas.
2 Modelo autorregressivo de defasagens distribuídas
O modelo autorregressivo de defasagens distribuídas (ADL) é compos-
to por uma classe de modelos dinâmicos que incluem regressores dos valores
defasados da componente dependente e valores correntes e defasados das
componentes independentes. Um modelo ADL(r, s) com uma variável indepen-
dente fica,
(1}
r s
í=0 M
O jj é o termo independente, r e s são respectivamente, o número
máximo de defasagem da componente xt, independente, e yt, dependente. A
especificação da ordem de defasagem pode ser dada pela escolha de um mo-
delo que maximiza o coeficiente de determinação ou minimiza a estimativa da
variância dos erros e critérios de informação como o de Akaike (AIC) (ARONE,
2014).
Muitos modelos ADL são simulados com variação das defasagens3 na
variável dependente e independente. Para cada modelo ADL ajustado calcu-
lam-se o critério de informação AIC, pois segundo GARCIA (2016), o uso de
outros critérios resultava em modelos mais parcimoniosos, no entanto, com re-
síduos apresentando autocorreíação.
Determinado o número de defasagens do modelo ADL(r,s) pelo critério
AIC, o modelo ADL para um sensor do pêndulo é dado por (2} r s
sensort = // + V (ft-temp^ V a^sensor^ +st
Í=D Í=1
A estacionariedade das séries foi verificada pelo teste ADF (Augmen-
ted Dickey-Fuüer), pois caso fosse necessário, as séries temporais deveriam
ser diferenciadas. O teste ADF é conhecido por teste de raiz unitária, uma vez
que a hipótese nuia é a presença de raiz unitária, ou seja, a série é não estaci-3 O numero máximo de defasagens utilizado nas simulações foi de 12. Esse valor é o número máximo encontrado no software EViews, por exemplo.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
355
* VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
onária. O teste ADF assume que os dados são gerados por um processo autor-
regressivo de ordem p e o teste é, portanto, baseado no ajuste de uma regres-
são de mesma ordem, No teste é inserida uma correção paramétrica para as
correlações de ordem superior, assumindo que a série segue um processo
AR(p) e adicionar termos defasados da diferença da variável dependente no
lado direito da regressão de teste. As regressões de teste são dadas por:
Modelo 1:
(3} r s
sen$ort = f.t + ^ + a^ensor^ +st i=D i=1
Modelo 2:
(4)
Modelo 3:
(5) p
Ay, = c + /íf +• áyM + X a,Àyt_j + £t ;=t
onde c é a constante e o termo f$t é o termo de tendência finear. A hipótese
nula e alternativa do teste são dadas por; ó ~ < 0 , Se os resultados
do teste de todos os três modelos (equações 3r 4 ou 5) não rejeitarem a hipóte-se nula. isso indica a presença de uma raiz unitária (LÍT Wangn & Liun 2013).
3 Materials e Métodos
3.1 Dados
Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos pefo sistema ADAS
(Automatic Data Acquisition System) que a Barragem de Itaipu dispõe desde
2005, quando a instrumentação da barragem começou a ser automatizada e
assim passaram a ter leituras a cada 30 minutos, atèm das leituras realizadas
manualmente pelos técnicos.
Foram utilizadas as leituras automatizadas dos sensores dos pêndulos
direto e invertido do bloco F19/20 e as leituras da temperatura ambiente que
são medidas diariamente. Quanto à s leituras dos pêndulos, as componentes x
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
356
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 2 - Esquema de instalação dos pêndulos direto e invertido Fonte: Vasconce los (1978).
3.2 Métodos
Este tópico descreverá a metodologia utilizada para construção de um
algoritmo no Software R. Está dividido em três fases ,
A fase 1 é denotada de análise univariada dos dados, sendo definida
por:
Adequação dos dados á periodicidade, leituras er radas e leituras
ausentes ;
Cálculo da estatística descritiva dos dados;
Teste de estacionariedade d a s séries.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
357
* VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
A fase 2 é denotada ajuste do modelo, sendo definida por:
Determinar possível modelos para solução;
Escolha do melhor modelo pelo critério de Akaike (AÍC).
A fase 3 denota a previsão:
Cálculo das previsões para 7, 15 e 30 dias à frente da amostra;
Comparação das medidas de avaliação dos erros para cada mo-
delo;
Cálculo dos limites inferiores e superiores para as previsões com
base no modelo escolhido.
4 Resultados e d i scussões
Este tópico descreverá como foi realizado a construção do algoritmo de
uso do Software R na previsão das leituras dos pêndulos direto e invertido.
O primeiro passo foi a instalação dos pacotes livres: openxlsx que ma-
nipula arquivos do tipo planilha, tseries para análise de séries temporais, e
dLagM que provê modelos de séries temporais de regressão.
Posteriormente se encontrou um padrão para utilização dos arquivos
planilha. O padrão é constituído pelo CANAL, que representa os deslocamen-
tos x e y dos pêndulos, FECHA que representa a data da leitura e VALOR que
representa o valor da leitura. O canal 1057 corresponde as leituras do pêndulo
direto na direção x (PDX), o canal 1058 corresponde as leituras do pêndulo di-
reto na direção y (PDY), o canal 1061 corresponde as leituras do pêndulo inver-
tido na direção x (PJX) e o canai 1062 corresponde as leituras do pêndulo inver-
tido na direção y (P)Y).
Fez-se as leituras dos arquivos de amostras dos pêndulos, nivel de re-
servatório e temperatura ambiente. A variável nivel do reservatório será utiliza-
da no modelo em trabalho futuro. UtiJizou-se a função read,xl$x() do pacote
openxísx.
Após a leitura retirou-se os outliers, que são valores atípicos no conjun-
to de dados. O tratamento se dá pela substituição da leitura pela mais próxima
do mesmo instrumento. Por exemplo, valores de 999999 significam que houve
algum problema no instrumento ou na aquisição dos dados pelo sistema. Este
é um valor a ser retirado da amostra.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
358
* VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
Na seqüência reafizou-se as médias das leituras diárias dos instrumen-
tos. Este cálculo funciona independentemente do número de instrumentos colo-
cados no mesmo arquivo de planilhas para que futuramente o algoritmo possa
ser ampliado para mais instrumentos,
Na possibilidade de leituras ausentes, o algoritmo trata com a utilização
da média das leituras de dias anteriores. A figura 3 demonstra como os dados
ficaram organizados em uma matriz.
1057 1052 ioe i 1062 nivel ueir^peratura 2005 -10 -27 16 . 33G5 - 1 .7305 4 .0035 220.26 26 _ 3 2005 -10 -23 16 • 3853 -1 4 . 0083 — -8965 220-29 21-6 2005 -10 -29 16 • 5550 -1 -745S 4 .0160 1 .2991 220.36 21*9 2005 -10 -30 16 .6956 -1 <7567 4 .0242 1 .£993 220.3S 19. Q 200S -10 -31 16 .7169 - 1 _7646 4 .0225 x .90S2 220.31 1 A O
2005 -11 -01 16 .6795 -1 ,7C06 4 ,0146 1 ,9075 220-21 1 Q C
Figura 3 - Início da tabela de dados dos ins t rumentos Fonte: Autor (2018).
Com a finalização da adequação dos dados, realizou-se a estatística
descritiva com o comando summaryQ e o teste de estacíonaridade das séries
pelo Aumento de Dickey-Fuller (ADF) representado pela função adf.testQ do
pacote tseries. A figura 4 mostra o teste de estacionariedade de um dos pêndu-
los da amostra.
Aiigmented Dickrey-Fuller Test
data: dadoaf, 1] DlCfcey-Fíiller - -3.7645, Lag QZdfcr - 16, p-value - 0.02074 a l tc rua t ive hypotheais: a ta t ionary
Figura 4 - Resultado do teste ADF para estacíonaridade de séries Fonte: Autor (2018).
Como os resultados dos testes ADF para todas as séries apresentaram
p-valor inferior a 0,05, a hipótese nula foi rejeitada, ou seja. as séries temporais
são estacionadas e não foi preciso fazer a diferenciação que consiste em traba-
lhar com os dados na forma àsensort = sensort - sensor^.
Na seqüência, diferentes modelos com defasagem de 1 è 12 foram
construídos para as variáveis por meio da função ardlDlrn() do pacote dLagM e
fez-se a escolha do melhor modelo pelo critério de Informação de Akaíke (AIC).
As figuras 5 a 8 apresentam os modelos escolhidos pelo menor valor do critério
AIC,
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
359
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Time series regression with "zs" data: Start - 11, End - 4298
Calli dynlJM formula • as, £oni&ula (model„ text; claça - datai
Coefíicieíita: (Inrercept)
0.4366300 X.5
0.0012474 Y,1
0 . 3 6 6 6 5 0 7
X*t 0 • Q027613
X.6 0.0001955
0.1170537
X- 1 "0.0113162
X. 7 0.0004126
X. z -0,0024355
x . s 0.0004534
X.3 Ü.0007906
X.9 -0,0005021
X.4 -0*0012669
X.10 0*0015335
Scrder [11 10 2
Figura 5 - Modelo para o sensor PDX 1057 Fonte: Autor (2018).
lute series íegression wmii "cs" daxa: Stait = 3, End = 4293
Call: dynliÉ (formula - âs. foragia (model.tese), ü&ta - data)
C c e f f í c i e n t s : (Incercecc) -0,0064469
X.S -0*0002000
Y.4 0*0016314
X.t -0*0021633
X.6 0*0001350
Y.5 0*0109335
X.l 0* 003095Ê
X. 7 -0*0005573
Y.6 0.0352320
X.2 0*0001941
Y.l O* 3513344
X. 3 -0,0004405
Y. 2 0*0792334
X. 4 -Ü,0001033
Y.3 0.G13Ü201
Morder Tll 7 6
Figura 6 - Modelo para o s e n s o r PDY 1058 Fonte: Autor (2018).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
360
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
aeries rçgression with "ÍS" data: Start - 13, End - 429S
C a l l : dynlm(torn^la = as,formula (müdel.teítc), data — data}
Ccefficients: (Intercept)
0.9914156
-Ü.2650973 Y. 10
0 • 0042301
X.t 0 - 0003213
Y. 5 0.23SSÜB3
Y.ll 0,0402104
X.l -0,0014978
Y. € -0 .14 61596
¥.12 0•0364339
¥.1 0.7495327
Y. 7 0•1"H 355B
Y.2
Y. S -0.0363612
¥. 3 0.4137151
Y.& G,QB79663
íordtr [II 1 12
Figura 7 - Modelo para o s enso r PIX 1061 Fonte: Autor (2018).
Time ieri=3 reareaaion wizh B:aH daca: Srarc - 12, End - 429S
Cftil! dynlní formula - aa- formula(modíl,cext}j data - data}
Cocf1icienta: llntercepu
167970a Y.2
-ü•5298755 Y.B
0.2505574
X. Z -Oi 0011420
¥.3 0*0732359
Y * 9 0.1Ê07451
X.l •0,0005164
Y.4 0.0737438
Y. 10 •0.16Q99S6
X. 2 o . o o i e o e a
¥.5 *0.04271B8
Y.ll 0.0680396
X. 3 -O.OO0Q025
Y.6 0.1620315
Y.l 1,36066Ê7
Y.7 -0.4921956
Sorder tl] 3 11
Figura 8 - Modelo para o senso r PIY 1062 Fonte: Autor (2018).
10 3 PDXt = / /+V^femp ; _ , + YaPDXt_s + st
í=a í=1
PDY, = //+y íf(/emp(W+y o,PDy
(_(+
( = 1
PIX, =M + t <P,tem
P<-> + s +
11
p/y, = (i+y ^ f e m p , , + y « , p / x _ , + *
(6)
(7)
(8)
(9)
r=n J=1
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
361
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
362
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
5 Conclusão
Com este trabalho foi possível conhecer o uso do software R na cons-
trução de modelos estatísticos. Identificou-se que as leituras do pêndulo inverti-
do são previstas predominantemente pelos seus valores defasados enquanto
que os valores defasados da temperatura ambiente têm maior impacto nas lei-
turas do pêndulo direto, como era esperado. Outra evidência foi encontrada no
modelo para o PDX, onde os valores passados do próprio sensor não são tão
relevantes para os descolamentos na direção do fluxo.
Como trabalhos futuros pretende-se estender esse algoritmo para reali-
zar previsões de diferentes instrumentos de segurança de barragem e conside-
rar mais uma variável independente que é a variação do nível do reservatório
nos modelos.
REFERÊNCIAS
ARONE, S. G. Impacto d e meios etectrónicos de pagamento sob re a s no-t a s e moedas em circulação: o caso de Moçambique. Dissertação Instituto Superior de Economia e Gestão. Lisboa, p. 44. 2014.
CBDB. Comitê Brasileiro de Barragens. O grave acidente verificado na UHE-Sayano-Shushenskaya sob re o Rio Yenisei (Sibéria), na Rússia . Disponível em: <www.cbdb.org.br/documentos/news/acidenterussia.doc>. Acesso em: Ô ago. 2018, 21:40.
GARCIA, S. R. P. Modelagem e previsão de des locamen tos em bar ragens de concreto: aplicação a dados de instrumentação da usina hidrelétrico de Itai-pu. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2016.
LI, F.; WANG, Z.; LIU, G. Towards an Error Correction Model for dam moni-toring data analysis b a s e d on Cointegration Theory. Structural Safety, v. 43, p. 12-20, Julho 2013.
MATOS, S. F. Avaliação de ins t rumentos para auscu l taçâo de barragem de concreto . Es tudo de caso : Deformímetros e tensômetros para concreto na barragem de Itaipu. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, p. 107. 2002.
PENNA, D. C. R.; ARAGÃO, G. A. S.; FUSARO, T. C. Complementar iedade entre o moni toramento e anál ises de r isco na g e s t ã o da s egu rança de bar-ragens . In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens. Foz do Iguaçu, 2015.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
363
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
SARMENTO, F J.; MOLINA, O. A. Barragem Gamará - PB: o deplecionamen-lo evitaria a catástrofe?. 2004. Disponível em: <http:www.acquatol.com.br/pagi-nas/pu b-camara .pdf>.
SERRANO-LOMBILHOr A,; MORALES-TORRES , A.; GARCÍA-KAB. L Conse-quence estimatíon in rísk analysis. Risk Analysis, Dam Safety, Dam Securíty and Criticai Infrastructure Management, p. 107-112, 2012.
VASCONCELOS, G, R, L, D, Plano de implantação e acompanhamento do instrumental de auscul tação de estruturas de concreto - obra de Itaipu, Divisão de controle de concreto - Itaipu BinacionaL [SI], p. 148, 1978,
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
364
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO D E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
INFLUÊNCIA DE DIFERENTES MÉTODOS E TEMPERATURA DE CURA NA
RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DO CONCRETO.
Paulo Araldi35
Carlos Tino Balestra36
Tainá Letícia Piccolo37
Kamila Preisner3 8
Lucas Carpenedo Rheinheimer3 9
1 Resumo
O presente trabalho buscou analisar a interferência de diferentes
condições de cura no desenvolvimento da resistência característica à
compressão do concreto. S a b e - s e que a s condições de umidade e temperatura
s ã o os principais fatores relacionados ao comportamento da resistência do
concreto, de forma que alterar e s s e s parâmetros afeta diretamente o
comportamento do material.
Foram elaborados 42 corpos de prova de concreto sendo que cada 6
corpos foram submetidos a diferentes condições de temperatura e umidade. O
primeiro grupo foi curado em estufa a uma temperatura de 100°C. O segundo e
terceiro grupos foram mantidos em temperatura ambiente de aproximadamente
23°C sendo que aquele foi submerso em água e es te foi exposto à umidade do
ar. Os corpos de prova dos grupos 4 e 5 foram colocados em um freezer com
temperatura de 5°C, sendo que o grupo 4 foi submerso em água e o grupo 5,
não. A cura do grupo 6 ocorreu em condição submersa com água à temperatura
de cerca de 100°C. O grupo 7, por sua vez, foi curado no vapor d 'água .
O grupo submetido à cura em temperatura ambiente e condição submersa
foi o que apresentou maior valor de resistência, ao p a s s o que os que
apresentaram menor resistência foram os grupos dos corpos de prova curado na
estufa e dos submersos a 100°C.
35 UTFPR - Acadêmico de Engenharia Civil. 36 UTFPR - Prof. Dr. Depto. de Engenharia Civil. 37 UTFPR - Acadêmica de Engenharia Civil. 38 UTFPR - Acadêmica de Engenharia Civil. 39 UTFPR - Acadêmico de Engenharia Civil.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
365
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
2 Introdução
Com o advento da tecnologia aliado à s necess idades da sociedade
moderna, o concreto passou a ser um dos materiais mais utilizado pelo homem.
Por s u a s propriedades de resistência e trabalhabilidade, tornou-se protagonista
no cenário da construção civil em todo o mundo, sendo um dos maiores
responsáveis pelo movimento da economia não só do Brasil, mas de todo o
planeta.
Pode-se apresentar a lgumas principais razões pelas quais o concreto
adquiriu t amanha importância na construção civil. A primeira delas deve-se ao
fato de que, diferentemente da madeira e do aço, ele apresen ta resistência à
água, ao fogo e à corrosão, viabilizando sua aplicação em estruturas como
pontes, barragens, canais e estruturas de contenção, por exemplo. Em segundo
lugar, pode ser moldado em diversos t amanhos e formas, podendo assim,
a tender à s mais variadas necess idades de uso. Além disso, a p ó s adquirir
resistência, a s formas podem ser retiradas e reutilizadas. Um outro motivo que
favorece o uso do concreto é a facilidade de obtenção do material.
Na sua aplicação, pode-se dizer que o concreto p a s s a por cons tantes
variações de temperatura e umidade, devido a variações climáticas. Fatores
como precipitação, umidade relativa do ar, temperatura e velocidade do vento
afetam a s características do material.
Diante de todas a s van tagens citadas anteriormente, é possível
compreender a importância do uso do concreto nas construções. Entretanto,
para que e s s e material possa oferecer seu máximo proveito, é indispensável que
os primeiros dias após sua aplicação se jam de constante monitoramento,
especia lmente d a s condições de umidade e temperatura. A e s s e processo, dá-
s e o nome de cura do concreto. Conforme apontam autores, a principal função
da cura à temperatura normal, é manter o concreto o máximo saturado possível,
a fim de que os e s p a ç o s que originalmente eram ocupados por água no cimento
f resco se jam ocupados pelos produtos da hidratação do cimento. (NEVILLE;
BROOKS; 2010, p.175).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
366
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Os principais compostos presentes no cimento Portland são o Silicato
Tricálcico, o Silicato Dicálcico, o Aluminato Tricálcico e o Ferro Aluminato
Tetracálcico. Na presença de água, e s s e s compostos dão origem a produtos de
hidratação que originam uma m a s s a firme e resistente. Os aluminatos, quando
na presença do gesso, s ã o responsáveis pela formação de etringitas, a s quais
s ã o responsáveis pela pega do concreto. Essa reação ocorre logo no início da
hidratação. Os silicatos por sua vez, es tão relacionados a características de
resistência. Com efeito, de acordo com Mehta & Monteiro (2005), "os compostos
não hidratam na m e s m a velocidade. Os aluminatos s ã o conhecidos por
hidratarem muito mais rapidamente que os silicatos". De fato, a s características
de enrijecimento e endurecimento de uma pasta de cimento Portland, s ão
amplamente determinadas pelas reações de hidratação envolvendo os
aluminatos. Os silicatos, que compõem cerca de 75 % do cimento Portland
comum, d e s e m p e n h a m um papel dominante na determinação nas
características de resistência (taxa de desenvolvimento de força).
Uma vez que a s reações do concreto somente acontecem na presença
de água, justifica-se a importância do controle da temperatura e umidade nas
obras de concreto. Na aplicação, há diversas maneiras de s e realizar a cura do
concreto, s endo que, em obras, s ão utilizados métodos como a aplicação de
mantas que mantém a superfície constantemente molhada ou ainda a própria
aplicação de água sobre a superfície dentro de determinados períodos de tempo.
No Brasil, a lgumas das normas que regem a s condições para a cura do
concreto s ão a ABNT NBR 14931:2004 e a ABNT NBR 12655, s endo que a
primeira define que "Elementos estruturais de superfície devem ser curados até
que atinjam resistência característica à compressão (fck) igual ou maior que 15
MPa." (NBR 14931:2004; p. 23). O período necessár io para a cura não pode ser
descrito de maneira simples, porém es tudos sugerem que a maior taxa de
resistência do concreto ocorre nos três primeiros dias, de forma que n e s s e
período, a umidade deve ser controlada com maior cautela.
Em s e tratando da temperatura de cura, é importante atentar-se para o
fato de que temperaturas muito e levadas acarretam em alta taxa de evaporação
da água presente no concreto, levando a possíveis fissuras. Por outro lado, a
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
367
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
concretagem em temperaturas demas iado baixas tem como problema a
possibilidade do congelamento da água que es tá presente nas capilaridades do
concreto, o que gera um aumento no volume dos e s p a ç o s vazios e um
consequen te aumento de porosidade, que afeta diretamente a resistência do
material. Dessa forma, a m b a s a s temperaturas exigem cautela no processo de
cura.
3 Objetivos
• Analisar a influência baixas e altas temperaturas durante a cura nas
propriedades mecânicas do concreto;
• Analisar a influência de baixas e altas umidades relativas durante a cura nas
propriedades mecânicas do concreto.
4 Justificativa da pesquisa
As condições climáticas de determinada região podem ser um fator de
direta influência no comportamento de uma m a s s a de concreto e, tendo em vista
a amplitude térmica e os mais diversos tipos de clima a o s quais uma região pode
es tar sujeita, é interessante obter dados sobre a influência da temperatura e
umidade na cura do concreto, para s e prever o comportamento do material
quando utilizado em regiões com invernos rigorosos ou verões muito quentes ,
por exemplo, visto que e s s e s fatores farão com que o concreto perca mais ou
menos água.
5 Revisão de literatura
Diversos es tudos já foram realizados com o intuito de analisar o impacto
do grau de umidade e temperatura no comportamento do concreto. Os
resultados têm mostrado que a redução da umidade de cura não só afeta
negativamente a s reações de hidratação do cimento e o comportamento
microestrutural do concreto, como também deteriora s u a s propriedades
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
mecânicas e de resistência. Powers (1947) afirmou que a s reações de hidratação
desace le ram quando a umidade interna é baixa, e q u a s e param quando a
umidade é inferior a 80%. Em outras palavras, devido à perda de água e a
correspondente redução da umidade relativa interna nos poros de um material
cimentício, o desenvolvimento d a s propriedades do concreto pode ser
dificultado, ainda que o s is tema ainda possua uma considerável quantidade de
água.
Zhengxiang (2018), em s e u s estudos, desenvolveu quatro câmara s para
cura, c a p a z e s de controlar automaticamente a temperatura e a umidade relativa.
O es tudo afirmou que o desenvolvimento de várias propriedades da estrutura do
concreto depende da água disponível e, s e a estrutura for exposta a umidade
muito baixa, a hidratação na superfície se rá interrompida e a força e durabilidade
diminuirão, fenômeno que causará f issuras superficiais, não oferecendo a
proteção dese jada . Gradualmente, a hidratação de partes internas também será
afetada, uma vez que a água presente nos poros também é perdida através da
superfície drenante do sistema.
Saengsoy et al. (2008, p. 1433), analisaram o comportamento do concreto
quando curado em diferentes temperaturas. Os espéc imes foram curados em
cinco diferentes condições ambientais até que a idade requerida fosse atingida.
As condições de cura foram cura submersa , cura se lada e cura a uma umidade
relativa de 60%, 80% e 95%. S e u s es tudos mostraram que a força de
compressão do concreto curado em água e com umidade de 95% aumentaram
rapidamente e s e tornaram praticamente constantes após 28 dias. Entretanto,
quando expostos a uma umidade de 80%, a resistência do concreto s e
desenvolveu de maneira lenta. Particularmente, à umidade de 60%, a resistência
praticamente não aumentou após 7 dias, causando uma perda de
aproximadamente 41% na resistência, s e comparado ao material curado em
água, ou seja, com umidade 100%.
Os es tudos de Shoukry et al. (2010, p. 690) apontam que o aumento na
temperatura do concreto a 80°C, resulta numa perda de resistência à
compressão e à tração em 38% e 26%, respectivamente. Nesse estudo, 137
corpos de prova foram moldados, e curados em câmaras adap tadas que
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
369
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
produziam ar quente e frio. Posteriormente, os corpos de prova foram rompidos.
Os esforços horizontais e verticais foram registrados, bem como a magnitude da
carga aplicada. Isso possibilitou verificar o comportamento do módulo de
elasticidade e do coeficiente de Poisson.
Concluiu-se que o módulo de elasticidade diminui conforme a temperatura
de cura aumenta; em seus estudos um aumento de temperatura de 20°C para
50°C, resultou em uma redução no módulo de elasticidade que variou de 62%
para 23%. Já em relação à umidade, os es tudos mostraram que o módulo de
elasticidade diminuiu conforme o grau de saturação aumentou. De fato, houve
uma diminuição de quase 20% no módulo de elasticidade conforme a umidade
aumentou de 0% para 100%.
Em relação ao coeficiente de Poisson, concluiu-se que a s diferentes
condições de temperatura e umidade pouco podem afetar a s suas características
após a cura do material, sendo que a variação dos valores é desprezível.
6 Material e Métodos
Para a realização d e s s e experimento, foram confeccionados 42 corpos de
prova. A areia utilizada possuía Dimensão Máxima Característica (DMC) de 2,36
mm e módulo de finura (MF) de 1,94. A brita utilizada foi a de número 0 com
Dimensão Máxima Característica de 9,5 mm. O cimento foi do tipo Portland,
c lasse II, com adição de Fíler (CP II-F 32).
Cada corpo de prova possuía formato cilíndrico diâmetro de 10 cm com
seção transversal de 78,53 cm2 e 20 cm de comprimento, resultando em um
volume de 1571 cm3, com massa de cerca de 4,52 kg e massa específica de
2,88 g/cm3.
Utilizou-se também uma betoneira de 400 litros e moldes para corpos de
prova, nos quais foi aplicado desmoldante para facilitar a remoção do material,
uma vez que e s s e est ivesse nas condições adequadas . O traço dos corpos de
prova foi de 1:1,49:2,06:0,48. Devido à grande quantidade de material
necessário para a confecção de todos os corpos de prova, fez-se necessário
realizar o trabalho em duas etapas. O slump do primeiro lote foi de 14,5 cm e do
segundo 15,5 cm, resultando numa média de 15 cm de slump.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
370
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Após 24 horas, o s 42 corpos de prova foram d e s m o l d a d o s e submet idos
à cura em diferentes condições de tempera tura e umidade. O primeiro grupo
ficou em uma es tufa no laboratório, a uma tempera tura d e 100°C. O s e g u n d o
grupo t ambém ficou no laboratório, porém s u b m e r s o em á g u a e mantido à
t empera tura ambien te que variou em torno de 19°C. O terceiro grupo t a m b é m foi
mantido no laboratório, porém não foi submerso , ou seja , s u a umidade era a da
a tmosfera . O quarto grupo foi colocado em um freezer , dentro de um recipiente
com água , d e forma que s u a umidade f o s s e de 100% e s u a tempera tura
monitorada em torno dos 5°C. O quinto grupo e s t e v e igualmente à t empera tu ra
d e 5°C, uma vez q u e e s t ava no m e s m o freezer , porém e s s e grupo não foi
submerso , man tendo s u a umidade inferior. O sexto grupo foi s u b m e r s o em um
recipiente q u e permitia controle de temperatura , a qual foi mantida em torno de
100°C. O sét imo grupo, por s u a vez, foi curado no vapor ge rado pela á g u a
p re sen te no recipiente o n d e o grupo 6 fora submerso . A seguir, na tabela 1, s ã o
a p r e s e n t a d a s a s condições de c a d a grupo. Após 28 dias, o s corpos d e prova
foram retirados dos locais o n d e est iveram s u b m e r s o s e foram retificados, para
que, posteriormente, f o s s e m e n s a i a d o s em uma p rensa hidráulica de 200 ton.
Tabela 1 - Condições de cura dos corpos de prova. CONDIÇÃO DE N° CORPOS DE
CURA PROVA DESCRIÇÃO 1 6 ESTUFA A 100°C 2 6 SUBMERSO A TEMP. AMBIENTE 3 6 NÃO SUBMERSO A TEMP. AMBIENTE. 4 6 SUBMERSO A 5°C 5 6 NÃO SUBMERSO A 5°C 6 6 SUBMERSO A 100°C 7 6 VAPOR D'ÁGUA A 100°C.
Fonte: Autores (2018).
7 Resultados e Discussão
Após 28 dias, o s corpos de prova foram submet idos a o ensa io de
c o m p r e s s ã o axial e os resul tados obtidos s ã o a p r e s e n t a d o s na tabela 2. O s
grupos q u e ap re sen t a r am maior valor de resistência foram os grupos 2 e 3, o s
quais est iveram (i) s u b m e r s o s à t empera tura ambien te e (ii) não submersos ,
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
371
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
também à temperatura ambiente, respectivamente. Os grupos que apresentaram
menor resistência, por sua vez, foram os grupos 1,5 e 6, ou seja, o grupo que foi
curado em estufa, o que foi curado no freezer (não submerso) e o que foi
submerso em água a 100°C.
Observa-se que nos grupos com maior valor de resistência à compressão,
a temperatura girou em torno dos 20°C, ao p a s s o que nos grupos 1, 5 e 6, que
apresentaram alguns dos menores valores de resistência, a temperatura de cura
era mantida em si tuações de muito calor (100°C) ou de muito frio (5°C). A partir
d e s s e s dados, pode-se perceber que a temperatura de cura teve influência
significativa no valor da resistência.
De fato, maior temperatura causa absorção da água com maior
velocidade, deixando o material com baixa umidade. Além disso, a rápida
evaporação da água acarreta em perda de trabalhabilidade e diminuição d a s
r eações de hidratação, o que gera um desenvolvimento de força inadequado
(NEVILLE; BROOKS; 2010). Outro efeito que ocorre com bastante frequência
devido à rápida perda de água no concreto é a fissura por retração plástica.
Embora não tenha grande influência na resistência do concreto, a s f issuras
influenciam negativamente na ques tão estética além de serem um problema na
ques tão da infiltração.
Outra característica de concreto curado a altas temperaturas é que ele
apresen ta maiores valores de resistência inicial, porém após os 28 dias,
apresen ta menor desenvolvimento de resistência do que o concreto curado a
temperaturas relativamente menores (MEHTA; MONTEIRO; 2005). No caso do
grupo 1, que apresentou valor médio de 34,56 MPa, a s condições eram de alta
temperatura, o que resultou em rápida evaporação e causou os problemas
mencionados.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
372
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Tabela 2 - Valores de Fck, Média, Desvio Padrão e Coef. De Variação.
Grupo Corpo de Fck Média Desvio Variação % Prova (Mpa) padrão
1 37,98 2 38,25
1 3 33,96 34,56 2,927 8,469 4 32,59 5 31,06 6 33,52 1 45,82 2 46,92
2 3 49,89 46,08 2,154 4,674 4 45,65 5 44,19 6 44,04 1 41,80 2 34,26
3 3 44,18 41,69 4,182 10,53 4 41,82 5 41,58 6 34,67 1 38,75 2 33,83
4 3 36,81 37,75 2,481 6,570 4 39,08 5 41,08 6 36,97 1 35,96 2 33,53
5 3 33,42 34,83 2,003 5,752 4 38,44 5 33,77 6 33,84 1 30,85 2 34,42
6 3 36,59 33,52 2,145 6,400 4 34,05 5 33,96 6 31,24 1 32,05 2 41,28
7 3 35,90 37,00 3,201 8,651 4 35,57 5 38,49 6 38,72
Fonte: Autores (2018).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
373
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DOS DIFERENTES GRUPO DE CORPOS DE PROVA.
< 5 0 4 6 . 0 8
4 5 M 3 9 . 7 2 3 7 7 5
È ? 4 0 3 4 . 5 6 • m 3 4 . 8 3 3 3 5 2 3 ™
I II 1 0 2 . 9 2 7 2 . 1 5 4 4 . 1 8 2 2 . 4 8 1 2 . 0 0 3 2 . 1 4 5
< g 3 0
< $ 2 5 U LU
2 0
15
1 0
5 3 . 2 0 1
1 2 3 4 5 6 7
GRUPO
- M É D I A DESVIO PADRÃO
Figura 1 - Resistência Característica dos Corpos de Prova. Fonte - Autores (2018).
No caso do grupo 1, que apresentou valor médio de 34,56 MPa, a s
condições eram de alta temperatura, o que resultou em rápida evaporação e
causou os problemas mencionados. No caso do grupo 6, é possível que, devido
à alta temperatura, mesmo es tando submerso, tenha ocorrido evaporação da
água dos capilares no interior do corpo de prova, causando uma redução nos
valores de resistência.
Os corpos de prova dos grupos 4 e 5, apresentaram valores de 37,75 MPa
e 34,83 MPa, respectivamente. E s s e s corpos es tavam submetidos a uma
temperatura bastante baixa. É importante ressaltar que, a temperaturas muito
baixas, pode ocorrer o congelamento da água da mistura, o que caus a um
aumento no volume de m a s s a s de concreto com superfície livre, e um
retardamento nas reações, devido à falta de água disponível. Uma vez que
ocorre o degelo o concreto irá endurecer na sua forma expandida, possuindo
des ta forma uma maior quantidade de vazios, afe tando sua resistência.
Caso o congelamento ocorra an tes do início da pega, é possível revibrar
o concreto para que ele volte ao seu volume de poros natural, entretanto tal
0
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
374
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
prática não é muito recomendada, uma vez que é difícil precisar o momento do
início da pega. S e o congelamento ocorrer após o início da pega, porém, an tes
que o material tenha adquirido uma força considerável, a expansão causa uma
perda de força irreparável. Geralmente, quanto mais avançado o estágio de
hidratação, maior será a resistência do concreto a o s efeitos do congelamento
(NEVILLE; BROOKS; 2010).
Os grupos que apresentaram maior valor de fck foram os grupos 2 e 3,
com 46,08 MPa e 39,72 MPa, respectivamente. Pe rcebe-se que a temperatura
desempenhou papel fundamental no desenvolvimento da resistência, uma vez
que n e s s e s casos , os corpos de prova não foram submetidos nem a
temperaturas muito altas, nem muito baixas. À temperatura ambiente, o concreto
não sofre perda de água de maneira acelerada, tampouco sofre de aumento de
volume de vazios devido ao congelamento da água dos capilares, fazendo com
que não haja interrupção no processo de hidratação do material. S e comparado
ao grupo 3, o grupo 2 teve maior desenvolvimento de força; tal resultado s e deve
ao fato de que no grupo 2, a umidade do corpo de prova foi sempre 1, ao p a s s o
que no grupo 3, es ta foi um pouco menor, causando uma relativa diminuição no
processos de hidratação.
S e comparados , os grupos submersos , 2, 4 e 6, apresentaram,
respectivamente, valores de 46,09 MPa, 37,75 MPa e 33,52 MPa,
respectivamente. Observa-se que houve grande discrepância nos valores. Ou
seja, n e s s e s três casos , o único fator responsável pela diferença nos resultados
foi a temperatura, visto que todos es tavam sendo curados com umidade 1.
8 Conclusão
• As condições de temperatura e umidade es tão diretamente relacionadas
entre si, s endo que a m b a s afetam diretamente a s características do material
a p ó s sua aplicação.
• Na prática, é importante levar em consideração o fato de que a temperatura
e a s demais condições climáticas do local onde o concreto será aplicado
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
375
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
podem causar efeitos não dese j ados nas estruturas, em especial naquelas
que possuem grandes superfícies planas expostas .
• A perda de umidade devido à alta temperatura é um dos principais
f enômenos que devem ser evitados, por causa r a retração plástica e
consequentemente , fissuras. A melhor solução para tal adversidade é
manter a estrutura sempre úmida.
9 Referências
MEHTA, P. Kumar; MONTEIRO, Paulo J. M. CONCRETE: Microstructure, Properties and Materials. McGraw-Hill Professional, 2005.
MI Zhengxiang; HU Yu; LI Qingbin; AN Zaizhan. Effect of curing humidity on the fracture properties of concrete. Construction and Building Materials. v. 169, p. 403-413 , mar. 2018.
NEVILLE, A. M; BROOKS, J. J. CONCRETE TECHNOLOGY. Harlow: Pearson Education Limited, 2010.
POWERS D.C. A discussion of cement hydration in relation to the curing of concrete, Highway Res. Board Proc. 27 (1947) 178-188.
SAENGSOY W.; NAWA T.; TERMKHAJORNKIT P. Influence of relative humidity on compressive strength of fly ash cement paste, J. Struct. Constr. Eng. v. 73, n. 631, p. 1433-1441, set. 2008.
SHOUKRY Samir N.; WILLIAM Gergis W.; DOWNIE Brian; RIAD Mourad Y. Effect of moisture and temperature on the mechanical properties of concrete. Construction and Building Materials. v. 25, p. 688-696, ago. 2010.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
376
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
UMA PESQUISA SOBRE A QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
Sthella Rayssa Biz dos Santos Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR sthella [email protected]
Marcos Alexandre Auler Oechsler Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
Tiélen Prestes de Lima Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR [email protected]
Daniela Trentin Nava Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR [email protected]
R E S U M O A pesquisa apresenta dados referentes ao nível de qualificação dos professores da rede pública. O professor enquanto transmissor do conhecimento busca a constante qualificação para melhor ensinar aos alunos. Através da pesquisa, coletamos os níveis de qualificação dos professores de colégios da cidade de Toledo - PR localizados no centro. Ao analisarmos os resultados percebemos uma defasagem enquanto as qualificações superiores, como mestrado e doutorado. Porém ao se deparar com diversos obstáculos para que essa qualificação aconteça, acaba ocorrendo a desistência do professor. O professor deve estar ciente de que há leis que visam o seu desenvolvimento e apoiar-se nelas é seu direito.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
377
V VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
I N T R O D U Ç Ã O
Neste trabalho vamos expor a qualificação dos professores da rede pública do
município de Toledo no ano de 2018. Sabe-se que o ensino na rede pública estadual não tem
destaque em relação às notas no IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB,
2015), pois possui média inferior a 6,0.
Compreender onde ocorre a defasagem do ensino público é uma das maneiras para
justificar ou mesmo corrigir essa nota. Porém são diversos os motivos que acarretam neste
resultado, que por entendimento de qualquer pessoa, não deve basear apenas em números,
mas sim, no desenvolvimento do aluno na sociedade e do próprio crescimento.
O nível de qualificação dos professores é apenas um dos motivos, que nem sempre
define tal resultado final, entretanto este pode ser bastante significativo. Por esse motivo
escolhemos estudarmos, mediante uma pesquisa de campo, três colégios estaduais da rede
pública do município de Toledo - Paraná.
MATERIAIS E M É T O D O S
A pesquisa se deu por meio de formulário entregue nas escolas públicas localizadas no
centro da cidade de Toledo, onde o formulário permaneceu nas mesmas por um mês para
que os professores tivessem tempo de respondê-lo. No mesmo foi questionado o sexo, a
matéria que o professor leciona, a área de graduação (uma vez que nem sempre é a mesma
área de atuação), se possui pós-graduação, mestrado e doutorado e em qual área. A Figura
1 representa um modelo de formulário entregue e preenchido pelos professores.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
378
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
Figura 1 - Modelo de formulário entregue e preenchido em uma das três escolas
públicas do município de Toledo.
Fonte: Os autores.
RESULTADOS
De posse dos dados coletados, procedeu-se a tabulação dos mesmos . As Tabela 1, 2 e 3 a seguir apresentam os dados obtidos para cada uma das três escolas investigadas, aqui denotadas por Colégio Estadual A, Colégio Estadual B e Colégio Estadual C.
Tabela 1: Nível de graduação de alguns professores do Colégio Estadual A
SEXO MATÉRIA
QUE LECIONA
ÁREA DE GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
FEM Física Física -
Física da
Matér ia
C o n d e n s a d a
-
MASC TST A g r o n o m i a Engenharia De S e g u r a n ç a d o
Traba lho - -
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
379
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
FEM TST Engenhar ia
A m b i e n t a l
Engenharia De S e g u r a n ç a d o
Traba lho
Engenhar ia
Agrícola -
FEM M a t e m á t i c a Lic. Em M a t e m á t i c a
Espec ia l i zação e m
D i d á t i c a / M e t o d o l o g i a d o
Ensino - -
FEM Língua
p o r t u g u e s a Letras
Didática e M e t . De
e n s i n o / M e t . De e n s i n o da
l íngua p o r t u g u e s a
PDE -M e m ó r i a s Literárias
-
FEM Soc io log ia
Ciências
S o c i a i s / S e c r e t a r i a d o
E x e c u t i v o / P e d a g o g
ia
G e s t ã o e s c o l a r / e d u c a ç ã o
e s p e c i a l / f i l o s o f i a / s o c i o l o g i a e
história ant iga
- -
FEM Geogra f ia Hi s tór ia /Geogra f ia
E d u c a ç ã o g e r a l / e d u c a ç ã o d e j o v e n s e a d u l t o s / h i s t ó r i a
e g e o g r a f i a
Geogra f ia n o
Ensino
Bás ico
-
Fonte: Pesquisa de campo dos autores, 2018.
Tabela 2: Nível de graduação de alguns professores do Colégio Estadual B
SEXO MATÉRIA
QUE LECIONA
ÁREA DE GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORA
DO
FEM Geogra f ia Geogra f ia Interd i sc ip l inar iedade - -
FEM Física Física C i ê n c i a s / F í s i c a / Q u í m i c a / B i o l o
gia - -
FEM M a t e m á t i c a M a t e m á t i c a / E d .
Especial
M e t o d o l o g i a m a t e m á t i c a / E d .
Especial - -
FEM Ed. Física Ed. Física Ed. Física Infantil - -
FEM Geogra f ia Geogra f ia Ed. E s p e c i a l / G e s t ã o Esco lar /Arte
na E d u c a ç ã o - -
FEM Inglês Letras P s i c o p e d a g o g i a
Inglês /Literatur a
c o r r e s p o n d e n t
e
-
FEM M a t e m á t i c a M a t e m á t i c a Ed. M a t e m á t i c a - -
Fonte: Pesquisa de campo dos autores, 2018.
Tabela 3: Nível de graduação de alguns professores do Colégio Estadual C
SEXO MATÉRIA
QUE LECIONA
ÁREA DE GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MESTRA
DO DOUTORADO
FEM Biologia C i ê n c i a s / m a t e m á t i
c a / b i o l o g i a
Ciências e Ed.
A m b i e n t a l / G e s t ã o , S u p e r v i s ã o e
O r i e n t a ç ã o Educac ional
Ensino d e
c i ê n c i a s /
M a t e m á t i
ca
-
FEM Biologia C i ê n c i a s / b i o l o g i a Ciências
m o r f o f i s i o l ó g i c a s / e d u c a ç ã o - -
a m b i e n t a l in ternac iona l
FEM Química Química C i ê n c i a s / q u í m i c a / g e s t ã o - -
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
380
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
FEM
O T P / F u n d a m e
n t o s
p s i c o l ó g i c o s da
e d u c a ç ã o
P e d a g o g i a e
g e o g r a f i a
E d u c a ç ã o e s p e c i a l / g e s t ã o
e s c o l a r / p s i c o p e d a g o g i a - -
FEM
C o n c e p ç õ e s n o r t e a d o r a s
da e d u c a ç ã o infantil
Ciências b i o l ó g i c a s / p e d a g o g
ia E d u c a ç ã o e g e s t ã o a m b i e n t a l - -
FEM
F u n d a m e n t o s h i s tór i cos da
e d u c a ç ã o / h i s t ória
His tór ia / p e d a g o g i a História r e g i o n a l / e d u c a ç ã o
e s p e c i a l e i n c l u s i v a / e d u c a ç ã o d o c a m p o
- -
FEM
Língua
p o r t u g u e s a e
l i teratura
Letras l i teratura P s i c o p e d a g o g i a e Língua
P o r t u g u e s a - -
Fonte: Pesquisa de campo dos autores, 2018.
Resumidamente, e s t e s dados es tão representados pelo Quadro 1. Observase que o número de professores que responderam ao questionário foi de apenas 26. E, desta amostra 20 possuem algum curso de especialização Lato Sensu, e s o m e n t e 6 apresentam o curso Stricto Sensu em nível de mestrado. Não houve, portanto nenhum professor com o grau de doutorado.
Quadro 1: Quadro resumo dos dados coletados
Colégios A B C Pós-Graduação 6 7 20
Mestrado 1 6 Doutorado mm 0 0
Fonte: Autores.
Para melhor visualização dos resultados obtidos, e laboram-se gráficos de setores para
cada Colégio Estadual investigado, bem c o m o um que apresenta todos os dados
conjuntamente . Esses gráficos podem ser vistos na Figura 2.
Colégio A Colégio B Pós-grad • Mestrado Doutorado Pós-grad Mestrado Doutorado
^ ^ ^ ^ 0% ^ ^ ^ ^ 0% 0%
40% 13%
60% 87%
(a) (b)
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
381
VI ENDICT - Encontro d e Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2 5 2 6 - 9 3 6 4
(c) (d)
Figura 2: Gráfico de setores dos dados obtidos em cada Colégio (a)-(c) e gráfico de
setores de todos os dados coletados (d).
Fonte: Os autores.
C O N S I D E R A Ç Õ E S FINAIS
Observa-se através da pesquisa realizada junto às escolas públicas do município de
Toledo, com o auxílio dos professores, diretores e análise dos gráficos aqui representados,
que a qualificação dos professores que atuam nessas escolas estaduais é em sua maioria,
bem qualificada.
Em todos os colégios t e m o s professores com mestrado, variando entre um a quatro mestres.
Cabe ressaltar aqui que nosso intuito com esta pesquisa era saber se havia nas redes públicas
de ensino doutores, nesse sentido, v e m o s que em nenhuma instituição há professores com
esta qualificação.
É importante destacar ainda que os professores rede pública estadual de ensino são
motivados através plano de carreira a buscar uma maior qualificação, onde a promoção na
carreira, que consiste na passagem de um nível para outro, só ocorre mediante titulação
acadêmica na área de educação ou certificação obtida por meio do Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE. Entendese por titulação cursos de Licenciatura Plena,
Especialização Lato Sensu, e os cursos Stricto Sensu e m níveis de Mestrado e Doutorado
acadêmico ou profissional.
Ressaltamos ainda que, uma vez que o professor busca a qualificação de mestrado ou
doutorado, enquanto professor da rede pública de ensino, no es tado do Paraná, ele fica
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
382
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
afastado para a conclusão dos trabalhos. Conforme garantido em documentos legais, (CASA
CIVIL, 2004).
Art. 13. Fica assegurado período de afastamento para conclusão dos
trabalhos para obtenção de Certificação/Titulação, sem prejuízo
funcional e remuneratório, com regulamentação a ser estabelecida
em Resolução.
Assim, acreditamos que os professores por muitas vezes não estão buscando uma maior qualificação, por não saberem desse direito ou por não terem um maior interesse em voltar à sala de aula no papel de aluno. Destacamos mais uma vez, que acreditamos que os professores possuem boa qualificação acadêmica. Entretanto a busca por ainda uma maior qualificação, sem sofrerem prejuízo na sua remuneração, pode tornar o ato da busca ainda mais atrativa para os mesmos, e deste modo, teríamos em sala de aula professores ainda mais qualificados, com novos métodos de ensino, uma vez que o ato de ensinar é uma eterna aprendizagem.
REFERÊNCIAS
Casa Civil - Sistema estadual de Legislação. Disponível em: <http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7 470&indice=1&totalRegistros=1>. Acesso em: 02 julho 2018.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=638513>. Acesso em: 26 junho 2018.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
383
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
PESQUISA SOBRE MATERIAIS MANIPULÁVEIS PARA O 3° ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO À DOCÊNCIA
Tayssa Carolina Baccin Asakawa 4 0
Maicon Schibilski41
Daniela Trentin Nava42
Ana Cláudia de Oliveira G. Merli43
Resumo: No ensino da Matemática o material manipulável é considerado importante para o aprendizado dos alunos, auxiliando a compreensão de conceitos de determinados conteúdos. A intenção des te trabalho é fazer um levantamento dos interesses e conhecimentos dos alunos que cursam o terceiro ano do curso de Formação de Docentes - normal em nível médio ofertado pela Rede Estadual de Ensino e técnicos pedagógicos da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED) a respeito dos materiais manipuláveis. A motivação para es ta pesquisa é ofertar oficinas para e s t e s com a temática materiais manipuláveis a fim de aprofundar os conhecimentos e aplicações para a s sér ies iniciais. Iremos aplicar um questionários para os alunos que participarão d a s oficinas referente a o s seguintes materiais: Material Dourado, Ábacos, Geoplano, Blocos Lógicos e Quadro Valor Lugar A partir dos resultados obtidos, identificamos a necess idade de aplicarmos oficinas, dando enfoque em certos materiais e s u a s aplicações, já que no curso de Formação à Docência não há tempo suficiente para a abordagem dos materiais manipuláveis como o necessário, assim com a aplicação da oficina os alunos podem obter informações complementares a respeito.
Palavras-chave: Material Manipulável; Educação Matemática; Metodologia da Matemática; Formação à Docência.
1 Introdução
Neste trabalho pesquisamos sobre o conhecimento dos alunos do 3° ano
do curso de formação à docência do Colégio Estadual Castelo Branco
(PREMEN) sobre os materiais manipuláveis para o ensino da Matemática.
Esta pesquisa es tá vinculada com a disciplina de Educação Estatística
da Profa. Dr(a) Daniela Trentin Nava e com o projeto de ex tensão "PESQUISA
40 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Acadêmica de Licenciatura em Matemática. 41 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Acadêmico de Licenciatura em Matemática. 42 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Professora do curso de Licenciatura em Matemática. 43 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Professora do curso de Licenciatura em Matemática.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
384
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
EM EDUCAÇÃO E METODOLOGIA DO ENSINO MATEMÁTICA" sob a
orientação da Profa. Me. Ana Cláudia de Oliveira G. Merli. A pesquisa foi o p a s s o
inicial do projeto, que conta com es tudantes e professores do curso de
Licenciatura em Matemática e com pedagogas do colégio Castelo Branco, onde
se rá realizada tanto a pesquisa quanto a aplicação dos questionários.
Neste trabalho apresen ta remos uma parte do projeto que consiste na
aplicação dos questionários, organização, classificação e análise d a s respostas .
A seguir se rão apresentados : objetivo, metodologia, resultados e cons iderações
finais.
2 Objetivo
A aplicação des ta pesquisa tem o objetivo de investigar os s abe r dos
alunos do curso de formação de docentes, nível médio, sobre materiais
manipuláveis aplicados ao ensino da Matemática para a educação infantil e
sér ies iniciais. A partir disso, se rão e laboradas oficinas para aprofundar os
conhecimentos e a aprendizagem dos alunos acerca des t e s materiais para o
curso de formação à docência.
3 Metodologia
A pesquisa foi aplicada para os 21 alunos do terceiro ano do curso de
Formação de Docentes, Nível Médio, do Colégio Estadual Presidente Castelo
Branco (PREMEN) na cidade de Toledo/PR, por meio de um questionário
formado por 10 perguntas fechadas . A aplicação da pesquisa foi realizada pela
professora regente durante a aula de Metodologia da Matemática. O modelo do
questionário es tá disponível no Anexo I.
Na pesquisa t ratamos sobre 5 principais materiais manipuláveis: Material
Dourado, Ábaco Comum e Ábaco de Frações, Geoplano, Quadro de Valor Lugar,
Blocos Lógicos e Escala Cuisenaire, os quais s ã o trabalhados no Ensino
Fundamental 1. A seguir s ã o abordados os conceitos nos quais b a s e a m o s nosso
e m b a s a m e n t o teórico e que pre tendemos investigar.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
385
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O Material Dourado foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar o ensino
e a aprendizagem da matemática. Possibilita atividades práticas para construção
numérica, com cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão.
Confeccionado em madeira, normalmente composto por um cubo representando
o milhar de 10 cm x 10 cm x 10 cm, dez placas representando a s cen tenas
medindo 10 cm x 10 cm x 1 cm, cem prismas medindo 1 cm x 1 cm x 10 cm
representando a s d e z e n a s e mil cubinhos medindo 1 cm x 1 cm x 1 cm
representando a s unidades.
O Ábaco Comum é um instrumento utilizado para realizar cálculos,
proporcionando uma aprendizagem prática. Possibilita d e s d e o reconhecimento
de quant idades d e s d e cálculos com a s quatro operações . Confeccionado em
M.D.F. plástico e madeira, sua b a s e possui 05 vare tas fixas e 50 argolinhas com
10 argolas em cada vareta representando uma c a s a decimal.
O Ábaco de Frações ou régua de f rações como também é conhecido, é
semelhante ao ábaco comum, porém em cada vareta apresenta um inteiro
dividido em partes, em cada vareta o todo é dividido em partes diferentes e a
criança pode comparar a s f rações e fazer assoc iações .
O Geoplano auxilia no desenvolvimento do raciocínio matemático,
possibilitando atividades com figuras e formas geométricas, possibilita a
visualização d a s características e propriedades delas (vértices, ares tas , lados),
ampliação e redução de figuras, simetria, á rea e perímetro. Normalmente é
confeccionado com uma b a s e na qual é cheia de furos e pinos e com um cordão
a criança dá forma a s figuras geométricas.
O Quadro de Valor lugar ou cavalo como também é conhecido consiste
em um painel normalmente confeccionado em tecido semelhante a uma
sapateira e cada divisão representa uma ca sa decimal, nele s ã o inseridos palitos
coloridos e de forma semelhante ao ábaco comum o aluno pode realizar a s
quatro operações bás icas da matemática.
Com os Blocos Lógicos a s crianças desenvolvem os primeiros conceitos
de tamanho, espessura , cor e forma. Permite realizar atividades de classificação,
o rdenação e seriação. Consiste em um kit com vários sólidos geométricos com
cores e t amanhos diferentes, normalmente confeccionados em madeira ou EVA.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
386
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Na Escala Cuisenaire a s barrinhas coloridas tem o objetivo de ajudar a
criança a desenvolver conceitos lógicos matemáticos, a través de atividades de
s u c e s s ã o numérica, comparação e inclusão, a s quatro operações , dobro,
me tade e f rações. É composta por várias barrinhas coloridas onde cada barra
tem uma cor e um tamanho correspondente a um número.
4 Resultados e Discussões
Na tabela 1 abaixo, verificamos a relação entre os conhecimentos sobre
os materiais manipuláveis, Material Dourado, Ábaco Comum ou Ábaco de
Fração, Geoplano, Blocos Lógicos, Escala Cuisenaire e Quadro de Valor Lugar,
dos alunos de formação à docência.
Tabela 1 - Dados coletados dos alunos de 3° ano do curso de Formação à
Docência do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco - Toledo/PR sobre o
conhecimentos dos materiais manipuláveis
Material Dourado
Ábaco Comum
Geoplano Blocos Lógicos
Escala Cuisenaire
Quadro Valor Lugar
Conhece
e já 17 5 2 14 7 7
usou
Conhece
m a s não 3 4 8 6 8 5
usou
J á ouviu
falar 1 9 10 1 4 3
Não
conhece 0 3 1 0 2 6
Fonte: Autores (2018).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
387
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Verificamos que existem diferenças entre o conhecimento de materiais
manipuláveis de um para o outro. Por exemplo, os alunos têm maior
conhecimento e já aplicaram em atividades relacionadas com o ensino da
Matemática sobre o Material Dourado. Por outro lado, o Geoplano, apresen ta o
menor índice de alunos que conhece a respeito do material e já usarem em
alguma ocasião. Em seguida apresen ta remos o gráfico de cada material.
O Material Dourado, por ser um material didático popular na educação
infantil, o e spe rado era que, pelo menos, a metade dos alunos de formação à
docência c o n h e c e s s e a respeito.
Material Dourado u
5%
14%
/o
• C o n h e ç o a s a p l i c a ç õ e s e já u s e i
• C o n h e ç o a s a p l i c a ç õ e s m a s n u n c a u s e i
• Já o u v i f a l a r
81% • N ã o c o n h e ç o
Figura 1 - Dados coletados sobre a concepção de Material Dourado. Fonte: Autores (2018).
Na figura 1, podemos observar que 81% dos alunos conhecem e já
aplicaram o material para ser ies iniciais e é uns dos materiais que não
apresentaram índice de que os alunos não conhecia e s t e material.
Sobre o Ábaco Comum e Ábaco de Frações, foi apresen tado perguntas
referentes a cada tipo de Ábaco.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
388
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Ábaco Comum e Ábaco de Frações
14% 24%
• Conheço o ABACO COMU M as aplicações e já usei
• Conheço o ABACO DE FRAÇÕES as apl icações mas nunca usei
• Conheço a m b o s o s materiais e as
• ^ ^ • 0 %
19%
aplicações e já usei
43%
• 0 %
19%
• Conheço as apl icações m a s nunca usei
• Já ouvi falar
• Não c o n h e ç o
Figura 2 - Dados coletados sobre a concepção de Ábaco Comum e Ábaco de Frações.
Fonte: Autores (2018).
O conhecimento referente ao Ábaco Comum apresen ta 24% do total,
porém 43% dos dados, aproximadamente a metade dos alunos, disseram já ter
ouvido falar sobre os Ábacos. Entretanto, nenhum aluno manifestou conhecer
sobre o Ábaco de Frações. Estes dados possui o maior índice de não
conhecimento de ambos os materiais, totalizando em 14% dos alunos.
Na Figura 3, ap resen tamos o gráfico do material Geoplano. Nele os
dados s ã o variados e bem definidos. Muito dos alunos já ouviram falar sobre o
material, e a p e n a s 9%, conhecem e s abem a s aplicações des te material
manipulável.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
389
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 3 - Dados coletados sobre a concepção de Geoplano. Fonte: Autores (2018).
Muitos alunos assinalaram a resposta "Já ouvi falar". O que já era
esperado, pois em conversa com a professora responsável pela disciplina de
Metodologia da Matemática, como o material s e encaixa no conteúdo de
Geometria, o que é difícil por conta da carga horária e tempo, a professora
acredita que os alunos não teriam contato com o material e solicitou que seria
interessante dar ên fa se nes te material na e laboração de oficinas do projeto de
extensão.
Na Figura 4, ap resen tamos os dados obtidos dos Blocos Lógicos.
Blocos Logicos 0 %
5% • C o n h e ç o a s a p l i c a ç õ e s e
já u s e i
2 8 %
6 7 %
• C o n h e ç o a s a p l i c a ç õ e s m a s n u n c a u s e i
• Já o u v i f a l a r
• N ã o c o n h e ç o
Figura 4 - Dados coletados sobre a concepção de Blocos Lógicos. Fonte: Autores (2018)
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
390
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Nota-se que os resultados s ão parecidos com o Material Dourado, pois
não teve nenhum voto para o "Não conheço" e a maioria dos alunos conhece
e/ou s a b e a s aplicações do material. Obtemos a m e s m a porcentagem de alunos
que já ouviram falar do Blocos Lógicos e Material Dourado.
A Escala Cuisenaire, embora bas tante conhecida na Educação Infantil,
por ser um material visual, é interessante abordar no questionário e perguntar
sobre os conhecimentos a respeito para os alunos. Os resultados podem ser
verificados na Figura 5.
Escala Cuisinaire
• C o n h e ç o a s a p l i c a ç õ e s e já u s e i
• C o n h e ç o a s a p l i c a ç õ e s m a s n u n c a u s e i
• Já o u v i fa lar
• N ã o c o n h e ç o
Figura 5 - Dados coletados sobre a concepção de Escala Cuisenaire. Fonte: Autores (2018)
Observamos que os dados indicam que 38% dos alunos conhecem es te
tipo de material, m a s não sabem utilizar. Este resultado permite verificar que é
interessante dar maior ê n f a s e na aplicação da oficina, já que a maioria dos
alunos conhece, mas não s abem a s possíveis aplicações.
No Quadro de Valor Lugar, obtemos o maior índice de alunos que não
conhece o material.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
391
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 6 - Dados coletados sobre a concepção de Quadro de Valor Lugar. Fonte: Autor (2018).
A quantidade percentual dos alunos que conhecem o material e s a b e a s
apl icações s ão q u a s e iguais à s porcentagens de alunos que não conhecem o
material. Na tabela 1, podemos observar que há a p e n a s um aluno de diferença.
A fim de verificar a importância do uso de materiais manipuláveis no
ensino da Matemática, a cada ques tão feita para os materiais, além do que já foi
visto, incluímos no questionário para aqueles que conhecem determinados
materiais, a pergunta acerca da importância do uso daquele material no ensino
da Matemática em sala de aula. Os resultados es tão representados pela Figura
7.
Figura 7 - Dados coletos sobre a importância do uso do Material Manipulável no ensino da Matemática.
Fonte: Autores (2018).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
392
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Observa-se que a maioria dos alunos que conhecem os materiais
respondeu que é importante o uso em sala de aula para o ensino da Matemática.
Obtivemos a p e n a s um aluno que respondeu não acha interessante o uso do
Ábaco Comum e/ou Ábaco de Frações.
Ainda no questionário entregue para os alunos, aproveitamos para saber
sobre os interesses referentes a o s materiais manipuláveis dos alunos.
Selecionamos perguntas f e chadas com a p e n a s duas alternativas, Sim e Não.
Neste momento investigou-se s e os alunos já a tuaram como auxiliar de docente
ou docente nas series iniciais, s e conhece os materiais manipuláveis, s e acha
importante o uso dos materiais manipuláveis em sala de aula e s e gostaria de
conhecer mais a respeito dos materiais manipuláveis.
Na figura abaixo, organizamos por ques tões a s respos tas dos alunos.
Figura 8 - Dados sobre interesse dos alunos referente o material manipulável. Fonte: Autores (2018).
Tivemos como resposta não em duas questões: Se já atuou como docente ou auxiliar
de docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental e Se conhece os materiais manipuláveis.
Os restantes dos alunos responderam sim para todas a s ques tões . O
objetivo d e s s a s ques tões é fundamental para o projeto de extensão, pois como
todos os alunos manifestaram interesse nos materiais manipuláveis para o
ensino da Matemática e gostaria de saber mais sobre os materiais, torna-se
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
393
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
viável e permite nortear a aplicação de oficinas para os alunos de Formação à
Docência.
5 Considerações Finais
A partir dos resultados observados nesta pesquisa, verificamos que ao
aplicar a s oficinas de Matemática ao curso de formação de docentes,
necess i tamos dar menos foco a alguns materiais, por exemplo, o Material
Dourado que 81% dos entrevistados já conhecem e utilizaram, os Blocos
Lógicos, a maioria já conhece e sabem a s aplicações, e a escala Cuisenaire, a
maioria conhece e usou ou conhece s u a s aplicações, mas não aplicaram. Por
outro lado, os materiais mais interessantes de serem nesta oficina s ão os
Ábacos, o Geoplano e o Quadro de Valor Lugar.
O que motiva a aplicação das oficinas é o fato de que a maioria acredita
ser importante o uso dos materiais em sala de aula, porém como o curso de
Formação à Docência não dispõe de carga horária suficiente para a abordagem
de todos es t e s materiais na disciplina de Metodologia da Matemática, s e faz
necessár io buscar informações complementares, e es ta é a grande proposta
des te projeto de Extensão. Futuros trabalhos s ão pensados com a finalidade de
avaliar a aplicação das oficinas com os alunos.
REFERÊNCIAS
ALMIRO, João. Materiais manipuláveis e tecnologia na aula de Matemática ,2004.
SOUSA, Giselle C. de; OLIVEIRA, J o s é D. S. de. O u s o de materiais manipuláveis e jogos no ensino de matemática. 2010.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
394
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ESTUDO ACERCA DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO CONCRETO
Thiago Antunes Ribeiro da Paz 1
Acadêmico do curso de Engenharia Civil da UTFPR campus Toledo
Carlos Eduardo Tino Balestra2
Prof. Dr. Do curso de Engenharia Civil da UTFPR campus Toledo
Introdução
No meio d a s definições do concreto temos que, segundo NEVILLE
(2008) o concreto em um conceito mais amplo, é qualquer produto ou m a s s a
feita pelo uso de um meio cimentante. Geralmente o meio de produção é uma
reação entre cimento hidráulico e água. Porém e s s a definição nos dias de hoje
poderia abarcar inúmeros tipos de concretos em s u a s diversas misturas e
materiais, devido os avanços na produção des te importante material da
construção civil. Dentre outras literaturas, dispomos também a que apresen ta
outra definição para o concreto, que nos diz: "O concreto é uma mistura
homogênea de cimento, ag regados miúdos e graúdos, com ou sem a
incorporação de componentes minoritários (aditivos químicos e adições), que
desenvolve s u a s propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento
(BATTAGIN,2009)". Es tas definições confluem para descrever um material que
é muito difundido na atualidade e es tá nas obras em esfera nacional e
internacional, contudo sua aplicação s e dá majoritariamente at ravés de
estruturas a rmadas , ou seja, com aço inserido nos e lementos de concreto.
Os primeiros es tudos acerca de um concreto a rmado s e deram no século 19
pelo engenheiro f rancês Joseph Louis Lambot (1814 - 1887) que efetuou
experiências introduzindo fer ragens em m a s s a s de cimento. Duas obras s e
des tacam des te engenheiro: uma parede de a r g a m a s s a com grande número de
barras de ferro e um barco de "cimento armado" que flutuou no sul da França, o
qual provavelmente s e valia de barras finas de ferros ent re laçadas com barras
grossas .
O trabalho do barco foi apresen tado em uma exposição por Lambot e despertou
a curiosidade de Joseph Monier (1823 - 1906), o qual utilizou a ideia de um
"cimento armado" para a fabricação de caixas para plantas. Doravante ele
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
395
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
fabricou mais peças com a finalidade de entrar em contato com a água, sendo
assim, bacias, caixas d 'água e tubos para encanamen tos foram sendo feitos por
ele. Em 1875 construiu uma ponte de 16,5 metros da vão e 4,0 metros de largura
nas propriedades do Marquês de Tillière. Seu trabalho foi s endo expandido pela
Europa e Monier sagrou-se inventor do concreto armado. (João Dirceu Nogueira
de Carvalho, 2008).
Sabido a importância do concreto armado, é necessár io investigar s u a s
propriedades, principalmente sua resistência a tração, des ta forma o presente
trabalho visa apresentar uma revisão da literatura a respeito dos diferentes
métodos de ensaio apresen tados na literatura, a t ravés de uma busca em artigos
científicos nas plataformas Sciencedirect.com, Scopus, Web of Science e
Google Acadêmico.
1 Resumo
Segundo PALÁCIOS (2012), devido a s s u a s características, o concreto
é um dos materiais mais consumidos no mundo. Sob e s s a perspectiva vemos
atualmente obras feitas a partir de concreto armado, ou seja, barras de aço
imersas em um elemento estrutural feito de concreto. Tal fato s e dá para
maximizar a resistência a tração que quando esgotada gera fissuras,
evidenciando assim uma importante propriedade no que diz respeito à
durabilidade de membros estruturais (FARIAS, et al., (2000) apud OLUOKUN,
1991).
Muitas s ã o a s metodologias para a obtenção do valor da resistência a
t ração do concreto e o presente trabalho tratará de alguns ensa ios para e s s a
busca. Além disto, é de suma importância correlacionar os ensaios, pois nem
sempre existe a disponibilidade de execução de todos eles em uma situação
prática.
2 Revisão de Literatura
Neste capítulo se rão descritas a s principais metodologias utilizadas para
a determinação da resistência à t ração do concreto, segundo diferentes artigos
encontrados na literatura.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
396
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
o Tração direta:
• A New Approach for Measurement of Tensile Strength of Concrete
• Direct Tensile Tes ts on Concrete Specimen
o Ensaio Barcelona
• Comparative evaluation of test methods for determining the
toughness of fiber reinforced concrete
• The challenges to the use of fiber reinforced concrete a s a structural
material
• Toughness evaluation of fiber reinforced concrete using open-loop
test
o Ensaio de Tração por Compressão Diametral
• Concrete Traction: Comparison between the Methods of Traction
Tests by Diametral Compression and Flexural Buoyancy
o Ensaio de Tração na Flexão
• NBR 12142 (2010) - Concreto - Determinação da resistência à
t ração na flexão em corpos-de-prova prismáticos
2.1 Ensaios de tração direta em corpos de prova de concreto
Segundo FARIAS, et al., (2000) apud Mehta e Monteiro (2008) relatam
que os ensa ios de tração direta no concreto sofrem certa relutância quanto à sua
aplicação, devido os dispositivos de fixação dos corpos de prova introduzirem
t ensões secundár ias que precisam ser levadas em consideração, pois o errado
proceder à tração na máquina de ensaio influência nos resultados. Nessa
perspectiva SCHUMAN;TUCKER, (1943) e LEROY (1997) apresen tam dois
modelos para minimizar possíveis erros que possam ser inferidos nes tes
ensaios, s endo os dois modelos aplicados de uma maneira direta.
O primeiro modelo de SCHUMAN e TUCKER foi concebido através de
discos onde s ão acopladas has tes rotuladas para fixação a o s dispositivos da
prensa de ensaio conforme a Figura 1. Os corpos de prova tem 10 cm de
diâmetro e 40 cm de altura e na região da a r g a m a s s a s ão fixados quatro
parafusos rosqueados com 9,5 mm de diâmetro, 12 cm de comprimento e
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
397
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ancoragem de 8 cm. Para fusos e s t e s usados para fixação de discos de aço no
corpo de prova. Um detalhe a s e considerar é que o concreto moldado nos 20
cm centrais do molde e os 10 cm a partir da b a s e e do topo, s ão moldados com
a r g a m a s s a de traço em peso 1:1,5, com relação A/C de 0,35 para adap tação no
dispositivo.
Figura 1 - Tração Direta por Schuman e Tucker
Fonte: FURNAS (1997).
LEROY (1997) desenvolve um modelo que aplica tanto para corpos de
prova moldados quanto para tes temunhos (Figura 2a), com relação
altura/diâmetro igual a 2,0 e utiliza um conjunto de pescadores de tes temunhos
de concreto, com duas caixas de mola cônica circulares que prendem
firmemente os corpos de prova apresen tado na Figura 2b, permitindo assim que
se jam tracionados e a t ransmissão t ensão de tração é feita através de t ampas
acopladas a um sis tema que evita a rigidez do conjunto.
Figura 2 - (a) Corpo de Prova Pos ic ionado para Ensaio de Tração Direta.
(b) Disposit ivo de Ensaio de Tração Direta Desenvolv ido por Leroy.
Fonte: (Engenheiros de FURNAS, 1997).
Posteriormente o laboratório de concreto de FURNAS comparou e s s e s
2 ensa ios descritos acima com dados encontrados em seu banco de dados, s e
valendo também dos ensa ios de compressão diametral e t ração na flexão.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
398
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Utilizou-se corpos-de-prova confeccionados com grande variedade de
misturas de concreto, incluindo diferentes cimentos, adições pozolânicas, níveis
de resistência à compressão e principalmente diferentes tipos de concreto:
convencionais obtendo 817 resultados e compactado com rolo com 330
resultados, todos descritos na Tabela 1.
Tabela 1 - Correlações entre a Resis tência à Tração e a Res is tência à
C o m p r e s s ã o no Concreto Convencional e Concreto compactado c o m
Rolo.
Faixa de Resis tência à C o m p r e s s ã o (MPa)
Método Direto (%)
Método Indireto (%)
Concreto Convencional Leroy Schummam & Tucker
Tração por Compressão
Diametral
Tração na Flexão
5-10 11,4 9,6 18,7 26,0 10-20 8,1 7,4 13,0 18,6 20-30 6,8 6,5 10,6 14,3 30-40 6,2 6,2 9,6 14,3 40-50 5,9 6,0 9,1 13,6
Concreto compactado com Rolo Leroy Schummam &
Tucker
Tração por Compressão
Diametral
Tração na Flexão
5-10 8,5 7,0 13,7 20,0 10-20 8,8 6,7 13,3 17,6
Fonte: Furnas (1997).
Segundo SARFARAZI, et al., (2016) é de suma importância utilizar
métodos diretos, haja vista que e les descrevem fielmente o verdadeiro valor da
t ração no concreto. Estes autores não vêm confiabilidade nos métodos indiretos
e desenvolvem um método direto para a determinação da resistência a t ração
do concreto (Figura 3a). Também existe uma análise de e lementos finitos através
de um código de modelagem matemática, pois o corpo de prova apresen ta um
furo em seu centro que gera uma concentração de t ensão ao seu redor (Figura
3b), possibilitando determinar que não existe e s t r e s se compressivo na metade
do comprimento da amostra. A amostra falha sob carga de tração an tes que
ocorra falha por t ensão de cisalhamento em a m b a s a s extremidades da amostra.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
399
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
E s s e novo modelo de ensaio de tração direta é denominado
"Transformador de compressão para tensão" e permite a alternância entre a
aplicação da carga de tração e a carga compressiva no m e s m o corpo de prova
durante a colocação em uma máquina de compressão convencional e utiliza
adesiva a b a s e de epóxi forte para evitar uma eventual excentricidade, que é de
suma importância para realização d e s s e ensaio.
Segundo a Tabela 2 foi possível fazer um comparativo com o Ensaio
Lobo Carneiro que ao final dos ensa ios pode perceber que em relação ao tes te
brasileiro obteve-se um valor menor cerca de 33% da resistência à tração
anal isando a média entre os valores de resistência à compressão das faixas.
Figura 3 - (a) Montagem do disposi t ivo denominado "Transformador de
c o m p r e s s ã o para tensão". (b) O Padrão de Falha de Tração nas Amostras .
Fonte: R Periodica Polytechnica Civil Engineering (2016)
Tabela 2 - Resul tados da resistência à tração direta e tes te de força de divisão(Ensaio por C o m p r e s s ã o Diametral).
Amostra Força de tração direta (Mpa)
Força de tração de divisão (Mpa)
1 3,1 4,5 2 3,1 4,7 3 2,9 4,4
Média 3 ,03 4 ,53 Fonte: R Periodica Polytechnica Civil Engineering (2016).
2.2 Ensaio de Tração Barcelona
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
400
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
O ensaio Barcelona vem numa necess idade de testar a qualidade de
estruturas feitas a partir de Concreto Reforçado com Fibras (CRF), material e s t e
que usualmente é tes tado pelo equipamento de flexão. O equipamento que
realiza ensa ios de flexão em vigas não é comumente encontrado nos
laboratórios, fazendo com que o ensaio Barcelona seja uma opção viável. Outro
ponto a s e observar é que s e podem comparar os dois ensaios, pois ambos
encontram a tenacidade do material tes tado
(TOALDO;MONTE;FIGUEIREDO,2014 apud PUJADAS,2013).
Existe a opção do ensaio Barcelona simplificado (opção totalmente
confiável, pois infere um erro inferior a 6,7% ) que mede o des locamento vertical
da prensa não precisando medir o aumento do perímetro da amostra como seu
an tecessor (Ensaio Barcelona).
O procedimento consiste em utilizar uma prensa universal puncionando
corpos de prova cilindricos, com diâmetro de 150mm para corpos de prova
moldados e 100mm para tes temunhos extraidos, a partir de discos de carga com
diâmetro equivalente a 25% do diâmetro do corpo de prova e por fim verificar o
des locamento vertical da prensa (Figura 4).
Figura 4 - Ensaio Barcelona Simplificado Fonte: Congresso Brasileiro de Concreto (2013).
É possível fazer um comparativo entre o ensaio de flexão e o Barcelona,
haja vista que não há no Brasil nenhuma norma que regulamente o tes te de
tenacidade para CRF, resultante da (Figura 5) que mostra que o aumento de
fibras no concreto evidencia um comparativo mais equivalente.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
401
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 5 - Resultados Comparativos dos Ensaios de Tração na Flexão e Barcelona Simplificado (figuras apresentadas nesta ordem) com teor de
0,5% de Fibras de Aço. Fonte: Revista Matéria (2014).
2.3 Ensaio de tração por compressão diametral
Este ensaio surgiu com a ideia de traspor uma igreja de lugar (Figura 6).
Primeiramente o Engenheiro Fernando Lobo Carneiro ficou incumbido d e s s a
tarefa na Cidade do Rio de Janeiro, em 1943. Como nesta época a segunda
guerra mundial es tava acontecendo, havia uma e s c a s s e z de rolos de metal para
movimentar a igreja, prática e s s a já utilizada em outros países . Foi então que
Carneiro ensaiou rolos de concreto com 60 centímetros de diâmetro. Sua
tentativa não logrou êxito e os rolos de concreto não suportaram a carga. Então
o engenheiro continuou s u a s investigações acerca do que havia ocorrido e
propôs um novo método para a determinação da resistência à t ração dos
concretos (Figura 7). Consistia em bas icamente deixar o corpo de prova na
horizontal e aplicar a ele uma compressão que gera consigo esforços laterais
evidenciando a resistência à tração.
O ensaio logo s e espalhou para o exterior e pa í ses como França e
Es tados Unidos s e interessaram muito sobre ele. Atualmente ele é reconhecido
e efe tuado por diversos países , e no Brasil faz parte da NBR-7222-94.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
402
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 6 - S imulação de Des locamento sobre rolos
Fonte: Clube do Concreto (2013).
Figura 7 - Ensaio de Tração por C o m p r e s s ã o Diametral
Fonte: USP (2018).
2.4 Tração na flexão.
Ensaio regulamentado pela NBR 12142 (2010) que consiste em ensaiar
corpos de prova prismáticos conforme a Figura 8, aplicando duas cargas iguais
e simetricamente dispostas em relação ao meio do vão e avaliando os resultados
a partir do local onde ocorreu a ruptura a partir de s is tema sis tema (analógico ou
digital) para a medição d a s forças.
Figura 8 - Ensaio de Tração na Flexão
Fonte: So lução Engenharia (2017).
Um comparativo entre os ensaio de Tração na Flexão e Compressão
Diametral foram feitos por MATOS, et al. (2016) que utilizaram 3 c l a s ses de
concreto e 36 corpos de prova obtendo os resultados da Tabela 3.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
403
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Tabela 3 - Tabela comparativa entre m é t o d o s de tração.
C o m p r e s s ã o Axial Tração por C o m p r e s s ã o Diametral Tração por Flexão (Mpa) (Mpa) (Mpa) 20,2 3,2 4,4 29,6 3,3 4,6 33,4 3,3 5,2
Fonte: MATOS, et al. (2016).
Foi possível concluir que os valores obtidos no ensaio por flexão s ão
maiores e que a diferença pode ser de mais de 35% quanto maior forem à s
c l a s ses do concreto comparadas entre os dois métodos. Porém o ponto principal
foi achar valores que s ão plausíveis com a literatura referenciada, que preconiza
um valor próximo (ou levemente superior) de 10% da resistência a compressão
para a resistência a tração.
3 Cons iderações Finais
A figura 9 descreve os comparativos feitos apresen tando os resultados
de tração no concreto segundo métodos abordados.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
404
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
9b
9c 9d
Figura 9 - (a) Comparativo de Tração Direta ( Concreto Convencional). (b) Comparativo de Tração Direta ( Concreto compactado com Rolo). (c) Valores do "Transformador de Tensão" comparados com valores do método de Lobo Carneiro. (d) Comparativo de Tração por Compressão Diametral e na Flexão.
A tração do concreto é uma propriedade física que não tem um
significado absoluto e é sempre expressa em termos do procedimento específico
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
405
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
do ensaio. Métodos diretos e indiretos de ensaio para a determinação da t ração
fornecem um resultado característico FARIAS, et al.,2000 apud OLUOKUN,
1991. Portanto fazer comparativos é de suma importância para que o resultado
obtido não saia de um "range" descrito em literaturas base .
Comparativos s ã o importantes para auxiliar na determinação de valores
para a resistência do concreto a tração, pois nem sempre s e encontra
disponibilidade e aparato para realizar os inúmeros ensa ios para obter tal valor.
O compilado de bibliografias e vasto acervo de gráficos e tabelas comparativas,
s em dúvida a tenua a s dúvidas quanto ao real valor da resistência a tração,
tomando-se qualquer ensaio acessível.
Neste viés es te trabalho s e norteou, pois, com os artigos registrados foi
possível analisar mutuamente e s s a s 4 metodologias muito utilizadas dentro e
fora do país.
Porcentagens foram anal isadas nas tabelas, podendo auxiliar numa
tomada de decisão de um indivíduo que avalie utilizar determinado ensaio por
fatores como: disponibilidade, montagem e preço do equipamento.
Também ficaram notórios os cuidados e particularidades de cada ensaio
quanto a sua realização, pois erros podem ser inferidos na má execução de cada
um, tornando a comparação de valores totalmente ineficaz.
4 Referências A.M.NEVILLE; J.J .BROOKS. Concrete Technology. 2. ed. [S.l.]: Pearson, 2008.
ABNT. NBR 12142/2010 - Concreto - Determinação da resistência à tração na flexão em corpos-de-prova prismáticos.
BATTAGIN, A.F. Uma breve história do c imento Portland. Disponível em <http:// www.abcp.org.br/basico_sobre_cimento/historia.shtml>. Acesso em: 12 jun. 2018
CARVALHO, J. D. N. de. Sobre as origens e desenvolvimento do concreto. Revista Tecnológica, 2008.
CONCRETO, C. do. A ORIGEM DO BRAZILIAN TEST - Lobo Carneiro. 2013. Disponível em: <http://www.clubedoconcreto.com.br/2013/09/a-origem-do-brazilian-test.html>. Acesso em: 04/08/2018.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
406
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ENGENHARIA, S. Tração na Flexão. Rio de Janeiro: [s.n.], 1991. Disponível em: <http://www.solucao.eng.br/novo/ensaios-em-concretos.html>. Acesso em: 27/07/2018.
FIGUEIREDO, A. D. de. Os desaf ios para o u s o do concreto reforçado com fibras c o m o material estrutural. In: IBRACON, 2014, São Paulo. 56o Congresso Brasileiro do Concreto. São Paulo, 2014.
FARIAS,L.A.etal. Ensaios de Tração Direta em Corpos de Prova de Concreto .p.1-9,2000.
MONTE, R.; TOALDO, G. S.; FIGUEIREDO, A. D. de. Avaliação da tenacidade de concretos reforçados com fibras através de e n s a i o s com s i s tema aberto. Revista Matéria, v. 19, n. 02, p. 132 - 149, Janeiro 2014.
MATOS, L. A. et al. Tração do Concreto: Comparação entre o s Métodos de Ensaios de Tração por Compressão Diametral e Tração por Flexão. In: CREA-JR MG, 2016. IV Fórum das Engenharias. [S.l.], 2016.
PALACIOS, M.P.G., Emprego de Ensaios Não Destrutivos e de Extração de Tes temunhos na Avaliação da Resistência à Compressão do Concreto. Dissertação de Mestrado em Estruturas e Construção Civil, Publicação E.DM007A/12, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2012.
SARFARAZI, V. et al. A New Approach for Measurement of Tensile Strength of Concrete. R Periodica Polytechnica Civil Engineering, p. 199 -203, 2016.
TOALDO, G. S.; MONTE, R.; FIGUEIREDO, A. D. de. Avaliação comparativa de métodos de ensa io para a determinação da tenacidade do concreto reforçado com fibras. In: IBRACON, 2013, São Paulo. 55o Congresso Brasileiro de Concreto. São Paulo, 2013.
TEIXEIRA, P. W. G. N. Materiais: concreto e aço. Disponível em: <http://www.lem.ep.usp. br/pef2604/TerceiraAulaPEF2604.pdf>. Acesso em: 23/06/2018.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
407
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
RECONHECIMENTO DE ESPÉCIES FLORESTAIS BASEADO NA ESTRATÉGIA DE COMBINAÇÃO DE CLASSIFICADORES EM
DOIS NÍVEIS
Thiago Auler Wideck44
Jefferson Gustavo Martins45
Resumo Devido a ques tões comerciais e ecológicas que compreendem os diferentes valores d a s madeiras e também sua extração irregular de matas nativas, a identificação da espéc ies florestais das quais e s t a s foram obtidas tem ganho grande importância. Este trabalho foca a classificação de espéc ies florestais por meio de imagens microscópicas de sua madeira. Para isso, dois amplamente conhecidos descritores texturais foram extraídos e utilizados na construção de classificadores. Tais classificadores têm s u a s dec isões parciais combinadas em dois níveis para compor a decisão final do sis tema para identificação de espéc ies florestais. Os melhores resultados a lcançados foram 93,03% (a = 0,54) e s ã o superiores a o s a lcançados em outros trabalhos realizados com a m e s m a b a s e de imagens e descritores texturais. Palavras-chave: visão computacional; descritor textural; f u são de classificadores.
1 Introdução
Com o advento da globalização e a redução da disponibilidade de matéria-
prima, a comercialização de madeira s e des taca como uma importante á rea de
negócios. Compradores devem s e certificar de que es tão comprando o material
correto enquanto agências supervisoras precisam garantir que não haja madeira
extraída irregularmente d a s florestas. Possíveis f raudes decorrerentes de
misturas de diferentes tipos de madeira, d a s mais nobres à s menos valorizadas,
e da tentativa de extração e exportação de madeira proveniente de espéc ies
sujei tas à extinção. Ioannou et al.. (2009) des tacam a diversidade dos tipos de
madeira existentes, a grande variação de sua aparência em decorrência de s u a s
cores e texturas, além de propriedades químicas, físicas e mecânicas que a s
44Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Acadêmico de Eng. de Computação. 45Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Docente Coord. Tecn. Sist. para Internet.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
408
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
tornam próprias ou impróprias para certas aplicações e determinam seu valor
comercial.
A identificação da espécie florestal da qual a madeira foi extraída s e torna
mais difícil à medida que a madeira s e distancia do ponto de sua origem.
Características (folhas, frutos, sementes , cores, odores, dentre outras) s e
perdem ao s e retirar os troncos das florestas e processá-los por meio de cortes
e o trabalho de especialistas humanos tem influência de sua subjetividade e do
processo repetitivo, monótono e demorado (RADOVAN et al., 2001). Neste
contexto, s is temas dotados de visão computacional tornam-se muito
interessantes a es ta área comercial devido a uma série de vantagens. Tou et al.
(2007) empregaram Matriz de Co-ocorrência em Níveis de Cinza (Gray-Level
Co-occurrence Matrix - GLCM) para treinar um classificador baseado em Multi-
layer Perceptron (MLP). As taxas de reconhecimento das espécies florestais
ficaram entre 60% e 72% para cinco diferentes espécies. Weber e Martins (2017)
e Wideck et al. (2017) empregaram diferentes estratégias para identificar a s
espéc ies florestais da base apresentada na Seção 2.2. Seus melhores
resultados foram 85,25% (a = 1,21) e 80,20% (a = 0,82), respectivamente.
Este trabalho foca a identificação de espécies florestais por meio de
imagens microscópicas de sua madeira e a combinação de decisões parciais de
classificadores em dois níveis. A Seção 2 apresenta os materiais e métodos, com
foco em reconhecimento de padrões, s is temas com múltiplos classificadores e
sua combinação, base de dados e descritores. Resultados e discussões são
contemplados na Seção 3 e conclusões finais es tão na Seção 4.
2 Material e métodos
2.1 Reconhecimento de Padrões
Um sistema para reconhecimento de padrões contempla a s seguintes
etapas: aquisição, pré-processamento, segmentação, extração de
características e classificação. Cada e tapa possui contexto e níveis de
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
409
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
complexidade próprios e envolve conhecimentos específicos, além dos inerentes
ao domínio da aplicação.
Durante a aquis ição a imagem é capturada e a rmazenada em algum tipo
de mídia utilizando um sistema de cores, resolução e quantização específicas
(PEDRINI e SCHWARTZ, 2008). Devido à possibilidade de problemas
decorrentes da aquisição, o pré-processamento foca a melhoria da qualidade
da imagem com a a tenuação de ruídos, correção de contraste ou brilho e
suavização de determinadas propriedades da imagem. A s e g m e n t a ç ã o constitui
a e tapa em que s e extrai e s e identifica a s á reas de interesse presentes em uma
imagem. A partir des te ponto, a extração de características permite identificar
um descritor (conjunto de características) adequado para a representação da
área de interesse. A c lass i f icação utiliza a s representações anteriores para
diferenciar os objetos nas imagens, atribuindo-lhe identificador e significado
conforme seus descritores (PEDRINI e SCHWARTZ, 2008).
A grande variedade de problemas, representações de dados e algoritmos
de classificação geraram também diferentes alternativas de classificadores.
Cada uma apresenta vantagens e desvantagens em diferentes situações, o que
impossibilita a escolha e o emprego de um único classificador e conduzem aos
Sis temas com Múltiplos Classificadores (Multiple Classifier Systems - MCSs)
(KHREICH, 2011).
As propostas para MCSs podem compreender três possíveis fases :
geração, seleção e integração. Na primeira f a se tem-se a construção dos
classificadores. A seleção não é caracterizada como obrigatória e consiste na
escolha de um subconjunto dos classificadores gerados na primeira fase. A fase
de integração compreende a combinação (interpolação) dos classificadores
selecionados, caso o subconjunto não contenha um único classificador
(KHREICH, 2011).
Este trabalho foca a combinação, em dois níveis, de classificadores
construídos a partir de características texturais de imagens microscópicas de
madeira (Seção 2.2). Os descritores considerados são amplamente empregados
em sis temas dotados de visão computacional (Seções 2.3 e 2.4). No entanto, a
combinação proposta amplia ainda mais os resultados finais. Para tanto,
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
410
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
empregou-se a s regras de combinação voto majoritário, borda count, soma,
média, produto, máximo, mínimo e mediana. Boas referências para es tas regras
são Jain et al. (2000) e Kittler et al. (1998).
2.2 Base de Imagens
A base de imagens utilizada foi produzida pelo Laboratório de Anatomia
da Madeira, do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e publicada por Martins et. al. (2012), podendo ser requisitada
para o desenvolvimento de pesquisas no endereço eletrônico
http://web.inf.ufpr.br/vri/forest-species-database. Esta base composta por 112
espéc ies florestais, cada uma com 20 amostras, num total de 2.240 imagens.
Seguindo a s definições da Anatomia da Madeira, a s imagens da base podem ser
agrupadas de diferentes formas. No primeiro nível hierárquico a s imagens
podem ser classificadas dentro de um dos dois grupos botânicos (Figura 1):
Gimnospermas e Angiospermas.
(a) Gimnosperma (b) Angiosperma
Figura 1 - Amostras da Base de Imagens. Fonte: Martins (2014).
As imagens foram adquiridas seguindo sete passos . Blocos com cerca de
2cm 3 foram extraídos dos troncos, os quais foram cozidos por tempo variado de
acordo com a espécie florestal, para seu amolecimento. Foram realizados cortes
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
411
f VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica A Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526~9364
histológicos de madeira com espessura de 25 micras46 de forma paralela à seção
transversal ao tronco. Seguiu-se com o processo de tripla coloração dos cortes
histológicos com as substâncias acridina vermelha, crisoidina e azul de astra.
Também aplicou-se uma desidratação em série alcoólica ascendente . Por fim,
lâminas para observação com a fixação dos cortes histológicos de madeira entre
lâmina e lamínula foram montadas. A coleta das imagens com aproximação ótica
de 100 vezes e resolução de 1024x768 pixels (Figura 1) utilizou um microscópio
Olympus modelo CX40.
2.3 Matriz de Coocorrência de Níveis de Cinza
Matriz de Coocorrência de Níveis de Cinza (Gray Levei Co-occurrence
Matrix - GLCM) é um método estatístico proposto por Haralick para caracterizar
a relação entre os níveis de cinza dos pixels das imagens e sua distribuição
espacial. As repetições dos padrões proveem medidas quanto a propriedades
como rugosidade, suavidade e regularidade sob diferentes perspectivas
(HARALICK, 1979).
Formalmente, Haralick fundamenta GLCM pela seguinte definição: dada
uma imagem I com dimensões NrxNc, tal que Lr = [l,Nr] e Lc = [1,NC]
representam os possíveis valores para linhas e colunas, respectivamente; e L =
[1,Na] o conjunto de Ng níveis de cinza quantizados de I . I pode ser
representada como uma função que associa algum nível de cinza de G a uma
célula ou par de coordenadas de Lr xLc. Ou seja, I: Lr x Lc ^ G. Haralick
define o uso de uma matriz Ng x Ng para representar a frequência p , tal que um
pixel pi possua nível de cinza nt e um pixel vizinho a pt (pj - a uma distância d e
um ângulo a) possua nível de cinza nj (HARALICK, 1979).
Servindo como ilustração da s definições anteriores, a GLCM da Figura
2(b) foi gerada a partir da imagem da Figura 2(a) com Ng = 5, distância d = 1 e
direção 0 grau. Embora a proposta inicial tenha definido 14 elementos, diferentes
trabalhos consideram diferentes subconjuntos des tes e afirmam haver
46Uma micra eqüivale à milionésima parte do metro ou 10-6 metro.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
412
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
correlações ou redundâncias entre a s informações provenientes deles. Assim,
aqui foram empregadas a p e n a s seis das características propostas por Haralick
(1979): energia, contraste, entropia, homogeneidade, probabilidade máxima e
momento de terceira ordem. Nas equações ilustradas a seguir, Ng representa o
número de diferentes níveis de cinza da imagem; i e j s ão os níveis de cinza e
servem como índices da GLCM; e P(i,j) é a probabilidade de co-ocorrência do
par (i,j) de níveis de cinza.
(a) Imagem I. (b) GLCM 0o para I.
Figura 2 - Geração de GLCMs. Fonte: Martins (2014).
Energia
Contraste
y y m j » i=0 j=0
y y i ; - y i 2 P m )
i=0 /=0
Entropia y y
y y p(i,j) i o g ( p ( í j ) )
í = 0 í = 0
Homogeneidade
Probabilidade Máxima
y y p(j,j) Z . Z . 1 + | i - ; | i=0 7=0
max.y P(i,j)
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
413
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Momento de Terceira Ordem
£=0 j=0
2.4 Padrão Binário Local
Introduzido em 1996, o Padrão Binário Local (Local BinaryPattern - LBP)
é um método estrutural e constitui uma medida complementar para contraste
local de uma imagem em níveis de cinza. Invariante a mudanças monotônicas
dos níveis de cinza, em sua versão original considera vizinhança-8 e distância
um para o pixel central (xc,yc) de uma máscara com dimensões 3 x 3 (Figura 3
(a)) (MÀENPÀÀ et. al., 2000).
Figura 3 - Cálculo do padrão LBP Fonte: Martins (2014, p. 34).
Cada ponto da imagem é tomado como sendo o ponto central (xc, yc), cujo
valor serve como limiar na comparação com cada um de s e u s vizinhos (xi,yi).
Desta comparação gera-se uma cadeia de zeros e uns (Figura 3 (b)), pois cada
vizinho a s s u m e o valor um se seu conteúdo for maior que o do ponto central
(xc,yc) e zero caso contrário. A organização d e s s a cadeia considera a posição
relativa j de cada vizinho, iniciando do canto superior-esquerdo com valor zero
e circundando o ponto central no sentido anti-horário (Figura 3 (c)). Ao ser
tomada como uma representação em base dois e convertida para a base dez,
tem-se o padrão que representa a região sobreposta pela máscara (Figura 3 (d-
e)) (MÀENPÀÀ et. al., 2000).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
414
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Após gerar os padrões para todos os pontos da imagem, a s frequências
des tes padrões são contabilizadas por meio de um histograma com um total de2P
padrões para P vizinhos. A consideração de P = 8 (Figura 3 (a)) gera um total
de 256 padrões de transição de bits (Figura 3 (b)). Dentre es tes padrões, a p e n a s
58 atendem a definição de uniformidade, isto é, a ocorrência de, no máximo,
duas transições do valor zero para um e vice-versa. Todos os demais padrões
são contabilizados juntos, levando a um total de 59 valores para o descritor
denominado LBP uniforme (LBPu2).
3 Resultados e discussão
A extração dos descritores para GLCM foi implementada por meio da
linguagem C++ e utilizou a biblioteca OpenCV 3.2 disponível no endereço
eletrônico opencv.org. Já para LBP foi empregado o código disponibilizado no
endereço eletrônico http://www.cse.oulu.fi/MVG/Downloads/LBPMatlab. O
algoritmo de classificação utilizado foi SVM (Support Vector Machine). Para
evitar divisões para os conjuntos de treino e tes te que pudessem influenciar no
processo e nos resultados, foram realizadas três repetições de cada experimento
a partir das quais s e obteve a média e o desvio padrão (a) apresentados. Em
cada repetição, os conjuntos para treino e teste eram compostos
respectivamente por 14 e 6 imagens escolhidas aleatoriamente dentre a s 20
existentes para cada uma das 112 espécies florestais, com totais de 1568
imagens para treino e 672 para teste.
Depois de separar conjuntos de treino e teste, cada imagem foi recortada,
os recortes foram utilizados na extração de características (GLCM e LBP) e s eus
vetores de características foram utilizados na construção dos classificadores
(treino) ou identificação da espécie florestal a que o fragmento pertencia (teste).
Foram realizados seis experimentos, conforme recortes horizontais e verticais
da Figura 4. No primeiro experimento tinha-se a p e n a s um fragmento dado pela
imagem original (Figura 4(a)), enquanto os outros cinco consideraram 4, 9, 16,
25 e 36 fragmentos (Figura 4(b-f)). Destaca-se que os tes tes com a redução das
dimensões dos fragmentos foram encerrados mediante a estabilização das taxas
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
415
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
ou sua piora em relação aos obtidos com fragmentos maiores, conforme
discutido adiante.
Figura 4 - Diferentes recortes realizados para gerar os fragmentos das imagens originais.
Fonte: O Autor.
Após construídos os modelos, es tes foram empregados para classificar
os fragmentos do conjunto de tes tes e gerar uma decisão parcial dt em nível de
fragmentos, com i = 1..N e N sendo o número de fragmentos considerados no
experimento corrente. Exceto para o caso que considerou a imagem inteira
Figura 4(a)), no primeiro nível de fusão, a s decisões parciais dt foram
combinadas por meio das regras voto majoritário, borda count, soma, média,
produto, máximo, mínimo e mediana. Como resultado, foram obtidas novas
decisões parciais dk em nível de classificador, com k = [GLCM,LBP]. No
segundo nível de fusão, a s decisões dk foram combinadas para gerar a decisão
final df para cada imagem original.
A Figura 4 justifica esta abordagem e demonstra que à medida que os
fragmentos ficam menores, s e u s padrões texturais ficam mais homogêneos em
cada fragmento, mas também ficam mais heterogêneos entre os fragmentos.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
416
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Diante disto, é e spe rada uma redução gradativa da taxa de reconhecimento dos
f ragmentos de forma individual (Figuras 5 e 6). Porém, os classificadores
conseguem lidar melhor com tal s i tuação e a combinação d a s dec isões parciais
dos f ragmentos resultados finais bem superiores (Figuras 5 a 7).
Figura 5 - Classif icador GLCM: taxas de reconhec imento obtidas para o s fragmentos das imagens originais, fragmentos e s u a s c o m b i n a ç õ e s
Fonte: O Autor.
Para a s imagens originais a lcançou-se taxas de reconhecimento de
56,74% (a = 1,34) e 76,54% (a = 1,11) para GLCM e LBP, respectivamente, a s
quais s ã o compatíveis com os resultados ap resen tados na literatura. Os
melhores resultados decorrentes d a s combinações em primeiro nível chegaram
a 90,96% (a = 0,55) para LBP com a regra Soma (Figuras 6). Os resultados
obtidos para cada classificador foram então combinados e gerou taxas de acerto
de 93,03% (a = 0,54) para a regra S o m a (Figuras 7).
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
417
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 6 - Classificador LBP: taxas de reconhecimento obtidas para os fragmentos das imagens originais, fragmentos e suas combinações.
Fonte: O Autor.
9 16 25 # Sub-imagens
Figura 7 - Combinação dos classificadores GLCM e LBP. Fonte: O Autor.
Já no primeiro nível de fusão houve melhora de 14,42 pontos percentuais
com relação à s taxas individuais do classificador LBP para imagens inteiras.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
418
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Considerando o segundo nível e LBP, houve melhora de 16,49 pontos
percentuais. Tomando os trabalhos de Weber e Martins (2017) e Wideck et al.
(2017) com a m e s m a b a s e de imagens, os resultados apresen tados s ã o
superiores em 7,78 e 12,83 pontos percentuais, respectivamente, o que
demonstra o potencial da estratégia proposta.
4 Conc lusão
Este trabalho avaliou a estratégia de combinação em dois níveis de
classificadores construídos a partir dos descritores GLCM e LBP ao problema de
reconhecimento de espéc ies florestas por meio de imagens microscópicas da
madeira. O melhor resultado foi de 93,03% (o = 0,54) para a regra Soma, a qual
foi 16,49 pontos percentuais melhor que os resultados a lcançados com LBP para
a s imagens em seu tamanho original.
Os resultados obtidos demonstram a potencialidade do uso da estratégia
proposta de combinação de classificadores em dois níveis. Na sequência busca-
s e por novos descritores, bem como estratégias de se leção de classificadores
na tentativa de melhorar ainda mais os resultados obtidos.
REFERÊNCIAS
HARALICK, R.M. Statistical and structural approaches to texture. v. 67, n. 5, p. 786-804, 1979.
IOANNOU, K.; BIRBILIS, D.; LEFAKIS, P. A pilot prototype decision support system for recognition of greek forest species . Operational Research, v. 3, n. 9, p. 141-152, 2009.
JAIN, A.K.; DUIN, R P.W.; MAO, J. Statistical pattern recognition: a review. Pattern Analysis and Machine Intelligence. v. 22, n. 1, p. 4-37, 2000.
HREICH, W. Towards Adaptive Anomaly Detection S y s t e m s using Boolean Combination of Hidden Markov Models. T e s e de Doutorado, École de Technologie Supérieure, Université du Québec, Montreal, 2011.
KITTLER, J.; HATEF, M.; DUIN, R.P.W.; MATAS, J. On combining classifiers. Pattern Analysis and Machine Intelligence, v. 20, p. 226-239, 1998.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
419
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
MÀENPÀÀ, T.; OJALA, T. PIETIKÃINEN, M.; SORIANO, M. Robust texture classification by subse t s of local binary patterns. 15th International Conference on Pattern Recognition, p. 947-950, 2000.
MARTINS, J.G.; OLIVEIRA, L.E.S.; NISGOSKI, S.; SABOURIN, R. A d a t a b a s e for automatic classification of forest species . Machine Vision and Applications, v. 24, p. 567-578, 2012.
MARTINS, J.G. Identificação de E s p é c i e s Florestais utilizando S e l e ç ã o Dinâmica de Class i f icadores no Espaço de Dissimilaridade. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Informática do Setor de Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, 2014.
PEDRINI, H.; SCHWARTZ, W.R. Análise de Imagens Digitais: princípios, algoritmos e aplicações. S ã o Paulo: Thomson Learning, 2008.
RADOVAN, S.; GEORGE, P.; PANAGIOTIS, M.; MANOS, G.; ROBERT, A.; IGOR, D. An approach for automated inspection of wood boards. International Conference on Image Process ing , n. 1, p. 798-801, 2001.
TOU, J.Y.; LAU, P.Y.; TAY, Y.H. Computer vision-based wood recognition system. Int. Workshop on Advanced Image Technology, p. 197-202, 2007.
WEBER, E.F.; MARTINS, J.G. Descritores De Textura Aplicados Ao Reconhecimento De Espécies Florestais. V ENDICT - Encontro de Iniciação Científica, Toledo, p. 1-12, 2017.
WIDECK, T.A.; SILVA, U.S. MARTINS, J.G. Reconhecimento de Espécies Florestais b a s e a d o em uma Estratégia "Dividir para Conquistar". V ENDICT -Encontro de Iniciação Científica, Toledo, p. 1-12, 2017.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
420
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
BIOPROSPECÇÃO DO OCHRE EM BARRAGENS DE TERRA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Vitória Durães Chlusewicz47
Priscila Vaz de Arruda2
Patrícia Casarotto de Oliveira3
Resumo: As barragens mais comuns no Brasil são as de terra, e podem estar mais sujeitas ao fenômeno da colmatação de filtro, devido ao carreamento e deposição das partículas do fluido percolante nos poros do filtro e do dreno. A colmatação apresenta-se em três formas, física, química e biológica, sendo esta última o foco deste trabalho. As barragens de terra geralmente são constituídas de argila e material argiloso, que contém grande quantidade de ferro, e as mais antigas com tubulações de ferro para s istemas de drenagem interna, podendo s e tornar um ambiente favorável para o crescimento das ferro bactérias, uma vez que há bastante ferro disponível no meio. As principais bactérias responsáveis pela precipitação de ferro são dos grupos Leptothrix, Gallionella e Sphaerotilus, que apresentam longo filamentos. As ferro bactérias oxidam o ferro II à ferro III para obter energia, e assim geram a precipitação de óxido de ferro. Os longos filamentos que e s s a s bactérias produzem são bainhas que s e incrustam com óxido de ferro, e e s te s ocupam os poros e os e spaços disponíveis do filtro para a passagem do fluido, assim como resultado o fluido pode seguir outro caminho que não seja o de drenagem, enfraquecendo a segurança e a estrutura da barragem. Portanto é necessário o estudo das ferro bactérias para que haja a correta precaução, identificação e controle microbiológico nos s istemas de filtro e dreno das barragens de terra.
Palavras-chave: Colmatação; Filtros; Ferro; Bactérias.
1 Barragens de terra
Barragem é uma estrutura construída t ransversalmente a um rio com a
finalidade de s e obter a e levação do seu nível d 'água, gerando assim um
reservatório. Podem ter utilização para: a geração de energia, a irrigação, a
navegação, o abastecimento urbano e industrial, a piscicultura, entre outros
objetivos. Existem vários tipos de barragens, porém a barragem de terra é a mais
comum no Brasil (SOUZA, 2013).
A construção de barragens de terra e enrocamento s ão apropriadas para
locais onde haja disponibilidade de solo argiloso, a renoso e siltoso, De forma
geral, o corpo de uma barragem de terra ou enrocamento es tá constituído por:
47 Bolsista da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - FPTI-BR, acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2 COEBB, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 3 COECI, Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
421
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
um núcleo em material argiloso que impede a percolação da água; dois maciços
estabilizadores si tuados a montante e a jusante do núcleo que garantem a
estabilidade da barragem; um conjunto de drenos e filtros que visam dotar a
barragem de zonas de e scoamen to da água que circula por infiltração e reduzir
também os riscos de "piping" (erosão interna); uma proteção do talude de
montante que es tá sob o efeito direto da ação da água; e uma proteção do talude
de jusante contra a ação da chuva e do vento (ECHEVRRI, 2012).
2 Colmatação de filtros
Os filtros s ã o construídos de modo a evitar o carreamento excessivo de
material, s endo constituídos, tradicionalmente, por zonas de c a m a d a s
granulares relativamente de lgadas que evitam que a s partículas do maciço s e
desloquem e obstruam os vazios de um material drenante. Uma vez que e s s a s
partículas ficam retidas no filtro, e s t e tem sua capacidade filtrante reduzida,
ocorrendo o fenômeno da colmatação, e como resultado o fluido pode seguir
outro caminho que não se ja o de drenagem, enf raquecendo a segurança e a
estrutura da barragem (CARVALHO, 2010). A explicação do fenômeno da
colmatação, a partir do ferro presente no solo que circula na água:
A obstrução de s istemas de drenagem de barragens ocorre devido à precipitação de ferro transportado na forma de íon pelas águas percolantes, que passando de um meio redutor para outro oxidante, perde sua solubilidade e precipita-se na forma de óxido ou hidróxido. O acúmulo d e s s e s compostos estáveis, que evolui ao longo do tempo, tende a preencher os vazios dos filtros e drenos de uma barragem diminuindo sua permeabilidade, alterando suas características originais e provocando um aumento das sub-pressões com a consequente redução da estabilidade dos taludes de jusante da barragem (NOGUEIRA, 1986).
A colmatação normalmente é dividida em três formas: física, química e
biológica. A colmatação física s e dá pela obstrução dos poros do filtro devido à
deposição de partículas do solo, diminuindo o fluxo do fluido percolante. A
colmatação química pode ser explicada como a deposição de precipitados
formados através de reações químicas entre a s subs tâncias p resen tes no fluido
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
percolante e no solo, diminuindo assim o espaço entre os poros. Tal fenômeno
pode ocorrer também quando há evaporação da água e cristais s ão formados
nos poros (MENDONÇA, 2000; CARVALHO, 2010).
A colmatação biológica ocorre devido ao crescimento bacteriano no
interior do filtro, podendo ocorrer tanto em filtros granulares, quanto em filtros
compostos por geotêxteis. Alguns fatores contribuem para tal fenômeno, como
relação carbono nitrogênio, quantidade de nutrientes, mistura com solos e
temperatura propícia para o crescimento bacteriano (SILVA, 2013).
Algumas das formas que os microrganismos podem causar a
colmatação são: pelo acúmulo de células e de biofilmes no filtro; produção de
g a s e s que diminuem o espaço disponível para o fluxo do fluido percolante; o
acúmulo de sais insolúveis de sulfeto produzidos por bactérias sulfato-redutoras;
e por ação das ferro bactérias, que utilizam os íons de ferro II disponíveis no
fluido percolante proveniente do solo como fonte de energia, oxidando-os à ferro
III, produzindo depósitos que são compostos por secreções extracelulares
bacterianas e precipitado de ferro trivalente, chamado de ochre, tendo aspecto
viscoso e gelatinoso, e fortes propriedades adesivas, com coloração laranja a
marrom (MENDONÇA, 2000).
3 Ferro bactérias
As bactérias responsáveis por precipitar o ferro são de grupos
representados por longos filamentos, como os gêneros Leptothrix, Gallionella e
Sphaerotilus. Tais bactérias podem estar presentes na água dos reservatórios,
nos filtros das barragens e drenagens podendo ocasionar entupimentos des tes
dispositivos acarretando no aumento de poropressões que quando não impedida
pode ocasionar instabilidade no aterro. Entre a década de 50 e final dos anos
60, no Brasil, era comum a construção de s is temas de drenagem interna em
barragens dotados de tubulação de ferro fundido associados aos filtros
horizontais, como nas barragens de Terzaghi, Pereira Passos , Mimoso, entre
outras (NEVES, 2015). Assim, segundo es te autor, considerável fonte de ferro
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
423
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
está disponível nes tes sistemas, podendo ser locais de grande incidência de
ferro bactérias.
Estes micro-organismos são comuns em água doce e ambientes
marinhos em que existem gradientes redox de O2 e Fe II. Assim, a mudança da
oxidação físico-química para biológica é determinada pelas propriedades
químicas e físicas da água. As condições mais importantes para a precipitação
biológica são: pH neutro ou levemente ácido; uma mudança de potencial redox
(Eh) negativo para até cerca de 200-320 mV; níveis de oxigênio variando de zero
a 2-3 mg/L, juntamente com considerável quantidade de CO2. Os rigorosos
limites de pH e Eh exigidos pelas ferro bactérias mostram que e s s a s se
desenvolvem sob condições que não são fortemente redutores ou totalmente
oxidantes (VAN VEEN et a/, 1979; ANKRAH; SOGAARD, 2009).
De acordo com a literatura, a coloração alaranjada-avermelhada da água
percolante de barragens pode estar associada ao depósito de óxido de ferro,
normalmente resultante da ação da bactéria Leptothrix ochracea (CARDIA;
LAGE, 2017). Ainda segundo e s s e s autores, a ação da L. discophora pode
resultar na presença de uma película superficial na lâmina d 'água de coloração
metalizada, sendo reportado que e s s a s duas espécies podem estar associadas .
Leptothrix é um gênero de bactérias Gram-negativas da classe
Betaproteobacteria, e que há muito tempo são reconhecidas como importantes
na oxidação biológica de ferro e manganês (VAN VEEN et a/., 1978).
É um dos vários gêneros que podem ser referidos como a s "bactérias do
ferro". Atualmente, existem cinco espécies reconhecidas: L. ochracea, L.
discophora, L. cho/odnii, L. /opho/ea e L. mobi/is, sendo a primeira a espécie mais
comumente encontrada nas fontes de ferro de água doce e nas zonas úmidas
ricas em ferro, como nas tubulações de ferro das barragens (FLEMING et a/.,
2011). Segundo es tes autores, a característica definidora desta bactéria é a
produção de bainhas extracelulares incrustadas com óxidos de ferro, sendo que
mais de 90% des tas bainhas es tão vazias. Desta forma, o que parece ser uma
população abundante de bactérias oxidantes de ferro, consiste em relativamente
poucas células, podendo levar a uma interpretação incorreta durante a
visualização no microscópio. Segundo Van Veen et a/., (1978), esta bactéria é
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
424
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
de difícil cultivo e sua identificação é baseada na preferência do cultivo na
presença de ferro II e morfologia (filamentos).
Segundo Ankrah e Sogaard (2009), muitas ferro bactérias podem ser
identificadas pela observação ao microscópio, devido à sua característica
distinta de secreção da bainha. Exemplos de tais bactérias são do gênero
Sphaerotilus e do grupo Leptothrix (Figura 1). Outras, como a Gallionella
ferruginea, s ão reconhecidas por suas has tes helicoidais ou torcidas alongadas,
compostas de numerosas microfibrilas entrelaçadas. Sem a presença de tais
hastes, Gallionella ferruginea consiste de um corpo celular micoplasmodial em
forma de rim, que dá rigidez à parede celular. Por outro lado, a s Eubactérias da
família Siderocapsacea, como Siderocapsa treubii, S. major, podem não ter
has tes ou bainhas, tornando-as extremamente difíceis de serem identificadas.
B
-
Figura 1 - (A) Sphaerotilus natans com presença de f i lamentos (bainhas). (B) Leptothrix ochracea com bainhas; (C) Gallionella
ferruginea com hastes; (D) Célula e has tes da Gallionella ferruginea. Fonte: (A) SUZUKI; KANAGAWA; KAMAGATA, 2002; (B) e (C)
BOUCHAL; ZÁVADA; VOJTKOVÁ; LANGAROVÁ; HAVELEK, 2012; (D)
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
425
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
SUZUKI; HASHIMOTO; MATSUMOTO; FURUTANI; KUNOH; TAKADA, 2011.
A investigações de amost ras de lodo de filtros de s i s temas de tratamento
de água revelaram que o crescimento massivo da bainha de bactérias tem
profunda influência catalítica na oxidação do ferro. A bainha tem consequênc ias
nutricionais e ecológicas para a s bactérias, sendo evidente em sua capacidade
de crescer em água corrente lenta, pobre em nutrientes, onde a p resença da
bainha permite que a s bactérias s e liguem a superfícies sólidas (ANKRAH;
SOGAARD, 2009). Pesquisa realizada por Chan et al (2011) demonstra com
grande convicção que a s bainhas s ão de natureza proteica, também mostra que
além de proteínas, elas contêm grandes quant idades de carboidratos e menores
quant idades de lipídios.
4 Considerações finais
As barragens de terra s ão a s mais comuns no brasil, assim é necessár io
a s segura r sua estabilidade e integridade física, tendo grande importância o
es tudo da segurança de barragens, pois seu rompimento gera consequências
catastróficas. No p a s s a d o construíam-se barragens com tubulações de ferro,
com terra com grande quantidade de ferro disponível, e não havia es tudos a
respeito d a s ferro bactérias e como elas poderiam estar relacionadas à s c a u s a s
de risco das barragens. Assim, o es tudo d a s ferro bactérias é de grande
necess idade para que possa haver a correta identificação e controle
microbiológico, principalmente para a s barragens menores que acabam tendo
menos es tudos a respeito.
REFERÊNCIAS
ANKRAH, Daniel A.; SOGAARD, Erik G. A REVIEW OF BIOLOGICAL IRON REMOVAL. Thirteenth International Water Technology Conference, IWTC 13 2009, Hurghada, Egypt.
BOUCHAL, Tomás; ZÁVADA, Jaroslav; VOJTKOVÁ, Hana; LANGAROVÁ, Silvie; HAVELEK, Radim. PRIMARY RESEARCH OF MINE WATERS FROM
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
426
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
THE CHRUSTENICE IRON-ORE DEPOSIT. G e o S c i e n c e Engineering, v. LVIII, n.4, 2012.
CARDIA, Ruben J o s é Ramos; LAGE, Paula Graziela Moreira. CARREAMENTO DE MATERIAL COLORIDO NA DRENAGEM E A CONSIDERAÇÃO DA SEGURANÇA DE BARRAGENS. XXXI - SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDES BARRAGENS - SNGB. BELO HORIZONTE - MG, 15 A 18 DE MAIO DE 2017.
CARVALHO, Claudilene Luiza. Avaliação do p r o c e s s o de co lmatação de filtros geotêxte i s utilizados em s i s t e m a s de drenagem de aterros sanitários. 2010. 153f. T e s e de mestradp - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, S ã o J o s é dos Campos.
CHAN, Clara S; FAKRA, Sirine C; EMERSON, David; FLEMING, Emily J; EDWARDS, Katrina J. Lithotrophic iron-oxidizing bacteria produce organic stalks to control mineral growth: implications for biosignature formation. The International Society for Microbial Ecology Journal (2011) 5, 717-727.
ECHEVRRI, Julieta. Aplicabilidade d o s Rejeitos de Mineração de Ferro para Utilização em Filtros de Barragens. Dissertação de Mestrado -Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Civil. Distrito Federal, 2012. 112p.
FLEMING EJ, LANGDON AE, MARTINEZ-GARCIA M, STEPANAUSKAS R, POULTON NJ, MASLAND EDP, et al. (2011) What's New Is Old: Resolving the Identity of Leptothrix ochracea Using Single Cell Genomics , Pyrosequencing and FISH. PLoS ONE 6(3): e17769. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0017769
NEVES, Bruno. TECNOLOGIA E MATERIAIS: CONSIDERAÇÕES SOBRE A AMEAÇA OCHRE. REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE BARRAGENS. N 2, 19-23 p, maio 2015.
NOGUEIRA, J. (1986) - Colmatação Química d o s Drenos de Barragens por C o m p o s t o s de Ferro, 10: 1-20.
SILVA, Jorge Luis Vieira da. Colmatação Bacteriológica de Geotêxteis . Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2013.
SOUZA, Mariana Miranda de. Estudo para o projeto g e o t é c n i c o da barragem de Alto Irani, SC - Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politécnica, 2013. 129 p
SUZUKI, Tomoko; HASHIMOTO, Hideki; MATSUMOTO, Nobuyuki; FURUTANI, Mitsuaki; KUNOH, Hitoshi; TAKADA, Jun. Nanometer-Scale Visualization and Structural Analysis of the Inorganic/Organic Hybrid Structure
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
427
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
of Gallionella ferruginea Twisted Stalks. Appl. Environ. Microbiol. May 2011 vol. 77 no. 9 2877-2881.
SUZUKI, Toshihiko; KANAGAWA, Takahiro; KAMAGATA, Yoichi. Identification of a Gene Essential for Shea thed Structure Formation in Sphaerotilus natans, a Filamentous Shea thed Bacterium. Appl. Environ. Microbiol. vol. 68, n. 1, p. 365-371, January 2002.
VAN VEEN, W. L., Mulder, E. G., and Deinema, M. H., 1978. The Sphaerotilus-Leptothrix group of bacteria. Microbiological Reviews, 42, 329-356.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
428
r VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Á Câmpus Toledo
VI ENDICT 27 a 29 de a§osto de 2018 ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ISSN 2526 - 9364
DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO PARA AUXÍLIO NO POSICIONAMENTO FLUVIAL PARA VEÍCULOS AÉROS NÃO-TRIPULADOS
ANFÍBIOS
William Emmert Gonçalves4 8
Fábio Rizental Coutinho2
RESUMO
O objetivo des te projeto é desenvolver um circuito capaz de medir a
distância de obstáculos na água. A medição de distância é feita por um sensor
ultrassônico de 40 kHz por meio da técnica Pulso-Eco. O dispositivo contém um
circuito de excitação que converte os sinais de baixa amplitude gerados por um
microcontrolador ATmega328P em sinais de alta amplitude. Para tratamento do
eco recebido, o circuito de aquisição permite que o microcontrolador detecte o
tempo de trânsito do eco e calcule a distância até o obstáculo. Os dados obtidos
s ã o enviados ao computador via comunicação USB e ap resen tados em tela. O
dispositivo apresentou uma t ensão de excitação de 80 Vpp e um ganho de
aproximadamente 25 dB na aquisição e erros relativos baixos nas medições
feitas no ar e na água. O circuito apresentou um bom d e s e m p e n h o para a
aplicação dese jada , sendo possível de ser embarcado em um VANT.
Palavras Chave: Ultrassom, eco, VANT.
1 INTRODUÇÃO
Atualmente, existe uma crescente preocupação com os recursos hídricos,
que es tão cons tantemente sofrendo com o lançamento de efluentes industriais
e domésticos, comprometendo a fauna aquática e a qualidade da água . O
a s so reamen to dos rios também merece atenção, pois diminui a profundidade do
leito levando, em alguns casos , a ocorrências de enchentes , prejudicando em
muito a população dos arredores. No caso de reservatórios, a sedimentação é
um fenômeno a ser monitorado constantemente . A monitoração de
características de rios/lagos/canais é normalmente realizada por e s t ações de
48 UTFPR - Engenharia Eletrônica - Aluno 2 UTFPR - Engenharia Eletrônica - Orientador
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
429
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
medição fixas em a p e n a s alguns pontos da ex tensão do curso d 'água devido ao
alto custo de s e instalar várias e s t a ç õ e s de monitoramento ao longo de todo o
rio. A medição também pode ser feita manualmente por meio de des locamento
de um ou mais técnicos de medição munidos de equipamentos portáteis. Nesse
caso, a medição não fica restrita a pontos geográficos fixos; entretanto a
periodicidade da obtenção da informação é geralmente muito menor do que ao
s e utilizar a s e s t ações de medição fixas. Em muitos casos , acidentes
topográficos, matas fechadas , etc, podem dificultar a aproximação da margem
do rio. N e s s e s pontos de difícil acesso , a medição pode ficar inviabilizada. Além
disso, muitos cursos d 'água apresentam acidentes geográficos, como pedras,
q u e d a s d 'água, t rechos com pouca profundidade, dentre outros, que inviabilizam
que uma embarcação miniatura consiga percorrer toda sua extensão.
Veículo aé reos não-tripulados também podem ser empregados para
monitorar cursos d 'água. Um exemplo é a patente de Guobin (2015) nela é
descrito um sis tema que utiliza Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANT) para
realizar automaticamente a coleta de água em pontos fixos da superfície da
água. O VANT possui mecanismos para coleta da água e transporte d a s
amos t ras de água para posterior análise em laboratório. O objetivo principal do
s is tema é substituir a coleta manual por uma coleta automática de amost ras de
água voltadas para o ambiente marinho, principalmente para verificar a
contaminação por óleo.
Como o VANT pode s e deslocar por ar, ele, facilmente, consegue a c e s s a r
locais como um manancial que fique em terreno acidentado, ou então desviar de
relevo, como eventuais q u e d a s d 'águas , pedras dentre outros. Por outro lado,
flutuando na água, o veículo pode deslocar-se aproveitando da corrente natural
do curso d 'água, obtendo um ganho significativo na autonomia e no e s p a ç o que
pode ser percorrido. Desta forma, o VANT pode percorrer um longo trecho do
rio/lago/canal efe tuando diversas medições em pontos distribuídos ao longo de
sua extensão. Atualmente, es te equipamento, quando flutuando na água,
necessi ta de um operador para atuar nos rotores e efetuar a trajetória de
medição dese jada . O operador também é necessár io para evitar que o VANT
colida com obstáculos ou que ele atinja a margem do rio/lago/canal.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
430
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Este projeto visa desenvolver um sis tema de posicionamento fluvial para
es te VANT, b a s e a d o em senso re s de ultrassom, que permita que a de tecção d a s
margens do canal/rio/lago e de eventuais obstáculos. O objetivo do
desenvolvimento des te s is tema é propiciar o sensor iamento adequado para que
no futuro o VANT tenha a possibilidade de s e movimentar de forma autônoma,
quando flutuando na água, d ispensando assim presença de um operador
presente no local.
Para isso, se rá feito o es tudo de um circuito capaz de medir distâncias
significativas na água através de um sensor ultrassônico a partir da técnica
Pulso-Eco. Es sa distância, se rá inicialmente definida como 1,5m para testes,
s endo futuramente expandida conforme o desenvolvimento do projeto. O
dispositivo final deve apresentar d imensões adap t adas para ser embarcado no
VANT.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A Figura 1 apresen ta o método utilizado nes te trabalho, com a e tapa I
s endo alimentada com uma tensão de 12 V, e a s e t apas II e IV sendo
al imentadas em 5 V, a s demais possuem alimentação própria externa ao circuito.
O Microcontrolador gera uma onda de baixa amplitude de 40 kHz convertida para
uma onda de alta t ensão pela e tapa I. A chave analógica HCF4066BE, que
possui quatro chaves internas, foi utilizada para controlar a quantidade de pulsos
enviados ao transdutor transmissor, que converte o sinal de alta t ensão em
ondas de ultrassom, e também para controlar o tempo de e spe ra do receptor
pelos ecos que s ã o amplificados por IV, o es tado aberto e fechado da chave é
controlado pelo microcontrolador.
Em V é calculado o tempo de trânsito des te eco e utilizado para cálculo
da distância. Após isso, o resultado é transferido para o Computador (VI) via
USB. O microcontrolador utilizado foi o ATmega328P, presente na placa Arduino
Uno, por possuir s a ídas suficientes para controle da Chave analógica, PWM para
excitação do transmissor e entrada para leitura da largura do pulso do sinal
recebido da e tapa de aquisição.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
431
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Transdutores (III)
I
Chave analógica (II)
r
Computador (VI)
Figura 2 - Diagrama de blocos do sistema Fonte: Autor (2018).
A Figura 2 apresen ta o circuito da e tapa de Excitação. O gerador de
pulsos é representado como o gerador de funções e a chave HCF4066BE como
S1. O controle da quantidade de pulsos transmitidos é feito em código, de modo
que fossem enviados uma quantidade definida de ciclos. A chave é controlada
por comandos de nível alto ou baixo, s endo que em alto a chave é fechada e em
baixo é mantida aberta.
Os pulsos então, pa s sam pelo estágio amplificador emissor comum, com
um transformador na saída, com relação 1:10, acoplando o transdutor. Na
frequência de operação do circuito, a impedância indutiva do transformador
minimiza a s perdas com a impedância capacitiva do transdutor (HUANG,
PARAMO;2011), proporcionando um melhor desempenho .
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
432
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
Figura 2 - Circuito da etapa de Excitação Fonte: Autor (2018).
No circuito de aquisição apresen tado na Figura 3, o tempo de espe ra do
eco também é controlado através da chave HCF4066BE (S2). O sinal recebido
é amplificado e filtrado pelos dois estágios do tipo emissor comum com
realimentação.
Figura 3 - Circuito da etapa de Aquis ição Fonte: Autor (2018).
Após a amplificação e filtragem, o sinal p a s s a por um detector de pico (D1
e C4), para obter a envoltória do eco recebido, seguindo por um buffer (Q5) e
um comparador com tensão de referência de 2,5 V (U1A), enviando 0 V ou 5 V
ao microcontrolador.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
433
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
A distância então é calculada multiplicando metade do tempo de trânsito
pela velocidade do som no meio testado. O resultado é enviado ao computador
através da comunicação serial USB com taxa de transferência de 9600 bits/s,
sendo o resultado apresentado em tela usando a função Plotter Serial da IDE do
Arduino.
3 RESULTADOS
Foi levantada a curva de ganho por frequência no simulador Multisim.
Através da inserção de um gerador na entrada e utilizando a análise AC Sweep
obteve-se Vout1/Vin (Figura 3). A curva é apresentada na Figura 4, com
magnitude em dB e frequência de 20 kHz a 60 kHz.
Receptor
A C Sweep
2Gk 25k 3Dk 35k 40k 45k 5Dk 55k 60k Frequency (Hz)
Figura 4 - Curva de ganho por frequência Fonte: Autor (2018).
Observa-se que, o circuito tem um ganho significativo para a frequência
de 40 kHz, como esperado.
Foram realizados tes tes nas e tapas de excitação e aquisição. A etapa de
excitação apresentou uma tensão de saída no transdutor de aproximadamente
80 Vpp. O circuito de aquisição apresentou um ganho de aproximadamente 25
dB. As medidas de distância foram feitas em dois meios diferentes para teste do
circuito.
O primeiro teste foi feito utilizando os transdutores para o ar, sendo es tes
fixados sobre uma mesa e, variando a distância da mesa até uma parede, foram
medidos alguns pontos. O transdutor foi excitado com um sinal de 40 ciclos para
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
434
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
es te teste. A velocidade do som utilizada para cálculo da distância foi de 340
m/s. Os resultados s ã o ap resen tados na Tabela 1.
Tabela 1 - Medidas realizadas no ar
Distância (cm) Distância média medida Erro relativo (%)
(cm)
75 74 1,33
81 80 1,23
120 118 1,667
Fonte: Autor (2018).
Observa-se que o erro relativo s e apresentou baixo, não sendo crítico
para a aplicação.
O segundo tes te foi feito utilizando os t ransdutores para a água, sendo o
principal objetivo des te trabalho. Os transdutores foram posicionados sobre um
recipiente cheio d 'água, de 80 cm de altura por 46 cm de diâmetro, de modo que
a superfície dos t ransdutores t ocas se na água. O transdutor foi excitado com um
sinal de 2 ciclos (40 kHz) apenas , devido à s perdas serem menores na água. A
velocidade utilizada para cálculo foi de 1450 m/s, que é a velocidade aproximada
da água n e s s e meio. Os resultados são ap resen tados na Tabela 2.
Tabela 2 - Medidas realizadas na água
Distância (cm) Distância média medida Erro relativo (%)
(cm)
58 55 5,17
63 59 6,34
Fonte: Autor (2018).
Neste teste, a quantidade de pulsos teve de ser reduzida, pois a energia
do eco que retornava era significativamente maior, fazendo com que o
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
435
VI ENDICT - Encontro de Iniciação Científica Câmpus Toledo
27 a 29 de agosto de 2018 ISSN 2526-9364
comparador f icasse em alto por tempo suficiente a té o próximo eco, mantendo a
sa ída do comparador em nível alto durante todo o tempo.
Aqui, houve um aumento do erro relativo. Porém, pode ser melhorado
futuramente fazendo pequenos a jus tes no circuito.
Para ambos os testes, foi feita uma calibração do s is tema para correção
de erros sistemáticos.
4 CONCLUSÃO
O circuito apresentou um bom d e s e m p e n h o com ganho suficiente para
de tecção de obstáculos. Os resultados apresentaram erro relativo baixo para a
aplicação dese jada .
Futuros aprimoramentos no circuito como inclusão de um amplificador de
ganho variável, controle mais preciso da excitação e tempo de escuta da
aquisição a judarão a minimizar o erro relativo, caso necessário.
Portanto, a s características do circuito apresen tado dão potencial ao
m e s m o de ser embarcado em um VANT.
REFERÊNCIAS
GUOBIN, L. Unmanned aerial vehicle type automatic sampling s y s t e m at
fixed points of water surface. China, CN 104458329. 25 mar. 2015.
HUANG, H.; PARAMO, D. Broadband electrical impedance matching for piezoelectric ultrasound transducers. IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, v. 58, 2011.
UTTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
436