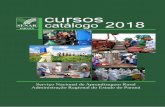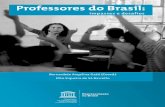The formation of the Letters courses in Brazil (A formação dos cursos de Letras no Brasil)
Transcript of The formation of the Letters courses in Brazil (A formação dos cursos de Letras no Brasil)
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
OS CURSOS DE LETRAS SOB A ORDEM DAS POLÍTICAS DA LÍNGUA1
Alex Pereira de Araújo/UESC2
Resumo: Este artigo apresenta uma discussão acerca da questão do componente curricular nos cursos de Letras - desde a sua criação aos dias de hoje - enquanto questão resultante de políticas linguísticas para o Estado Brasileiro frente às demandas do ensino da língua nacional, o português. Trata também do advento da Linguística nos anos de 1960 e das contribuições da Linguística Aplicada ao ensino da língua nos anos de 1990. Essa discussão traz à tona os novos desafios que se exige dos profissionais formados em Letras em meio às questões que emergem da pós-modernidade, da Era da Informação e da redemocratização do Brasil. Nessa perspectiva, que se refletirá a temática aqui em questão, ou seja, enquanto materialização discursiva de políticas de Língua(gem) dentro do Estado Brasileiro para si mesmo. E isso está diretamente ligado ao fato de que política e ensino se relacionam sempre quando se pensa nas questões próprias do ensino e de difusão de língua, quer seja ela materna, quer seja estrangeira.
Abstract: This article presents a discussion of the matter component of the curriculum in courses Letter - from its inception to the present day - as a matter arising from language policies for the Brazilian government for meeting the demands of teaching the national language, Portuguese. It also deals with the advent of Linguistics in 1960 and contributions to the teaching of Applied Linguistics of the language in the 1990s.This discussion brings up the new challenges that are required of graduates in Arts among the issues that emerge from post-modernity, of the Information Age and the democratization of Brazil. From this perspective, which reflects the issue in question here, that is, as discursive materialization of language policies (gem) in the Brazilian State for yourself. And this is directly linked to the fact that politics and education is always related issues when thinking about their own teaching and dissemination of language, whether her mother, whether foreign.
Introdução
EM ALGUM LUGAR REMOTO recanto do universo, que se
deságua fulgurantemente em inumeráveis sistemas solares,
havia uma vez um astro, no qual animais astuciosos
inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais audacioso e
hipócrita da “história universal”: mas no fim das contas, foi
apenas um minuto (Nietzsche).
A formação curricular dos cursos Letras no Brasil está diretamente ligada à
história das políticas linguística do país, já que a criação desses cursos surge em
decorrência da demanda emergente do ensino da língua portuguesa (im)posta como
língua nacional do Estado Brasileiro. Nesse sentido, tal questão pode ser percebida nos
1 Este texto foi apresentado na mesa-redonda Linguística Aplicada e Ensino da VI Semana de Letras da
UNEB no Campus de Ipiaú em novembro de 2011. 2 Mestre em Letras: Linguagens e Representações pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
discursos que justificam o ensino da Língua Portuguesa enquanto saber escolar e
enquanto lugar de difusão da identidade nacional e da cidadania brasileira.
Nessa perspectiva, que se refletirá a temática aqui em questão, ou seja, enquanto
materialização discursiva de políticas de Língua(gem) dentro do Estado Brasileiro para
si mesmo. E isso está diretamente ligado ao fato de que política e ensino se relacionam
sempre quando se pensa nas questões próprias do ensino e de difusão de língua, quer
seja ela materna, quer seja estrangeira (cf. RAJAGOPALAN, 2009).
Pode-se pensar que todo discurso traz consigo um emaranhado de possibilidades
de sentidos que se materializam de acordo com suas condições de produção; ou seja, no
jogo de linguagem, os sujeitos, que o jogam, tentam demarcar suas posições para vencer
tal jogo, impondo os sentidos que estão na ordem discursiva enunciada pelo jogador em
seu discurso. Dessa forma, pode-se pensar nas palavras de Michel Foucault (1996, p.
10) que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de
dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos
apoderar.”
Cumpre então fazer algumas advertências iniciais. A primeira delas diz respeito
ao sentido inicial do vocábulo ensino que se busca (des)construir aqui, uma vez que tal
palavra já está tão, aparentemente, naturalizada dentro do campo da educação, que
sequer discutimos outros sentidos que possam existir no discurso alheio Assim,
enquanto palavra materializada na ordem de discurso sobre os discursos que tratam da
questão curricular em Letras, um conceito de ensino possível está ligado ao fato de que
“tudo no ensino é ideológico” (cf. ARAÚJO; FERREIRA, 2011), ou no dizer de
Jacques Derrida (1999), tem-se “não há lugar neutro ou natural no ensino”.
A segunda advertência é que as reflexões tecidas aqui são inquietações de um
professor que tenta ler as inquietações do mundo pelo prisma da linguagem enquanto
relação política entre sujeitos, numa época em que “nós não estamos lidando com uma
coexistência de um face a face, mas com uma hierarquia violenta”, como diria Derrida
(2001, p. 48). Inquietações em encruzilhada de um mundo sem fronteira, e, ao mesmo
tempo, cheio de identidades em conflitos. Inquietações de um leitor que busca o político
dentro e fora do que é textualmente materializado, mas que muitas vezes, encontra-se
“miopizado”, ensurdecido, fazendo com que muitos de nós aceitemos a medonha
malvadez do capitalismo, diria Paulo Freire (1996). Inquietações ou “inquietação de
sentir sob essa atividade, todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se
imagina” (FOUCAULT, 1996, p.8).
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
O plano de trabalho desse artigo - no diz respeito ao currículo e a formação em
Letras e o advento da Linguística Aplicada e sua relação com o Ensino [da língua(gem)]
– será o seguinte: no primeiro momento, faz-se uma retomada história sobre a
implantação dos primeiros cursos de Letras no Brasil e o surgimento da Linguística
como a “nova ciência da linguagem”. No segundo momento, já na perspectiva
discursivo-desconstrutiva, tratar-se-á dos sentidos de língua, de currículo como
conceitos articulados às políticas linguísticas. No terceiro momento, é dedicado à
condição sem condição das escolas e dos professores em meio aos processos de
identificação das políticas linguísticas originárias dos processos da Globalização.
Breve histórico das Letras em curso no Brasil
A perspectiva histórica pode esclarecer e, ou, explicar o estatuto atual das
disciplinas curriculares, bem como a necessidade de criação de cursos de graduação,
sobretudo, dos de licenciaturas, como é o caso dos cursos de Letras em Instituições de
Ensino Superior. Penso com e em Magda Soares (2004) quando afirma que,
a tentativa de aproximação à história da constituição em disciplina
curricular, em saber escolar, da área de conhecimento que tem por objeto a
língua portuguesa e de, por meio dessa aproximação, explicar e
compreender a natureza e os objetivos dessa disciplina na escola brasileira
dos dias de hoje (SOARES, 2004, p. 157).
Daí, podemos falar sobre a necessidade e da criação dos cursos de Letras, para
entendermos como tal sistema se estruturou no Brasil em face da demanda do ensino da
língua portuguesa, enquanto saber escolar, que se criou, sem esquecer de que o ensino
da língua faz parte de medidas de planejamento linguístico estatal e como parte de uma
política de fortalecimento dos valores de nacionalidade e de cidadania brasileira.
De acordo com Marisa Lajolo (2011), os primeiros cursos de Letras no Brasil
datam da primeira metade do século XX, mais precisamente na década de 1930,
instituídos como parte do projeto de criação das Faculdades de Filosofia, (...)
mas eles parecem ter herdado algumas das contradições características do
estudo “de letras” que, antes de sua criação formal, manifestava-se nas
disciplinas “letradas” que integravam os currículos de alguns cursos.
Ao serem estabelecidos, os cursos de Letras nessa época tinha uma tríplice
finalidade de
a) preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades
culturais de ordem desinteressada ou técnica;
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário, normal e superior;
c) realizar pesquisas nos vários domínios da cultura que constituem objeto de
seu ensino, os cursos de Letras, ao longo dos anos trinta, tiveram como berço
São Paulo (FFCL – USP, 1934), Rio de Janeiro (UDF, 1935 e FNF da
Universidade do Brasil, 1939).
Na Bahia, ainda que o primeiro curso universitário do Brasil tenha sido criado
em 1808 ─ quando o Príncipe Regente Dom João institui a Escola de Cirurgia da Bahia
─ somente em 1941 que surge a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da
Universidade da Bahia, hoje Universidade Federal da Bahia - UFBA (cf. UFBA, 2011).
Quanto ao português, vale à pena lembrar que seu ensino só ocorre nas últimas
décadas do século XIX, já no fim do império, e isso hoje nos deixa um pouco surpresos
quando verificamos quão tardia foi sua inclusão da língua portuguesa enquanto
disciplina curricular no Brasil; talvez seja pelo fato de que
nos primeiros anos de nosso país, a língua portuguesa estava ausente não só
do currículo escolar, mas também, de certa forma, do próprio intercurso
social ( e certamente esta segunda ausência explica, ainda que parcialmente,
a primeira). É que três línguas conviviam no Brasil Colonial, a língua
portuguesa não era a prevalente: ao lado do português trazido pelo
colonizador, codificou-se uma língua geral, que recobria as línguas
indígenas faladas no território brasileiro (estas, embora várias, provinham,
em sua maioria, de um tronco, o tupi, o que possibilitou que se
condensassem em uma língua comum); o latim era a terceira língua, pois
nele se fundava todo o ensino secundário e superior dos jesuítas. No
convívio social cotidiano, por imposições das necessidades pragmáticas de
comunicação – entre portugueses e indígenas e dos indígenas, falantes de
outras línguas, entre si – e para a evangelização, a catequese, prevalecia a
língua geral, sistematizada pelos jesuítas (particularmente por José de
Anchieta, em sua Arte da gramática da língua mais falada na costa do
Brasil). O português, embora fosse oficial, tinha, como língua falada,
“caráter de insularidade nos centros urbanos emergentes” (Houaiss, 1985, p.
49) (SOARES, 2004, p. 156-157).
Os estudos sobre a linguagem sempre fizeram parte do desejo do homem,
porque dominá-la significava desde o início ter poder. De acordo com Orlandi (1986, p.
7), “ao procurar explicar a linguagem, o homem está procurando explicar algo que lhe é
próprio e que é parte necessária de seu mundo e de sua convivência com outros seres
humanos”.
A ciência (moderna) da Linguagem
O surgimento da Linguística como ciência da língua(gem) também ocorre
tardiamente, na segunda década do século XX (1911 até 1915, ano da publicação do
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
Cours de Linguistique Générale), quando “a chamada escola de genebra, com
Ferdinand de Saussure, mostra-se como a mais brilhante expressão do objetivismo em
nosso tempo”. E isso tornou possível a Linguística investir-se de estatuto de ciência
porque “Saussure deu a todas as ideias uma precisão admiráveis. Suas formulações dos
conceitos de base da linguística tornaram-se clássica” (BAKHTIN, 1997 [1929], p. 84).
Mais tarde, tal escola ficaria conhecida pelo nome de estruturalismo, em
virtude de conceber a língua - objeto de estudo - da nova ciência como um sistema (ou
estrutura).
Para Rajagopalan (2003, p. 75), o surgimento da linguística como nova
“ciência da Linguagem” também foi o momento do nascimento da figura do linguista
como cientista. Nesse sentido, a figura do linguista diverge daquela do gramático
tradicional e, ou, do filólogo. Como nos lembra Rajagopalan (idem, ibidem), “até hoje,
o linguista se autodefine em oposição a essa figura. Enquanto eles prescrevem, nós
descrevemos. Eles se preocupam com as normas; já nós queremos entender como os
falantes de fato se comportam linguisticamente”.
O Brasil sempre esteve mais atrelado à Europa do que aos Estados Unidos no
que diz respeito à tradição do ensino e as questões culturais. Talvez por esse fato que o
advento do estruturalismo europeu aqui tenha coincidido com o reconhecimento da
linguística como disciplina autônoma durante os anos de 1960 (cf. ILARI, 2007, p. 53).
Mattoso Câmara Jr é o caso mais célebre da sistematização de suas pesquisas
com base nessa nova orientação, ainda que tenha estudado e dado aulas nos Estados
Unidos, mas lá teve contato direto com o grande divulgador das ideias europeia, Roman
Jakobson. Não nos esqueçamos de que ele é, com todo mérito, considerado o pai da
Linguística Brasileira.
Na década seguinte, pode-se dizer, com Rodolfo Ilari (idem, ibidem), que o
estruturalismo já era no Brasil, a orientação mais importante nos estudos da linguagem
para criar um novo tipo de estudioso, o linguista, que já então dispunha de um espaço
próprio em face de duas figuras mais antigas – a do gramático (interessado na
sistematização dos conhecimentos que resultam num uso correto da variante padrão) e a
do filólogo (interessado no estudo das fases antigas da língua, e na análise e textos
representativos dessas fases).
Já nos anos de 1980, inauguram-se - no que concerne ao ensino de língua
materna - duas preocupações distintas debatidas nos centros grandes acadêmicos do
país. A primeira, segundo Geraldi (1996, p. 71), era um extenso programa de pesquisas
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
esquadrinhou, sob diferentes ângulos, o desempenho linguístico de estudantes
debruçando-se principalmente sobre as práticas de leitura de textos e sobre textos
produzidos por alunos; a segunda, o engajamento de professores universitários na
elaboração de propostas de ensino e no processo de formação de professores da escola
básica (GERALDI, idem, ibidem).
E essas questões ainda não estavam bem demarcadas no que diz respeito às
ciências linguísticas, ou seja, se as pesquisas eram da linguística ou da linguística
aplicada, como se verá mais adiante. Pode-se dizer que a Linguística Aplicada (LA) é
mais uma subárea do conhecimento, originalmente circunscrita e periférica, que
“explodiu” ao longo dos anos 1990, conforme constam Signori e Cavalcanti (1998, p.
7). De acordo com Kleiman (1998, p. 47), é quase impossível discorrer sobre o estatuto
teórico ou disciplinar da Linguística Aplicada (LA) no Brasil sem se discutir sua relação
com a Linguística, visto que as fronteiras entre o linguista e o linguista aplicado não
estão nitidamente marcadas nos departamentos, nas associações, nos encontros
profissionais, na esfera de ação.
Para a pesquisadora da UNICAMP, se, por um lado, o advento tardio da LA
entre nós coincide com o momento em que os linguistas refletiam sobre a aplicação de
teorias linguísticas para resolver problemas importantes no ensino de língua materna no
país; isto é, foram os linguistas que ocuparam os espaços de atuação aplicada e que hoje
a são reivindicados pelos linguistas aplicados; por outro, as mudanças paradigmáticas
têm proporcionado aos estudos linguísticos uma maior amplitude em relação ao objeto
da linguística – a gramática – para a linguagem, o que implica pensar nas práticas de
uso da linguagem em tempos, lugares, sociedades e culturas específicas, relações antes
consideradas extralinguísticas, e, portanto, fora do escopo das ciências linguísticas.
Diante desse impasse, Kleiman (idem, ibidem), afirma que o debate sobre o
estatuto disciplinar da LA deveria estar fundamentado nos aspectos históricos e
epistemológicos da nossa prática de pesquisa e deveria estar voltado hoje para a
comunidade interna, dos linguistas aplicados que assim se assumem por razões de
atuação acadêmica e/ou política.
Como podemos constatar, tal questão é muito delicada para se discutir e dar um
fechamento. No entanto, não podemos nos esquecer de que “a construção da identidade
do linguista – como, aliás, da identidade de qualquer outra profissional ou,
simplesmente, qualquer pessoa – passa pela questão da política de representação”
(RAJAGOPALAN, 2003, p.75). Dessa forma, como não podia deixar de ser, só se pode
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
entender o modo como isso acontece se levarmos em conta as preocupações
sociopolíticas que marcam cada momento histórico pelo qual uma disciplina como a
linguística ou como a linguística aplicada passa (idem, ibidem). Enquanto isso,
aproveitemo-nos das contribuições de cada uma, para refletirmos sobre o universo
escolar e as questões da língua(gem), num universo institucional muito poderoso,
porque mais que ensinar, a escola inculca e isso não é pouca coisa, lembra-nos Orlandi.
A língua do Estado no Estado
Por tudo que foi dito anteriormente, pode-se pensar que as Línguas sempre
estiveram ligação direta com o poder porque elas fazem parte do jogo de poder/saber
dentro das políticas dos Estados. De um modo geral pode-se dizer com Calvet (2007,
p.11) que “o poder político sempre privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo
governar numa língua ou mesmo impor à maioria a língua de uma minoria”. Como
exemplo disso, temos dois casos dado por Maurizio Gnerre (1994, p. 7), quando diz que
foi o falar da île de France o escolhido para figurar como Língua Francesa e o alemão, a
língua da nobreza da Saxônia. Nesse sentido, ele afirma que “uma variedade linguística
‘vale’ o que ‘valem’ na sociedade os seus falantes, isto é, como reflexo do poder e da
autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais”. Um caso mais recente é
sobre a intervenção normativa do Estado Norueguês (por meio de regras ortográficas,
por exemplo) para construir uma identidade nacional depois de século de dominação
dinamarquesa (CALVERT, 2007, p. 12).
Dessa forma, como se pode perceber aqui, a língua tem sido um dos elementos
centrais nas políticas de Estado como forma de instaurar processos de identificação na
construção da representação da unidade nacional, como se constata ao longo da história
da formação dos Estados modernos europeus. Nesse processo, o Estado toma para si a
função de organizador social para se tornar em uma “meta-instituição” doadora de
sentidos, função tão poderosa quanto o papel desempenhado pela Igreja, antes da
Revolução Francesa. Daí, “a história da imposição das nações modernas coincide, em
grande parte, com a história da imposição de uma única língua nacional única e
comum” (SILVA, 2000, p. 85).
A esse modelo tradicional monolíngue, monoétnico, monorreligioso e
monoideológico – o modelo humboldtiano de uma língua/uma comunidade ou
nação/cultura – se contrapõe ao modelo multiculturalista mais recente (cf. SIGNORINI,
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
1998, p. 339). Nesse sentido, pode-se dizer com Rajagolan (1998, p. 40) que “a
identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela”; “em todo caso, a
modalidade identificatória deve já estar ou ser assegurada: assegurada pela língua e na
sua língua, diria Derrida” (1996, p. 53 – tradução minha). Daí penso com Orlandi (1998,
p. 205) que “o Estado propicia uma política de invasões, de processos de oficialização,
de campanhas de educação, que, reconhecendo as diferenças, procura, no entanto,
apagá-las”.
É na escola, através do ensino de língua nacional, que esse apagamento ocorre
com maior violência, a violência simbólica, em termo da teoria da reprodução de
Bourdieu e Passeron. Para Conell (1995, p. 22), as escolas são instituições literalmente
poderosas. As escolas públicas exercem o poder tanto através da obrigatoriedade de
frequentá-las quanto através das decisões específicas. As notas escolares, por exemplo,
não são meros ponto de apoio do ensino.
Pode-se dizer com Britto que “a língua não é neutro”, da mesma forma que
podemos dizer que tudo no ensino é ideológico e isso nos coloca diante de uma
problemática, a da língua nacional, entendida aqui como um conjunto de fatores de
ordem social, política e ideológica, contemplados por um projeto de construção ou
consolidação da nação e da nacionalidade, que fomentam e articulam tanto práticas,
atitudes e representações da língua pelos falantes, quanto modos de reflexão/teorização
linguística de diferentes agentes institucionais, como cientistas, legisladores e
pedagogos, por exemplo (SIGONRINI, 2004, p. 98-99).
O ensino da língua portuguesa na escola nada mais é do que a inserção da
língua dentro de uma estrutura curricular. Isto pode acontecer sob duas perspectivas de
abordagem: a primeira como língua materna ou L1 e a segunda como língua estrangeira
ou L2. Os dois documentos aqui em análise tratam a língua portuguesa na primeira
perspectiva, ou seja, enquanto língua materna. E isto nos leva a acreditar que a
disciplina língua portuguesa como L1 deve ser ensinada na escola.
Anteriormente foi visto que cabe à escola “a responsabilidade de contribuir
para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o
exercício da cidadania”. Até aqui as proposições estão necessariamente coerentes com
aquilo que a maioria das pessoas é levada a acreditar. Mas o que dizer quando um
linguista como Sírio Possenti afirma que “a escola não ensina língua materna a nenhum
aluno” porque “ela recebe alunos que já falam (e como falam, em especial durante
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
nossas aulas!...)” (POSSENTI, 1996, p.34). Podemos desconfiar do linguista? Ou dos
sentidos de ensinar? E a língua da escola, é materna? (ARAÚJO, 2011)
Nessa nova encruzilhada, os termos “ensino” e “materna” suscitam algumas
questões que dizem respeito à disciplina escolar Língua Portuguesa. Comecemos pelo
ensino enquanto ação político-pedagógica. Para Giroux (1996, p. 570),
Ensinar, nos termos de Freire, não é simplesmente entrar na sala de aula, mas
estar na história, na esfera mais ampla de um imaginário político que oferece
aos educadores a oportunidade de uma enorme coleção de campos para
mobilizar conhecimentos e desejos que podem levar a mudanças
significativas na minimalização do grau de opressão na vida das pessoas.
Aí temos um conceito específico e ao mesmo tempo amplo, ou melhor, específico no
sentido de que se refere ao pensamento de como Freire concebe o ensino; amplo, no
sentido de que é uma tradução do que seja ensinar dentro do “verdadeiro” pensamento
humanista moderno, na medida em que esta tradução traz consigo a ideia de
libertação/opressão, autonomia/dependência, mas tratando da questão da incompletude
do ser humano em oposição da ideia do iluminismo do ser completo, racional,
enciclopédico. Podemos ainda pensar o ato de ensinar no sentido que já apresentamos
no capítulo anterior, como vimos no dizer de Orlandi (2003, p. 17 [grifo da autora]), que
“mais do que informar, explicar, influenciar ou mesmo persuadir, ensinar aparece como
inculcar”. Daí penso com Bourdieu (2005, p. 208),
que em todos os casos, os esquemas que organizam o pensamento de uma
época somente se tornam inteiramente compreensíveis se forem referidos ao
sistema escolar, o único capaz de consagrá-los e constituí-los, pelo
exercício, com hábitos de pensamento comuns a toda uma geração.
Dessa forma, podemos começar a pensar aqui qual o conceito de língua a escola vem
trabalhando ao longo dessa trajetória da linguística no Brasil e das questões que a
linguística aplicada vem colocando em discussão sobre o ensino da língua nos anos de
1990 para cá? Da mesma forma, podemos pensar o que é currículo e para que serve isso
dentro do ambiente escolar? Ao responder e repensar essas questões, penso com e em
Magda Soares (1996, p. 79) que é fundamental que a escola e os professores
compreendam que ensinar por meio da língua e, principalmente, ensinar a língua são
tarefas não só técnicas, mas também políticas. Nesse sentido, que a disciplina aplicada
está mais aberta ao político do que a Linguística (teórica), uma vez que linguistas como
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
Chomsky acham possível separar o político do linguístico (cf. RAJAGOPALAN, 2003,
p. 16).
Voltando à questão do currículo, podemos aqui pensar que o currículo faz parte
dos esquemas de que fala Bourdieu, mas ele é, muitas vezes, senão quase sempre, como
algo dado e indiscutível, sendo raramente alvo de debate ou de problematização, mesmo
em esferas educacionais pelos profissionais da área, como nos lembra Silva (1995, p.
184). Mas o que é mesmo um currículo escolar? Não vamos aqui recorrer ao Aurélio,
como fazem a maioria dos pedagogos. Pensemos nisso...
Nos últimos anos, o movimento por formulações nos cursos de licenciatura tem
sido visivelmente constatado por todos nós (MOREIRA, 1995; SILVA, 1995,
GIROUX, 1995); Na mesma direção, as escolas de ensino fundamental e médio têm
também sofrido formulações em decorrência dos programas curriculares (im)posto pelo
Estado em suas políticas educacionais, como é o caso dos Parâmetros Curriculares
Nacionais e as Orientações Curriculares, esta última dedicada ao ensino médio. No caso
dos cursos de licenciatura, Moreira (1995, p.7-9), afirma que
reformas curriculares formais, que simplesmente acrescentam, eliminam ou
substituem disciplinas e conteúdos, conservando a justaposição entre
formação referente ao conteúdo específico e a formação pedagógica, pouco
têm contribuído para o enfrentamento dos entraves.
É nessa direção que trago essa discussão para o debate aqui, com o intuito de pensar
sobre a formação dos profissionais da área de Letras e nos novos desafios da profissão
num mundo cujos paradigmas estão em crise ou em fase de transição. Nessa mesma
direção, afirma Moita Lopes (2003, p. 33) que “o professor de língua (...) está
posicionado crucialmente na nova ordem mundial porque a educação linguística está no
centro da vida contemporânea já que ‘nada se faz sem o discurso”.
E o que dizer da língua? O que é de fato uma língua? Uma questão simples de
se responder? Pensemos sobre a questão... Sobre ela Rajagopalan (1998, p.22) afirma
que
sucessivas gerações de linguistas quase numa deram qualquer sinal de estar
minimamente perturbados com esse truísmo um tanto embaraçoso de que,
após anos de pesquisas, os linguistas ainda não apresentaram uma definição
satisfatória, que utilizasse apenas critérios linguísticos, do que seja “uma
língua” ( em oposição a “língua” – sem anteposição de um artigo) (cf.
Harris, 1981). Ao contrário, eles geralmente se dão por satisfeito com
alguma vaga definição geopolítica – alguma coisa “por ‘língua x’ nós
queremos dizer a língua que o povo fala em tal país ou província ou seja lá o
que for”.
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
Se não há uma definição do que seja a língua, em termos linguísticos, um então a quem
recorrer? Nesse momento,
valho-me do direito à desconstrução como direito incondicional de colocar
questões críticas, não somente à história do conceito de homem, mas à
própria história da noção de crítica, à forma e à autoridade da questão, a
forma interrogativa do pensamento” (DERRIDA, 2003, p. 16).
O próprio Derrida, como todo filósofo, coloca-nos diante de outra questão: a do
questionamento acerca do pertencimento, ou seja,
Mesmo quando só temos uma língua materna e estamos enraizados em
nosso local de nascimento e em nossa língua, mesmo nesse caso, a língua
não pertence. Que ela não se deixa apropriar, isso se deve à essência da
língua. Ela, a língua, é aquilo que não se deixa possuir, mas que por essa
mesma razão, provoca toda espécie de movimentos de apropriação (...). O
desafio político da coisa, justamente, é que o nacionalismo linguístico é um
desses gestos de apropriação, um gesto ingênuo de apropriação (DERRIDA,
2001, p. 9).
Essa reflexão de Derrida nos convida a pensar sobre a questão de que
Rajagopalan fala acerca do conceito de língua está sempre comprometido com o lugar
de que se fala. Conceito já naturalizado entre os linguistas.
O fato é que a língua(gem) está em todas as ações humanas. E isso a
pragmática nos ensina quando afirma que todo dizer é um fazer. E aqui vale à pena
lembrar Portos de passagem do Geraldi quando propõe uma tipologia para os usos ou
ações que podemos fazer na língua, com a língua e pela com língua, e, daí podemos
falar sobre o ensino da língua e a construção de um currículo, pensado como algo
humanamente possível, aberto ao diálogo, numa prática educacional mais humana em
detrimento da robotização que vivenciamos. E nessa direção, dizia Paulo Freire (2009,
p.149)
Quanto mais as pessoas participarem do processo de sua própria educação,
maior será sua participação no processo de definir que tipo de produção
produzir, e para que e por que, e maior será também sua participação no seu
desenvolvimento. Quanto mais as pessoas se tornarem elas mesmas, melhor
será a democracia. Quanto menos perguntarmos às pessoas o que desejam e
a respeito de suas expectativas, menor será a democracia.
Este subtítulo tem duplo sentido. O primeiro se refere à visão da
incondicionalidade da escola, ou seja, a escola como uma panaceia para a pobreza, para
a indisciplina etc. (cf. CONNELL, 1995, p. 12). O segundo diz respeito à falta de
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
condição da escola em educar hoje e no passado também. Uma escola fechada para o
diálogo. Vale à pena lembrar aqui a afirmação de Sarup (1986) de que “as escolas são
fábricas” lugar onde
a didática vem sutilmente servir de instrumento de seleção para os mestres
que, simbolicamente, colocam na porta da sua classe o aviso “Ninguém
entra aqui se não já conhecer o ofício de aluno, se não souber se comportar e
se não se comprometer o desenrolar impecável da minha programação
didática” (MEIRIEU, 2010, p. 12).
Diante de tanta responsabilidade, o estudante de Letras, futuro profissional da
linguagem ou de linguagens (já que estamos vivendo com a internet e na internet), deve
resistir ao processo de robotização educacional que fatalmente um dia se deparará num
ambiente escolar. Para isso, Rajagopalan (2003, p. 112) aconselha-nos que
no contexto da linguística aplicada, uma proposta de pedagogia crítica terá
que começar agindo em duas frentes: a primeiras, assumindo uma postura
crítica – no lugar da tradicional postura de sobrevivência – em relação à
linguística teórica. Não se trata, como entendem muitos, de se limitar a
escolher o que é útil e descartar aquilo que não interessa aos fins práticos.
Trata-se, antes de mais nada, de questionar a própria validade da teorização
feita in vitro e da sua aplicação automática no mundo da prática. Muitas
vezes, tal postura deverá redundar na rejeição de propostas alternativas,
oriundas da vida vivida e moldadas pelas exigências práticas nela
verificadas.
A segunda frente de ação – que, no fundo, depende do êxito obtido na
primeira – procurará proporcionar aos aprendizes capacidade de desenvolver
formas de resistências e dar-lhes condições de enfrentar os desafios e decidir
o que é melhor para si. No caso do ensino de línguas, mais especificamente
de línguas estrangeiras, a questão adquire uma certa urgência, diante do e
feito avassalador do fenômeno conhecido como “imperialismo linguístico)
(PHILLIPSON, 1992; PENNYCOOK, 1994, 1998)
Mas resistir ao sistema e mudar não é tão fácil. O que impõe, no dizer de
Coracini (2008, p. 11)
um constante rever-se, um constante questionar-se e, sobretudo, um
constante perdoar-se, pois atravessados que somos, como sujeitos da
linguagem, pelo inconsciente, sentimo-nos, a todo momento, prisioneiros de
nossa história, da nossa formação, de nossas experiências, esquecidas,
recalcadas...
Considerações finais
A propósito dessas incursões sobre Linguística Aplicada e ensino é que ela tem
na sua essência: a política, uma vez que a linguagem pode libertar como também barrar
o acesso de alguém, diria Magda Soares. Eis o nosso desafio diante das Letras
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
rabiscadas nos cadernos e das palavras que saem da boca dos nossos alunos, perceber a
beleza de ser um eterno aprendiz e ou, nas palavras do filósofo, só sei que nada sei. E
não apenas se contentar-se de contente somente com as crianças “bem educadas”, e
“descartar aquelas que poderiam comprometer um equilíbrio tão difícil de conseguir”.
Nas palavras de Meirieu (2010, p.14),
Este é o grande desafio das nossas sociedades contemporâneas: como tornar
possível a educação quando esta requer estatuir sobre finalidades essenciais,
e até metafísicas ou políticas, e quando, justamente, a democracias admite e
até reconhece como fundamental a diversidade de opções nesses campos?
Que lei comum dever ser imposta para que todos possam expressar as
dificuldades, respeitando as dos outros? Como pensar uma “escola plural”
que não seja uma “escola fragmentada”, “babelizada”, a serviço de uma
multidão de interesses sociais, profissionais, ideológicos etc.?
É, tudo isso não cabe no preço do feijão, mas cabe nas ações e atitudes do
educador crítico, por isso
Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala de aula, é
preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de ensino
articula uma opção política – que envolve uma teoria de compreensão e
interpretação da realidade – com os mecanismos utilizados em sala de aula.
Assim, os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a eles, as estratégias de
trabalho com alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, o
relacionamento com os alunos, tudo corresponderá, nas nossas atividades
concretas de sala de aula, ao caminho por que optamos. Em geral, quando se
fala em ensino, uma questão prévia – para que ensinamos? e sua correlata:
para que as crianças aprendem o que aprendem? – é esquecida em benefício
de discussões sobre o como ensinar, quando ensinar, o que ensinar etc.
Parece-me, no entanto, que a resposta ao “para que” dará definitivamente as
diretrizes básicas das respostas. (GERALDI, 1996, p. 40).
Sabiamente nos ensina Miriam Lemle (1984, p. 86 [grifo meu]) que as “ilusões
devem ser logo postas de lado: nenhuma teoria linguística fornecerá em si a chave
mágica para um método de ensino que produza automaticamente leitores eficientes e
redatores fluentes”.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, A. P. A Ordem do discurso e a violência simbólica nos PCN e nas Orientações
Curriculares: em questão a identidade do professor construída sob a força de lei. 2011, 125f.
Dissertação (Mestrado em Letras: Linguagens e representações – DLA – Universidade Estadual
de Santa Cruz, Ilhéus-BA, 2011).
ARAÚJO, A. P.; FERREIRA, E. P. A identidade em Parâmetros Curriculares: em questão a
subjetividade do professor de português. In: Revista Eletrônica de Educação. – São Carlos,
SP: UFSCar, - v.5,no.2, p.96-123,nov.2011. nov. 2011 Disponível em: www.reveduc.ufscar.br .
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
BAKHTIN, M. (V. M. VOLOSHIV), Marxismo e Filosofia da Linguagem. Tradução: M.
Lahud e Yara F. Vieira. SP: Hucitec, 1997.
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. Tradução de Sergio Miceli et al. - 6ª
edição - São Paulo: Perspectiva, 2005.
CAVALCANTI, M; SIGNORINI, I. Introdução. In: _______;_______. (org.). Linguística
aplicada e transdisciplinaridade: questões e perspectivas. – Campinas-SP: Mercado de Letras,
1998.
CALVET, L-J. As políticas linguísticas. Tradução Isabel de Oliveira Duarte, Jonas Tenfen,
Marcos Bagno. – São Paulo: Parábola Editorial, 2007.
CONNELL, R. W. Pobreza e educação. In: GENTILI, P. (org.) Pedagogia da exclusão: crítica
ao neoliberalismo em educação. – Petrópolis-RJ: Vozes,1995.
CORACINI, M. J. A-present-ação. In: ECKERT-HOFF, B. M. Escritura de si e identidade: o
sujeito-professor em formação. – Campinas-SP: Mercado de Letras,2008.
DERRIDA, J. Le monolinguisme de l’autre ou la prothése d’origine. Paris: Éditions Galilée,
1996.
________. O olho da universidade. Introdução de Michel Peterson; tradução de Ricardo Iuri
Canko e Ignacio Antonio Neis. – São Paulo: Estação Liberdade, 1999.
________. La langue n’appartient pas. Entrevista realizada por Everlyne Grossman em 29 de
junho de 2000.
_________. Posições. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. – Belo Horizonte: Autêntica,
2001.
________. A universidade sem condição. Tradução de Evando Nascimento. – São Paulo:
Estação da Luz: 2003.
FOUCAULT, M. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France. São Paulo,
Edições Loyola, 1996.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. – São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
_______.; HORTON, M. O caminho se faz caminhando: conversas educação e mudança
social. Tradução de Vera Lúcia Mello Josceline; notas de Ana Maria Araújo Freire – 5ª ed. –
Petrópolis-RJ: Vozes, 2009.
GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In: _______. (Org.) O texto
na sala de aula. – São Paulo: Ática, 1996.
GIROUX, H. Um livro para os que cruzam fronteiras. In: GADOTTI, M. (org.) Paulo Freire:
uma bibliografia. São Paulo: Cortez. pp. 569-570.
GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
ILARI, R. O estruturalismo linguístico: alguns caminhos. In: MUSSALIN, F; BENTES, A, C.
(org.). Introdução à Linguística: fundamentos epistemológicos. – São Paulo: Cortez, 2007.
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
KLEIMAN, A. O estatuto disciplinar da Linguística Aplicada : o traçado de um percurso, um
rumo para o debate. In: CAVALCANTI, M. C; SIGNORINI, I.(Org.). Linguística aplicada e
transdisciplinaridade: questões e perspectivas. – Campinas-SP: Mercado de Letras,1998.
LAJOLO, M. No jardim das letras, o pomo da discórdia. Disponível em:
http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/pomo.htm. Acessado em 15 de novembro de 2011.
LEMLE, M. Da teoria para o ensino. In: ______. Análise sintática: teoria geral e descrição do
português. – São Paulo: Ática, 1984 (Ensaios; 106).
MOREIRA, A. F. O currículo como política cultural e a formação docente. In: _______.;
SILVA, T. T. (org.) Territórios contestados: currículo e os novos mapas políticos e culturais. –
Petrópolis-RJ: Vozes, 1995.
MEIRIEU, P. Prefácio da primeira edição canadense. In: GAUTHIER, C.; TARDIF, M. (org.)
A pedagogia: teorias e práticas da Antiguidade aos nossos dias. Tradução de Lucy Magalhães –
Petrópolis-RJ: Vozes, 2010.
NETO, E. Literatura para o povo. In: Revista do Centro de Estudos Portugueses Hélio Simões
com anais do IV seminário Internacional de Literaturas de Língua Portuguesa. - n. 1 – anual -
1997/1998.
ORLANDI, E. O que é linguística – São Paulo: Brasiliense, 1986.
_______. Identidade linguística escolar. In: SIGNORINI (org.) Língua(gem) e identidade –
Campinas-SP: Mercado de Letras, 1998.
POSSENTI, S. Sobre o ensino de português na escola. In: GERALDI, J. W. (Org.) O texto na
sala de aula. – São Paulo: Ática, 1996.
RAJAGOPALAN, K. O conceito de identidade em linguística: é chegada a hora para
reconciliação radical? In: SIGNORINI (org.) Língua(gem) e identidade – Campinas-SP:
Mercado de Letras, 1998.
_______. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética. – São Paulo:
Parábola Editorial, 2003.
_______. O ensino de línguas estrangeiras como questão política. In: Espaços Linguísticos:
resistências e expansões. MOTA; K; SHEYERL, D. (Org.) – 2ª edição – Salvador: EDUFBA:
Instituto de Letras, Departamento de Letras
SARUP, M. Alienação e ensino. In: _________. Marxismo e educação: abordagem
fenomenológica e marxista da educação. Tradução de Waltensir Dutra. – Rio de Janeiro:
Guanabara, 1986.
SIGNORINI, I. Figuras e modelos contemporâneos da subjetividade. In:______. (Org.)
Língua(gem) e identidade – Campinas-SP: Mercado de Letras, 1998.
SOARES, M. B. Linguagem e escola: uma perspectiva social. – 14ª edição. – São Paulo: Ática,
1996.
_______ Português na escola: história de uma disciplina curricular In: BAGNO, M. (Org.)
Linguística da norma. - 2ª edição. - São Paulo: Edições Loyola, 2004.
VI SEMANA DE LETRAS DA UNEB (CAMPUS DE IPIAÚ)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Universidade Federal da Bahia - a primeira do
BrasilGaleria dos reitores. Disponível em: www.ufba.br/historico . Acessado em 15 de
novembro de 2011.