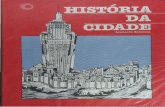Tecnologias, Redes, Bicicletas (?) e o Acesso à cidade
Transcript of Tecnologias, Redes, Bicicletas (?) e o Acesso à cidade
Tecnologias, Redes, Bicicletas (?) e o Acesso à cidadeEixo temático: Produção Contemporânea do Espaço, Projetos de Urbanismo
e a Construção do Comum
Pablo Vieira Florentino M.Sc., UFBA/IFBA. [email protected]
RESUMO
Primeiramente o artigo fornece uma introdução ao uso da internet como espaço que favorece o estabelecimento de uma nova sociabilidade e que se presta ao desenvolvimento de uma cultura colaborativa. Nesse contexto, as redes sociais digitais se colocam como ambiente privilegiado para a elaboração e compartilhamento de conteúdos e opiniões sobre o espaço urbano, assim como lugar de articulação e mobilização para a ação que questionam ou reconfiguram este espaço. Em seguida são fornecidos exemplos recentes desse tipo de ação em cidades brasileiras originadas ou apoiadas por redes sociais digitais. Tais exemplos subsidiam reflexões sobre a constituição daquilo que denominamos de “cidade como rede social” em parte como resultado dos atuais usos das TIC nas cidades.
PALAVRAS-CHAVE
Internet, Redes Sociais Digitais, Espaço Urbano, Sociabilidade.
1
Tecnologias, Redes, Bicicletas (?) e o Acesso à cidade
Introdução
Quando analistas de sistemas iniciam o desenvolvimento de um sistema computacional, o pri-meiro passo a ser dado é realizar encontros e entrevistas com os usuários finais deste sistema, ou seja, aqueles que irão utilizá-lo no dia-a-dia, tentando extrair seus anseios e organizá-los em uma lista de requisitos para o funcionamento satisfatório do mesmo. Este diálogo é muito raro em processos de desenvolvimento de projetos para serviços e espaços no meio urbano (transporte, estruturas de ruas e praças, escolas, universidades, sinalização, vigilância, locais de lazer), o que tem implicado na concepção de projetos equivocados e aumentado os proble-mas enfrentados pelas metrópoles que passam por um inchaço crescente, especialmente no Brasil. Neste contexto, um grande problema para urbanistas, envolvendo um grande número de opiniões e interesses, reside em perceber e capturar a forma pela qual as pessoas usam, sentem e pensam a cidade, ou mesmo em entender os fluxos dentro e no entorno da cidade, utilizando formas distintas de locomoção. Isto permitiria uma micropercepção sobre a forma como os habitantes enxergam suas cidades.
Uma possibilidade para alcançar, mesmo que parcialmente, esta micropercepção está nas im-plicações percebidas de forma subjetiva e potenciais que as redes sociais digitais e as novas formas de sociabilidade virtual exercem ou podem exercer sobre os cidadãos na cidades e o uso dos espaços urbanos. Não somente as redes sociais digitais convencionais, como também outras aplicações hipermídia, principalmente aquelas providas de geolocalização ou as que permitem interação com o espaço em volta. As redes sociais digitais não são simplesmente um novo meio de comunicação, como o rádio ou a TV, mas um novo caminho de mão-dupla que abarca vasta pluralidade de mídias e signos, de possibilidades de interação ( inclusive com o próprio espaço ) e onipresença, criando novas interfaces para apreensão do espaço da cidade. Estas redes surgem a partir da evolução de uma rede mundial, chamada Internet, exis-tente há mais de 25 anos e permitindo, entre outras tantas tecnologias, a ascensão e consolida-ção das redes sociais e de ferramentas de comunicação virtual. O surgimento do que se con-vencionou chamar Internet 2.0 (ou web 2.0), a partir da primeira década do século XXI, possi-bilitou expressiva melhora na interação e facilidade de produção de conteúdo por qualquer pessoa interessada. A Internet permitiu a consolidação destes meios como os mais importantes para troca de dados e informações em diversas áreas e com diferentes propósitos: divulgação de campanhas, eventos e estabelecimentos comerciais e de entretenimento, promoção de dis-cussões e debates virtuais, questões públicas, manifestações, passeatas, comercialização de produtos e serviços, formação de grupos de desconhecidos com mesmo interesse ou propósi-to, entre outros.
A partir das ideias de transbordamento do capital intelectual e conhecimento coletivo trazidas por Giuseppe Cocco (Cocco et al, 2003), pode-se utilizar técnicas de análise de redes sociais para investigar e identificar nestes transbordamentos, ou nos rastros digitais, características que mostrem esta nova forma de observar, utilizar e se apropriar do espaço urbano. Estas re-
2
des seriam então as novas comunidades que substituiriam, de certa forma, aquelas citadas por Bauman (2001 b), um ponto de encontro de estranhos.
No trabalho é considerada a formação de redes apoiando-se em marcos conceituais como Rizoma ( Deleuze ) e Multidão (Hardt & Negri, 2005), mas também as questões de subjetivação que se desenvolvem nas redes horizontais, que terminam funcionando como “transversalidades” que permitem a movimentos urbanos que possuem características e configurações diferentes, cooperarem, formando novas redes. O modelo rizomático e as transversalidades poderiam explicar como as redes se organizam de forma alternativa a modelos hierárquicos.
É possível perceber as estruturas rizomáticas de formação e/ou funcionamento dos movimentos, coletivos e projetos em redes sociais digitais, na sua grande maioria, partindo de convicções e ações individualizadas e orgânicas ou de grupos bastante reduzidos com abrangência de atuação limitada, muitas vezes de maneira singela e discreta, se compararmos com o nível de abrangência de outros canais de informação, como TV e rádio. Explicam estes micro movimentos através das TICs ( Tecnologias da Informação e Comunicação ), dos seus usos e difusão dos conhecimentos e produtos gerados a partir das mesmas. As TIC´s e, mais especificamente, as redes sociais digitais (RSD), desfazem as fronteiras do labor formal, permitindo que o indivíduo esteja quase que em constante produção e interação social. Negri cita para isso a rede que se formou em torno do software livre em todo o mundo e que gera produtos de uso geral e comercialmente irrestrito.
Quando estranhos se encontram
Bauman (2001 b) mostra a questão das comunidades, da relevância das mesmas para as vidas das pessoas e como este sentimento comunal na vida real passa a perder lugar dentro do tem-po/espaço das grandes cidades, tornando-se uma questão quase saudosista, pois havia ali uma sensação de proteção. A dicotomia liberdade x segurança é trazida à tona por Bauman quando mostra, dentro da cidade contemporânea, o quanto as pessoas estão falsamente obcecadas por uma ameaça de perigo urbano, afastando-se ainda mais dos espaços públicos na cidade. Ou-tros aspectos como a intolerância à diversidade e às etnias, problemas de mobilidade, ausência de espaços públicos coletivos, o próprio desenho urbano e a arquitetura do medo e da segrega-ção, entre outros, criam um ambiente que desestimula o encontro com estranhos, como diria Sennet (1978). Este enxerga nas cidades “um assentamento humano em que os estranhos teri-am a chance de se encontrar. Estes encontros são um evento sem passado e, muitas vezes, sem futuro, mas representam interações dentro do espaço urbano com o meio em que se encontra”. Neste sentido, para Bauman (2001), a vida urbana requer um tipo de atividade muito especial e sofisticada, que para Sennet seria um grupo de habilidades sob a rubrica da “civilidade”, isto é:
a atividade que protege umas das outras, permitindo, contudo, que possam estar juntas. Usar uma máscara é a essência da civilidade. As máscaras permitem a sociabilidade pura, distante das circunstâncias do poder, do mal-estar e de sentimentos privados das pessoas que as usam. (Sennet, 1978)
Assim, Bauman questiona e responde: o que seria um espaço urbano “civil”, assim, propício a prática individual da civilidade ? Primeiramente a disponibilidade de espaços que as pessoas possam compartilhar como pessoas públicas, sem serem instigadas a retirarem suas “másca-
3
ras”. Mas também significa uma cidade que se apresenta aos seus residentes como um bem comum que não pode ser reduzida a propósitos individuais. Estes espaços não incluem os lo-cais de consumo, pois nestes as pessoas estariam agindo, e não interagindo.
Esta tendência de afastamento por parte do cidadão do que lhe é estranho dentro do espaço ao seu redor, por motivos diversos, entre eles inclusive a sensação de perigo, que não é o perigo de fato, mas o receio ao desconhecido, redimensiona o formato do cotidiano e pode criar lacu-nas no viver urbano. Diante desta incapacidade urbana de se fornecer direitos e espaços, Bau-man (2001 a) afirma: “a consequência prática do apelo aos ‘direitos humanos’ e da busca do reconhecimento (como cidadão) é uma situação envolvendo sempre novas frentes de batalha e um traçar e retraçar das linhas divisórias que propiciarão conflitos sempre renovados”, mas que não surgem exatamente ou abertamente com a bandeira dos direitos humanos, e sim como questões imediatas sobre os direitos como cidadão urbano.
Estas novas frentes se configuram em novos movimentos de uso e ocupação coletiva e aberta do espaço urbano, sem a separação exata entre público e privado, mas carregam em si um novo componente como espaço de debate e articulação: os meios de comunicação baseados em ambientes virtuais, como as redes. De fato, os encontros presenciais entre estranhos não estão se dando dentro dos espaços físicos convencionais para debater e agir nestas novas fren-tes. Os estranhos agora se encontram em outros espaços, às vezes virtuais, às vezes híbridos, resultados de inovações tecnológicas que levaram ao surgimento das formas digitais de intera-ção entre sistemas, máquinas e pessoas. Indivíduos desconhecidos, muitos geograficamente distantes, que nunca pensaram se conhecer, acabam por interagir, compartilhar, criar, discutir, debater, a partir do momento que possuem causas e interesses em comum, e se encontram nos espaços virtuais, nas comunidades digitais, destinadas aos temas específicos, dando origem à possibilidade de preencher o que não lhes parece mais possível nos espaços físicos e presenci-ais.
Nestas “comunidades”, o indivíduo possui sensação de segurança para poder interagir social-mente e livremente com estranhos, dentro de um espaço em que não precisa se despir de sua máscara, pelo contrário, pode passar a utilizar várias. Seriam os espaços de fuga em busca de uma nova sociabilidade, mas também o que resta de sonho por uma vida em “vizinhança” compartilhada com “amigos virtuais” desconhecidos do mundo real. Seriam também espaços com o aspecto especial e sofisticado da “civilidade”, onde não existe o perigo de agressões fí-sicas, roubos e assaltos.
A cidade passa a ser ela mesma uma interface de acesso à comunicação e à própria cidade, tendo agora o status de um grande dispositivo de navegação (Varnelis & Friedberg, 2008 ). A tecnologia modifica a forma como algumas pessoas navegam pela cidade, andando, de carro ou de bicicleta, criando um outro potencial de descoberta da cidade, muitas vezes apoiadas pelas interações e rastros deixados nas redes sociais e em mapas colaborativos.
Temos aí uma tendência tecnológica de hibridização entre espaço, corpo e informação. As re-des sociais, em conjunto com as novas tecnologias de informação e comunicação, permitem então este novo lugar, agora virtual e híbrido, como novas possibilidades interação e partici-pação, mas também, das suas derivações e desdobramentos sobre o uso e percepção do espaço urbano. Com a introdução de tecnologias digitais e interarivas, espaço e sujeito, sujeito e pai-sagem, começariam a se comunicar e interagir criativamente através de mediações digitais. O espaço metropolitano, enquanto especialidade eletrônica, seria um espaço multiforme experi-
4
mentado de uma maneira dinâmica (Di Felice, 2009). Ainda de acordo com Di Felice (2009), observar tais transformações significa não somente entender as formas mutantes de armaze-nar, organizar e divulgar informações com um sentido evolutivo, mas reconhecer a introdução de uma nova forma de perceber e experimentar o mundo e definir a realidade.
Esta realidade amplifica então a possibilidade de interagir, de se apropriar, de descobrir e con-seguir acesso à cidade, mas ao mesmo tempo, encontra-se como uma realidade restrita, espe-cialmente no bloco de países em desenvolvimento . O percentual de pessoas que possuem dis-positivos eletrônicos capazes de processar tais redes e aplicações ainda é muito baixo. Pode-se afirmar que em alguns casos existe uma certa exclusão “mobile”, a partir do momento que certas aplicações ou serviços “públicos” somente funcionam caso o indivíduo possua um dis-positivo com capacidade de interagir com o espaço e processar a aplicação. Um exemplo é o sistema de aluguel de bicicletas no Rio de Janeiro, que somente é possível para quem possui um aparelho celular.
Internet como espaço de uma nova sociabilidade
Em sua origem a Internet se funda em critérios da excelência acadêmica, na revisão por pares, na transparência de procedimentos e no compartilhamento dos resultados – requisitos indis-pensáveis para o enriquecimento e a melhoria da pesquisa (Monaci, 2008). A cultura hacker, com seu entusiasmo pela descoberta, ideal de compartilhamento e de livre acesso ao conheci-mento, foi mais um dos fatores propulsores da Internet. A liberdade de criação tornou-se terre-no fértil para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, experimentação e solução tecnológi-ca, independentemente dos vínculos e das lógicas institucionais (Monaci, 2008). Liberdade criativa aliada ao espírito de compartilhamento e de colaboração promoveu uma sinergia de fatores decisiva para a realização e difusão desta inovação tecnológica (Monaci, 2008).
Numa segunda fase, em 1996, a Internet irá caracterizar-se pela progressiva privatização do conteúdo e da experiência em rede, por um lado, e pela emergência de uma tendência susten-tada na criatividade pessoal, independente e autodidata de milhões de usuários que, através da Rede, experimentam, colaboram, desenvolvem relações e práticas sociais de elaboração e de construção do conhecimento (Monaci, 2008).
De modo crescente, o espaço de comunicação então passa a se consolidar dentro de uma rede de telecomunicações, Internet e mídia de massa. Por um lado, os conglomerados de mídia e as companhias da Internet (Google, Yahoo, Microsoft e Apple) buscam economias de sinergia entre várias plataformas e produtos (Castells & Arsenault 2008). Por outro lado, a Internet e as comunicações sem fio descentralizam a rede de comunicação. Assistimos, assim, a uma nova forma de comunicação através de redes de “auto-comunicação de massa” (mass self-communication networks), um processo que tem lugar nas redes de comunicação horizontal da web global, que inclui o intercâmbio multimodal de mensagens interativas e documentos de muitos-para-muitos num tempo determinado (Castells & Arsenault 2008).
Existem neste contexto vários exemplos que reforçam uma tendência libertária, horizontal e de compartilhamento, como a cultura hacker, a comunidade software livre produzindo aplica-tivos computacionais de código aberto e a questão dos Creative Commons (Silveira, 2008). É nesta mesma tendência parcial da Internet, que também se reflete nas redes sociais digitais,
5
que estes meios tornam-se locais para uma nova sociabilidade, pois as RSD passam a formar um elemento cada vez mais importante da cultura contemporânea, que por sua vez é cada vez mais (ou quase totalmente) urbana.
Ainda na busca de compreensão das redes sociais, Stotz (2009, p. 31) afirma que uma rede so-cial se configura por meio de uma ação coletiva resultante de um processo social mais amplo a partir “de relacionamentos sociais para os quais não existe fronteira comum”. Por outro lado, Marteleto (2009, p. 45) evidencia que as redes sociais podem ser entendidas como “aquelas tecidas no cotidiano das relações, desejos, interesses e expressões dos sujeitos coleti-vos”. As redes sociais são estruturas abertas e tendem a expansão, “a partir do compartilha-mento de códigos, valores ou objetivos de desempenho” (Lara & Lima, 2009, p. 631), por meio de seus integrantes/membros, gerando novos relacionamentos.
As RSD passariam então a compor um elemento de influência sobre a forma pela qual se esta-belecem contatos de uso, percepção e interferência sobre espaços e meios urbanos (públicos ou privados). As RSD passam a exercer um papel cooperativo e agregador, contribuindo para que o cidadão conheça e elabore estratégias para estabelecer contato com os espaços e equipa-mentos urbanos possíveis (espaços aptos, minimamente qualificados, sociáveis: praças, calça-dões, parques, espaços culturais, estações, meios de transporte) e os eventos que neles aconte-cem, mas que muitas vezes terminam desconhecidos ou ignorados, ou mesmo considerados, equivocadamente, “impróprios” ao uso. Através das RSD e aplicativos hipermídia é possível também diversificar a utilização das vias de acesso e meios de transporte existentes, modifi-cando formas e fluxos de circulação pelos espaços da cidade, pois as redes passam a permitir que cada indivíduo ou grupo seja um agente multiplicador das informações e conhecimento dos espaços urbanos (muitas vezes em tempo real), influenciando a sua percepção, ocupação e utilização.
Chegamos então à questão do trabalho imaterial e da difusão do conhecimento, trazida por Cocco, em que um novos elementos digitais se inserem na vida cotidiana urbana, criando um meio híbrido composto por dimensões que se mesclam de maneira muito sutil. Com as NTIC, o cidadão não tem somente o ferramental de seu trabalho material, ou por assim dizer, o traba-lho “formal” - existe agora a possibilidade de produzir, reproduzir e compartilhar conteúdo. Ou seja, seu trabalho “imaterial”, construído muitas vezes fora de seu ambiente de trabalho “formal”, ou de forma mista, intercalando-se com o mesmo, cria novas frentes de possibilida-des. O meio recebe conteúdo, mas também emana percepções, ideias, opiniões, produtos. Este contexto transforma a relação do cidadão com o ambiente em que vive, uma vez que deixa de ser um elemento passivo, favorecendo a migração para a posição de pessoa ativa dentro da so-ciedade. As RSD entram como um elemento fundamental nas possibilidades de distribuição e compartilhamento da produção “imaterial”.
A partir das informações divulgadas e experiências externalizadas em RSD é possível ampliar e transformar a cultura dos usos e apropriações dos espaços urbanos e seus respectivos meios de acesso. O conteúdo das informações divulgadas pela rede sobre o espaço urbano revelam uma nova forma de como incorporar o espaço urbano no espaço virtual. O suporte a diferentes mídias e representações tais como imagens, sons, músicas, vídeos, comentários melhora, for-talece e muda a percepção sobre espaço urbano. Além disso, a ubiquidade tem permitido um outro conjunto de interações entre cidadãos e o ambiente. A localização do cidadão passa a dar sentido à informação que se busca. Redes sociais digitais, como FourSquare1, permitem 1http://www.foursquare.com/
6
que pessoas em viagem possam interagir quase que diretamente com moradores locais assim que chegam a aeroportos ou rodoviárias. Este aspecto pode modificar profundamente a forma em que as pessoas lêem as cidades e criam novas redes, mesmo que na mesma cidade onde re-sidem. Configura-se uma nova forma de se informar para as pessoas nos grandes centros ur-banos através de novos suportes dizendo: “Você está aqui”.
A cidade em rede
Existem hoje diversas iniciativas de espaços virtuais que promovem, discutem e realizam ações sobre pontos específicos, como mobilidade, limpeza, cultura, intervenções paisagísticas comunitárias, entre tantos outros. Embora não estejam diretamente guiados ou apoiados nos conceitos de cidadania e de direito à cidade, terminam por abordá-los, promovendo novas possibilidades de se aproximar e interagir com o ambiente urbano ao redor, materializando a mudança do uso e percepção. Entre estes é possível citar iniciativas brasileiras com o propósi-to específico de criar/utilizar redes sociais em prol de discussões e ações sobre os espaços ur-banos ou do direito aos mesmos.
A seguir é apresentada uma listagem ( não exaustiva ) de projetos e iniciativas brasileiras con-sideradas relevantes, procurando detalhar suas características. Neste artigo procurou-se definir dois grupos. O primeiro trata de algumas iniciativas de escopo mais aberto ou com ações dire-tas sobre o espaço urbano, posicionando-se como uma plataforma genérica para o tratamento de diversas questões que afetam a qualidade da vida urbana. O segundo grupo possui escopo específico relacionado à mobilidade por bicicleta.
Portoalegre.cc - http://www.portoalegre.cc/ 2 Figura 1. Interface cartográfica para interação com o usuário no projeto PortoAlegre.cc
Lançada em 2011, apresenta uma aplicação de cartografia digital aberta para todos os inscritos no sítio (através de contas das redes do Facebook ou Google Plus) permitindo que cada usuá-rio crie, de forma georreferenciada, uma causa. Para este projeto, o conceito de “causa” englo-ba: relatos sobre acontecimentos positivos ou negativos como roubos e furtos, surgimento de 2A terminação “.cc” tem sido associada à ideia de Creative Commons (Comuns Criativos), uma licença de direitos autorais e de distribuição que permite a livre circulação e uso de obras e produtos.
7
problemas nas vias como vazamentos e buracos, instrumentos públicos fora de funcionamen-to, notificação e/ou organização sobre eventos/encontros esportivos, de lazer, para recupera-ção de áreas não assistidas pela administração pública. A partir destas interações, é possível construir de forma participativa e colaborativa um mural georreferenciado de problemas en-contrados na cidade de Porto Alegre. Embora não tenhamos conhecimento sobre a forma de uso dessa plataforma pelo poder público, esse tem a possibilidade de mapear e corrigir alguns dos problemas expostos, ou planejar mudanças que tragam a solução para tal. Por outro lado, cidadãos que não possuem laços na vida real, podem criar conexões virtuais entre si que per-mitem interações e intercâmbio de informações, permitindo ter conhecimento sobre ou orga-nizar eventos e atividades coletivas que dinamizam o uso e a constituição destes espaços urba-nos. Este projeto é parcialmente apoiado pela Prefeitura da Cidade de Porto Alegre em parce-ria com uma universidade local e outras organizações, as quais, juntas, realizam em paralelo diversas oficinas para utilização de ferramentas digitais (Fig. 3 ), assim como encontros de ocupação e para intervenção em espaços públicos.
Figura 2. Encontro de em espaço público e intervenção de limpeza promovidos pelo projeto PortoAlegre.cc
Figura 3. Oficina sobre ferramentas digitais - PortoAlegre.cc
8
Cidade Democrática - http://www.cidadedemocratica.org.br/Figura 4. Site do Projeto Cidade Democrática
Esta iniciativa é composta de um sistema de interações em rede que basicamente trabalha com dois conceitos: propostas e problemas relativos ao cotidiano das cidades. Assim, os partici-pantes do projeto podem criar registros escolhendo um dos dois conceitos, além de indicar a localidade e/ou estado em que o problema ou proposta se aplicam. Lançada em 2009, é fruto de projeto de uma Organização da Sociedade Civil com Interesse Público (OSCIP) e define-se em seu próprio site como “uma plataforma de participação política, onde cidadãos e entida-des podem se expressar, se comunicar e gerar mobilização para a construção de uma socieda-de cada vez melhor”.
Procura promover a interação entre o cidadão, gestores públicos e entidades como ONGs, mo-vimentos sociais, empresas, faculdades/ universidades e o poder público, no sentido de, majo-ritariamente criar e divulgar propostas e problemas e iniciar uma conversa com outros atores sociais, fornecendo apoio, ideias e informações sobre as mesmas; reconhecer comunidades de colaboração e formar redes de pessoas e entidades que atuam em certos temas e locais e criar o seu “observatório” para seguir e participar de discussões sobre os assuntos e as localidades que lhe interessam.
A plataforma Cidade Democrática já foi usada como plataforma para a coleta e discussão de sugestões para a melhoria do espaço urbano. Foi o caso por exemplo do concurso Cidadonos na cidade de Jundiaí e do concurso Várzea 2022 em Várzea Paulista, ambos em cidades do Estado de São Paulo.
Embora permita a contextualização estado/cidade através de formulários, a interface de intera-ção é basicamente textual, sem recursos cartográficos. No entanto, a partir de diversas intera-ções dentro da própria rede do Cidade Democrática, novas ideias de possibilidades e interfa-ces para interação surgiram, permitindo que uma nova aplicação para telefones celulares fosse definida e desenvolvida de forma coletiva, seguindo a ideia de co-criação (ou crowdsour-cing3). Com esta interface, as possibilidades de interações passam a ter maior portabilidade e facilidade de uso, permitindo que os cidadãos interajam de forma mais dinâmica.
3O crowdsourcing é considerado um modelo de produção que utiliza a inteligência e os conhecimentos coletivos e voluntários espalhados pela internet para resolver problemas, criar conteúdo e soluções
9
Canteiros Coletivos - http://www.facebook.com/groups/coletivodecanteiro/ Figura 5. Fórum do Projeto Canteiros Coletivos
Projeto nascido a partir de discussões sobre problemas da cidade e possíveis soluções em no fórum do Movimento Desocupa (Salvador) na rede social Facebook. Basicamente formado por um grupo de moradores de Salvador interessados em recuperar canteiros urbanos com as próprias mãos, organizando mutirões de limpeza e plantio e intervenções artísticas nas áreas construídas ao redor das ações, mobilizando grupos locais para continuação da manutenção dos espaços. Iniciado ainda no primeiro semestre de 2012, já realizou ações contínuas e es-pontâneas em diferentes bairros da cidade, com diferentes características socioeconômicas.A organização e convocação de voluntários se deu exclusivamente pelas redes sociais, com inte-rações geradas a partir das fotografias e relatos textuais. O coletivo tem sido convidado para participar de atividades com diversos parceiros como o Teatro Solar Boa Vista, o Instituto de Permacultura da Bahia, o Projeto Bairro-Escola Rio Vermelho e Secretaria de Cidade Susten-tável de Salvador. A partir da organização e divulgação das intervenções iniciais, outros gru-pos se formaram em outros bairros e áreas com o mesmo formato, a partir das interações nas redes sociais, realizando ações no mesmo formato, como as apresentadas na figura 6.
Figura 6. Fórum do Projeto Canteiros Coletivos
10
Bicicletada – Massa Crítica ( Critical Mass ) http://bicicletada.org/
http://www.bicicletadasalvador.blogspot.com.brhttp://bicicletadacuritiba.org/http://www.facebook.com/BicicletadaRioDeJaneirohttp://bicicletadafloripa.wordpress.com/http://bicicletadanatalrn.blogspot.com/http://bicicletadaaracaju.blogspot.com/
Bicicletada Massa Crítica é uma manifestação mensal, pacífica e festiva a favor do uso das bi-cicletas nas cidades que acontece mensalmente na última sexta-feira em diversas partes do mundo. Este evento materializa um aspecto muito importante do Direito à Cidade de Henri Lefebvre (2001), o direito à festa e ao cotidiano festivo, assim como ao lazer: um momento de ocupação das ruas e de festejar esta mesma ocupação.
O evento é organizado em diversas cidades do Brasil e em Salvador acontece desde Março de 2010. A partir do mesmo criaram-se vários grupos que impulsionaram o aumento da quantida-de de participantes através do uso intensivo de redes sociais digitais como Facebook, listas de e-mail, twitter, blogs e as facilidades de publicação ( providas pela web 2.0) e compartilha-mento em rede de conteúdo relacionado ou de chamadas públicas para participação.
Estas interações iniciadas em um espaço virtual foram decisivas para criar um outro referenci-al de possibilidades de uso e ocupação das da cidade por seus habitantes. Uma nova percep-ção e uso do espaço urbano tornou-se possível para centenas de pessoas, que nunca se conhe-ceram na vida real, através de ferramentas digitais que se tornaram parte da vida social. Estas interações entre desconhecidos permitiu o surgimento de novas redes colaborativas em dife-rentes formas, orientando aqueles com menor experiência sobre detalhes relacionados à con-dução de uma bicicleta nas ruas da cidade, os equipamentos e roupas mais apropriados, as melhores práticas, as leis de trânsito que regem transportes não motorizados. Através desse tipo de prática, lentamente verifica-se a reaproximação das pessoas com os espaços urbanos compartilhados e ocupação do solo.
Além disso, novos eventos e manifestações coletivas a favor da bicicleta foram decididos e organizados através destas plataformas virtuais, permitindo que as discussões sobre a proble-mática da bicicleta nas vias de trânsito fossem amplamente divulgadas em diferentes tipos de mídias tradicionais, dando uma maior visibilidade para a questão. A partir destas interações, novos grupos surgiram no intuito de utilizar a bicicleta especificamente em momentos cultu-rais, de lazer e encontros sociais ou em promover o uso da mesma pelo sexo feminino. Entre estes, podemos citar: Meninas ao Vento (Salvador), Coletivo Nuvem (Rio de Janeiro), Passeio Completo (Rio de Janeiro), Pedalinas (São Paulo), Bike Orquestra (Salvador). Todos repre-sentam formas de organização de coletivos em redes transversais que reinventam e incremen-tam o uso do espaço urbano, agregam simpatizantes e entusiastas antes desconhecidos, o que seria impossível sem as redes sociais.
11
BikeIt - http://www.bikeit.com.br/ Figura 7. Site do projeto Bike IT
Projeto colaborativo destinado a estimular a boa relação entre estabelecimentos diversos e os usuários de bicicleta. Através de postagens virtuais e utilizando uma interface de mapas digi-tais georreferenciados (Fig. 7), o usuário do site pode divulgar estabelecimentos culturais, de comércio, lazer, serviços ou restaurantes que são acolhedores e simpáticos aos usuários de bi-cicleta no espaço urbano, oferecendo estrutura para as mesmas. A aplicação certifica através da votação de outros usuários a informação publicada, concedendo ao estabelecimento um selo de “amigo” da bicicleta (Conceito de BikeFriendly). Desta forma, pretende promover e dignificar a bicicleta como um meio de transporte, modificando o uso do espaço urbano, seja ele público ou privado. Com esta iniciativa, outros estabelecimentos podem ser incentivados a oferecer a mesma estrutura, incrementando a mudança no uso cotidiano da cidade. A grande diferença está na forma de tornar públicos os locais com tais características, utilizando intera-ções que acontecem a partir de uma rede de usuários que tanto indicam como ratificam a indi-cação de um estabelecimento “amigo” da bicicleta, acontecendo uma validação por pares. A partir dessas aprovações, comentários e interações, transbordamentos, ou externalidades, ter-minam emergindo, favorecendo o surgimento de rebatimentos sobre o uso da cidade.
Considerações finais
Para Di Felici, o espaço virtual não se opõe ao “real”, mas flanqueia-se. Aos territórios urba-nos correspondem os territórios também digitais, que ampliam a prática do habitar, fornecen-do mais informações (e possibilidades de interação ): a forma de digitalização dos espaços fí-sicos e do cotidiano parece ampliar os espaços urbanos no virtual.
Dentro dos usos observados nos exemplos apresentados, é possível perceber estas ampliações, por parte dos integrantes destes coletivos, mas também de pessoas que estão em rede utilizan-do as suas aplicações hipermídia em espaço virtual, através de algum tipo de ligação com es-tas pessoas, das suas capacidades de localização, deslocamento e de apreensão da realidade, pois são trabalhados diversos sentidos, diferentes hábitos, culturas e interações.
12
Os dois últimos exemplos focam no fomento do uso da bicicleta dentro de espaços urbanos ou intermunicipais, um meio de transporte que possui potencial para desenvolver um grande im-pacto social no acesso à cidade, e, por consequência, no direito à cidade. Pela sua relativa bai-xa velocidade, primeiramente, a bicicleta permite estar mais próximo de pedestres e aumenta o adensamento de pessoas nas ruas, melhorando a sensação de segurança. Os desdobramentos a partir disso são diversos. Além de permitir um contato mais lento e detalhado com a cidade, acontece uma ocupação e utilização de estabelecimentos e espaços que muitas vezes seriam invisíveis ( ou inacessíveis ) para quem se encontra em veículos motorizados. A ambiguidade da bicicleta que ora pode ser usada como veículo, ora pode ser empurrada por um pedestre, permite que aconteçam “desvios”, “paradas”, aproximando seus usuários de uma maior socia-bilidade com a cidade. Principalmente nas Bicicletadas, onde novas redes se constroem e se reorganizam, revelam-se mais fortemente questões como o direito à cidade e o direito à festa, tão propagado por Lefebvre (2001). São momentos de festejo do uso das ruas em rede, mas também são momentos de embate social pelo uso do solo, de conflito com os meios motoriza-dos - momentos para se refletir sobre uma heterotopia dentro dos fluxos de mobilidade para se obter acesso à cidade. Os custos envolvidos em aquisição e manutenção, além da eliminação de gastos com transportes públicos ou privados agrega à bicicleta um potencial de transforma-ção econômica, principalmente às camadas de menor poder aquisitivo. Seria a partir da bici-cleta, por exemplo, que muitos pais e mães conseguem levar seus filhos à escola ou ter acesso a um ambiente ou aparelho público de lazer. Além disso, permitem uma maior diversidade nos perfis sociais e econômicos na ocupação e uso dos espaços da cidade, diminuindo as segrega-ções por conta do poder aquisitivo do indivíduo, fato que acontece geralmente quando a ocu-pação e uso do solo urbano envolvem carros e moradia. Esta diversidade agrega uma maior ri-queza nas interações, sejam elas presenciais ou virtuais, além de abrir novos horizontes de es-paços para os seus usuários. Um exemplo é a iniciativa da Bike Orquestra, em que pessoas que se deslocam de bicicleta para apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia recebem en-trada gratuita. Neste evento, pessoas que não possuíam qualquer hábito, motivação ou mesmo condições financeiras de frequentar espaços como o Teatro Castro Alves (em Salvador) pas-sam a ter esta oportunidade ou incentivo, diversificando tanto os hábitos culturais dos usuári-os de bicicleta como do público que frequenta o teatro.
As redes sociais têm exercido papel especial neste processo, principalmente para a classe mé-dia, ao conseguir articular e divulgar conteúdo em diversos formatos, criando um imaginário de saldo positivo à favor do uso da bicicleta, ao agregar de forma progressiva mais e mais pessoas que optam pelo uso da mesma. Outro fator a ser observado é a questão da liberdade de trafegar pela cidade, sem necessariamente seguir os caminhos formais dos motorizados: esta característica, juntamente com a sua agilidade e ambiguidade, permite à bicicleta um al-cance mais sensível aumentado da cidade como um todo, chegando inclusive às zonas opacas descritas em ( Santos, 1996) .
Neste contexto, os rastros digitais muitas vezes são seguidos de forma inconsciente. Como di-ria Negri, os hábitos são compartilhados e só se manifestam com base na conduta social, na comunicação e no agir em comum, cuja referência básica é a pessoa e a sua capacidade de ob-servar, de refletir e de se localizar e se deslocar, pontos de influência direta na questão da ter-ritorialidade. Mas através destas redes e mídias, estes hábitos são potencializados, ganhando nova abrangência.
Os exemplos citados estariam então exercitando a produção do comum, defendida por Hardt & Negri a partir dos conceitos de multidão, construindo ideias, desenvolvendo atividades e
13
iniciativas que buscam, ás vezes, indiretamente, às vezes explicitamente, um bem comum. Utilizam para isso as mídias sociais de forma intensiva.
Ainda na análise dos movimentos observados, a transversalidade é uma característica quase que onipresente: em todos existe uma tendência a ausência de líderes formais, a decisões cole-tivas, a participações com perfis dos mais diversificados, assim como as atuações desempe-nhadas por cada indivíduo, que muitas vezes são naturais e sem formalização. A questão da construção e produção coletiva está sempre presente nos debates, evidenciando, possivelmen-te, um esvaziamento do modelo de representatividade política, e uma fuga inconsciente para estes espaços transversais entre as diversas redes, com sinais de outras possibilidades de de-mocracia e atuação sobre a cidade e a sociedade. Reforçam assim a ideia de um crowdsour-cing urbano – construindo soluções e atos a partir de conhecimento e ações coletivas.
A questão da micropolítica exercida pelos exemplos analisados é outro ponto a ser considera-do, os quais geram intervenções cirúrgicas sobre o espaço urbano, seja ele o físico, ou o virtu-al, ou sobre a percepção e apreensão deste mesmo espaço. Ou seja, são micropolíticas parale-las àquelas definidas e exercidas pela administração pública, pois acontecem de forma inde-pendente do estado, girando em torno de um espaço específico, afetando coletivos às vezes restritos, mas, de fato, modificando a maneira de usar e perceber a cidade.
As redes sociais digitais ( assim como as bicicletas) passariam, assim, a influenciar no acesso à cidade e a promover o reencontro e circulação do cidadão nos espaços urbanos, assim como afastá-los, em outros. Neste novo contexto de virtualidades, a percepção e a experiência sobre os espaços deixa de ser somente presencial, passando a sofrer grande influência das interações realizadas e apreendidas através das redes sociais, mas, principalmente, sendo estas redes com suas interações a base para alcançar presencialmente estes espaços, modificando os seus usos, paisagens, edificações e aparências, mas principalmente, a percepção sobre o local.
Referências
BAUMAN, Zygmunt. 2001 A. Comunidade: A busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro, Ed. Zahar
BAUMAN, Zygmunt. 2001 B. Modernidade Líquida, Rio de Janeiro, Ed. Zahar
CASTELLS, Manuel, ARSENAULT, A. H. 2008. The Structure and Dynamics of Global Multi-Media Business Networks. International Journal of Communication , 2008, pp. 707-748.
COCCO, Giuseppe., GALVÃO, A.P., SILVA,G (orgs). 2003. Capitalismo cognitivo: trabalho, redes e inovação. Tradução. Rio de Janeiro: Ed. DP&A
DI FELICE, Maximo. 2009. Paisagens pós-urbanas: o fim da experiência urbana e as formas comunicativas do habitar, São Paulo, Annablume
HARDT, Michael, NEGRI, Antonio. 2005. Multidão, Rio de Janeiro, Record, pp 263-270.
LARA, Marilda Lopes Ginez de , LIMA, Vânia Mara. 2009. Termos e Conceitos sobre Redes Sociais Colaborativas. In R. Mugnani & D. Poblacion (orgs). Redes Sociais e Colaborativas em Informação Científica. São Paulo, Angellara Editora.
14
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001.
MAISTRELLO, Sergio. 2007. La parte abitata della Rete. Milano: Tecniche Nuove.
MARTELETO, Regina, STOTZ, Eduardo. (orgs.) 2009. Informação, saúde e redes sociais: diálogos de conhecimentos nas comunidades da Maré. Rio de Janeiro: Fiocruz, Belo Horizonte: UFMG.
MONACI, Sara. 2008. La conoscenza on line: logichi e strumenti. Le Bussole, 322. Roma: Carocci editore.
SANTOS, Milton. 1996. A natureza do espaço, São Paulo, Hucitec.
SENNET, Richard. 1978. The Fall of Public Man: On the Social Psychology of Capitalism. Nova York, Vintage Books. pp 17-40
SHIRKY, C. 2011. A cultura da participação: criatividade e generosidade no mundo conectado. Rio de Janeirro: Zahar.
SILVEIRA, S. A. da. 2008. Convergência digital, diversidade cultural e esfera pública. In: Além das redes de colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder, Santana, B., Rossini, C., Pretto, N. (orgs), p. 31-50, Salvador, EDUFBA.
STOTZ, Eduardo. 2009. Redes sociais e saúde. In R. M. Marteleto & E. N. Stotz (orgs). Informação, saúde e redes sociais: diálogos de conhecimentos nas comunidades da Maré: 27-42, Rio de Janeiro: Fiocruz, Belo Horizonte: UFMG.
VARNELIS, K., FRIEDBERG A. 2008. Place: the networking of public space, In: Network Publics, Cambridge, MIT Press.
WASSERMAN, S. & FAUST, K. 1994. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
15