Livro Gênero e Tecnologias
Transcript of Livro Gênero e Tecnologias
Estudos, pesquisas e poéticas interdisciplinares
Gênero e Tecnologias.Tecnologias do Gênero
Dolores Galindo Leonardo Lemos de Souza
Organizadores
Ministério da EducaçãoUniversidade Federal de Mato Grosso
ReitoraMaria Lúcia Cavalli Neder
Vice-ReitorFrancisco José Dutra Souto
Coordenador da Editora UniversitáriaMarinaldo Divino Ribeiro
Conselho Editorial
PresidenteMarinaldo Divino Ribeiro
MembrosAdemar de Lima Carvalho
Aída Couto Dinucci BezerraBismarck Duarte Diniz
Eliana Beatriz Nunes RondonElisabeth Madureira Siqueira
Janaína Januário da SilvaJorge do Santos
José Serafim BertolotoKarlin Saori Ishii
Marluce Aparecida Souza e SilvaMarly Augusta Lopes de MagalhãesMoacir Martins Figueiredo Junior
Taciana Mirna Sambrano
Cuiabá-MT.2012
Dolores Galindo
Leonardo Lemos de SouzaOrganizadores
Gênero e Tecnologias.Tecnologias do Gênero
Estudos, pesquisas e poéticas interdisciplinares
© Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores), 2012.
A reprodução não autorizada dessa publicação por qualquer meio, seja total ou parcial, constitui violação da Lei nº 9.610/98.
A EdUFMT segue o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em vigor no Brasil desde 2009.
A aceitação das alterações textuais e de normalização bibliográfica sugeridas pelo revisor é uma decisão do autor/organizador.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP).
G326 Gênero e tecnologias, tecnologias do gênero: estudos, pesquisas e poéticas interdisciplinares. Dolores Galindo e Leonardo Lemos - organizadores Cuiabá, MT: UFMT, 2012. 202 p. – (Coleção Gênero e Diversidade/UFMT; v. 3). ISBN
1. Psicologia social. 2. Gênero - tecnologias. 3. Cultura digital. 4. Poéticas do gênero. 5. Poéticas interdisciplinares. 6. Rede de comunicação – gênero. I. Galindo, Dolores, org. II. Lemos-de-Souza. III. Título.
Ficha catalográfica elaborada por Sheila Cristina Ferreira GabrielBibliotecária – CRB1 1618
Supervisão Técnica:Janaina Januário da Silva
Revisão e Normalização: Ester Escobar Santos de Moraes
Diagramação e Projeto Gráfico:Neemias Alves
Foto capa:Candida Bitencourt Haesbaert
Produção Gráfica:Sérgio Puga
Impressão:Gráfica Print Ltda.
Esta obra foi produzida com recurso do Governo Federal.
Editora da Universidade Federal de Mato GrossoAv. Fernando Corrêa da Costa, 2.367 - Boa EsperançaCEP: 78.060-900 - Cuiabá, MTFone: (65) 3615 8322 - fax: (65) 3615 8325www.editora.ufmt.br - [email protected]
Associação Brasileiradas Editoras Universitárias
Precisamos também buscar a perspectiva daqueles pontos de vista, que nunca podem ser conhecidos de antemão, que prometam alguma coisa extraordinária, isto é, conhecimento potente para a construção de mundos menos organizados por eixos de dominação. De tal ponto de vista, a categoria não marcada realmente desapareceria - enorme diferença da simples repetição de um ato de desaparição. O imaginário e o racional - a visão visionária e a objetiva - circulam bem juntos (Haraway, 1995, p.24).
Apresentação
A coletânea ora apresentada partiu de um convite feito a pesquisadores e pesquisadoras alocados em diversos Programas de Pós-Graduação Brasi-leiros, abrangendo ainda distintas áreas disciplinares, tais como comunica-ção, psicologia, arte, história, tecnologia e literatura. Comporta reflexões, pesquisas e poéticas em gênero que vão ao encontro do amplo espectro que a temática nos inspira a abordar. Os textos apesar de independentes apresentam fortes conexões entre si, nem sempre convergentes quanto ao que nomeiam como gênero.
O título “Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero” dialoga com Teresa De Lauretis que, na década de 19801, inaugurou a possibilidade de considerar que quaisquer tecnologias podem ter efeitos na produção de gênero, bem como reafirmou a percepção de que gênero pode (e deve) ser pensado por meio de tecnologias que não apenas materializam instâncias normativas, mas são elas mesmas, parte de sua constituição. Inscreve-se, ainda, numa imaginação queer que não se furta à fabulação, entendendo que dimensões poéticas e epistêmicas estão entrelaçadas. Como no jogo cama de gato, evocado por Donna Haraway (1994)2, este entrelaçamento exige grandes habilidades, mas pode acabar em grandes surpresas, pois os jogadores trocam entre si os fios e complexos arranjos são criados sem que nenhum deles possua ares de eternidade.
A primeira parte do livro, “Gênero e Modos de Existência”, compreende quatro capítulos que se indagam as imbricações entre gênero e tecnologias na construção de certas maneiras de ser. Assim, no capítulo inicial Fausto Calaça (UFMT), Terezinha Viana (UnB) e Olivier Bara (Paris VII) se vol-tam ao estudo do dândi, figura literária do século XIX. No capítulo seguinte, Eudes Leite (UFGD) explora a constituição do homem pantaneiro a partir
1 DE LAURETIS, T. A tecnologia de gênero. In: HOLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica cultural. Rio de Janeiro, Rocco, 1994. p. 206-242.2 HARAWAY, D. A Game of Cat’s Cradle: Science Studies, Feminist Theory, Cultural Studies. Configurations: A Journal of Literature and Science, 1994, 2, 59-71.
de trabalho de campo em Mato Grosso do Sul. No terceiro capítulo, Nina Guzzo (UNIFESP), tendo como fulcro a figura da acrobacia e do circo, fala de corpos que se engendram no ar. E, por fim, Andrea Portela e Ludmila Brandão (UFMT), no campo da moda, indagam sobre corpos que se tornam vestimentas ou vestimentas que passam mesmo a fazerem-se corpo.
A segunda parte, “Gênero em redes: comunicação, informação e com-partilhamento”, agrupa trabalhos que se situam na interface entre gêne-ro, produção de conhecimento e experiências de intervenção. No capítulo inicial do bloco, Joyce e Nancy Luz (UFTPR) estudam a participação de mulheres na produção científica e tecnológica versando sobre indicadores da área. No segundo texto, Lucelma Cordeiro e Yuji Gushiken (UFMT) exploram o trabalho imaterial na indústria de cosméticos, atividade his-toricamente vinculada ao feminino. No terceiro trabalho, Karla Brunet e Graciela Natansohn (UFBA), relatam como tem sido o cotidiano e fontes de criação do LabDebug, experiência de laboratório voltado à inclusão de mulheres na informática de código aberto. No último texto, Wilson Pedro (UFSCAR) discute, considerando aportes dos trabalhos de Ciência, Tec-nologia e Sociedade, intervenção de trocas geracionais que encontram no cinema sua forma de compartilhamento.
A terceira parte, “Poéticas do gênero: tecnologias, arte e vida”, in-clui textos que abordam trabalhos artísticos textuais, teatrais e corporais. André Luís Gomes (UnB) aborda a adaptação dramatúrgica do texto de Clarice Lispector. No capítulo seguinte, Edgar Franco (UFG) se volta ao universo pós-gênero da sua obra Aurora Pós-Humana. Dando continui-dade às poéticas, Juliana Abonizio (UFMT) trabalha a arte corporal que leva ao limite o humano. E, por, fim, Dolores Galindo e Danielle Milioli (UFMT), em diálogo com Donna Haraway, propõem a figuração das le-guminosas bailarinas.
Se nos primeiros dois blocos do livro, gênero e tecnologia se imbricam em relações de mútua constituição, no terceiro estes se rebatem um contra o outro problematizando a ideia de gênero humano, deslizamento que nos diz de uma cosmopolítica na qual os hibridismos e diluição de fronteiras ontológicas são inevitáveis.
O livro surge como parte do Projeto “Gênero e Diversidade na Es-cola” e materializa diálogos iniciados pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO/UFMT) no âmbito da Rede Centro-Oeste de Arte, Cultura e Tecnologias Contemporâneas (Rede CO3), bem como perspectivas de colaboração com pesquisadores e pes-quisadoras cujos trabalhos se voltam ao estudo de tecnologias.
Dessa maneira, com este volume, a coleção Gênero e Diversidade edi-tada Universidade Federal de Mato Grosso cumpre um dos seus papéis principais, o de assumir a produção da diferença. O entrecruzamento de saberes, práticas e poéticas de pesquisadores e pesquisadoras alocados/as em universidades de distintas regiões do país contribui para diluição de al-gumas dinâmicas pós-colonialistas que (ainda) se atualizam na geopolítica acadêmica brasileira.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza
SumárioPARTE I
Gênero e modos de existência: Tecnologias de si“Colocar-se à altura de sua época”: uma atitude de modernidade dos dândis no século XIXFausto Calaça / Terezinha de Camargo Viana / Olivier Bara ........................................................... 15
Um homem chamado pantaneiroEudes Fernando Leite ......................................................................................................................... 33
Tecnologias do voo: suspensão e queda dos corpos no arMarina Souza Lobo Guzzo ................................................................................................................. 47
Corpos metamórficos para vestirAndrea Portela / Ludmila Brandão ..................................................................................................... 61
PARTE II
Gênero em rede: comunicação, informação e compartilhamentoRelações de gênero na uftpr: participação das mulheres na produção científica e tecnológicaJoyce Luciana Correia Muzi / Nancy Stancki da Luz ........................................................................ 69
Trabalho imaterial e estratégias de comunicação integrada em ambiente de inovação tecnológicaLucelma Pereira Cordeiro / Yuji Gushiken ......................................................................................... 85
Labdebug: práticas de cultura digital livre para mulheresKarla Schuch Brunet / Graciela Natansohn..................................................................................... 101
Gênero, tecnologia e envelhecimento: compartilhando experiências e reflexõesWilson José Alves Pedro ................................................................................................................. 117
PARTE III
Poéticas do gênero: Tecnologias, arte e vidaGênero e tecnologias em pulsações clariceanasAndré Luís Gomes ........................................................................................................................... 137
Pós-gêneros no universo ficcional transmidiático da “aurora pós-humana”Edgar Franco ................................................................................................................................... 151
Freak show – nos limites da humanidadeJuliana Abonizio ............................................................................................................................... 163
Leguminosas bailarinas: queer(y)ing com não/humanosDolores Galindo / Danielle Milioli ..................................................................................................... 175
Sobre os autores ...................................................................................191
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
15
“Colocar-se à altura de sua época”: uma atitude de modernidade dos dândis no século XIX
Fausto CalaçaUniversidade Federal de Mato Grosso
Terezinha de Camargo VianaUniversidade de Brasília
Olivier BaraUniversité Lumière Lyon 2
No romance A Menina dos Olhos de Ouro (La Fille aux yeux d’or), Honoré de Balzac (1799-1850) oferece para a sua geração um modelo ide-alizado do dândi francês: o personagem Conde Henri de Marsay. No ano da primeira publicação, em 1835, este personagem foi visto por seus lei-tores como uma criatura infernal nascida do cérebro do monsieur de Bal-zac, como quase todos os seus homens, para assombrar as suas mulheres (GUISE apud OLIVER, 2009). Henri de Marsay se constitui, então, como um dos mais importantes protagonistas da Comédia Humana (coleção de romances balzaquianos), bem como uma forma de dandismo que serviu de referência para os dândis criados e vividos por autores como Charles Bau-delaire, Oscar Wilde e Marcel Proust. Graças à sua colaboração à revista La Mode, em 1830, Balzac começa a observar os significados do dandismo de costumes – uma forma excêntrica de vida que se desenrolava no meio artístico, entre os homens de letras e os aristocratas. Seus colegas desta revista sobre moda e futilidades ofereceram-lhe a imagem dos seus per-sonagens dândis: “Balzac encontra neles os heróis dos tempos modernos” (NISHIKAWA, 1969, p. 83) e se torna um dos mais remarcáveis retratistas do mundo dândi.
O dândi é uma figura que nos remete ao século XIX, especialmente à sua primeira metade. Constitui-se como uma estética da masculinidade que recusa a trivialidade e a padronização dos hábitos no contexto da ci-dade de Paris logo após os eventos da Revolução Francesa. Ocupando-se exclusivamente de si mesmos, os dândis se destacam da multidão por meio
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
16
de uma cuidadosa criação cotidiana da própria imagem, dos movimentos, das atitudes, como se a vida fosse ela mesma uma obra de arte. Alguns dândis franceses se destacaram na história do Ocidente inventando formas e sentidos ao gênero masculino na época de Balzac. Dentre eles, citamos o dândi e mecenas Conde Alfred d’Orsay (1801-1852), amante das belas artes, das cores e das modas exuberantes. Suas atividades artísticas anun-ciavam “a futura aliança entre a arte e o dandismo” (SCARAFFIA, 1988, p. 33). Outro destaque foi Eugène Sue (1804-1857), um dândi viajante, nascido numa rica família burguesa, mas, que “se impõe bem jovem nos meios aristocráticos graças a uma elegância e a uma insolência plena de charme” (Ibid., p. 34). Sue herda aos 26 anos a fortuna do seu pai, torna-se amante de belas mulheres parisienses, adere ao Jockey Club desde a sua criação em 1833 e, assim, dilapida sua fortuna em sete anos. O dândi tinha iniciado sua carreira como escritor publicando obras mondaines (sobre a vida excêntrica da alta sociedade), mas, após arruinar-se, ele começa a escrever para ganhar a sua vida, convertendo-se ao socialismo e mais tarde tornando-se deputado. Logo, Les Mystères de Paris (1843) – cujo prota-gonista troca sua roupa de dândi pela roupa do homem do povo – será sua obra-prima. Alfred de Musset (1810-1857) – “trop dandy!” (“dândi de-mais!”), como dizia a escritora George Sand antes de encontrá-lo – era um ilustre jovem frequentador da vida elegante do Café Tortoni e dos salões aristocráticos. Debochado e requintado, doce e agressivo, melancólico e embriagado, esse dândi sedutor se torna um dos mais importantes escri-tores franceses do século XIX. Dentre suas célebres obras, destacamos o romance autobiográfico La Confession d’un enfant du siècle (1836), inspi-rado na sua relação de amor e loucura com George Sand em Veneza.
Não é possível falar de dandismo em um único sentido. Carassus (1971) analisa que existe um tipo de dandismo que chamamos de “literário”, outro “histórico” e outro “mítico”. No primeiro tipo se encontram os persona-gens dândis balzaquianos, o Don Juan (Don Juan, 1824) de Lord Byron, o Julien Sorel de Stendhal em Le Rouge et le Noir (1830), os dândis de Les Diaboliques (1874) de Barbey d’Aurevilly, dentre outros. O segundo tipo se refere aos homens reais, desde George Brummell (o inglês) até os
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
17
frequentadores do boulevard de Gand (em Paris) nas décadas de 1830 e 1840 e os famosos rapazes e homens do mundo literário que ilustram o dandismo segundo suas modalidades diversas. O terceiro tipo se refere a um dândi teórico, um dândi ideal, uma concepção imaginária que nenhum dândi real consegue encarnar, por isso, um mito: sua representação máxi-ma seria o personagem balzaquiano citado, Henri de Marsay, que se cons-titui como modelo para os outros. Assim, vemos que existem “dandismos” e, por isso, não podemos encontrar uma definição única. Para exemplificar, tomemos os olhares de Balzac, Barbey d’Aurevilly, Baudelaire, Camus, Sartre e Foucault sobre o dandismo.
É difícil apontar com exatidão o que é o dandismo balzaquiano e quem são realmente os dândis balzaquianos. Segundo Saïdah (1989-1990), exis-tem os personagens que são identificados como grandes dândis: dentre eles, os príncipes do dandismo, os dândis da desilusão e o dândi da “subs-tituição”. Não se trata de um grupo estável: existem aqueles que se tornam dândis como Eugène de Rastignac e Lucien de Rubempré, mas um conti-nuará a brilhar e outro perderá suas ilusões; existe aquele que não precisou tornar-se dândi, pois sempre o foi (Henri de Marsay); e ainda aquele que encenará o dandismo numa geração posterior da qual não reconhece mais o brilho de um dândi (La Palférine). E ainda encontramos em Balzac dândis menores, o que quer dizer, que não têm toda força necessária para seguir seu dandismo por motivos sociais, econômicos, políticos ou psicológicos (Charles Grandet, Raoul Nathan, Paul de Manerville etc.). Podemos falar também de rapazes balzaquianos que convivem com os dândis, adquirem hábitos de dândis, são confundidos como dândis em algumas situações: os elegantes, os artistas, os jornalistas, os poetas (Félix de Vandenesse, Ajuda-Pinto, Théodore de Sommervieux, Émile Blondet, Canalis etc.).
O ensaio Du dandysme et de George Brummell (1845/1997) escrito pelo dândi Barbey d’Aurevilly (1808-1889) é considerado o texto da primeira doutrina do dandismo, na qual Brummell será o tipo ideal de um dândi. O que define o dândi em Barbey d’Aurevilly é uma superioridade moral:
Os espíritos que só vêem as coisas de forma reduzida imaginaram que o dandismo é, sobretudo, a arte da encenação, uma feliz e auda-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
18
ciosa ditadura da toilette e da elegância exterior. Com certeza é isso também, mas é muito mais. O dandismo é toda uma maneira de ser, e a única maneira de ser é pelo lado materialmente visível. É uma maneira de ser inteiramente composta de nuances, como acontece sempre nas sociedades bem velhas e bem civilizadas, onde a comé-dia torna-se tão rara e onde a conveniência triunfa a pena do tédio. (BARBEY D’AUREVILLY, 1845/1997, p. 44-45)
Na metade do século XIX, o poeta Charles Baudelaire (1821-1867) faz carreira de dândi. Dizia que sua clássica e impecável indumentária preta estava em harmonia perfeita com uma época de luto: o seu século. Mas, a originalidade de sua personalidade se destacava mais do que sua toilette. No seu ensaio Le Peintre de la vie moderne (1859) encontra-se uma análise do dandismo: “em algumas linhas Baudelaire desenha o retrato completo do dândi intelectual” (SCARAFFIA, 1988). O dândi baudelairiano é ini-migo da vulgaridade e da trivialidade que ele julga encontrar no mundo burguês – os valores do dinheiro, da utilidade, do casamento – dominante da sua sociedade. Vemos em Baudelaire uma certa consciência de revolta que persiste como atitude individual de resistência na vida pública:
Se eu falei sobre dinheiro, é porque dinheiro é indispensável às pes-soas que fazem culto de suas paixões; mas o dândi não aspira ao dinheiro como uma coisa essencial; um crédito ilimitado poderia lhe bastar; ele abandona essa grosseira paixão aos mortais vulgares. (BAUDELAIRE, 1859/1997, p. 148)
Scaraffia (1988) observa: “o dandismo de Baudelaire oferece aos in-telectuais e artistas desorientados pela vulgaridade da sociedade da época uma identidade e um modelo de vida” (p. 46):
É exatamente essa leveza de atitudes, essa segurança nas maneiras, esta simplicidade no ar de dominação, esse modo de vestir uma casa-ca e de conduzir um cavalo, essas atitudes sempre calmas, mas reve-lando força, que nos fazem pensar, quando nosso olhar descobre um desses seres privilegiados em que o belo e o temível se confundem tão misteriosamente: “Eis talvez um homem rico, mas, mais certamente, um Hércules sem emprego”. (BAUDELAIRE, 1859/1997, p. 152)
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
19
No século XX, o dandismo é repensado por dois intelectuais franceses: Albert Camus (1913-1960) e Jean-Paul Sartre (1905-1980). Neles encon-tramos duas posições bem distintas. Em L’Homme révolté (1951), Camus estuda a concepção de revolta nos dândis, incluídos na série de célebres per-sonagens da revolta metafísica como Lucrécio, Epicuro, Sade, Dostoiévski, Nietzsche, Marx, os surrealistas, Rousseau, Rimbaud etc. A revolta é vista como a expressão mais pura da liberdade humana. Camus diferencia o re-volucionário do revoltado: o primeiro tem vontade de transformar o mundo (visão de Marx) e o segundo quer mudar a vida (visão de Rimbaud). Esta diferenciação corrobora com as ideias que desenvolvemos anteriormente (CALAÇA, 2010) sobre as implicações políticas do dandismo balzaquiano:
O dândi é por função um ser de oposição. Ele só se mantém no desafio. (...) Dissipado como uma pessoa privada de regras, ele será coerente como personagem. Mas um personagem supõe um públi-co; o dândi só pode se exibir se opondo. Ele só pode se certificar de sua existência reencontrando-a no rosto dos outros. Os outros são o espelho. Espelho obscurecido – é verdade – pois, a capacidade do homem é limitada. Ela deve ser despertada sem cessar, mobilizada pela provocação. O dândi é então forçado a surpreender sempre. Sua vocação é na singularidade, seu aperfeiçoamento é na sobre-oferta [surenchère]. Sempre em ruptura, em margem, ele força os outros a acreditarem nele mesmo, negando seus valores. Ele representa a sua vida por falta de poder vivê-la. Ele representa até a morte, salvo nos instantes nos quais ele está só e sem espelho. Estar só para o dândi é ser nada. (CAMUS, 1951/1993, p. 75-76)
Aqui, Camus faz referência a um personagem coerente com o seu papel de dândi, fato que não se vê nos dândis de Balzac, personagens que se en-contram plenos de contradições, dilemas, corrupções e demais artimanhas de um herói romanesco. Em Balzac, consideramos que a melhor expressão da revolta dos dândis descrita por Camus seria o personagem Henri de Marsay. O crítico literário que também foi Jean-Paul Sartre publica, em 1947, Bau-delaire, um ensaio sobre a vida de Baudelaire. O olhar de Sartre enquadra o autor de Les Fleurs du Mal (1857) numa visão existencialista de homem e de mundo – desenvolvida em L’être et le néant (1943) – e julga a escolha
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
20
livre que o dândi-poeta faz dele mesmo. De Baudelaire, Sartre diz que “ele não teve a vida que ele merecia” (SARTRE, 1947, p. 17), pois, era livre para poder modificá-la e sair daquilo que o filósofo existencialista chama de “identificar-se com o seu próprio destino”. Segundo Sartre, o dândi-poeta aceitava sem rebelião a moral que o condenava e ainda buscava essa conde-nação para institucionalizar seu personagem, sua singularidade.
Na visão sartreana, o dandismo baudelairiano é uma reação pessoal ao problema da situação social do escritor. Sartre observa que, no sécu-lo XVIII, o escritor profissional, não importa qual seja sua origem, tem relações diretas com a aristocracia de nascimento, colocando-o acima da burguesia. Sustentado pela nobreza, o escritor adquire sua dignidade so-cial – torna-se “aristocratizado”. Assim que a classe nobre se afunda com a Revolução Francesa, o escritor então deve procurar por ele mesmo novas justificativas. Com a burguesia no poder, a criação de uma obra de arte torna-se uma prestação de serviço, como a de um engenheiro, de um ad-vogado, e a hierarquia se estabelece segundo a eficácia e utilidade social. No século XIX, o artista ocupa então um lugar um pouco abaixo da uni-versidade. O dândi baudelairiano seria um novo personagem que surge no mundo burguês que se sustenta pelo trabalho de artista, como o fez Baude-laire. Se ele também se constitui como um artista, ele o faz para sustentar seu próprio dandismo.
O dandismo de Baudelaire é visto como um mito por Sartre, pois, nem a educação que ele recebeu, nem sua condição financeira e nem sua ociosi-dade não respondem às exigências descritas em Le Dandy (1859): um dos capítulos do ensaio Le Peintre de la vie moderne (1859). Vivendo então como um boêmio, Baudelaire é julgado por Sartre como alguém que não se colocou acima da burguesia, mas, abaixo. Ele foi sustentado por ela como um escritor era sustentado pela nobreza no século XVIII: “seu dandismo é um sonho de compensação”; “seu dandismo é a esperança estéril de um para além da poesia” (SARTRE, 1947, p.143-144). Sartre define o dandis-mo baudelairiano – representado pela sua preocupação com a indumentária e com ela “corrigindo-se” como quem corrige um quadro ou uma poesia – como, na verdade, tentativa de criar sua própria existência. Esta definição
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
21
aparece no texto sartreano como uma “acusação”, como algo “negativo” que ele detecta na vida e na obra de um escritor. Eis uma filosofia do de-sencantamento. Eis uma filosofia que parece negar a representação irônica e trágica de um personagem do século XIX.
Difícil ficar indiferente frente à análise de Sartre. O que nos parece mais intrigante é a tarefa de Sartre em julgar a vida de um dândi-poeta por meio de sua obra, como se vê em alguns estudos de casos clínicos. Sartre parece construir um sentimento de compaixão por Baudelaire e uma imagem de um homem que não conseguiu usar sua liberdade e transformar sua vida. O Baudelaire (1947) de Sartre é um ensaio que tem finalidades claras: desenvolver reflexões e argumentos que contribuam para a construção de uma filosofia da existência no século XX com pretensões de modificação da ação humana. Numa abordagem absolutamente diferente desta de Sar-tre, o dândi-poeta Baudelaire é citado por Michel Foucault como uma das consciências mais agudas da modernidade do século XIX. Na obra baude-lairiana encontra-se uma representação da atitude de modernidade:
Ser moderno não é aceitar a si mesmo tal como se é no fluxo dos momentos que passam; é tomar a si mesmo como objeto de uma elaboração complexa e dura; é o que Baudelaire chama, de acor-do com o vocabulário da época, de “dandismo”. (FOUCAULT, 1984/2001, p. 1.389)
Ora, de fato o dandismo baudelairiano é uma tentativa de criação de uma forma de existência como o vê negativamente Sartre. E isso nos pa-rece extremamente positivo e brilhante. O dandismo baudelairiano é para Foucault uma encarnação da ascese da modernidade, caracterizada não só mediante uma relação heróica com o presente, mas também mediante uma relação consigo mesmo. Em Baudelaire, Foucault identifica uma “instru-ção” das Luzes: é preciso ter coragem e audácia de saber, sendo que este só se adquire por meio de um ato de coragem a ser efetuado em si mesmo. Foucault ressalta que, em Baudelaire, a liberdade do homem lhe impõe a tarefa de elaborar a si mesmo e ainda observa:
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
22
Essa heroização irônica do presente, esse jogo da liberdade com o real para sua transfiguração, essa elaboração ascética de si, Baude-laire não concebe que possam ocorrer na própria sociedade ou no corpo político. Eles só podem produzir-se em um lugar outro que Baudelaire chama de arte. (FOUCAULT, 1984/2001, p. 1.390)
Foucault observa um dos pontos essenciais do dandismo baudelairiano: a relação do dândi com a arte. Notemos que não é possível falar de qual-quer dandismo francês no século XIX sem uma aproximação à arte desta época. É nas suas relações com a arte e com o mundo dos artistas que o dândi (literário, histórico ou mítico) constrói a sua forma de vida, sua “arte de viver”. Nesta perspectiva, reconhecemos o dândi como uma dramatiza-ção de um herói moderno movido pela ilusão de que é possível construir para si mesmo uma forma desejada de vida.
Segundo os termos foucaultianos, poderíamos, em princípio, afirmar que o dândi balzaquiano, o Conde Henri de Marsay representa, no sécu-lo XIX, uma experiência individual centrada sobre os atos realizados, a construção de uma própria forma de existir, um esforço para afirmar sua liberdade e para tornar sua própria vida parecida com uma obra de arte pes-soal. Evidentemente, De Marsay encontra na sua “prática de si” um certo número de regras, de estilos e de convenções encontrados no meio cultural de sua época, tornando-o, em parte, “assujeitado” ao mundo onde ele vive. Mas, apesar dos determinismos sociais, este personagem parece-nos como uma ilustração romanesca do “ascetismo individual” exercido pelo sujeito moderno. No retrato físico de De Marsay há uma beleza excepcional que faz dele um personagem fora da normalidade:
À beleza juvenil do sangue inglês, [De Marsay] une a firmeza dos traços meridionais, o espírito francês e a pureza da forma. O fogo dos seus olhos, uma deliciosa vermelhidão de lábios, o negro lustroso de sua cabeleira fina, uma tez branca, uma apa-rência facial distinta torna-lhe uma das belas flores humanas, magníficas, que se vem sobre a massa das outras fisionomias, descoradas, envelhecidas, aduncas, cheias de tiques. (BALZAC, 1835a, p. 1.053-1.054)
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
23
Essa figura rafaelesca é uma raridade na população de Paris. É uma figura comparada a imagem do grego Adônis e a démarche de Brummell. Em Balzac, o nascimento e o físico são traços que favorecem a formação do dandismo. Um rapaz gordo, de estatura baixa, com traços físicos dis-tanciados dos padrões da beleza clássica não pode ser um dândi (eis o caso do homem Honoré de Balzac). Porém (isso é essencial), a formação do rapaz será determinante no dandismo e ainda (esse é o ponto fundamental) o “cuidado de si” (em termos foucaultianos) que ele exerce durante toda sua carreira de dândi. Sublinhamos a ambiguidade destes determinantes: de um lado, temos uma visão aristocrática e conservadora que releva as qualidades naturais e inatas do dandismo e de outro lado, temos uma vi-são burguesa e moderna que releva as qualidades que são adquiridas (ou, construídas) por um trabalho do sujeito sobre si mesmo. O cuidado de si em uns personagens será a atividade do sujeito para tornar-se dândi e, em De Marsay, para conservar a “natureza” do seu dandismo. O cuidado de si depende da condição de cada personagem.
Numa das várias cenas de confidências e de intimidade entre os dândis balzaquianos, ao observar de frente Henri de Marsay fazendo sua toilette, Paul de Manerville (um dândi menor) não pôde impedir-se de dizer:
– Mas você vai levar umas duas horas se arrumando?
– Não! – disse Henri, – duas horas e meia.
– Pois bem! Já que estamos aqui entre nós e que podemos confiar um no outro, explica-me por que um homem superior como você, pois você é superior, afeta até o exagero uma fatuidade [vaidade] que não pode ser nele natural. Por que passar duas horas e meia a se embone-car, quando bastaria tomar um banho em quinze minutos, pentear-se em dois tempos e vestir-se? Vamos, me conta logo esse seu sistema.
– É preciso que eu te aprecie muito, meu caro desengonçado, para te confiar tão altos pensamentos – disse o rapaz, que se fazia nesse momento escovar os pés com uma escova macia passada em sabão inglês.
– Mas, tenho por você a mais sincera afeição – respondeu Paul de
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
24
Manerville – e te admiro por te achar superior a mim... (BALZAC, 1835a, p. 1.071)
Identificamos neste fragmento dois termos que caracterizam a via dupla dos processos de constituição do dandismo em Balzac: natural e sistema. Henri de Marsay obtém as duas: ele carrega uma “natureza” favorável ao dandismo e também elabora nele mesmo um “sistema” de transformação de si. Isso caracteriza a noção de ultrapassagem de uma suposta natureza pelos artifícios da cultura em Balzac; ou, melhor dizendo, uma ultrapassa-gem de uma natureza para outra natureza, uma vez que toda natureza em Balzac é resultado de um processo de produção, ou seja, de um processo que é artificial. Na cena acima encontramos uma das mais interessantes manifestações do cuidado de si na constituição do dândi. Balzac representa o sistema individual que permite construir em si mesmo uma bela e boa forma desejada de existência. Esta “prática de si” ou “ocupação de si” pode causar estupefação do outro e suscitar sua incompreensão.
O “sistema” de De Marsay é um trabalho consigo mesmo na sua di-mensão exterior, reduzido a sua própria aparência: uma dimensão esté-tica do existir. Mas, esta dimensão está associada à dimensão ética, pois o personagem faz referência aos “altos pensamentos” que justificam e fundamentam o uso de duas horas e meia para fazer sua toilette. Ao traba-lhar seu corpo, De Marsay também trabalha sua alma: neste caso, a alma está submetida ao corpo. É aqui que estabelecemos uma relação com uma hipótese de Michel Foucault sobre o cuidado de si: “existe evidentemente para nós alguma coisa de um pouco perturbadora neste princípio do cui-dado de si” (FOUCAULT, 1982/2001, p. 14). Esta hipótese foucaultiana surge quando ele discute as relações entre “verdade e sujeito” na história da cultura ocidental. Nós resgatamos esta reflexão e a incluímos no con-texto da obra balzaquiana para pensar sobre os significados da démarche do personagem dândi.
Em Foucault, o cuidado de si representa, no mundo contemporâneo, uma prática de libertação do sujeito em relação às novas disciplinas de governo da população. No “sistema” de Henri de Marsay, o princípio do
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
25
cuidado de si também representaria uma forma de resistência individual aos sistemas rígidos de subjetivação e de assujeitamento das relações hu-manas institucionalizadas no contexto da vida urbana do século XIX? Este dândi balzaquiano escolheu ser ele mesmo seu próprio projeto. Seu ser é seguramente reconduzido ao seu parecer:
Ser, para o dândi é certamente parecer, mais precisamente ainda, parecer é ser. Quando ele compõe com tanta minúcia, na sua toilette, o homem que daqui a pouco [em duas horas e meia!] se oferecerá aos olhares do público, ele não se prepara a mentir, mas a se propor o melhor de si. O resto, o que ele esconde, não importa mais, senão como um mistério indecifrável que cava uma profundidade atrás de sua aparência. Verdadeira ou falsa, quem pode dizer? (CARASSUS, 1971, p. 61)
Pensemos nesta última questão de Carassus sobre a relação entre o ser e o parecer do dândi: verdadeira ou falsa profundidade, quem pode dizer? Embora ele faça do dandismo uma estratégia para conquistar o que lhe interessa na sociedade parisiense e apesar de todas as suas contradições entre um “ser aristocrático” e um “ser aburguesado”, encontramos em De Marsay um “ser” que se constitui no “parecer”. Balzac constrói uma “on-tologia” romanesca por meio desse personagem no qual não existe uma oposição entre o ser e o parecer – tal como a tradição platônica. Cuidando de sua aparência, o dândi tem como finalidade constituir o ser público que ele quer representar: um homem superior. Neste “grande teatro chamado mundo” (BALZAC, 1843, p. 700), ele representa um homem superior, cuja existência é pura representação.
A encenação de Henri de Marsay é parecida, em partes, com aquela do sedutor Don Juan, o célebre personagem mítico que aparece nas obras de Molina (1583-1648), Molière (1622-1673), Corneille (1625-1709), Mozart (1756-1791), Byron (1788-1824). Don Juan não tenta apenas seduzir uma mulher. Ele busca seduzir muito mais do que uma mulher ou do que uma quantidade de mulheres. O momento forte da sedução se constitui a exibir ao público seu poder de ser amado pelas mulheres. Neste sentido, o que ele procura realmente é seduzir a sociedade: teatralizar o social ao seu serviço,
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
26
fazer do social o espaço onde ele encena seu espetáculo individual. Don Juan é um personagem subversivo. Seu projeto não é de ordenação de uma sociedade ou uma ação política, mas, um projeto de sedução sobre a socie-dade procurando trazê-la para si, controlando-a para seu próprio benefício. Ribeiro (1991) comenta que talvez seja esse o aspecto que tornara esse he-rói romântico um personagem de interesse tão grande no senso comum das pessoas que sabem quem é Don Juan ou sabem mais ou menos o que sig-nifica Don Juan, mesmo sem nunca terem tido contato literário. De Marsay tem alguma coisa de Don Juan nos “tesouros da sua política” (BALZAC, 1835a, p. 1.094). Ele oficializa um jogo social no qual ele constrói sua es-tratégia. Neste sentido, este novo Don Juan constrói sozinho, sem nenhum comandante, sem nenhuma lei terrestre ou divina, um sistema individual para se sentir acima da jurisdição da massa:
– Você saberá qualquer dia, Paul, como é divertido iludir a socie-dade ocultando-lhe o segredo de nossas afeições. Experimento um prazer imenso em fugir à estúpida jurisdição da massa, que jamais sabe nem o que quer nem o que a fazem querer, que toma os meios pelos resultados, que ora ama e ora maldiz, ora constrói e ora des-trói! Que prazer impor-lhes emoções e não as receber dela, dominá-la, não obedecê-la! Se podemos ser orgulhosos de alguma coisa, não é de um poder conquistado por si mesmo, do qual somos ao mesmo tempo a causa, o efeito, o princípio e o resultado? Pois bem! Ne-nhum homem sabe a quem amo, nem o que quero. Talvez saibam a quem amei e o que quis, como se sabe dos dramas que aconteceram; mas deixar perceber o meu jogo?... fraqueza, tolice. (BALZAC, 1835a, p. 1.095)
De Marsay defende que a única coisa da qual ele pode ser fiel é o poder adquirido por si mesmo, cuja causa, o efeito, o princípio e o resultado é ele mesmo. Ele discursa sobre a autonomia absoluta do sujeito que é tributária do olhar da sociedade. De Marsay representa um homem num contexto em que novas condições materiais sobre a vida pública, os efeitos do capitalismo industrial, fez com que a personalidade penetrasse no domínio público. Mes-mo sendo contra os ideais e costumes burgueses em ascensão e elogiando a vida aristocrática parisiense, ele não poderia deixar de ser influenciado pela
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
27
força do sistema de lucros individuais da vida cosmopolita de sua época. Sob esta perspectiva, Richard Sennett (1979/1988) desenvolveu a tese de que a personalidade se tornou no século XIX a maneira de se pensar sobre o senti-do implícito da vida humana, enquanto em cada vida a forma concreta, o eu como um objeto completo, ainda precisava se cristalizar. Ademais, em Paris, não havendo mais princípios transcendentes como Deus, o Rei, a cidade ex-punha assim todas as possibilidades da psicologia humana:
Nas roupas e nos discursos da Paris de Balzac, as aparências já não eram mais um distanciamento do eu, mas antes pistas para o sen-timento privado. Inversamente, “o eu” não mais transcendia suas aparências no mundo. Esta era a condição básica da personalidade. (SENNETT, 1979, p. 194)
A sociedade balzaquiana é definida, em parte, pelas suas aparências. Observamos que, na Comédia Humana, a aparência constrói (e não apenas revela) a personalidade do indivíduo. Um excelente exemplo desta ideia é a atenção de Balzac às roupas com a finalidade de capturar – ou, construir – o caráter dos seus personagens: “as roupas não apenas revelam a perso-nalidade daqueles que veste; mudanças de roupa preparam as personagens de Balzac para acreditarem que se tornaram outras pessoas” (SENNETT, 1979/1988, p. 201).
Pierre Laforgue (2002) analisa uma outra questão que determinará a visão de mundo na época de Balzac: o afundamento da lei. Com isso, os rapazes do dandismo balzaquiano são personagens conduzidos a se inven-tarem, a constituírem suas “próprias leis” dentro de um mundo onde:
(...) os céus se esvaziam, Deus se ausenta e com ele, no seu retrato, se retira toda mitologia de que o mundo viveu, aquela em particular associada à força carregadora da História e aquela encarnada na pes-soa do Rei. Daí os homens são livres às suas solidões existenciais e experimentam a ausência do sentido. (LAFORGUE, 2002, p. 24)
Numa França sem Dieu e sem Roi, a personalidade do homem torna-se então o princípio fundamental para seus atos e sentidos da sua existência. O
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
28
“eu” de Henri de Marsay, o rei dos dândis balzaquianos, é o conjunto de todas suas ações e suas ações constituem sua política. É um “eu” em ato. O “eu” não é mais do que o que ele mostra. O cuidado de si é uma atividade de recusa do “ser” pelo “parecer”, de um ser confundido com a superfície social. De Marsay é um homem de ação: “o dândi balzaquiano pensa e se veste segundo os mesmos imperativos” (BONNET, 1980-1981, p. 52). Ao fazer sua toilette, o dândi faz o seu “eu”, ou seja, os processos de constituição do “eu” se dão (também) nas horas dedicadas à construção de uma imagem que será exibida em público. Eis o sistema escondido de Henri de Marsay. É preciso que ele queira muito bem alguém que ele possa confiar pensamentos tão altos.
Na cronologia das ficções, em 1822, o rei dos dândis balzaquianos dá conselhos para todas as gerações de heróis românticos dândis e os dândis históricos: é preciso “se colocar à altura de sua época” (BALZAC, 1838, p. 1008). Assim, o dandismo se tornará uma nova forma de aristocracia onde o “parecer” é uma forma de distinção individual no mundo burguês que ascende ao poder:
(...) a nobreza, afastada do poder e de toda espécie de verdadeira vida, não possui mais que a única arma do parecer, tornada, no me-lhor dos casos, o dandismo, supremo refinamento do luxo moderno. (SAÏDAH, 1989-1990, p. 400)
“Colocar-se à altura de sua época” é precisamente tornar-se dândi – ocasião de uma raríssima minoria privilegiada de rapazes. Balzac, com o cinismo lúcido de seu personagem, oferece um modelo de revolta e de “revolução” individual (e egocêntrica) para o século XIX. Henri de Mar-say, o protagonista da Comédia Humana que aparece a cada passo com seu provocador amoralismo, a cada nova situação encontrando-se num sta-tus social mais privilegiado, é uma criação de Balzac que nos apresenta a constituição de uma nova estética da existência humana no início da Idade Contemporânea. Com este personagem, temos uma encenação das origens de determinadas formas de subjetivação no século XIX: uma sociedade onde a personalidade do homem se confunde com sua máscara social. No século XX, estas formas de subjetivação – reconfiguradas em outros con-
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
29
textos políticos e culturais – persistirão e servirão de inspiração para a constituição de outras formas de vida. Pensemos na história da cultura gay como um bom exemplo.
Referências
BALZAC, Honoré. La Fille aux yeux d’or. La Comédie humaine. Édi-tion publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex. Paris: Galli-mard, Bibliothèque de la Pléiade, tome V, 1977 (Originalmente publi-cada em 1835a).
BALZAC, Honoré. Le Cabinet des antiques. La Comédie humaine. Édition publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome IV, 1977 (Originalmente publicada em 1838).
BALZAC, Honoré. Le Contrat de mariage. La Comédie humaine. Édi-tion publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex. Paris: Galli-mard, Bibliothèque de la Pléiade, tome III, 1976 (Originalmente publi-cada em 1835b).
BALZAC, Honoré. Les Souffrances de l’inventeur (3e partie d’Illusions perdues). La Comédie humaine. Édition publiée sous la direction de Pier-re-Georges Castex. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome V, 1977 (Originalmente publicada em 1843).
BARBEY D’AUREVILLY, Jules Amédée. Du dandysme et de George Brummell. Préface de Fréderic Schiffter. Paris: Payot & Rivages, 1997 (Originalmente publicada em 1845).
BARBEY D’AUREVILLY, Jules Amédée. Les Diaboliques. Édition pré-sentée, établie et annotée par Jacques Petit. Paris: Gallimard, 2003 (Origi-nalmente publicada em 1874).
BAUDELAIRE, Charles. Le Dandy [1859]. In: BARBEY D’AUREVILLY, Jules Amédée. Du dandysme et de George Brummell. Préface de Fréderic Schiffter. Paris: Payot & Rivages, 1997.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
30
BONNET, Patricia. Le Personnage du dandy dans «Le Contrat de maria-ge» de Balzac. Mémoire de maîtrise sous la direction de Monsieur MAS-SON. Université Paris X – Nanterre, 1980-1981.
CALAÇA, Fausto. Dandismo e Cuidado de Si: ensaios de subjetivação em Balzac – Dandysme et souci de soi: essais de subjectivation chez Balzac. Tese de Doutorado sob a orientação de Terezinha de C. Viana e co-orientação de Olivier Bara. Universidade de Brasília/Université Lumière Lyon 2, 2010.
CAMUS, Albert. La révolte des dandys. L’Homme revolté. Paris: Galli-mard, 1993 (Originalmente publicada em 1951).
CARASSUS, Émille. Le Mythe du dandy. Paris: Armand Colin, 1971.
FOUCAULT, Michel. L’Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France, 1981-1982. Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Frédéric Gros. Paris: Gallimard, 2001.
FOUCAULT, Michel. Qu’est-ce que les Lumières? [1984]. Dits et écrits II. 1976-1988. Édition établie sous la direction de Daniel Defert et Fran-çois Ewald avec la collaboration de Jacques Lagrange. Paris: Quarto Galli-mard, 2001.
LAFORGUE, Pierre. L’Œdipe romantique. Le jeune homme, le désir et l’histoire en 1830. Ellug, 2002.
NISHIKAWA, Yuko. Balzac et le dandysme. Université de Paris I. Thèse de doctorat sous la directions de Pierre-Georges Castex, 1969.
OLIVER, Andrew. «Histoire des Treize» par Andrew Oliver. Groupe In-ternational de Recherches Balzaciennes (GIRB), Maison de Balzac (Paris) et Groupe ARTFL (Université de Chicago). Balzac. La Comédie humaine, Edition critique en ligne. Acesso em março/2009: http://www.v1.paris.fr/musees/balzac/furne/presentation.htm
RIBEIRO, Renato Janine. Sedução e Poder. Extensão. Belo Horizonte. v. 1, n. 4, p.11-33, 1991.
SAÏDAH, Jean-Pierre. Dandysme social et dandysme littéraire à l’époque de Balzac. Thèse de doctorat d’Etat Lettres sous la direction de Monsieur le Professeur Yves Vadé. Université de Bordeaux III, 1989-1990.
SARTRE, Jean-Paul. Baudelaire. Précédé d’une note de Michel Leiris. Pa-ris: Gallimard, 1947.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
31
SCARAFFIA, Giuseppe. Petit dictionnaire du dandy. Tradution et présen-tation par Henriette Levillain. Paris: Sand, 1988.
SENNETT, Richard. A Personalidade em público. O Declínio do homem público: as tiranias da intimidade. Tradução de Lygia Araújo Watanabe. São Paulo: Companhia das Letras, 1979/1988.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
33
Um homem chamado pantaneiroEudes Fernando Leite
Universidade Federal da Grande Dourados
O aparecimento do Pantanal brasileiro enquanto ambiência e catego-ria representacional está diretamente relacionado às transformações que a sociedade brasileira vivenciou desde a metade do século XX até os anos 1990. Em benefício da clareza, não se postula que o Pantanal não tenha existido até então enquanto ambiente e espaço geograficamente identifica-do; mas sugere-se aqui que o Pantanal é uma bem sucedida representação que articula diversos elementos pertinentes ao ambiente geográfico e a his-tória do lugar na direção de se transformar num lugar que parece sucumbir ao tamanho das imagens que lhe foram atribuídas. É salutar acrescentar que essa invenção quase nada se relaciona com entendimentos que pos-tulam certo falseamento da realidade, entendimento em que o fenômeno construído trairia outro fenômeno que, por sua vez, seria a realidade. As invenções bem sucedidas assim o são porque foram extremamente exitosas na articulação de elementos “reais e concretos”, os quais são selecionados para ofertarem subsídios e sustentáculos ao novo fenômeno fabricado a partir de uma ou mais demandas que surgem no interior das relações so-ciais (BANN, 1994).
A invenção de um Pantanal edênico, uma região que desde a década de 1970 passaria a ser (re)conhecida como um paraíso ecológico, apresenta uma compreensão de que o ambiente do lugar seria maior do que a ação da cultura ou, em outras palavras, a natureza ditaria as formas existenciais (LEITE, 2008). No paraíso das espécies o homem é reconhecido como um ser à parte, subordinado às normas naturais e, consequentemente, sua his-tória está contida na natureza do lugar. Essa representação parece adquirir força explicativa ao longo dos anos 1970 e 1980, especialmente porque alguns fenômenos ofereceram material empírico para sua sustentabilida-de: a enchente de 1974 e a divulgação das imagens dessa inundação pela
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
34
grande mídia brasileira. É paradoxal que os dois eventos, um de ordem natural e o outro do campo da cultura, aproximem-se na direção de colabo-rar fortemente para que o Pantanal fosse tomado como um lugar exótico, submetido à força da natureza. A natureza, por sua vez, também vinha se tornando um tema recorrente na agenda ocidental, especialmente após a Segunda Guerra Mundial que, entre outras circunstâncias, impulsionou a preocupação com a crescente degradação ambiental.
Ainda que esboçado de forma breve, o contexto acima conforma o aparecimento e crescimento da figura humana na paisagem pantaneira. Embora o homem inicialmente tivesse pouca relevância para a estrutu-ração da imagem a respeito do Pantanal, a preocupação com sociedades “exóticas” favoreceu para que o morador local passasse progressivamen-te a ser visto como “pantaneiro”. Primeiramente a personagem parece ser parte da própria paisagem porque traria na sua memória um senso de preservação que só poderia se verificar em alguém que tivesse sido gesta-do no interior do Pantanal. Novamente, o entendimento que naturaliza as ações humanas foi requerido para explicar a vocação conservacionista do morador do Pantanal. Ao mesmo tempo, a imagem desse homem passou a ser associada à presença daqueles que vieram para se instalar na região e desenvolver a atividade pastoril, especialmente após a Guerra da Trípli-ce Aliança. Mas a associação da figura do pioneiro e o homem portador de uma vocação para o respeito à natureza local é insustentável face ao complexo fenômeno de implantação e consolidação das fazendas de gado no Pantanal. Uma das facetas da história do afazendamento do Pantanal é o enfretamento da natureza, principalmente daqueles fatores que obs-taculizavam a fundação das fazendas que se dedicariam à pecuária. A construção de uma representação em que o pantaneiro é essencialmente um preservacionista decorre do imenso esforço dedicado a elaboração de uma memória, no interior da qual, o pioneiro se transformou na per-sonagem ativa e responsável pela fundação de fazendas, unidades que garantiram a ocupação econômica de regiões importantes como a Nhe-colândia, nas proximidades da cidade de Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul (DOMINGOS, 2005).
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
35
A transformação da pecuária em atividade de grande relevância no Pan-tanal e que se verifica desde o final da Guerra da Tríplice Aliança cola-borou para que na segunda metade do século XX, o referente identitário pantaneiro recebesse influxos das lides no campo, no interior das gigantes-cas propriedades de criação bovina que passaram a se instalar nas áreas de pastagens nativas.
Nesse contexto, o surgimento do homem pantaneiro, indivíduo único e pertinente a determinado lugar, mobiliza elementos pertencentes ao Pan-tanal enquanto locus, principalmente quando a imagem desse ambiente já foi construída e se sustenta nas figuras dos animais ou da paisagem. Es-ses dois elementos ganham expressividade a partir das imagens de peixes, aves, rios, matas, onças, capivaras, salinas configurando um diversificado conjunto de componentes da flora e da fauna local como sínteses da região e daquilo que ela deveria representar no imaginário brasileiro, por sua vez, ávido em consumir imagens que sugerem a existência de um ambiente na-tural em sua totalidade. Essa representação, brevemente lembrada acima, pode ser compreendida como integrante da concepção biocêntrica, cuja acepção contempla os componentes do mundo natural como elemento ar-ticulador das valorações que a sociedade ocidental emprega para se referir aos ambientes em que a natureza adquire grande importância.
Nas duas últimas décadas do século XIX, teve início um processo de migração em direção ao Pantanal, na sua parte hoje localizada nos limites do estado de Mato Grosso do Sul. Essa movimentação ocorreu motivada pela tentativa de recuperar terras e rebanhos bovinos que foram ocupadas e consumidos durante a presença paraguaia na região de Corumbá, no perío-do da Guerra. Tal evento garantiria ao longo da primeira metade do século XX a emergência da figura do trabalhador nas fazendas de gado enquanto uma figura importante na consolidação da pecuária local. Até a metade do século XX, o trabalhador da fazenda de gado fora visto como parte do grupo colonizador, embora não proprietário, e por isso era genericamente referido como “camarada”. Tal definição indicava o peão que mourejava junto ao proprietário e para tanto poderia receber seu pagamento em forma de salário, associado a parte do lucro, direito a criar algumas rezes misturadas ao reba-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
36
nho da fazenda e, principalmente, ser considerado um homem de confiança plena do proprietário. Dessa forma, no primeiro momento, especialmente até os anos 1950, a figura do peão envolvido no trabalho com o rebanho se con-funde com o proprietário. Tal situação não se difere muito de outras regiões brasileiras no mesmo período, mas no Pantanal ela ocorre em sintonia com o fortalecimento da pecuária enquanto atividade econômica, mas que garantiu que presença humana fosse tomada como inerente ao universo pastoril.
A expressão “no Pantanal é o boi quem cria homem” e que ganhou campo na região é um bom indicador da relevância que a criação de gado e, depois, a bovinocultura colaboraria para potencializar. Cabe notar que essa assertiva – figura de linguagem responsável por sintetizar a relevância da bovinocultura pantaneira – serviu para explicar a inserção da pecuária na região, indicando também que todas as outras atividades e a forma de vida ali verificadas estavam vinculadas aos movimentos que a pecuária impôs. Foi em torno da pecuária que se constituiu o imaginário a respeito do ho-mem pantaneiro como extensão do modelo de colonização e implantação de fazendas em áreas como a da Nhecolândia. Ali, e por circunstâncias pe-culiares, a fundação de fazendas articulou energias humanas na instalação de unidades pastoris nas quais as relações de trabalho se confundiram com compadrios, amizades, alianças políticas e afetivas.
O progressivo e bem sucedido crescimento das fazendas instaladas na Nhecolândia transformaram essa sub-região numa imensa área produtora de bovinos; fornecedora de animais magros para propriedades que trata-riam de cuidar da etapa final de preparo do gado para abate. E com a atua-ção das comitivas a venda dos rebanhos locais se transformou na principal prática econômica que colaboraria para a formação de uma representação da personagem que se transformaria no ícone regional: o peão. Por decor-rência, essa personagem articula ainda a imagem do pantaneiro, represen-tação do habitante do pantanal independente de seu lugar na hierarquia social no lugar. Assim, a figura do homem pantaneiro quer garantir certa legitimidade ao habitante local, reivindicando a noção de pertença como base dessa condição e transformando o peão numa particularidade da con-dição daquele que se define e é reconhecido como pantaneiro.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
37
A emergência de uma figura que passaria a sintetizar certa forma exis-tencial na região pantaneira vincula-se fortemente a criação e fortalecimen-to dessa mesma região enquanto espaço idealizado e associado ao espaço edênico, operação que principalmente desde os anos 1970 busca significar o Pantanal como um paraíso ecológico (LEITE, 2008). Esse espaço criado a partir da reunião das expectativas em relação ao meio ambiente com as características pantaneiras é um fator relevante para se definir aqueles sujeitos que labutaram nos enfrentamentos com o mundo natural e, aos poucos, moldaram uma forma existencial no lugar. O pantaneiro, em tal moldura, seria um indivíduo dotado de características e valores peculiares indispensáveis para sobreviver naquela ambiência – o Pantanal – e conse-quentemente detentor de conhecimentos e direitos sobre o lugar. O peão é o pantaneiro específico, ou seja, o homem capaz de transformar o lugar, domando o próprio meio numa ação metafórica de transformação daquele cosmos. Essa definição é por si movediça e em muitas situações reproduto-ra de alto grau de exclusão. Ao indicar o peão como arquétipo, deixa-se em lugar menos destacado outros habitantes locais e que não se vinculam às lides campestres, como pescadores e outros trabalhadores. Há ainda uma oclusão de gênero, pois nem sempre se considera a presença da mulher como uma das figuras que existem e constroem o lugar.
A definição do homem pantaneiro, conforme apontado, dá-se em direta relação com a valorização do lugar e dos sentidos que a natureza adquire nos dias atuais. O pantaneiro é o ser que domou e foi domado pela natu-reza; essa personagem parece ter sido essencializada pelo movimento de fortalecimento de seu significado naquela região, da qual ele seria um inte-grante porque conquistara um lugar de destaque nos embates que realizara no passado. Aparece um similar do sertanejo forte, ainda que no Pantanal a natureza seja um referencial estético complexo, seu papel também é de oferecer destaque ao homem.
O esclarecimento de um tipo de identidade pode ocorrer – também – pela decisão do indivíduo em descrever certos elementos que poderiam perfazer uma totalidade da representação de outros integrantes de seu grupo. Em uma situação particular, indaga-se a um habitante do Pantanal,
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
38
trabalhador de longa data em fazendas de gado, sobre uma característica quase sempre atribuída ao homem pantaneiro:
Entrevistador: Na visão do senhor, o pantaneiro é um homem va-lente; é um homem bravo ou ele é um homem calmo. O que ele é?
Sr. Valdomiro: [...] o pantanero tem pessoas que acham que o pes-soal pantanero são pessoas assim muito bravo; pessoa servage, né! Mas num é! O pantanero são pessoas boa. O pessoar que sabe arre-cebê tudo mundo, sabe conversá. Então é deferente do que o pessoar que tem aqui [na cidade]. Como agora, esses dias, lá em casa, chegô um pessoar que veio aqui daqui, esqueço o nome do lugar; então eu tava cunversando com eles. Então eles tavam me falando que lá pra eles contam que aqui no Pantanar a onça pega o pantanero assim. Diz que o pantanero vai lá no peão pantanero e a onça pega o cara! O pessoar já tem esse custume, ninguém vorta, né? Aí eles tiveram em casa. Tiveram uns dois meses em casa, que o pessoar são muito bravo que pantanero são muito bravo, ficam parado assim, numa sombra, cada um com um monte de revorve na cintura. Então tem pessoa que já olha pro camarada que tá parado, o camarada pergunta o que tá olhando, se a pessoa responde, ele já atira... Não é assim não! Quer dizer, acontece de matá certos peão, né! Às vezes o peão mata o otro peão, mas é muito difícil, né! Acho que o pirigo é na ci-dade, né?[...]” (AQUINO, Valodomiro Lemos. Entrevista concedida a Eudes Fernando Leite. Corumbá, 1996).
O entrevistado acima, falecido em 2011, quando indagado sobre a definição do que seria o homem pantaneiro faz referência à imagem do homem ensimesmado e dotado de um potencial de violência peculiar. Para aqueles que chegam à região existiria uma compreensão em que o pantaneiro é um indivíduo selvagem e dado a atos de violência sobre os demais. Um indivíduo que não suportaria questionamentos e estaria disposto a matar por razões de pouca relevância ou quando se sentisse provocado por um “olhar atravessado”. A essa imagem, o entrevistado responde que existem disputas e rivalidades, mas que a violência perten-cia muito mais ao mundo urbano do que ao Pantanal, ou seja, a violência seria sim uma componente do ambiente pantaneiro, mas seu lugar de maior expressão seria a cidade.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
39
As afirmações do senhor Valdomiro explicitavam a compreensão de um pantaneiro avesso à vida na cidade, lugar pouco confortável para ele cuja existência esteve muito mais vinculada ao trabalho com bovinos e cavalares em propriedades voltadas para a criação de gado, no interior do Pantanal da Nhecolândia. Visitas à cidade sempre foram um exercício anual, pouco pra-zeroso e que se explicava exclusivamente pela presença dos filhos e netos re-sidentes na cidade de Corumbá. Residir na cidade de Corumbá se constituía como uma ameaça à liberdade e à tranquilidade existente nas fazendas; ainda que seus familiares os pressionassem, a possibilidade de se residir numa mo-radia urbana, distante dos animais silvestres e de todos os demais elementos que integram o universo da fazenda, sempre fora recusada mesmo quando a menção à condição de aposentado e de que ele já contava mais de setenta anos de idade eram tomadas como parte da argumentação para convencê-lo a se mudar. Contudo, cerca de quinze anos após a realização da entrevista, o senhor Valdomiro migrara para a cidade e, rapidamente se empregou em um açougue localizado nas proximidades de sua residência na periferia de Corumbá. Mais alguns anos foram o suficiente para que um componente altamente significativo da caracterização do mundo urbano lhe tragasse a vida. Num final de tarde abafado, típico da cidade pantaneira, encerrado seu expediente no açougue, o senhor Valdomiro retornava para casa quando foi atropelado por um veículo em alta velocidade, provocando fraturas diversas que em pouco tempo reafirmaram sua própria compreensão de que “[...] o pirigo é na cidade!”, levando-o a óbito.3
Na representação aludida pelo entrevistado aparece um componente pertinente ao modusvivendi local: a arma de fogo. Esse componente é um artefato geralmente indicador da violência, é também no Pantanal um ins-trumento de defesa, especialmente quando se trata das incursões aos locais mais ermos e habitados por animais ferozes. Ao longo do tempo e na esteira de uma imagem que quis vincular o Mato Grosso como um lugar violento, habitado por bandidos, foragidos da lei, o ato de portar armas foi progres-
3 As informações a respeito do acidente que vitimou o senhor Valdomiro Lemos de Aquino me foram repassadas num telefonema. De forma emocionada, seu genro realizou a ligação por entender que minhas pesquisas sobre o Pan-tanal encontram referências importantes na entrevista realizada em 1996, naquela ocasião em que o senhor Valdomiro já se preparava para se recolher ao Pantanal.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
40
sivamente visto como um signo da violência inerente ao ser regional. De forma marginal, a referência do senhor Valdomiro é uma espécie de eco à representação de que o mato-grossense e, no caso em tela, o pantaneiro é detentor de um grau mais acentuado de violência, o que o tornaria muito mais perigoso quando tomado em comparação a outros tipos regionais.
A representação exposta pelo senhor Valdomiro, formada a partir da sua própria autoimagem, afirma um modelo existencial na mesma proporção que intenta repelir certos traços negativadores da imagem, senão da própria personalidade. De Guimarães Rosa, no princípio da apresentação de seu amigo vaqueiro, José Mariano da Silva, é possível tomar emprestada a se-guinte afirmação, sob o pretexto de tentar compreender o pantaneiro: “Tí-pico e não um herói, nenhum. Era tão de carne e osso, que nele não poderia empessoar-se o cediço e fácil da pequena lenda. Apenas um profissional esportista: um técnico, amoroso de sua oficina” (ROSA, 1969).
A imagem do homem forte também chega ao texto literário, especial-mente naqueles textos que tomam o Pantanal como espaço da trama e personagem da história. O escritor Augusto Proença, o mais importante escritor corumbaense vivo, cuja obra se inicia com textos ficcionais, passa por ensaios de pretensão historiográfica, caminha pelo espaço dos contos e alcança o romance, é um destacável intelectual que procura intensamen-te consolidar uma representação literária para o Pantanal da Nhecolândia. Descendente das famílias que fundaram fazendas no Pantanal da Nhe-colândia, Proença procurou apreender a região em diversos textos, mas é em “Raízes do Pantanal” que o escritor pretendeu escandir a alma do lugar, construindo personagens-síntese de seus antepassados (LEITE, 2011). A certa altura desse escrito é possível visualizar o homem pantaneiro enfren-tando o lugar, na mesma proporção em que busca educar seu rebento:
O cavaleiro pára o carro. Apeia do cavalo baio, ligeiro vai acudir o filho: erguê-lo para que fique de pé e se acostume a andar feito ho-mem. Force os passos desengonçados... aquelas pernas, pra crescer valente e, mesmo sendo aleijado, jamais se transformar num covar-de – anda, vamos. Anda! – e larga o corpo entrevado. Que de omo-platas saltdas, fino nos braços, peito fundo, joga as pernas, e quase se arrastando por entre entulhos, vai até a extremidade traseira do
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
41
carro e pára. Agora tira o pichito pra fora e mija. Vamos. Ele tira o piruzinho murcho, mija de esguicho, olhando esbugalhado a cara daquele homem rude: o pai (PROENÇA, 1989)
O cavaleiro, personagem que se desloca no espaço pantaneiro, mergu-lhando na memória da região carrega igualmente a memória dos antepas-sados de Proença. Personagem designada sempre como “cavaleiro” resulta do ato criador do autor, quem lhe aplica o conjunto de características dos pioneiros da região, de tal forma que essa personagem parece ser o passado e o presente do lugar. A experiência vital, no texto de Augusto Proença, é certamente um grande resumo do fenômeno colonizador do Pantanal da Nhecolândia, mantendo a fluência da memória familiar por meio da cons-tituição de um homem que se transforma no estereótipo do Pantaneiro, forte, rude e em constante enfrentamento com a natureza e com os obstácu-los existenciais. Noutro texto, Augusto Proença lança mão da fórmula das “três raças fundadoras” para explicar a formação identitária ou o ethos do trabalhador pantaneiro, cuja habilidade no trabalho com o gado seria resul-tado da mistura de negros, brancos e índios, associada ao paraguaio. Ainda que apresente essa formulação, o autor identifica no indígena o aspecto que originara o trabalhador rural:
O vaqueiro se originou do índio: do Guató, do Guaná, dos Xama-cocos e Guaykurú, os primitivos donos da terra; também do negro escravo que veio para as minas de ouro e, depois, para as plantações de cana. Acompanhou o desbravador por caminhos vários e, já no sul, recebeu a influência do sangue paraguaio, absorvendo-lhe os costumes, os traços fisionômicos, formando um tipo diferente do vaqueiro do Norte: o típico poconeano (PROENÇA, 1989, p.55)
A presença humana e as estratégias empregadas para viver no Pantanal caminham de encontro às representações idealizadoras, construídas fora das práticas sociais que caracterizam a historicidade do lugar. A edeniza-ção, enquanto prática social decorrente de estratégias intelectivas e que cumprem uma função de suavizar e harmonizar um fenômeno ou lugar, é ação cuja finalidade é representar, ou com Moscovici (2009), tornar o es-tranho em algo conhecido e reconhecível, empregando para tanto a retoma-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
42
da de elementos da memória que oferece componentes para a efetivação da tradução (MOSCOVICI, 2009). O contraste entre o imaginário, o Pantanal edênico, resulta da associação das antigas representações acerca do paraí-so cristão aplicada sobre um lugar, um ecossistema esteticamente atrativo a partir da combinação de artefatos integrantes da memória coletiva da sociedade do final do século XX e início do XXI. A imagem da violência ou do “homem violento”, antípoda do “homem cordial”, contrastaria com a aquela outra, a paradisíaca em cujo interior o lugar encontra-se imune à historicidade e às vicissitudes humanas.
Essa situação é paradoxal e contrastante com parte da memória do lo-cal, a da Nhecolândia sobretudo, especialmente quando desde a década de 1920, os membros da família de Eugênio Gomes da Silva e de seu cunha-do, José de Barros, derem início à elaboração da estrutura memorativa em cujo centro estava a importância dos dois pioneiros-fundadores de fazen-das no pantanal próximo a Corumbá, ainda no Mato Grosso. A imagem dos dois pioneiros é um fenômeno discursivo e imagético expressivo na cidade de Corumbá, cujos impactos ainda podem ser sentidos nos dias atuais. In-teressa, nesse momento, salientar que a imagem construída sobre pioneiros se alimenta das trajetórias de enfrentamentos com a natureza nem sempre generosa do Pantanal.
A natureza desde as primeiras incursões europeias à região, hoje conhe-cida como Pantanal, foi vista como um componente marcante, ao mesmo tempo ofereceu motivos para a presença do colonizador espanhol, português e, mais tarde, os nacionais que ali se instalariam, criassem estratégias pró-prias para obter sucesso na conquista (COSTA, 1999; HOLANDA, 1994). No caso da atual Nhecolândia, a instalação das fazendas de gado, fenômeno intensificado a partir do final da Guerra da Tríplice Aliança, registros como o do pioneiro José de Barros (BARROS, 1959) trazem informações que ali-mentaram e garantiram o sucesso de uma vigorosa memória a respeito do afazendamento do Pantanal. “Lembranças”, título da obra referida, é incisiva na descrição de momentos importantes da migração das famílias Gomes da Silva e Barros em busca de terras para se instalarem no Pantanal. E um dos suportes da obra é pontuar com detalhes diversas situações em que a natureza
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
43
se apresentava hostil, fustigando a atuação do homem desejoso de conquistar e submetê-la. Nesse sentido, as águas são sempre a mais expressiva ameaça: no final do século XIX e início do século XX, duas grandes enchentes pro-vocaram prejuízos aos proprietários dos rebanhos, expondo fortemente os limites que a ação humana enfrentava no lugar.
A enchente, fenômeno marcante no ambiente pantaneiro, além de ga-rantir certo equilíbrio na manutenção do ecossistema, assegura ao habi-tante do lugar que consiga controlar a produção do rebanho, ao mesmo tempo em que elabora mecanismos de enfrentamento das inundações. É no enfrentamento com o ambiente que as marcas identitárias parecem se fortalecer porque se fazem presente em detalhes, aos quais, são indicados como marcas que indicam algum tipo de conexão com o lugar e com as ati-vidades ali desenvolvidas. Para um outro pantaneiro, proprietário de terras e gado, há um sinal que denuncia o pertencimento:
Entrevistador: Quem é o pantaneiro?
Sr Vicente: Quem é o pantaneiro? Eu vô mostra pra você: pantanei-ro tem essa unha preta, di butina de couro da butina! Quem fala pro cê qui é pantaneiro e num tivé essa unha preta, ai essa unha preta; cê fala assim:- não é pantaneiro mesmo!Num mora no Pantanal [...] si num tivé esse preto aqui, ele num é pantaneiro, ele num calça a bu-tina, num vive no Pantanal! (ARRUDA, Vicente Falcão. Entrevista concedida a Eudes Fernando Leite. Poconé, 2005).
As observações acima, enunciadas por um proprietário cuja fazenda localiza-se na região pantaneira de Poconé, no estado de Mato Grosso, é significativa acerca do entendimento do que é ser pantaneiro. Para ele, o trabalho implica a utilização de vestimentas que tal como a botina marcam o corpo daquele que é morador no Pantanal. A presença de marcas ou sinais no corpo é um indicador de pertencimento, indicando igualmente o grau de inserção do indivíduo em determinada atividade, geralmente de trabalho. Esse aspecto pôde ser verificado entre os peões e condutores de comitivas que ainda realizam viagens conduzindo milhares de rebanho, no interior do Pantanal (LEITE, 2003).
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
44
Tal como o senhor Vicente, o senhor Valdomiro e o cavaleiro dos escritos de Augusto Proença, o homem pantaneiro pode ser identifica-do por variados mecanismos que podem se iniciar com a autodefinição, passar pelo reconhecimento social e alcançar as designações externas. Todas elas, atualmente, vinculam-se à representação que o Pantanal al-cançou nas últimas décadas, condição que atraiu olhares para o lugar e para aqueles que com ele se identificam. Há ruídos que surgem quando o pantaneiro é visto sob a perspectiva ideal, mas ao mesmo tempo as incompatibilidades entre o ser e sua imagem se refazem no movimento de apreensão do lugar. Nas fontes brevemente referenciadas, o homem pantaneiro surge como personagem partícipe da historicidade da região em que habita, especialmente quando se considera os mecanismos de enfrentamento com chamado mundo natural. Os principais valores do pantaneiro, ainda que superestimados, consolidam-se na relação homem-natureza, ou seja, no plano da cultura.
Referências
BARROS, J. de. Lembranças para os meus filhos e descendentes. São Pau-lo: [s.n.], 1959.
BANN, S. As invenções da História; Ensaios sobre a representação do pas-sado. Tradução por Flávia Villas Boas. São Paulo: Edunesp, 1944.
COSTA, M. de F. História de um país inexistente; o Pantanal entre os sé-culos XVI e XVIII. São Paulo: Estação Liberdade, 1999.
DOMINGOS, G. L. Pantanal da Nhecolândia: História, Memória e a Construção da Identidade. 2005.125f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de História, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, Dourados, 2005.
HOLANDA, S. B. de. Caminhos e Fronteiras. 3. ed. São Paulo: Cia das Letras, 1994.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
45
LEITE, E. F. Do Éden ao Pantanal: Considerações sobre a construção de uma representação. Espaço Plural. Paraná: CEPEDAL/Unioeste, n. 18, p. 145-151, 1º Semestre de 2008.
LEITE, E. F. Memória para a História: Raízes, de Augusto Proença. In: EWALD, F. G. et al. (Orgs.). Cartografias da voz: poesia oral e sonora, tradição e vanguarda. São Paulo: Letra e Voz, p. 142-156, 2011.
MOSCOVICI, S. Representações Sociais: investigações em psicologia so-cial. Tradução por Pedrinho Guareschi. 6. ed. Petrópolis: Vozes, p. 56, 2009.
PROENÇA, A. C. Raízes do Pantanal: Cangas e Canzis. Belo Horizonte: Itatiaia/INL, p. 13, 1989.
PROENÇA, A. C. Pantanal: gente, tradição e história. Campo Grande: Edição do Autor, p. 55, 1991.
ROSA, J. G. Entremeio com o vaqueiro Mariano. In: ROSA, J. G. Estas histórias. Rio de Janeiro: José Olympio, p. 69, 1969.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
47
Tecnologias do voo: suspensão e queda dos corpos no ar
Marina Souza Lobo GuzzoUniversidade Federal de São Paulo
A palavra acrobata vem do grego akrobate, que significa “aquele que anda na ponta dos pés”. A acrobacia é um jogo de preenchimento do espaço com o corpo humano, pode ser executada no solo, no ar, em um aparelho específico. O acrobata trabalha com o limite do corpo: limite de força, limi-te de equilíbrio, limite de potência, limite de liberdade (SOARES, 2001). Limite também de risco e de segurança. O corpo do acrobata sustenta o ris-co de ousar o limite da condição humana. As práticas, porém, são definidas e esculpidas com disciplina e exaustão de treinamento, nada acontece por acaso: os gestos são precisos e seguros. A acrobacia é treinada, planejada para ser vista, para ser desejada pelo público: e é para este que ela se trans-forma em extremidade, em risco e em inusitado. O acrobata já sabe tudo que lhe acontecerá, é um artista que domina e coloniza seu futuro, pois um movimento mais forte, ou mais fraco pode levá-lo ao chão. O risco da acrobacia não está somente na sua altura, ou na sua força, ou na sua beleza. O risco reside justamente na execução perfeita de todos esses elementos. O ritmo e o tempo são essenciais para a segurança de quem executa, e são ao mesmo tempo essenciais para o risco de quem vê. As acrobacias são datadas de muito tempo antes do surgimento do circo moderno, e aparecem em vasos gregos, porcelanas chinesas e outros objetos que representam a antiguidade (STAROBINSKI, 1997).
As acrobacias de solo desempenham importante papel de força e de destreza muscular do executante. Um exemplo dessas práticas são os nú-meros de “mão com mão” (entre duplas, trios ou mais pessoas) e os exer-cícios olímpicos. Nas acrobacias de solo existe a figura do porteur, que é o sujeito que sustenta ou que suporta o peso de outrem que executará movimentos com equilíbrio. O volante é o que sobe, o que fica em cima,
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
48
ele é o peso vivente e consciente do movimento. Esta é uma forma pura de atletismo circense, segundo Sebastin Gàsh, e nesta modalidade entram as chamadas poses plásticas, em que os artistas, com seus corpos defi-nidos e prateados com a purpurina, compõem figuras de beleza (JANÉ; MINGUET, 1998).
Aparelhos aéreos
As práticas corporais do ar mostram um tipo de transgressão de limites do corpo. Elas sempre existiram para entreter, encantar e gerar beleza. O mito do homem que voa, desde Ícaro, representa a materialização da trans-cendência humana em relação às forças do mundo natural, dos animais, da física, da gravidade. Aquele que voa sugere a potência de um homem su-perior, dotado de habilidades maiores e mais possibilidades de ação, visão e experimentação.
No século XIX parece ter havido um esforço por parte das artes circenses de aparecer de forma aérea, leve: os espetáculos eram feitos para o verão, e não para o inverno em contraposição ao teatro. No ve-rão as pessoas saíam mais de casa, vestiam roupas mais leves, ficavam acordadas até mais tarde. Costumavam ir ao circo que condizia com essa realidade. O espetáculo que trazia metáforas do ar e de voos se relacionava prioritariamente aos equilibristas, trapezistas e acrobacias equestres, que apesar de acontecerem no chão, eram em constantes mo-vimentos circulares, e traziam o acrobata em cima do cavalo, dando a ideia de leveza e aeridade.
O primeiro número de trapézio de voo revolucionou a forma de espe-táculos circenses. Jules Leotárd apresentou-se no Cirque d’Hiver em Paris em 1859, com a idade de 21 anos. E chocou e fez brilhar os olhos dos espectadores como descreve um jornal da época: um pássaro tropical que saltava de galho em galho e deixava nos olhos deslumbrados dos especta-dores uma impressão brilhante, porém confusa de suas plumas iluminadas (SPEAIGHT, 1980, p. 73).
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
49
A imagem de Leotárd como um deslumbrante pássaro era em parte pela técnica que envolvia uma decolagem de um trapézio antes que ele chegasse ao ponto mais baixo de seu balanço e desse ponto parecer voar e girar até alcançar o segundo trapézio que era balançado para ele. Outros artistas ha-viam tentado amarrar seus trapézios em balões e atingiam alturas enormes e fatais (SPEAIGHT, 1980).
Contudo, essa técnica logo tomou conta do público e dos artistas cir-censes tendo implicações diretas no gênero dos artistas que praticavam o aparelho. O voo só era possível pela grande habilidade ginástica e pela força física que o artista possuía, mas principalmente por uma agilidade misturada com a leveza. Nesse número a força parecia ser vencida pela beleza. Rapidamente o número passou a ser associado à prática feminina. Uma tensão entre a beleza necessária e a força empregada nesse tipo de exercício deveria causar a impressão de o artista não estar fazendo esforços para se movimentar ou para realizar as acrobacias.
Em 1890 houve a publicação de um “manual” para números circenses, publicado por Hughes Le Roux e Jules Garnier, chamado Acrobats and Mountebancks. O livro consistia em uma série de descrições de formas apropriadas para apresentar e ensaiar um número, incluindo receitas de sucesso e de encantamento para o público assim como regras de seguran-ças para o artista e o que era necessário para a composição de um número perfeito. O capítulo sobre o equilibrismo advertia e comparava a ginástica com o circo:
Os equilibristas são os mais artísticos acrobatas, os verdadeiros Olímpicos. O ginasta excita nossa admiração pelo desenvolvimen-to de seu tórax e sua costela, e por sua confiança épica em seus músculos. O equilibrista não necessita o mesmo esforço em seu trabalho. A beleza de sua performance está na delicadeza, na varie-dade na facilidade e na graça dos movimentos do artista e no valor que mulheres têm como equilibristas, pois homens não conseguem conciliar-se na supressão de sua força em suas façanhas e por isso ficam em segundo lugar como equilibristas. Eles preferem ramos especiais da arte e são geralmente ilusionistas (LE ROUX; GAR-NIER, 1890, p. 220).
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
50
Isso entra em contradição com o perigo e a dificuldade atribuída ao trapézio como prática corporal. E os próprios autores do manual concor-dam que os trapezistas fazem ações olímpicas. A feminilidade atribuída ao número vem de um privilégio estético e não de força ou de perigo. O corpo do homem é visto como ginasta e possuidor de força muscular e “confiança épica nos músculos”, enquanto à mulher fica delegada a função de delicadeza, variedade, facilidade e graça, mesmo executando os exercícios aéreos de grande dificuldade. A força do corpo da mulher parece não existir. Ela parece conseguir suas façanhas por outras habili-dades que não a força.
Existe nessa ideia, a metáfora de um corpo feminino acrobata que é intocado, consagrado e virginal. Isso contribui para a imagem da trans-gressão da artista, que além de romper com uma fronteira social, rompe com fronteiras de seu próprio corpo. O corpo feminino que é o lugar da maternidade, da segurança, da quietude está posto a oito metros de al-tura, invertido, executando acrobacias de grande dificuldade para qual-quer homem.
Le Roux e Garnier (1890) indicam que as mulheres predominam nos exercícios aéreos em performances de trapézios fixos, e que aumentam consideravelmente em número nas trupes de trapézio volante a partir de 1850. A primeira mulher a ser citada como trapezista voadora é conhecida como Mlle. Azella que se apresentou em Holborn em 1868 (STTODART, 2000). Esses números eram geralmente apresentados em teatros e não em circos, como retratam os jornais da época. Interessante que existe uma pre-ocupação com o risco que essa figura corria ao executar suas peripécias no ar, com enfoque em suas vestimentas, que poderiam atrapalhar seus movimentos e fazê-la cair.
A força gerada pelo corpo feminino parecia causar maior sensação no público que assistia com a sensação de estranhamento perante aquele cor-po no ar; e existia certa empatia e simpatia com aquela mulher que inspi-rava certa vulnerabilidade e por isso maior aflição no público ao realizar o número de trapézios de voo.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
51
Mlle. Lala
Degas, como representante desse momento cultural do meio do século XIX, eternizou esse acontecimento da mulher no circo em seus quadros que produziam a impressão do instantâneo. O quadro de Mlle. Lala no Circo Fer-nando (1879) traz a metáfora dos fios estruturais, nos quais a figura de um corpo de mulher parece estar suspensa. O Circo Fernando, fundado em 1875 na Place Fronchot, foi rebatizado em 1890 de Circo Medrano. Era um ponto de atração essencial para os artistas de Montmartre. Degas passou janeiro de 1879 visitando o circo para ver uma trapezista mulata que se autodenominava Mlle. Lala. Ela era também conhecida como la femme canon porque seu número principal consistia em disparar um canhão suspenso numas correntes que ela segurava entre os dentes, enquanto estava pendurada no trapézio pelos joelhos.
O quadro de Degas (GROWE, 2011), no entanto, mostra-a em outra atuação, onde ela se deixa içar até a cúpula do circo graças a um meca-nismo. O tema traz uma espontaneidade e uma fugacidade, pois o quadro imprime o movimento de rotação que o corpo faz parecendo estar livre no ar, uma vez que mal se vê a corda no quadro. O quadro parece não se preo-cupar em mostrar a audácia, o risco e a ousadia da trapezista. Ao contrário, ele subtrai-se do contexto do circo e concentra atenção na relação entre a artista suspensa no espaço e a arquitetura da cúpula. O resto não se vê: não vemos o trapézio, a altura que ela se encontra do chão, se está com rede de segurança ou não. Não vemos os espectadores.
A arte calculada de Degas deu evidência total ao corpo da mulher que está sim, suspenso: o corpo de Mlle. Lala torna-se objeto de forças e tensões expressas pela contradição de sua posição no ar. Em suspensão descendente e em alongamento ascendente o corpo parece estar em uma posição arbitrária. Elas estão, porém, fundamentadas pela textura da arqui-tetura e das travas da cúpula que anulam o movimento e a torção do corpo da artista. Nessas diagonais e verticais do quadro, não encontramos nenhu-ma base segura onde a acrobata poderia se apoiar, o quadro parece traduzir a condição do corpo à mercê do acaso, flutuando no ar.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
52
Risco, gênero e classe social
A figura da mulher acrobata problematiza a organização do circo. Essa mistura de classes e gênero que existiu e possivelmente ainda existe em algumas práticas circenses dilata a contradição do circo como espaço do corpo livre, do corpo grotesco, e do corpo transgressor de limites. No circo, como em outros espaços da sociedade em meados do século XIX, existia um controle e um governo dos corpos e de suas ações. O circo sempre so-breviveu de seu público e de sua boa publicidade. Consagrou-se como uma diversão familiar e, por isso, manteve sempre a ordem e a hierarquia social da burguesia da época. A ideia Bakhtiniana de uma experiência da Cultura Popular é contrária a isso. Para Bakhtin (1999), descrevendo o carnaval e as festas de rua na Idade Média e no renascimento, a forma carnavalesca é o contato livre e familiar entre as pessoas. A primeira coisa que é suspensa no carnaval segundo o autor é a estrutura hierárquica social e todas as suas formas de terror, reverência, etiqueta, pena conectadas a essa hierarquia, ou seja, tudo surge de uma hierarquia social desigual. O circo pensado como uma manifestação da Cultura Popular pode refletir essa estrutura também até os dias de hoje. Essa ideia é um pouco idealista em relação ao circo. Uma das razões que talvez permitissem certos excessos por parte do circo era porque ele mesmo perpetuava e mantinha as distinções de classes sociais e de normas sociais impostas pela sociedade de seu tempo.
As mulheres do circo não somente transgrediam as leis da física ou dos corpos seguros, mas também transgrediam normas de boa conduta moral do século XIX. Elas construíam (ou eram construídas) como um espetácu-lo do corpo seminu que se igualava aos homens em performances de força e de agilidade, apesar de a delicadeza e a baixa estatura serem vistas como fundamentais para a beleza do número. Le Roux e Garnier (1890) sugerem que se faça um exagero e uma máscara feminina para os movimentos e para os números aéreos, onde se disfarce a força e o perigo envolvidos na prática. O corpo é treinado para “mascarar” de alguma maneira suas ações reais: por trás de um corpo treinado, disciplinado, enrijecido e forte está a leveza, a delicadeza, a liberdade. O artista e acrobata aéreo constrói e opera
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
53
a fantasia do espaço onde o corpo é retratado de maneira insubstancial e inclassificável, desprovido de limitações impostas por gênero ou raças.
É o corpo desterritorializado, o corpo desconectado de um lugar, tempo, relações. O corpo irreal e impossibilitado de ser real. Corpo criado para sustentar a ilusão. E por que precisamos da ilusão da leveza? Por que não podemos ouvir os sofrimentos desse corpo, seus gritos, seus esforços e suas limitações? De onde vem esse desejo de superação do corpo?
O ginasta, no ar
A figura do acrobata aéreo trouxe junto com a ideia de superação a imagem do risco. O corpo em movimento, que se arrisca, supera e transcende. O corpo do acrobata pode ser classificado com anormal ou freak, que supera e se ar-risca por causa ou somente porque é dotado de características específicas, de exageros em sua flexibilidade, em sua força, agilidade. A ele é permitido arris-car. Essa representação fica misturada com a ilusão de que ele arrisca sem fazer esforço algum; arrisca porque tem o corpo livre, o corpo potente, a coragem. Arrisca porque escolhe arriscar. Mas será que ele arrisca realmente?
O manual de Le Roux e Garnier é um dos muitos exemplos que as prá-ticas circenses estão sempre embasadas em normas e regras de segurança. Existem sempre, por trás de uma acrobacia, anos de trabalho, dedicação e pesquisa. Existe um momento de prática e de experimentação. E existe, so-bretudo, o momento de sistematização. Até o século XIX o espaço de siste-matização do circo, diferentemente da ginástica, não foi a ciência. O circo viveu e sobreviveu com a passagem de conhecimento oral, ou a tradição do conhecimento familiar, passado de pai para filho, de geração para geração.
Quase no mesmo período a Ginástica começava a se instituir como prática sistematizada. A ginástica era pensada como conjunto das normas de conduta moral e de pedagogias que se elaboram para “formar ou re-formar o corpo, regulando corretamente suas manifestações e educando a vontade” (SOARES, 1998). Amoros publica sua obra ressaltando itens que achava importante para a construção da Ginástica como um campo de
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
54
certezas e sólida estrutura científica e filosófica sobre o corpo. Segundo Soares (1998), no século XIX (na primeira metade) foram realizados di-versos estudos sobre a análise dos movimentos, criação de aparelhos para a Ginástica e melhoria da postura dos indivíduos, principalmente para que ele pudesse servir o Estado em qualquer situação.
Ao pensar o corpo do acrobata no circo e na Ginástica, pensamos em uma estrutura de segurança para esse corpo que se arrisca. No circo isso se deu muito mais por meio de aparelhos externos ao corpo, cinturões de segurança, redes, cabos de aço. Na ginástica essa segurança veio com a ciência: os mecanismos que asseguram o corpo são os estudos fisiológicos, anatômicos e biomecânicos que garantem a execução do gesto perfeito, portanto do gesto seguro, mas também existe uma série de aparelhos exter-nos que previnem acidentes como lesões nos corpos ginásticos.
Com a “esportivização” do mundo, o esporte torna-se o grande espetácu-lo do capitalismo, e engrenagem no processo civilizador (LUCENA, 2002), a figura do ginasta, grande acrobata e realizador dos maiores feitos em rela-ção aos saltos, aos voos e à execução perfeita dos movimentos de acrobacias aéreas. Existe no corpo do ginasta a tensão explicitada entre a criação e a competitividade exposta em cada gesto, em cada movimento. O aumento do grau de dificuldade dos saltos mortais acontece em cada Competição de Ginástica Artística de nível mundial. Existe, ao mesmo tempo, uma esporti-vação dos circos também, que contam com a maioria das tecnologias de se-gurança citadas anteriormente que foram sistematizadas e publicadas pelos estudos realizados na área da Ginástica e da Educação Física.
Entrelaçamentos
As estratégias de segurança que permeiam saltos, giros ou voos existem como confirmação de um risco objetivo, presente na materialidade do corpo do artista que está diante de uma situação onde existe uma probabilidade de um evento negativo ou inesperado ocorrer. Essa situação é um risco, que na verdade todo artista corre ao postar-se no palco diante de um público para
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
55
realizar qualquer ação cênica. O risco objetivo existe, caso contrário não existiria toda a parafernália de segurança que envolve os corpos.
Diante dessa objetividade do risco há a ilusão do risco. E essa ilusão, esse simulacro do risco, que esteve presente desde sempre na história do espetá-culo circense ajuda-nos a entender algumas metáforas da vida cotidiana hoje como o risco-aventura, a nossa relação com a morte e com o futuro ou as práticas corporais de risco como algo desejado, buscado e aclamado.
O corpo neste momento tem o papel central, porque é em sua forma de matéria finita e preciosa (pensando nos investimentos que o ser humano faz e fez no corpo ao longo da história) que ele materializa o risco e poten-cializa a performance: é um corpo capaz de vencer o risco trazendo a pos-sibilidade de uma existência segura, mesmo frente a tantas adversidades.
O circo, como esse espetáculo de risco constrói uma estética do risco como necessário, natural e imprescindível para a manutenção da ilusão e da força apolínea do homem. Cria a tensão entre a tragédia imanente e a beleza da superação no corpo sublime. Esse corpo que inverte os sentidos dados e constrói sentidos outros, tecendo a rede de aspirações e desejos humanos.
Aventura e morte
O termo risco-aventura refere-se, apenas parcialmente, às novas mo-dalidades de aventura e aos novos usos de antigas modalidades de jogos de vertigem. A opção por esse termo, segundo Spink (2001) composto risco-aventura, foi feita para enfatizar um deslocamento importante dos sentidos modernos do risco que recuperam a aventura como dimensão positivada da gestão dos riscos. Outros estudiosos do risco, como Gary Machlis e Eugene Rosa (1990), buscam incorporar essa dimensão em seus esquemas sob a denominação de “risco desejado”. O risco desejado, segundo esses autores, significa atividades ou eventos que têm incerte-zas quanto aos resultados ou consequências, e em que as incertezas são componentes essenciais e propositais do comportamento (MACHLIS; ROSA, 1990).
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
56
O risco dessa maneira não é compreendido apenas numa lógica ou perspectiva racionalizadora de sua análise, entendida na triangulação cálculo, percepção e gerenciamento de riscos. Essa visão abrange uma tentativa maior de entender o risco como carregador de múltiplos sig-nificados na relação do homem com seu corpo, principalmente quando questionado em relação ao futuro que esse corpo pode oferecer. As dis-posições sobre o futuro estão associadas às condições materiais de exis-tência, que permitem ou não defini-lo como “uma estrutura particular de probabilidades objetivas - um futuro objetivo” (BOURDIEU, 1979, p.8, apud SPINK, 2001).
Vivemos num mundo excessivamente construído para ser visto. A questão da imagem como produtora da subjetividade na sociedade de risco e de espetáculo coloca-se como centro para a discussão deste tra-balho. Tudo é oferecido para o olhar. Vivemos num universo da superex-posição das coisas, dos corpos, e até dos desejos. As imagens são, cada dia, banalizadas e descartadas como coisas digitais, rápidas e fugazes. As mudanças nas estruturas dos meios de comunicação e principalmente das mídias geradoras de comunicação, além das novas tecnologias que expõem o corpo ao nosso olhar, inclusive por dentro (principalmente por dentro) mudou o estatuto da imagem para o ser humano. Hoje, somos passageiros, em permanente movimento – cada vez mais rápido. Essa velocidade em que se colocam nossos corpos muda, consequentemente, o olhar. Olhamos tudo de maneira rápida, com menos profundidade, contra os muros e contra as telas. Tudo é imagem. O corpo torna-se então expe-riência primeira da imagem, constituindo sentidos, perceptos e afetos. É no corpo que vemos e é o corpo que vemos.
A metáfora do corpo acrobata
O corpo do acrobata carrega uma imagem que traduz o risco, a luta do homem contra a morte e a possibilidade de transgressões dos limites impostos aos corpos pelas normas sociais, ou simplesmente pelas leis da
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
57
física como a gravidade. O artista resulta numa figura que propõe o de-sequilíbrio. O acrobata se oferece ao público como imagem, e o fascínio que ele causa vem da constante tentativa de superação de si mesmo, ou de performances cada vez mais arriscadas. Em muitos momentos é justamen-te a impossibilidade de superar-se que insere com maior pertinência o ser humano no espaço (SANT´ANNA, 2001, p. 112).
Constantemente desafiado pelo espaço, o corpo, sendo desafiado, deve inventar novas formas de colocação de seu corpo, nova envergadura de articulações, novos agenciamentos musculares: toda atenção das partes de seu corpo se voltam para a execução de um salto preciso, novo e arriscado. Sant´Anna (2001),descreve essa tensão que se passa no corpo do alpinista, a qual eu descrevo no corpo acrobata. Essa tensão pode durar horas, dias de treinamento, meses até, pode ferir, desanimar, frustrar. E na sua tarefa cotidiana de superação do próprio corpo para a produção do espetáculo do risco, o acrobata vê seu corpo como ele é, e como ele pode ser como potência, e é nesse olhar, nesse investimento que surge a execução perfeita de cada movimento mostrado aos expectadores.
A sensação do perigo na execução, mesmo perfeita, não cessa, nem mesmo quando já sabemos que ele não cairá... Ou mesmo que, se cair, ele cairá na rede. Muito pelo contrário, a sensação do risco se dilata, “porque é vivida pela mente não mais separada do corpo” (SANT’ANNA, 2001). Essa experiência da imagem do corpo acrobata cria a ilusão do risco e a ilu-são da experiência da superação da morte, pois no momento do espetáculo, a execução da acrobacia já foi vivida antes pelo artista milhares de vezes, ele tem domínio da técnica para a execução. Temos a sensação do risco, temos a sensação de que, junto com aquele corpo que voa e que ocupa o espaço com movimentos acrobáticos, vivemos a vertigem.
O status do corpo como fonte e morada da subjetividade humana trou-xe para dentro dele a possibilidade de vivência do risco, de desejo do risco e da aventura de risco. Como um dos indicativos da transição de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de risco (SPINK, 2011), o acrobata define, então, pela poesia de seus gestos esse corpo que vive para arriscar-se, para transformar a condição humana e para exercer o
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
58
fascínio do risco sempre depositado nas práticas corporais da humanida-de. Para o espetáculo em si o risco torna-se ao mesmo tempo real e vital, pois está em jogo a integridade física e psicológica do artista (GOU-DARD, 2002). Ele cria a ilusão do risco com seu corpo, e converte em forma, em voo em tempo, a vertigem que o público espera, transforma o risco em espetáculo.
Referências
BAKHTIN, M. A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1999.
BACHELARD, G. O ar e os sonhos. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
GOUDARD, P. Esthétique du risque: du corps sacrifié au corps abandonné. In: WALLON, E. (Org.) Le Cirque ai risque de l´art. Paris: ACTES SUD, 2002.
GROWE, B. Degas. Colônia: TASCHEN, 2001
JANE J.; MINGUET J. M. Sebastià Gasch, el gust pel circ. Tarragona: El Mèdol, 1998.
LE ROUX, H.; GARNIER, J. Acrobats and Mountebanks. Londres: Cha-pmen & Hall, 1890.
LUCENA, R. O esporte e a cidade. Campinas: Autores Associados, 2001.
SANT’ANNA, D. Corpos de Passagem. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.
SOARES, C. Imagens da educação no corpo. Campinas: Autores Asso-ciados, 1998.
SOARES, C. Acrobacias e acrobatas: anotações para um estudo do corpo. In: BRUHS, H. T. (Org.). Representações do lúdico: II ciclo de debates lazer e motricidade. Campinas: Autores Associados, 2001.
SPEAIGHT, G. A history of the circus. Londres: Tantivy Press, 1980.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
59
SPINK, M. J. Trópicos do discurso sobre risco: risco-aventura como me-táfora na modernidade tardia. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.17 (2), p. 1277-1311, 2001.
STAROBINSKI, J. Portrait de l´artiste em saltimbanque, 1970. In: DU-FRÊNE, T. (Org.). The artist and the acrobat. Paris: Paris Musées, 1997.
STODDART, H. Rings of Desire: circus history and representation. Nova Yorque: Manchester University Press, 2000.
Corpos metamórficos para vestirAndrea Portela
Universidade Federal de Mato Grosso
Ludmila BrandãoUniversidade Federal de Mato Grosso
Este texto é um exercício de reflexão acerca dos modos de vestir como meios de falar de si (a seu modo autobiográfico), mas também de agen-ciar/inventar outros “si”, desconhecidos em nós. Os atos que envolvem o vestir compõem, nesta perspectiva, essa dimensão subjetiva onde con-vivem dilemas contemporâneos, como aqueles vividos pelos corpos em suas múltiplas possibilidades de reconfiguração. Para pensar esse corpo passível de estranhas modelagens, submetido às mais inusitadas mágicas de vinculação entre objetos de várias naturezas, será preciso pensá-lo em sua potência de performatividade.
São três as questões sobre as quais propomos refletir. O corpo nu, em pelo; a roupa e demais objetos com os quais nos vestimos; e a performati-vidade que amplia os efeitos subjetivos do ato de vestir. Para então pergun-tarmos: − Afinal, estamos vestidos de quê?
Embora pareça incoerente falar sobre nudez, é preciso partir da com-preensão desta forma de estar como aquela condição que serve para ex-por o corpo, num jogo sobre o que se revela ou se esconde. Se nudez é uma forma de estar vestido, fato que se torna mais evidente quando manipulamos mais intensamente o corpo, e se vestir revela tanto de nós, estamos sistematicamente marcados pela intensidade do encontro entre corpo e roupas (e demais objetos) e dessa zona sensível que aí se forma e que aqui nos interessa.
A forma nua, tão estigmatizada na performance ou nas artes cênicas em geral, é também vista como algo “mal resolvido” na teatralidade social, por revelar intimidades e sensibilidades que disparam inúmeros pudores. Ao desvestirmo-nos dos julgamentos encontramos diversas formas de vestir.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
62
Como tra-vestir, ou a possibilidade de trocar de identidade quando se troca de roupa. Ou in-vestir em si, experimentando-se outro ao penetrar nos es-paços que nos abrigam.
É a roupa, então, que desvela o corpo e revela que artifício e natureza não se separam, pois estamos sempre vestidos de cultura ao modo de uma segunda natureza. O corpo despido, tanto quanto o vestido, enfrenta olha-res e se faz múltiplo.
O corpo ganha formas
No corpo existimos e resistimos, fabricamos o “si mesmo” ou o “nós mesmos”, sempre reformulando e experimentando maneiras de nos com-por e recompor, de fruir essa composição, ou mesmo de nos consumir, de nos expor (ou à composição), de nos transformar, de fazermo-nos Outro, de nos re-inventar. Maturana e Varela (1998, p.69) chamam de máquinas autopoiéticas as máquinas dos seres viventes que têm como peculiaridade a capacidade de retroalimentação, um tipo de circuito onde os afetos de sa-ída afetam sua entrada, ou seja, que funcionam operando sistematicamente mudanças em si.
A ideia de todos os viventes como construtores de si se intensifica dian-te do potencial poético do vestuário. Vestimo-nos com inúmeros recursos tanto materiais quanto imateriais que, criados e disseminados por modas, aceleram nosso potencial mutante, dobrando e desdobrando nossos corpos, provocando movimentos inesperados.
Os corpos são territórios de transformação e sofrem interferências con-forme as técnicas e os desejos de cada época e lugar, sendo reinventados e redesenhados, de modo transitório através do vestuário, e de procedi-mentos mais duradouros (ou definitivos) como as cirurgias que estendem os limites das alterações. “A anatomia não é mais um destino, mas uma matéria-prima a modelar” (LE BRETON, 2003, p.28).
Sendo produto cultural e histórico, todo corpo carrega em si signos que o representam. A roupa, longe de ser exclusivamente utilitária é portadora de sig-
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
63
nos. É descrita como segunda pele, uma vez que é artifício que molda o corpo espelhando-se, na maioria das vezes, nas imagens corporais ideais da socieda-de. Em nosso caso, marcas da sociedade de consumo sinalizam nossos corpos.
O que não faltam são recursos para que possamos assumir novas di-mensões e produzir novos gestos. Alterações perceptivas, provocadas por roupas ou objetos que funcionam como extensões humanas, podem ser flagradas no uso de lentes de contato coloridas, perucas, unhas e cílios pos-tiços, saltos altos, cintas, e assim por diante. Calcinhas, sutiãs e até cuecas são encontrados com enchimentos, frontais ou traseiros, em gel ou espuma, que produzem efeitos de silicone. A sensação de seios maiores e empina-dos está à venda, um bumbum irreal mantém em maior proporção minha satisfação pessoal e ninguém (ou nenhum perfil identitário) é ignorado na vertigem dos acontecimentos comerciais.
Para ajustar estes corpos aos ideais mercadológicos, a moda promove uma enorme ginástica social, com movimentos de captura e escape. No entanto, performances sociais idealizadas sobrevivem ao lado de perfor-matividades transgressoras, ou seja, além de consumir propostas rígidas de corpos para cumprir determinados papéis sociais, também construímos corpos flexíveis, que assumem posturas de vida mais autônomas.
Mais uma vez é a moda que, ao impor modos, democratiza as maneiras de uso pela diversidade e multiplicidade de ofertas que vão dos aparatos a formas de conduta social, que de tão variadas ou sofisticadas, forçam adaptações e reinvenções de si pela impossibilidade da reprodução fiel por parte do consumidor. Seguir os modismos parece mais desconstruir as fór-mulas a partir da própria oferta de objetos que serão assimilados para, em seguida, desprendidos do sentido mercadológico, assumirem uma potência inédita nas mãos do consumidor.
Roupa: atributo do corpo
Le Breton (2003) diz que é no corpo que o homem projeta seus saberes, num arranjo a que compara a uma fantasia de Arlequim, composta de cla-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
64
ros e escuros, zonas de sombras, confusões e abstrações. Cada um poderia então formular sua visão particular de corpo, desconsiderando as contradi-ções e a heterogeneidade de fontes de conhecimento usadas, resultando em uma montagem produzida a partir do que está disponível no razoavelmente variado repertório.
A roupa é usada com artifícios e truques de efeitos estéticos, numa plástica ordinária com o auxílio de peças que simulam partes do cor-po, produzindo seres montados, prontos para romper limites. Ao nos vestirmos criamos corpos instantâneos que, precavendo-se ou não de exageros, fazem emergir novos formatos entre irônicos e paradoxais. Essas montagens podem expressar conformismo (quanto aos modelos copiados) ou ruptura.
As roupas, como nossas extensões, fabricam então os corpos metamór-ficos com os quais participamos do jogo mimético da moda, cujo potencial vai além das aparências, uma vez que a nós se reúnem em uma espécie de acoplamento, alterando nossos sentidos, alterando nosso porte, alterando os modos de atuar no mundo.
Assim como a tatuagem se impregna na pele humana, a moda imprime na roupa os resultados de seus fluxos, transferências e traços estéticos, e até étnicos, com que se nutre e se constitui. Ninguém permanece o mesmo na troca de informações, nos encontros e desencontros estabelecidos mundo afora. Pelos desdobramentos das transformações culturais, percebemos os objetos que nos circundam como mediadores das relações dos sujeitos en-tre si e entre os sujeitos e seus objetos.
As transformações dos objetos e de seus usos são sinais das transformações sociais e tecnológicas. Diante de um mundo de fronteiras que se rompem e se estreitam, as mudanças ficam ainda mais expostas nos objetos. A moda ocupa o espaço global, absorve todas as referências internacionais, liquidifica as mis-turas e as devolve ao mundo, fornecendo novas oportunidades aos objetos em suas funções e atribuições simbólicas sistematicamente atualizadas.
Para Baudrillard (1969), com a mobilidade e a multifuncionalidade, os objetos tornam-se liberados de suas funções tradicionais e ao sistema de produção se associa o “combinatório universal da moda”. E porque as
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
65
condições atuais de produção e consumo não se dissociam da cultura, uma roupa jamais será apenas uma roupa, mas uma combinação de desejos, necessidades e troca de necessidades.
O homem contemporâneo é, mais do que nunca, massa de modelar, que se produz e se expressa conforme o lugar/ambiente que frequenta ou a que pertence, sempre transitoriamente. E a roupa como um dos elementos que compõem a modelagem permite ao corpo que se difira de si, que se apresente outro dentro da variância dos contextos nos quais necessita atuar.
Para além da linguagem
Desenhamos o modo de nos apresentar através das seleções e das mis-turas que projetamos no corpo, como se falássemos de nós por uma his-tória truncada e fragmentada. Essa literatura viva que é vestir costuma ser abordada como linguagem, já que a roupa fornece informações sobre quem a usa, mas e quando se pretende sabotar a linguagem, produzir a contrain-formação que aponta Deleuze?
Se cada forma de vestir for senha para um determinado comportamento ou para assumir um papel social, ou contrariamente, cada função assumindo uma roupa própria, como isso se arranjaria dentro do quadro pós-moderno descrito por Stuart Hall (2004), onde a “identidade é uma celebração móvel”? Ou quando temos de assumir diferentes papéis ao longo do dia? Ou se dese-jamos escapar a algum papel social, e nos produzir como linhas fugidias? Por que não fazer do ato banal de vestir uma recusa aos assujeitamentos através de desprendimentos criativos que provocam outras composições possíveis?
Ao contrário de vestir uma roupa que expresse um modelo fixo de ser, parece que precisamos de roupas que, avessas aos modelos, e ao modo de um ser de sensações, como formulam Deleuze e Guattari (1992), fabulem outras formas de estar no mundo. Vestir aqui é ato de potência fabricado em pequenos gestos, uma experiência cuja linguagem é menos uma leitura de códigos e de estereotipias e mais uma fala desse si em processo, como autobiografias provisórias.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
66
Referências
BAUDRILLARD, J. El sistema de los objetos. Tradução por Francisco González Aramburu. Cidade do México: Siglo XXI, 1969.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é a Filosofia? Tradução por Bento Prado Jr. e Alberto Alonzo Muñoz. Rio de Janeiro: Ed.34, 1992.
HALL, S. A identidade Cultural da pós-modernidade. Tradução por Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Couto. 9. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
LE BRETON, D. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade. Tradução por Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 2003.
MATURANA, H.; VARELA, F. De máquinas y seres vivos – autopoié-ses: la organización de lo vivo. 5. ed. Santiago do Chile: Editorial Uni-versitária, 1998.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
69
Relações de gênero na UTFPR: participação das mulheres na produção científica e tecnológica
Joyce Luciana Correia MuziUniversidade Federal Tecnológica do Paraná
Nancy Stancki da LuzUniversidade Federal Tecnológica do Paraná
Historicamente os campos da Ciência e da Tecnologia (C&T) foram percebidos como espaços de atuação masculina, sendo-lhes atribuídas ca-racterísticas como neutralidade, objetividade, imparcialidade, universali-dade, também comumente atribuídas aos homens. Nesse sentido, algumas autoras veem a Tecnologia como “una actividad fuertemente masculiniza-da donde campea – al igual que en las ‘ciencias duras’ – la ideología de la ‘neutralidad’ y el conocimiento socialmente aséptico. Las investigaciones señalan una ‘cultura técnica masculina’ como un importante componente identitario, y simétricamente, la incompetencia técnica, la inseguridad y el miedo a la tecnología como parte integrante del estereotipo de género femenino” (GRAÑA, 2004, p. 20).
Vale lembrar que, devido a esta percepção, a aproximação feminina a estes campos nem sempre foi estimulada. As mulheres começam a apare-cer como protagonistas do avanço científico e tecnológico a partir de ques-tionamentos acerca do determinismo biológico que as mantinha majorita-riamente em atividades consideradas como mais adequadas ao seu sexo.
François Graña (2004) relata a existência de uma associação do ho-mem com o domínio da ciência, que por sua vez domina a natureza, e esta, considerada passiva, é associada ao feminino. Assertivas assim serviram para reiterar que os modelos ou os referentes históricos disponíveis na so-ciedade são masculinos, e estes também orientam a atividade científica, fazendo parecer que os homens estiveram e sempre estarão em todas as ordens do saber (GRAÑA, 2004). Neste contexto, a Academia foi pen-sada como espaço masculino, o que contribuiu para a baixa participação
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
70
feminina na construção de conhecimentos produzidos nesse âmbito e para o afastamento das mulheres de atividades profissionais que demandassem esses conhecimentos.
E, se hoje, ainda se verificam disparidades entre homens e mulheres em relação às posições ocupadas na sociedade em termos de produção do conhecimento científico e tecnológico, isso se dá, em grande medida, de-vido à entrada tardia das mulheres nas instituições de ensino e ao tardio reconhecimento da sua participação na produção de C&T. Graña (2004) destaca que nas universidades e centros de pesquisa a desvantagem das mulheres é algo notório. A autora acredita que houve um aumento em sua participação, no que concerne à atuação ativa e inclusive na gestão, entre-tanto ainda se vê uma discriminação que encontra a cada dia formas mais sofisticada de manifestação.
Sabemos que, ainda que explicitamente não haja nada que impeça o acesso das mulheres à Ciência e à Tecnologia, permanece um discurso que, embora aparentemente neutro, se insere na lógica da desigualdade de gênero. Para Graña (2004) o discurso androcêntrico ainda perceptível na academia prejudica as mulheres e o próprio progresso de C&T, pois as im-pede de participar e de agregar seus valores imprescindíveis para a criação científica, pois formam parte do patrimônio cultural da humanidade.
Isto posto, este artigo discute como as mulheres estão fazendo parte da (re)construção dos campos de saberes científicos e tecnológicos, no con-texto atual, no qual o país assume o desafio da efetivação da igualdade entre homens e mulheres. A concretização desse ideal no campo científico e tecnológico certamente passa pelo questionamento das práticas perpetu-adas de desigualdade nestes campos.
Assumindo que, para a compreensão dos espaços ocupados pelas mu-lheres nos campos da Ciência e da Tecnologia, é imprescindível a recupe-ração da história institucional, verificando-se o contexto no qual mulheres romperam obstáculos e contribuíram na luta por maior inserção das mu-lheres como agentes no cenário científico e tecnológico, este texto apresen-ta brevemente a história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), destacando-se dados coletados no período de janeiro de 2010
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
71
a janeiro de 2011 para compreender a atual configuração da participação das mulheres na pesquisa científico-tecnológica na instituição. Tais dados fazem parte dos resultados de uma pesquisa que se propôs a investigar a participação feminina na consolidação da Universidade Tecnológica Fede-ral do Paraná (UTFPR), considerando aspectos históricos da instituição, analisados a partir da perspectiva de gênero.
A construção de uma universidade
A produção e divulgação de saberes é uma atividade inerente à Uni-versidade. Essa instituição deve ter uma atuação ampla, atendendo as mais diversas áreas – humanas, exatas, sociais, sociais aplicadas, tecno-lógica, saúde, dentre outras – tratando dos inúmeros problemas sociais e articulando-se com os diversos setores da sociedade. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná foi pensada inicialmente como espaço especializado, privilegiando a formação e saberes da área tecnológica. O conhecimento, no entanto, não é fragmentado ou isolado da socie-dade; oficialmente a transdisciplinaridade não pode ser refutada, tam-pouco a universalidade dos saberes negada em uma instituição univer-sitária. A instituição, portanto, desenvolveu-se e destacou-se em outras áreas, salientando-se as humanas. Diversos estudos visando compreen-der essa estrutura universitária a partir de seus múltiplos vieses foram desenvolvidos, dentre os quais, pesquisas que buscam compreender as relações de gênero na consolidação dessa instituição, questão discutida neste texto e na qual destacamos a divisão sexual do trabalho nas ativi-dades de ensino e pesquisa.
Para desenvolver essa discussão, consideramos importante, ainda que brevemente, resgatar os caminhos percorridos por essa instituição cente-nária, destacando os passos trilhados pelas mulheres para se inserir nesse ambiente acadêmico.
Quando de sua fundação, em 1909, a então Escola de Aprendizes Artí-fices oferecia ensino profissional/industrial e, posteriormente, tecnológico/
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
72
científico a garotos de camadas “menos favorecidas” da sociedade. Ela fazia parte de um grupo de 19 escolas criadas por Nilo Peçanha com o objetivo original de destinação “social e humanitária”, considerando que ensinar algum ofício para um menino, àquela época, contribuiria para a sobrevivência e o sustento de sua família, além de poder servir ao projeto de industrialização do país. Tais instituições configuravam forma de con-cretização da dualidade estrutural da educação brasileira, criando espaços de formação para os trabalhadores (os que executam o trabalho) – consi-derados naquele momento como masculinos – separados dos espaços de formação das elites (os que concebem e controlam o trabalho).
Ensinava-se ofício nas áreas de alfaiataria, sapataria, marcenaria e ser-ralheria para os meninos, o que exigia um corpo docente especializado, o que primeiramente nos leva à ideia de que esse corpo era composto basi-camente por homens. No entanto não era isso que ocorria. Se aos homens eram destinadas as disciplinas “técnicas”, elas também estavam na institui-ção, assumindo disciplinas que tinham o objetivo de ensinar a contar, ler e desenhar. Naquele espaço, configurava-se claramente uma divisão sexual do trabalho e sua inerente hierarquização das atividades, no qual se pode inferir que as atividades masculinas seriam mais valorizadas por estarem mais “próximas” dos objetivos da instituição.
Por visar primordialmente à formação profissional, em 1937, a Es-cola foi elevada ao estatuto de Liceu Industrial do Paraná, tendo como grande avanço a implementação do ensino de 1º grau, atual ensino fundamental. Nessa fase as mulheres também atuavam nos níveis ele-mentares de ensino, entretanto diferentemente do período anterior, pois muitas delas já teriam passado por uma formação de nível médio: eram as chamadas normalistas.
O ano de 1942 foi determinante para mais uma transformação de nível federal: a criação da rede federal de instituições de ensino industrial e a Lei Orgânica do Ensino Industrial criaram as Escolas Industriais, por isso o Liceu passou a ser a Escola Técnica de Curitiba. Com a mudança, o en-sino passou a ser ministrado em dois ciclos, demandando contratação de novos professores para atuar no primeiro ciclo de ensino industrial básico,
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
73
mestria e artesanal, e no segundo, de ensino técnico e pedagógico. Não é preciso citar que as mulheres mantiveram-se atuantes no primeiro ciclo.
No ano seguinte é dado início aos primeiros cursos técnicos: Constru-ção de Máquinas e Motores, Edificações, Desenho Técnico e Decoração de Interiores, que proporcionará o ingresso de alunas na instituição, particu-larmente nos cursos de Edificações e de Decoração de Interiores e especial-mente neste último. O curso de Decoração, socialmente percebido como feminino, teve seu corpo discente formado majoritariamente por mulheres. Além disso, seu corpo docente também foi composto, em grande medida, por mulheres. Nessa fase da escola, havia professoras de Desenho, de Ar-tes Culinárias, de Costura, de Canto, de Educação Doméstica, de Rendas e Bordados, além de Português, de Ciências e as normalistas que ainda atuavam na instituição.
Em 1959 a instituição foi transformada em Escola Técnica Federal do Paraná, devido à unificação do ensino técnico em âmbito nacional. E, em 1969, o Governo Federal autorizou as Escolas Técnicas do Paraná e de Mi-nas Gerais a ministrarem Cursos Profissionais de Nível Superior de Curta Duração, como os de Construção Civil e Elétrica, sendo então criados os Centros de Engenharia de Operação. E, em 1978, houve a sua transforma-ção em Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), com objetivo de ministrar aulas nos níveis técnico, tecnológico, formação docente e aperfeiçoamento, e realizar pesquisas na área técnico-industrial. Oficializou-se, a partir de então, a produção de pesquisa científica, possi-bilitando que, a partir da década de 1980, fossem criados Programas de Pós-graduação.
A pesquisa acabou se consolidando mais no campo da pesquisa aplicada, desenvolvida especialmente por três setores: o Núcleo de Pesquisas Tecno-lógicas, o Núcleo de Engenharia Hospitalar e o Curso de Pós-graduação em Informática Industrial. Vale ressaltar que o desenvolvimento da considerada pesquisa básica não configurava entre os objetivos prioritários da instituição.
Destaca-se, nesse período, quando a instituição já tinha quase oitenta anos, a promoção (em 12 de setembro de 1986) de um evento denominado “Encontro da Mulher”, com o objetivo de “identificar e discutir a situação
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
74
da mulher ‘cefetiana’, de forma a buscar sua integração”. O resultado, se-gundo os dirigentes, foi eficiente “no sentido de proporcionar segurança no ambiente de trabalho feminino e em todo seu meio social”. Para nós isso representa uma forma de visibilizar a distribuição de gênero em uma instituição que contava com uma média de 30% de quadro funcional fe-minino, pois, nesse momento, além das professoras encontramos mulheres nas funções de apoio, administrativas e de direção.
Na década de 1990, período em que se iniciava o processo de discus-são da transformação da instituição em universidade, em relação ao corpo docente da instituição, temos o que Leszczynski caracterizou como “uma escola ‘masculina’ em suas áreas de excelência” (1996, p. 102). Para Silva (2000), apesar de um aumento considerável no número de professoras, a concentração estava em áreas de educação geral e em algumas áreas espe-cíficas de educação técnica, como é o caso do Departamento de Desenho Industrial (Dadin), originado do Departamento de Decoração, que desde sua origem tinha um número maior de mulheres.
A transformação em Universidade Tecnológica Federal do Paraná ocor-reu em 2005, fato que, para Ciavatta (2010), demonstra um caminho para receber o caráter de instituição universitária em termos administrativos e em relação aos objetivos educacionais por eles expressos e assumidos. Fru-to de uma conjuntura política específica, essa transformação, no entanto, só foi possível graças à presença de um quadro funcional – formado por homens e mulheres – que estava apto para enfrentar o desafio de transfor-mar a instituição em uma universidade, particularmente com condições de consolidar a pesquisa científico-tecnológica. Destaca-se que, a partir de então, a instituição ampliou a oferta de curso, dentre os quais licenciatu-ra/bacharelado em Matemática, Física, Química, Educação Física, Letras, Design, o que alterou a configuração de gênero do seu corpo docente e discente no âmbito geral.
No que se refere à consolidação da Pós-graduação – espaço fortemen-te associado à produção de pesquisas científicas – além dos Programas de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Computação Apli-cada, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e In-
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
75
formática Industrial, Engenharia Mecânica e de Materiais, Matemática, Planejamento e Governança Pública, Formação Científica, Educacional e Tecnológica, o Programa de Pós-graduação em Tecnologia do campus Curitiba, constituído há mais de dez anos, mantém hoje nove grupos de pesquisas e dentre eles, destaca-se o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Tecnologia (GeTec), que desde o ano 2000 concentra esforços em produzir pesquisas que possam contribuir para as questões de gênero e as inter-relações com a Ciência e a Tecnologia, em diferentes perspectivas. O GeTec sempre esteve voltado a promover espaços de dis-cussões na instituição, efetivando ações e reflexões iniciadas, na década de 1980, com os Encontros da Mulher e o workshop “O papel da mulher no ensino tecnológico: o estado da arte no Brasil”.
Vale destacar que, em relação ao número de docentes, em 2010, os onze campi da UTFPR somavam um total de 1.393 professores(as), sendo 602 mestres e 340 doutores(as). Além destes, eram 647 técnicos-administrati-vos e mais de 16.000 alunos(as). E que, entre os anos de 2005 a 2010, o número de mulheres atuando como docentes e em cargos administrativos na instituição passou de 37% para 42%.
Os números crescentes em favor das mulheres nas últimas décadas referem-se a uma maior participação das mulheres nas atividades de en-genharia, mas sobretudo à ampliação de cursos em outras áreas, como as de licenciatura. A seguir analisamos a distribuição de gênero nos diversos departamentos, evidenciando que as mulheres ainda são minoria nas áreas de engenharia.
A participação atual das mulheres na UTFPR
No campus Curitiba, em janeiro de 2010, 28% dos 678 professores eram mulheres: um total de 188. Percebe-se assim que o corpo docente é majoritaria-mente masculino (72%). A partir da Tabela1, pode-se perceber que a maioria das mulheres presentes na instituição como docente, atua nas Ciências Exatas (65%), reflexo do número maior de disciplinas nessa área. Por outro lado, destaca-se que
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
76
o percentual de mulheres que atuam nas Ciências Humanas (28%) é muito su-perior ao de homens (9%), demonstrando a permanência de uma divisão sexual do trabalho relacionada à histórica tradição de mulheres estarem em carreiras da área de humanas e homens às atividades da área de exatas.
Esta distribuição nos departamentos e áreas da instituição tem chama-do atenção há alguns anos, destacando-se a maior presença feminina no Departamento de Línguas Estrangeiras e Desenho Industrial e a maior pre-sença masculina nos departamentos de Mecânica e Eletrônica (Tabela 2).
Há uma visível relação entre Ciências Exatas/Engenharias com atu-ação preponderantemente masculina e Ciências Humanas com atuação preponderantemente feminina – Mecânica e Línguas Estrangeiras, por exemplo. Em alguns cursos, como Química e Biologia, verifica-se tanto no ano de 2007 quanto em 2011 que o número de mulheres está próximo ao de homens. Por outro lado, em áreas como as Engenharias a predomi-nância numérica masculina é indiscutível, e isso se refletirá especialmen-
FONTE: www.utfpr.edu.br
TABELA 1 – Distribuição de gênero por área do conhecimento no campus Curitiba em 2010 e 2011 – números absolutos e relativos (%)
2010 2011
Área do conhecimento Homens Mulheres Homens Mulheres
Sociais/ Humanas 44 53 52 62(9%) (28%) (10%) (31%)
Saúde/ Biológicas 5 13 44 29(1%) (7%) (9%) (14%)
Ciências Exatas 441 122 399 111(90%) (65%) (81%) (55%)
TOTAIS 490 188 495 202(100%) (100%) (100%) (100%)
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
77
te na formação de grupos de pesquisas e suas respectivas lideranças, que trataremos adiante.
Outro fator a ser analisado é em relação à representatividade dos depar-tamentos na UTFPR; os departamentos de Engenharia Eletrônica, Mecâ-nica e Eletrotécnica concentram o maior percentual de docentes em toda a instituição, especificamente as três áreas onde encontramos menor número de mulheres atuando como docentes. Isso acaba mantendo o círculo vi-cioso: pelo fato de as mulheres serem minoria em áreas como Mecânica,
FONTE: Elaboração a partir de dados disponíveis em www.utfpr.edu.br e Carvalho, 2008
TABELA 2 – Distribuição por sexo nos Departamentos da UTFPR em 2007 e 2011
2007 2011
Departamento Homens Mulheres Homens Mulheres
Mecânica 96% 4% 95% 5%
Eletrônica 94% 6% 94% 6%
Eletrotécnica 85% 15% 86% 14%
Construção Civil 81% 19% 81% 19%
Informática 76% 24% 71% 29%
Matemática 75% 25% 68% 32%
Estudos Sociais 75% 25% 71% 29%
Física 72% 28% 70% 30%
Educação Física 65% 35% 72% 28%
Gestão e Economia 63% 37% 62% 38%
Química e Biologia 58% 42% 54% 46%
Desenho Industrial 33% 67% 31% 69%
Formação de Professores * * 40% 60%
Comunicação e Expressão 32% 68% 42% 58%
Línguas Estrangeiras 14% 86% 17% 83%
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
78
Engenharias em geral, e sendo estas as áreas em que se concentra a maioria dos cursos da instituição, elas permanecerão em menor número até que se altere a composição de gênero dessas áreas.
Como anteriormente visualizado, há uma escala de participação de mais homens nas Ciências Exatas e Engenharias (Mecânica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Eletrotécnica, Construção Civil, Informática e Ma-temática), passando pelos Estudos Sociais, Ciências da Saúde/Biológicas, e algumas licenciaturas (Física, Química e Biologia), para por último e com menor índice percentual aparecerem às áreas de Desenho Industrial, Comunicação e Expressão e Línguas Estrangeiras.
Esta ordem será alterada nos dados mais recentes. A partir dos da-dos de janeiro de 2011, vemos uma pequena alteração na escala de participação de homens e mulheres nas diversas áreas do conheci-mento. Destaque inclusive para o significativo aumento no percentual de professores nas duas áreas mais ocupadas por mulheres – Comu-nicação e Expressão (10 pontos percentuais) e Línguas Estrangeiras (3 pontos percentuais), conforme podemos visualizar na Tabela 2. Isso demonstra que aos poucos as configurações têm-se alterado, com uma maior presença masculina em espaços antes ocupados majorita-riamente por mulheres e também por uma ampliação da participação feminina em departamentos anteriormente ocupados, em sua maioria, por homens.
Em relação à pesquisa científico-tecnológica, na Tabela 3, visualizamos o número de grupos de pesquisa na UTFPR por campo do conhecimento:
Dos 75 grupos registrados segundo exigência do CNPq, temos que:
l 40% dos grupos (28) são liderados por mulheres – em liderança individual ou compartilhada. Este número é inferior aos do CNPq/MCT (2008)4 que apontam uma liderança feminina nos grupos de pesquisa de 45%;
4 Disponível em: http://dgp.cnpq.br/censos/index.htm. Acesso em: 21 fev. 2010.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
79
l Desses 28 grupos liderados por mulheres, 54% são liderados exclusivamente por mulheres (15) e em 46% a liderança é compartilhada com um homem (13);
l Os grupos em que há somente mulheres liderando estão mais concentrados nas Ciências Sociais Aplicadas (33%) e menos concentrados nas Ciências Biológicas e da Saúde (7%).
Quando consideramos as subáreas lideradas exclusivamente por mulheres:
l Ciências Sociais Aplicadas (33%): Desenho Industrial (5 grupos);
l Ciências Exatas e da Terra (20%): Ciência da Computação (1 grupo); Matemática (1 grupo) e Química (1 grupo);
l Ciências Humanas (20%): Antropologia (1 grupo) e Educação (2 grupos);
FONTE: www.utfpr.edu.br. Elaboração própria
TABELA 3 – Grupos de pesquisas na UTFPR em 2010
Ciências Biológicas 2 2
Ciências Exatas e da Terra 11 15
Ciências Humanas 8 11
Ciências da Saúde 5 7
Ciências Sociais Aplicadas 11 15
Engenharias 35 47
Linguística, Letras e Artes 3 3
TOTAL 75 100
Área do conhecimento Valor absoluto %
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
80
l Engenharias (13%): Engenharia Elétrica (1 grupo) e Engenharia de Produção (1 grupo).
l Ciências da Saúde (7%): Saúde Coletiva (1 grupo);
l Ciências Biológicas (7%): Microbiologia (1 grupo).
Destaca-se na subárea de Ciências Sociais Aplicadas, a maior concentra-ção de grupos liderados exclusivamente por mulheres. Chamam atenção as subáreas de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica – tradicionalmente associadas ao masculino, que desde 2009 têm mulheres na liderança de grupos de pesquisa, o que representa possível avanço na composição de gênero dessas áreas, considerando que a presença feminina nelas é bastante reduzida.
Em relação aos 13 grupos de pesquisa em que as mulheres comparti-lham a liderança com homens, representando 17% da totalidade de grupos, temos uma maior concentração nas Engenharias (44%) e uma menor con-centração nas Ciências da Saúde (14%). Quando a liderança é compartilha-da com um homem, as mulheres aumentam a participação nas Engenharias – de 13% com a liderança exclusivamente feminina passa para 44% com li-derança compartilhada. Isso nos leva a pontuar questões a respeito do com-partilhamento, de como se configuram essas redes que aproximam pesqui-sadores e como isto pode contribuir para uma maior participação feminina em áreas anteriormente ocupadas exclusivamente por homens. Descobrir o que motiva a divisão da liderança em grupos tão representativos dentro da instituição seria um campo de investigação bastante profícuo.
Os homens detêm a maioria das lideranças nos grupos de pesquisas na ins-tituição, representando quase 63% do total, ou seja, 47 grupos têm liderança exclusivamente masculina. A distribuição por área é a seguinte: Engenharias (62%), Ciências Exatas e da Terra (18%), Ciências Humanas (11%), Ciências Sociais Aplicadas (7%) e Ciências Biológicas e Ciências da Saúde (4%).
A maior participação masculina em liderança de grupos de pesquisa pode ser reflexo da baixa participação feminina em determinadas áreas do conhe-cimento, resultado de processos históricos da segregação das mulheres.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
81
Devemos ressaltar, todavia, que a presença feminina na Academia é fruto da luta feminina para que mulheres tivessem acesso às escolas e pudessem atuar nos diversos campos profissionais. Elas estão em menor número, mas estão presentes e assumindo lideranças de grupos, fazendo pesquisas e contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Sua presença contribui para desmistificar e derrubar a ideia de que Ciência e Tecnologia são atividades mais adequadas aos homens do que às mulheres e possibilitando derrubar o sexismo presente na socie-dade e, consequentemente, na universidade. A participação feminina na produção científica e tecnológica pode contribuir para que se altere a di-visão sexual do trabalho, podendo ocasionar mudanças epistemológicas e metodológicas para o conhecimento ou ainda alterar as formas de organi-zação do trabalho. Futuras pesquisas poderão verificar se estas mudanças se efetivaram, o que é certa é a alteração da composição de gênero das atividades científicas e tecnológicas, mostrando que homens e mulheres podem ser sujeitos da produção nestes campos, o que contribui para a equidade de gênero nessas áreas.
Para avançar nas mudanças e na concretização da igualdade entre ho-mens e mulheres, parece-nos atual a proposta de Silva (1998) que defende que o fim da subordinação feminina requer tanto o reconhecimento de que existe subordinação de gênero quanto o desenvolvimento de uma visão de mundo no qual isso seja possível.
Considerações finais
Todas essas transformações que aconteceram nas últimas décadas, tanto na UTFPR como em outros setores sociais, representam avanços na conso-lidação de uma sociedade com justiça social, incluídas relações igualitárias de gênero. As inúmeras barreiras superadas pelas mulheres por séculos de luta – nas esferas pública e privada – possibilitam que hoje possamos admitir que se caminhou bastante para a concretização da igualdade entre
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
82
homens e mulheres, mas existem muitos desafios a serem enfrentados e muitos tetos de vidro a serem quebrados.
A baixa participação feminina na Ciência e Tecnologia ainda é uma realidade e isto não é prejudicial só para as mulheres, mas sobretudo para essas áreas de conhecimento e principalmente para a sociedade que não pode contar com a contribuição de metade da população na busca do de-senvolvimento científico, tecnológico, econômico e principalmente social do país. Conforme nos chamam atenção Tabak (2002) e Graña (2004), desprezar metade da população, é desprezar metade da capacidade de co-nhecimento, tornando-se um prejuízo irreversível, justamente porque “o desenvolvimento científico e tecnológico dos países depende da utilização de todo o potencial intelectual de sua população, mais especificamente de todo o seu potencial científico e tecnológico” (TABAK, 2002, p. 28).
Por outro lado, devemos considerar conforme alertam várias autoras, que assumir que a maioria de mulheres está concentrada em áreas despres-tigiadas socialmente é uma reprodução da segregação (SCHIEBINGER, 2001; VELHO, LEÓN, 1998; HIRATA, 2002) – é preciso que se altere o entendimento a este respeito, o que consequentemente alteraria as configu-rações internas nos campos da C&T para que elas pudessem seguir atuando em áreas já conquistadas, que passariam a ser mais valorizadas, e que elas pudessem adentrar em campos pouco afeitos à sua atuação.
Ainda assim, ser uma “minoria” nestas áreas de maior prestígio social nunca foi tão importante, pois só isso garante os espaços conquistados e caminhos abertos a tantas outras. Mas ao percebermos que esta minoria não é tão pequena assim, formamos o que Schiebinger (2001) chamou “massa crítica”, não conformada e disposta a fazer parte dos movimentos de transformações, bastando para isso ter a consciência de toda a histórica opressão nos campos da educação, do trabalho, da Ciência e da Tecnologia.
Pode-se concluir que fica cada vez mais difícil ignorar a participação das mulheres na construção da Ciência e Tecnologia no Brasil e mais di-fícil ainda acreditar que elas não tenham contribuição efetiva na produção desses conhecimentos.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
83
Referências
CARVALHO, M. É possível transformar a minoria em eqüidade? In: RIS-TOFF, D. et al. (Orgs.). Gênero e Indicadores da Educação Superior Bra-sileira. Brasília: Inep, 2008.
CIAVATTA, M. Universidades tecnológicas: horizonte dos Institutos Fe-derais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETS)? In: MOLL, J. et al. Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: Desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, p. 159-174, 2010.
GRAÑA, F. Ciencia y tecnología desde una perspectiva de género. Monte-vidéu: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2004.
HIRATA, H. Nova divisão sexual do trabalho? Um olhar voltado para a empresa e a sociedade. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002.
LESZCZYNSKI, S. A. Acesso de moças e mulheres a educação técnica e vocacional: um caso brasileiro. Tecnologia e Humanismo. Edição especial: O papel da mulher no ensino tecnológico: o estado da arte no Brasil. Curi-tiba: Editora CEFET-PR, n. 17, 1996.
SCHIEBINGER, L. O feminismo mudou a ciência? Bauru: Edusc, 2001.
SILVA, E. Des-construindo gênero em Ciência e tecnologia. Cader-nos Pagu. Campinas: Núcleo de Estudos de Gênero-Unicamp, n. 10, p. 7-20, 1998.
SILVA, N. S. Gênero e trabalho feminino: estudo sobre as representações de alunos(as) dos cursos técnicos de Desenho Industrial e Mecânica do CEFET-PR. 2000.218f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, CEFET/PR, Curitiba, 2000.
TABAK, F. O laboratório de Pandora: estudos sobre a Ciência no femini-no. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.
VELHO, L.; LEÓN, E. A construção social da produção científica por mulheres. Cadernos Pagu. Campinas: Núcleo de Estudos de Gênero-Uni-camp, n. 10, p. 309-344, 1998.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
85
Trabalho imaterial e estratégias de comunicação integrada em ambiente de
inovação tecnológicaLucelma Pereira Cordeiro
Universidade Federal de Mato Grosso
Yuji GushikenUniversidade Federal de Mato Grosso
Este capítulo faz uma análise da Feira Latino-Americana de Cosméticos e Beleza, realizada em 2009, na cidade de São Paulo, Brasil. Parte-se do conceito de “trabalho imaterial” (LAZZARATO, NEGRI, 2001; HARDT, NEGRI, 2002), desenvolvendo a hipótese de que os processos de inovação tecnológica, hoje constantes nesse dinâmico setor da economia, produzem, como consequência, demandas por novos modos de gestão da informação e da comunicação que consistem em transformar o genérico público-alvo em renovados públicos de interesse.
Segundo Cristina Giácomo, público de interesse é “a parcela da po-pulação com necessidade específica e respectiva motivação, necessárias para o engajamento a uma idéia e/ou ação proposta por um evento” (GI-ÁCOMO, 1993, p. 80). Na racionalização dos processos administrativos, público de interesse é o segmento do público-alvo que mais precisamente tem a potência de se tornar público consumidor dos produtos ou serviços oferecidos pela organização. Esta potencialidade leva as organizações a desenvolver práticas de comunicação dirigida com o objetivo de tornar mais eficientes as relações mercadológicas e institucionais com o público, agora considerado público de interesse, na medida em que suas demandas específicas emergem e tornam-se mais evidentes nas relações com deter-minada organização.
Por inovação tecnológica entende-se o atual investimento que a indús-tria passa a fazer com mais ênfase na contratação de pesquisadores oriun-dos dos sistemas de pós-graduação, instituindo uma cultura científica no
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
86
ambiente empresarial. Aplica-se ciência para produzir tecnologia, ou seja, novos produtos e serviços que atendem a demandas cada vez mais singula-res, conforme padrões socioeconômicos e culturais de diferentes públicos se afirmam ou se reinventam na sociedade de consumo.
O setor de cosméticos caracteriza-se atualmente pelas constantes inova-ções tecnológicas nos produtos, induzindo a processos de inovação simul-tânea nos serviços. Novos produtos e novos serviços equivalem a novos modos de consumir, o que exige, como consequência, novos saberes que precisam ser atualizados por um público que será o mediador entre as novas tecnologias/serviços e o usuário/beneficiário final no processo de consumo.
O desempenho expressivo da indústria cosmética relaciona-se com uma característica corrente da modernidade: “o triunfo da razão prometeica, o impulso da cultura de eficácia e do controle técnico”. (LYPOVETSKY, 2000). A possibilidade de reinventar o corpo, de manipulá-lo segundo no-vos cânones de cuidados de beleza estimula a proliferação de técnicas e produtos que visam a “conquista” do ideal de belo.
O mercado brasileiro de cosméticos e beleza, que movimentou em 2009 valores na casa dos R$ 24,9 bilhões, com participação de 5% de participa-ção no Produto Interno Bruto (PIB), tem sido um campo de amplas possi-bilidades de observação para as demandas de estratégias de comunicação dirigida, na perspectiva da comunicação integrada, conforme se transfor-mam produtos e serviços no bojo da modernização da economia.
Trabalho imaterial e inovação tecnológica
Os métodos de produção econômica mudaram ao final do século XX e se intensificam no século XXI. Hardt e Negri (2002) afirmam que a moder-nização encontra seus limites na época atual. O que caracterizava a moder-nização: a passagem do campo, do trabalho agrícola e de mineração para a indústria, respectivamente, setor primário e secundário. Contudo, vive-se atualmente outra situação: a indústria está se disseminando para os servi-ços, integrando o consumo na produção. Esse movimento é denominado de
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
87
pós-modernização ou informatização da produção. A informação, o conhe-cimento, a comunicação se destacam e ocupam posições estratégicas nos serviços para viabilizar os processos de produção.
Informação e conhecimento na indústria não se encerram apenas em pesquisas de mercado, que se tornam apenas um dos instrumentos usados. Todos os processos – da descrição singular do consumidor ao consumo do produto – constituem circuitos de informações. A partir da informação cole-tada junto ao público consumidor gera-se o conhecimento a ser desenvolvido como produto ou serviço, invariavelmente sob a designação de inovação tec-nológica, até ser comercializado junto ao mesmo público consumidor.
O processo industrial informacionalizado possui como principais fer-ramentas a informação e a comunicação. A informacionalização da produ-ção provém da tendência de os processos industriais tornarem-se serviços. Um exemplo é a passagem do modelo fordista ao modelo toyotista, ambos oriundos da indústria automobilística. A principal mudança está no modelo comunicacional implantado pelas empresas:
O toyotismo baseia-se numa inversão da estrutura fordiana de co-municação entre a produção e o consumo. [...] Este modelo envolve, portanto, não apenas um feedback mais rápido, mas também a in-versão da relação, porque, pelo menos em tese, a decisão da produ-ção vem, de fato, depois da decisão do mercado, e como reação a ela (HARDT; NEGRI, 2002, p. 311).
O modelo fordista produzia as mercadorias e as disponibilizavam aos consumidores, que se adequavam ao que estava disponível no mercado. O sistema de feedback era lento e rígido para mudanças. Já o modelo toyo-tista baseia sua produção na demanda: as mercadorias são produzidas de acordo com a demanda, e a ausência de estoque é um dos efeitos desse modelo, que tem uma comunicação mais ativa com o consumidor e está atento para as tendências e movimentações do mercado.
Se no consumo fordista havia o que pode se chamar de “horizontali-dade”, que determinava o que, quando e como consumir, o pós-fordista funciona em redes interconectadas, portanto, maleáveis e móveis. A com-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
88
plexidade desta rede conta com diversas demandas subjetivas. Contudo, Slater (2002) afirma que a distinção conceitual e histórica entre fordismo e pós-fordismo não possui fundamentos muito sólidos, porque separar di-ferenciação do produto e segmentação de mercado é um problema devido a ambos coexistirem e serem dependentes: determinado produto é diferen-ciado em relação a um nicho de mercado em particular.
Produtos segmentados, cada qual para atender a determinada necessi-dade detectada no campo do consumo, são possíveis devido aos modos de produção estar atrelados à demanda, característica da economia no mo-delo pós-fordista ou toyotista. Nessa economia movida pela informação configura-se o trabalho imaterial, ou “trabalho que produz um bem ima-terial, como serviço, produto cultural, conhecimento ou comunicação.” (HARDT;NEGRI, 2002, p. 311).
Há três formas de manifestação do trabalho imaterial. A informacionali-zação da produção industrial é uma delas. A assimilação de tecnologias de comunicação é um exemplo, já que nesse processo não há diferenciação cla-ra entre produto material e imaterial. Ambos se misturam em suas fronteiras, do mesmo modo que ocorre na transição da indústria para os serviços.
Um segundo tipo de trabalho imaterial foi denominado por Reich (apud HARDT; NEGRI, 2002, p. 312) como “serviços simbólico-analíticos”, tipo de trabalho geralmente estratégico, que utiliza a criatividade para ges-tar a informação, seja para identificar problemas, apontar resoluções e/ou intermediar processos. O desenvolvimento de novas aplicabilidades de um conhecimento científico por sua vez caracteriza a inovação, um modo de gestar e aplicar na praxis determinada informação. Gerar patentes e produ-tos são resultados da inovação.
E, por fim, há o tipo de trabalho que envolve a produção e a manipu-lação do afeto. O contato interpessoal é necessário, mas pode ser virtu-al ou presencial. Outra característica importante do trabalho imaterial é a cooperação, que se encontra totalmente imbricada no desempenho de quaisquer atividades. Nessa perspectiva, a interação é preponderante e a formação de redes de comunicação e informação conectadas é um fato na economia global.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
89
Embora as escalas de negócios sejam globais, e as cifras atinjam a casa dos bilhões de dólares, a realização de feiras de negócios, como a do setor de cosméticos e beleza, induz a considerar a necessidade que os atores so-ciais têm de produzir e manter contatos interpessoais, fazendo da complexa cadeia produtiva uma espécie de comunidade virtualmente a ser produzida no bojo da modernização das relações sociais.
Mais que passar do produto ao serviço, o ciclo da economia imaterial passa para uma caracterização do serviço, ele próprio, como “produto” (LAZZARATO; NEGRI, 2001, p. 44, “o trabalho imaterial produz acima de tudo uma relação social (uma relação de inovação, de produção, de consumo) e somente na presença desta reprodução a sua atividade tem um valor econômico.” Em outras palavras, o trabalho imaterial produz as con-dições de produção, o que caracteriza a economia contemporânea como economia informacional.
A beleza ficcionada e a comunicação
Na cultura contemporânea, o imaginário do corpo projeta anseios cole-tivos, dentre os quais a valorização da aparência corporal. Assim, o corpo produzido pelos mais variados artifícios (ginástica, alimentação, moda, cirurgias, cosméticos, entre outros) configura-se como uma premissa re-guladora dos vínculos sociais e constitui novos parâmetros de mérito e de reconhecimento de cada indivíduo.
A disseminação de normas e imagens do ideal de beleza feminina, no transcorrer do século XX, ficou a cargo da comunicação: a publicidade, a imprensa feminina, o cinema e a fotografia de moda divulgaram imaginá-rios do “belo” em larga escala (LYPOVETSKY, 2000), contribuindo para a instauração da beleza-responsabilidade: “de que o físico é perfectível, de que é possível vencer as insuficiências estéticas desde que se ponha nis-so um empenho decidido” (LIPOVETSKY, 2000, p. 162). A abrangência massificada deste imaginário, facilitada necessariamente pelo desenvolvi-mento de tecnologias midiáticas comunicacionais de difusão da indústria
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
90
da beleza, encaixou-se dinamicamente na industrialização e democratiza-ção de produtos cosméticos.
Difusora de modelos estéticos, a imprensa feminina, no início do sé-culo XX, inseriu-se no cotidiano graças à distribuição em massa de suas produções da imprensa feminina. O diálogo entre produção-comunicação-economia fica mais claro com o surgimento de novos produtos cosméticos: a indústria influencia a criação de novas revistas que exaltam os valores estéticos, a juventude, a sedução. Esse empenho para democratizar a bele-za revela resultados nesse sentido pelo aumento do consumo de “cuidados de beleza” e mudanças na representação do que é belo.
Em 1920, o cinema fez emergir as “estrelas” e, com elas, uma influência estética que transcendeu o écran. As divindades do Olimpo hollywoodia-no tornaram-se acessíveis, os ideais de beleza tornaram-se partilháveis. A transformação de pessoas comuns em estrelas de cinema – após uma sé-rie de cuidados especiais – modificou o sentido de beleza. Fabricada pela técnica e por materiais, a beleza, no bojo de um pensamento liberal de-mocrático, tornou-se possível e os modos de conquistá-la seriam através do mérito pessoal. A beleza meritocrática responsabiliza cada indivíduo a conseguir a aparência desejada através de disciplina, determinação e von-tade (VIGARELLO, 2006).
Lypovetsky (2000) localiza os progressos científicos, o aumento da estima-tiva de vida e o aprimoramento de métodos industriais no patamar de facili-tadores da democratização de produtos de beleza na sociedade, tornados uma espécie de “luxo” que todos podem usufruir por intermédio do consumo.
Pode-se compreender a beleza como uma invenção (VIGARELLO, 2006, p. 11) em três sentidos: 1) o aumento progressivo da atenção dada ao belo e aos efeitos e emoções provocados por ele no decorrer do tempo; 2) a relevância dos cuidados estéticos direcionados a regiões cada vez mais específicas do corpo; 3) a beleza redesenhada a partir do controle corporal – de formas, expressões, traços – é sinônimo de eficácia. Tais condições históricas fizeram do consumo de cosméticos uma prática socioeconômica e cultural através da qual se mantêm e se multiplicam imaginários do belo.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
91
Indústria de cosméticos no Brasil e no mundo
Os cosméticos são “substâncias com consistência, coloração e fórmulas específicas, produzido química e industrialmente em laboratório e armaze-nado em embalagens apropriadas” (PALACIOS, 2004). O uso de cosméti-cos enquadra-se como prática de finalidade embelezadora, que preserva ou altera a aparência – tanto do rosto como de outras partes do corpo.
O mercado internacional de cosméticos é composto pela heterogenei-dade de empresas que se subdividem em multinacionais de atuação em mais de um setor econômico e em empresas especializadas no segmento. Nessa subdivisão, as empresas de atuação especializada atendem enfatica-mente as demandas do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC), que compreende a produção, a circulação e o consumo de produ-tos e serviços para cabelo, pele, maquiagem e perfumes.
Em 2007, o mercado mundial de cosméticos movimentou US$ 290,9 bilhões (referente a preços de consumidor), o que representa um aumento de US$ 95,9 bilhões em relação ao faturamento total do ano 2000. O cres-cimento médio foi de 5,9% ao ano, usando como base o período de 2006 a 2007 (ABIHPEC, 2010).
Os principais mercados consumidores em 2007 foram os EUA, com 17,6% da participação mundial, e em seguida o Japão, com 10,5%. O Bra-sil ocupa o terceiro lugar nesse ranking, com 7,6% de participação, ou seja, US$ 22,2 bilhões movimentados, apresentando-se como significativo mer-cado consumidor e um emergente polo produtor de inovações nesse setor da economia (HIRATUKA, 2008a).
Esse desempenho econômico é reconhecidamente fomentado por in-vestimentos em ciência e tecnologia (C&T). A indústria de cosméticos tem empregado pesquisadores, invariavelmente mestres e doutores, formados em programas de pós-graduação stricto sensu, das mais diversas áreas no desenvolvimento de produtos e serviços. Aos poucos, uma cultura científi-ca é incorporada ao ambiente organizacional, que descobre, embora tardia-mente, as vantagens de instituir na estrutura empresarial um departamento ou área de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), o que caracteri-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
92
za este segmento pela produção de um ambiente de inovação tecnológica.Em 2009, o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos no Bra-
sil passou praticamente ileso à crise econômica mundial sofrida no pe-ríodo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2010), nos últimos 14 anos, o fatu-ramento ex factory, ou seja, líquido de imposto sobre vendas, subiu de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 24,9 bilhões em 2009.
Os fatores que têm colaborado para este desempenho diferenciado são: a inserção da mulher no mercado de trabalho, o uso de tecnologia de ponta com consequente aumento da produtividade, o lançamento de novos pro-dutos (cada vez mais segmentados para atender a demandas diferenciadas dos consumidores) e o aumento da expectativa de vida (que por motivos culturais tem fomentado a busca por aparência jovem que incide na produ-ção do corpo como processo de subjetivação).
No Brasil, até abril de 2010, foram contabilizadas 1.659 empresas atu-ando no mercado nacional de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Contudo, se forem consideradas as empresas que detêm a maior parte do faturamento, o setor se resume a 14 empresas de grande porte, que jun-tas representam 73% do faturamento total do mercado, ou seja, um valor acima de R$ 100 milhões. A região onde mais se concentram as empresas deste setor é o Sudeste, com 63% da totalidade das empresas, seguidas pela região Sul, com 19,4%, a região Nordeste, com 8,4% e as regiões Centro-Oeste e Norte com respectivamente 7,6% e 1,5% (ABIHPEC, 2010).
As oportunidades de trabalho nesse setor – que podem ir da pesquisa tec-nológica às vendas – tiveram importante papel no crescimento de empregos no país. Em 1994, o setor era responsável por 11,3 milhões oportunidades de trabalhos diretos e indiretos, envolvendo – além da indústria propriamente – um amplo setor que compreende ainda redes de franquia, venda direta e salões de beleza. Em 2009 estimavam-se 36,4 milhões de oportunidades de trabalho geradas, um crescimento de 222,5 % em quinze anos (ABIHPEC, 2010).
O que caracteriza, hoje, o ambiente de inovação tecnológica no setor de cosméticos e beleza é o fato de que as constantes transformações nos produtos, provocadas pelo investimento em PD&I, também tornam cons-
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
93
tantemente obsoletos os conhecimentos profissionais aplicados no setor. A obsolescência planificada dos produtos exige que a indústria passe a de-senvolver também modos de divulgar não apenas os produtos, mas novos conhecimentos que o uso dos produtos passa a demandar de toda uma ca-deia economicamente produtiva. A produção industrial, neste caso, torna-se dinâmica na medida em que conta com uma rede de trabalho imaterial, que inclui serviços como pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), marketing, logística e comunicação social.
Conforme apontam os números, o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, no qual se insere a Feira Latino-Americana de Cosméticos e Beleza, está em crescimento e com transformações que acompanham as mu-danças culturais e socioeconômicas sofridas na passagem de século, configu-rando-se como ambiente privilegiado para investigações sob o ponto de vista da comunicação organizacional e das trocas econômicas contemporâneas.
Evento e comunicação integrada
Evento, na definição de Pinho (1990), é um instrumento de relações públicas usado como acontecimento cujo objetivo é atrair a atenção do público-alvo e da imprensa para a organização promotora. Canfield (apud PINHO, 1990) aponta que um evento é eficaz quando consegue causar uma impressão duradoura no público de interesse do evento. Contudo, a escolha por realizar um evento tem relação intrínseca com a estratégia e objetivos que se pretende alcançar.
Feiras de negócios configuram-se como tipo de evento direcionado a segmentos específicos de mercado. Contudo, segundo Giacaglia (2004), a separação em tipos de evento tem finalidade mais propriamente didática, pois se encontra, num único evento, vários tipos de eventos paralelos, por sua natureza não é excludente, mas complementar e integradora. Na feira analisada identificam-se eventos tipologicamente diferenciados conforme as demandas: culturais, sociais, congressos, convenções de vendas, workshops. Todas essas manifestações não se contradizem, mas agregam e reforçam es-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
94
trategicamente os objetivos do evento maior, considerando as singularidades de cada organização, cada qual com seus produtos e serviços.
Segundo Giacaglia (2004), alguns dos objetivos das feiras são incre-mentar as vendas, lançar novos produtos e serviços, aumentar o share-of-mind do produto e da própria organização, aumentar a credibilidade da em-presa, reunir clientes, gerar novo cadastro de prospects, alavancar negócios a longo e médio prazo, entre outros. É o que, servindo como interface entre produção e consumo, também caracteriza o trabalho imaterial na forma de rede e fluxos (LAZZARATO; NEGRI, 2001, p. 59).
No setor econômico em questão, a Feira Latino-Americana de Cosmé-ticos e Beleza atende à cadeia produtiva da indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e de Beleza. Em 2009, no quarto ano consecutivo de sua realização, o evento contou com a participação de 750 marcas, 350 expositores e mais de 108 mil visitantes em quatro dias. A feira foi dividida em quatro setores: varejo, profissional, negócios e estética. A partir dessa divisão, fizeram-se usos de várias estratégias para que expositores desenvol-vessem relacionamentos mais precisos com a heterogeneidade de públicos.
Evento enquadra-se como instrumento da comunicação mercadológica. Contudo, nesse evento do setor de cosméticos e beleza nota-se a interface com outras áreas comunicacionais. Num mesmo espaço praticam-se pu-blicidade de marcas, venda pessoal, variados tipos de marketing – social, cultural, direto –, entre outras ferramentas que contribuem e se conectam para captar a atenção do visitante, proporcionando a vivência de sensações numa velocidade vertiginosa, característico da contemporaneidade.
Na medida em que a produção de mercadorias tornou-se mais preci-sa, com variedade de marcas e necessidade de diferenciação, estratégias comunicacionais foram colocadas em prática para persuadir e convencer o consumidor para escolha de um produto ou serviço em detrimento de outros da concorrência. Hoje, o ambiente de consumo se diversifica cons-tantemente, as subjetividades ampliam-se e o mercado altera o seu modo de produzir para enquadrar as diferenças no campo do consumo.
A comunicação integrada reúne ferramentas e alinha estratégias para chegar ao público-alvo sob várias perspectivas e abordagens. O evento é
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
95
um acontecimento que expõe a rede comunicacional entre organização e sociedade. Todo o investimento em comunicação, informação e conheci-mento é evidente, pois essas características integram o trabalho imaterial, típico de uma economia informacionalizada.
Comunicação dirigida para públicos de interesse
A Feira Latino-Americana de Cosméticos e Beleza divide-se em quatro grandes setores, cada qual com um público de interesse recortado no difuso público-alvo que se apresenta. Público de interesse, como público funda-mental na sustentação econômica e simbólica das organizações, demanda atualizar os processos de comunicação dirigida como estratégias para a dinâ-mica dos negócios e produção de vínculos entre organização e seus públicos.
Num processo de racionalização dos investimentos em comunicação, nota-se, na Feira, o esforço para se produzir uma relação mais eficiente en-tre novos produtos e serviços gerados no processo de inovação tecnológica e as demandas apresentadas que possibilitam o recorte de um público de interesse em meio ao público-alvo em geral. A seguir, uma breve descrição do que se sugere como público de interesse dos quatro setores da Feira – Profissional, Estética, Negócios e Varejo – e suas demandas.
Setor Profissional – O público de interesse deste segmento é formado por profissionais da área de beleza, com ênfase em serviços típicos de salões, em sua maioria cabeleireiros e manicures. A demanda deste segmento é por atualização de novos conhecimentos (fator de distinção para os profissionais), pois a cada inovação tecnológica, que modifica a composição de produtos ou processos de serviços, os profissionais são impelidos a aprender os novos modos de usar tais produtos e executar novos serviços.
Setor de Estética – O público de interesse deste segmento é formado por profissionais da área de estética corporal, que direciona seus serviços aos
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
96
cuidados da pele e do corpo, com o auxílio de tecnologias de tratamento, produtos e equipamentos. A caracterização do segmento de estética são as constantes transformações nas ferramentas de trabalho dos profissionais, ocasionadas pelo investimento da indústria em inovação tecnológica. Novas tecnologias incluem equipamentos para clínicas, máquinas de tratamento, além de produtos e serviços inovadores. Diante dessas transformações, próprias da obsolescência planificada dos objetos no capitalismo, novos produtos forçam alterações nos usos desses mesmos produtos, o que significa consequente obsolescência nos conhecimentos profissionais a eles relacionados.
Setor de Negócios – Destinado a um público de interesse composto por empresários, lojistas e investidores, a demanda deste público é por informações gerenciais, tendências de consumo mundiais e locais, parcerias, consolidação de negócios e discussão de políticas que beneficiem a comercialização de produtos. A execução de métodos de controle e segmentação de público no setor de negócios torna mais claro como o capitalismo atual atribui valor à informação e aos processos de conhecimento.
Setor de Varejo – Neste segmento, o público tende para o consumidor genérico, pode-se dizer mais massificado, pois o setor de compras permite a presença do consumidor final, leigo, e não apenas profissionais. No varejo, portanto, o público está mais próximo do conceito de público-alvo, pela amplitude tipológica e de escala quantitativa, contudo o conhecimento exerce papel fundamental nas decisões de compra num mercado segmentado, que em meio a tantas opções de compra precisam de parâmetros de diferenciação que influirão na decisão final de compra.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
97
Considerações finais
A indústria de cosméticos se constitui numa rede de relações interdis-ciplinares que agrega universidades, indústrias, comunidades científicas das mais diversas áreas. O expoente investimento em pesquisa, desenvol-vimento e inovação (PD&I) na indústria de cosméticos periodicamente modifica seus produtos, sendo um dos fatores que intensificam um ci-clo no qual se percebe não somente a profissionalização na produção de ideais estéticos, mas também o desenvolvimento de instrumentos de propagação da estética feminina (feiras), abertura de novas atividades relacionadas à beleza, além do incremento do acesso socioeconômico a artefatos embelezadores.
A informação tornou-se preponderante nos processos de inovação tecnológica, caracterizando o que chamam hoje de economia informa-cional que institui ou é instituída pelo trabalho imaterial. A informação, e mais precisamente a gestão da informação nas mais diversas áreas do conhecimento, tornou-se elemento constituinte dos processos eco-nômicos, tendo como parâmetro os valores simbólicos produzidos nos processos de consumo.
Na indústria de cosméticos e beleza, que movimenta uma economia na casa dos bilhões de dólares no mundo, tendo o Brasil como o terceiro país nesse ranking, a produção, gestão e difusão de informações quali-ficadas e dirigidas tornam-se ferramenta primordial no desenvolvimento de produtos e serviços, respondendo pelo processo de transformação nos modos de produção.
Mercados emergentes, mas que emergem com os vigores da inovação tecnológica, livres, portanto, das amarras do capitalismo tradicional, talvez apontem para novas oportunidades para a área da comunicação também se instituir como ciências sociais aplicadas, ou seja, ela própria como pro-cesso de inovação no campo comunicacional, produzindo sua valorização simbólica como área do conhecimento.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
98
Referências
CORDEIRO, L. P. Mediações na indústria de cosméticos: análise de uma década de publicidade de cremes anti-idade. 91f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea) - Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Cuiabá, 2011.
GIACAGLIA, M. C. Organização de eventos: teoria e prática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
GIÁCOMO, C. Tudo acaba em festa: Evento, líder de opinião, motivação e público. São Paulo: Scritta Editorial, 1993.
GUSHIKEN, Y. O moderno planejamento em relações públicas na frag-mentação narrativa do mundo contemporâneo. In: MOURA, C. P. de (Org.). História das relações públicas: Fragmentos da memória de uma área. Porto Alegre: EdiPUCRS, p. 237-252, 2008.
HARDT, M.; Negri, A. Império. Tradução por Berilo Vargas, 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2002.
KUNSH, M. M. K. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. São Paulo: Summus, 2003.
LAZZARATO, M.; NEGRI, A. Trabalho imaterial: Formas de vida e pro-dução de subjetividade. Tradução por Giuseppe Cocco. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
LIPOVETSKI, G. A terceira mulher: permanência e revolução do femini-no. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
PALACIOS, A. As marcas na pele, as marcas no texto: Sentidos de tem-po, juventude e saúde na publicidade de cosméticos em revistas femininas durante a década de 90. 2004.312f. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea) - Universidade Federal da Bahia, UFBA, Salva-dor, 2004.
SLATER, D. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002.
REGO, F. G. T. do. Comunicação empresarial, comunicação institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
99
ABIHPEC. Panorama do Setor 2009/2010 – Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. 2010. Disponível em: <http://www.abihpec.org.br/dadosdo-mercado_panorama_setor.php>. Acesso em: 25 jul. 2011.
BEAUTY FAIR. Feira Latino-Americana de Cosméticos e Beleza. Dispo-nível em: <www.beautyfair.com.br>. Acesso em: 25 jul. 2011.
HIRATUKA, C. (coord.). Relatório de Acompanhamento Setorial (Volume I): Cosméticos. Projeto: Boletim de Conjuntura Industrial, Acompanha-mento Setorial e Panorama da Indústria. Convênio: ABDI e NEIT/IE/UNI-CAMP. Campinas, maio, 2008a. Disponível em: <http://www.abdi.com.br/Estudo/cosmeticos%20maio%2008.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2011.
HIRATUKA, C. (coord.). Relatório de Acompanhamento Setorial (Volume II): Cosméticos. Projeto: Boletim de Conjuntura Industrial, Acompanha-mento Setorial e Panorama da Indústria. Convênio: ABDI e NEIT/IE/UNI-CAMP. Campinas, dez., 2008b. Disponível em: <http://www.abdi.com.br/Estudo/cosmeticos%20dez%2008.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2011.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
101
Labdebug: práticas de cultura digital livre para mulheres
Karla Schuch BrunetUniversidade Federal da Bahia
Graciela NatansohnUniversidade Federal da Bahia
A entrada das mulheres como usuárias da Internet no mundo foi um pouco mais demorada que a dos homens, mas atualmente os números pa-recem tender para o equilíbrio. Titulares do suplemento Tec da Folha de S.Paulo, de 16 de março de 2011, são ilustrativos da situação atual: “Fal-ta mulher”; “Executivas são raras no mundo hi-tech”, “Mulheres criam pouco para Wikipédia” (DEMETRIO, 2011, p. F1-F8). Nós afirmávamos também, nesse jornal: “No mundo da tecnologia há uma brecha digital de gênero, raça e classe” (NATANSOHN, G.; BRUNET, K., 2011). Por outro lado, no citado suplemento da folha, lemos: “Sexo feminino se destaca nas redes”, “O uso delas está definindo uma parte da internet”, “Brasileiras encontram chances com crescimento de Internet”. Estas indicações reco-nhecem a situação de insuficiência a respeito da inclusão das mulheres no mundo digital para mais do que consumidoras e usuárias de internet. E sugerem que as mulheres estão se movimentando para mudar o cenário.
No Brasil, país com uma economia emergente e com grande concen-tração de riqueza, os últimos dados oficiais disponíveis indicam que, em 2009, 67,9 milhões de pessoas com 10 ou mais anos de idade disseram ter usado internet, o que representa um aumento de 12 milhões (21,5%) em relação a 2008. As mulheres avançaram mais do que os homens em aces-sos a internet, especialmente nos grupos etários de 30 a 39 anos (28,2% das mulheres contra 24,8% dos homens); de 40 a 49 anos (31,9% contra 21,8%); no grupo de 50 anos e mais (46,1% contra 35,5%) se registram as maiores diferenças entre mulheres e homens. Mesmo que o número de mulheres usando a internet tenha crescido sensivelmente, o número de mu-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
102
lheres decidindo e controlando a rede é bem menor. O número de mulheres como engenheiras da computação, editoras de conteúdo, empreendedoras de TICs ainda é muito pequeno.
Entendemos que as competências tecnológicas das mulheres se veem afetadas de maneira diferencial em função das diferenças de gênero. E que o gênero opera junto com as questões de classe social no jogo das apro-priações, adaptações, reprodução, negociação e resistências que se dão nos processos de apropriación tecnológica. Por competências tecnológicas no referimos não só ao uso competente de tecnologias, senão à “capacidad de comprensión y expresión a través del uso analítico, productivo y creativo de las tecnologías de la información y la comunicación digitales” (LARA, 2008). O que está em jogo é uma política que estimule a apropriação da cultura tecnológica por parte das mulheres, entendendo a apropriação como o processo pelo qual grupos subalternos interatuam com a oferta cultural, econômica, institucional do sistema, dando novos sentidos, usos e objetivos a essa oferta, isto é, incorporando-as para a sua própria definição de mundo. Em palavras de Neuman:
El acto de apropiarse no se pasa por una concesión previa de lo apropiado ni es un acto inspirado por terceros. Esto se convierte en la primera manifestación de la apropiación: la autonomía de la acción. Apropiarse es un acto intencional del que se apropia. No es una concesión de terceros ni impuesto por terceros. Apropiarse es un acto dentro de la esfera de la subjetividad del que se apropia. Por eso, si la ejerce el dominado, el subalterno, el “otro”, es una inicia-tiva inalienable (NEUMAN, 2008).
Neste mesmo sentido, e reconhecendo a necessidade de políticas afir-mativas a favor das mulheres, a Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher, do Conselho Econômico e Social da ONU que secionou em março de 2011, reconhece o potencial da educação e a capacitação, assim como da ciência e a tecnologia, para contribuir ao empoderamento econômico da mulher, pontuando que:
...la Comisión observa que la educación de calidad y el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia y la
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
103
tecnología para las mujeres de todas las edades son imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, son además una necesidad económica y dotan a la mujer de conocimientos, capacidades, aptitudes y recursos técnicos, además de los valores éticos y la comprensión necesarios para que pueda aprender, obtener empleo y mejorar su salud física y mental durante toda la vida, incluso en lo atinente a la prevención y el control de la mortalidad materna, el VIH y el SIDA y otras enfermedades trans-misibles y no transmisibles, así como para poder participar plena-mente en el desarrollo social, económico y político.
...la Comisión reconoce que la investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología, y su divulgación, han respondido de manera insuficiente a las necesidades de la mujer. La Comisión recalca la necesidad de que haya una mayor cooperación entre los países, incluso mediante la cooperación internacional y la transferencia de tecnología con ar-reglo a condiciones mutuamente convenidas, especialmente hacia los países en desarrollo, para avanzar hacia la igualdad en el acceso de la mujer a la ciencia y la tecnología y aumentar su participación en la educación en ciencia y tecnología (NACIONES UNIDAS, 2011).
Em pleno século XXI a universalização do acesso, direito à educação e capacitação continua sendo um desafio a ser enfrentado por governos e organizações feministas, pois há poucos e insuficientes programas que visem integrar as mulheres e meninas ao mundo digital. Contudo, não po-demos reduzir a reivindicação das mulheres à cultura digital a um proble-ma apenas de acesso, pois assim corre-se o risco de focar só a questão de mercado. Reivindicar a extensão e acesso em larga escala da banda larga é necessário na medida em que também grupos subordinados e excluídos (e não apenas agentes econômicos e o governo) possam participar na discus-são dos modelos e das finalidades dos programas de inclusão digital, isto é, da formulação, execução e avaliação de políticas de inclusão (AMADEU, 2011), e de desenho e desenvolvimento de tecnologias. Isto visa a inclu-são em sentido pleno: não apenas como usuários e usuárias dos serviços de internet mas como agentes ativos no desenvolvimento de capacidades cognitivas autônomas, que permitam a exploração das características do ambiente: a inteligência e a organização coletiva, a capacidade de trabalhar
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
104
em rede, a capacidade de criação e desenvolvimento em prol de interesses próprios. Se os artefatos tecnológicos estão socialmente conformados (e por isso fala-se de artefatos sociotécnicos), não só no que se refere ao uso, senão em relação com seu desenho e conteúdo técnico, as mulheres não deveriam ser ignoradas nestes processos.
Por tudo isso, viemos afirmando (NATANSOHN,G.; BRUNET, K., 2010, 2011) que é urgente que entidades governamentais e não governa-mentais que trabalham pela cultura e inclusão digital tomem as questões de gênero como pivô das suas ações, pois, se no universo – masculino – do software livre e cultura digital não parece haver sensibilidade para as ques-tões feministas, do lado do feminismo, apenas se começa, agora, a prestar atenção para as questões das tecnologias digitais.
Feminismo e tecnologia, do amor ao ódio
A chamada segunda onda do feminismo, nas décadas de 1960 e 1970, foi a que detectou que na história da tecnologia e a ciência, as mulheres foram ignoradas, apagadas ou minimizadas. E por isso, recuperar a histó-ria delas, seus triunfos e ganhos, foi a principal tarefa. Seguindo Wacjman (2006), em visão retrospectiva, podem ser analisadas três posições teóricas básicas sobre a relação entre feministas e tecnologia: a do feminismo libe-ral; do feminismo radical e do ecofeminismo; e a do feminismo socialista.
Sumariamente, as liberais consideram que todo o problema da histó-rica separação entre as mulheres e as tecnologias em geral, reduz a um problema de acesso, de oportunidades. Coloca o problema nas mulheres e não na própria tecnociência e suas instituições. Assim, os aparatos técnicos seriam intrinsecamente neutros, sem viés de gênero, objetivos, com o que o problema se resolveria com uma política de igualdade de oportunidades. Ignora-se, nesta posição, que ao estarem as mulheres fora do desenho, do desenvolvimento, da invenção das tecnologias, estas se formam e desen-volvem com modelos masculinos. Onde se manifesta esta “generização” da tecnologia?
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
105
Em várias frentes: na divisão do trabalho: tecnologias para o lar (linha branca de eletrodomésticos) vs. tecnologias para os homens (linha mar-rom); a mulher é sempre projetada como apenas usuária, já, o homem é imaginado, no desenho, como produtor e manipulador competente. Na forma de pensar a tecnologia como força, máquina. E muito mais claro, nota-se na linguagem e nas metáforas típicas da ciência médica-masculina, que fala de guerras, invasões, ataques e domínio sobre os corpos dóceis das mulheres. Não em vão as tecnologias reprodutivas foram o principal alvo das feministas: era preciso recuperar o controle masculino que sobre o cor-po das mulheres a medicina tinha desenvolvido durante séculos. As repre-sentações da ciência (sob o ponto de vista masculino) foram denunciadas.
O ciclo hormonal das mulheres, a menstruação (e hoje, a TPM), e em geral, as definições científicas, tecnológicas e médicas do corpo das mu-lheres, da maternidade e gravidez têm sido usadas para reproduzir a subor-dinação da mulher. Quando começa a ser explorado o caráter genérico da própria tecnologia, entram em cena os feminismos socialistas e radicais. Quando se percebe que o acesso igualitário aos bens tecnológicos continua a deixar parcialmente de fora as mulheres no pensar e fazer ciência, entram em cena os feminismos radical e socialista.
As radicais, com forte viés essencialista, colocam o problema da opres-são das mulheres nas suas capacidades reprodutivas. Para elas, as tecnolo-gias reprodutivas são instrumentos de eugenia, controle racial e patriarcal. Contudo, para as ecofeministas dos anos 1960, liberar-se da reprodução mediante técnicas (pílulas e outras) significava sair-se do domínio masculi-no. Para as socialistas, formadas num marxismo que colocava a tecnologia num lugar privilegiado na história, para além da luta de classes, a tarefa foi recolocar a crítica de Marx às tecnologias e à divisão do trabalho. E trazer para dentro do marxismo as questões de gênero, além das de classe. As tecnologias domésticas são discutidas nos anos 1970, quando os temas eram a mecanização do trabalho doméstico, o tempo e a divisão de tarefas no lar e fora dele, com o objetivo de explicar como o público e o privado se conformam mutuamente e como as identidades femininas e masculinas reproduzem-se no lar e no trabalho. Assim, nestes trabalhos descritos rapi-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
106
damente, a tecnologia foi considerada uma extensão da dominação patriar-cal e capitalista. E as mulheres, suas vítimas. Em palavras de Wajcman, estes feminismos:
en el afán por visibilizar la profundidad y el alcance del tecnopoder de los hombres, pasaron por alto las posibilidades de subversión que las nuevas tecnologias podían ofrecer, así como las de desesta-bilizar las estructuras patriarcales. La tecnologia se consideró como una extensión de la dominación patriarcal y capitalista (WACJ-MAN, 2006, p. 49).
Somente o chamado ciberfeminismo, nos anos 1990, recuperará o oti-mismo e o caráter utópico da tecnociência. E recolocará os termos da dis-cussão em outro patamar. São conhecidas as discussões trazidas por Sa-die Plant (1997), principal exponente inglesa do ciberfeminismo, assim como os trabalhos de Dona Haraway (1994), nos anos 1980 e os de Turkle (1996). Este feminismo “novo” resulta especialmente atrativo para as mu-lheres jovens, crescidas no ambiente digital, cuja vinculação com o mo-vimento feminista tradicional se vê obstaculizado, dentre outros motivos, pela brecha cultural (e digital).
Sem dúvidas, o ciberfeminismo é uma contestação à visão tecnofóbica das feministas. Questões como a subversão (e liquidez) das identidades e subjetividades no ciberespaço, a sexualidade polimórfica, nomádica e descorporizada, as hibridações entre máquinas e corpos, são os argumentos preferidospara advogar por um novo papel para as mulheres na tecnologia e muito úteis para superar a visão das mulheres como meras vítimas imó-veis do patriarcado. A partir dos anos 1990 a história a ser contada é a das redes de mulheres na web para a organização política, para as suas reivin-dicações e articulação, uma história que inclui artistas, militantes ciberfe-ministas, tecnólogas, cientistas, jornalistas que se organizam pelo direto à internet e também pelo software livre, como estratégia de empoderamento das mulheres. Apache Women, Debian Women, Fedora Women, Gender-changes, Gnome Women, Gnurias, Haecksen, KDE Women, LinuxChix, LinuxChix-Brasil, Mujeres en Red, Ubuntu Women, são algumas das orga-
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
107
nizações de mulheres imersas na tecnologia, com sensibilidade feminista e ao redor do projeto político do software livre. São minoria em relação a tudo que circula da web sobre as mulheres, pois muito está por ser feito. A internet é essencial nestes projetos porque permite:
...conjugar ambos tipos de acción, individual y colectiva , para po-ner fin a la doble reproducción del sistema patricarcal dentro y fuera de las personas, en el espacio público y en el privado, para romper a implacable dinâmica de refuerzo mutuo que se dá entre las prácticas de la vida cotidiana y las macroestructuras económicas, políticas ideológicas. Requiere además la constitución de una identidad co-lectiva feminista, un nosotras capaz de articularse en función de los intereses específicos de las mujeres que mujeres,capaz de abstrair las profundas diferencias que por fuerza ha de tener un sujeto co-lectivo que afecta a la mitad de la humanidad. (AMORÓS, C.; DE MIGUEL, A., 2005, p.62).
O LabDebug
Trabalhando com dois conceitos fortes, o ciberfeminismo e o software livre, decidimos criar um laboratório para colocar em prática a combinação destes dois movimentos. LabDebug é o nome que damos a este laborató-rio de práticas com tecnologia digital voltado para o público feminino. O nome LabDebug surgiu de um brainstorm do grupo quando alguém su-geriu o termo bug e debug por ser frequentemente atribuído a uma das primeiras programadoras mulheres, a Grace Murray Hopper.
Segundo diversos autores (SHAPIRO, 1987; PLANT, 1997; SCHWARTZ, 2006), o termo debug foi criado por Hopper quando tirou o inseto que estava causando problemas no computador que trabalhava. Ao mesmo tempo em que este termo comumente ligado à computação surge com menção a uma mulher programadora, depuração remete ao processo de encontrar e solucionar erros em software e hardware, extremamente ligado ao conceito que queremos produzir no laboratório. Isto é, nosso objetivo é solucionar problemas na produção de cultura digital por parte
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
108
de mulheres. O LabDebug é um lugar aberto para mulheres estimularem sua criatividade, aprenderem e ensinarem técnicas e experimentarem com arte e tecnologia.
O laboratório ocupa uma sala da Faculdade de Comunicação da Uni-versidade Federal da Bahia. A ocupação não é exclusiva do LabDebug; durante as manhãs, ministram-se aulas do curso de Jornalismo e, por isso, os equipamentos são utilizados por toda a comunidade discente. O laboratório funciona pela tarde e noite com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), finan-ciando bolsas de apoio à extensão e recursos para equipamentos e servi-ços. As bolsistas (discentes da UFBA) aprendem a manipular softwares e realizam tarefas de ensino, seja de apoio aos docentes contratados para as oficinas que são desenvolvidas, ou oferecendo open lab, oficinas de curta duração sobre temas específicos, em forma semanal. Além de ser um projeto interdisciplinar, o laboratório também é coordenado por pro-fessoras de duas unidades da UFBA, da Faculdade de Comunicação e do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, o que adiciona diferentes perspectivas e formas de colaboração. Cabe destacar que o LabDebug é parte de um projeto maior, que procura mapear o papel das mulheres nas tarefas voltadas à inclusão digital no Nordeste, à vez que incentiva a inclusão digital mediante um trabalho extensionista.
LabdeBug e outros modelos de labs
Para a criação do LabDebug usamos como referência diversas outras experiências de laboratório de tecnologia e experimentação artística livre. Estes são laboratórios de que conhecemos a forma de funcionamento e/ou de cujas atividades já participamos de alguma forma Um primeiro exemplo é o MediaLab Prado (http://medialab-prado.es/), um laboratório de mídia digital que trabalha primordialmente com software livre. O interessante da experiência do MediaLab Prado é que eles partem de projetos e não de
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
109
cursos regulares. Isto é, fazem chamadas a projetos, onde uma curadoria escolhe as melhores propostas e, na sequência, convocam pessoas inte-ressadas em participar de seu desenvolvimento. MediaLab Prado, como plataforma de criação, ganhou em 2010 uma menção honrosa no Prêmio do festival Ars Eletrônica.
Outro exemplo europeu é o Access Space (http://access-space.org/) em Sheffield, na Inglaterra, que abriu suas portas em 2000 como “um dos pri-meiros projetos no mundo a trabalhar com o reuso criativo de tecnologias, usando software livre e convidando a comunidade a se apropriar do espa-ço” (Agustini, 2010). A ideia deste laboratório é ser um lugar aberto à co-munidade onde qualquer um pode chegar e experimentar com tecnologia.
Baseado na cultura do compartilhamento, o Access Space incentiva que tudo aquilo que o usuário aprenda no lab e também ensine no lab. Os mo-nitores são ex-alunos e, ao aprender e desenvolver algo no Access Space já conhecem o compromisso de ensinar. Em 2009, numa conversa com James Wallbank5 durante o evento Paralelo, Technology & Environment: a me-eting point for artists, designers & researchers,6 James salientou que são poucas as mulheres no seu lab, declarou, também, que apesar de já ter ten-tando alguns métodos para atingir o público feminino, não obteve sucesso.
Já no Brasil, uma das referências neste tipo de prática é o projeto Meta-Reciclagem (http://rede.metareciclagem.org/), onde se recicla computado-res usados, instala software livre e incentiva a produção de conteúdo livre. Esta rede começou em 2002, em São Paulo e hoje em dia está espalhada por diversos estados brasileiros. Um dos objetivos do MetaReciclagem é produzir uma transformação social através do uso de tecnologias abertas. Visa-se que os participantes percam o medo da caixa-preta do computador e, ao reciclá-lo, reconstruam-no de forma a entender seu funcionamento e possíveis usos. O LaMiMe, laboratório de mídia da rede MetaReciclagem, em São Paulo, desenvolve projetos de experimentação artística, modelos de envolvimento comunitário e empoderamento. Em 2002, MetaRecicla-gem ganhou menção honrosa no prêmio do Ars Electronica Festival.
5 James Walbank é o coordenador do Access Space6 Paralelo URL: http://paralelo.wikidot.com/
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
110
Outra referência de inspiração para a criação do LabDebug é o Bri-colabs (http://www.bricolabs.net/), uma rede de laboratórios, processos, métodos e propostas de “faça você mesmo” (DIY, do-it-yourself). A rede, que surgiu no Brasil, abarca uma lista de discussão sobre o tema, uma wiki com projetos desenvolvidos e conecta diversos países como Brasil, Índia, Indonésia, Inglaterra, Holanda. Felipe Fonseca (Internet) considera estes projetos de DIY brasileiros e internacionais como possibilidades de mudança, como formas de gambiarras, de produção informal e de impro-visação técnica.
Ainda como inspiração para o Labdbug, com foco no público femi-nino, podemos citar o laboratório temporário criado para o ETC Brasil (http://eclectictechcarnival.org/2007-salvador), realizado em dezembro de 2007, em Salvador. Durante os 4 (quatro) dias de encontro discutimos questões feministas, reciclamos computadores, abrimos a caixa-preta, criamos programas para web-rádio, aprendemos sobre comida vegeta-riana, fizemos aula de artes marciais. O Etc-br foi uma versão brasileira do Eclectic Tech Carnival, um encontro internacional que, como define o próprio site, é:
The Eclectic Tech Carnival is a gathering of women interested in open source technology... A carnival typically includes han-ds-on workshops on installing and using open source and free software, building web sites, understanding network security, and exploring alternatives to commercial/mainstream social networking sites and other tools. The programme usually also features cultural discussions and presentations, art exhibitions, performances and community events. (Disponível em: http://eclectictechcarnival.org/).
No Brasil, fizemos o encontro na Casa MUV, um espaço independente que acolheu o evento e proporcionou um ambiente alternativo e de experi-mentação para as oficinas. As práticas realizadas nesta semana serviram de referência para a criação do LabDebug e suas oficinas.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
111
Propostas de práticas artísticas no LabdeBug
O laboratório, que tem seu começo da atividade em setembro de 2010, começa com oficinas de diversas áreas de conhecimento promovendo sem-pre um ambiente de criação aberto à comunidade e estimulador de criativi-dade. Temos planejados diversos módulos de cursos, são estes:
l Desvendando a caixa-preta: Montagem e desmontagem de computadores, instalação de software, ampliação de memória, discos rígidos, redes, ethernet, wi-fi, 3G.
l Iniciação ao mundo digital: Navegação na internet, email, IRC, editoração de textos, software de redes sociais, chat, busca de fotos, vídeos e música online.
l Criação de site na internet: Plataformas de criação de sites: CMS, blogs, Wikis. RSS, tags, categorias. HTML básico.
l Imagem digital: Manipulação de câmeras de fotos, editoração de imagens, cortes, edição, correção de cor, montagem, criação de álbuns online.
l Vídeo digital: Manipulação de câmeras de vídeos, editoração de vídeos, cortes, edição, correção de cor, montagem, criação de vídeos pra web, celular, mp4, difusão online.
l Áudio digital: Manipulação de gravadores de áudio, editoração de áudio, cortes, edição, streaming, podcasting, web rádio.
l Performances em tempo real: Manipulação de câmeras e computadores em tempo real, edição, manipulação, montagem, DJ e VJs.
l Arte interativa: Programação de obras interativas, sensores, circuit bending, prática de instalações interativas.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
112
l Arte, corpo e tecnologia: Performances com tecnologia, histórico e experimentações atuais, dança, sensores, streaming e vídeo.
l Mulheres, gênero e linguagem: Sexismo na linguagem e nas mídias. Arte como forma de reivindicação.
Como as oficinas são voltadas somente para o público feminino, cria-mos também os OpenLabs, onde se fazem demonstrações de programas específicos e soluções de problemas com software livre. Desta forma, o laboratório não é um lugar segregado somente para mulheres, mas sim, um lugar com foco no público feminino.
Nas oficinas do LabDebug usamos, em certa medida, a metodologia do MediaLab, cuja proposta já discutimos aqui, no sentido de que cada oficina desenvolve um projeto, preferencialmente um projeto artístico. A diferença é que, no Labdebug, o projeto muitas vezes não é definido de antemão ou escolhido por uma curadoria, mas sim criado em conjunto no primeiro dia de encontro. Igualmente, pretendemos nos apropriar de parte da metodologia do Access Space no que diz respeito a produzirmos um espaço aberto de criação artística, e das oficinas de desconstrução da caixa-preta feitas no ETC-Br.
O público das oficinas é composto por mulheres jovens, adultas, vin-culadas a organizações sociais e/ou comunitárias, preferentemente líderes, que são contatadas mediante parcerias. Participaram mulheres do Sindica-to dos Trabalhadores Domésticos, trabalhadoras da Feira de São Joaquim e líderes feministas vinculadas a entidades de raça e classe. Artistas e pro-gramadoras, também, participam de oficinas, tais como a de Interatividade com o software PureData. Ao mesmo tempo, trabalhamos com funcioná-rias e estudantes da comunidade universitária, fortalecendo e inserindo no contexto universitário o uso do software livre.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
113
Conclusões
A proposta de nosso laboratório é ser um lugar de aprendizagem crítica, tanto despertando para uma visão consciente da tecnologia quanto do pa-pel da mulher neste cenário. Pretendemos proporcionar a criação coletiva, produção artística e usos da tecnologia com o intuito de uma transformação sociopolítica e de um empoderamento de grupos minoritários. O projeto é o único em seu gênero na Faculdade (e na Universidade), pois usa software livre e é orientado às mulheres. O software livre gera, ainda, algumas resis-tências entre os docentes e discentes que usam os equipamentos, seja por desconhecimento ou por que o mercado de softwares proprietários domina as expectativas e interesses de alunas ansiosas pelo ingresso no campo la-boral, traço mais forte no caso do campo da comunicação. Na comunidade universitária baiana não há uma percepção do que o código aberto significa política e educativamente.
Por outro lado, o fato de que as oficinas são dirigidas a mulheres tam-bém tem gerado alguns comentários ásperos ou irônicos de alunos e algum docente. Contudo, em quase dois anos de trabalho e perante os resultados obtidos, o desafio, agora, é institucionalizar o projeto para que se converta num espaço permanente de práticas de cultura digital livre no seio da ins-tituição educativa.
Referências
AMADEU, S. Inclusão digital, software libre e globalização contra-hege-mônica. Software Livre Brasil. 2011. Disponível em: <http://www.softwa-relivre.gov.br/artigos/artigo_02>. Acesso em: 15/12/2011
AGUSTINI, G. RedeLabs, Medialabs, Access Space: reflexão sobre a mul-tiplicidade de definições. 2010. Disponível em: <http://culturadigital.br/blog/2010/06/07/redelabs-medialabs-access-space-reflexao-sobre-a-mul-tiplicidade-de-definicoes/>. Acesso em: 01 out. 2010.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
114
AMOROS, C.; MIGUEL, A. (Eds.). Teoría feminista. De la Ilustración a la globalización. Madri: eds. Minerva, 2005.
CASTAÑO, C. La Segunda Brecha Digital. Madri: Cátedra/PUV, 2008. Disponível em: <http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1567>. Acesso em: 10/11/2011
DEMETRIO, A. “Falta mulher”. Folha de S.Paulo: Suplemento Tec, São Paulo, p. f.1-f.8, 16 março 2011. Disponível em: <http://www.labdebug.net>. Acesso em: 15/11/11
HARAWAY, D. Um manifesto para os Cyborgs: ciência, tecnologia e feminis-mo socialista na década de 80. In: HOLLANDA, H. B. (Org.). Tendências e Impasses. O feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
LARA, T. ¿NATIVOS DIGITALES? = ¿COMPETENTES DIGITALES?. [s.n.], 2008. Disponível em: <http://tiscar.com/2008/10/30/nativos-digita-les-competentes-digitales>. Acesso em: 14/12/2008
NATANSOHN, L. G.; BRUNET, K. S. No mundo da tecnologia há uma brecha digital de gênero, raça e classe. Folha de S.Paulo: Suplemento Tec, São Paulo, p. f.1-f.8, 16 março 2011. Disponível em: <http://www.labde-bug.net>. Acesso em: 14/06/2011
NATANSOHN, L. G.; BRUNET, K. S. Ciberespacio y Mujeres, una tierra en transe. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, v. VI, p. 170-181, 2010. Disponível em: <http://www.labdebug.net>. Acesso em: 20/11/2011
NACIONES UNIDAS, Consejo Económico y Social. Comisión de la Condi-ción Jurídica y Social de la Mujer. 55° período de sesiones. Disponível em: <http://www.unwomen.org/es/how-we-work/csw/>. Acesso em: março, 2011.
NEUMAN, M. I. de S. La apropiación tecnológica como práctica de re-sistencia y negociación en la globalización In: IX congresso de ALAIC. 2008, Monterrei. Disponível em: <http://www.alaic.net/alaic30/ponen-cias2.html>. Acesso em: 11/11/2011
PLANT, S. Zeros + Ones: Digital Women and the New Technoculture. Londres: Fourth Estate, 1997.
SCHWARTZ, J. et al. Mulheres na informática: quais foram as pioneiras? Cadernos Pagu, Campinas: Núcleo de Estudos de Gênero, Unicamp, n. 27, p. 255-278, jul./dez., 2006.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
115
SHAPIRO, F. R. Etymology of the Computer Bug: History and Folklore. American Speech. [S.I.], v. 62, n. 4, p. 376-378, 1987.
TURKLE, S. “Constructions and Reconstructions of the Self in Virtual Re-ality”. In: TIMOTHY D. (Ed.). Electronic Culture: technology and visual representation. Detroit: Aperture, p. 354-365, 1996.
WAJCMAN, J. El tecnofeminismo. Madri: Cátedra, 2006.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
117
Gênero, tecnologia e envelhecimento: compartilhando experiências e reflexões
Wilson José Alves PedroUniversidade Federal de São Carlos
A vida boa, a vida feliz, é também a aptidão para assumir criati-vamente o sofrimento pessoal como dimensão intrínseca da pró-pria vida. É, igualmente, disposição para apreciar e acompanhar a aflição dos outros com solidariedade e ternura. Mas a vida boa é, também esforço para superar o sofrimento injusto e evitar o sofri-mento desnecessário. (Otto Maduro, Mapas para a Festa. Reflexões latino-americanas sobre a crise e o conhecimento)
Perscrutar as temáticas – gênero, tecnologia e envelhecimento – é um exercício complexo que tenho feito há algum tempo e que na presente re-flexão é mais uma vez desafiada. Se, por um lado no percurso da minha formação acadêmica, as incursões e investigações em meus estudos pós-graduados junto ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social na PUC/SP, realizei estudos sobre identidade e gênero (PEDRO, 1997, 2002), priorizando a compreensão do processo de construção da identidade masculina, em uma perspectiva interacionista e intergeracional, por outro, a problemática acadêmica da tecnologia desponta mais enfatica-mente, em 2007, por ocasião da minha vinculação como docente na cria-ção do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) da Universidade Federal de São Carlos.
No âmbito do CTS, um campo interdisciplinar de estudos e pesquisas, a minha prioridade tem sido a realização de estudos visando compreender e analisar criticamente as dimensões sociais da Ciência e da Tecnologia, conforme aponta Von Lisingen:
[...] no campo da pesquisa, como alternativa à reflexão acadêmica tradicional sobre a ciência e a tecnologia, promovendo uma nova visão não-essencialista e socialmente contextualizada da atividade
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
118
científica; no campo das políticas públicas, defendendo a regulação social da ciência e da tecnologia, promovendo a criação de mecanis-mos democráticos facilitadores da abertura dos processos de tomada de decisão das questões político-científicas; e, no campo da educa-ção, promovendo a introdução de programas e disciplinas CTS no ensino médio e universitário, referidos á nova imagem da ciência e da tecnologia. (2007, p.4).
É neste contexto que alguns estudos se consolidaram sobre as dimensões intersubjetivas e sociais na Ciência e Tecnologia (PEDRO; OGATA, 2008); a inovação em saúde (OGATA; PEDRO, 2008); as Teorias de Identidade e Representações Sociais (ALVES OGATA; PEDRO, 2009); a gestão por com-petências no setor público (PERSEGUINO; PEDRO, 2010); e a gestão da par-ceria público-privada (SILVA; PEDRO, 2011). Em seu conjunto, os estudos refletem as interfaces ciência-tecnologia, com aportes interacionistas.
Neste percurso, em 2009, um novo projeto se consolidou, quando in-gressei como professor adjunto no Curso de Graduação em Gerontologia do Departamento de Enfermagem, da mesma Universidade. Portanto, um novo empreendimento acadêmico que exigiu uma revisão criteriosa da mi-nha produção científica, bem como focos e prioridades para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de modo indissociável. Uma etapa impor-tantíssima que exigiu sintonia, flexibilidade e muitos ajustes.
O que ora é um dos primeiros produtos desta nova etapa acadêmica. Uma sistematização integrativa e reflexiva de minhas prioridades no cam-po estudos sobre o envelhecimento humano. Conforme já apontei: um desafio interdisciplinar que precisa ser compartilhado para que cautelosa-mente possa avançar.
O tema que proponho discorrer– gênero, tecnologias e envelhecimen-to – é um tema complexo e que recentemente venho articulando. Daí a proposta – compartilhar experiências e reflexões. É de fato um ponto de partida, de ações que têm sido vivenciadas, e está em pleno processo. Não se tem a pretensão de esgotá-lo, nem de apontar indicadores conclusivos. São reflexões que se esboçam para o diálogo necessário em campos inter-disciplinares, com foco prioritário na saúde da pessoa idosa.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
119
O texto está estruturado com algumas considerações sobre a pro-blemática do envelhecimento e nela se aponta a questão do gênero, em especial a feminização da velhice. Relata-se a seguir uma estratégia de enfrentamento dos novos desafios dos processos de envelhecimen-tos através da extensão universitária. Assim procura-se sistematizar respostas à pergunta: como estreitar as relações e aprimorar as inte-rações universidade-sociedade, para que uma problemática tão com-plexa como gênero-envelhecimento, não seja apenas uma preocupação acadêmica? E visando resignificar estas práticas, apresentam-se final-mente, algumas considerações sobre a problemática da tecnologia em saúde, visando (re)significar as proposições no âmbito do campo CTS e da Gerontologia.
A problemática do envelhecimento e a questão gênero: breves considerações
O envelhecimento é um fenômeno “natural, irreversível e mundial” (BRASIL, 2010, p. 11). É definido como “a mudança na estrutura etária da população, o que produz um aumento do peso relativo das pessoas acima de determinada idade, considerada como definidora da velhice” (BRASIL, 2010). De acordo com legislação internacional, nos países em desenvol-vimento, como é o caso do Brasil, a pessoa idosa possui 60 anos ou mais; enquanto 65 anos é a idade para os países desenvolvidos.
No Brasil, a população idosa tem crescido rápida e proporcionalmente. Aproximadamente 20 milhões de pessoas idosas vivem hoje no Brasil (o que representa pelo menos 10% da população brasileira), de acordo com dados do IBGE (2011). As projeções para o ano 2025 são de cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade.
Esse aumento significativo do número de pessoas idosas, a ampliação da expectativa de vida, a prevenção de doenças crônicas e degenerativas, as mudanças no mundo do trabalho e nas políticas públicas e sociais, bem como os novos arranjos familiares desafiam-nos continuamente.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
120
E neste contexto, o emergente campo da Gerontologia tem requeri-do esforços concomitantes e complementares, no exercício do diálogo interdisciplinar e na construção das especificidades de atuação na área do envelhecimento (em meu trabalho, especialmente para o Bacharel em Gerontologia).
Com Maddox (1987), Johnson (1997) e Néri (2008) corrobora-se a compreensão de que a Gerontologia é um campo multi e interdisciplinar que visa à descrição e à explicação das mudanças típicas do processo de envelhecimento e de seus determinantes genéticos-biológicos, psicoló-gicos e socioculturais. Interessa-se também pelo estudo das característi-cas dos idosos, bem como pelas várias experiências de velhice e enve-lhecimento ocorridas em diferentes contextos socioculturais e históricos. Abrange aspectos do envelhecimento normal e patológico. Compreende a consideração dos níveis atuais de desenvolvimento e do potencial para o desenvolvimento (MADDOX, 1987 apud NÉRI, 2005, p.194). Completa ainda a delimitação do campo com a tese de que “a gerontologia é o estu-do do envelhecimento como um processo biológico, psicológico e social, sobretudo porque cria problemas para pessoas idosas” (JOHNSON, 1997, p. 116), e para os contextos nos quais os idosos estão inseridos. Uma pre-ocupação que permeou o século XX, adentrando no século XXI, sobre os processos de envelhecimento humano, tanto na perspectiva da transição demográfica, quanto pelas novas demandas de recursos humanos para atu-arem na Gerontologia, tendo velhice como tema-problema – científico e político – de estudos e intervenções no mundo contemporâneo.
Não se pode perder de vista as dimensões jurídicas e políticas da pro-blemática do envelhecimento. No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade brasileira na Constituição Federal Cidadã de 1988 e reafirmado com a criação do SUS (Sistema Único de Saúde), por meio das Leis Orgânicas de Saúde (8.080/90 e 8.142/90).
Em sentido amplo, as políticas de saúde brasileiras têm por objetivo “assegurar a atenção a toda população, por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo a integralidade da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidade de saúde da popu-
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
121
lação e dos indivíduos” (BRASIL, 2010, p. 19). Apresenta-se a seguir uma breve contextualização dos avanços da legislação brasileira.
Em 1994 foi promulgada a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) e regulamentada pelo Decreto-Lei 1.948/96. Esta política assegurou os direi-tos sociais à pessoa idosa, criando condições de promover sua autonomia, integração e a participação efetiva na sociedade brasileira, reafirmando os diversos níveis de atendimento SUS.
É no ano de 1999 que a Portaria Ministerial n.1.395/99 estabelece a Política Nacional de Saúde do Idoso, na qual determina que os órgãos do Ministério da Saúde, relacionados ao tema promovam a adequação de planos, projetos e ações de acordo com diretrizes e responsabilida-des nela estabelecidas. Pela Portaria GM/MS n. 702/2002 foi proposta a organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso, tendo como base a condição de gestão e a divisão de respon-sabilidades, definidas pelo NOAS (Norma Operacional de Assistência à Saúde). Neste contexto, como parte da operacionalização das redes são criados critérios para cadastramento dos Centros de Referência de Aten-ção à Saúde do Idoso.
No ano de 2003, através da Lei 10.741, uma das maiores conquistas so-ciais da população idosa e também da população brasileira em processo de envelhecimento, é sancionado o que se denomina Estatuto do Idoso. Neste, a garantia da atenção de forma integral e em todos os níveis de atenção é disciplinada, referendando o papel do SUS.
Mas é na Portaria n. 2.528/2006 que a Política Nacional de Saúde da Pes-soa Idosa é aprovada, trazendo luzes ao novo paradigma de atenção à saúde. Esta afirma ser “[...] indispensável a condição funcional ao serem formula-das políticas de atenção à saúde da pessoa idosa, considerando que existem pessoas idosas independentes e uma parcela da população mais frágil e as ações devem ser pautadas de acordo com estas especificidades”. Também faz parte dessa política a promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável conforme recomenda a Organização das Nações Unidas, desde o início do século XXI. Em 2009, a Coordenação da Política Nacional do Idoso passa a ser de responsabilidade da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
122
Apesar dos avanços da legislação brasileira, certamente muito se tem que caminhar no cotidiano da sociedade brasileira, quando o as-sunto é envelhecimento. Muitos são os problemas. Dentre eles desta-cam-se os mitos contidos na problemática do envelhecimento, objeto de reflexão promovida pela Organização das Nações Unidas, no ano de 1999 – por ocasião do Ano Internacional do Idoso – em especial nos aspectos socioculturais: a) heterogeneidade e diversidade da velhice (devido à diversidade de estilos de vida, oportunidades educacionais, situação econômica, expectativas e papéis sociais, aspectos psicosso-ciais; b) participação social e econômica das pessoas em processo de envelhecimento; c) diversidade histórico-cultural (raça-etnia, coortes, classes sociais, gênero e afins).
Neste contexto, a problemática de gênero emerge. Tem sido recorrente o uso do termo feminização da velhice, cujos argumentos se dão pelas te-ses: a) maior presença relativa de mulheres na população idosa; b) maior longevidade das mulheres em comparação com os homens; c) crescimento relativo do número de mulheres que fazem parte da população economica-mente ativa; d) crescimento relativo de mulheres que são chefes de família. (NERI, 2008, p.87-88).
Em Johnson (1997) a concepção de gênero é explicitada, pois o
uso da palavra gênero tem uma longa história de usos diferentes, seu significado sociológico refere-se a idéias culturais que constro-em imagens e expectativas de machos e fêmeas. Esse fato distingue gênero de sexo, cujo escopo se limita a diferenças biológicas (...). O gênero é em geral definido em torno de idéias sobre trações de personalidade masculina e feminina, e por tendências de comporta-mento que assumem formas opostas.
Segundo Scott (1995), gênero tem duas partes e diversos conjuntos inter-relacionados que devem ser analiticamente diferenciados, afirmando que o núcleo da definição repousa em uma conexão integral:
(1) gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos; (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. As mudanças nas re-
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
123
lações sociais correspondem sempre a mudanças nas representações de poder, mas a mudança não é unilateral. (SCOTT, 1995, p.86).
Quando se remete a questão de gênero à problemática do envelheci-mento, abre-se um rol de perspectivas de análises: nas relações e interações sociais, nas diferenças percebidas, nas relações de poder e em inúmeras dimensões. O fenômeno da feminização da velhice pelos aspectos sociode-mográficos apontados e pelos indicadores sociais e de saúde, em especial as dimensões da morbimortalidade referendam a importância de sua priori-dade em estudos, pesquisas e intervenções. Este recorte particular tem nos mobilizado e instigado. Mas como avançar?
Extensão universitária: interfaces com ensino e pesquisa
Em sintonia com as preocupações sobre o envelhecimento, um conjun-to de atividades tem sido desenvolvido; visando a ações de ensino, pesqui-sa e extensão junto do Depto. de Enfermagem – Curso de Graduação em Gerontologia na Universidade Federal de São Carlos.
Das diversas frentes, a nossa opção preferencial tem sido o envelheci-mento ativo e saudável. Esta deve ser também priorizada nas políticas e prá-ticas de saúde, especialmente ao nível local e regional; visando a participa-ção social, a promoção da saúde e a segurança da população que envelhece.
Estratégias de promoção do envelhecimento ativo e saudável, em nosso entender, devem ser priorizadas e consolidadas apontando as múltiplas pos-sibilidades de envelhecer e, por extensão, o fortalecimento do campo Geron-tologia, ciência e profissão. Faz-se necessário engajamento para a produção de conhecimento teórico-prático sobre a(s) diversidade(s) da(s) velhice(s), e possíveis estratégias de enfrentamento individuais e coletivas, visando à ga-rantia dos direitos fundamentais e a dignidade pessoa humana, assegurando àqueles que envelhecem oportunidades e facilidades “para a preservação da saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade” (BRASIL, 2003, p. 15).
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
124
No final do ano de 2009 e meados de 2010 realizou-se a proposição de um Programa de Extensão denominado Gerontologia: Gestão da Velhice Saudável, junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar, e uma vez reco-mendado, iniciaram-se as atividades. O eixo norteador é a promoção e a integração das atividades de ensino e pesquisa através da extensão univer-sitária. O foco priorizado neste Programa é o apoio a iniciativas e metas de promoção do envelhecimento ativo e saudável (em nível local, regional, nacional e oxalá internacional).
Esse Programa tem por objetivos: a) constituir e firmar rede acadêmica interdisciplinar no âmbito da Gerontologia; b) desenvolver atividades de ex-tensão interdisciplinares e integradas na promoção do envelhecimento ativo e saudável; c) divulgar conhecimentos e práticas científicos e tecnológicos no âmbito de Gestão da Velhice Saudável; d) atuar na formação de recursos humanos pró-envelhecimento ativo e saudável; e) mobilizar e articular a co-munidade acadêmica e demais interessados através de redes sociais.
Prioritariamente o público-alvo deste programa são pessoas da comu-nidade que estejam vivenciando e/ou compartilhando o processo de en-velhecimento e desejam (re)significar e compartilhar conhecimentos e aprendizagem sobre etapa do ciclo da vida. A extensão é uma estratégia de disseminação de conhecimentos e integração de pesquisadores e es-tudantes, com os profissionais das diversas áreas do conhecimento e da comunidade. Neste caso particular visa-se uma melhor compreensão da multideterminação deste processo e buscam-se subsídios para suas ações profissionais, ou seja, compreender e agir.
Os temas priorizados nas atividades remetem às principais demandas do envelhecimento ativo e saudável; as estratégias e o compartilhamento de experiências e práticas.
Diversas atividades estão em processo de desenvolvimento através de parcerias com órgãos públicos e privados. Dentre as instituições partici-pantes destaca-se a Fundação Educacional de São Carlos (FESC), através de parcerias com a Universidade Aberta da Terceira Idade, Programa de Inclusão Digital, UniTrabalhador, Empreendedorismo e Trabalho Volun-tário, dentre outros Programas e Projetos afins; o Departamento Regional
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
125
de Saúde de Araraquara (DRS III), as Secretarias Municipais da região e instituições afins parceiras. Estas atividades, em função da natureza das demandas das organizações parceiras, visam o diagnóstico e apoio para a resolutividade de aspectos da gestão no contexto gerontológico; a capaci-tação de profissionais e usuários através de palestras, workshops e oficinas. Uma das principais estratégias que temos utilizado é a construção de Plano Integrado de Gestão. É desenvolvido a partir de um diagnóstico situacio-nal. Entende-se por Plano Integrado de Gestão
um dos produtos de um amplo processo de análises e acordo; ele documenta e enuncia as conclusões destes acordos, indicando para onde queremos conduzir o sistema (objetivos gerais e estratégicos) e como pretendemos agir para que as nossas metas sejam alcançadas (estratégias e objetivos específicos ou de processos). Em verdade, o plano deveria ser encarado como uma peça de vida efêmera – um processo de planejamento em si, é que deve ser permanente – por-que rapidamente vai perdendo sua atualidade face ao desenrolar da realidade (TANCREDI; COLS, 1998, p. 6).
Sintonizado com a problemática norteadora desta reflexão “como es-treitar as relações e aprimorar as interações universidade-sociedade, para que uma problemática tão complexa como envelhecimento-gênero-tecno-logia (em sua diversidade); não seja apenas uma preocupação acadêmica”; tem-se constatado o potencial que as atividades de extensão representam para o engajamento dos docentes nas demandas mais amplas e estudantes se engajem cada vez mais nos cenários de prática, promovendo aproxima-ções intersetoriais (saúde, educação, trabalho e afins) e reflexões interdis-ciplinares, no percurso de sua formação.
Vamos nos dedicar a seguir a descrever e analisar uma das atividades de extensão denominada GEROCINE: uma análise compreensiva do pro-cesso de envelhecimento humano sob o espectro do cinema, que nos tem potencializado reflexões acadêmicas, técnicas e políticas, e que nos subsi-dia para avanços na presente reflexão.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
126
Gerocine: aportes teóricos e metodológicos
O GEROCINE é uma atividade de extensão que visa promover a aná-lise e discussão, compreensiva e crítica sobre os processos de envelheci-mento humano. O nome nasce da integração de duas expressões – GÉRÕN + CINE (do grego, gérõn– velho + do português, abreviatura da palavra cinema, cine.)
De acordo com Oliveira e Cols (1998), “apesar da velhice não ocupar um espaço central na temática cinematográfica, são inúmeros os filmes que geram, em luz e sombra, múltiplas imagens do envelhecimento humano, propiciando uma possibilidade a mais de entender a velhice e de compre-ender sua influência cultural na produção cinematográfica” (2007, p. 158). Pode-se constatar a existência de uma grande produção nacional e interna-cional que retrata a multiplicidade dos processos de envelhecimento, que pode e deve ser objeto de diálogo e estudo, pois retrata as representações e o imaginário da velhice, matéria-prima dos profissionais e pesquisadores da área da Gerontologia e tema de interesse relevante para as pessoas em processo de envelhecimento.
Neste sentido, pode-se considerar o filme, ou até mesmo uma cena de um filme; um objeto intermediário, um recurso facilitador ou disparador de conteúdos objetivos e intersubjetivos para acessar uma problemática e desencadear uma reflexão e/ou um diálogo. Nossa experiência docente tem constatado empiricamente esta prática e a literatura corrobora (Cukier, 2002; Gusmão, 2005; Oliveira e Cols, 2007; Loizos, 2008; Duarte, 2009; Fernandes e Siqueira, 2010; Cesar e Cols, 2011).
Assim, o GEROCINE tem por objetivos específicos a realização da exibi-ção e debates de filmes (ou cenas) que reflitam o processo de envelhecimento humano, visando oportunizar a sensibilização, a reflexão e o diálogo entre os participantes. Como pré-requisito para o exercício da facilitação da ativi-dade do GEROCINE, tem-se priorizado habilidades e competências para a facilitação de pequenos grupos (BALLESTERO-ALVAREZ, 2002) e conhe-cimentos interdisciplinares sobre a diversidade dos processos de envelheci-mento. Destaca-se ainda que, pelas estratégias de processo grupal adotadas
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
127
no GEROCINE, é preciso flexibilidade no manejo de pequenos grupos e espírito investigativo para possíveis demandas emergentes, recomendando-se no mínimo uma dupla de facilitadores e uma dupla de apoiadores.
Os locais de realização das atividades são identificados a partir de de-mandas e/ou convites. Os encontros devem ocorrer quinzenalmente e os participantes são convidados. Os locais e equipamentos utilizados para a exibição devem apresentar uma qualidade adequada segundo a avaliação dos organizadores. O tempo médio estimado para cada encontro é de aproximadamente duas horas. O grupo recomendável é de no máximo vinte participantes.
Mediante o planejamento da equipe do projeto e da organização parcei-ra, escolhe-se um filme e seleciona-se a estratégia: cenas de acordo com as características da demanda ou filme na íntegra? O envolvimento e a escuta dos envolvidos no processo de trabalho são imprescindíveis.
Priorizando técnicas de grupo focal (MORGAN, 1998), as etapas dos encontros podem ser sistematizadas: a) etapa inicial de integração e sensi-bilização do encontro com breve exposição da temática; b) exibições par-ciais e/ou integrais de filmes e/ou cenas pré-selecionadas; c) compartilha-mento das compreensões, percepções, dúvidas e perspectivas do conteúdo apresentado; d) escolha coletiva de temas ou aspectos emergentes para o debate; e) debate entre os participantes com a mediação dos facilitadores; f) compartilhamentos finais e finalização do encontro.
Em caráter experimental foram realizados 10 encontros (entre 2009-2011). Através destes foi possível uma avaliação qualitativa inicial. Os temas priorizados pelos participantes foram: desenvolvimento humano, trabalho, amor, afetividade e sexualidade, memória, família, morte, den-tre outros. Identifica-se ainda queixas de carência de espaços dialógicos e reflexivos. Demandas por estratégias interventivas também foram identifi-cadas a partir das devolutivas dos participantes.
Nos encontros realizados a temática das relações de gênero não foi objeto específico de discussão. Entretanto, constataram-se algumas evidências que merecem destaque e pretende-se explorar em ativida-des futuras: a) predomínio da participação de mulheres em pequenos
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
128
grupos; b) presença e participação masculina em todas as atividades realizadas; c) grande interesse pelas distintas percepções masculina e feminina das temáticas emergentes, com visões distintas e complemen-tares; d) avaliação favorável da atividade; e) expectativas de novos encontros foram manifestadas.
O processo de trabalho do GEROCINE tem sido planejado e monitora-do, com a participação de uma bolsista-extensão e voluntários, constituin-do-se um pequeno grupo de apoiadores e facilitadores, que periodicamente se reúne e busca alternativas para as atividades.
E neste sentido, propõe-se avançar, inserindo-se uma nova reflexão que poderá trazer luzes à práxis e proposições do GEROCINE. Indiscutivel-mente, para a organização, planejamento e monitoramento da atividade, utiliza-se de várias tecnologias (os recursos para a projeção dos filmes ca-racterizam um excelente objeto de estudo). Mas pode-se afirmar que o GE-ROCINE é uma Tecnologia em Saúde? Trata-se de uma reflexão nova, que propõe caracterizar e integrar esta proposta, (re)significando-a e trazendo novos elementos e contribuições para que haja uma maior aderência ao campo científico que nos vinculamos.
Observa-se que não se pode perder de vista que a promoção à saúde do idoso inclui um conjunto de diretrizes, que se identifica no conjunto da presente atividade de extensão e nela explicita-se a aderência. Destacam-se algumas diretrizes: promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; estimulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; estimulo à participação e fortalecimen-to do controle social; formação e educação permanente dos profissionais de saúde e afins (BRASIL, 2010, p. 24). A concepção de saúde que aqui se reafirma é da “saúde ampliada”.
Recorrendo ao desenvolvimento histórico do conceito de Tecnologia em Saúde, segundo Schrailer, Mota e Nunes (2009), é a partir da década de 1980 do século passado, que as abordagens se desenvolvem sob a perspectiva da “tecnologia em saúde” e “tecnologia de processo”, res-pectivamente, equipamentos e medicamentos (conceitos de tecnologias de produto) e procedimentos.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
129
A tecnologia em saúde, como toda produção humana deve ser com-preendida no contexto das relações sócio-históricas. Diversas abordagens estudadas apontam nesta direção. De acordo com BRASIL (2011), a tecno-logia pode ser definida de forma simples e genérica como “conhecimento aplicado”. No caso da saúde, a tecnologia “é conhecimento aplicado que permite a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças, e a reabili-tação de suas consequências” (BRASIL, 2011, p. 52).
De acordo com o Escritório de Avaliação Tecnológica do Congresso Americano, tecnologias médicas são todos “os medicamentos, equipamen-tos e procedimentos médico-cirúrgicos usados no cuidado médico, bem como os problemas organizacionais e de apoio mediante os quais esse cui-dado é dispensado” (BRASIL apud OTA, 1978, p. 7). Mas é na Portaria GM/MS n. 2.510/2005 que temos um conceito mais aderente à realidade brasileira. Nela as Tecnologias em Saúde são amplamente conceituadas como os “medicamentos, materiais, procedimentos, sistemas organizacio-nais, informacionais, educacionais e de suporte e os programas e protoco-los assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados de saúde são prestados”. (BRASIL, 2005). Assim, para além das dimensões objetivas e materiais, as tecnologias em saúde podem ser apreendidas e conceituadas.
À luz da taxonomia proposta por Merhy (2003), avançamos na pro-blematização da atividade GEROCINE. Para Merhy “as tecnologias em saúde que produzem o cuidado são configuradas a partir do arranjo entre as dimensões materiais e não materiais do fazer em saúde”. Estas dimensões se expressam em terrenos tecnológicos denominados: tecnologias leves – os modos relacionados de agir na produção de vínculo, autonomização, acolhimento e gestão de atos de saúde; tecnologia leve-dura, que se refere aos saberes já estruturados – clínica médica clinica psicanalítica, epide-miologia, tecnológicos, clínicos e epidemiológicos; e tecnologia dura, que se refere a equipamentos, máquinas, normas e estruturas organizacionais.
Assim, o que aqui se propõe é problematizar: a atividade do GERO-CINE pode ser conceituada como uma Tecnologia em Saúde? Atrelada às diretrizes de promoção de saúde da pessoa idosa, muito pode contribuir nas interfaces da problemática em estudo: gênero-tecnologia-envelhecimento.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
130
Mas como se apontou, este é um novo recorte, um novo marco do GE-ROCINE. Certamente é preciso transcender aos esforços para além da ex-tensão universitária. Assim, é preciso compreender para agir. Como resig-nificar a Atividade GEROCINE? Como alinhar às diretrizes maiores de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e ao campo do Envelhecimento? O que fazer? Por onde conduzir?
Considerações Finais
Ao longo do presente texto o principal objetivo foi caracterizar a com-plexidade das preocupações e das ações contidas no campo de estudo dos processos de envelhecimento. Amplia-se ainda mais a complexidade da problemática quando se integra gênero-tecnologia-envelhecimento. Esta é uma gestalt. Defende-se aqui que, dependendo do contexto e da emergência de cada um dos elementos, pode-se alternar na composição figura-fundo.
Compreender as novas ações no âmbito da saúde requer novos repertó-rios e novas possibilidades. O interesse e o envolvimento dos participantes em atividades de extensão como a que ora se relata potencializam novas ações que transcendem aos participantes dos encontros, e demandam a qualificação de profissionais, parcerias interdepartamentais e interinstitu-cionais, bem como o desenvolvimento de novas estratégias interdisciplina-res para a produção e disseminação do saber gerontológico.
É fundamental priorizar o desenvolvimento de tecnologias para apri-morar as intervenções junto às pessoas em processo de envelhecimento – individual e coletivamente. A diversidade das problemáticas das relações de gênero, classe social, raça/etnia e aspectos afins, visando à compreen-são e às ações sobre as demandas emergentes, desafia continuamente. É emergencial, portanto, a integração dos saberes científico e tecnológico. Daí a contribuição do campo CTS. Na Universidade, a integração ensino-pesquisa-extensão é um grande desafio e, para tanto, deve-se considerar a
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
131
complexidade das demandas e especificidades da saúde da pessoa idosa na realidade brasileira.
Referências
ALVES, A. P. M.; OGATA, M. N.; PEDRO, W. J. A. Breve análise de pe-riódicos da área de Ciências da Informação sobre as Teorias de Identidade e Representações Sociais. Revista Uniara. Araraquara: UNIARA, v.12, n. 2, p. 243-260, dez, 2009.
BALLESTERO-ALVAREZ, M. E. Mutatis Mutandis. Dinâmicas de grupo para o desenvolvimento humano. Campinas: Papirus, 2002. v. 2.
BRASIL. Ciência e Tecnologia em Saúde. Conselho Nacional de Secretá-rios de Saúde. Brasília: CONASS, 2011.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 6 set. 2011.
BRASIL. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Na-cional do Idoso e dá outras providências. Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Diário Oficial da União, 5 jan. 1994.
BRASIL. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003. Diário Oficial da União, 3 out. 2003.
BRASIL. Lei Orgânica da Saúde. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Diário Oficial da União, 19 set. 1990.
BRASIL. Lei Orgânica da Saúde. Lei n. 8.142, de 28 de setembro de 1990. Diário Oficial da União, 28 dez. 1990.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM n. 1.395, de 10 de dezem-bro de 1999. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 13 dez. 1999.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM n. 702 de 12 de abril de 2002. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 abr. 2002.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
132
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 2.510, de 19 de dezem-bro de 2005. CPGT.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM n. 2528, de 19 de outubro de 2006. PNSI. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 out. 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Enve-lhecimento. Brasília: Série Pactos pela Saúde 2006, v. 12, 2010.
CUCKIER, R. Palavras de Jacob Levy Moreno. São Paulo: Ágora, 2002.
DUARTE, R. Cinema & Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
ESAR, P. H. N.; GOMES, A. P.; SIQUEIRA-BATISTA, R. O cinema e a educação bioética no curso de graduação em Medicina. Revista Brasi-leira de Educação Médica. Rio de Janeiro, v. 34, n. 1, p. 93-101, jan./mar., 2011.
FERNANDES, W. R.; SIQUEIRA, V. H. F. de. O cinema como pedagogia cultural: significações por mulheres idosas. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v. 18, n. 1, p. 101-120, jan./abr., 2010.
GUSMÃO, N. M. M. de. Cinema, Velhice e Cultura. Campinas: Alínea, 2005.
JOHNSON, A. G. Dicionário de Sociologia. Guia prático da Linguagem Jurídica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, p. 305-306, 1997.
LOIZOS, P. Vídeo, filme e fotografias como documentos de pesquisa. In: BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual prático. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
MADDOX, G. L. The encyclopedia of aging. Nova Yorque: Spring, 1987.
MERHY, E. E. Um dos grandes desafios para os gestores do SUS: apostar em novos modos de fabricar os modelos de atenção. In: MERHY, E. E. et al. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. São Paulo: HUCITEC, p. 15-35, 2003.
MORGAN, D. L. The focus group guidebook. Thousand Oaks: Sage, 1998.
NERI, A. L. Palavras-chave em Gerontologia. Campinas: Alínea, 2005.
OGATA, M. N.; PEDRO, W. J. A. Ciência, tecnologia e inovação em saú-de; um estudo de caso junto a profissionais de saúde. In: SOUZA, C. M. de;
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
133
HAYASHI, M. C. P. I. (Orgs.). Ciência, Tecnologia e Sociedade: enfoques teóricos e aplicados. São Carlos: Pedro & João, p. 267-289, 2008.
OLIVEIRA, M. L. C. de; OLIVEIRA, S. R. N.; IGUMA, L. T. O proces-so de viver nos filmes: velhice, sexualidade e memória em Copacabana. Texto & Contexto Enfermagem. Florianópolis, v 16 (1), p. 157-62, jan./mar., 2007.
PEDRO, W. J. A. Identidade Masculina. Uma abordagem psicossocial. 1997.173f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) - Pontifícia Uni-versidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo, 1997.
PEDRO, W. J. A. Metamorfoses masculinas. Significados objetivos e sub-jetivos. Uma reflexão psicossocial na perspectiva da identidade humana. 2002.243f. Tese (Doutorado em Psicologia Social) - Pontifícia Universida-de Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo, 2002.
PEDRO, W. J. A.; OGATA, M. N. Aportes teóricos e metodológicos para a compreensão das dimensões intersubjetivas e sociais na ciência e tec-nologia. In: HOFFMANN, W. A. M; FURNIVAL, A. C. Olhar. Ciência, Tecnologia e Sociedade. São Carlos: Pedro & João, p. 67-76, 2008.
PEDRO, W. J. A. A história de cada um, a história de todos nós. São Pau-lo: Livro Pronto Editora, 2011.
PERSEGUINO, S; PEDRO, W. J. A. Gestão por competências no setor públi-co: uma abordagem socialmente contextualizada. In: MIOTELLO, V.; HOFF-MANN, W. A. M. (Orgs.). Apontamentos de estudos sobre Ciência, Tecnolo-gia & Sociedade. São Carlos: Pedro & João Editores, p. 357-370, 2010.
SCHRAILER, L. B.; MOTA, A; NOVAES, H. M. D. Tecnologias em saú-de. In: PEREIRA, I. B.; LIMA, J. C. F. Dicionário da Educação Profissio-nal em Saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: EPSJV, p.382-391, 2009.
SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise história. Porto Alegre: Educação e Realidade, v. 20, n. 2, p. 71-99, jul./dez., 1995.
SILVA, M. C. da; PEDRO, W. J. A. O modelo de gestão de parceria públi-co-privada em hospitais na perspectiva do campo CTS. In: HOFFMANN, W. A. M.; MIOTELLO, V. Ciência, Tecnologia e Sociedade. Desafios da construção do conhecimento. São Carlos: Edufscar, p. 119-136, 2011.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
134
TANCREDI, F. B.; BARRIOS, S. R. L.; FERREIRA, R. H. G. Planeja-mento em Saúde. São Paulo: IDS, 1998.
VON LISINGEN, I. Perspectiva educacional CTS: aspectos de um campo em consolidação na América Latina. Revista ciência & Ensino, v. 1, n. especial, nov., 2007. Disponível em: <http.ige.unicamp.br/ojs/índex.php/cienciaeensino/article/view/150/108>. Acesso em: 9 set. 2011.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
137
Gênero e tecnologias em pulsações clariceanasAndré Luís Gomes
Universidade Nacional de Brasília
A arte torna visível(Klee)
Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é possível de fazer sentido. Eu não: quero é uma verdade inventada. (Clarice Lispector, ao Instante).
Em 2010, o grupo Teatro do Instante7 montou o espetáculo Pulsações,8 a partir da obra de Clarice Lispector e da imersão no universo literário da autora para dele extrair sentidos e sensações. Pautados pelas teorias de Bachelard,9 os integrantes do Instante estavam convencidos de que “quando se escreve, descobrem-se nas palavras sonoridades interiores” (2006, p. 49). Esse desvendar de “sonoridades interiores” e de sensações oníricas norteou o processo de interpretação literária e cênica de textos narrativos clariceanos. Da mesma forma que Clarice problematiza a au-toria e desestabiliza o sentido único do texto para dividir com o leitor o decifrar de pensamentos, o processo de concepção cênica de Pulsações levava sempre em consideração o espectador como leitor da escritura cênica e decodificador de imagens.
O processo de composição dramatúrgica e de montagem, coletivo e participativo, desenvolveu-se a partir de improvisações, concebidas a partir de trechos narrativos da autora, de jogos teatrais e de escritura cê-nica concebidas pelos integrantes do grupo. Enquanto processo, tanto as improvisações quanto as escrituras cênicas eram, geralmente, descons-
7 A formação e as atividades do grupo “Teatro do Instante” podem ser acessadas no site: www.teatrodoinstante.com.br8 O espetáculo foi selecionado pela mostra internacional Cena Contemporânea – 2011 e o grupo fez quatro apre-sentações nos dias 24 e 25deagosto.9 Refiro-me, principalmente, ao livro Poética do devaneio.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
138
truídas e reapresentadas com novas (re)leituras e olhares de outros inte-grantes. Fazer e refazer as cenas numa sempre construção participativa em busca de sentidos e visando provocar outras buscas. Neste sentido, a escrita de Clarice era explorada em seus vários sentidos e as palavras minuciosamente exploradas poética e intuitivamente. Era preciso, como afirma Clarice, ficar “instantes súbitos que trazem em si a própria morte e outros nascem –fix[ar] instantes de metamorfose e é de terrível beleza a sua sequência e concomitância.” (1973, p.15).
Esse processo integrava atores, atrizes, músicos e o programador de arte computacional culminando na montagem do espetáculo Pulsações, que estreou em outubro de 2010.
Relato analítico: gênero e tecnologias em pulsações
O espetáculo iniciava numa antessala em que o elenco recepcionava os espectadores. Logo de início, o espectador tinha seus olhos vendados e era convidado a adentrar o sonho-cênico quando um dos atores/das atrizes sus-surrava no seu ouvido a seguinte frase de Clarice: “Eu tinha resolvido que ia dormir para poder sonhar, estava com saudade das novidades do sonho.”
Saudade e sonho perpassavam a construção cênica e eram potencializados pelo aguçamento de sensações táteis, visuais, gustativas dos espectadores, uma vez que o elenco espalhava aromas pela sala; transferiam água de um pote para outro, reproduzindo o som de uma cascata; objetos, como penas e folhas secas, eram levemente tocados em partes do corpo do espectador, que era abanado e sentia uma leve ventania ao seu redor. Toda essa ambiência era ainda cons-truída por sons produzidos ao vivo pelos músicos, que se mantinham o tempo todo em cena. Após esse adentrar no mundo onírico construído, ao ser desven-dado, o espectador se deparava com um espelho que refletia seu próprio olhar, estabelecendo relações com outro de si mesmo. Com os olhos desvendados, o espectador se via em um nicho e percebia que existiam outros, pois um tecido leve e de certa transparência dividia o espaço e, novamente, outro convite era feito, agora, pelo ator que assumia seu nicho:
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
139
Dá-me a tua mão: Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei na-quilo que existe entre o número um e o número dois, de como vi a linha de mistério e fogo, e que é linha sub-reptícia. Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam existe um intervalo de espaço, existe um sentir que é entre o sentir - nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo que é a respiração do mundo, e a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. (LISPECTOR, 1999, p. 156).
O trecho-convite configurava-se como um culto iniciativo em que o espectador comungava com o que ali se estabelecia: colocar-se no “entre”, em um intervalo entre quatro nichos, mas de onde se podia observar e ouvir outras vozes. E esse convite ao “intervalo” era adensado pela iluminação e pelos tecidos que, devido à transparência, deixavam que os outros nichos fossem parcialmente visualizados e de onde se podia captar o silêncio e o gesto de outros atores. Essa ambiência era construída por variados elemen-tos cênicos – tecido, luz, sonoplastia – e pela, disposição translúcidas do atores, Alice Stefânia, Cristiano Gomes, Rachel Mendes e Raq Feitosa, e pelo ressoar de vozes, às vezes, próximas e outras, distanciadas.
Ainda nos nichos, tinham início cenas simultâneas de um “bobo” que distribuía cartas de tarô e criava um clima de um mistério-oracular, que levava os espectadores a refletirem sobre a condição do bobo e a diferença entre ele e os espertos. A partir dessa cena, a arte computacional passava a ser utilizada, contribuindo com a construção da ambientação, mas tam-bém propiciando um diálogo constante com a escritura cênica, enfatizan-do as relações entre arte, ciência e tecnologia. Carlos Praude, responsável pela arte computacional e operador de mídias, utiliza técnicas e práticas de engenharia de software, sobretudo a utilização do software livre, para construir uma dinâmica interativa entre as artes que se somavam ao longo do espetáculo. Na cena do “Bobo”, mandalas, dkyil-‘khor, eram projetadas nos tecidos que, devido à transparência, invadiam os outros nichos, que eram também invadidos por vozes, e cenas eram realizadas simultanea-mente. Como a mandala é o símbolo da totalidade, da integração e da har-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
140
monia, a simultaneidade e repetição de trechos do texto, brincavam com a própria condição de ser “bobo” e o ator distribuía cartas de tarô, que conti-nham frases da crônica clariceana, “Das vantagens de ser bobo”:
B: O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda cria-ção, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás não se importam que saibam que eles sabem. (1999, p.310).
Depois dessa cena, outro desvelar: abertas as cortinas que formavam os quatro nichos, a plateia, reduzida a 28 (vinte e oito) espectadores, se via em um espaço todo branco em que fragmentos de Lispector eram encenados. A ambientação branca era transmutada pelos efeitos da arte computacional e pela iluminação e as diversas temáticas clariceanas ganhavam adensamen-to em interpretações, concebidas a partir da poética do corpo e da voz.10
Uma das temáticas mais presentes na obra claricena é a feminina e essa temática foi construída cenicamente com a inclusão de trechosque, ao mesmo tempo, se contrastam pela densidade, como por exemplo “Objeto Gritante” e “Espelho Mágico”. Em “Objeto Gritante”, trecho retirado de Água Viva”,como a própria oração reduzida de gerúndio expressa, “Obje-to gritante” expõe o extremado modo angustiante de se ver continuamen-te enquanto mulher objeto, mas que, ao mesmo tempo se pergunta –“nas mãos de quem?”:
F: Há muito já sou gente. Quiseram que eu fosse um objeto. Sou um objeto sujo de sangue, sou um objeto que cria outros objetos e a máquina cria a nós todos.
B: Ela exige. O mecanismo exige e exige minha vida. Mas eu não obedeço totalmente: se tenho que ser um objeto, que seja um objeto que grita.
10 Sobre “poética do corpo e da voz”, ler o texto de Alice Stefânia disponível no site: www.teatrodoinstante.com.br (acessa do dia 24/09/2011).
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
141
G: Há uma coisa dentro de mim que dói e como grita pedindo socor-ro. Mas faltam as lágrimas na máquina que sou. Sou um objeto sem destino. Tal é o meu destino humano.
D: O que me salva é o grito. Eu protesto em nome do quê está dentro objeto do atrás do pensamento-sentimento. Sou um objeto urgente. Sou um objeto nas mãos de quem? (1973, p. 104).
Em “Espelho Mágico”,11 crônica publicada no Correio Feminino”, a condição de objeto é apresentada de forma leve, numa linguagem trivial e com certa ironia. A crônica fora desdobrada em falas entre duas persona-gens (A e B), construindo, portanto, um jogo de perguntas, mas que eram dirigidas, na sua grande maioria, aos espectadores. O texto resgata o conto infantil de “Branca de Neve” e evidencia a dualidade e a questão da alte-ridade em que o jogo de espelhamento se faz com o objeto-espelho, mas também com o outro, que reflete o outro:
A: Lembram-se da madrasta ruim? A verdade é que todo espelho tem sua magia. Não é só o espelho da madrasta de Branca de Neve que é mágico. Ela pegava no espelho – provavelmente um espelhi-nho de bolsa – e perguntava: Quem é mais bela do que eu?
B: E o espelho respondia. Como qualquer espelho. As respostas não são ruins, são informativas. É de você que depende o uso das informações.
A crônica tem ainda um tom crítico ao comportamento feminino e às im-posições mercadológicas e sociais. Neste sentido, o espelho pode ser compa-rado àquelas seções de revistas comerciais, que dão dica de como ficar mais bela e o espelho, portanto, passa a responder de acordo com as regras esté-ticas vigentes e as imposições das grifes e ao modelo midiático de beleza.
C: Mas, você não há de perguntar “quem é mais bela do que eu”. O melhor é perguntar ao espelho: “Como posso ficar mais bela do que eu?”
11 As crônicas publicadas no “Correio Feminino” foram reunidas por Aparecida Maria Nunes no livro homônimo, publicado pela Editora Rocco em 2006.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
142
A: E quais os ingredientes de um espelho mágico: Primeiro: um es-pelho propriamente dito, de preferência daqueles que cabe corpo in-teiro. Segundo: Você mesma diante do espelho. Terceiro: coragem.
B: Coragem?
A: Coragem pra se ver, em vez de se imaginar. Só depois de se en-xergar realmente, é que você poderá começar a se imaginar.
C: Mas é preciso lembrar: a imaginação só serve quando baseada na realidade. Seu “material de trabalho”, querida, é a realidade a respeito de você mesma.
Aproximando, portanto, dois trechos clariceanos em que a mulher é re-tratada e discutida de formas e intensidades diferentes, Pulsações expunha o modo peculiar de Clarice Lispector abordar a temática feminina.Neste sentido, Lúcia Helena resume com precisão a contribuição de Lispector:
“Com talento e empenho crítico, a narrativa de Lispector afasta-se da tradição patriarcal que informa o quadro conceitual de gender de que se tornam reclusas suas personagens (femininas e masculinas). Ela oferece uma importante contribuição à crítica do patriarcado e às mitologias do humanismo burguês. (...) sua narrativa processou a crítica da tecnologia degender que urdiu as imagens da terra-mãe e da mulher confinada aos limites do lar e da família, mas tam-bém confinada aos poderosos limites de sua própria incapacidade de descentrar-se dos símbolos internalizados. Ao desestabilizar os estereótipos de gender e as formas de articulação do poder, insta-lados pelo patriarcado, Lispector também desmantela as bases do essencialismo. Além disso, há em Lispector uma consciência imen-sa do papel do corpo na sociologia do mundo, expressa na invulgar articulação da figuração do corpo da mulher com o corpo-texto-em-expansão, tornando o corpo’a’screver (LLANSOL, 1997, p. 10) a cena do fulgor que consegue interferir no imaginário de gender da cultura patriarcal”. (HELENA,1997, p.106-107).
Ao pesado fragmento. “Objeto Gritante” e à leveza da crônica publicada no “Correio Feminino”, tem-se, ao longo do espetáculo, outra cena, que co-loca em evidência a mulher, sua condição na sociedade, suas necessidades
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
143
e desejos. Mas, em “Anúncio de jornal” há uma carga angustiante e certo humor que deixa o riso entre os dentes, pois a solidão esboça outra mulher: aquela que assume suas carências e se oferece, consciente do papel de objeto nos classificados de um jornal. Em crônica cujo título, “Precisa-se”, eviden-cia as necessidades de uma mulher solitária, temos o desenho de alguém que se dispõe a pagar pela presença de um outro em um “domingo que fere”:
Sendo este um jornal por excelência, e por excelência dos “Precisa-se” e “oferece-se”, vou pôr um anúncio em negrito: Precisa-se de alguém homem ou mulher que ajude uma pessoa a ficar contente porque está tão contente que não pode ficar sozinha com a alegria, e precisa reparti-la. Paga-se extraordinariamente bem: minuto por mi-nuto paga-se com a própria alegria. É urgente, pois a alegria dessa pessoa é fugaz como estrelas cadentes, que até parece que só as viu depois que tombaram; precisa-se urgente antes da noite cair porque a noite é muito perigosa e nenhuma ajuda é possível e fica tarde demais. Essa pessoa que atenda ao anúncio só tem folga depois que passa o horror do domingo que fere. Não faz mal que venha uma pessoa triste porque a alegria que se dá é tão grande que se tem que a repartir antes que se transforme em drama. Implora-se também que venha já, implora-se com a humildade da alegria-sem-motivo. Em troca oferece-se também uma casa com todas as luzes acesas como numa festa de bailarinos. Dá-se o direito de dispor da copa e da cozinha, e da sala de estar.
P.S.: Não precisa de prática. E se pede desculpa por estar num anún-cio a dilacerar os outros. Mas juro que há em meu rosto sério uma alegria até mesmo divina para dar. (1999, p.144).
Essa espécie de confissão publicada como um anúncio de jornal dá outra configuração à identidade feminina: a personagem rompe com as leis comportamentais pautadas no machismo e assume seus desejos e carências. Mas, ao mesmo tempo, o fato de chegar ao ponto de explicitar sua solidão em um anúncio de jornal avoluma sua tristeza. Esse monó-logo ganhava, na encenação, posição central no ambiente cênico e um único foco expunha a atriz, Alice Stefânia. Antes de iniciar o monólogo, a atriz distribuía faixas de panos bordadas com os verbos “Precisa-se”
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
144
e “Implora-se”, e essas mesmas palavras eram projetadas aleatoriamen-te no espaço cênico. Esses elementos aumentavam ainda mais o dilace-ramento da mulher em cena, que se expunha no anúncio de jornal. As faixas, entregues a alguns espectadores eram perfumadas acentuando a entrega da mulher a qualquer um que atendesse ao seu anúncio. Em tom introspectivo e dilacerada pela exposição de um único foco, a atriz in-terpretava o monólogo e sua voz se misturava às palavras exibidas, que passeavam entre os espectadores.
Esse mesmo clima introspectivo era reproduzido na cena “O Mar”, transcriada a partir do texto narrativo “As águas do mar”, que aparece tam-bém como um dos capítulos do romance Uma aprendizagem ou o “livro dos prazeres”. No entanto, quatro atrizes, Alice Stefânia, Mônica Mello, Rachel Mendes, e Súlian Princivalli, desdobravam-se na mulher-narradora ou em Lóri, personagem do romance, diante do mar. A fragmentação do texto em falas recriava uma cena que se vê e é contada por uma mulher diante da imensidão do mar, metáfora de sua condição, de sua pequenez, de seus desejos, de suas paixões e de sua entrega. Em tom descritivo e filo-sófico, a personagem apresenta o mar e tenta defini-lo enquanto mistério:
A: Aí está ele, o mar, a mais ininteligível das existências não hu-manas. E aqui está a mulher, de pé na praia o mais ininteligível dos seres vivos. Como o ser humano fez um dia uma pergunta sobre si mesmo, tornou-se o mais ininteligível dos seres vivos.
B: Ela e o mar. Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro: a entrega de dois mundos incognoscíveis feitos com a confiança com que se entregariam duas compreensões.
Essa mulher que observa outra mulher a ela se identifica, e essa identi-ficação provoca uma sobreposição de papéis: aquela que observa passa a ser também a observada, como se seus sentidos tivessem sido tragados pelo mar. Esse jogo de observador e observado se constrói cenicamente pelo des-dobramento da mulher, interpretada pelas quatro atrizes. Cenicamente, as atrizes caminham juntas e todas elas seguram um fino plástico branco, preso na cabeça e que envolvia as atrizes e se parecia com uma grinalda. O andar
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
145
lento, acentuado pelas descidas e subidas a cada passo, reproduz o rito de um casamento e o mar era, portanto, o altar ao qual ela resolve adentrar:
B: Vai entrando. A água salgada é de um frio que lhe arrepia em ritual as pernas.
A: Mas uma alegria fatal – a alegria de uma fatalidade – já a tomou, embora nem ocorra sorrir.
B: Pelo contrário, está muito séria.
A: O cheiro é de uma maresia tonteante que a desperta de seus mais adormecidos sonos seculares. E agora, ela está alerta, mesmo sem pensar.
O plástico transparente deixa de ser, em determinado momento da cena, a grinalda para reproduzir cenicamente o mar, essa reprodução fica mais evidente graças ao som do plástico que reproduz o barulho das ondas. E, em movimentação, esse plástico envolve as atrizes e se transforma no “lí-quido espesso de um homem”, como é dito em uma das falas:
B: Com a concha nas mãos faz o que sempre fez no mar, e com a altivez dos que nunca darão explicação nem a eles mesmos: com a concha das mãos cheias de água, bebe em goles grandes bons.
A: Era isso que lhe estava faltando: o mar por dentro como o líquido espesso de um homem. (1994, p.113).
O fino plástico utilizado em cena ganha, cenicamente, diferentes valo-res e símbolos, o mesmo figurino bege e o desdobramento da personagem entre quatro atrizes colocam em cena uma análise encenada do texto cla-riceano. Esses elementos cênicos ganham ainda uma dimensão maior com a projeção da imagem de passos de uma pessoa na praia e com ruídos que acompanham essa imagem e reproduzem, ao mesmo tempo, o respirar da mulher e o sussurrar do mar.
A imagem que reproduz passos em uma praia evidencia a busca da mulher pelo mar ou de um mar que traga essa personagem. E os passos são, às vezes,
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
146
lentos e, de repente, tornam-se apressados e a imagem extrapola o espaço do chão e invade as paredes, ou seja, os espectadores ficam também tomados pelo mar. E à medida que a cena ganha o centro do espaço e as vozes alteravam de intensidade, as imagens também eram alteradas. Quando as atrizes deixavam o palco, uma delas, Súlian Princivalli, posicionava-se dentro de uma amarração de tecidos vermelhos e, assim, era construída uma cena aérea para o seguinte monólogo, realizado a partir da crônica “Como tratar o que se tem”:
Existe um ser que mora dentro de mim como se fosse casa sua, e é. Trata-se de um cavalo preto e lustroso que apesar de inteiramente sel-vagem – pois nunca morou em ninguém nem jamais lhe puseram ré-deas nem sela – apesar de inteiramente selvagem tem por isso mesmo uma doçura primeira de quem não tem medo: come às vezes na minha mão. Seu focinho é úmido e fresco. Eu beijo o seu focinho. Quando eu morrer, o cavalo preto ficará sem casa e vai sofrer muito. A menos que ele escolha outra casa que não tenha medo do que é ao mesmo tempo selvagem e suave. Aviso que ele não tem nome: basta chamá-lo e ele se acerta com seu nome. Ou não se acerta, mas uma vez chama-do com doçura e autoridade ele vai. Se ele fareja e sente que um corpo é livre, ele trota sem ruídos e vai. Aviso também que não se deve temer o seu relinchar: a gente se engana e pensa que é a gente mesmo que está relinchando de prazer ou de cólera. (1999, p.121).
A sonoridade, com aliterações frequentes em “s”, a musicalidade da crônica e as relações estabelecidas entre a narradora e o cavalo condizem com a opção de uma cena aérea, em que o cavalgar pode ser traduzido pela movimentação da atriz na amarração dos tecidos. Além disso, a atriz ficava envolvida pelos tecidos e o acelerar da movimentação imprimiam uma estreita relação com o cavalgar e, ao mesmo tempo, com o ato sexu-al. Cenicamente, havia também a reprodução de certa tensão, muscular e imagética, devido à disposição da atriz e do perigo de estar acima do chão.
Da tensão e do encantamento de uma cena aérea e vermelha, passava-se para uma cena em que o vazio era ocupado por uma voz que entoava um cântico:12
12 Trecho musicado pela atriz Raq Feitosa.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
147
Olhei para o teto com olhos pesados. Tudo se resumia ferozmente em nunca dar um primeiro grito – um primeiro grito desencadeia todos os outros, o primeiro grito ao nascer desencadeia uma vida, se eu gritasse acordaria milhares de seres gritantes que iniciariam pelos telhados um coro de gritos e horror. Se eu gritasse desencade-aria a existência – a existência do mundo. Com reverência eu temia a existência do mundo pra mim. (1999, p.63).
O vazio preenchido pelo cântico expunha a plateia que se tornava es-pectadora de si mesma e o cântico se espalhava no espaço acentuando o branco e o tom angustiante da melodia. O trecho remetia a cenas anteriores em que termos antitéticos – silêncio x grito, vazio x cheio, água x fogo, existência x morte– se evidenciavam e remetiam aos dilemas próprios da escrita clariceana.
Na penúltima cena do espetáculo, um trecho metalinguístico trata do próprio fazer teatral enquanto sonho. A autora brinca com o jogo cênico aproximando-o de um sonho, pois ele se desfaz e não se reconstrói, pois, quando se tenta reconstruí-lo, vive-se outro sonho/jogo cênico. Sonho e realidade são os limites que são ultrapassados como a vida e a morte do espetáculo teatral.
A e G: O futuro me chama danadamente – é pra lá que eu vou. De-sastre? Sei lá.
G: Quando penso que um dia vou morrer me dobro em duas de tanto rir.
A: Mas meu rumo certo todos sabem qual é.
G: Não aprendi
A e G: Mas sei. Esta noite tive um sonho dentro de um sonho.
A: Sonhei que estava calmamente assistindo artistas trabalharem no palco.
G: E por uma porta que não era bem fechada entraram homens com metralhadoras e mataram os artistas.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
148
A: Comecei a chorar: não queria que eles estivessem mortos.
G: Então os artistas se levantaram do chão e me disseram:
A e G: Nós não estamos mortos na vida real,
A: Só como artistas,
G: Fazia parte do show esse morticínio.
A: Então sonhei um sonho tão bom: sonhei assim:
G: Na vida nós somos artistas de uma peça de teatro absurdo. Nós somos todos os participantes desse teatro:
A: Na verdade nunca morreremos quando acontece a morte. Só morremos como artistas.
G: Isso seria a eternidade?
A: Seria isso a eternidade?
G: Isso seria a eternidade?
A e G: Sei lá, sei apenas que gosto de brilhantes e de jade. (1973, p. 174).
O trecho reproduzido em diálogo, interpretado pelas atrizes Alice Stefânia e Mônica Mendes, ganhava dinamicidade com tons melódicos – frases foram musicadas pelas atrizes, com gestuais que lembravam per-sonagens da Comédia Dell’Arte e com a projeção de imagens cúbicas verdes, que ora se diluíam, ora se adensavam em volume, em proporção e em quantidade. Em determinados momentos, as imagens eram projeta-das sobre o figurino das atrizes, como se irradiassem aquelas formas que brincavam em velocidade e volume. A cena celebrava o próprio espetá-culo e o espaço cênico era, no final dessa cena, literalmente coberto por um imenso tecido branco em que se visualizavam imagens de nuvens. Havia perfurações nesses tecidos em que cada um dos espectadores se colocava e, incluídos naquela espécie de nuvem, assistiam aos atores e
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
149
atrizes que também apareciam nos buracos feitos na parte central do teci-do. A música que abria o espetáculo era novamente entoada, a princípio, de forma lenta e ganhava força, contagiando a plateia que brincava com o “estar nas nuvens”.
Os limites do relatar e/ou do descrever impedem a reconstrução de uma experiência teatral única, mas registram, acredito, um pouco do que foi a encenação em que gênero e tecnologias se comungaram para o registro de um instante.
Ficha Técnica
ESPETÁCULO PULSAÇÕES. Diretor: Rita de Almeida Castro. Assis-tente de direção/Adaptação dramatúrgica: André Luís Gomes. Produtor: Guinada Produções. Interprete: Alice Stefânia; Cristiano Gomes; Mô-nica Melo; Rachel Mendes; Raq Feitosa; Reverson dos Anjos; Súlian Princivalli. Músicos: Jesuway Leão; Omar Amor. Cenografia e Figu-rino: Guto Viscardi; Joana Lopes. Arte computacional/Assistência de Cenografia/Operação Multimídia: Carlos Praude. Design e Operação de som: Glauco Maciel. Maquilagem: Cyntia Carla. Visagismo: Kaká Coe-lho. Iluminação: Caco Tomazzoli. Colaboração: Izabela Brochado. Bra-sília: Universidade de Brasília, 2011. Duração do espetáculo, português.
Referências
BACHELARD, G. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
CUNHA, B. R. R. da (Org.) As Clarices em/de Clarice (Lispector): cenas, universos, olhares plurais. Rio de Janeiro: 7LETRAS, 2011.
FERNANDES, S. Teatralidades contemporâneas. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, (Estudos, 277), 2010.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
150
FORJAZ, C. “A linguagem da luz: a partir do conceito de Pós-Dramático desenvolvido por Hans-Thies Lehman”. In: GUINSBURG, J.; FERNAN-DES, S. (Orgs.). O Pós-Dramático. São Paulo: Perspectiva, 2008.
GOMES, A. L. Clarice em Cena: as relações entre Clarice Lispector e o Teatro. Brasília: Editora da UnB, 2007.
GOMES, A. L. Leio Teatro. São Paulo: Editora Horizonte, 2010
GOMES, A. L. (Org.). Anais do Seminário Internacional - Clarice em cena: 30 anos depois. Brasília: Departamento de Teoria Literária e Literaturas/Petry Gráfica e Editora, 2008.
GOTLIB, N. B. Clarice: uma vida que se conta. São Paulo: Ática, 1995.
GUINSBURG, J.; FERNANDES, S. (Orgs.). O Pós-Dramático. São Pau-lo: Perspectiva, 2008.
HELENA, L. Nem musa, nem medusa – itinerários da escrita em Clarice Lispector. Niterói: EDUFF, 1997.
NUNES, B. Leitura de Clarice Lispector. São Paulo: Quíron, 1973.
NUNES, B. O drama da linguagem. São Paula: Ática, 1989.
RAMOS, L. F. “Pós-dramático ou poética da cena?” In: GUINSBURG, J.; FERNANDES, S. (Orgs.). O Pós-Dramático. São Paulo: Perspectiva, 2008.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
151
Pós-gêneros no universo ficcional transmidiático da “aurora
pós-humana”Edgar Franco
Universidade Federal de Goiás
Este capítulo apresenta resumidamente o universo ficcional transmídia da “Aurora Pós-humana”, ambientação de ficção científica inspirada pelos avanços prospectivos tecnológicos nos campos da biotecnologia, telemá-tica, nanotecnologia e robótica em aspectos tecnognósticos presentes na cibercultura. Feito isso destaca aspectos da sexualidade e dos pós-gêneros presentes em algumas das produções transmídia ambientadas nesse univer-so, com destaque para as histórias em quadrinhos e o Posthuman Tantra – projeto musical performático cíbrido.
Universos ficcionais transmidiáticos
A imaginação de mundos ficcionais futuristas pode gerar um bom la-boratório para reflexões prospectivas a respeito de transgêneros e pós-gêneros. A criação de universos ficcionais amplos com possibilidades de geração de obras em múltiplos formatos audiovisuais ganhou maior visibilidade a partir do surgimento da franquia “Guerra nas Estrelas” (Star Wars), em fins da década de 1970 e início da década de 1980. Com o passar do tempo personagens coadjuvantes da saga de George Lucas ganharam espaço em outros produtos como histórias em quadrinhos nar-rando outros aspectos da saga, desenhos animados, jogos de tabuleiro e computador que se somaram às tradicionais traquitanas e brinquedos ligados à série, despertando o interesse dos fãs para os diversos aspectos da história.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
152
O fenômeno midiático perpetrado pelo universo ficcional de “Guerra nas Estrelas” e o surgimento de narrativas em formatos diversos abarcando aspectos múltiplos da cosmogonia da saga pode ser caracterizado como um bom exemplo de narrativa transmídia, outro exemplo notório é a franquia Matrix (1999). Para o professor do MIT (USA) e estudioso das mídias Henry Jenkins (2009, p.138):
Uma narrativa transmídia desenrola-se através de múltiplas plata-formas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira dis-tinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou experi-mentado como atração de um parque de diversões.
A conceituação de Jenkins é abrangente, no entanto, o autor está muito preocupado em tratar o fenômeno das narrativas transmídia como algo li-gado ao mercado e ao consumo de produtos de entretenimento. Sua visão passa longe das chamadas perspectivas autorais da arte e, como outros in-vestigadores do fenômeno, está ligada à ideia de franquia e indústria cul-tural mesmo numa perspectiva de convergência midiática. Sobre produtos transmidiáticos o autor emenda:
Cada acesso à franquia deve ser autônomo para que não seja ne-cessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada pro-duto determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência que motiva mais consumo. (JENKINS, 2009, p.138).
Mais adiante Jenkins apresenta seu ponto de vista de que estamos “numa época em que poucos artistas ficam igualmente à vontade em todas as mídias” (2009, p.139), reafirmando sua crença no caráter compartimen-tado da geração de produtos de entretenimento da indústria cultural mesmo no contexto da chamada cultura da convergência. A questão importante para mim, enquanto artista interessado em desenvolver poéticas autorais
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
153
desconectadas de uma obsessão mercadológica e consumista, é burlar essa perspectiva compartimentada das narrativas transmidiáticas no contexto da indústria cultural e tentar produzir trabalhos artísticos que utilizem as mesmas estratégias transmídia, mas com objetivos poéticos e de autoex-pressão. O universo ficcional transmídia da “Aurora Pós-humana” – um work-in-progress desenvolvido por mim desde o ano 2000, e para o qual já realizei obras artísticas em múltiplos suportes – é o meu esforço pessoal de levar as narrativas transmidiáticas para o contexto da arte.
A aurora pós-humana
Atualmente minha obra nas múltiplas mídias toma como base um uni-verso de ficção científica que criei, “Aurora Pós-humana”. São trabalhos que trazem em seu teor o chamado “deslocamento conceitual”, definido pelo escritor norte americano P. K. Dick (apud QUINTANA, 2004), pois desloco o tempo, a gnose e a tecnologia para um futuro hipotético para, na verdade, tratar de questões contemporâneas. A “Aurora Pós-humana” é um universo ficcional futurista criado por mim, inspirado por artistas, cientistas e filósofos que refletem sobre o impacto das novas tecnologias: bioengenharia, nanotecnologia, robótica, telemática e realidade virtual sobre a espécie humana. Para sua criação também me inspirei no reflexo desses questionamentos na cultura pop, com o surgimento de filmes – eXistenZ, Matrix, 13º Andar, Gattaca, Avatar – e de seitas como as dos Imortalistas, Prometeístas, Transtopianos e Raelianos. Esses últimos, por exemplo, creem na clonagem como possibilidade de acesso à vida eterna, nos alimentos transgênicos como responsáveis futuros pelo fim da fome no planeta, e na nanotecnologia e robótica como panaceia que eliminará o trabalho humano, liderados pelo pseudoguru Raël, um hedonista que constrói todo seu discurso a partir das previsões mais otimistas da ciên-cia, baseando seu pensamento em afirmações messiânicas controversas.
Mergulhado no estudo e investigação dessas polêmicas envolvendo os avanços tecnocientíficos, previsões e vivências, surgiu, ainda no ano de
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
154
2000, o germe desse universo poético-ficcional que posteriormente batizei de “Aurora Pós-humana”. A ideia inicial foi imaginar um futuro, não muito distante, onde a maioria das proposições da ciência & tecnologia de ponta fossem uma realidade trivial, e a raça humana já tivesse passado por uma ruptura brusca de valores, de forma – física – e conteúdo – ideológico/re-ligioso/social/cultural. Imaginei um futuro em que a transferência da cons-ciência humana para chips de computador seja algo possível e cotidiano, onde milhares de pessoas abandonarão seus corpos orgânicos por novas interfaces robóticas; imaginei também que neste futuro hipotético a bio-engenharia tenha avançado tanto que permita a hibridização genética entre humanos, animais e vegetais, gerando infinitas possibilidades de mixagem antropomórfica, seres que em suas características físicas remetem-nos ime-diatamente às quimeras mitológicas. Finalmente imaginei que estas duas “espécies” pós-humanas tornaram-se culturas antagônicas e hegemônicas disputando o poder em cidades estado ao redor do globo enquanto uma pequena parcela da população, uma casta oprimida e em vias de extinção, insiste em preservar as características humanas, resistindo às mudanças.
Dessas três espécies que convivem nesse planeta Terra futuro, duas são o que podemos chamar de pós-humanas, sendo elas os “Extropia-nos”– seres abiológicos, resultado do upload da consciência para chips de computador – e os “Tecnogenéticos”– seres híbridos de humano e ani-mal, frutos do avanço da biotecnologia e nanoengenharia, tanto Extropia-nos quanto Tecnogenéticos contam com o auxílio, respectivamente, de “Golens de Silício” – robôs com inteligência artificial avançada, alguns deles reivindicam a igualdade perante as outras espécies – e “Golens Orgânicos” – robôs biológicos, serventes dos Tecnogenéticos. A última espécie presente nesse contexto é a dos “Resistentes”, seres humanos no “sentido tradicional”, espécie em extinção correspondendo a menos de 5% da população do planeta. Esse universo ficcional tem servido de base para as minhas criações nas mais diversas mídias e suportes, das histó-rias em quadrinhos, chegando às HQtrônicas, passando por instalações interativas, sites de web arte e vida artificial e chegando às performances multimídia cíbridas do Posthuman Tantra.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
155
Gêneros e sexualidade na “aurora pós-humana”
Os gêneros e a sexualidade dessas criaturas pós-humanas são os mais variados e iconoclastas. Imagine que existem os mais diversos humanimais, como híbridos de mulher e golfinho, homem e cavalo, e todos podem ser hermafroditas, possuindo múltiplos órgão sexuais masculinos e femininos, 3 ou 4 de cada um. Você pode colocar um pênis de asno em sua testa e sua parceira uma vagina de baleia entre os olhos. Na “Aurora Pós-humana” a ge-nética está tão avançada que consegue produzir essas aberrações e irrigá-las, além de produzir conexões neuronais múltiplas, ampliando a região cerebral responsável pelo orgasmo. Os tabus e taras sexuais podem ser quebrados e vividos livremente. No contexto de meu universo ficcional essa total libe-ração sexual prova que as amarras sexuais nunca foram um problema real, toda a moral era simplesmente um bloqueio ancestral baseado em dogmas arcaicos. E com a liberação e realização completa dos desejos sexuais, as criaturas podem finalmente concentrar seu pensamento e desejo em uma ver-dadeira evolução da consciência na busca da transcendência.
Na minha ficção as criaturas pós-humanas partem de uma era sexual atu-al Freudiana – em que a vida é estruturada sobre traumas e tabus, além dos desejos sexuais reprimidos –, avança para uma era Junguiana, de acesso ao inconsciente das espécies, e finalmente mergulha na chamada era Grofiana (Stanislav Grof) – a penetração no inconsciente universal, o mergulho na verdade profunda e essencial da natureza cósmica. É claro que nos estágios iniciais as perversões nascidas da repressão sexual geram múltiplas insanida-des, robô-copulações doentias, como a criação de androides escravos sexuais e a degeneração de alguns humanos que vibram só nas baixas frequências. Mas, ao longo das décadas, sua implantação será positiva e liberará a huma-nidade do estigma Freudiano – aqui estou falando em algo que acredito e não mais só em minha ficção. Veja que já criaram aquelas bonecas realísticas em silicone chamadas “Real Dolls”, e o próximo passo é a inserção de um cérebro positrônico nelas.
No Japão os robôs de companhia estão sendo desenvolvidos e existe uma grande preocupação em duplicar expressões humanas neles, fazê-los
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
156
quase humanos, ou seja, humanoides. É só na falocracia norte-americana que os robôs continuam inumanos e burros, monstros metálicos feitos para a guerra. É do Extremo Oriente que virá a grande revolução ro-bótica. Os primeiros escravos sexuais pós-humanos serão robôs, como no filme I.A. de Steven Spielberg, pois ainda existe uma grande resis-tência à clonagem e criação biotecnológica. Uma boneca biotecnológica sexual – de carne e osso – mas com o cérebro de um coelho, seria algo chocante, ainda demorará muito tempo para ser comercializada, mas os robôs já estão aí e muito em breve servirão como escravos sexuais e serão multifuncionais, naturalmente transgêneros, possibilitando acoplamento e desacoplamento de funções.
Sexualidades e pós-gêneros nos projetos musicais posthumantantra e posthumanworm
O Posthuman Tantra13 é um projeto musical transmídia, com músicas eletrônicas e digitais que sofrem influências de gêneros musicais como o psicodélico, o sci-fi, o dark, o industrial e o ambient. O projeto foi criado por Edgar Franco em 2004. No princípio a música do Posthuman Tantra surgiu para funcionar como trilha sonora do universo ficcional transmi-diático da “Aurora Pós-Humana”. Reflexões tecnognósticas e a busca de aspectos transcendentes em um contexto hipertecnológico também com-põem o espectro conceitual das músicas e performances da banda, o que envolve investigações sobre movimentoscomo The Extropy, Transhuma-nism& Immortalism. Desde sua criação, o Posthuman Tantra já participou de dezenas de compilações em 3 continentes e lançou álbuns em parceria com a banda francesa MELEK-THA, além do álbum de estreia “Pissing Nanorobots” (2004) e dos dois álbuns oficiais, “Neocortex-Plug-in” (2007) e “Transhuman Reconnection Ecstasy (2010), lançados pela gravadora Su-íça Legatus Records, com quem a banda tem um contrato para o lançamen-
13 Para ouvir músicas e assistir vídeos do Posthuman Tantra visite: www.myspace.com/posthumantantras
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
157
to de mais 2 álbuns. Desde 2010 o Posthuman Tantra vem se apresentando em festivais de arte e música independente, com performances multimídia cíbridas envolvendo música, vídeo, efeitos computacionais em realidade aumentada, mágica eletrônica e música produzida em tempo real através de visão computacional interativa.
Várias músicas do Posthuman Tantra encenadas em suas performan-ces tratam de aspectos relacionados à sexualidade num contexto pós-humano. Uma delas é “Penetrating The Virgin Bioport”, um tema de-liberadamente criado com inspiração no filme “eXistenZ”, do diretor canadense David Cronenberg. Nele, a bioporta é um orifício aberto na base da coluna vertebral para receber o plugue de um game biológico que é alimentado a partir do sangue do jogador que flui através dele. No filme a bioporta tem esse duplo sentido, ao mesmo tempo em que abre a cone-xão para esse mundo de ilusões virtuais também é um novo orifício cor-póreo com conotações sexuais, algo como um segundo ânus. Tem algo de grotesco e ao mesmo tempo curioso nessa fascinação de Cronenberg por orifícios tecnológicos, esse tecnofetichismo também aparece em outro de seus grandes filmes, “Videodrome”. “Penetrating The Virgin Bioport” é uma elegia musical criada para esse fetichismo pós-humano. Nas perfor-mances ao vivo do Posthuman Tantra, durante a faixa, o performer Edgar Franco simula a perfuração da bioporta numa performer, gerando uma cena que mistura sangue, sensualidade e grotesco. A performance enfati-za a erotização desse novo orifício, durante sua execução uma performer tem uma bioporta aberta em suas costas com o auxílio de um plugue P10, numa simulação que envolve um vídeo exclusivo, efeitos de mágica ele-trônica e sangue artificial.
Quanto ao Posthuman Worm, este segundo projeto musical, nesse caso ainda apenas se limitando ao estúdio, é um agressivo e furioso manifesto minimalista sci-fi cyber gore onde a temática é resumida a sexo pervertido e inimaginável entre as criaturas pós-humanas na fase primeva de degene-rescência sexual que advirá inicialmente com o avanço tecnológico.
No projeto eu tento imaginar as mais pútridas e grotescas formas de robô-copulação e transas entre híbridos humanimais pós-gêneros,
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
158
também mostro humanos “normais” se encontrando com essas criaturas para realizar suas fantasias doentias. Esse projeto refere-se ao nigredo alquímico, o fundo do poço mais abissal a que a humanidade deverá chegar para assim finalmente iniciar sua ascensão para a verdadeira consciência cósmica. Para mim é um repositório de meu lado obscuro, minha faceta mais cruel, sanguinária e doentia, eu a expurgo e purifico minha essência criando essas músicas e imaginando essas aberrações. É um exercício criativo catártico poderoso. Todos nós somos yin & yang e devemos conseguir balancear bem esses opostos, para que exis-ta o Posthuman Tantra – a cada dia mais tecnognóstico – é necessário existir o Posthuman Worm – o lado podre e obscuro de minha alma. Eis algumas das músicas do Posthuman Worm e os conceitos pós-gênero e sexuais que as engendram:
Cyborg Siamese Real Doll Penetration – A faixa propõe uma cópula alucinada de um pós-humano hermafrodita biotecnológico com uma bo-neca ciborgue no estilo das “real dolls”, só que nesse caso trata-se de uma “siamese real doll”, isto é, uma boneca ciborgue gêmea siamesa em que as irmãs são pregadas pelos lados de forma invertida, assim enquanto ele transa com uma pode ir fazendo cunilinguis na outra.
Dog Human Transgenic Girl – Essa simplesmente relata uma transa sensual com uma garota pós-humana híbrida de cadela e humana, com uma enorme língua e um rabo que fica acariciando o parceiro.
Fucking Fat Hole With Bionic Killer Dildo – Essa apresenta um robô multifuncional escravo sexual atendendo os desejos de sua dona humana obesa de 180 kg e utilizando uma espécie de pênis biônico de grande per-formance para satisfazê-la durante horas ininterruptas.
Pós-gênero na história em quadrinhos “pesadelo pós-humano”
Artlectos e Pós-humanos é um título autoral de histórias em quadrinhos (HQs) com periodicidade anual. A revista se propõe a editar HQs desenvol-
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
159
vidas por Edgar Franco no contexto do universo ficcional da “Aurora Pós-humana”. Ela tem um formato próximo ao meio-ofício lembrando os gibis tradicionais e apresenta capa colorida e miolo preto e branco, somando 32 páginas a cada número. Até o momento a revista teve 5 edições publicadas, as duas primeiras pela editora paulista SM, e os três números mais recen-tes pela editora paraibana Marca de Fantasia. O diferencial dos trabalhos presentes na revista está em sua proposta: HQs curtas sempre com novas personagens e sem uma conexão aparente, a não ser o fato de se passarem em distintas fases temporais do futuro pós-humano.
Muitas das HQs criadas para a revista apresentam questões de gênero, no entanto, uma delas trata do assunto muito detidamente. Trata-se da HQ “Pe-sadelo Pós-humano”, trabalho de 4 páginas publicado no número 2 da revista “Artlectos e Pós-humanos”, lançada no ano de 2007. A história apresenta um sonho onírico de uma das personagens, na verdade um extropiano avan-çado. Os antigos valores ancestrais humanos estão tão distantes para essas criaturas pós-humanas e agora imortais, devido ao avanço da tecnologia, que o sonho torna-se algo inusitado, pois nele a criatura sonha que tinha gênero (feminino), que se desgastava com o tempo (envelhecimento) e finalmente deixava de existir (morte). Depois do sonho, que a personagem chama de delírio, ela trava um diálogo com outro extropiano, esse que segue:
Extropiano 1: –Durante a reposição energética tive uma espécie de delírio, nele eu tinha gênero, desgastava-me com o tempo e finalmente deixava de existir!
Extropiano 2: – Foram apenas memórias genéticas ancestrais resgatadas! Gêneros masculino e feminino, envelhecimento e morte são conceitos históricos imemoriais ultrapassados! Para nós eles não têm sentido algum.
Extropiano 3: – Mas foi um belo delírio!
O pesquisador Fábio Oliveira Nunes (2010, p.207-208) faz uma breve análise dessa HQ e destaca:
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
160
A história em quadrinhos “Pesadelo Pós-humano”, em que um ser extropiano com traços femininos possui delírios de uma condição biológica: o ser se vê oniricamente em uma existência em que pos-sui gênero (é uma mulher), envelhece e finalmente morre. Ao acor-dar do delírio, o ser comenta o ocorrido com outro extropiano que é cético em sua posição. [...] O ser, no entanto, é enfático ao concluir com a simples afirmação: “Mas foi um belo delírio!” [...] O autor re-aliza um exercício questionador desse contexto pós-humano: o que muito bem poderia ser lido como uma mera apresentação do futuro concebido a partir dos prenúncios atuais é, na verdade, um pretexto para tornar visíveis valores humanos hoje já preteridos.
Para finalizar, eu tenho uma teoria sobre a criação de mundos ficcio-nais: muito dificilmente um criador de mundos ficcionais irá promover a guerra. Quando você cria um mundo, uma cosmogonia, você tem que usar empatia, tem que se colocar no lugar do outro, pensar como ele poderia estar pensando naquela situação, e isso nos torna menos dogmáticos, mais receptivos à visão de mundo dos outros, mais solidários, menos autocen-trados e egocêntricos, e isso – é claro – vale para uma maior aceitação das multiplicidades de gênero.
Imagine que na trilogia em quadrinhos “BioCyberDrama”, roteirizada por mim e desenhada por Mozart Couto, eu criei cerca de 100 personagens nesse contexto pós-humano e pós-gêneros de meu universo, e eu tive que imaginar cada um deles, a visão deles dentro da situação que experiencia-vam, como se portariam segundo seu histórico de vida, suas personalida-des, sua forma física. Eu tive que vivenciar esses quase 100 papéis, fui um pouco de todos eles, desdobrei-me! A cada nova criação assim me sinto mais tolerante para com as pessoas em geral, me vejo mais doce, menos presunçoso, a minha empatia cresce no mundo real na medida em que sur-gem novas personagens em meu mundo ficcional. Eu sugiro aos educado-res uma disciplina chamada “Criação de Mundos Ficcionais” que deve ser ensinada em todas as séries dos ensinos fundamental e médio. Considero uma disciplina como essa tão importante quanto matemática e português, visando promover a empatia e uma convivência harmoniosa das diversida-des étnicas, socioculturais, de gênero, ideológicas e religiosas.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
161
Referências
ASCOTT, R. “Quando a Onça se Deita com a Ovelha: a Arte com Mídias Úmidas e a Cultura Pós-biológica”. In: DOMINGUES, D. (Org.). Arte e Vida no Século XXI – Tecnologia, Ciência e Criatividade. São Paulo: Edi-tora Unesp, p. 273-284, 2003.
DAVIS, E. Techgnosis –Myth, Magic and Mysticism in the Age of Infor-mation. Nova Yorque: Harmony Books, 1998.
KURZWEIL, R. A Era das Máquinas Espirituais. São Paulo: Aleph, 2007.
SANTAELLA, L. Culturas e Artes do Pós-Humano: Da Cultura das Mí-dias à Cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003.
FRANCO, Edgar Silveira. Artlectos e Pós-humanos. Jaú: SM Editora, 2007. (n. 2).
FRANCO, Edgar Silveira. “Processos de Criação Artística: Uma perspecti-va transmidiática.”. In: FRANCO, E. (Org.). Desenredos: poéticas visuais e processos de criação. Goiânia: UFG/FAV; FUNAPE, p. 107-130, 2010.
JENKINS, H. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
NUNES, F. O. Ctrl+Art+Del – Distúrbios em Arte e Tecnologia. São Pau-lo: Perspectiva, 2010.
QUINTANA, H. G. “Os Discursos da Ciência na Ficção”, In: Revista On-line Com Ciência, Tema: Ficção e Ciência, n. 59, outubro, 2004. Disponível em: <http://www.comciencia.br/reportage.shtml>. Acesso em 11/12/2011.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
163
Freak show – nos limites da humanidade
Juliana AbonizioUniversidade Federal de Mato Grosso
A ideia de híbrido aparece ligada à noção de monstruosidade, seja na mitologia grega seja nas experiências técnicas e estéticas da contempo-raneidade. O elo entre essas noções reside no fato de ambos significarem uma impureza essencial, pois trazem em si conjunção de duas coisas de ordens diferentes, resultando em estranheza e admiração.
Para Rodrigues (1983), o que não é classificável, ou é classificável em duas ordens, resulta em tabu. Desta forma, o que causa medo e asco é aqui-lo que traz ambiguidade, como o sapo, nem exclusivamente terrestre, nem aquático; a madrugada, situada entre o dia e a noite; as esquinas, nem uma rua, nem outra e assim por diante. De espanto, também o monstro desponta como mistura de coisas imiscíveis: homem e animal, com os exemplos clás-sicos de minotauros e sereias, homem vegetal, homem mineral e agora, na contemporaneidade, o homem máquina ameaça a certeza da humanidade.
Na contemporaneidade, a experiência de estar no mundo e a relação com o corpo são mediadas pelo avanço tecnológico sem precedentes e traz questões como: de qual cultura somos? Qual a natureza da humanidade? Quem são os outros? Para Tucherman:
Já as novas tecnologias biomédicas, as novas teorias de neurofisio-logia cerebral, a profusão de próteses conectáveis ou implantáveis com as quais nos hibridizamos, as clonagens e as experiências que superaram as determinações da espécie e só fazem por em questão as mais antigas noções de humanidade e as nossas determinações mais radicais: a saber, mortalidade, singularidade e sexualidade. (TUCHERMAN, 1999, p.15).
A essas questões, outras se desdobram, como a que nos instiga a pensar sobre as modificações nas relações do homem com seu corpo ao longo da
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
164
história, afinal o homem é um corpo? Tem um corpo? Pode ser humano sem esse corpo?
Proponho discutir, sem resolver, algumas dessas questões a partir da experiência de transformações estéticas consideradas extremas e que rei-vindicam para si o status de arte.
O corpo modificado, estranhado, customizado abala a ideia de corpo coletivo ganhando ares de insubordinação aos padrões sociais, que se mul-tiplicam e se enfraquecem diante de múltiplas possibilidades de reapro-priação do eu, pela arte, pela técnica e pela estética.
Especificamente, proponho refletir sobre o freak show contemporâneo, modalidade de espetáculo promovida por artistas que, em vez de tomar o monstro como outro situado no limite da humanidade, reivindicam para si esse papel e, através de maneiras inusitadas de usar o corpo, propõem ou insinuam sua ultrapassagem e, com ele, a ultrapassagem do que se conven-cionou humano.
Dos espetáculos
Através de furos nas peles dos artistas, grandes anzóis de pesca são en-fiados e um pouco de sangue se deixa escorrer. Por esses anzóis, os artistas são içados e dançam no ar, sobrevoando a plateia que tira fotografias e sol-ta gemidos, encantada e nauseada. Objetos variados atravessam orifícios: uma furadeira passa pelo nariz, ganchos vão do nariz à boca, um explosivo é enfiado na uretra. Diversos piercings em lugares variados do corpo sus-tentam pesos.
Tais eventos são um resumo do que se pode esperar de um freak show, embora frequentemente, o inesperado é que será exibido. Não obstante, algumas semelhanças podem ser verificadas, como o uso inusitado de ori-fícios, encenação de dor e força, manifestações de virilidade e resistência, por exemplo. Mas que arte é essa? Quem são esses artistas?
O freak show, realizado por artistas que se denominam freaks, existe em várias partes do mundo e apresenta elementos dos primeiros shows de
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
165
horror, mas tais aberrações trazem o monstro, antes isolado nos circos para os circuitos metropolitanos.
O filósofo José Gil, o autor fala da tentação de unir monstro e mostrar, que, se é irresistível, não condiz com a etimologia, pois monstrare signi-fica mais propriamente ensinar um determinado comportamento. Mais do que mostrar e indicar ao olhar, monstro remete à advertência, ao conselho. O monstro que fascina o olhar dos outros, o faz sem se preocuparcom esse olhar e fascina por sua obscenidade orgânica. O olhar fascinado pelo monstro, perde a liberdade e dele não pode se desviar. Contudo, esse olhar não vê, na medida em que “fica suspenso nessa revelação-ocultação que é a imagem do corpo monstruoso”. (GIL, 2006, p.79).
Apesar de a palavra monstro ligar-se a monestrum etimologicamente, significando uma advertência, ela é mais comumente ligada ao monstrum, associado a ideia de mostrar. Para José Gil (2006), é de tal modo forte o desejo de exibir o exótico que se vê que os termos monstro e mostra aca-bam ligados. Para este autor, o monstro, não situado fora do humano, mas em seu limite, é o que garantia a certeza da humanidade. Porém, diante da banalização dos monstros na contemporaneidade, somos levados a refletir sobre os contornos da identidade humana. Nesse sentido, os monstros são necessários, segundo o autor, para “continuar a crer-se no homem” (2006, p.14), podendo vir daí o fascínio que nos causa.
Entre o medo e o fascínio, seja do exagero de Hybris ou do monstro que capta o olhar apenas com sua existência, Gil argumenta: “Um monstro é sempre um excesso de presença. Que a anomalia seja um corpo redundante ou a que faltem órgãos é necessariamente marcado por um excesso.” (GIL, 2006, p. 75).
Sendo excesso, o monstro comunica mais realidade do que a imagem vulgar. O que ele veicula, por sua vez, ultrapassa o conteúdo representado, comunica uma prova ontológica que certifica sua existência. “Apesar da sua etimologia, o monstro mostra. Mostra mais que tudo o que é visto, pois mostra o irreal verdadeiro”. (GIL, 2006, p.77).
Por que o monstro causa vertigem? Para Gil, é por quebrar “a proporção delicada entre simetria e assimetria do corpo; e, com ela, a relação adequa-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
166
da entre reversibilidade e irreversibilidade do tempo, entre o sentimento de ser mortal e o de ser imortal em vida”. (GIL, 2006, p. 131).
Apesar de o tempo ser irreversível, nós experimentamos o tempo como reversível e a crença em sua reversibilidade é necessária, como o senso co-mum costuma dizer, trata-se de um dia após o outro, em experiências de su-cessivos recomeços, apesar de o tempo ser medido justamente por ser vetor.
Situados entre a representação da eternidade da morte, negada e imi-nente no cotidiano, e entre uma concepção de não futuro, aliando presente-ísmo e marcas perenes na pele, esses artistas nos põem a pensar.
O que os artistas freaks trazem para reflexão é a compreensão das ra-zões de alguns quererem deliberadamente colocar-se no limite de sua pró-pria humanidade. De onde vem o desejo de ser e aparentar outro, marcando a distância com aqueles que cruzam e com a plateia estupefata? A ideia de monstro e de humano está ligada ao corpo, sendo necessário pensar os significados do corpo na atualidade.
Ao pensarmos sobre o corpo contemporâneo e as situações múltiplas nas quais que se encontra, é possível uma reflexão sobre a humanidade e a sua liminaridade. Se é possível falar de modo multidisciplinar do cor-po, seja o corpo biológico, virtual, social, imaginado, idealizado, rejeitado, etc., podemos perguntar qual desses corpos é humano e qual se desumaniza e qual nos assegura uma noção comum de humanidade.
A sociedade domestica, ou tenta domesticar, os corpos individuais, sub-metidos às instâncias de controle social através de processos múltiplos de estigmatização, e os corpos, insubmissos em relações aos padrões são re-apropriados. A guerra entre indivíduo e sociedade encontra no corpo seu território de batalha. Eis que a sociedade, um corpo coletivo, não se re-conhece no corpo modificado à sua revelia e lhe carimba com o status do monstro. Status esse que passa a ser reivindicado por determinados sujei-tos, revestidos de um caráter positivo para aqueles que se unem em torno de modificações corporais e freaks shows.
Os monstros, ou imaginados nos confins da terra ou pertencente às ter-ras exóticas, são inseridos nos centros da cidade, mas no local delimitado para isso, o hospital ou o circo, como a trajetória de John Merrick, o co-
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
167
nhecido Homem Elefante, imortalizado no cinema por David Lynch. Tra-dicionalmente, os freaks shows exibiam aquilo escapava à norma, visando trazer à visão o exótico.
Nesses circos, também se exibiam coleções estranhas como pessoas com deformações variadas (anões, siameses, mulheres barbadas, herma-froditas, etc.) e também membros de culturas distantes, com os assim cha-mados selvagens que exibiam marcas corporais. Além dessas apresenta-ções, também se exibiam pessoas com habilidades corporais que causavam estranheza e traziam mesmo a noção de impossível, como engolidores de faca, acrobatas e contorcionistas. Esses eram os freaks que, por oposição, permitiam a noção de identidade humana.
Lynn Thorndike (apud GIL, 2006) descreve uma dessas coleções bizar-ras apresentadas em 1696 no Museu de Copenhague, como a mão peluda de um selvagem da Índia, duas mãos de sereia, um feto petrificado que uma mulher francesa havia carregado no ventre durante 28 anos, sandálias feitas com pele humana dentre outras coisas inusitadas.
Tais coleções cresceram na Europa e se popularizaram nos circos de horrores, durante muito tempo, passando pela era vitoriana e, caíram, aos poucos no ostracismo, apesar de alguns exemplares serem encontrados em turnê em pequenas cidades do interior, inclusive do Brasil. Longe desta tradição, desenvolveu-se um tipo de arte corporal diferenciado que marca a cena da body art contemporânea. Tal processo ocorre paralelamente com a mudança em relação ao que se entende por freak: o não humano enquanto um status atribuído por outros, o freak enquanto paciente, envolvendo todo o processo de medicalização que ambientou a modernização e atualmente revela um desejo de superação da humanidade, sendo o artista freak um ser cuja arte lhe estende a vida.
O corpo humano serviu à arte, à beleza e às proezas que é capaz de realizar, mas, a partir dos anos 1970, a body art contemporânea também adota o corpo no que tem de incivilizado, no que foge às regras culturais ou tenta escapar aos seus constrangimentos – fluidos diversos servindo à reflexão e ao espanto sensorial. O lado incivilizado é concomitante com a superação tecnológica dos limites do corpo em uma união entre o primitivo
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
168
e o ultracontemporâneo, característica esta ressaltada por Maffesoli (1999) como uma das características da pós-modernidade.
Não apenas no seio da body art, a bodymodification contemporânea passa a reivindicar status de arte, tanto para os modificados quanto para os modificadores, frequentemente incorporados em um só, que fazem das metrópoles seu palco. A vida vivida em esgotamento artístico.
Nos eventos e convenções de body modification, é o pouco convencio-nal que se mostra. Dentre as atrações, o ponto alto é um freak show. As de-formações, antes escondidas ou exibidas de modo depreciativo, agora são autoinfligidas, conscientemente escolhidas por artistas que, orgulhosamen-te, denominam de freak, não mais um outro distante, mas um eu próprio.
Assim, não se trata mais de portar uma anomalia genética, mas de trans-formar o corpo num ente anômalo e usá-lo de forma inusitada. Porém, mes-mo em espaço em que reina a alteridade, pode-se perceber alguns padrões, tanto na estrutura das performances quanto nas marcas exibidas, os catálogos das tatuagens disponíveis e os formatos das joias inseridas na derme.
O modo de funcionamento dos shows traz recursos evocativos do nojo, da força e dos limites a que o corpo se pode chegar. Uma das práticas mais recorrentes em freak show é a suspensão corporal, o que difere da prática de suspensão realizada para fins de êxtase em âmbitos privados, pois se trata de um espetáculo e requer uma plateia. A suspensão consiste em içar o praticante por ganchos que atravessam a pele em vários pontos possíveis do corpo, ou pelas costas, barriga, peitoral, joelhos etc.
O uso inusitado dos orifícios, considerados áreas tabus por serem por-tas de entrada e saída e comunicação entre o interno e externo, é bastante visível nesses espetáculos também. Os orifícios, nariz, uretra, boca, orelha, por sua situação de ambiguidade, evocam a existência freak, muito bem representada pelos ambíguos e os híbridos, assim, o uso dos orifícios de maneira inédita questiona a o uso do corpo domesticado socialmente.
Todas as sociedades investem no corpo individual e o normatizam através de rituais que circunscrevem os atos de nascer, comer, copular, higienizar-se, excretar, morrer. Visando um controle total da natureza so-bre a biologia, as culturas revestem de tabus as práticas biológicas, como
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
169
demonstra José Carlos Rodrigues (1983), ao discutir sobre o nojo. Assim, os fluidos do corpo, à exceção da lágrima, esta por vezes revestida de poder positivo, são considerados nojentos e o contato deve ser regulado mediante obediência atenta ao prescrito. Mary Douglas (1991) aborda também essa questão e destaca que, além de asco, os alvos de tabus sempre trazem o risco do contágio. Assim, ao se ter levianamente o contato com o impuro, o ser que o teve, torna-se também impuro e contagiante. Já a encenação de dor e resistência evoca, provavelmente, manifestações de virilidade e recuperação de rituais antigos.
A monstruosidade surge com a humanidade e lhe permite significar o que é. Por oposição e limite, os monstros permitem que o humano se identifique enquanto tal. Apesar de apavorantes, os monstros fascinam e captam o olhar que deles não consegue se desviar (TUCHERMAN, 1999). Os lugares designados aos monstros ao longo do tempo são varia-dos e também situados em limites, sejam nos confins da terra, dentre os selvagens (muitos tomados como monstruosos pelos viajantes dos sécu-los XV e XVI), nas exposições circenses, nos hospitais, nas frestas, nas histórias infantis, nas madrugadas, na fronteira em que se encontra a am-biguidade. Contudo, na contemporaneidade, os monstros se proliferam e parecem não mais assustar. Nos cinemas, nos desenhos animados, nas festas infantis e de tal modo incorporados que deixam de nos estranhar, fazendo com que José Gil (2006) questione sobre a possibilidade de se pensar em uma monstruosidade banal. Porém, o monstro ainda desperta algum encanto.
Refletir sobre o freak show, uma modalidade artística, performática bastante presente na contemporaneidade, é também refletir sobre as trans-formações do corpo, do lugar do outro e talvez da existência de um nós. Os artistas freaks, de modo diferente dos monstros de outras épocas exibidos como espécimes vivos de coleções, expostos em shows, não nascem dife-rentes dos outros, não são frutos de desejos proibidos na gestação, tampou-co são considerados uma brincadeira da natureza, como pensava Aristóte-les (IN: GIL, 2006), ou um presságio, como diriam outros tantos. Não são nem uma advertência, nem um mau agouro.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
170
Os artistas freaks contemporâneos optam por se tornarem outros, mas outros de si mesmos. O desejo é ser diferente do que é, e as cidades tor-nam-se palcos. Suas performances ultrapassam os momentos dos shows. Trata-se então de uma opção pela monstruosidade, e uma monstruosidade não é uma exceção no tempo, como a doença. Trata-se de uma escolha por levar seu corpo aos limites de sua humanidade, sabendo que o corpo é um recurso finito. Em seus limites, está a morte.
O corpo humano sempre foi testado e imaginado nas suas possibilida-des mais extremas, inclusive na sua transcendência, seja a maior velocida-de possível, os movimentos que nos parecem impossíveis, como nos casos do esporte, da dança e das artes circenses e também levados a abalar as cer-tezas de suas possibilidades, como os grandes mágicos e ilusionistas. Isso pode ser verificado na busca pela quebra dos recordes. O corpo explorado dessa forma também se torna uma tendência da arte contemporânea que faz pensar suas ambiguidades e seus usos inusitados, como a artista francesa Orlan, que transforma seu corpo cirurgicamente diante de atenta plateia, o australiano Stelarc que postula a obsolescência do corpo humano diante da evolução tecnológica, Marina Abromovic, performer que desafia os limites do corpo desde o início de sua carreira nos anos 1970, dentre outros que fazem de seu corpo uma arte cotidianamente encenada, dada a perenidade das modificações físicas, como o Eric Sprague e Dennis Avner, conhecidos respectivamente por homem-lagarto e homem-tigre. Os últimos participa-ram em 2008 da abertura do Museu Ripley’s Believe it or Not, em Londres, que reúne objetos bizarros.
Nessa tendência, destaco o freak show como uma modalidade de per-formance que propõe pensar os limites do corpo através da dor (real e encenada), do nojo (dos fluidos e dos orifícios) e do ineditismo dos usos de partes do corpo, em geral, acoplado a materiais variados, dentre os quais, ganha relevo o silício, o aço cirúrgico e o teflon, material conside-rado biocompatível sendo recentemente utilizado por body modifier em implantes subcutâneos.
Muitos dos monstros tradicionais imaginários eram híbridos de homens e animais, cada vez mais vemos a presença de novos híbridos, desta vez,
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
171
homens e máquinas e metais fundidos, e por vezes confundidos, sobre e sob a pele. É nesse sentido que, Tucherman(1999, p.94), percebe a crise do corpo significando uma crise da modernidade, crise do sujeito moderno. O corpo totalizado torna-se cada vez mais fragmentado tanto quanto as identidades individuais mediante as associações de carbono e silício, carne e técnica.
Para Le Breton, o discurso científico contemporâneo pensa o corpo como suporte da pessoa, distinto do sujeito, “um objeto à disposição sobre o qual agir a fim de melhorá-lo, uma matéria-prima na qual se dilui a iden-tidade pessoal, e não mais uma raiz de identidade do homem.” (2003,p.15).
Na contemporaneidade, o corpo não é um destino, é um acessório de presença, uma representação provisória, não determina o ser no mundo, mas é uma:
instância de conexão, um terminal [...] deixou de ser uma identidade de si, destino da pessoa, para se tornar um kit, uma soma de partes eventualmente destacáveis à disposição de um indivíduo apreendi-do como uma manipulação de si e para quem o corpo é a peça prin-cipal da afirmação pessoal.(LE BRETON, 2003, p.28).
Os punks, no movimento que se iniciou nos anos 1970, utilizaram a aparência como emblema da violência que se destinava às convenções so-ciais e se fundamentam na ocupação de um espaço público que traz na apa-rência uma bandeira, o que H. Abramo (1994) chama de modos espetacu-lares de aparecimento. No entanto, as marcas corporais mudam seu status e também passam a ser meros objetos de consumo, deixando de significar uma diferença, para entrarem no mundo da moda e da “cultura nascente e múltipla” de gerações jovens que buscam uma singularidade pessoal. (LE BRETON,2003, p.34).
Se a tatuagem já foi considerada como uma marca de sociedades pri-mitivas e consideradamodo de diferenciação e reconhecimento de pessoas das camadas sociais inferiores que desafiavam as convenções, hoje, para Le Breton (2003, p. 35), tal marca corporal sai da clandestinidade. Mas o que comunica? Existem várias formas de modificar o corpo, dóceis e in-dóceis, visando uma adequação à norma ou a sua subversão. O corpo pode
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
172
ser comunicado por tatuagem, piercing, branding, escarificação, laceração, cicatrizes em relevo, implantes subcutâneos e alargamentos.
Arranhando, rasgando, perfurando, queimando a pele, cortando, pe-netrando, distendendo, deformando ou amputando órgãos, o corpo foi sempre sendo sujeito a modelações onde o cultural e o social se inscrevem e gravam sobre o biológico. (FERREIRA, 2008, p. 34).
Em sociedades diversas, as marcas no corpo comunicavam posições sociais e status variados, eram realizadas em ritos coletivos. Na sociedade contemporânea, trata-se de ritos pessoais, marcas da vida cotidiana, ruptu-ras na biografia do sujeito marcado e suas marcas são, na maior parte das vezes, incompreensíveis aos olhos coletivos.
Nas sociedades tradicionais, as marcas eram instrumentos de biopoder, sendo reproduzidas compulsória e obrigatoriamente anunciando a submis-são do indivíduo à autoridade. Assim, se antes, o corpo poderia significar uma pertença a uma identidade cultural delimitada, o extremo contempo-râneo, na visão de Le Breton, faz uma encenação deliberada de si, o que torna a significação de sua existência sua própria decisão, e não uma evi-dência cultural. Além disso, todo corpo traz a virtualidade de tantos outros que o indivíduo pode assumir. (2003, p.31-32).
Nesse sentido, considerando a apropriação simbólica do corpo e a ne-gação do corpo estabelecido, voltamos a pensar sobre humanidade e seus limites além de refletirmos, a partir da compreensão e interpretação do cor-po, sobre as relações entre indivíduo e sociedade e os laços fracos ou fortes entre ambos no mundo contemporâneo. Nesse sentido, podemos retomar a discussão de Ferreira:
[…] parte-se de uma noção encarnada do actor social, uma análise que privilegia a vivência e experiência do corpo do ponto de vista dos sujeitos que o portam, enquanto matéria viva e vivida no espaço social. Porque o individuo, ao modificar a sua corporeidade, está inevitavelmente a criar novos elos simbólicos entre si e os outros, numa luta corpo a corpo entre o individual e o social. (FERREIRA, 2008, p.31).
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
173
Referências
ABRAMO, H. W. Cenas juvenis: punks e darks no espetáculo urbano. São Paulo: Scritta, 1994.
DOUGLAS, M. Pureza e perigo. Lisboa: Edições 70, 1991.
FERREIRA, V. S. Marcas que demarcam: corpo, tatuagem e body piercing em contextos juvenis. Lisboa: Imprensa de Cièncias Sociais, 2008.
GIL, J. Monstros. Lisboa: Quetzal, 2006.
LE BRETON, D. Adeus ao corpo. Campinas: Papirus, 2007.
MAFFESOLI, M. No fundo das aparências. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.
RODRIGUES, J. C. Tabu do Corpo. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.
TUCHERMAN, I. Breve História do Corpo e de Seus Monstros. Lisboa: Ed. Vega, 1999.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
175
Leguminosas bailarinas: queer(y)ing com não/humanos
Dolores GalindoUniversidade Federal de Mato Grosso
Danielle MilioliUniversidade Federal de Mato Grosso
As figurações são imagens performativas que podem ser habitadas. As figurações, verbais ou visuais, podem ser mapas condensados de mundos discutíveis.(Donna Haraway, 2004)
Este capítulo toma como matéria o processo de criação do espetáculo (De)Dentro: Leguminosas, um trabalho em dança contemporânea criado para o projeto Leituras do Movimento 2010 do SESC Arsenal de Cuiabá, Mato Gros-so, onde uma artista cocria com grãos de soja, tomando-os como partícipes. Falamos de uma convivência íntima com a soja, das suas possibilidades de va-riações ao habitarmos um mundo inatual no qual estas existem como legumi-nosas bailarinas, além de propor que a dança atua como um espaço-tempo fa-bulativo cuja singularidade constitui um elemento a pensar nas poéticas queer.
Para fabulação recorremos às figurações que deslizam entre o literal e o fictício, sem que encontrem fixidez. Figurar é um dos principais recursos de experimentação desenvolvidos por Donna Haraway (1995; 2004; 2007) que reconhece o caráter difuso e transversal do termo, delimitando-o como uma possibilidade de abarcar o que seria, em uma lógica excludente, tido como contraditório, ou em uma perspectiva realista simples como não existente.
Interessam-nos as relacionalidades que se dão entre humanos e não/humanos, bem como os processos por meio dos quais estes se dividuam em singularidades multiespécies:
Criaturas individuadas são importantes; elas são emaranhados mor-tais e carnais, não unidades finais de entidades. Tipos são importan-tes; eles também são emaranhados mortais e carnais, não unidades
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
176
tipológicas de entidades. Indivíduos e tipos em qualquer escala de tempo e espaço não são totalidades autopoiéticas; eles são aberturas e fechamentos dinâmicos e pegajosos num jogo finito, mortal, onto-lógico, criador de mundo (HARAWAY, 2011, p. 52).
As leguminosas bailarinas estão fora da temporalidade redencionista e das chamadas programáticas à ação, pois são terrivelmente localizadas e fabulativas. A figuração leguminosas bailarinas fala muito sobre onde a criamos - Mato Grosso -, funcionando como um intervalo na nossa relação cotidiana com a soja presente nos noticiários, nos epítetos de campeonatos de futebol, os Clássicos da soja, além de mobilizar a eco-nomia do Estado. De acordo com Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, a área destinada à cultura da soja passou de 6,4 milhões de hectares para 6,9 milhões de hectares, alta de 8,9%, cabendo ao esta-do, em 2012, uma expectativa de colheita em torno de 22,1 milhões de toneladas, número superior aos 20,5 milhões alcançados em 2011 (http://www.aprosoja.com.br/).
A história do Estado de Mato Grosso, a pavimentação das estradas, a co-municação entre centros e periferias e diversos dos conflitos entre povos au-tóctones e migrantes são marcados por esta leguminosa e, principalmente, pelo cultivo transgênico. Encontramo-nos imersas no ficcional e no literal, nos in-tensos nós da tecnociência, pois o cultivo da soja é altamente tecnologizado, articulando pesquisa e desenvolvimento traduzidos em automação industrial para colheita e armazenagem. O transporte, setor mais precário do ciclo, é re-alizado por carretas (boa parte delas rastreada por sistema de geolocalização) que cortam as estradas estaduais. A onipresença das carretas faz com que estas sejam um dos entes com os quais aprendemos a nos relacionar em Mato Gros-so – o transporte da colheita é um tema constante, pois, dentre outros aspectos, o asfalto cede diante do peso da carga criando cenários perigosos.
Neste texto, o uso da terceira pessoa é intencional, dizendo de um interstício produzido entre biografias cruzadas na soja, com a soja, pela soja. Intervalo, interface, interstício que apostam na arte como potência de fabulação de relacionalidades que não necessariamente encontramos no cotidiano, mas que estão por inventar ou que não granjearam os limiares
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
177
epistêmicos. Os discursos técnicos e científicos adquirem visibilidade, as histórias das pessoas em meio à soja se perdem ou são arquivadas nos ál-buns familiares.
Durante a escrita, ao conversarmos sobre o processo de criação com pessoas que assistiram ao espetáculo, deparamo-nos com relacionalidades íntimas com a soja: algumas possuíam fotografias nas quais o crescimento infantil era comparado ao das leguminosas que, à época, ainda não eram rasteiras, mutação que foi introduzida pelo plantio transgênico, outras di-ziam terem sido criadas na soja, alusão ao fato de que os recursos finan-ceiros da família vieram do cultivo e da vida no campo. As conversas com essas pessoas ampliaram os nós da figuração, torcendo-nos no emaranhado das nossas próprias narrativas com a soja.
Fincadas no tecnopresente, com a figuração leguminosas bailarinas nos inserirmos na imaginação de relacionalidades pós-feministas que questio-nam a dicotomia entre humanos e não/humanos (HARAWAY, 1995; 2004; 2007). Quando considerados os estudos pós-feministas, nossas legumino-sas bailarinas adquirem um parentesco com a discussão sobre espécies (HARAWAY, 2007) cuja emergência foi concomitante à colocação em funcionamento da Biologia e da noção de vida (FOUCAULT, 1981). Em uma Mirabilia contemporânea (inspirada no exercício de imaginação me-dieval), os grãos de soja fazem parte do nosso bestiário que, entretanto, não guarda ensinamentos morais, característica da domesticação dos bestiários no medievo (ECO, 2007).
A partir da classificação que herdamos das epistemes modernas liga-das às ciências naturais, os vegetais ocupam um nível de relacionalidade inferior aos animais, repertório que perpassa, também, os princípios que regulam a experimentação científica baseada nas escalas de dor que se fundamentam nos graus de complexidade do sistema nervoso. Voltando-nos à Filosofia e às chamadas Ciências Humanas, Descartes, no sécu-lo XVIII, em O Discurso sobre o Método, sinalizava que a ausência de consciência faria dos animais incapazes de sentir dor, incapazes de pen-sar ou ainda de pensarem a si mesmos, debate que deriva para o campo bioético (TONETTO, 2004).
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
178
O lugar dos vegetais na imaginação ocidental ofereceu condições para o emprego científico do termo médico Estado Vegetativo (vegetative state) - derivado do que se compreende como sendo um “vegetal” -, cunhado na década de 1970, para referir às condições limítrofes onde a distinção entre organismo e pessoa, entre e vida e morte, torna-se controversa (KIND, 2011). A discussão sobre vegetais, também, é incorporada à problematiza-ção ética. Neste último contexto, Singer (2002) argumenta que as plantas não possuem sistema nervoso, nem consciência, sendo crítico do Ecologis-mo Profundo que dota os vegetais de agência, conservando-os como parte de uma natureza sustentada por si mesma:
Podemos muitas vezes falar de plantas que “procuram” água ou luz para sobreviver e esta forma de pensar acerca das plantas torna mais fácil aceitar falar da sua “vontade de viver” ou da sua “procura” do seu próprio bem. Mas, a partir do momento em que paramos e refletimos no facto de as plantas não serem conscientes e não po-derem ter qualquer comportamento intencional, torna-se claro que toda esta linguagem é metafórica; poderíamos igualmente dizer que um rio procura o seu próprio bem e luta para chegar ao mar ou que o “bem” de um projétil teleguiado é explodir juntamente com o seu alvo. É enganador da parte de Schweitzer tentar levar-nos para uma ética do respeito por todas as formas de vida, referindo-se a “an-seio”, “exaltação”, “prazer” e “terror”. As plantas não sentem nada disso (SINGER, 2002, s/p).
Concordamos com Singer (2002) a respeito da insuficiência dos ar-gumentos do ecologismo profundo pela pressuposição de uma natureza que precede processos de definição da mesma, mas podemos adensá-lo com o debate sobre natureza que leva em consideração as ontologias va-riáveis propostas pelos estudos sociotécnicos. Macnaghten e Urry (1998) nomeiam realismo meioambiental (enviromental realism) à desconsidera-ção do caráter recente e complexo da transformação da natureza em meio ambiente. Em Jamais Fomos Modernos, Bruno Latour (1994) convida a aceitar a complexidade da definição do natural e das ontologias nas so-ciedades contemporâneas, propondo que devemos atentar às diferentes variações ontológicas que estão implicadas nas separações entre humanos
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
179
e não/humanos, bem como aos hibridismos. Para escapar à constituição moderna, diz Latour (1994), é necessário considerar, simultaneamente, os movimentos de hibridação (mistura) e purificação (separação).
O espetáculo (De) Dentro: Leguminosas é carregado de curiosidade, estranheza e encantamento ao encontrarmos na soja uma companheira para dançar. Não buscamos uma relação de manipulação – soja a serviço do humano. Nossa relação com a soja deve ser entendida como um esforço contínuo de acompanhar as suas performances dadas no território da dança para que seja possível a cocriação do espetáculo. Ao dançar, a soja excede e desafia as divisões que lhe são atribuídas. Aquilo que chamamos soja deve ser entendido como um estado em contínua transformação.
Tudo se passa como se não fosse possível falar sobre aquilo que a soja é, mas sobre aquilo que ela está prestes a diferir ou já diferiu. Os grãos de soja possuem singularidades, não nasceram para os humanos, nem apenas com estes adquirem materialidade. As leguminosas bailarinas têm como habitat a sala de dança. Nela propõem pequenas revoluções em busca da transformação de uma natureza imóvel para uma natureza dançante. To-mamos a soja como uma figuração que não apenas podemos habitar, mas com a qual podemos dançar.
Experimentos artísticos produzem mundos caracterizados por práticas onde relacionalidades entre vegetais e pessoas são reinventadas, sendo possí-vel troca, cuidado, companheirismo no experimento de cocriação. Vale recu-perar a leitura de Braidotti (1996) sobre as figurações como versões políticas:
Una figuración es una versión políticamente sustentada de una sub-jetividad alternativa. Siento que en verdad urge elaborar versiones alternativas a fin de aprender a pensar de un modo diferente en relaci6n con el sujeto, a fin de inventar nuevos marcos de organi-zación, nuevas imágenes, nuevas formas de pensamiento. […] Considero que es tarea de las feministas - como también de otras intelectuales críticos - tener la valentía de afrontar la complejidad de este desafío (BRAIDOTTI, 1996: p. 26).
As leguminosas bailarinas foram inventadas para familiarizar e estra-nhar mundos discutíveis no contexto de intensas controvérsias incorpora-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
180
das na soja, a dança se torna um lugar para fabularmos novas relacionali-dades, um lugar para experimentar relacionalidades que não existem para além do espetáculo.
A figuração leguminosas bailarinas insere-se na imaginação das rela-cionalidades pós-feministas que questionam a dicotomia entre humanos e não/humanos (HARAWAY, 2004; 2007), habitando um mundo inatual (AGAMBEN, 2008). Simultaneamente imaginada (ficcional) e real (capaz de produzir efeitos rastreáveis), a leguminosa bailarina é um experimento sem verdade que pergunta sobre modos de viver contingentes.
O experimento sem verdade não diz respeito ao ser em ato o que quer que seja, mas exclusivamente ao seu ser em potência. E a po-tência, enquanto pode ser ou não ser, é por definição subtraída às condições de verdade e, primeiro que tudo, à ação do «mais forte de todos os princípios», o princípio de contradição. Um ser, que pode ser e, simultaneamente, não ser, chama-se, em filosofia primeira, contingente (AGAMBEN, 2008, p.33).
Usamos a adjetivação inatual para destacar que nossa figuração não é um simples reflexo de algo que lhe é externo (não está ligada a apenas um referente físico), nem tampouco constitui um tipo específico de vegetal (parte de uma taxonomia). São mapas condensados de mundos discutíveis e habitáveis. Quando nos movemos no âmbito das figurações, falamos de uma esquiva à demonstração (cara à lógica clássica) e, também, à objeti-vidade (cara ao realismo). Falamos de uma proposição ativa que reside em uma aposta na potência que conserva em si a dupla dimensão de ser e de não ser (ausente-presente em cada ato que poderia não ter sido), inclusive no habitar. Fazer da soja uma leguminosa bailarina é colocá-la em uma re-lação de alteridade, interpelando-a e deixando que ela nos interpele de uma maneira diferenciada daquela dos cultivares. Figurações são processos semióticos-materiais, estão cheias de tropos que nos desviam de determi-nações literais e de afetos que as fazem localizadas (BRAIDOTTI, 1996).
Nossa figuração – uma soja que dança - não está em lugar algum e, mes-mo assim, nós a habitamos em um mundo localizado. Com isso, vemo-nos plenamente enredadas a algo que não é abstrato, pois incorpora e prolonga
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
181
políticas da e na vida. Como outros seres biotecnológicos, a soja incorpora os aparatos responsáveis pela sua produção e manutenção - manipulações genéticas, teorias biológicas, práticas de experimentação do genoma da semente e assim por diante.
No processo de criação do espetáculo, comprar a soja no mercado, onde seu destino geralmente é a alimentação de animais, criou as primeiras rela-ções dançantes entre corpo e soja. A nossa companhia seriam os grãos resi-duais que não atingiram o padrão de qualidade e são comercializados para consumo animal. Enquanto dançarina, movente, a soja passou a participar ativamente em nossas decisões e atividades. A multiplicidade processual da soja nos interpelou a trajetórias que não queríamos controlar ou medir, apesar de termos que transportá-la.
O tipo de transporte da soja, a mediação/tradução pressuposta em des-locá-la nas estradas e delas à sala de dança é uma atividade política. No mercado municipal, adquirimos 50 quilos de soja. Elas vieram embala-das em duas sacas, amarradas com cordão. Difícil transportar ou mesmo movimentar tanto peso em embalagens instáveis e frágeis. Entra em cena uma mochila para trekking confeccionada para se adaptar ao corpo, possi-bilitando o transporte de peso em longas caminhadas com certo conforto e estabilidade. Observamos em alguns sites de compra que mochilas são apontadas como parceiros de viagens que podem colaborar ou atrapalhar nossos passeios. Boas mochilas, bons parceiros.
A mochila, transformando aquilo que transporta, é um mediador. Ao produzir efeitos imprevisíveis, interferiu no processo. A mochila gerou acontecimentos e situações – momentos de indeterminações (LATOUR, 2008; LAW e MOL, 2001). A partir da interferência da mochila, preci-samos modificar nossa ação, precisamos retirar peso até chegar ao ponto suportável. Com menos peso, foi possível experimentar improvisar com a mochila sem que esta rasgasse. Só que, com menos peso, era mais fácil controlar o impulso produzido pelo seu movimento e dificilmente éramos colocados em situação de desequilíbrio.
Lá estava ela – a mochila cheia de grãos, imóvel. A pequena coreo-grafia que vínhamos construindo antes de transportar a mochila e a soja
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
182
para a sala de dança expande-se e adquire forma. Temos uma posição inicial. Corpo deitado com a cabeça para cima, direcionada para o pú-blico enquanto os pés posicionavam-se para o fundo do palco. O rosto quer aparecer, ver o público e ser visto. A cabeça tenta virar para mos-trar o rosto, mas o resto do corpo, imóvel, dificulta a rotação da cabeça e o aparecimento total do rosto. Os braços tentam ajudar. Movimentos dos braços envoltos na cabeça sem o objetivo de conduzi-la; cabeça para um lado e braços para o outro trazem a participação dos cabelos que, adquirindo movimento, também não acompanhavam o movimento dos braços e da cabeça; os cabelos, saindo da cabeça, encobrem o ros-to, e, ao invés de contribuir dificultam, ainda mais o aparecimento do rosto. Disritmia.
Quando começamos a manusear a mochila, os grãos saíam do lugar e desestabilizavam os movimentos. Nas movimentações com a mochila, a soja passou a cair em cima do corpo, do rosto, do chão. Para fechar a mochila, antes devemos apertar um cordão em um tipo de saco costurado na “boca” da mochila. Ao fecharmos ficava ainda uma abertura pequena, mas suficiente para passar os também pequenos grãos de soja. Ocupando o espaço cênico, a soja nos obrigou a desviar das planejadas movimenta-ções com a mochila. Dançamos com a mochila de diferentes modos. Mas, sempre era preciso negociar com o movimento da soja dentro da mochila, e com os grãos que caíam.
Resolvemos vestir a mochila. Utilizar sua tecnologia de transporte, de acoplamento ao corpo. Só assim seria possível carregar a soja, sentir o peso com certa estabilidade. Parecia-nos inicialmente que dançar com um corpo de 50 quilos não seria difícil, afinal, muitos dançarinos costumam pesar mais. Iniciaram-se os experimentos a partir de técnicas de Contato de Improvisação, mas a mochila, não sendo feita para carregar soja e dan-çar, começou a rasgar. A mochila, que suporta aproximadamente 70 litros, dançando com os 50 quilos de soja fragilizou-se. Foi necessário adquirir uma segunda mochila.
Ao buscar uma loja especializada para comprar outra mochila, desco-brimos que devemos colocar objetos mais pesados na parte superior da
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
183
mochila, entendendo-se que carregamos material heterogêneo. Em nosso caso, a soja acabava se concentrando no fundo e, ao não preencher o es-paço superior, sobrecarregava as alças superiores. A mochila, por sua es-trutura física e design, impôs dificuldades para dançar com ela. Essa falha do objeto técnico, ao apontar a errância que lhe é constitutiva, mobilizou a sua agência visível ao objetar, ao recalcitrar. Na sala de dança, a mochila se concretizou e adquiriu modos de existência que não a fizeram um mero transportador de soja. Assim como as carretas que cruzam as estradas, car-regando as safras, a mochila inscreveu percursos de dança possíveis entre grãos e pessoas. Conforme alerta Simondon (2007), os objetos técnicos não correspondem à realização de uma função desejada por seu construtor, pois participam de um sistema onde há uma multidão de forças que produ-zem efeitos independentes da intenção do fabricante.
Haraway (2007) cunha a noção de “espécies companheiras” para falar de relações multiespécies, das alteridades em conexão nos seus múltiplos modos de conexão. Busca manter a ideia de espécie como algo aberto, permeável a entidades outras, não equivalendo, portanto, à noção de espé-cie como gênero taxonômico. A noção de espécies companheiras aborda a relacionalidade na urdidura de fazer mundos. No convívio íntimo, as espé-cies modificam-se mutuamente. Em entrevista, a autora comenta:
Pensar em “espécies companheiras” permite questionar os projetos que nos constroem como espécie, filosoficamente ou de outras ma-neiras. “Espécie” diz respeito a trabalho categorial. O termo refere-se simultaneamente a várias linhas de significado – categoria lógica, unidades taxonômicas caracterizadas pela biologia evolucionária e à inexorável especificidade dos significados. Também não se pode pensar em espécies sem adentrar a ficção científica. Algumas das coisas mais interessantes sobre espécies são feitas por projetos de ficção científica ou de maneira mais ampla em projetos de arte de vários tipos (HARAWAY; GANE 2007, s/p).
Com uma nova mochila carregada com a quantidade possível de soja, a atenção deslocou-se para os efeitos que a soja caindo começou a produzir. E o corpo passou a dançar em relação a sua forma, movimento, sonoridade.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
184
Espalhados pela sala, ocupando muito espaço, os grãos se constituíram em obstáculos para os pés. Os pés começaram a procurar espaços para se fixa-rem e experimentamos contato de improvisação entre pés e soja. Pisar em cima dos grãos, soltando o peso do corpo era dolorido. Os grãos grudavam nos pés e a dor nos acompanhava; difícil escapar mesmo colocando os pés em lugares onde não havia grãos. Controlar a quantidade de peso sob os pés para evitar a dor era arriscado. A leveza desestabilizava o corpo ereto que escorregava com o movimento dos grãos.
Soja, uma companheira com grande capacidade de interferência. Se antes, nossa intenção era manusear a mochila para nos relacionar com o peso da soja contida dentro da mochila, agora, com a recalcitrância dos grãos, passamos a nos relacionar com a soja que caía. Movimentos com a mochila continuaram a espalhar a soja. Impossível controlar a quantidade de soja e a trajetória que os grãos iriam fazer. Esconderam-se em frestas, amontoaram-se em cantos, ocuparam os lugares onde o corpo em dança se movimentava. Como dançar com eles sem conseguir medir, prever seus percursos e pontos de chegada?
Os grãos se apresentaram caoticamente. Formigaram em dobras e esconderijos do corpo, pois estavam repletos de resíduos. Soltos os grãos, quando achamos que poderíamos dominá-los, estes inventavam algo novo e descobríamos que nada sabíamos. Só pudemos nos aproxi-mar da soja pela dança, pela coreografia que se constitui entre espécies companheiras. Eis aqui nossa figura nada dócil: as leguminosas bailari-nas. Necessitamos encarar a dor para conviver com a soja. Mas também criar estratégias para minimizá-la, e assim dançar. Pisar e se deslocar com muito cuidado e atenção. Transformamos a dor em possibilidades de movimentos.
Ao espalhar a soja no solo, dançamos na dor, onde a entrega preci-sa ser controlada, negociada, onde o peso excessivo resultante da entrega completa do corpo é prejudicial, onde a fuga da dor impede a existência da dança com a soja. Atuamos e somos atuados na dor. A dor aponta que a soja é um actante, pois interfere na ação de um corpo que não está no cen-tro da dança. Exaustas, interferimos na queda da soja, retirando a mochila,
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
185
abrindo-a e despejando toda a soja que ainda estava dentro da mochila no chão. Outro espaço se construiu. Tínhamos a soja em um monte, não ape-nas espalhada pela sala. Reunidos, os grãos nos convidaram a outros ex-perimentos. Dança da entrega. Diminuição do controle. Atiramo-nos e os grãos fizeram o corpo todo deslizar. Coabitamos e coexistimos no instante do movimento, dançando.
Alteridade vegetal. Soja que movimenta um corpo entregue ao seu comando, que modifica seu trajeto, que retira completamente a possibi-lidade de dança sem soja. Trocamos com elas atributos em uma relação íntima, já não sabíamos onde começam e terminam os limites do que seria o nosso corpo. Não estamos sozinhas em nossa dança com a soja. Ameríndios nos ajudam a fazer a natureza dançar. Etnógrafos nos contam que na concepção ameríndia, tanto os humanos quanto os não/humanos possuem um ponto de vista (uma perspectiva), bem como todos guardam em seu interior uma forma humana da qual teriam evoluído. Dessa ma-neira, para os ameríndios, a humanidade enquanto condição é aquilo que é comum a todas as espécies (DESCOLA, 2004), sendo o homem apenas uma forma particular de vida que participa de uma comunidade diversi-ficada (ARHEM, 2004).
Ao falarmos das leguminosas bailarinas, partilhamos a perspectiva não antropocêntrica sobre gênero proposta desde a publicação do Manifesto em favor do ciborgues por Donna Haraway (1995), bem como os limites por ela reconhecidos nas territorializações do conceito de ciborgues que a leva-ram a inventar outras figurações igualmente tensas, tesas, carregas de afe-tos – ciborgues, o oncorato, o/a macho/fêmea, os cães (HARAWAY, 1995; 2004; 2007). Relacionamo-nos com os efeitos do plantio transgênico, com os padrões de qualidade dos grãos que nos delimitaram aqueles com quem nos relacionaríamos: dançamos com os grãos residuais. Há tensão e afeto na dança com a soja.
Quando discorremos sobre mundos inatuais na dança, devemos frisar que estes diferem de mundos ideais. Aliás, são mundos radicalmente situ-ados, ou melhor, coletivos radicalmente situados. Haraway (2011), assim como Latour (2001), encontram na proposição de cosmopolíticas, cunhada
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
186
por Stengers, uma deriva para repensar políticas que considerem os coleti-vos heterogêneos e assimétricos que nos constituem – diferentes cosmos, diferentes políticas:
A própria palavra ‘coletivo’ encontra finalmente seu significado: é aquilo que nos coleta a todos na cosmopolítica visualizada por Isabelle Stengers. Em lugar de dois poderes, um deles oculto e indiscutível (natureza), o outro discutível e desdenhado (política), teremos duas diferentes tarefas no mesmo coletivo. A primeira con-sistirá em responder a pergunta: quantos humanos e não-humanos deverão ser levados em conta? A segunda, em responder a mais difícil das perguntas: vocês estão prontos a viver, custe o que custar, urna boa vida juntos? (Latour, 2001, p. 340).
O sentido de cosmopolítica em que me inspiro é de Isabelle Sten-gers. Ela invocou o idiota descrito por Deleuze, aquele que sabia como desacelerar as coisas, a fim de parar a corrida ao consenso ou a um novo dogmatismo ou à denúncia, para dar possibilidade a um mundo comum. Stengers insiste que nós não podemos denunciar o mundo em nome de um mundo ideal. Os idiotas sabem disso. Para Stengers, o cosmos é o desconhecido possível construído por enti-dades múltiplas e diversas. Cheio da promessa de articulações que seres diversos podem eventualmente fazer, o cosmos é o oposto de um lugar de paz transcendente (HARAWAY, 2011, p. 43).
A artista Kathy High, no projeto Embracing Animal, levou para sua casa três ratos transgênicos, nomeados como Matilda Barbie, Tara Barbie e Star Barbie. Os animais possuíam código genético humano, pois foram utilizados para testar medicamentos para doenças autoimunes, demons-trando seus sintomas. A artista, também portadora de uma doença autoi-mune, diz ter com eles uma relação de empatia e de amor, o que expressa no seu Rat Love Manifest (Manifesto de amor aos ratos). Enfatiza que eles demonstram reações de afeto, deslocando-os do estatuto de cobaias. Se-gundo a artista, tais ratos são nossos primos e recomenda que não os consi-deremos animais de estimação, mas “criaturas que coexistem conosco”. E que, portanto, tenhamos “muito respeito para com eles” (http://embracin-ganimal.com/ ratlove.html, tradução livre).
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
187
Amy Youngs inventa, em seus experimentos artísticos, interessantes criaturas. Inspirada nas plantas de tabaco brilhosas produzidas/modifica-das com genes de vaga-lumes, a artista criou um cacto que brilha para se relacionar com os humanos de modo compreensível (http://hypernatural.com). Quando nos aproximamos do cacto, seu sinal para nós é o acelerar do seu brilho pulsante e, se o tocamos, este pulsar se transforma em um piscar frenético. Em outra obra, a mesma artista inventou um cacto que se relaciona com humanos cuja armadura de metal se fecha quando alguém se aproxima e se abre quando as pessoas afastam-se dela. O trabalho ques-tiona projetos de reengenharia que modificam os cactos, removendo os espinhos para o que seria uma melhor convivência com humanos – cac-tos não espinhosos incapazes de ferir. As vulneráveis plantas sem espinhos questionam os limites do cuidado nas imbricações entre arte e tecnologias. São seres que passam a depender de nós para sobreviver durante e após as exposições de arte.
A dança com a soja deixou resíduos, algo no corpo de quem dançou e, ainda, algo no corpo de quem escreveu. Resíduos que nos misturam a ela. Leguminosas bailarinas são uma figuração que nos experimentos sem verdade do qual participamos recusam o humano como morada e a natureza como transcendência. Há muito a confabular sobre a dança como espaço-tempo para imaginação queer acerca de ontologias variáveis, prin-cipalmente, quando trazemos para ela as relacionalidades multiespécies em substituição à redução de qualquer ente à categorização não/humano. A esta altura do texto, tal categorização se mostra demasiadamente genérica.
Propor figurações que tomem as divisões entre humanos e não/huma-nos como matéria dançante é um convite à imaginação queer. Retomemos o neologismo queer(y)ing que deu título ao ensaio, explicando-o a partir das reflexões de Gough et al (2011) sobre o queer como produtor de dife-rença positiva na imanência do múltiplo:
Ao tornar queer, em inglês, queer(y)ing – a adição do “y” à forma verbal no gerúndio (“queering”) refere-se a “why?” (“por quê?”) no sentido de questionar nos moldes da teorização queer, mas não necessariamente limitando-se às suas formulações e contestações
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
188
–, especialmente rejeitamos qualquer tentativa de essencializar o termo “queer”, preferindo “a visão alternativa de queer como um termo produtor de diferença positiva” de Catherine Mary Dale. Diferença positiva não se estrutura pela negação, mas “expressa a imanência do múltiplo e do um, ao invés da eminência disso so-bre aquilo, ou de um sobre muitos, de identidade ou caos [...] Não há identidade essencial, nem perda ou ausência, apenas afirmação” (GOUGH et al, 2011, p. 241).
Dançamos com uma leguminosa carregada de histórias e, em vários mo-mentos, fomos conduzidas pelos grãos que enquanto escrevemos este texto ainda caem sobre o teclado prestes a novas dividuações e inquietações.
Referências
AGAMBEN, G. Bartleby ou Da Contingência seguido de Bartleby o Es-crivão de Herman Melville. Lisboa: Assirio e Alvim, 2008.
ARHEM, K. The cosmic food web: human-nature relatedness in the Nor-thwest Amazon. In: DESCOLA, P.; PÁLSON, G. (Orgs.) Nature and So-ciety: Anthropological perspectives (p. 185-205). Londres: Routledge, 2004.
BRAIDOTTI, R. Sujetos nômadas: corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea. Buenos Aires: Paidós, 1996.
COUGH, N. e COUGH, M; APPELBAUM, P.; APPELBAUM, S.; DOLL, M. e SELLERS, W. Contos de Camp Wilde: tornando queer a pesquisa em educação ambiental. Rev. Estud. Fem, v.19, n.1, pp. 239-265, 2011.
DESCOLA, P. Constructing natures: symbolic ecology and social practi-ce. In: DESCOLA, P.; PÁLSON, G. Nature and Society: Anthropological perspectives (p.82-103). Londres: Routledge, 2004.
ECO, U. História da Feiura. Rio de Janeiro: Record, 2007.
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. (8a Ed). (S. T. Muchail, Trad). São Paulo: Martins Fontes, 1981.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
189
HARAWAY, D. Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvencion de la natura-leza. Madri: Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de La mujer, 1995.
HARAWAY, D. TestigoModesto@Segundo_Milenio.HombreHembra©_Conoce_O corratón®: feminismo y tecnociencia. Barcelona: UOC, 2004.
HARAWAY, D. Speculative Fabulations for Technoculture’s Generations: Taking Care of Unexpected Country, 2007. Disponível em: <http://www.patriciapiccinini.net/essay.php>. Acesso em: 15/11/2011.
HARAWAY, D. When species meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008. v. 3.
HARAWAY,D.; GANE, N. Se nós nunca fomos humanos, o que fazer? Entrevista com Donna Haraway. Ponto Urbe 6: Revista do Núcleo de An-tropologia Urbana da USP, 2009.
HARAWAY, D. A partilha do sofrimento: relações instrumentais entre ani-mais de laboratório e sua gente. Horizontes Antropológicos, v. 17, pp. 27-64, 2011.
KIND, L. Intermitências da morte: redefinições do ser humano na difusão da morte cerebral como fato médico. Scientiae Studia (USP), v. 9, p. 79-104, 2011.
LAURETIS, T. A Tecnologia do Gênero. In: HOLLANDA, B. H. Tendên-cias e Impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Roc-co, 1994.
LATOUR, B. Jamais fomos modernos: um ensaio de antropologia simétri-ca. São Paulo: Edusp, 1994.
LATOUR, B. A Esperança de Pandora. Bauru: Edusc, 2001.
LATOUR, B. Reensamblar lo social: una introducción a la teoria del actor-rede.1ª ed. Buenos Aires: Manatial, 2008.
LAW, J. & MOL, A. The Actor-Enacted: Cumbriam Sheep in 2001. Políti-ca y Sociedad, 45, p. 75-92, 2008.
MACNAGHTEN, P.; URRY, J. Contested Natures. London: Sage, 1998.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
190
SIMONDON, G. El modo de existencia de los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007.
SINGER, P. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
TONETTO, M. Do valor da vida senciente e autoconsciente. Ethic@, V. 3, n.3, p. 207-222, dez, 2004.
Sobre os autores
André Luís Gomes
Graduou-se em Educação Artística – habilitação em ARTES CÊNICAS na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA – USP) e em LETRAS pela Universidade de Franca (1989). Doutor (2004) e Mestre (1998) em Literatura Brasileira pela Faculdade de Filosofia e Ci-ências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP). Professor do Departamento de Teoria Literária e Literaturas (TEL) da Universidade de Brasília. Exerceu a chefia do TEL entre maio de 2008 e maio de 2010, ocupou o cargo de tesoureiro da ANPOLL (biênio2006-2008). Editor da Revista Cerrados – Revista do Programa de Pós-Graduação em Literatura (2007-2010) e editor geral da Revista da ANPOLL (2010). Autor dos livros MARCAS DE NASCENÇA: a contribuição de Gonçalves de Magalhães para o Teatro Brasileiro e CLARICE EM CENA: AS RELAÇÕES ENTRE CLARICE LISPECTOR E O TEATRO. Tem experiência na área de Le-tras, com ênfase em Literatura Brasileira, atua principalmente nos seguin-tes temas: Dramaturgia Brasileira, Crítica e adaptação teatral, Literatura e outras artes. Diretor e coordenador do Grupo Teatral Entrecenas.
Andrea Portela
Graduou-se em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) – (1993), e Design de Moda pela Universidade de Cuiabá (UNIC) – (2009). Mestre em Estudos de Cultura Contemporânea – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Área: Estudos Interdisciplinares de Cultura. Linhas de Pesquisa: Mestiçagens e poéticas do contemporâneo. Membro do NEC – Núcleo de Estudos do Contemporâneo (CNPq/UFMT). Realiza pesquisa comportamental, num viés interdisciplinar, em temas que pensam o con-temporâneo nos parâmetros cultural, filosófico e social. Investiga o co-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
192
tidiano através dos processos vestimentares e manifestações adjacentes, de interesse de diferentes áreas do conhecimento e ainda como prática de dimensão artística. Atua como figurinista.
Danielle Milioli
Graduou-se em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina – (UFSC) – (2002), especialização em Didática e Metodologia do Ensi-no Superior pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – (UNESC) – (2006), mestre em Estudos de Cultura Contemporânea na Universidade Federal do Mato Grosso – (UFMT). Atualmente é docente do Curso de Psi-cologia da UNIVAG – Centro Universitário de Várzea Grande e Intérprete – Criadora do Grupo Casa – Artes do Corpo de Cuiabá-MT.
Dolores Galindo
Graduou-se em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - (1999). Doutora em Psicologia Social – Pontifícia Universida-de Católica de São Paulo – (PUC-SP), com estágio doutoral na Univer-sidade Autônoma de Barcelona (UAB) – (2006). Docente do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Estudos de Cultura Contemporânea, onde coordena a Linha de Pesquisa Epistemes Contemporâneas e do cur-so de graduação em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Líder do Grupo de Pesquisa Tecnologias, Ciências e Contem-porâneo TECC/UFMT e Membro do Grupo de Pesquisa Práticas Discur-sivas e Produção de Sentidos PUC-SP. Secretária da Rede Centro-Oeste de Ensino e Pesquisa em Arte, Cultura e Tecnologias Contemporâneas – Rede CO3 (2010-2011) e Vice-Presidente da Regional Centro-Oeste da ABRAPSO (2011-2012).
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
193
Edgar Franco
Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília (UnB) – (1995), onde iniciou suas pesquisas sobre a linguagem dos quadri-nhos e suas conexões com a arquitetura. Anos depois o avanço dessa pesquisa veio resultar no livro História em Quadrinhos e Arquitetura, publicado pela editora Marca de Fantasia em 2004. Mestre em Multimeios na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) onde estudou as HQs na Internet, bati-zando essa linguagem híbrida de quadrinhos e hipermídia de HQtrônicas (his-tórias em quadrinhos eletrônicas), pesquisa que serviu como base para o livro HQtrônicas: Do Suporte Papel à Rede Internet editado em 2005 pela parceria entre as editoras Annablume e a FAPESP, com sua segunda edição publicada em janeiro de 2008. Doutor em Artes na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA – USP) – (2006). Foi professor dos cursos de Ciência da Computação e Arquitetura e Urbanismo da PUC-MG (Unidade Poços de Caldas) durante 7 anos (2001-2008), atualmente é docente adjun-to II da Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, onde também é professor permanente no Programa de Pós-Graduação – Mestrado & Doutorado – em Arte e Cultura Visual.
Eudes Fernando Leite
Graduou-se em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - (1990), Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – (UNESP) - (1994), e Doutor em Histó-ria pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) - (2000). Realizou Estágio Pós-Doutoral na UFRJ (2010). Atualmente é professor associado II da Universidade Federal da Grande Dourados. Foi coordenador do PPG em História (Mestrado) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no período de julho de 2006 a julho de 2009. É Associado da ANPUH. Integra a Rede Centro-Oeste de Ensino e Pesquisa em Arte, Cultura e Tecnologias Contemporâneas (CO3). Tem experiência
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
194
na área de História Cultural, com ênfase em História Regional do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Pantanal, Memória, História e Literatura, Cultura e História Oral.
Fausto Calaça
Graduou-se em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goi-ás (PUC GOIÁS) – (1997). Doutor em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília(UnB) com estágio realizado na École Doctorale Lettres & Arts (Université Lumière Lyon 2) – (2010). Professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (área de concentra-ção: Estudos Literários) e do curso de Graduação em Psicologia da Univer-sidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Membro dos grupos de pesquisa Lugares de Arte: linguagens, memórias, fronteiras (UFMT) e Subjetivação, Clínica e Cultura: do moderno ao contemporâneo (UnB). Realiza pesquisas no Groupe International de Recherches Balzaciennes (Université Diderot-Paris 7). Trabalha com os seguintes temas: literatura e história da subjetivi-dade; construção literária do sujeito; estudos balzaquianos.
Graciela Natansohn
Graduou-se em Jornalismo – Universidad Nacional de La Plata, Argenti-na (1984) e Licenciatura em Comunicação Social – Universidad Nacional de La Plata, Argentina (1987), Mestre (1998) e Doutora em Comunicação e Cul-tura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) - (2003). Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Suas pesquisas e sua produção concentram-se na Cibercultura: Jornalismo online, Jornalismo de Revista, Estudos de Gênero, Mulheres e TIC´s.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
195
Joyce Luciana Correia Muzi
Graduou-se em Letras, licenciatura Português e Espanhol pela Univer-sidade Federal do Paraná (UFPR) – (2006). Mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – (2011) e Mes-tre em Ciências da Educação pela Universidad Del Norte/Asunción/Py – (2010). Atualmente atua como professora efetiva no Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá, na área de Língua Portuguesa e Língua Espa-nhola, regime de Dedicação Exclusiva. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações de Gênero e Tecnologia – GeTec/UTFPR. Sócia-fundadora da Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias – Esocite-BR. Realiza pesquisas sobre gênero e literatura, gê-nero e discursos e gênero e educação.
Juliana Abonizio
Graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – (1995), Mestre em História - (1999) e Doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-quita Filho (UNESP) – campus de Araraquara (2005), Pós-Doutorado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (2010). Atualmen-te exerce o cargo de Professor Adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Na mesma instituição, atua como docente do Programa de Pós-Graduação Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO), mestrado interdisciplinar. Tem experiência na área de Sociologia, atuando nas linhas Epistemes Contemporâneas e Comunicação e Mediações Sociais, pesqui-sando principalmente em temas relacionados ao Cotidiano, Subjetividade, Interações Face a Face, Culturas Juvenis, Sociedade Alternativa, Pós-Mo-dernidade, Modificações Corporais, Monstruosidade, Cultura Alimentar, Consumo e vegetarianismo. É líder do Núcleo de Estudos de Cultura Popu-lar e é pesquisadora da Rede Centro-Oeste de Ensino e Pesquisa em Arte, Cultura e Tecnologias Contemporâneas – Rede CO3.
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
196
Karla Schuch Brunet
Graduou-se em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - (1992), e em Letras-Português-Inglês pelo Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) - (1992), especialização em História e crítica da arte eletrônica pelo Media Centre D’art i Disseny (Espanha, 2004), Mestrado – D.E.A. – Comunicación Audiovisual y Publicidad – Universitat Pompeu Fabra (Espanha, 2003), Mestrado – Master in Fine Arts Fotografia – Academy Of Art College (EUA, 1996), Doutorado em Comunicação Audiovisual – Universitat Pompeu Fabra (Espanha, 2006) e Pós-Doutorado em Cibercultura Pós-Com – Universidade Federal da Bahia (UFBA) (2009). Atualmente é professora do Instituto de Artes, Hu-manidades e Ciências e do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tem experiência na área de Artes e Comunicação, com ênfase em Cibercultura, Arte Digital, Arte e Tecnologia e Fotografia.
Lucelma Pereira Cordeiro
Graduou-se em Comunicação Social- Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – (2008). Mestre em Estu-dos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso (ECCO/UFMT) – (2011), linha de pesquisa em Comunicação e Mediações Culturais. Na graduação, desenvolveu monografia sobre a relação entre propaganda e subjetividade feminina na cultura contemporânea. Atual-mente seus interesses estão voltados para pesquisa na área de Comunica-ção, principalmente na interface dos seguintes temas: Publicidade e Propa-ganda, Modernidade, Mediações Culturais, Consumo.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
197
Ludmila Brandão
Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Flu-minense (UFF) - (1982), e em História pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) - (1995), Mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) - (1993) e Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - (1999). Pós-doutorado (2004-2005) na Université d’Ottawa (Canadá), com bolsa CA-PES, na área de Crítica da Cultura. Professora Associada II da Universidade Federal de Mato Grosso. Fundadora e primeira Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea – Área Interdis-ciplinar – da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Coordenadora da Rede CO3 (Rede Centro Oeste de Ensino e Pesquisa em Arte, Cultura e Tecnologias Contemporâneas) que reúne pesquisadores de programas de pós-graduação da UFMT, UnB, UFG, UFGD, UFMS e UFU. É líder do Nú-cleo de Estudos do Contemporâneo (UFMT/CNPq). É membro da Associa-ção Brasileira de Críticos de Arte – ABCA e Curadora do Museu de Arte e Cultura Popular da UFMT (MACP/UFMT). Atua no campo da Análise e da Crítica Cultural, da Crítica de Arte, no debate sobrea “contemporaneidade”, abordando os seguintes tópicos: arte, cidade, subjetividades, subalternidade e resistência e, recentemente, a temática da cópia, conceitos correlatos, poéticas e práticas contemporâneas. Principal publicação: A Casa Subjetiva: matérias, afectos e espaços domésticos (São Paulo: Perspectiva, 2008, 1 reimpressão).
Marina Souza Lobo Guzzo
Graduou-se em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - (PUC Campinas) - (2001), e em Educação Física pela Univer-sidade Estadual de Campinas (UNICAMP) -(2002), Mestre em Psicolo-gia Social (“Risco como estética, corpo como espetáculo”) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - (2004) e Doutora em Psi-cologia Social (“Dança em Ação: política de resistência no ENCARNA-
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
198
DO de Lia Rodrigues”) pela Pontifícia Universidade católica de São Paulo (PUC-SP) - (2009). Foi assistente da área de dança na Gerência de Ação Cultural do SESCSP – Serviço Social do Comércio por dois anos. Atual-mente é professora da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no curso de Educação Física. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Dança, Ginástica Geral e Circo atuando principalmente nos seguintes temas: corpo, dança, risco, acrobacia e cultura corporal.
Nancy Stancki da Luz
Graduou-se em Matemática pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) - (1987), e em Direito pelo Centro Universitário Curitiba (2009), especialização em Metodologia do Ensino Tecnológico pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - (1994), especialização em Mi-nistério Público: Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná - (2011), Mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - (2000) e Doutora em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campi-nas (UNICAMP) - (2005). Atualmente é Professora da Universidade Tecno-lógica Federal do Paraná, Membro de corpo editorial de Cadernos de Gênero e Tecnologia (CEFET/PR) e Docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem experiência na área de Educação. Atuando principalmente nos seguintes temas: Relações de Gênero trabalho formação profissional, Indústria, relações de gênero trabalho educação, tecnologia.
Olivier Bara
Professeur dês Universités da Faculté dês Lettres, Sciences Du Langage ET Arts da Université Lumière Lyon 2; pesquisador da Unité Mixte de Re-cherche «Littérature, idéologies, représentations, XVIIIe – XIXesiècles» (LIRE) no Institut dês Sciences de l’Homme de Lyon.
Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero
199
Terezinha de Camargo Viana
Graduou-se em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – (1970) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) – (1972), Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP) – (1992). Pós-doutorados em Antropologia na Univer-sidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - (2003) e em Psicologia Clí-nica no Instituto Superior em Psicologia Aplicada – ISPA, Lisboa (2007). Atualmente é Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura, e Professora Associada do Departamento de Psicolo-gia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília (UnB), atuando na graduação, pós-graduação estrito senso e lato senso (Teoria Psicanalítica). Consultora de periódicos científicos e membro do conselho editorial de revistas científicas, dentre essas Revista Humanidades e Re-vista Psicologia: Teoria e Pesquisa. Atua na área de psicologia clínica, nos seguintes temas: psicanálise, subjetivação, teoria e clínica psicanalítica, feminilidade, cultura, estética, literatura, arte e psicoterapia.
Wilson José Alves Pedro
Gradou-se em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Jú-lio de Mesquita Filho (UNESP) – (1986), e em Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Araraquara (1992), Especialização em Adminis-tração de Recursos Humanos pelo Instituto Alberto Mesquita de Camargo (1988), e em Psicodrama pelo Instituto Bauruense de Psicodrama (2009), Doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - (2002). Professor Adjunto da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), junto ao Curso Graduação em Gerontologia (2009) e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (2007). Tutor do Curso de Aperfeiçoamento Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa – ENSP/Fiocruz e DAPE/SAS – Ministério da Saúde – e do Curso de Especialização na Docência da Educação Profissional Técnica
Dolores Galindo e Leonardo Lemos de Souza (Organizadores)
200
em Saúde – ENSP/Fiocruz (2010-2011). Tem ampla vivência no ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Gerontologia, Gestão de Pessoas e Psico-logia Social. Desenvolve pesquisas junto aos Grupos: Saúde e Envelheci-mento; Políticas e Práticas em Saúde e Ciência, Tecnologia e Sociedade. Tem priorizado a gerontologia em suas investigações, trabalhando com as seguintes temáticas: gestão em gerontologia (concepções, políticas e prá-ticas); processos de envelhecimento – ativo e saudável; dimensões sociop-sicológicas da ciência – tecnologia-gerontologia. Membro da SBGG, da ABRAPSO e da FEBRAP.
Yuji Gushiken
Graduou-se em Comunicação Social: Relações Públicas pela Universi-dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – (1995), e em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) – (1991). Doutor (2004) e Mes-tre (1998) em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor, pesquisador e um dos criadores do Mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso (ECCO-UFMT), em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Líder do Núcleo de Estudos do Contemporâneo (NEC-UFMT/CNPq). Tem experiência profissional em divulgação científica e política científica. Trabalhou como redator de projetos editoriais em jornalismo e comunicação organizacio-nal: Guia Rural (Editora Abril) e Jornal da Ciência (SPBC). No campo da pesquisa científica, desenvolve estudos na interface entre comunicação e cultura, com enfoque nos seguintes temas: teorias da comunicação, forma-ção dos campos culturais, políticas de comunicação, relações públicas e comunicação organizacional, folkcomunicação e cultura contemporânea. Atualmente, desenvolve projeto de pesquisa sobre comunicação e cidade.
SOBRE O LIVRO
CAPA: 50 x 22 cm
MIOLO:15,5 x 22 cm
TIPOLOGIAS: Bella Donna (23/25/32/50/53pt)
BrowalliaUPC (8/11/12/13/15/16/20/25pt)BrowalliaUPC Bold (11pt)
Times New Roman Regular (7/8/9/10/11pt)Times New Roman Bold (7/9/11/14/16pt)
Times New Roman Italic (10/11pt)
PAPEL: Cartão Supremo 250g/m² (capa) e Offset 90g/m² (miolo)











































































































































































































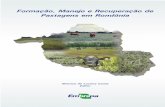
















![LIVRO F[1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63352088253259241700653d/livro-f1.jpg)


