REVISTA DE - JORNALISMO ESPM edição brasileira da
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of REVISTA DE - JORNALISMO ESPM edição brasileira da
9 772238 230504 01000
ISSN 2238-2305
Revista de
JoRnalismo esPm edição brasileira da
columbiajournalism reviewImprensa livre, Democracia forte
DRONES SÃO REPÓRTERES?O uso de aviõezinhos não tripulados para cobrir acontecimentos sobre a Terra vira uma questão jurídica nos EUA e uma febre no BrasilLOUISE ROUG, ELIZABETH SPAYD E FERNANDO CANZIAN
O FUTURO EM DEZ LEMBRANÇASLições para a imprensa aprender com o passadoe não bobear no presente RICARDO GANDOUR
O CÃO NÃO LATIUPor que o público foi pego de surpresa na crise financeira de 2008 DEAN STARKMAN
BLOOMBERG NA BERLINDAO abalo na credibilidade da agência que cedeu às pressões do governo chinês HOwARD w. FRENCH
QUANDO O OUTRO LADO NÃO IMPORTAAs causas humanas da mudança climática não são mais um debate, mas sim um fato ROBERT S. ESHELMAN
A NOVIDADE É SABER SELECIONARFalta de foco marca a cobertura científica no Brasil ANA PAULA FREIRE
PENA CERTEIRACrônicas de Albert Camus dão a pista para a evolução do pensamento do escritor ELIAS ALTMAN
capa
: Yo
ma
r a
ug
ust
o
Lati
nst
ock
julho | agosto | setembro 2014
6 CARTAS
7 ROUBOUACENA
8 TUDOEMDIAGENES, IDEOLOGIA, POLÍTICA E JORNALISMOCarlos Eduardo Lins da Silva comenta pesquisas que relacionam a biologia a inclinações ideológicas e as crenças das pessoas a como elas tomam as próprias decisões
12 DIRETODECOLUMBIAÉ HORA DE FALAR A LÍNGUA DA INTERATIVIDADEDavid Klatell fala da juventude que exige diálogo e participação ao buscar informações
14 IDEIAS+CRÍTICASO FUTURO EM DEZ LEMBRANÇASO diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, lança um decálogo para fortalecer a essência da profissão em tempos de mudança
18 SOBOCÉUQUENOSESPREITAA editora Louise Roug põe fogo na discussão sobre a necessidade de regulação para o uso do drone em reportagens
28 CONTROLEAÉREOA diretora de redação da CJR, Elizabeth Spayd, critica a posição agência de aviação civil americana, que quer se meter na liberdade de expressão
30 ENQUANTOISSONOBRASIL...PERSPECTIVA EM MUTAÇÃO O repórter especial Fernando Canzian, da TV Folha, conta como os aviõezinhos não tripulados capturam os acontecimentos
32 SEMFALTARCOMAVERDADEMarc Fisher, do Washington Post, defende a boa, velha e esquecida checagem das matérias para evitar erros grosseiros
44 REVÉSNABLOOMBERGO professor da Columbia Howard W. French desbasta a crise de credibilidade da agência, que cedeu às pressões impostas pelo governo chinês
52 OPERIGODOEQUILÍBRIOO produtor de TV Robert S. Eshelman afirma que a influência do homem nas mudanças climáticas é um fato, não é mais um debate
58 ENQUANTOISSONOBRASIL...QUANDO NÃO TER NOVIDADE PODE SER A NOTÍCIAPara a pesquisadora Ana Paula Freire, a imprensa brasileira tem dificuldade de saber o que é relevante na cobertura científica
62 ESCRITAENGAJADAElias Altman, da revista Lapham’s Quarterly, recapitula a evolução do pensamento de Albert Camus
68 OCÃOMUDOExcerto de obra de Dean Starkman mostra por que o público foi pego de surpresa pela crise financeira de 2008
76 PARALEREPARAVERLeão Serva resenha um livro do fotógrafo Cássio Vasconcellos, outro sobre a compra da salvação e artigo sobre mídia estatal. E mais: obra sobre erros em jornais, site de fotografia e O Réu e o Rei
80 CREDENCIALQUANDO A MATÉRIA VESTE A CAMISA DO GRUPO O coordenador de jornalismo do Futura, José Brito Cunha, explica os desafios de reunir canais universitários para levar a produção local à rede nacional
Ma
rLe
ne
Be
rg
aM
o/F
oLh
ap
re
ss
he
nr
i ca
rti
er
-Br
ess
on
/ La
tin
sto
ck
Camus clicado em Paris, 1944 Pág. 62
São Paulo sob a poluição, 2012 Pág. 58
Jovens querem interatividade Pág. 12
4 julho | agosto | setembro 2014 revista de jornalismo esPm | cjr 5
O comportamento da imprensa brasileira durante a Copa do Mundo de 2014, do momento em que se definiu que ela seria realizada aqui até a derrota no Mineirão, foi errático e simbólico de vários de seus problemas crônicos atuais.
em 2007, quando a fifa formalizou o país como sede da competição, e nos anos imediatamente seguintes, auge do otimismo eufórico do segundo governo Lula, jornais, revis-tas e emissoras de TV embarcaram sem constrangimen-tos no ufanismo incontido de uma supercopa do hexa que vingaria 1950.
Não se tratava apenas de surfar na onda do público, que – supunha-se – iria se engajar totalmente no entusiasmo da Copa do Brasil. Apenas isso já teria sido nefasto demais para a imprensa, pois o seu papel social não é ir a reboque do que sua audiência deseja.
À imprensa cabe dialogar com seus consumidores de um modo que ela e eles se influenciem reciprocamente e apon-tem caminhos e alternativas que uma e outros não seriam capazes de contemplar por si sós. É assim que ela ajuda a sociedade a conversar e buscar consensos.
Mas além do vício, que parece estar se tornando hegemô-nico, de cada veículo se tornar mera caixa de ressonância a amplificar como eco as preferências e opiniões dos que o assistem ou leem, ainda houve o perigo de outra tendên-cia crescente e deletéria para a imprensa: o estreitamento dos muros que separam igreja (redação) e estado (publi-cidade) no traçado da estratégia dos meios.
A Copa do Mundo é uma extraordinária oportunidade de aumento de receitas para todo o conglomerado de mídia de um país que hospeda esse evento, que há muito dei-xou de ser esportivo para se transformar num bilionário aparato de negócios, nem todos lícitos ou éticos, como se tem comprovado.
Para poder maximamente usufruir dessa possibilidade de faturar muito em tempos cada vez mais difíceis para a indústria, a imprensa não viu maiores problemas em
embalar a grande “ola” nacionalista engendrada por governo, patrocina-dores, Fifa e suas adjacências.
Mas em junho de 2013, quando os protestos de rua contra os gastos rea-lizados na copa pegaram o país de sur-presa, estabeleceu-se o impasse, já que os leitores e espectadores se posiciona-vam do lado oposto ao da Fifa e todos os seus autorizados a ganhar dinheiro.
Da contradição resultou uma cober-tura por vezes esquizofrênica do ensaio da Copa das Confederações, que aca-bou encontrando uma fórmula um pouco inusitada de tentar conciliar os opostos: separar a seleção da Copa.
O time nacional, “o Brasil”, podia ser elogiado sem nenhuma peia por-que ele era amado pelo povo; o outro Brasil, do governo e submetido à Fifa,
podia ser malhado também sem contenções, pois era con-tra este que gritavam as ruas.
Felipão podia dizer que havia convocado Júlio César só porque os jornalistas não queriam que ele fosse convo-cado, jurar que com o seu grupo iria até para o inferno: muito poucas vozes na imprensa se levantaram para cri-ticar o “escrete canarinho”.
Do mesmo modo, as agências publicitárias recomenda-vam aos clientes que colassem as suas marcas à da sele-ção, não à da copa.
Ao ficar claro que haveria copa e possivelmente sem nenhuma catástrofe de organização ou infraestrutura, e com a equipe nacional nos campos, apesar de trancos e barrancos, caminhando aparentemente rumo ao tão sonhado título, as coisas se acomodaram de novo na zona de conforto.
E voltamos ao discurso do “nós”, da primeira pessoa do plural majestático, em que tudo se funde como numa grande família, bem ao gosto de Scolari: o povo, o governo, a seleção, os anunciantes, tudo “é tóis”.
Até que veio a Alemanha com sua blitzkrieg de 8 de julho, que vai ficar no calendário da história do futebol como o de infâmia pior do que o 16 de junho. E a imprensa rea-giu como se tivesse sido um 11 de setembro verde e ama-relo: “fiasco, humilhação, massacre, vergonha, catástrofe, pânico, achincalhe, cicatriz, pífio, trauma, escombros, desonra, desastre...”
Depois da catarse e de ter recomendado enfaticamente que o futebol do Brasil precisa ser repensado, renovado, reconstruído, a imprensa também deveria parar para medi-tar sobre o que fez nesta copa e como vai agir nas futu-ras copas de futebol e em todos os assuntos que cobrir. ■
A Copa do Mundo é nossa
editorial
presidente J. Roberto Whitaker Penteado
vice-presidentes Alexandre Gracioso, Elisabeth Dau Corrêa, Hiran Castello Branco e José Francisco Queiroz
diretoria Flávia Flamínio (diretora-geral da espm Rio de Janeiro), Richard Lucht (diretor-geral da espm Sul), Luiz Fernando Garcia (diretor da Graduação da espm São Paulo) e Licínio Motta (diretor da Pós-Graduação da espm São Paulo)
conselho editorial J. Roberto Whitaker Penteado (presidente), Eugênio Bucci (secretário), Carlos Eduardo Lins da Silva, Caio Túlio Costa, Carlos Alberto Messeder, Janine Lucht, Judith Brito, Maria Elisabete Antonioli e Ricardo Gandour
redação da revista de jornalismo espm
diretor de redação Eugênio Bucci editor Carlos Eduardo Lins da Silva editora-associada Ana Paula Cardoso diretora de arte Eliane Stephan
editora-assistente Anna Gabriela Araujo assistente de arte Elisa Carareto Alves coordenadora editorial Lúcia Maria de Souza tradução Ada Félix e Mário Buccirevisão Bia Mendes assistente de produção Ruan de Sousa Gabriel
A Revista de Jornalismo espm é uma publicação trimestral da ESPM, com conteúdo exclusivo da Columbia Journalism Review
endereço Rua Doutor Álvaro Alvim 123 - Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP 04018-010 editorial 11 - 5085-4643 e-mail [email protected]ções 11 - 5085-4508 e-mail [email protected] assinaturas [email protected] | www.espm.br
diretor da columbia graduate school of journalism Steve Coll
presidente Victor Navasky
diretora de redação e publisher Elizabeth Spaydeditor Brent Cunninghameditora-associada e de produção Christie Chisholmeditor-associado Kira Goldenbergequipe de redação Liz Cox Barrett, Greg Marx, Michael Meyer (Agência de Notícias)auditoria Dean Starkman (Kingsford Capital Fellow), Ryan Chittum (Editor Adjunto), Martha Hamilton (Auditora)editores-assistentes Alexis Sobel Fitts, Edirin Oputueditores colaboradores Ben Adler, James Boylan, Curtis Brainard, Julia M. Klein, Charles Lewis, Trudy Lieberman, Michael Massing, Judith Matloff, Douglas McCollam, Justin Peters, Alissa Quart, Cristine Russel, Michael Shapiro, Scott Sherman
diretor geral Dennis Gizadiretor executivo e de parcerias estratégicas David Kellogggerente de negócios Marietta Belldesenvolvimento de negócios Christopher Wiss
A Columbia Journalism Review é uma publicação da Columbia University Graduate School of Journalism
As informações contidas nos artigos assinados e publicados nas páginas da Revista de Jornalismo ESPM são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores.
a revista de jornalismo esPm (issn 2238-2305) é uma publicação trimestral. ano 3, número 10, julho / agosto / setembro de 2014
Imprensa livre, Democracia forteLançamento
www2.espm.br/espm/institutocultural-0
“Sentimo-nos orgulhosos do trabalho que estamos apresentando à consideração dos profissionais do setor, professores e estudiosos do assunto. Mais uma vez, a ESPM cumpriu o seu papel, fiel aos princípios que nos foram legados pelos seus fundadores.”
Francisco Gracioso
6 julho | agosto | setembro 2014 revista de jornalismo esPm | cjr 7
Charge de Angeli reforça a tese da inconstância, pelo menos quando se trata de Maluf. Depois do clique em que sela o apoio a Padilha, desaparece da cena e bandeia-se para a candidatura de Skaf, que, ao agradecer o apoio, chamou o Partido Progressista de Partido Popular
cartas
Dei minha palavra.” A frase reproduzida pelo vice--presidente da República, Michel Temer, em uma entrevista publicada no Estado de S. Paulo em 3
de julho, saiu dos lábios do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP). Nenhuma novidade até aqui. O espantoso não é o político continuar a dar sua palavra depois de mais de quatro décadas. O espantoso é acreditar nela. Desta vez, quem acreditou foi o PT. Em 30 de maio, o Partido Progressista (PP) oficiali-zou o apoio à candidatura do petista Alexandre Padilha ao governo de São Paulo. O enlace eleitoral aconteceu na Assembleia Legislativa e teve direito a foto. É verdade que foi tudo bem mais discreto do que em 2012, quando a aliança de Maluf com Fer-nando Haddad na disputa da prefeitura rendeu fotos históricas no jardim da mansão do deputado. Com Padilha, Maluf foi menos carinhoso. Limitou-se a apertar a mão do can-didato, que o olhava desconfiado.
Mesmo assim, mais contida, a foto de Maluf com Padilha roubou a cena. Até que Maluf cuidou de roubar da cena a imagem que ele mesmo havia produzido. Em 30 de junho, um mês depois de dar sua palavra (e sua imagem) a Padilha, o PP anunciou que estava abandonando a candidatura petista para apoiar Paulo Skaf na corrida ao Palá-cio dos Bandeirantes. A foto não valia mais nada. Entre um dia 30 (o da fotografia) e o outro (o da morte da fotografia), o Datafolha divulgou uma pesquisa que mostrava Padilha com apenas 3% das intenções de voto, enquanto Skaf registrava 21%. A exe-cutiva estadual do PP ponderou que uma aliança com Skaf poderia ajudar o partido a eleger uma bancada maior na Câmara.
Adeus, Padilha! Maluf voltou atrás em sua palavra, mas minimizou o fato político lis-tando as personalidades com as quais já fora clicado: Elizabeth II, Bill Clinton, George H. W. Bush, Pelé... Há uma pessoa com quem Maluf não posou: Paulo Skaf. E parece que nem vai posar. Compreensível. Uma foto com Maluf vale menos do que mil palavras, embora uma palavra não valha uma foto, se é que dá para ser mesmo compreensível. ■
roubou a cena
Joe
l Si
lva
/Fo
lha
pr
eSS
an
ge
li/F
olh
ap
re
SS
estudo de fôlego
Estou lendo o relatório “Um modelo de negócio para o jornalismo digital” do Caio Túlio Costa, publicado na edi-ção nº 9 da Revista de Jornalismo ESPM. O texto é extremamente eluci-dativo e o conteúdo da revista como um todo está fantástico. Parabéns!Flávio Cordeiro, sócio da agência Binder
erramos
Duas maravilhosas atitudes da Revista de Jornalismo ESPM, na edição nº 9: reconhecer um erro e transformá-lo em ampla matéria sobre o assunto. E ainda trazendo o testemunho do Janis-traquis! No lugar de um simples “erra-mos”, optar por matéria de capa. Per-feito. Cumprimentos pelo alto nível de profissionalismo.Izolda Cremonine, gerente de comunicação interna da ESPM
por falar em erros
Marcelo Tas costuma dizer quando apresenta o Top Five – CQC que “a TV ao vivo é a morada do Diabo”. Se é assim, Lúcifer tem duas casas, pois a palavra impressa causa mais estragos que uma imagem na tela. E quando é publicação para jornalistas, nem se fale, escorregões chamam a atenção ainda mais (ô, raça, a gente adora criticar, mas não gosta de se tornar alvo...). Na edição nº 9 da Revista de Jorna-lismo ESPM tem uns “errins”:pág. 30 – no lide, Como soe acontecer... Ueba! É sói...mais abaixo: (...) O real conflito é entre a imprensa confiável e a outra, onde a mentira... Uai, nenhum dos dois tipos de imprensa é lugar pra caber onde, é “em que”, “na qual”, né?(...) Contudo, ainda mais importante é o limite ao que se pode fazer. Não é do que?
E aqui vão dois erros do tipo “cuma???”, em nome de gente que não sai do noti-ciário há anos. Na pág. 10, Luís (Luiz) Inácio Lula da Silva e Aloízio (Aloizio) Mercadante. Onde é mesmo a morada do Coisa à Toa?Cacalo Kfouri, jornalista
resposta da redação Ah! Mas o Capeta não dá sossego de jeito nenhum a quem trabalha no dia a dia com a palavra escrita ou falada – ainda mais a incautos da nossa profissão. E dizem que a morada do Coisa Ruim é incerta, pois é conhecido como criatura volúvel, mas ele costuma pregar peças na nossa humilde redação.
aviso
Li e recomendei a meus amigos. A revista está um sucesso.Edjalma dos Santos Borges, comunicador social
Conheça as descobertase o pensamentodo ESPM Media Lab.O ESPM Media Lab é um laboratóriode pesquisa e inovação em M.E.D.I.A. (Mídias, Entretenimento, Designe Intervenções Artísticas).Um espaço que investiga transformaçõesno consumo e na comunicação a partirda emergência da cultura pan-midiática.Nossas pesquisas, cursos e estudos são realizados em áreas como mídias e redes sociais, novos meios e novas linguagens, comunicação multissensorial, entre outras.
SAIBA MAIS SOBRE O ESPM MEDIA LABwww.espm.br/medialab
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Media Lab - Anúncio - Revista de Jornalismo ESPM.pdf 1 31/03/14 16:46
8 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 9
Genes, ideologia, política e jornalismo
dilma rousseff e barack obama, como praticamente todos os políticos que exercem o poder em democracias no mundo, se sentem injustiçados pela imprensa, e de vez em quando saem atirando contra ela, especialmente em anos eleitorais, como é o de 2014 no Brasil e nos EUA.
Entre as características em comum que os dois presi-dentes têm está o fato de eles serem os pioneiros de suas condições, ela de gênero e ele de etnia, no mais alto cargo público de suas nações.
Por isso mesmo, é provável que a autodefesa em relação a críticas seja mais aguçada que a de seus antecessores, é possível que se sintam alvo de preconceitos, por serem mulher e negro, e pode-se supor que pelo menos algu-mas das críticas que recebem sejam originadas por eles.
No final de junho, Obama atirou pesadamente na imprensa por ela ser, em sua opinião, frívola, e não se ocupar dos problemas reais do povo. Dilma, por sua vez, na mesma época, concentrou seus ataques ao jornalismo por ele ter sido, segundo ela, catastrofista em relação à Copa do Mundo de futebol.
Dilma, Obama e a torcida do Flamengo não gostam de ser criticados. E uma das principais funções da imprensa numa democracia é criticar os que governam. Por isso, a antipatia deles contra ela é inevitável.
Alguns, no entanto, tendem a enxergar mal o poder do jornalismo e a retaliar com medidas que podem ser muito prejudiciais à sociedade.
A mídia, em questões político-eleitorais, é muito menos poderosa do que o senso comum supõe, como tem com-provado sistematicamente a pesquisa acadêmica desde que Paul Lazarsfeld, nas eleições presidenciais americanas de 1940, 1944 e 1948, monitorou o comportamento elei-toral e de consumo de mídia dos cidadãos de uma típica cidade americana, Elmira, Nova York.
tudo em diacarlos eduardo lins da silva
Car
oly
n K
ast
er
/aP
o ex-presidente luiz Iná-cio Lula da Silva é outro polí-tico que tem por hábito ata-car o jornalismo sempre que ele o critica ou desagrada. Por causa da cobertura da
Visões de governo e oposição
Mídia e poder É fácil em alguns países
alguns poderosos que se irritam com a imprensa conse-guem ter vida mais fácil e dei-xam de se preocupar com ela.
O exemplo mais recente vem do Egito, onde o regime de Abdel Fattah al-Sisi, atual presidente do país,
Para Dilma, o jornalismo foi catastrofista em relação à copa
Kev
in l
am
ar
qu
e/l
ati
nst
oCK
Ele concluiu que os meios de comunicação exerceram influência pequena ou mesmo nula sobre a decisão de voto das pessoas que constituíam seu universo de pesquisa.
Nos anos 1950, Lazarsfeld foi mais longe. Com novos estudos, passou a acreditar que as escolhas eleitorais “são relativamente imunes à argumentação direta” e “carac-terizam-se mais por fé do que por convicção, mais por desejo do que por cuidadosa previsão de consequências”.
Milhares de estudos comprovaram posteriormente e até agora as descobertas de Lazarsfeld. Em 2009, John Alford e John Hibbing publicaram na revista Science artigo em que tentam demonstrar vínculos entre as inclinações polí-ticas das pessoas e seus genes, entre ideologia e biologia.
Recente trabalho de professores das universidades de Chicago, Nova York e Tilburg, sob a liderança de Eugene Caruso, mostra que nossas crenças afetam não apenas o modo como avaliamos o mundo em termos de juízos de valor, mas também como percebemos concretamente pes-soas e coisas no ambiente.
O estudo demonstrou que, diante de um jogo de três fotos de Obama, uma sem alteração e as outras acentu-ando ou atenuando o tom negro da sua pele, quem con-cordava com as posições políticas do presidente e tendia a votar nele achava que o verdadeiro Obama era o mais claro, e os que se opunham e iam votar no seu opositor o reconheciam como o mais escuro, em proporções esta-tisticamente significativas.
Assim, ou por genes ou por cultura, os cidadãos dificil-mente mudam de atitude ideológica ou eleitoral por causa de qualquer eventual tipo de cobertura da política pela mídia. Mas quem é criticado tende a achar o contrário.
E, se a pessoa tem muito poder e pouco senso, pode tentar se vingar com medidas que ferem a liberdade de expressão e a democracia. ■
que aplaudia revelações de abusos de seus antecessores feitas pela imprensa, conde-nou a dez anos de prisão jor-nalistas premiados da insus-peita emissora de TV Al Jazeera, sob acusação de ter vínculos com o terrorismo
e de degradar a imagem do Egito no exterior.
Sisi, como, antes dele, Saddam Hussein no Ira-que, Muammar al-Gaddafi na Líbia, e tantos outros dita-dores, em breve não preci-sará mais atacar a imprensa, pois ela já estará toda domi-nada no Egito. ■
Copa do Mundo, afirmou que a imprensa “não nas-ceu para ser partido de opo-sição”. Como não é incomum em suas falas, Lula cometeu um erro factual.
Na verdade, em muitos países, o Brasil entre eles, a imprensa nasceu exata-mente com o propósito de fazer oposição. No caso bra-sileiro, o primeiro jornal foi o Correio Braziliense, que lutava pela independência do Brasil e contra a monar-quia portuguesa.
governo, passou a detestá-la por cumprir o mesmo papel.
Diferentemente de sua sucessora, Lula, tanto quando estava no Planalto quanto após tê-lo deixado, deu asas àqueles que, no seu entorno, tentam propor maneiras de coibir a liberdade de expres-são no país. ■
Lula, como muitos, acha bom que a imprensa seja de oposição quando ele está na oposição. O PT gos-tava da “mídia burguesa” e a municiava com informa-ções quando ela criticava e denunciava o governo de Fernando Henrique Car-doso. Mas, quando virou
Obama acusou a imprensa de não se ocupar de questões reais do povo
O Brasil está dando um show. Mas tem um problema aqui. A imprensa nacional errou bastante, digo isso
sem nenhum ânimo belicoso(Dilma Rousseff )
Você não vê isto [um encontro de cidadãos em Minneapolis] na TV. Não é o que a imprensa comenta. Mas eu estou aqui para dizer que eu estou ouvindo
(Barack Obama)
10 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 11
no filme Nos Bastidores da Notícia (Broadcast News, 1987), de Ja-mes Brooks, o repórter e editor tom Grunick (interpretado por William Hurt) ganha notoriedade, promoção, prêmios e mulheres ao aparecer chorando durante uma entrevista. na verdade, ele usou recursos de montagem para simular essa emoção, mas isso pouco importa.
existe no jornalismo em geral e no telejornalismo em par-ticular uma compulsão por mostrar ou descrever lágrimas, talvez pela presunção de que quem chora é “autêntico” e de que essas cenas criam forte empatia com a audiência e resulta em sucesso para a matéria e seus autores.
na Copa do mundo de 2014, não faltaram oportunidades para destacar lágrimas, e os veículos jornalísticos não foram nada tímidos ao explorá-las. todos os dias, manchetes gene-rosas foram dedicadas aos choros de dor, medo, alegria, tris-teza, civismo dos heróis da pátria brasileira que se sacrificaram por ela e por todos nós nos gramados nacionais.
muito poucos abriram espaço para outras atitudes, sem lágrimas, como a dos jogadores da seleção da argélia, que resolveram doar o dinheiro de sua premiação às vítimas pa-lestinas do conflito do oriente médio. os argelinos não chora-ram. talvez por isso ninguém os notou na imprensa. ■
Copa do Mundo
um vale de lágrimas
as mídias sociais e seus efeitos ainda mal diagnosticados no mundo e em especial no ambiente jornalístico continuam sen-do estudados por acadêmicos em vários países. abaixo, três pesquisas relevantes divulgadas em maio.
Métrica todo-poderosaedson C. tandoc Jr., da nanyang techno-logical university (Cingapura) e ryan J. thomas, da missouri school of Journa-lism, pesquisaram como diversos veículos jornalísticos estão orientando suas dire-trizes editoriais pela métrica de audiência de suas mídias sociais e apontam o risco de eles se deixarem escravizar pela au-diência em vez de iluminá-la e desafiá-la. Com isso, dizem, os veículos podem ser uma barreira à criação de uma comuni-dade em torno de ideais compartilhados e ao compromisso coletivo com a demo-cracia. o modelo “centrado na audiência e governado pela lógica de mercado” é eticamente condenável e negligencia o papel crucial do jornalismo de entender o que o público quer e balancear com o que o público precisa, dizem.
De perdição a panaceia Philip schlesinger e Gillian Doyle, da uni-versidade de Glasgow, analisaram por meio de entrevistas em profundida- de com executivos e editores do Daily
Telegraph e do Financial Times o processo de transição desses dois jornais de um universo totalmente impresso para outro hegemonicamente digital e as tensões ocorridas nas redações durante essas mudanças e até o momento. as mídias sociais, inicialmente encaradas como inimigas e causa das desgraças dos jor-nais passaram a ser vistas por muitos como a salvação do futuro. a conclusão é que é preciso saber dosar as qualidades dos dois mundos para construir com sa-bedoria o que vem pela frente.
No centro de tudoDeen Freelon, sarah merritt e taylor Jaymes, da american university, foram a campo para monitorar como a impren-sa tratou o papel das mídias sociais nos movimentos Primavera Árabe e occupy Wall street, que muitos chamaram de revoluções do Facebook. Constataram que em cerca de dois terços das matérias analisadas sobre esses assuntos, reco-lhidas em sites de dez jornais represen-tativos, as mídias sociais foram destaca-das como o centro dos acontecimentos, em especial na Primavera Árabe. Das 795 matérias analisadas, 505 diziam que as redes sociais eram instrumentais para os protestos. essa tendência foi mais incisiva nos meios digitais do que nos meios tradicionais. ■
Novidades na pesquisa
Mídias soCiais números fortes
22% dos americanos confiam muito nos jornais nos EUA; em 1979, eram 51%
18% dos americanos confiam nos veículos on-line; em 1999, eram 21%
US$ 180 bilhões é o total dos gastos em publicidade nos EUA em 2014, um aumento de 5,3% em relação a 2013, o maior em uma década
80 milhões de brasileiros usam o Facebook, o equivalente a 67% da popu-lação urbana; a segunda mídia social mais comum no país é o YouTube, com 33%
19% dos americanos confiam muito nos telejornais nos EUA; em 1993, 46%
10% desse total foram para publici-dade em veículos digitais móveis, o que fará essa mídia superar o volume desti-nado a jornais, TV e rádio
18% dos brasileiros dizem que o smartphone é o meio principal pelo qual recebem notícias jornalísticas
22% dos brasileiros pagavam por noticiário digital em 2013, maior porcen-tagem entre os países pesquisados pelo Reuters Institute (EUA: 11%, Espanha: 8%)Fontes: Gallup, eMarketer, Reuters Institute
jeff bezos começa a dizer a que veio no Washington Post. O jornal passou a oferecer assinaturas grátis de todo seu conteúdo digital aos assinantes de veículos regionais americanos que se associarem a ele nesse projeto. A ideia é aumentar sua audiência, torná-la nacional e, talvez, mundial.
Tudo indica ser uma operação em que todos ganham e ninguém perde: para os jornais associados, é uma atração extra para seus leitores; para o Post, um extraordinário aumento de circulação, sem custo adicional para nenhum deles.
O presidente do Post, Steve Hills, diz que Bezos mudou a pergunta essencial para os executivos do jor-nal. Antes, ela era: “Como vamos fazer dinheiro nos próximos dois ou três anos?” Agora, é: “Como vamos ter uma grande audiência digital nos próximos dez ou vinte anos?”
Entre os jornais regionais importantes que já aderi-ram ao negócio estão Dallas Morning News, Honolulu Star-Advertiser, Toledo Blade, Minneapolis Star Tribune, Pittsburgh Post-Gazette e Milwaukee Journal Sentinel.
O Post sob o comando da família Graham tinha como dístico “Um jornal para Washington e sobre Washing-ton”. Ele estava em praticamente todas as casas da cidade e vizinhanças durante décadas e concentrava quase toda
carlos eduardo lins da silva é livre-docente, doutor e mestre em comunicação; foi diretor-adjunto da Folha de S.Paulo e do Valor.
a associação mundial de Jornais divulgou em junho um “manifesto por uma aliança internacional em favor da pesquisa e inovação nos meios de comu-nicação”. Segundo seus idealizadores, que a indústria necessita com urgên-cia de um esforço bem-sucedido para entender as condições do ambiente em que opera e para desenhar saídas para impasses a que está submetida. O “ecossistema de inovação” que ide-almente derivará desse projeto deve se desenvolver em torno de quatro pila-
res: a visão estratégica compartilhada que está expressa no manifesto, um processo de treinamento e aconselha-mento, a coprodução de serviços e tec-nologias em parceria com o mundo da pesquisa e transferência de tecnologia com interface específica entre editores, provedores de tecnologia e startups.
O nome do projeto é “Media Inno-vation Hub” e seu objetivo principal é acelerar mudanças na indústria para que ela possa enfrentar a dura reali-dade atual (o manifesto lembra que na
Europa a circulação paga dos jornais caiu 25% entre 2008 e 2012 e nos EUA o faturamento publicitário decresceu 42% no período).
A ideia é apresentar seus primei-ros resultados no prazo de um ano. Do Brasil, fazem parte o grupo RBS e a Pontifícia Universidade Cató-lica do Rio Grande Sul. Entre outros, participam a Agência France-Presse, a Universidade Vrije de Bruxelas e a Escola Politécnica Federal de Lau-sanne (Suíça). ■
pela pesquisa e inovação
Bezos muda a pergunta
VeíCulos
Bezos quer transformar o jornal The Washington Post em marca mundial
sua cobertura nas questões locais e nas nacionais origina-das na capital. Essa era a força de sua receita e o motivo de orgulho de seus editores.
Agora, a rota é diferente. O objetivo é seguir a linha de outros veículos que se internacionalizaram antes, como The New York Times, The Economist e Financial Times. A ideia é fazer do Post uma marca mundial e aumentar seu faturamento publicitário e de assinantes graças a isso. ■
riC
Ha
rD
Br
ian
/ la
tin
sto
CK
12 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 13
direto de columbiapor david klatell
a maioria das organizações jorna-lísticas já percebeu que seus leitores, ouvintes e telespectadores são muito mais do que meros recipientes pas-sivos de notícias, informação e opi-nião. Em redações do mundo todo, o jornalista hoje discute sua condição de interlocutor num “diálogo” com o público – do que se infere que o público também é um elemento atu-ante, receptivo e, volta e meia, con-dutor dessa conversa.
O papel do público pode assumir várias formas. Pode ser o agente que clica em links para obter informa-ções e recursos adicionais. Pode pos-tar e compartilhar opiniões em redes sociais. Pode exercer o jornalismo- cidadão. Pode, no papel de usuário, produzir conteúdo. Pode gerar dados. E, claro, pode fazer comentários e opi-nar em fóruns de discussão.
O desafio que muitos jornalistas e meios de comunicação tentam supe-rar é fazer o público tomar parte em cada atividade dessas sem que saiam de seu controle – e garantir, no pro-
cesso, que gerem alguma receita. Nesse quesito, o meio publicitário sempre esteve à frente de produtores de con-teúdo. É que, por definição, a publici-dade comercial e de varejo é conce-bida para fazer o consumidor “parti-cipar” – ou seja, tomar a decisão de comprar um produto. Normalmente, isso era feito com uma combinação de produção caprichada, pesquisa demo-gráfica e segmentação pesadas, patro-cínio de celebridades, calibragem cui-dadosa de preços e facilidade na com-pra do produto. Organizações jorna-lísticas, por sua vez, ainda estão ten-tando descobrir que abordagem, ou combinação de abordagens, surtiria efeito em seu caso.
Na última década, o jornalismo pas-sou da simples inserção de links no texto (o que já era, e de certo modo continua sendo, controverso) para a inclusão de componentes interativos abertos a um clicar do mouse, de links para redes sociais, blogs e podcasts, até chegar à visualização de dados e ao mapeamento interativo. Além
disso, incorporou o crowdsourcing, o conteúdo gerado pelo usuário, o jor-nalismo-cidadão (sobretudo regis-tros em fotos e vídeos) e o desenvolvi-mento de equipes compostas de pro-fissionais e amadores para a coleta de dados (o Big Data). Mas o mais difí-cil é lidar com as seções de comentá-rios/discussão no site de veículos de comunicação.
Curadoria de opiniões
Como muitos provedores de informa-ções sérias – incluindo organizações jornalísticas, Wikipedia, grupos de inte-resse público e de políticas públicas –, para sua grande consternação, acaba-ram descobrindo, a seção de comen-tários pode causar um belo estrago à reputação do site que a abriga, enfu-recer em vez de atrair consumidores e espantar publicidade. Além disso, admi-nistrar, peneirar e editar esse material sem torrar muito dinheiro e sem criar sérios dilemas éticos para o meio que o hospeda é extremamente difícil –
para não dizer impossível. É sabido, por exemplo, que várias páginas de dis-cussão, em geral sobre temas polêmi-cos, como teorias da conspiração envol-vendo o 11 de setembro (e outros epi-sódios), direito ao aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo, política no Oriente Médio, etc., tiveram de ser “protegidas” de hackers, agressores e fanáticos. Muita opinião já foi vetada, mas o problema continua. A Wikipe-dia tem a sorte de contar com milhares de editores voluntários que ajudam a policiar o site a custo mínimo.
Quando Jeff Bezos – da Amazon – comprou o jornal The Washington Post, a impressão geral foi que, embora pro-vavelmente tivesse um interesse genu-íno no jornalismo impresso sério, o empresário queria mesmo era aplicar sua tarimba no marketing e na publi-cidade à concepção de estratégias para certas operações cruciais da empresa. Afinal, o império Amazon foi erguido sobre a mesmíssima participação do público que acabo de descrever: pes-quisa demográfica minuciosa, publi-
cidade dirigida, um “chamado à ação” (a Amazon quer ver você comprando alguma coisa neste exato instante) e um produto entregue de forma absur-damente fácil. E tudo isso sustentado por rios de dados e perfis de clientes que até o Google admira.
Pois bem. Agora já sabemos qual foi uma das primeiras investidas de Bezos na área da participação do público do Washington Post: um vasto projeto de pesquisa e desenvolvimento em par-ceria com a New York Times Com-pany, a Mozilla (criadora do navegador de código aberto Firefox) e a Knight Foundation. A ideia, ao que parece, é criar um sistema automatizado para a curadoria – e, portanto, o incentivo e a publicação – de comentários e opi-niões do público. No meio-tempo, o New York Times, por exemplo, seguirá com o antiquado e ineficiente modelo de usar funcionários para a análise e a triagem de todo comentário, de modo a detectar problemas de tom, lingua-gem e infração da lei antes da publi-cação. Ou seja, nessa área, ao menos,
a participação do público vem sendo inibida justamente quando a organi-zação jornalística mais precisa dela.
Bezos sabe muito bem para quem trabalha: não é para uma coletividade genérica como “o público” ou um conceito genérico como a “opinião pública”. Nada disso. Suas empresas são feitas para identificar, atrair, ser-vir e conquistar a lealdade do cliente do varejo – o que é uma nova maneira de definir o consumidor de notícias. E muitos desses clientes, sobretudo em segmentos demográficos mais jovens, cresceram com – e estão totalmente habituados a – um grau de interati-vidade e envolvimento (por meio de redes sociais, games, comércio eletrô-nico ou outros serviços) com empre-sas e instituições. Para organizações jornalísticas como os dois jornais cita-dos acima, simplesmente não há alter-nativa: ou envolvem o cliente mais jovem, falando a língua da interativi-dade e da participação, ou o perdem para sempre.
Incursões tecnológicas como o pro-jeto da Mozilla – e muitas outras – ajudarão a salvar organizações jor-nalísticas? Minha resposta é “prova-velmente sim”. Afinal, essas técni-cas já foram testadas e comprovadas pelas mais colossais empresas de con-sumo e mídia do mundo: Google, Face-book, Amazon. Resta saber se Bezos e companhia conseguirão criar um novo ethos em organizações jorna-lísticas – um ethos inspirado nessas técnicas e numa filosofia de relacio-namento com o cliente importada da Amazon. É bom que consigam – pois, tirando isso, há poucas opções sobre o que fazer. ■
david klatell é responsável pela área de estudos internacionais da Columbia Journalism School. Auxiliou no desenvolvimento de emissoras de televisão e agências de notícias em Portugal, Suécia, Suíça e China.
O único caminho para conquistar o público jovem é investir no diálogo e na participação
Lati
nst
ock
É hora de falar a língua da interatividade
14 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 15
ideias + críticas RicaRdo GandouR
com o espaguete do pasquale enro-lado no garfo, Eugênio Bucci provoca: “Por que você não escreve sobre as coi-sas que o jornalismo não pode perder, se quiser ter um futuro?” E, com a voz, sublinha o quiser, num sentido condi-cional e tom receoso.
Eugênio e eu conversamos bas-tante sobre isso. Temos os dois algo em comum: somos ao mesmo tempo muito otimistas e muito preocupados.
Sou otimista porque vejo o jorna-lismo se confirmar, com o passar do tempo, como uma atividade essen-
cial – não vou nem mais dizer para a sociedade e para a democracia, mas para a vida humana, correndo aqui o risco da presunção com que somos, por vezes, rotulados.
Mas tenho estado, assim como o Eugênio, também preocupado.
O futuro em dez lembrançasQuem não quiser ficar refém do próprio presente (e parar no tempo) precisará de boa memória. Muito boa memória
Devo acrescentar que mesmo minha preocupação é contaminada pelo meu otimismo. Quero dizer: o jornalismo tem, sim, brilhante futuro, desde que – e aí volta o grifo – levemos para o futuro certas coisas na bagagem.
Há uma interessante sensação ao viver nessa faixa dos 50 e pou-cos anos. O passado não está tão dis-tante, embora já seja um álbum nítido e com as páginas iniciais um pouqui-nho amareladas. Mas cérebro e corpo sinalizam vontade e força para pensar e caminhar em direção ao futuro. O pra trás e o pra frente parecem razo-avelmente simétricos. E isso numa geração que viveu o maior salto tec-nológico da história – meus filhos têm dificuldade de me imaginar escre-vendo numa Olivetti com três folhas de papel-carbono, ajustando com o estilete uma página no paste-up ou perfurando um maço de cartões IBM.
Esse estágio intermediário da vida traz certa sensação de poder, digamos, projetivo. Se conhecemos até aqui o gráfico das coisas, temos em tese a capacidade de arriscar ao menos para onde a curva aponta?
No campo do jornalismo, essa sen-sação fica reforçada com a leitura da tese-pesquisa transformada em livro, com a qual o historiador inglês Peter Burke obteve em 2002 o título de doutor pela Universidade de Cam-bridge, no Reino Unido, e editada no Brasil em 2004 pela Jorge Zahar Edi-tora sob o título Uma História Social da Mídia. Num trabalho exaustivo e minucioso, Burke mostra com clareza
como se sucederam os ciclos de desen-volvimento do que hoje chamamos de mídia, desde a prensa de Gutenberg até a internet, e como certas essências se mantiveram ao longo da história.
O que parece mudar, a partir de agora, é que os ciclos estão ficando muito mais curtos. As novidades duram menos. Certas redes sociais já são taxadas de velhas. O frenético ritmo tecnológico torna os early-adop-ters insaciáveis.
Os ciclos cada vez mais curtos irão contribuir para confirmar ainda mais as essências, consolidando a nossa con-vicção de que há mesmo um conjunto de coisas que nunca, com grifo, deve-riam mudar? Ou tudo isso aqui é mais um claro sintoma de que somos, na verdade, resistentes, e seremos rapi-damente ultrapassados?
Fica essa dúvida, mas vale o desa-fio do espaguete:
1. Manter viva a atitude jornalística
A atitude jornalística é aquela que nos impede de ficar satisfeitos com o que nos é mostrado. É a comichão típica do bom repórter. É o que nos faz ten-tar revelar o que está oculto – ou, mais importante ainda, o que quer ser ocul-tado. É o que nos faz sempre formu-lar uma pergunta a mais. É o que nos mantém permanentemente insatisfei-tos. Tenho insistido nessa tecla nos cur-sos para recém-formados. Essa carac-terística marcou décadas e gerações em sua escolha pela profissão. É pre-
ciso transportá-la para os futuros pro-fissionais. E trabalhar para que a socie-dade – cidadãos, governos, empresas – a reconheça como uma disciplina e um atributo indispensável à transpa-rência e àquilo que Carl Bernstein cha-mou de “busca da melhor versão pos-sível da verdade”.
2. Não perder a humildade
Princípio antigo, revisto e reiterado nes-tes tempos em que os meios digitais nos reforçam a sensação de poder. Não há antessala de erro grave mais eficiente do que a arrogância. Esse é o princípio que nos estimula a ouvir, ouvir, olhar, ouvir, pensar antes de escrever, antes de postar, antes de a-postar, pergun-tar de novo, olhar de novo, pesquisar mais uma vez. Perseverança e paciên-cia complementam.
3. Aprimorar o método jornalís-tico, sempre, especialmente com as novas tecnologias
O rápido aparecimento de novidades de acesso e processamento de dados, edição e interação propicia resulta-dos ultravelozes. Em segundos temos planilhas orçamentárias ou de assi-duidade de deputados convertidas em lides e tendências. Parece que o traba-lho acabou, quando ele apenas come-çou. A contribuição das novas ferra-mentas para a precisão, a profundi-dade, a checagem e o cruzamento de informações ainda é terreno a ser mais bem explorado.
re
pr
od
uç
ão
Cena do filme de Robert Zemeckis De Volta para o Futuro, de 1985, com Michael J. Fox e Christopher Lloyd
16 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 17
4. Aplicar velhos métodos em novas situações
Um vídeo apócrifo circula pela inter-net, mostrando políticos em situações embaraçosas. Uma foto é postada apre-sentando uma jovem brasileira supos-tamente atacada por skinheads nos arredores de Zurique, Suíça. (De tão exemplar, esse caso virou estudo em sala de aula.) O que ocorreu? Quem estava ali? Quem clicou a foto ou fez a filmagem? Quando, em que circuns-tâncias? As regrinhas básicas do pri-meiro ano de qualquer curso de jor-nalismo que se preze ajudam, e con-tinuarão ajudando muito.
5. Incorporar as novas narrati-vas em prol dos objetivos finais de uma reportagem: o furo, o lide, o ambiente, a luz sobre os fatos, o servir ao leitor
Nas décadas de 1980 e 1990, fizemos nas redações um enorme esforço (tam-bém acompanhado de enormes ten-sões) para integrar texto, foto e arte. Esses dois últimos elementos de edi-ção se consolidaram como editorias transversais no processo jornalístico: estão a serviço e imbricadas com todas as demais. Lá naquele início, usamos fotos e quadros apenas como ilustra-ção, e isso já tinha o seu peso. Levou um tempo para integrarmos esses ele-mentos em prol do resultado do traba-lho. Hoje estamos na mesma fase pre-liminar, quando o assunto é narrativa multimídia. Usamos vídeos, infográfi-
cos animados e outros recursos de inte-ratividade – mesmo as interações com as redes – ainda como penduricalhos. Falta entender quando e como esses novos elementos devem ser usados, e integrá-los ao processo produtivo da reportagem, desde o preparo da pauta.
6. Contar histórias
Os meios se tornaram digitais, mas a vida segue analógica. Do lado de lá da tela, grande ou pequena, de mesa ou de bolso, tem um ser humano e seus cinco sentidos. Não haverá boa e bem contada história que não será lida. Essa apreciação pode até começar em pou-cos caracteres pinçados em uma reco-mendação de um seguidor, mas quan-tos decidirão mergulhar nas profunde-zas da reportagem integral? Não todos, claro. Mas serão ainda muitos, e creiam: esses são o mesmo “tipo” de leitor de sempre, os que decidirão se deliciar com o todo. Essa segmentação sem-pre existiu, ela só está mais evidente.
7. Não esquecer de ser analógico
As novas tecnologias colocam o quar-teirão, a cidade e o mundo na mesa de trabalho. As redes sociais fazem a repercussão das reportagens ocorrer de forma instantânea e intensa. A voz dos leitores ecoa dentro das redações – ou pelo menos deveria. Mas nada subs-titui estar no local do entrevistado, do evento, da manifestação. Mas também não basta a presença física, se me dis-traio olhando para o sistema de men-
sagens e deixo de captar o que ocorre à minha volta. É preciso estar, outra vez com grifo. Perceber nuances, expres-sões, ambientes, cores e cheiros. Ana-logicamente. Para depois pintar e bor-dar, literalmente, nos meios digitais.
8. Dosar velocidade e prudência
Na dúvida, não poste, não repercuta, não recomende. Evite decidir pelo clamor da multidão a tuitar. Credibi-lidade foi e sempre será o patrimônio a ser buscado e preservado.
9. Entender de tecnologia
Estar ciente das possibilidades de inte-ração, de narrativas e de difusão do trabalho jornalístico para a audiência. Essa é a forma de manter essa transpo-sição das essências jornalísticas para os novos meios de difusão.
10. Revisar esta lista de tempos em tempos
Como seria escrito este texto daqui a alguns anos? Que novidades teremos até lá? As tais essências jornalísticas ainda estarão em pauta? Arrisco dizer que sim, e firmemente. Mas vai depen-der das gerações que hoje editam e acreditam na sua capacidade de trans-plantar as células-tronco, que contêm o DNA do jornalismo, para o futuro. ■
ricardo gandour é diretor de conteúdo do Grupo Estado e membro do Conselho Editorial da Revista de Jornalismo ESPM.
Os ciclos frenéticos vão contribuir para confirmar certas essências ou são sintomas
de que seremos ultrapassados?
18 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 19
na manhã do dia 1º de fevereiro, enquanto tomava coragem para sair da cama, Pedro Rivera ouvia a comunicação entrecortada da polícia no aparelho de radioescuta. Foi quando ficou sabendo de um acidente de carro com mortos a poucos quilômetros dali, na principal avenida de Hartford, no Estado americano de Connecticut. Embora fosse seu sábado de folga, o jornalista de 29 anos – que trabalhava para a afiliada local da emissora CBS – pulou da cama, vestiu- se às pressas e correu para o carro. No banco do passageiro, levava um pequeno drone branco.
A uma quadra do local da ocorrência, Rivera parou o carro e lançou ao ar a engenhoca, que com os quatro rotores girando e as luzes verdes e vermelhas piscando parecia mais um brinquedo. Rivera deixou o drone pairando a uns 50 metros do solo. As imagens registradas pela pequena câmera acoplada ao aparelho davam uma visão perturba-dora do local do acidente, incluindo a estrutura de aço do carro prensada contra um muro e os trabalhos da polícia. O vídeo tinha a intensidade de um relato feito por uma testemunha dos fatos – e a qualidade superava muito a de imagens captadas por cinegrafistas isolados pelo cordão da polícia. Rivera assistia a tudo em tempo real, pelo iPhone.
Sob o céu que nos espreita
Baratos e fáceis de usar, os drones podem
revolucionar a cobertura, com uma visão privilegiada de
cenas de grande repercussão
por louise roug
YO
MA
R A
UG
UST
O
20 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 21
e o Congresso americano já pediu à FAA que reveja as normas. Aos pou-cos, surge o consenso de que o veto atual é insustentável e que o uso corri-queiro de drones por jornalistas pode-ria ser realidade já no ano que vem.
Fora dos Estados Unidos, sobre-tudo na América Latina e na Europa, o drone já é uma ferramenta popular entre jornalistas. Para os convertidos, o mantra é que a chegada de drones a preços módicos é, para a imprensa, uma revolução equiparável ao advento do celular com câmera e do Twitter. Assim como o smartphone, o drone é relativamente barato, fácil de encon-trar e simples de operar (com um con-trole remoto como o de aviõezinhos de brinquedo). O popular quadricóp-tero Phantom DJI custa menos de US$ 500 na Amazon. Equipado com uma filmadora Go-Pro, a novidade vira basicamente uma câmera voa-dora que estende o alcance de fotó-
grafos, cidadãos-jornalistas e paparaz- zi, que agora contam com um “olho no céu” tanto quanto governos e for-ças de segurança.
Múltiplas utilidades
Não é difícil imaginar as possibilida-des de uso da engenhoca. Uma câmera aérea poderia captar imagens dramáti-cas de uma plataforma de petróleo em chamas e, com base no raio da mancha de óleo deixada ao afundar, determi-nar a extensão do vazamento. Em um incêndio florestal, um drone poderia registrar a ação destemida de bom-beiros e avançar com mais rapidez do que o fogo para buscar sobreviventes encurralados pelas chamas. Drones des-pachados para missões sobre o Ártico registrariam a transformação da pai-sagem com o derretimento da calota polar. Revelariam o tamanho da multi-dão em protestos e a reação da polícia
– e, com um voo rasante, mostrariam de perto os efeitos do gás lacrimogê-neo e de pedras atiradas por manifes-tantes. Serviria até para fins mais dis-cutíveis, como monitorar um político suspeito de corrupção, por exemplo, ainda que isso significasse posicionar a câmera para colher imagens em espa-ços privados.
O jornalista britânico Lewis Whyld, que há anos vem fabricando drones na própria casa, foi às Filipinas no ano passado para cobrir o estrago causado pelo tufão Haiyan. Durante a mor-tal passagem pelo país o ciclone tro-pical destruiu casas e vilarejos, dei-xando gente soterrada sob os escom-bros e uma paisagem desoladora em seu rastro. Usando um drone, Whyld conseguiu transpor caminhos intran-sitáveis e chegar a lugares onde nin-guém mais poderia.
“Consegui localizar corpos em áreas às quais as autoridades não tinham
Não demorou para três policiais se aproximarem. “A primeira coisa que me perguntaram foi se eu era da ‘mídia’”, contou. “Disse que sim, que trabalhava para a [emissora de TV] Channel 3, mas que estava ali no meu horário de folga.” Quando os policiais mandaram-no sair do local, Rivera obedeceu. Guardou o drone e foi embora.
Na segunda-feira, já no trabalho, foi chamado à sala do chefe. Ficou sabendo que a polícia acusara seu drone de ter comprometido a integridade do local do acidente. Em vão, tentou argumen-tar. Dias depois, notou que sua conta de e-mail da TV fora encerrada. Logo em seguida, a emissora soltou um comuni-cado dizendo que “A WFSB não possui ou utiliza drones. O indivíduo identifi-cado pela polícia é um prestador autô-nomo de serviços à WFSB. No dia do incidente, não estava trabalhando para a emissora. Não foi pautado pela WFSB para registrar imagens da ocorrência e não recebeu nenhuma remunera-ção por vídeos produzidos por meio de um drone”. A WFSB não retornou ligações para comentar o assunto, e Rivera nunca foi chamado de volta ao trabalho.
Violação de direitos
O caso foi parar na Justiça e – embora as imagens feitas com o drone jamais tenham ido ao ar – poderia ter um papel importante no frenético debate para tentar definir se veículos aéreos não tripulados, os drones, seriam um recurso adequado para o jornalismo.
No dia 18 de fevereiro, Rivera entrou com uma ação contra a polícia de Hart- ford e dois membros da corporação por suposta violação dos direitos pre-vistos na primeira e quarta emendas da Constituição americana. O autor da ação acusa um dos policiais de ter atropelado seu direito constitucional à liberdade de expressão por um motivo ilegítimo: impedir o acesso do público a imagens que revelam a ação da polícia durante uma investigação. Até o fecha-mento desta edição, a polícia de Hart- ford não havia respondido à acusação.
A iniciativa de Rivera inaugurou uma discussão que organizações jorna-lísticas talvez ainda não estejam pre-paradas para travar. A dúvida é se o marco ético e jurídico pelo qual jor-nalistas se pautam há décadas esta-ria sendo corroído por uma nova tec-nologia que contrapõe, de um lado, o direito à privacidade e, do outro, a liberdade de imprensa.
Para Rivera, a questão virou uma guerra às câmeras. “A polícia não quer nenhuma vigilância além daquela que já existe”, diz. O rapaz considera que tirar fotos em espaços públicos é um direito estabelecido e argumenta que o uso de drones também seria uma liberdade assegurada. “O drone não passa de uma câmera”, explica. “E, se um helicóptero não é proibido, por que um drone seria?”
Para a imprensa, o uso de drones poderia ser um divisor de águas, algo capaz de mudar radicalmente a capa-cidade do jornalista de narrar os fatos. Nos Estados Unidos, a Federal Avia-tion Administration (FAA, o órgão que regula a aviação civil) hoje proíbe o uso comercial de drones; se um veí-culo de imprensa compra imagens de terceiros feitas por um drone dentro do país, tal uso é considerado comer-cial. Até aqui, no entanto, a proibição vem sendo questionada com sucesso
Filmagem de construção filipina
considerada insegura depois de
ser atingida pelo tufão Haiyan
Imagem, obtida por drone, do navio
Costa Concordia, que naufragou no
litoral da Itália em 2012
AR
qU
ivO
CJR
/Le
wiS
wh
YLd
/Th
e d
AiL
Y T
eLe
GR
Ap
h
AR
qU
ivO
CJR
22 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 23
acesso”, conta o jornalista de 36 anos. A tecnologia “não serve só para fazer belas tomadas aéreas; na cobertura do tufão, consegui chegar a lugares inacessíveis por terra”. Whyld, que normalmente trabalha para o jornal londrino The Daily Telegraph, vendeu as imagens à CNN e, de lá para cá, já usou o drone para cobrir enchentes na Grã-Bretanha e uma caçada a lobos na França, entre outros fatos e eventos.
Executivos de organizações jorna-lísticas americanas hesitam em falar publicamente sobre drones. A maioria dos meios procurados pela reportagem – mais de dez, incluindo The New York Times, The Associated Press, CNN e NBC –recusou-se a falar sobre o uso que faziam da tecnologia, ou de pla-nos para tal. Nas redações, contudo, o tema vem sendo abordado. Na expec-tativa das novas normas da FAA, mui-tos meios já avaliam o marco jurídico e questões éticas ligadas à prática. Matt Waite dá aula de jornalismo-drone na University of Nebraska-Lincoln e é o líder de facto do novo campo. O pro-fessor conta que, ultimamente, vem sendo procurado por organizações jornalísticas atrás de orientação sobre possíveis usos da tecnologia. “Vários editores me apresentaram o seguinte cenário: ‘Um cara na equipe usa [um drone] para tirar fotos no horário de folga e queríamos usar as imagens. O que aconteceria se usássemos?’.” Seu conselho? estudar bem as nor-mas da FAA, que não abrem exceção para jornalistas.
Aos poucos, porém, o uso de drones
[pela mídia americana] começa a se difundir. Em duas ocasiões no começo do ano, imagens feitas com drones por algum freelance ou cidadão-jornalista foram usadas por organizações jorna-lísticas para cobrir notícias de última hora. No dia 19 de março, um vídeo gravado com um drone foi postado no site da emissora NBC4 New York. As imagens, de um incêndio numa usina de reciclagem no Brooklyn, tinham sido “obtidas” pela NBC4, segundo o site (uma assessora da NBC não quis se pronunciar sobre o uso da tecno-logia pela emissora).
Atitude vacilante
Uma semana antes, quando uma explo-são provocada por vazamento de gás deixou oito mortos e ao menos 70 feri-dos no Harlem, o analista de sistemas Brian Wilson, 45, pegou um táxi e cor-reu para o local com um drone Phan-
tom. As imagens que registrou, e que foram parar no site do New York Daily News, mostravam um edifício total-mente destruído, enquanto bombei-ros – alguns do telhado de prédios vizinhos – lançavam água sobre os escombros (Wilson disse que o jor-nal pagou pelas imagens, o que pelas normas da FAA supostamente confi-guraria uso comercial; um represen-tante do Daily News não quis falar com a reportagem).
“Assim como muitos outros jorna-listas profissionais e cidadãos, estava ali para registrar um acontecimento importante na cidade”, informou Wil-son em sua página no LinkedIn. Con-tudo, membros do The New York Drone User Group, que se apresenta como “um grupo de usuários de dro-nes amadores e profissionais”, fica-ram revoltados com a ação de Wil-son e, naquela noite, discutiram o assunto pelo Hangouts, o chat do
Google. A seu ver, foi um gesto irres-ponsável, feito para chamar atenção – quando o momento pedia ponde-ração. Num e-mail destinado a todo o grupo, alguém escreveu: “Resu-mindo, não sejam como esse cara (ou essa mulher)”.
Um assessor de comunicação da FAA disse que a agência está inves-tigando tanto o episódio do Harlem como o do Brooklyn. Qualquer medida que venha a tomar contra o Daily News ou a NBC4 claramente abalaria a frá-gil ordem atual, pois o órgão rara-mente disciplina meios de comuni-cação. Até aqui, nenhum deles ques-tionou a FAA com base na primeira emenda da Constituição americana, ainda que especialistas no assunto digam que pode haver embasamento para tal.
A atitude vacilante da mídia sobre o assunto reflete a complexidade da questão e a capacidade de dro-nes de revirar o entendimento atual sobre questões cruciais como pri-vacidade, vigilância, segurança e competitividade.
“No papel de jornalistas, temos de começar a pensar sobre o impacto des-ses aparelhos voadores”, analisa Waite, que criou o primeiro laboratório de jor-nalismo-drone dos Estados Unidos em 2011, logo depois de colocar no ar um site premiado com o Pulitzer, o Politi-Fact. “O que fazem é abuso ou distra-ção? Provocam pânico? Estamos aba-lando psicologicamente as pessoas ou invadindo desnecessariamente sua privacidade? Falo com meus alunos
sobre essas questões éticas: podemos usar [drones], mas devemos?
Steve Coll é o diretor da faculdade de jornalismo da Columbia University e já discorreu extensamente sobre a tecnologia e seu uso pelas forças arma-das. Para ele, como o drone “desperta a ansiedade e a imaginação das pes-soas, é natural (...) que tomar posse dessa tecnologia para seus próprios fins cause interesse”. Antes de ado-tar a câmera voadora, contudo, Coll sugere que o jornalista se pergunte o seguinte: “O fim para o qual o drone vai ser empregado não pode ser atin-gido por outros meios, é algo que real-mente importa, é do interesse público ou se trata apenas de usar o disposi-tivo por usar?”
Nesse debate, o interesse público é um aspecto frequentemente conside-rado. É, também, um conceito com-plexo, passível de distintas interpre-tações. Mas a crescente presença de governos e forças de segurança pública nos céus deixa a porta aberta para que jornalistas questionem sua exclusão desse espaço. O problema da segurança no uso de drones, sobretudo se o jor-nalista que o opera não souber o que está fazendo, é difícil de negar. Mas é a questão da privacidade que des-perta a grande fúria dos defensores da tecnologia. A seu ver, é um argu-mento espúrio, pois a atual legislação de proteção à privacidade já tornaria ilegal o uso excepcionalmente inva-sivo de drones. E por que a preocu-pação com a privacidade não valeria para a vasta vigilância já promovida
pelo governo? No seu entender, a coisa é mais simples: uma fotografia é uma fotografia, um direito garantido que não deveria ser revogado só porque a tecnologia é novidade.
Regulação social
Em fóruns de discussão na internet, fala-se muito em moderação e auto-patrulhamento. A tese reinante é a de que, com o tempo, novas normas sociais acabarão regulando o uso da tecnolo-gia, assim como ocorreu no caso do celular. Embora o argumento possa cheirar a utopia tecnológica, o poder de normas sociais devia ser óbvio para qualquer pessoa que já tenha tentado atender o celular durante uma sessão de cinema ou usar o aparelho para fil-mar um estranho na rua. Novas restri-ções podem surgir na forma de ética profissional e normas organizacionais.
Uma disciplina de jornalismo-drone comandada por Scott Pham na Uni-versity of Missouri acabou vetada pela FAA quando um aluno quis testar o poder de drones em investigações. Depois de uma aula, o rapaz resolveu gravar imagens de petrolíferas reti-rando água do rio Mississippi para uso no “fracking”, o polêmico método de extração de gás de xisto. Pham, que hoje trabalha para a emissora NBC em San Francisco, ainda crê piamente no drone como instrumento para equili-brar o jogo de forças entre indivíduo e governo. “Vivemos num mundo no qual toda comunicação pode ser inter-ceptada”, afirma Pham. “O que não
A atual legislação americana de proteção à privacidade é capaz de coibir o uso
invasivo da engenhoca, como dizem os defensores da tecnologia?
24 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 25
é alienante é ter o próprio drone. É frustrante que as pessoas não enxer-guem que essa é uma ferramenta de poder. Mas o público não crê que os interesses da mídia estejam alinha-dos com os seus.”
Não ajuda em nada que a palavra “drone” tenha conotação militar e abarque uma taxonomia absurdamente ampla. Como observam entusiastas da tecnologia, a única coisa que um drone como o MQ-9 Reaper, usado pelas Forças Armadas americanas (um avião de milhões de dólares capaz de transportar mísseis Hellfire), tem em comum com o quadricóptero de iso-por e plástico Parrot, popular entre os civis, é que ambos voam.
Uma parlamentar que conhece bem os dois tipos de drone é a sena-dora americana Dianne Feinstein, uma crítica da ideia de que os céus devem ser completamente abertos. Em janeiro, Feinstein topou com uma engenhoca dessas na janela de casa. Durante uma audiência do comitê do Senado sobre o futuro da aviação não tripulada, a senadora contou que um grupo que protestava contra a bis-bilhotagem praticada pelo governo tinha despachado o drone para voar sobre sua casa. “Fui até a janela dar uma olhada para ver quem estava lá fora. Topei com um drone na janela, olhando para mim”, comentou Feins-tein. “Que tipo de câmera ele trazia? Que tipo de microfone? Uma pessoa determinada podia ter acoplado tam-bém uma arma de fogo? São pergun-tas que exigem resposta. Ainda que a
tecnologia de drones civis esteja na infância, o problema da privacidade já é considerável.”
Um pouco de legislação
Praticamente todos os estados da fede-ração americana estão discutindo as questões levantadas por Feinstein. Nove já aprovaram leis para regula-mentar o uso de drones. No Estado de Connecticut, parlamentares apresen-taram um projeto de lei que endurece a pena por crimes cometidos com dro-nes, incluindo dez anos de prisão por voyeurismo, perseguição e assédio, e até 20 pelo emprego de um drone como arma mortal.
“Um drone pode servir para uma série de coisas incríveis – longe de nós querer proibir alguém de usar um drone de forma produtiva –, mas há potencial para abuso”, diz o depu-tado estadual James Albis, do Partido
Democrata. “É um debate que muitos estados estão travando, seja qual for sua coloração política. É fascinante ver essa diversidade de diálogos.”
Enquanto a legislação de Connecti-cut busca proteger o direito do indiví-duo à privacidade, estados como Fló-rida, Illinois, Montana, Oregon e Ten-nessee estão mais preocupados em coi-bir excessos por autoridades de segu-rança pública. No Texas, por outro lado, a ênfase do debate é proteger proprie-tários de terra da bisbilhotagem aérea de ambientalistas ou grupos de defesa dos direitos de animais. A preocupa-ção surgiu quando uma aeronave ope-rada remotamente registrou por acaso, ao voar ao longo de um rio no Texas, grandes volumes de sangue de suí-nos de um matadouro próximo sendo derramados num afluente. Quando as imagens vieram a público, o local foi fechado e a empresa denunciada por despejo ilegal de resíduos industriais.
Em resposta, o legislativo do Texas aprovou um projeto de lei que estabe-lece sanções penais para quem tirar fotos de propriedades particulares sem permissão do dono usando um veículo aéreo não tripulado operado por con-trole remoto. Margot Kaminsky, dire-tora executiva do Information Society Project e professora de direito na Yale University, considera problemática a nova lei. O interessante, hoje, é saber “como equilibrar o direito do fotógrafo, garantido pela primeira emenda [da Constituição americana], com o direito à privacidade da pessoa fotografada”, diz Kaminsky. “Os estados estão ten-tando achar esse equilíbrio.”
Pelo mundo é assim
Em outros países, a tecnologia encon-tra um clima jurídico mais favorá-vel. Como uma visita ao YouTube irá mostrar, nos últimos anos jornalis-
tas-cidadãos e repórteres tradicio-nais usaram drones para cobrir pro-testos na Polônia, Ucrânia, Tailândia e Venezuela – volta e meia contradi-zendo a versão oficial sobre o tama-nho das manifestações. No ano pas-sado, na Turquia, a polícia derrubou um drone que filmava um protesto na praça Taksim, um episódio regis-trado em vídeo e postado no YouTube (a queda do drone, que por alguma razão pode parecer um ser capaz de ter sensações, teve um efeito pertur-bador, como se a polícia tivesse aba-tido um pássaro em pleno voo).
Meios de comunicação no Brasil, em El Salvador e no México já usaram drones para cobrir protestos, eleições e engarrafamentos. No ano passado, na África, um jornalista digital que-niano criou o projeto African SkyCam. Até aqui, o SkyCam tem uma equipe de drones em um jornal em Nairóbi, mas a ideia é estender o projeto piloto
– apoiado pela Knight Foundation – ao resto do continente.
A emissora britânica BBC come-çou a investir a sério em drones no ano passado. Hoje, já tem três mode-los. O equipamento é usado para pro-duzir imagens vívidas de aconteci-mentos como os ocorridos no Brasil às vésperas da Copa do Mundo. “O [drone] permite o registro de imagens de uma perspectiva única e dá a capa-cidade de transição entre tomadas. É como num sonho, aquela sensação de estar voando sobre as coisas, que anti-gamente só o cinema tinha condição de fazer”, diz Tom Hannen, produ-tor sênior de inovação da BBC Global Video Unit. A BBC prefere chamar o drone de câmera voadora.
Embora Hannen não descarte o uso de drones na cobertura jornalística no futuro, a BBC vem avançando deva-gar, em parte porque no Reino Unido – onde a utilização é permitida mas estritamente regulada – a agência de aviação civil exige a apresentação de um plano de voo com antecedência, o que inviabiliza o uso na maioria das situações da cobertura diária.
Nos Estados Unidos, a impressão é que a experimentação está fortemente concentrada no meio acadêmico. No começo do ano, a New York Univer-sity (NYU) ofereceu um curso de jor-nalismo com robótica aérea no pro-grama Interactive Telecommunica-tions Program (ITP), um projeto inter-disciplinar de pós-graduação volta e meia comparado ao Media Lab do Massachusetts Institute of Techno-
AR.Drone Parrot (ao lado) e
DJI Phantom são modelos muito
usados nos Estados Unidos
AR
qU
ivO
CJR
26 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 27
logy (MIT). O centro de produção do ITP fica num espaçoso loft no sul da ilha de Manhattan, onde num desses encontros o instrutor Ben Moskowitz conduzia oito alunos numa explora-ção do uso de drones para novas for-mas de narrativa jornalística.
Moskowitz tem 27 anos. É um rapaz magro, intenso. Naquele dia, vestia um moletom cinza listrado. Quando fez uma ligação pelo Skype para Lon-dres, Hannen, da BBC, apareceu na tela. A conexão lenta não arrefeceu o entusiasmo de Hannen pelo tema. Um dos vídeos exibidos à turma mos-trava um close espetacular da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que Hannen filmara para incluir no pacote da cobertura da Copa no Bra-sil. “Dá quase para ver as marcas de cinzel do escultor. Sem falar, é claro, da perspectiva da cidade lá embaixo, que vai mudando, e das nuvens”, flo-reou Hannen antes de responder a perguntas dos alunos e de Moskowitz.
Moskowitz começou a dar aulas sobre drones depois de conduzir um simpósio patrocinado pela MacAr-thur Foundation no ano passado sobre o uso desses aparelhos por civis. Durante três dias, o evento reu-niu no campus da NYU fabricantes de drones, especialistas do meio acadê-mico, das Forças Armadas e da mídia – além de centenas de outros interes-sados. Graças ao sucesso do congresso, Moskowitz foi convidado para lecio-nar uma disciplina dedicada ao jor-nalismo-drone. O que lhe interessa particularmente é explorar a subver-
são da finalidade original da tecno-logia. “A internet foi projetada para que no caso de um ataque nuclear o comando das Forças Armadas [ame-ricanas] pudesse seguir se comuni-cando”, observa. “Aí veio a turma barbuda que usava LSD em Stan-ford e Berkeley e botou as mãos na tecnologia. Essa contracultura pro-pôs a visão alternativa do computa-dor que acabou dando no computa-dor pessoal.”
Tecnologia é ferramenta
Embora não se considere jornalista – o rapaz bate ponto na Mozilla, a orga-nização sem fins lucrativos que criou o navegador Firefox e exalta as virtu-des da internet aberta –, Moskowitz começou a estudar o poder da tecno-logia no relato de notícias. “A ideia é achar possibilidades jornalísticas interessantes. Pode ser uma prova de bicicleta ou um comício – é possível cobrir o acontecimento com essa tec-nologia?”, questiona. “Se não for, bola pra frente. Não queremos que a tecno-logia seja o cavalo que puxa a carroça. É só mais uma ferramenta no instru-mental. E acho que é assim que deve ser. Não deve haver uma inclinação pela nova tecnologia.”
Na disciplina de Moskowitz, o aluno tem de criar uma reportagem para publicação na internet com o uso de um drone, o que inclui a apuração, o planejamento, a operação do apare-lho e a edição do material. Há vários drones para uso pela turma. Dia des-
ses, depois da aula em sala, os alunos foram com Moskowitz a um parque ali perto. Numa maleta preta, levavam o drone que usariam.
Solucionados alguns problemas téc-nicos, a câmera levantou voo. “Está meio irregular [o voo], não sei por quê”, comentou Moskowitz enquanto o drone branco ganhava altitude, zunindo e zanzando de lá para cá como um enxame de abelhas. Quem passava por ali parava para olhar. Várias pes-soas tiraram fotos ou filmaram a cena com o celular; alguns foram perguntar a Moskowitz qual o alcance do apa-relho, quanto custava.
Dois alunos, Daniel Soto e Kristina Budelis, se revezavam no comando do drone, mantendo a engenhoca por perto e a menos de 7 metros do solo. Quando um funcionário do parque se aproximou do grupo e pediu que dei-xassem o local, Moskowitz foi logo desmontando o aparelho, sem nunca abandonar o tom cordial. Satisfeito com o restabelecimento da ordem, o funcionário seguiu caminho. “É normal quando estamos mexendo com dro-nes. Mas eles mandam. Com o skate também é assim: se o parque diz que é proibido andar de skate ali, é proi-bido e ponto”, explica Moskowitz.
Com essa filosofia, o professor pode, ao menos, ter ganhado tempo. Enquanto os cursos nas universidades de Nebraska e Missouri foram encer-rados, até aqui o da NYU segue firme.
Raphael Pirker é uma figura polê-mica na comunidade de usuários de drones. Seus lances cinematográfi-
cos – colocar um drone para girar em torno da Estátua da Liberdade, outro para voar sob os arcos da ponte Gol-den Gate – lhe renderam tanto admi-ração quanto a alcunha de “anarquista aéreo”. Um vídeo seu, das pontes de Nova York, foi visto mais de 2 milhões de vezes no YouTube. Pirker atrai público pela alta qualidade das ima-gens e pela coragem de peitar a FAA; já para os críticos, não passa de um exibido cujas peripécias atraem uma atenção indesejável para o uso de dro-nes por civis. Ao falar sobre o assunto, o austríaco de 29 anos parece bastante à vontade no papel de agent provoca-teur. Há pouco, no entanto, Pirker se tornou mais do que isso: virou o sujeito que poderia inaugurar uma nova era para o jornalismo-drone.
Em 2011, Pirker foi procurado por uma firma de marketing que queria usar seu drone para gravar tomadas aéreas da University of Virginia para
um vídeo promocional. No dia da fil-magem, vários funcionários da uni-versidade, incluindo do setor de segu-rança, seguiram Pirker pelo campus para garantir que as normas da ins-tituição fossem respeitadas. Assim que o vídeo foi postado na internet, no entanto, a FAA tascou uma multa de US$ 10 mil no rapaz.
“Decidi estudar a legislação ame-ricana. Não demorou para concluir que não havia nenhuma lei [que jus-tificasse a medida]”, disse Pirker por telefone de Hong Kong, onde vive atualmente. “Como sou o piloto mais famoso dessa comunidade, a impres-são é que eles quiseram dar um exem-plo para assustar as pessoas.”
Questão de segurança
Se essa foi de fato a intenção, o tiro saiu pela culatra. Em março, um juiz da National Transportation Safety
Board (NTSB, o órgão americano res-ponsável pela segurança nos trans-portes) revogou a multa sob a tese de que a FAA não tem autoridade legal para impor ou fazer cumprir o veto de pequenos drones. A FAA imedia-tamente entrou com recurso. Em seu site, segue o alerta: “As normas da FAA não são abertas a interpretação. Quem quiser fazer voar uma aeronave – tri-pulada ou não – no espaço aéreo ame-ricano precisa de algum tipo de auto-rização da FAA”.
Pirker afirma não ser contra a exis-tência de normas. “Seria uma opor-tunidade muito boa para que ado-tassem regras sensatas”, declarou. Se a decisão do juiz for confirmada pela cúpula do NTSB, o veto federal poderia cair.
Brendan Schulman, advogado de Pirker e ele próprio um usuário assí-duo de drones, concorda que há ques-tões de segurança a resolver, mas acha que a gritaria inicial a respeito da pri-vacidade e da bisbilhotice é exage-rada. “Os cenários sobre os quais li – tirar fotos através de janelas ou espio-nar as pessoas no seu próprio quintal – já são previstos na legislação atual de privacidade”, diz. “O ato ofensivo é fotografar alguém que esteja num espaço privado, não a tecnologia. Se tiro uma foto do lado de fora de uma janela, não deveria importar, do ponto de vista jurídico, se uso um cabo de vassoura ou um drone.” ■
louise roug é repórter e editora freelance em Nova York. Seu Twitter é @louiseroug.
Chamada de câmera voadora pela BBC, a máquina registra
ângulos exclusivos
Text
o or
igin
alm
ente
pub
licad
o na
edi
ção
de m
aio/
junh
o de
20
14 d
a CJ
R.
28 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 29
a próxima grande revolução no jornalismo pode bem estar nas prateleiras virtuais da Amazon: é o drone. Um modelo desses veículos aéreos não tripulados particular-mente popular entre entusiastas é o quadricóptero DJI Phantom. Movido a bateria e guiado por GPS, o aparelho pode se deslocar a velocidades de até 35 quilômetros por hora e produzir imagens com “qualidade de cinema”, como reza o fabricante.
Não confundir com os drones comuns no noticiário nos últimos anos. A engenhoca a que me refiro é guiada por um pequeno controle remoto e, que eu saiba, nunca foi usada para dizimar terroristas nas montanhas do Paquis-tão. Para um jornalista, no entanto, pode ser uma tremenda mão na roda. Pode, por exemplo, sobrevoar a densa cor-tina de fumaça deixada por um incêndio florestal para
determinar a trajetória das chamas. Ou registrar, de um ângulo improvável, o momento exato em que aquele gol decisivo é marcado. Por ora, o uso de drones por veícu-los de imprensa na cobertura jornalística é proibido em diversos países, na maioria das circunstâncias.
Como costuma ocorrer com tecnologias novas, que ainda não foram testadas nem reguladas, a sociedade pode exi-bir a compulsão de apelar para a camisa de força antes de liberar de vez, de proibir a coisa até entendê-la melhor. É o que os Estados Unidos estão fazendo hoje com drones de uso civil. O estranho é que, no momento, a agência de aviação civil americana, a Federal Aviation Administra-tion (FAA), é o órgão do governo que decidiu arbitrar se a imprensa deve ou não ter permissão para usar drones na cobertura jornalística. Em outras palavras, um órgão
por elizabeth spayd
Controle aéreo
que entende de aeronáutica e de procedimentos de voo é, hoje, o ator principal de uma questão que, no fundo, tem a ver com a primeira emenda da Constituição americana – ou seja, com a liberdade de expressão. Tem algo errado aí.
Do jeito que estão, as normas da FAA parecem pre-cárias. Um sistema aéreo não tripulado (ou “unmanned aerial system”, como os americanos chamam oficialmente o drone) é vetado dos céus quando empregado para fins comerciais – embora um amador possa voar quanto qui-ser se não entrar no espaço aéreo comercial. Em outras palavras, um cidadão comum que leve seu quadricóptero Phantom à cena de um acidente de trem provavelmente estaria agindo dentro da lei. Já um jornalista que fizesse o mesmo a serviço da emissora de TV local estaria des-cumprindo as normas. Pela lógica da FAA, se estiver no ar
para fazer dinheiro, um drone é, por alguma razão, mais perigoso para os céus do que um drone sem tal compro-metimento. Essa lógica deve ser particularmente indigesta para a imprensa, pois o uso de drones por jornalistas é – em tese, e em muitos casos – do interesse público. Assi-milada essa ideia, não é difícil começar a temer a ideia de ter a FAA como árbitro da liberdade de imprensa.
Colocar o cabresto numa nova tecnologia nunca é fácil – basta ver a internet. Mas o processo devia merecer espe-cial atenção quando leva o governo de um país a tentar impedir que jornalistas façam seu trabalho. ■
elizabeth spayd é diretora de redação e publisher da Columbia Journalism Review. Excerto do editorial da revista, publicado na edição de maio/junho de 2014.
Além de monitorar a circulação nos
céus americanos, agência de aviação
civil vira árbitro da livre expressão
Yuko
Shim
izu
30 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 31
Na virada de 2013 para 2014, um drone foi novamente utilizado pela TV Folha para filmar engarrafamen-tos no litoral paulista. Foram mos-tradas filas de automóveis de turis-tas que tentavam ir ou vir das praias da Baixada Santista durante os feria-dos de final de ano.
Normalmente as redes de televi-são utilizam helicópteros para levar à audiência esse tipo de imagem. Com os drones, a captação revelou com mais realismo e proximidade a situa-ção de caos e desespero entre os moto-ristas, que chegaram a passar mais de cinco horas para percorrer traje-tos que normalmente não ultrapassa-riam 50 minutos.
Mais recentemente, a TV Folha empregou novamente um drone para filmar e ter uma perspectiva mais ampla da situação geral do chamado
sistema Cantareira, que engloba um imenso reservatório de água empre-gado no abastecimento de boa parte da cidade de São Paulo.
Como a cidade está sob ameaça de racionamento de água, a opção pelo drone foi bem-sucedida ao mos-trar imagens que deram uma dimen-são realista do risco de o reservató-rio secar antes da chegada da época das chuvas na região, quando normal-mente sua capacidade é recuperada.
Aqui, novamente, vale a compara-ção com imagens captadas por heli-cópteros. Como os drones permitem voos mais baixos e em velocidades menores, foi possível captar cenas bastante dramáticas de margens secas e de outros elementos que atestavam o risco de chegar ao fim a reserva de água do sistema Cantareira. Mas foi durante os protestos de junho de 2013
que a utilização dos aparelhos teve grande efeito ao dimensionar a mag-nitude das manifestações. E serviu para aproximar os telespectadores dos manifestantes de forma absolu-tamente inusitada.
Todas as redes de televisão, e a pró-pria Folha, empregaram helicópteros para captar imagens aéreas das pes-soas e das ruas ou de regiões inteiras que elas estavam ocupando.
Os drones também fazem isso, embora de forma limitada, já que não podem subir a alturas equivalentes às de helicópteros. No entanto, sua van-tagem está justamente em poder voar baixo, e discretamente, oferecendo uma perspectiva bastante realista e próxima do que se passa no local.
No caso das imagens que foram ao ar, a opção da TV Folha foi a de fazer um “mix” entre o que foi captado com helicóptero e drone, fornecendo uma perspectiva mais geral do que se pas-sava nas ruas.
Nessas ocasiões, os drones utiliza-dos pela TV Folha foram devidamente identificados com adesivos indicando o nome da Folha. O objetivo era garan-tir que não fossem confundidos com equipamentos da polícia, que estava diariamente nas ruas em confronto com os manifestantes.
Um aspecto curioso é que ainda não existe no Brasil uma regra da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a utilização civil desse tipo de equi-pamento. Só agora a agência começa a se debruçar sobre o assunto. ■
fernando canzian é repórter especial da Folha de S.Paulo.
a tv folha, departamento de video-jornalismo da Folha de S.Paulo, foi pioneira entre os grandes veículos de mídia ao empregar drones na cober-tura das manifestações de junho de 2013 no Brasil.
Além desses veículos aéreos não tri-pulados (vants, no Brasil), foi também utilizada de forma inédita a tecnolo-gia do Google Glass para captar ima-gens dos protestos do ponto de vista dos manifestantes. O equipamento, que à época não estava disponível no Brasil, chegou a São Paulo pelas mãos da jornalista Fernanda Ezabella, cor-respondente da Folha em Los Ange-les, uma das primeiras a adquirir o Google Glass no mundo.
Ao longo dos últimos meses, a TV Folha usou drones em seis ocasiões. Em todas elas, foram contratadas pes-soas especializadas que já fazem há
algum tempo o uso desse tipo de equi-pamento para os mais diversos fins. Isso porque, embora se assemelhem a brinquedos de aeromodelismo, os dro-nes são relativamente difíceis de ope-rar, além de levarem câmeras embuti-das que enviam imagens a um moni-tor no solo.
Eles também foram usados em situ-ações em que sobrevoaram milhares de pessoas, o que não dava margem para muitos riscos.
A TV Folha alugou esses equipa-mentos e contratou operadores a um custo médio de R$ 2.000 cada um, mas o preço varia bastante dependendo do tempo de utilização.
Em uma das experiências, o modelo utilizado foi um DJI Phantom, ope-rado pela empresa GoCam, especiali-zada em captar imagens aéreas. Esse equipamento tem um raio de alcance
de 300 metros, pesa cerca de 600 gra-mas e possui bateria que proporciona autonomia de voo de cerca de 15 minu-tos. A escolha do modelo pequeno e leve visava reduzir danos às pessoas em caso de queda.
As três primeiras ocasiões de uso do artefato foram durante os protes-tos de junho de 2013. Em outra opor-tunidade, ele foi utilizado para cap-tar imagens aéreas na Cracolândia, bairro degradado do centro de São Paulo onde se aglomeram dependen-tes de drogas.
Nesse caso, a experiência mostrou de forma nunca vista nas TVs como os grupos de viciados se movimen-tam pelas ruas da Cracolândia. Além disso, forneceu uma perspectiva bas-tante próxima do estado de deterio-ração das ruas, edifícios e das insta-lações urbanas da região.
Veículos aéreos não tripulados dão mais realismo e proximidade aos acontecimentos em terra, mar e ar
Perspectiva em mutação
enquanto isso no brasil... Fernando Canzian
TV Folha usou drones na cobertura das manifestações de junho de 2013
FOLH
AP
RE
SS
32 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 33
a redação do buzzfeed, assim como a de qualquer outro meio da nova geração, é a antítese da tradicional. Um letreiro em neon festeja a marca registrada do site, a lista de curiosidades. Quem chega para o primeiro dia de trabalho é brindado pela recepcionista com um mole-tom e uma sacola de pano estampada com uma das clás-sicas manchetes irreverentes do site. As salas de reunião que circundam a redação levam o nome daqueles posts de gatos que se tornaram virais: Shironeko, Princess Mons-ter Truck, Winston Bananas.
Aqui, o velho receituário de jornais não tem vez. Numa reunião pela manhã na qual se discutia como cobrir o discurso feito pelo presidente ao Congresso todo mês de janeiro para anunciar suas prioridades para o ano – o discurso do Estado da União –, só duas coisas inte-ressavam: conseguir imagens de qualquer bola fora que alguém gravasse com o aplicativo de vídeo Vine e dar um texto mostrando que ninguém está nem aí para o Estado da União.
Ben Smith, diretor de redação do site e único de paletó entre os 29 ali reunidos, pede à equipe que produza mais conteúdo no formato de testes, os chamados “quizzes”. “Sei que vão tirar sarro, que vão dizer que o site só sabe dar testes”, afirma Smith. “E olha que o que estamos fazendo é só o começo.”
O BuzzFeed não é mais um pequeno site mambembe. É uma organização jornalística grande, rentável, influente.
Os vídeos virais que solta – em geral, sem nenhuma checa-gem prévia – vira e mexe são armação. É o tipo de erro que deleita as carpideiras da velha guarda, loucas para afirmar certa superioridade ética. Mas, à medida que vai crescendo – nos dez minutos que aguardei na recepção um dia desses, quatro pessoas se apresentaram para o primeiro dia de tra-balho –, o BuzzFeed não está só contratando mais redato-res de títulos geniais e produtores que entendem a gestalt de amantes de gatinhos. O site decidiu que já não basta cor-rigir erros “depois” de publicados, pelo menos não no caso dos posts mais populares. Decidiu que faz sentido, tanto jornalística quanto comercialmente, garantir ao leitor que aquilo que publica é verídico. Daí estar adotando – e con-tratando – o símbolo supremo das inchadas redações de meios impressos do passado pré-digital: editores de texto.
Há quase duas décadas, uma guerra cultural divide jor-nalistas. Mas o que parecia ser uma diferença entre gera-ções acabou se provando um racha sobre o próprio pro-pósito daquilo que fazemos. Toda a troca de farpas e o flagrante antagonismo entre velhos paladinos do ofício impresso e jovens cérebros por trás de meios digitais desa-guou num debate sobre valores: a velha guarda se consi-derava pautada pela busca da verdade, por certa capaci-dade de detectar o que o cidadão precisaria saber para ser um pleno participante da democracia; a função do jorna-lista seria chegar aos fatos e levá-los ao leitor, que saberia como tirar melhor proveito da luz que lançávamos. Já os
NowThis News produz de 40 a 50 vídeos por dia, quase todos
baseados em conteúdo viral
Sem faltar com a verdadeSites reveem valores para harmonizar agilidade,
irreverência e credibilidade. Já não basta corrigir erros “depois” de publicados
por marc fisher
Sea
n H
em
me
rle
34 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 35
jornalistas digitais rebatiam que sua via era mais honesta e democrática – e mais rápida. Se isso significava soltar uma informação antes de ser exaus-tivamente comprovada, azar: a inter-net se encarregaria de corrigir erros e a verdade surgiria de um processo aberto de tentativa e erro.
Com o colapso de velhos modelos de negócios, o debate em torno de valores virou uma batalha de vida ou morte. Chauvinistas do impresso ainda esbo-çam um falso horror quando algum site publica, sem confirmação, que o tio do líder norte-coreano Kim Jong- un teria sido despido, enjaulado e engolido vivo por 120 cães vorazes ao cair em desgraça. E não são poucos os paladinos do digital que se orgu-lham de manter distância da rígida, supérflua e hierárquica estrutura de edição que ainda impera em muitos jornais e revistas.
Mas vejamos uma nova possibili-dade: a de que há uma conciliação em curso. Com a fronteira entre o velho e o novo cada vez mais difusa, esta-ria surgindo um híbrido da fusão dos valores básicos das duas escolas de jornalismo. Tanto em redações cen-tradas no impresso quanto nas 100% digitais, a necessidade de rapidez no jornalismo via Twitter e Vine ofusca cada vez mais as práticas tradicionais: notícia é aquilo que foi dado, tenha ou não sido checado e confirmado. Rara é a organização jornalística que, aqui e ali, não leva ao Twitter fatos semia-purados – e mais rara ainda é aquela que se recusa a gerar conteúdo com base nos grandes “trending topics”, ou assuntos mais populares, do dia.
Como descobri ao visitar redações com passado e papéis muito distintos, a novidade, hoje, é o que sempre fun-cionou: na briga minuto a minuto por público e publicidade, velhas noções de credibilidade acabam sendo tão essenciais quanto a rapidez. Apesar do discurso utópico sobre a internet
como mecanismo de autocorreção, dar a informação correta desde o iní-cio tem, sim, um valor considerável.
“A agilidade e o alcance de novas mídias aumentou tremendamente o impacto de dar uma informação errada, o que está levando muitos des-ses novos meios a adotar uma série de valores tradicionais”, diz Eric Newton, alto assessor da presidência da Kni-ght Foundation e ex-editor-chefe do Newseum, museu americano dedi-cado ao jornalismo.
Achar o meio-termo
A questão é achar o equilíbrio. Um certo grau de perfeccionismo é salutar para o negócio, ao passo que o perfec-cionismo absoluto pode simplesmente impedir a produção de um jornalismo de primeira. Até aqui, ninguém achou a fórmula ideal – a Knight Founda-tion acaba de liberar US$ 320 mil para apoiar a criação de um software que indique se vídeos virais são autênticos. E o público continua sem saber que critérios utilizar: fãs do Twitter têm muito mais tolerância a erros do que, digamos, assinantes de jornais impres-sos ou leitores de uma revista como a americana The New Yorker.
Em toda redação que visitei, o céle-bre sistema de checagem de fatos da New Yorker foi lembrado – menos como ideal e mais como um padrão impossível de ser atingido por meros mortais. Apesar do mercado publici-tário arrevesado, a New Yorker ainda mantém na folha profissionais dedi-cados a checar toda informação publi-cada em suas páginas. Quando redigi um artigo para a revista no ano pas-sado, dois membros dessa equipe dedi-caram boa parte de seu tempo à maté-ria por mais de cinco meses. Cada etapa desse processo de checagem abriu novas possibilidades de apura-ção, o que enriqueceu imensamente o material. Para quem vem de um jor-
nal, como eu, a sensação era que a coisa toda ocorria num planeta dis-tinto daquele em que vivo.
Segundo Newton, é normal que haja essa diferença, pois cada público é atraído para o meio mais ajustado a seu ritmo e a seus interesses. “Cada um tem a mídia que merece”, acrescenta. A longo prazo, contudo, “vemos que o público quer ser informado daquilo que é verdade”.
Nas redações de hoje, com o cres-cente consenso de que o público quer a informação verídica, jornalistas come-çam a se fazer as mesmas perguntas básicas. Uma delas é saber se a infor-mação foi suficientemente apurada para ser apresentada como verídica. Outra é quem decide. Deveria haver normas – ou só ideais? Tentar acer-
tar aqui e ali seria suficiente?Fui de carro até o sul do Estado
americano da Pensilvânia para visi-tar a redação do York Daily Record. Havia nevado na noite anterior, e os editores do jornal sugeriram que eu conferisse o blog em tempo real que tinham criado para cobrir a primeira nevasca séria do ano na região. No blog, havia vídeos curtos produzidos pelos repórteres da equipe mostrando pontos nos quais a precipitação vinha complicando o tráfego. Havia infor-mações do Serviço Nacional de Mete-orologia e tuítes de jornalistas e veícu-los de comunicação da concorrência. Os editores se orgulhavam do fato de que o blog dava tratamento igual ao conteúdo enviado por leitores: fotos e tuítes com a hashtag #pawx.
Um leitor, Dan Sokil, alertou que o trânsito avançava lentamente em “vias cobertas por uma densa camada de neve derretida”. Outro, Jhofford20, postou o seguinte: “Quer melhor maneira de encarar um dia de neve do que bebendo cerveja?” Uma moça, Erin Kissling, acrescentou: “Alerta da meteorologia: lojas de bebidas alco-ólicas estão fechadas. Que merda!”
Embora ninguém edite o blog do tempo durante a noite, Jim McClure, o editor do Record, não cortaria nada do que saiu naquele espaço. O comen-tário da cerveja “capta bem o que a comunidade está sentindo”. Já o pala-vrão seria aceito porque “na internet há mais liberdade”.
Atualmente, o Record tem 19 repór-teres numa equipe total de 55 jornalis-
tas (no auge, uma década atrás, eram 80). Ali, todo mundo contribui para blogs, grava vídeos, posta em redes sociais – além de fazer reportagens e redigir textos. Repórteres e fotógra-fos, que podem postar diretamente no site, têm “a responsabilidade cada vez maior de estar corretos”, esclarece a editora de cidades, Susan Martin. “Editores corrigem o que é preciso, assim que possível, quando a coisa já está on-line.”
Decidi ir visitar o Record porque o grupo que controla o diário – a Digital First Media, dona de uma rede de 75 jornais – transformou suas redações numa ciranda de jornalistas polivalen-tes que já não se dividem mais entre impresso e digital. Repórteres e pro-dutores do Record batem ponto em redes sociais, no próprio site, no jor-nal impresso. Resta saber se, com essa saturação em várias plataformas, o jor-nal será mais um espelho da comuni-dade do que seu cão de guarda. E tam-bém se o ritmo e a abordagem do jor-nalismo digital abalarão sua função social de árbitro da verdade.
A reestruturação do Record foi con-cebida para “manter o mesmo número de gente nas ruas”, explica McClure, há 25 anos no jornal. Uma nova equipe – a do “Design Center”, basicamente um time de editores – planeja e pro-duz quatro jornais regionais sem sair da redação do Record, permitindo que jornalistas em cidades como Cham-bersburg, Hanover e Lebanon se dedi-quem exclusivamente a produzir con-teúdo local.
Randy Parker, editor-chefe do Record, quer que todo jornalista encare sua função como uma tríade que inclui agregação do trabalho de concorrentes, curadoria do conte-údo do público e produção de mate-rial próprio. Quando um candidato a um posto revela que sua paixão é a reportagem, “respondo que essa vaga não está aberta”, diz Parker. “Tenta-
Onde todo mundo faz reportagens, contribui para blogs, grava vídeos e
escreve posts para redes sociais, não há tempo para checar os fatos
36 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 37
mos evitar termos limitadores como ‘repórter’ e ‘editor’.”
Toda quarta-feira – ou “Mojo Wed-nesdays”, como o dia foi batizado no jornal –, os repórteres do Record são orientados a sair da redação e ir se misturar com o público que cobrem. Lauren Boyer, 25, se instala num McDonald’s diferente toda semana e usa redes sociais para avisar aos lei-tores que está às suas ordens. Tem semana em que ninguém aparece; em outras, acaba conseguindo uma maté-ria ou uma fonte nova.
Quando terminou a faculdade, não era assim que Boyer imaginava o futuro. “A única coisa que queria era fazer matérias e ver meu nome no
jornal”, lembra. Hoje, contudo, está fascinada pelo desafio de misturar reportagem tradicional com o toque pessoal que acrescenta ao postar ao vivo no Twitter durante uma audiên-cia pública disputada, por exemplo.
Boyer tenta seguir os mesmos padrões em toda plataforma. Se alguém faz um comentário difama-tório numa dessas audiências, por exemplo, não coloca no Twitter – assim como não o publicaria no jor-nal impresso. No entanto, é mais solta em mídias sociais do que no Record. É mais autêntica, e gosta disso. Não significa ser menos rigorosa, só usar uma voz diferente, explica. Mas acres-centa: “Para trabalhar desse jeito é
preciso ter muito mais cuidado, pois cometer um erro na internet é facílimo”.
Na redação do Record, tanto vetera-nos quanto novatos dão muita impor-tância à verdade e a padrões. Mas a ambição do jornal hoje é menor, sua cobertura diária, menos abrangente. Os editores me mostraram, com orgu-lho, exemplos do estelar trabalho que haviam feito recentemente: uma série sobre diabetes; um admirável projeto de longo prazo para narrar as agruras de veteranos de guerra na volta a casa. Mas qualquer noção de uma cober-tura completa e regular das cidades da região, a principal função do Record no passado, simplesmente se perdeu.
Na corrida para produzir conteúdo sobre vários temas para várias plata-formas – e diariamente –, o jornalista não tem tempo para mirar tão alto. A carga cada vez maior inevitavelmente derruba a qualidade, constata Paulo Kuehnel, fotógrafo do Record desde 1984. No dia em que falamos, Kueh-nel postou um vídeo sobre um homi-cídio seguido de suicídio, um sobre o tempo e outro sobre uma corrida de trenós puxados por cães, além de fotos sobre cada fato. “A gente diz que a grande prioridade é a exatidão, mas somos humanos e hoje todo mundo faz 20 coisas ao mesmo tempo”, informa.
Orgulhoso do trabalho que faz, Kuehnel sabe exatamente quantas
pessoas viram o vídeo sobre o homi-cídio: 1.684 nas primeiras seis horas. Outras 793 viram o vídeo de uma der-rapagem na neve. E 106 o da corrida de trenós – só nos primeiros 25 minu-tos. “É muito”, declara. “E está ótimo, sobretudo para vídeos sem grande produção.”
Uma razão para o Record poder se dedicar inteiramente ao noticiário local é que a controladora do grupo opera algo chamado Thunderdome: uma equipe de cerca de 50 jornalistas que a Digital First instalou em 2012 no 25º andar de um edifício comer-cial em Wall Street. Essa redação pro-duz o grosso do conteúdo “não local” para cada um de seus jornais: cobre
assuntos nacionais e internacionais; edita vídeos para o site de cada jor-nal; redige matérias sobre gastrono-mia, saúde e tecnologia; e cobre aquilo que está ocorrendo no momento, as notícias de última hora, que os ame-ricanos chamam de “breaking news”.
Mas a equipe não é como a redação central de uma empresa jornalística tradicional. Na Thunderdome, não há repórteres especializados cobrindo eventos importantes no dia a dia. A equipe é um exemplo da definição digital do jornalismo: o que faz, basica-mente, é agregar e reembalar o mate-rial de agências, de outros fornecedo-res de conteúdo e de jornais locais. “Se pegamos uma matéria do Washington Post, não vamos reeditá-la”, detalha o editor Mike Topel. “A meta é enrique-cer o conteúdo com o digital.” Produ-tores da Thunderdome também ficam atentos às últimas notícias e a memes que estão fazendo furor na internet, para que todos os sites da Digital First nos Estados Unidos possam refletir o que está acontecendo no momento.
Impresso e digital em sintonia
Diretor de redação da Digital First, Jim Brady revela ter criado a Thun-derdome em parte para ajudar as reda-ções do grupo a virar um lugar no qual a disputa entre impresso e digital se tornasse irrelevante. A equipe é for-mada, em sua maioria, por veteranos do meio impresso; a ideia de Brady é que essa turma case a tradição de completude, verificação e autoridade do impresso com a agilidade e a sinto-nia com os interesses do público que imperam no digital. “A briga segue”, explica. “Mas está perdendo força, pois o pessoal do digital foi parar em pos-tos de liderança e todo mundo desco-briu que a agregação tem seus limites. Além disso, gente dos dois lados hoje sabe que é melhor chegar em segundo do que dar algo errado.”
Sea
n H
em
me
rle
O BuzzFeed está em campanha
para ganhar a confiança de um
público cada vez mais exigente
38 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 39
Quando o Twitter está fervilhando com imagens de um levante, uma revolução ou um incêndio que seja, a Thunderdome recorre ao Storyful, que checa a veracidade do que sai em redes sociais. A equipe de 18 fun-cionários do Storyful monitora redes sociais, YouTube e outras fontes de vídeo para saber que imagens e repor-tagens estão populares. Em seguida, tenta checar se o material é autêntico e passa os resultados a meios de comu-nicação, seus clientes. “Se não há nada em agências e vemos que o Storyful está investigando a imagem, se puder-mos achar um jornalista idôneo que tenha tuitado a imagem, postamos”, diz Karen Workman, editora adjunta de breaking news da Thunderdome.
Orçamento enxuto
Enquanto a Thunderdome se vira para criar simulacros de um processo de che-cagem que já não cabe em seu bolso – nem no de outros veículos de comu-nicação –, um fato permanece inalte-rado: a maioria do conteúdo que está reunindo foi produzida originalmente por terceiros. A Thunderdome tem uma única repórter, Bianca Prieto, que veio do jornal Orlando Sentinel. Bianca gosta de romper com tradições – o que é bom, pois a repórter volta e meia tem de editar o que ela própria produz. O jeito é improvisar: “Quando termino uma matéria, imprimo o texto, pego uma caneta vermelha e leio tudo de novo. Depois, peço a ajuda de colegas: abro o Skype e pergunto se alguém ali pode dar uma lida na coisa”.
Na sexta-feira que passei na Thun-derdome, uma reportagem que fiz para o Washington Post, onde tra-balho, estava sendo feita para a edi-ção de domingo do jornal. Depois da conversa com Bianca, enquanto checava minhas mensagens, desco-bri que cinco editores tinham per-guntas ou sugestões sobre a matéria:
o editor que me pautara, um editor de texto, o editor do caderno, outro edi-tor do caderno e o editor da edição de domingo. Essa abordagem redundante – atipicamente densa, pois o texto sai-ria na primeira página num domingo – tranquiliza o autor, mas não é garan-tia de perfeição. Quatro horas depois de o texto sair no site, um dos prin-cipais personagens da matéria recla-mou que eu colocara sua família em risco ao dar detalhes demais sobre o local onde ele morava – decisão que não gerara nenhuma discussão entre os seis de nós que tinham lido deti-damente o texto antes da publicação.
Isso posto, há dias em que não me importaria em trabalhar sob o lema de Mike Topel, do Washington Post: “Antes de postar, uma boa lida basta”.
Agilidade sempre foi parte do jor-nalismo. A corrida para dar um furo antes dos outros já fez muita maté-ria ser publicada sem uma apuração sólida. Qual, então, a novidade nos critérios das novas redações? É uma questão de intenção: nos primórdios do jornalismo digital, o ofício evitou impor suas escolhas e valores ao lei-tor; a ideia era buscar a sintonia com os interesses do público. Ultimamente, no entanto, editores de meios digitais vêm apregoando um preceito da velha escola: o que o leitor quer é orienta-ção e credibilidade: quer saber o que é fato, o que é verdade. E o jornalista, até em meios com verba curta e equipe sobrecarregada, pode expor a verdade e checar os fatos.
Segundo Robyn Tomlin, editora da Thunderdome, embora velhos proce-dimentos tenham sido abolidos, valo-res tradicionais ainda regem a opera-ção. “Já que todo mundo aqui tem o DNA do meio impresso, certas nor-mas são arraigadíssimas.” Enquanto Tomlin profere essas palavras, Work-man e outros dois produtores – não há editores de texto ali – entram numa discussão acalorada sobre quando é
certo escrever “Terra” com maiúscula.A NowThis News é uma empresa
pequena – pouco mais de 20 produto-res e editores acotovelados em mesas de laminado branco numa redação no segundo andar de um edifício no sul de Manhattan. Essa equipe gera de 40 a 50 vídeos por dia – clipes de seis segundos para o site Vine, spots de dez segundos para o Snapchat, ver-sões de 15 segundos para o Instagram e vídeos mais longos (30 segundos a um minuto) para o Facebook e a internet. Quando o governador de New Jersey (Chris Christie) declarou numa cole-tiva de duas horas que não era um “valentão”, a NowThis colou segun-dos da entrevista a três ou quatro tre-chos em vídeo com mostras da trucu-lência do governador e, em uma hora,
postou o resultado, com 15 segundos no total, no Instagram.
“Tudo o que fazemos é irreverente, mas não descuidado”, declara o dire-tor de redação, Ed O’Keefe, 36 anos e veterano da ABC News. “Tiramos o que é supérfluo, o que distancia [o público]. A geração YouTube sabe que a notícia evolui. É crua, nem sempre é correta, mas é instantânea.”
A velha e a nova escola
Aí está a diferença fundamental entre a velha escola e a nova. Ainda não vi, no meio impresso, um editor que dis-sesse algo parecido em voz alta. Mas já ouvi uma série de editores – gente que pena para descobrir como com-petir digitalmente – aceitar a ideia de
que postar algo rapidamente pode ser mais importante do que checar à exaus-tão os fatos. Não se trata de encampar a amoralidade da imprensa marrom. O’Keefe é um jornalista sério que tenta achar um padrão que funcione no novo mundo. Não quer enganar o público. Quer, antes, chegar com a versão mais próxima possível da verdade aonde o público está – no celular, agora. Daqui a minutos, essa gente não estará mais ali; terá passado para a notícia seguinte.
A NowThis produz pouco mate-rial próprio; quase todo vídeo vem de emissoras de TV, agências e con-teúdo viral. Logo, seu valor está num formato singular de narrativa visual. A NowThis acrescenta gráficos cha-mativos e uma narração coloquial que mescla opinião e reportagem. Ins-
tigante, o formato levou a emissora NBC a comprar uma participação de 10% da empresa em janeiro e a resol-ver usar seus vídeos.
“A agilidade é parte da marca”, afirma Ashish Patel, diretor da empresa para redes sociais. “É o que vendemos. Portanto, nossa checagem é ultrarrápida, com verificadores inde-pendentes.” Isso significa que “se o [New York] Times estiver publicando algo, já está checado”.Uma declaração dessas teria causado furor no Washington Post, onde Katha-rine Zaleski foi produtora executiva antes de virar a primeira editora-chefe da NowThis. Zaleski era um verdadeiro para-raios na guerra cultural travada no Washington Post. Para ela, a reda-ção devia deixar de girar em torno do impresso e avançar à velocidade da inter-net. Para certos repórteres e editores do jornal, seu trabalho era sinônimo de qua-lidade inferior. Olhando hoje, Zaleski não culpa essa turma: “Quando está perdendo circulação, dinheiro e ami-gos, a pessoa se concentra em intangí-veis – na reputação, em padrões. Era a isso que se agarravam”. Por outro lado, “organizações da velha guarda têm, sim, de ser mais cautelosas. No Washington Post, aprendi como é preciso paciência para fazer um jornalismo de primeira. Nas novas organizações, simplesmente não há verba para isso. Paciência requer receita”, acrescenta.
A NowThis pretende produzir mais conteúdo próprio e se empe-nhar mais para checar a veracidade de cada vídeo. Até lá, o jeito é apos-tar numa velha manobra do jorna-lismo: esquivar-se. Quando pensaram em postar um vídeo viral de um urso entrando numa loja de conveniência e pegando um copinho de iogurte, os produtores da NowThis suspeita-ram que a qualidade do material era boa demais para vir de um usuário qualquer. Em vez de postar o vídeo, a equipe sondou o público para saber
Organizações como a NowThis News criam valor com material de emissoras de TV, agências e conteúdo viral. O segredo
está no formato da narrativa visual
40 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 41
se era real ou armação (descobriram que era um trecho de um comercial do iogurte Chobani).
Em setembro, a NowThis postou o vídeo da garota que cai ao fazer o movi-mento da dança “twerk” e põe fogo na própria roupa – incrível demais para ser verdade, a sensação viral era uma armação do apresentador de TV americano Jimmy Kimmel. “Achamos que fosse verdade”, declara a produ-tora Sarah Frank. Quando a farsa foi descoberta, “demos um texto infor-mando que tínhamos caído na pegadi-nha”. De acordo com os executivos da NowThis, o público se contenta com essa transparência, mas eles também admitem que gostariam de achar um jeito de simplesmente evitar que erros do gênero fossem cometidos.
Frank, que aos 31 anos de idade já passou por Newsweek e New York Magazine, acha revigorante trabalhar num lugar que está sempre testando até onde a notícia pode ser diver-tida e pessoal sem esbarrar na rea-ção defensiva que colegas mais velhos da Newsweek exibiam: “Você vai man-char a imagem da revista!” Segundo Sarah, que está coordenando a nova relação com a NBC, todos entendem que, para a NowThis manter a criati-vidade, é preciso evitar regras rígidas e sistemas hierárquicos que possam tirar a agilidade da produção.
Sean Mills, novo presidente da NowThis, assumiu em dezembro. Veio do jornal satírico The Onion, onde des-cobriu que o público jovem desdenha de muitas convenções da narrativa: âncoras, texto com pirâmide inver-tida e neutralidade hoje parecem uma paródia do Onion. Mills afirma, con-tudo, que a credibilidade vinculada a certos nomes da velha mídia ensina a novos meios uma bela lição: a ver-dade ainda importa. Talvez não haja uma relação direta entre cair no trote do “twerk” e perder audiência, mas Mills acha que evitar o erro é essen-
cial para a imagem da marca. O que ele ainda não encontrou é o equilíbrio ideal entre opinião e informação sim-ples e pura, entre conteúdo próprio e agregação, entre checar fatos e deixar o público se virar sozinho.
Para Mills a ideia é gerar confiança. Não há recursos para checar tudo, mas a resposta está na transparência: “Se não dá para ter certeza, basta dizer que não foi possível checar”, afirma. “O novo consumidor gosta de estar a par desse processo.”
Transparência é fundamental
Em muitas redações com equipe enxuta, transparência é a palavra de ordem – diga ao leitor o que não dá para fazer (checar a autenticidade de vídeos, diga-mos) e ponto. Mas, à medida que cres-cem, novos meios podem descobrir que o sucesso ajuda a resolver parte dos problemas.
Shani Hilton, 28 anos, saiu de uma afiliada da rede NBC na capital ame-ricana e do Washington City Paper e foi para o BuzzFeed com uma missão: “Assumi a meta de injetar mais DNA da velha escola neste lugar”, declara. Diretora adjunta de redação, Hilton subiu de um para três o número de edi-tores de texto (outros virão). A produ-tores céticos, ela informa que é possí-vel checar e melhorar o conteúdo sem desacelerar muito a máquina. “Eles têm de sentir que não estão sendo obs-truídos, ou não dará certo”, explica.
Editores de texto hoje conferem tudo o que sai nas listas dos dez mais do BuzzFeed – um sinal palpável de que um público maior pede mais res-ponsabilidade e cautela. “Se algo vai ser viral, queremos que esteja cor-reto”, pondera Hilton. “Mas tem gente aqui que não se considera jor-nalista, então há todo um processo de aprendizagem.”
Hilton pede que os produtores entrem em contato com autores do
conteúdo viral que postam. “Peguem o telefone”, diz. “Em vez de apenas conseguir tráfego, tentem influen-ciar a conversa.”
“Até bem pouco tempo, o BuzzFeed era visto como um lugar para encon-trar coisas divertidas”, esclarece Ben Smith, chefe de Hilton. “Mas não como um lugar no qual dava para confiar. Agora, estão vendo [o site] como um lugar no qual é possível se informar”, completa. Mas isso exige outra cultura.
Não que Smith, que veio do site Poli-tico, vá desacelerar o metabolismo do BuzzFeed. “Se seus leitores já estão cer-cados disso, esperar é abdicar da res-ponsabilidade”, explica. Smith refle-tiu sobre o fato de o site ter apontado
o suspeito errado na correria que se seguiu ao ataque com bomba na mara-tona de Boston. Sua conclusão? “Foi um erro feio, mas quando acontece algo dessa magnitude a coisa é sempre um caos total. A solução é ter mais e melhores repórteres, para não depen-der da CNN.”
O BuzzFeed ainda vai espelhar o que as pessoas veem na internet, mas não cegamente. Para atingir um público que aceita o anonimato mas desconfia de motivos e fontes, Smith acha que um BuzzFeed maior precisa de uma abordagem mais sutil na edi-ção. Textos rotineiros, que não geram polêmica, ainda são postados direta-mente por produtores. Já se o con-
teúdo faz acusações sérias, “quere-mos que seja à prova de bala”. Para tanto, alguém fará uma edição detida e outros editores darão uma olhada informal. Já grandes reportagens e investigações do próprio site passa-rão por um processo de edição e che-cagem de fatos por terceiros.
Mas Smith rejeita “normas rígidas, como ‘é preciso ter duas fontes para publicar algo’. É fácil achar nove fon-tes que digam a mesma coisa e ainda assim soltar um erro. Prefiro confiar em jornalistas espertos e no Twitter”, corrigindo a notícia à medida que for se desdobrando.
A abordagem iterativa, embora capte bem o espírito da internet, ainda irrita
muitos jornalistas da velha guarda; numa crítica ao BuzzFeed (“The Tru-thiness of BuzzFeed”), Andrew Sulli-van, um influente comentarista inglês radicado nos Estados Unidos, disse que a ética do “postar primeiro, checar depois” fere o pacto entre jornalista e leitor. Seria uma irresponsabilidade do BuzzFeed ter publicado, durante o feriado americano de Ação de Gra-ças, o falso relato de uma briga entre um produtor de TV de Hollywood e uma mulher que se queixava do atraso num voo, disse Sullivan, sob a tese de que entretenimento e jornalismo ocu-pam “esferas nitidamente separadas”.
Depois que a farsa foi exposta, o BuzzFeed postou uma nota infor-
A Thunderdome mantém
uma equipe para embalar e fornecer
notícias nacionais para várias redações
Sea
n H
em
me
rle
42 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 43
mando que o produtor de TV “pode ter pregado uma peça em todos nós”. Para certos críticos, foi uma desculpa esfar-rapada. Lisa Tozzi, que foi editora no New York Times e hoje dirige a equipe de reportagem do BuzzFeed (15 pes-soas), admite que o post inicial deveria ter sido mais cético, mas garante que a veracidade ali é tão importante quanto em seu antigo trabalho. Sem dúvida é vital para gente como Smith, Hilton e Tozzi, mas, como esse pessoal oriundo de redações mais tradicionais desco-briu ao chegar ao BuzzFeed, nem todo mundo ali é versado naquele velho modus operandi.
Compartilhar informações
Summer Anne Burton chegou ao BuzzFeed como muitos outros pro-dutores do site: sem muita experiên-cia ou ambição jornalística. Em Austin, onde era garçonete e blogueira, sua vida era buscar coisas interessantes na inter-net para compartilhar com os amigos. A ideia de que alguém fosse pagar para que fizesse exatamente isso era sim-plesmente inacreditável. Agora, como diretora editorial executiva – Burton dirige a equipe Buzz, as 35 pessoas que, segundo ela, “fazem aquilo que cons-truiu a fama do velho BuzzFeed: listas, testes, bichos...” –, a moça começa a se encarar como jornalista.
“Para muitos de nós, essa era uma empresa de tecnologia”, lembra, fazendo referência ao início na casa, dois anos atrás. “Desde que o Ben che-gou, estamos aprendendo a elevar os padrões, mas sem abandonar a ati-tude experimental.” A equipe de Bur-ton costumava seguir um critério bem simples: “Se alguma coisa emplacasse na internet, a gente dava”.
Isso até que Smith chegou, tra-zendo com ele a paixão pela notí-cia de um editor do Politico, o amor por tabloides de um garoto de Nova York e uma forte noção de si mesmo
como jornalista sério e, também, um grande comunicador.
À medida que o público, a equipe e a receita do BuzzFeed cresciam, o propósito da empresa também foi migrando – de angariar pageviews com coisas bacanas para uma vontade mais tradicional de fazer diferença. Mark Schoofs, veterano do jornalismo investigativo (primeiro no Wall Street Journal, depois no site ProPublica), foi contratado para montar um setor de investigação. O jornalismo inves-tigativo e internacional do BuzzFeed ainda é um nicho minúsculo dentro de uma grande redação de criado-res de listas e testes, mas a presença de Schoofs ajuda gente como Bur-ton a encarar a própria função não só como a de agregar, mas também a de desmascarar.
Segundo Burton, essa nova mentali-dade produziu outras mudanças: “Há uns dois meses, começamos a corri-gir erros”. Títulos enganosos também estão em baixa: “Houve um tempo em que só se pensava em manipular a coisa para ficar no alto dos resulta-dos de busca do Google. Mas um título enganoso que decepciona as pessoas é contraproducente”.
Burton ainda encara sua função como a de “entreter”, mas sente que “a diferença está diminuindo”. Rega Jha, uma jovem de 22 anos que ter-minou o curso na Columbia Uni-versity há pouco tempo, virou uma estrela da equipe Buzz com o lendá-rio post “29 Struggles That Only Peo-ple With Big Butts Will Understand” (“29 problemas que só as popozudas vão entender”), visto 4,8 milhões de vezes só na primeira semana. Embora Jha adore fazer listas, seu texto favo-rito até aqui foi uma matéria de 4 mil palavras sobre abuso sexual na Índia – texto que levou dois meses para pro-duzir e passou por 20 rodadas de lei-turas por vários editores do BuzzFeed. Foi visto 200 mil vezes, “muito mais
do que se tivesse saído num jornal ou revista que não entende a inter-net”, diz Jha.
O ideal, diz, seria continuar escre-vendo tanto “28 Things That People With Big Boobs Can Simply Never Do” (“28 coisas que as peitudas nunca vão poder fazer”, outro de seus suces-sos) quanto matérias sobre justiça social – textos duros, sérios, mas no estilo BuzzFeed: “Não importa se o texto é sobre mulheres com traseiro grande ou sobre o Bill Gates. A meta é a mesma: escrever aquilo que as pes-soas querem ler”. ■
marc fisher é editor sênior do jornal The Washington Post.
para todas as regiões.
Text
o or
igin
alm
ente
pub
licad
o na
edi
ção
de m
arço
/abr
il de
20
14 d
a CJ
R.
44 julho | agosto | setembro 2014 revista de jornalismo esPm | cjr 45
A sede da Bloomberg News, em Nova York, segue rotina de trabalho. Já as sucursais na China, sofreram com a intimidação do governo
por howard w. french
para o correspondente estrangeiro na china, falar de assuntos que a amor-daçada imprensa chinesa não pode sequer citar sempre foi parte vital da mis-são. Há pouco tempo, isso ainda era possível, graças a uma cooperação na sur-dina: frustrado pela censura, algum jornalista chinês discretamente repassava informações a colegas estrangeiros, na esperança de que o fato seria notícia em algum lugar – e que, com um pouco de sorte, acabaria repercutindo tam-bém na China.
Nos seis anos que passei no país como correspondente do jornal The New York Times – de 2003 a 2008 –, volta e meia fui beneficiado por essa artima-nha. Quando a censura simplesmente impediu que a imprensa local falasse sobre a versão moderna do trabalho escravo na fabricação de tijolos, por exemplo, jornalistas chineses contavam o que sabiam a mim e a outros cor-respondentes estrangeiros na esperança de que a cobertura por outros paí-ses expusesse a realidade. O que, de fato, ocorreu.
Em 2012, no entanto, esse modelo de obtenção de informações veio abaixo. Em meio à troca de lideranças na China (a primeira em uma década), três grandes veículos de comunicação americanos começaram, um após o outro, a pisar num terreno até então virgem com um jornalismo investigativo próprio – um terreno, aliás, no qual ninguém na imprensa chinesa, por mais temerá-rio que fosse, ousara ingressar.
Essa nova safra de jornalismo de primeira produzido pela imprensa ameri-cana no país foi mais do que mera coincidência: foi, antes, o resultado da dis-
puta ferrenha entre esses meios para cobrir o jogo político e a corrupção nas altas esferas do governo chinês – ativi-dade que, até então, estivera quase que totalmente oculta do mundo.
A disputa acabaria produzindo um escrutínio inédito de elites políticas e econômicas chinesas e uma cornu-cópia de informações para o público leitor. De quebra, jogaria uma dessas organizações jornalísticas numa crise da qual até hoje não saiu.
Tanto o Wall Street Journal como o New York Times já eram líderes consa-grados na arena internacional. Juntos, somavam seis Pulitzers pela cobertura no exterior – e isso só na China. Já o terceiro ator do drama, a agência de notícias Bloomberg News — braço da gigantesca provedora de dados finan-ceiros Bloomberg LP –, era a noviça na área. E, no entanto, foi a Bloom-
berg, com reportagens sobre a imensa (e oculta) fortuna de parentes próxi-mos do novo presidente chinês, Xi Jin-ping, que teria feito a melhor cober-tura segundo gente que acompanha de perto o que acontece ali – e para quem a agência deveria ter levado o galardão maior do meio jornalístico.
Mas não. Em 2013, quando o Pulit-zer para a cobertura na China foi, de novo, para o New York Times, a decep-ção de repórteres e editores da Bloom-berg, segundo eles mesmos comenta-ram, foi imensa. O alento veio do dire-tor de redação, Matthew Winkler, que conclamou a equipe de lá a não desa-nimar. Segundo um funcionário da Bloomberg, em carta à equipe respon-sável pelo material sobre Xi Jinping, Winkler argumentou que o trabalho fora “fabuloso”. E concluiu: “Vamos seguir em frente”.
O incentivo logo levaria a outra incursão de longo prazo no lodaçal da corrupção envolvendo gente da cúpula política chinesa. De um lance, a Bloomberg virava um nome de peso na cobertura jornalística internacio-nal. Mas agora, de modo igualmente súbito, a reputação da empresa e a de sua equipe jornalística foram abala-das de tal forma que a nódoa pode perdurar por anos. E tudo por causa da cobertura na China.
A crise veio a público em novembro do ano passado, quando uma matéria no New York Times – que repercutiu em outros meios, como o Financial Times – revelou que uma reportagem especial da Bloomberg, que suposta-mente denunciaria uma vasta rede de corrupção envolvendo um dos maio-res empresários chineses e gente da cúpula política do país, fora derru-
bada num estágio absurdamente avan-çado do processo de edição. E isso teria ocorrido depois de uma versão repleta de notas explicativas ter pas-sado pelo processo de checagem de fatos e pelo crivo dos advogados da empresa – e de os jornalistas a cargo da reportagem terem sido parabeni-zados internamente pelo espetacular esforço. Segundo o New York Times, Winkler teria falado com os repórte-res ao telefone para defender a deci-são de derrubar o material, compa-rando a situação à de meios estrangei-ros na Alemanha nazista: a autocen-sura seria uma saída para poder seguir atuando no país. Embora essa lógica já fosse em si controversa, um execu-tivo da Bloomberg mais tarde revelaria um motivo ainda mais problemático.
Numa espécie de tragédia anun-ciada, a equipe por trás do especial da
Revés na BloombergA maior agência de notícias financeiras do mundo se enrola
toda para explicar sua posição diante das pressões do governo chinês sobre seu conteúdo editorial
ke
yu
r k
ha
ma
r/b
loo
mb
er
g v
ia g
ett
y im
ag
es
46 julho | agosto | setembro 2014 revista de jornalismo esPm | cjr 47
Bloomberg começou a se desintegrar. Em novembro de 2013, dias depois da primeira matéria no New York Times, a agência suspendeu Michael For-sythe, um dos principais redatores da reportagem sobre a China – a quem a empresa aparentemente atribuía o vazamento de informações sobre o projeto recém-abortado. Forsythe, que recebera ameaças de morte por um trabalho anterior sobre Xi, hoje tra-balha na sucursal do New York Times em Hong Kong (o jornalista não quis falar com nossa reportagem, sob a ale-gação de ter um acordo de confiden-cialidade com a Bloomberg).
A caça às bruxas continuou nos meses seguintes. Na equipe de Pro-jetos e Investigação, responsável por boa parte do jornalismo de denún-cia da Bloomberg na China, o clima era de caos – situação agravada pela demissão de dois editores seniores envolvidos até o pescoço nos proje-tos. Um deles foi Amanda Bennett, editora sênior de negócios.
Mas o momento decisivo – o maior baque para a empresa até então, e que pode afetá-la por anos a fio – foi uma divulgadíssima declaração do presi-dente, Peter T. Grauer, em março. Na ocasião, Grauer basicamente disse que a Bloomberg se deixara empol-gar pelo jornalismo investigativo na China em detrimento de sua verda-deira vocação: a venda de informa-ções financeiras por meio de termi-nais exclusivos.
“Temos cerca de 50 jornalistas no mercado, cobrindo sobretudo o que acontece no meio empresarial e na economia locais”, informou Grauer, respondendo a uma pergunta feita após o discurso na Asia Society em Hong Kong. “Todos aqui sabem que, de vez em quando, nos desviamos um pouco [disso] e publicamos coi-
sas que provavelmente poderíamos ter reconsiderado – que deveríamos ter reconsiderado.”
Durante a visita a Hong Kong, de acordo com pessoas que presencia-ram os fatos, Grauer disse à sucursal que a equipe de vendas da empresa tivera de fazer um “esforço heroico” para reparar a relação com membros do governo chinês na esteira da repor-tagem sobre Xi Jinping. Grauer avi-sou a equipe de que a China colo-caria a empresa “imediatamente de volta na lista negra”, caso a Bloom-berg “fizesse algo parecido de novo”, revelou uma fonte.
Ameaça à apuração
Desde o início da crise, a Bloomberg negou que tivesse derrubado a repor-tagem da sucursal na China. Vaga, sua resposta foi que o material sim-plesmente não estava pronto para ser publicado. As declarações de Grauer, tanto em público quanto à redação, jogaram uma nova luz sobre a questão e levaram mais gente a pedir as con-tas – entre eles Ben Richardson, editor especial em Hong Kong e único jorna-lista da Bloomberg a protestar publi-camente contra o comportamento da empresa na história toda. “É claro, para mim, que devemos ter uma séria dis-cussão sobre a abordagem da imprensa na China”, declarou Richardson por e-mail ao site Romenesko, especiali-zado em jornalismo. “Ninguém está travando essa discussão na Bloomberg.”
As declarações de Grauer serviram, no mínimo, para expor um racha na questão da identidade cultural e da missão da agência – racha que ameaça o jornalismo investigativo da Bloom-berg. Enquanto isso, a agência tem um duro caminho à frente para reconquis-tar a credibilidade na China – que dirá
para reaver o prestígio concedido a candidatos ao Pulitzer.
“Nesse momento, não sinto orgulho de trabalhar na Bloomberg”, confes-sou um repórter envolvido nos espe-ciais sobre a China e que, por ora, segue na empresa. Em dezembro, esse mesmo repórter tirou da mesa de tra-balho um porta-retratos com uma carta de recomendação que recebera de Winkler. “Fiquei com vergonha.”
Basta olhar um pouquinho além dos problemas da Bloomberg para ver que há algo muito maior em jogo: a con-tínua batalha pelo controle da infor-mação entre a autoritária China, uma nova superpotência, e a mídia inter-nacional – e isso num país que não só tem a maior população do mundo, mas que será, muito em breve, sua maior economia. Há pouco, outro caso de corrupção nas altas esferas polí-ticas da China sacudiu o país, desta vez envolvendo o ex-chefe de segu-rança interna, Zhou Yongkang, até recentemente um membro do pode-roso Comitê Permanente do Polit-buro – e, hoje, em prisão domiciliar.
A aguardada condenação de Zhou vai pôr à prova a capacidade da China de controlar a narrativa oficial sobre a corrupção no país, sobretudo se a imprensa internacional seguir firme no jornalismo de denúncia.
Verdade seja dita, a Bloomberg tem mais a perder na China do que outras empresas de comunicações. É que o mercado é crucial para a principal ati-vidade da Bloomberg: fornecer, por uma assinatura mensal de US$ 2 mil, terminais de dados para empresas do setor financeiro, negócio mais rentá-vel do que o tradicional modelo de venda de publicidade e assinaturas da mídia. Para piorar, praticamente ao mesmo tempo que tinha início a crise na Bloomberg, executivos da empresa discutiam a criação de um novo site no idioma local, segundo a correspondência via e-mail que me foi repassada por gente ligada ao pro-jeto. É como disse Grauer naquele momento de franqueza em Hong Kong: “Temos de estar ali”.
Mas toda organização jornalística tem, financeiramente falando, muito
em jogo na China. Aqui, o mais impor-tante talvez seja o destino de um jor-nalismo de denúncia independente no país asiático – inovação recente, sur-gida há coisa de dois anos da acirrada disputa entre organizações jornalís-ticas americanas instaladas no país.
Para entender o porquê, é preciso primeiro desvendar a complicada trama por trás da criação da primeira equipe de jornalismo investigativo da Bloomberg na China – equipe que, no final, acabou desmoronando.
Corrupção é notícia
A história não parte com a Bloom-berg. Começa com a cobertura, pelo Wall Street Journal, do ambicioso Bo Xilai, o ex-membro do Politburo e diri-gente do Partido Comunista cujo afas-tamento do posto no início de 2012 e subsequente prisão foram motivo de sério constrangimento para a China. Num país no qual a maioria dos diri-gentes busca transmitir uma imagem impenetrável à sociedade, Bo era um sujeito carismático, louco pelos holo-
fotes. Caiu por uma série de fatores (um deles foi a condenação da esposa pelo assassinato de um empresário britânico). Mas Bo também buscou encrenca ao desafiar a velha ordem chinesa e usar o poder em proveito próprio e de asseclas.
A investida do Journal partiu em fevereiro de 2012. Semana após semana, à medida que a crise Bo Xilai avançava, o jornal americano parecia ter a cobertura mais original e revela-dora sobre o assunto, numa tendên-cia cuja persistência tirava a concor-rência do sério.
Essa crise foi um importante divi-sor de águas no tema da corrupção na liderança chinesa e parecia abrir a porta para um escrutínio ainda maior. Mas havia um detalhe crucial: Bo caíra em desgraça para a cúpula do país. Para o Estado chinês, mexer com ele era permitido.
Embora para dirigentes chineses Bo possa ter parecido um caso iso-lado, para a sociedade chinesa – e para muitos jornalistas estrangeiros que cobriam o país – o ex-dirigente virou
O presidente da empresa afirmou que a sucursal havia se desviado da verdadeira
vocação: a venda de dados financeiros por meio de terminais exclusivos
48 julho | agosto | setembro 2014 revista de jornalismo esPm | cjr 49
símbolo de um problema muito maior, que acometera a China à medida que o país se tornava mais rico e globali-zado: o uso desenfreado do poder polí-tico para o enriquecimento pessoal.
Cansados de comer poeira no caso Bo, tanto a Bloomberg quanto o New York Times bateram forte na tecla da corrupção, cada qual escolhendo uma figura política de alto escalão para ilustrar o problema. O pilar da tese de que a Bloomberg merecia o Pulitzer que o New York Times acabou levando seria o fato de que a agência de notí-cias foi a mais ambiciosa: seu alvo foi a figura mais elevada em todo o sis-tema político chinês, Xi Jinping, o novo presidente, sobre o qual, até ali, pouca coisa de natureza particular-mente reveladora era sabida.
“Estávamos perdendo de lavada quando o Mike sugeriu que devíamos seguir a trilha do dinheiro”, declarou o britânico Ben Richardson, o editor especial em Hong Kong que deixou a empresa em março. O “Mike” a quem se referia é Michael Forsythe, o prin-cipal redator do material da Bloom-
berg sobre Xi Jinping. E, também, o grande responsável por uma repor-tagem posterior sobre corrupção em geral na China – material que, um ano mais tarde, supostamente teria sido autocensurado e deflagrado a crise na Bloomberg.
“Lembro de uma conversa em um bar, com três editores”, continuou Richardson. “Chegamos à conclusão de que devíamos parar de seguir o rastro do [The Wall Street] Journal e do [The New York] Times, que o Xi já não era blindado (...). Foi por isso que resolvemos ir atrás dele, do Xi Jin-ping. [A decisão] não foi imposta lá de cima, foi orgânica. A certa altura, che-gamos a pensar que não iriam deixar a gente dar o material. Minha dúvida é se sabiam realmente o que estavam fazendo, quais seriam as consequên-cias. Mas havia um quê de bravata nisso tudo. Era algo que fazia a alta direção se sentir bem. A meu ver, nenhum deles tinha ideia da encrenca em que estariam se metendo, e foi só depois de serem postos de castigo [ou seja, sujei-tos a represálias por parte dos chineses]
por vários meses que entenderam”.Outro envolvido na reportagem
disse que embora um jornal de Hong Kong – o Ming Pao – tivesse sido o pri-meiro a dar um relato detalhado da corrupção nos altos escalões envol-vendo Bo Xilai, a Bloomberg fora a primeira agência de notícias estran-geira a tocar na questão dos interesses financeiros da família de Xi Jinping, desbravando todo um novo terreno. “Conseguimos informações exclusi-vas, o que deixou o pessoal muito ani-mado”, acrescentou.
Investigação detalhada
Com efeito, o trabalho causou sensa-ção mundo afora, tanto mais porque a Bloomberg nunca fora um nome de peso na produção de grandes reporta-gens sobre o tema.
“O forte da Bloomberg era, por assim dizer, a leitura de prospectos de emissão de títulos, até então eles nunca tinham feito nada parecido” na China, disse Richard McGregor, ex-chefe de redação da sucursal do
Financial Times em Beijing e autor de um livro sobre a política chinesa, The Party. “Acho que aquela foi a reporta-gem mais incrível sobre os dirigentes chineses já vista, talvez em todos os tempos. Cobrir a política chinesa era, na minha experiência, algo parecido com a história antiga. Você consegue uma pequena informação aqui, outra ali – até que, muito tempo depois do fato, talvez comece a dar algum sentido à coisa toda. Esse caso foi totalmente diferente, e o melhor de tudo é que o modelo da Bloomberg é uma fórmula genérica que pode ser aplicada a qual-quer dirigente chinês.”
O que McGregor chama de “fórmula genérica” significa estabelecer a parti-cipação de parentes de dirigentes chi-neses em empresas normalmente regis-tradas em Hong Kong. É um truque que começa com a identificação dos parentes e, em seguida, a conversão do nome de cada integrante do clã para o cantonês, o idioma de Hong Kong.
Um repórter da Bloomberg me con-tou que o pessoal que participou dos trabalhos de investigação na China
tinha orientado jornalistas de outras sucursais da agência, sobretudo na Rússia, para que pudessem aplicar os mesmos métodos.
O trabalho investigativo do New York Times também envolveu técnicas sofisticadas de contabilidade forense, e, seja qual for o critério aplicado, foi extraordinário. Só que o alvo foi o pri-meiro-ministro de saída, Wen Jiabao, figura de muito menos poder do que um presidente chegando ao cargo – e um presidente cuja família havia mais de uma década vivia cercada de rumo-res de corrupção. Além disso, a repor-tagem da Bloomberg sobre a família Xi saiu meses antes do material do New York Times sobre o clã Wen.
Não tardou para que a Bloomberg recebesse sinais de que a apuração teria sérias consequências. Aliás, esses sinais começaram a chegar antes mesmo da publicação do material. Quando o trabalho de reportagem sobre Xi Jinping estava quase conclu-ído, a Bloomberg procurou o Minis-tério das Relações Exteriores chinês para que comentasse a matéria. Entre outras coisas, autoridades chinesas foram informadas de que o texto da Bloomberg afirmaria que o clã Xi tinha interesses financeiros nos setores de minérios, imóveis e equipamentos de telefonia celular, incluindo inves-timentos em empresas cujos ativos somavam US$ 376 milhões.
Há uma série de versões sobre o que veio a seguir, mas todas afirmam que na época, sem o conhecimento dos repórteres, altos executivos da Bloom-berg tiveram reuniões com o então embaixador da China em Washing-ton, Zhang Yesui. E, mais tarde, com outro diplomata chinês em Nova York.
Embora haja pequenas diferenças em detalhes relatados por três indi-víduos com conhecimento da situ-
ação na Bloomberg, a essência des-sas conversas foi parecida. Segundo um deles, o embaixador Zhang teria dito o seguinte a Matthew Winkler, o diretor de redação: “Se a Bloomberg der a matéria, coisas ruins irão acon-tecer com a Bloomberg na China. Se a Bloomberg não der a matéria, coi-sas boas irão acontecer com a Bloom-berg”. A resposta de Winkler teria sido curta e grossa: “Vou dar a matéria”.
Pouco tempo depois, Peter Grauer, presidente do conselho da Bloomberg, e Daniel L. Doctoroff, o presidente executivo, tiveram uma reunião com um alto funcionário chinês em Nova York. Os chineses voltaram à carga, desta vez com um discurso sobre incentivos e punições. Segundo duas fontes, ao ouvir a ameaça implícita Doctoroff respondeu: “Caro embai-xador, o senhor não entende. Se não dermos essa matéria, será ruim para nosso negócio”. Segundo uma ter-ceira fonte, a resposta de Doctoroff teria sido ainda mais taxativa. O exe-cutivo teria dito, na prática, que a car-reira da Bloomberg como provedora de notícias teria fim caso censurasse a própria redação.
Advertência chinesa
Já segundo pessoas envolvidas na reportagem na Bloomberg, apesar de toda a bravata dos executivos da agên-cia, a advertência chinesa parece ter baixado a bola de todos.
Foi por essa época, segundo parti-cipantes de uma longa teleconferên-cia na agência, que pelo menos um alto executivo da casa – Doctoroff – teria começado a discutir a maté-ria sobre Xi com repórteres e edito-res, exigindo mudanças para suavi-zar o impacto do texto. A maioria das alterações se concentrou na caracte-
Cena de vídeo que circulou pela internet com críticas ao trabalho da agência na China
re
pr
od
uçã
o d
e a
nim
açã
o
50 julho | agosto | setembro 2014 revista de jornalismo esPm | cjr 51
rização do patrimônio da família Xi. “Pouco antes de a matéria ser publi-cada, a muralha que separa a reda-ção do comercial cedeu”, disse uma fonte, segundo a qual parte da equipe de reportagem ficou seriamente con-trariada com a decisão.
A reportagem da CJR tentou ouvir gente da Bloomberg – incluindo Grauer, Doctoroff e Winkler – para este artigo. Por e-mail, pedimos deta-lhes sobre as conversas travadas com diplomatas chineses e perguntamos se, nas decisões tomadas pela empresa, interesses comerciais tinham preva-lecido sobre a área editorial.
Sem esclarecimentos
Grauer não respondeu. Um assessor de imprensa disse que Doctoroff não daria declarações. Já Winkler respon-deu: “Agradeço o interesse. Assim que puder, entrarei em contato”. A certa altura, outro assessor, Ty Trippet, ligou para nossa reportagem com o seguinte discurso: “Veja bem, para falar sobre boatos, sem saber ao certo o que você está tentando dizer, fica difícil conse-guir que alguém [da Bloomberg] fale com você”. No fim das contas, ninguém da agência quis prestar esclarecimen-tos para esta matéria.
Enquanto isso, pouco antes da data marcada para a nova matéria sobre Xi sair, Forsythe, o principal respon-sável pela redação do texto, que na época morava em Beijing com a famí-lia, começou a receber ameaças de morte. A primeira foi transmitida indi-retamente – por um especialista em China na Columbia University que relatava uma conversa que tivera com um conhecido chinês. A mensagem, vaga, era que Forsythe deveria se cui-dar. Depois disso, Forsythe recebeu um recado parecido, dessa vez por
intermédio de outro correspondente estrangeiro em Beijing.
“O que mais me perturbou foi que quando começamos a receber amea-ças de morte a Bloomberg avisou que estávamos proibidos de falar sobre o assunto”, disse a mulher de Forsythe, Leta Hong Fincher, outra acadêmica especializada em China. Fincher com-parou a reação da Bloomberg à pres-são de autoridades chinesas com a do New York Times meses depois, quando da publicação de sua premiada repor-tagem sobre a China. Segundo ela, enquanto o Times falou abertamente sobre o desafio de fazer um jornalismo de denúncia na China, a Bloomberg buscou abafar a discussão.
Desde a publicação das respectivas reportagens, as duas empresas tiveram de conviver com a censura do traba-lho que fazem na China.
Para o New York Times, isso signi-ficou o bloqueio de um projeto carís-simo – um site em mandarim voltado sobretudo ao mercado chinês – e a dificuldade para conseguir vistos de residência para repórteres, sobretudo para quem chega ao país para substi-tuir o pessoal de saída.
A resposta à pressão oficial parece variar de acordo com os interesses de cada empresa no mercado chinês. Fincher mencionou uma coluna de dezembro de 2013 da ombudsman do New York Times, Margaret Sulli-van. Nela, Sullivan chama de “estoica” a postura do jornal diante de reve-ses como aquele. Segundo a ombu-dsman, o publisher do diário, Arthur Sulzberger Jr., teria dito que o New York Times não se deixa “intimidar”.
Fincher contou que a Bloomberg ameaçara mover uma ação contra ela, mas que, diferentemente do marido, ela não tem nenhum acordo de confi-dencialidade com a agência. A coluna
de Sullivan foi publicada pouco depois de relatos de que a Bloomberg teria derrubado a última reportagem sobre a corrupção na China.
Olhando hoje, gente que trabalhou nessa nova empreitada da agência diz que o colapso da muralha entre a reda-ção e o comercial na reportagem sobre Xi Jinping no ano anterior teria sido um ensaio para o tratamento dado ao novo projeto. Altos executivos da empresa voltaram a palpitar sobre o material nos estágios finais da reda-ção – só que, dessa vez, com resulta-dos muito mais dramáticos. Segundo e-mails trocados em meados de outu-bro, e a cujo conteúdo tive acesso, isso ocorreu depois de um executivo de um banco de investimentos estrangeiro com operações na China ter comen-tado com um representante de vendas da Bloomberg que a conexão dos ter-minais de dados da empresa na China andava lenta – e que ficara sabendo que a Bloomberg estava para soltar outra denúncia “bombástica” sobre o país. Na China, quando a censura
suspeita de que algum fato politica-mente delicado está por vir, é comum a velocidade da internet cair. Outras fontes sugerem que os executivos da Bloomberg, e o pessoal de vendas em particular, podem ter ficado preocupa-dos com o novo projeto antes mesmo dessa conversa.
Relação delicada
Um membro da equipe da Bloomberg que trabalhava na apuração da maté-ria me contou que um editor sênior lhe dissera ter recebido um telefo-nema do setor de vendas, que que-ria saber “o que estava acontecendo”. Desse momento até a matéria ser der-rubada, foi tudo muito rápido. Todos os entrevistados para este artigo disse-ram que a Bloomberg tomou todos os cuidados para não deixar as digitais de ninguém na decisão. Uma dessas fontes concluiu: “Nunca subestime a ligação que há entre os executivos da redação e o pessoal de vendas na Bloomberg”.
A chefia não deu grandes explica-
ções – além do medo de que jorna-listas da Bloomberg fossem expulsos da China, manifestado por Winkler – para o fato de estar derrubando a matéria. Aliás, chegou a negar publi-camente que isso estivesse ocorrendo. A desculpa foi que o material simples-mente “não estava pronto”.
“Ninguém nunca explicou clara-mente qual foi o problema”, disse um repórter, que não quis ser identi-ficado. Richardson, o ex-editor espe-cial, disse que, embora o trabalho de apuração ainda não estivesse con-cluído – faltava ouvir o lado de per-sonagens chineses citados na maté-ria, por exemplo –, a desculpa de que o material “não estava pronto” era uma tecnicidade vazia. Uma evasiva, nada mais.
Richardson disse que o revés sofrido pela equipe de Projetos e Investigação, o corte ou remanejamento de repór-teres da área de negócios e a saída de Bennett não eram um bom augúrio para o futuro do jornalismo investi-gativo na Bloomberg. “Se se permi-
tir que esse tipo de coisa ocorra, com certeza não haverá recursos suficien-tes para fazer matérias como as que fizemos em 2012”, garantiu.
Dias depois da nossa correspondên-cia inicial por e-mail, Winkler, dire-tor de redação da agência, mandou sua única declaração para esta maté-ria: “Tenho orgulho de nossa repor-tagem e nosso trabalho fala por si só”.
Questionado por e-mail se a decla-ração valia para o segundo projeto investigativo sobre a corrupção nas altas esferas da China, agora aparen-temente morto e enterrado, Winkler respondeu: “A declaração vale para nosso trabalho”. ■
howard w. french é professor associado da faculdade de jornalismo da Columbia University. De 2003 a 2008, foi chefe da sucursal do New York Times em Xangai. Seu último livro, China’s Second Continent: How a Million Migrants Are Building a New Empire in Africa, foi lançado em maio deste ano. No momento, French escreve um livro sobre a geopolítica no Leste Asiático.
Segundo uma fonte, a ligação histórica estabelecida entre os executivos
da redação e o pessoal de vendas na Bloomberg não pode ser subestimada
Text
o or
igin
alm
ente
pub
licad
o na
edi
ção
de m
aio/
junh
o de
20
14 d
a CJ
R.
52 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 53
por robert s. eshelman
Cenas como a de um iceberg separado de uma geleira fomentam o debate
político em torno do aquecimento global. Esta foi em Juneau, no Alasca
em um dia escaldante de junho de 1988, James E. Hansen, então dire-tor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da Nasa, apresentou-se para uma comissão do Senado dos Esta-dos Unidos.
Sentado diante de um monte de câmeras e de um grupo de funcioná-rios de ar severo, Hansen deu decla-rações que começariam a mudar o que era considerado ponto pacífico na então recente ciência das mudan-ças climáticas.
“Eu gostaria de apontar três con-clusões principais”, começou. “Pri-meiro, a Terra está mais quente agora em 1988 do que em qualquer momento desde que começamos a fazer medi-ções instrumentais. Segundo, o aque-cimento global já é forte o suficiente para que possamos estabelecer com segurança uma relação de causa e con-sequência com o efeito estufa. E, ter-ceiro, nossas simulações computado-rizadas do clima indicam que o efeito estufa é forte o suficiente para afetar a probabilidade de situações extre-mas, como ondas de calor no verão.”
O “efeito estufa”, que nós conhe-cemos hoje como uma mudança ou
uma perturbação climática, é provo-cado pela atividade humana, princi-palmente pela queima de combustí-veis fósseis desde o início da Revo-lução Industrial, disseram Hansen e outros cientistas naquele dia.
O senador Timothy E. Wirth, do Colorado, esteve presente na audi-ência e em seu discurso de abertura declarou: “A Comissão de Energia deve adotar uma postura proativa para avaliar como a política energé-tica contribuiu para o efeito estufa e as mudanças que podem ser necessárias para reverter a tendência do aumento das emissões de dióxido de carbono, um subproduto da queima de com-bustíveis fósseis”. Em outras palavras, eram as pessoas que estavam provo-cando o aquecimento, e o Congresso deveria entrar na briga para evitar impactos ainda mais devastadores.
Na época da declaração de Han-sen, metade dos Estados Unidos era de terras cultiváveis improdutivas. Meteorologistas tinham declarado aquela a pior seca desde o Great Dust Bowl [fenômeno climático caracte-rizado por tempestades de areia que devastou o país durante a seca prolon-
gada da década de 1930, agravada pela devastação das terras para o plantio de trigo, cujos efeitos foram retratados por John Steinbeck em As Vinhas da Ira (Record, 2001)]. O Rio Mississippi havia chegado a seu nível mais baixo desde 1872, quando começaram as medições. Os anos 1980 se tornariam a década mais quente já registrada até aquele momento. Alguns anos antes, as TVs mostravam figuras esquálidas a meio mundo de distância, vítimas da seca prolongada na África Subsa-ariana. A capa da revista Time “The Endangered Earth” (A Terra amea-çada) foi eleita “O Planeta do Ano” de 1988 [numa alusão ao título “persona-lidade do ano” concedido pela revista].
Daí a deduzir que as condições climá-ticas pudessem provocar graves danos econômicos e aumentar o sofrimento humano foi apenas um pulo.
O depoimento contundente de Hansen sobre o efeito estufa não foi o primeiro dirigido aos políticos de Washington. Já em 1965, o presidente Johnson havia sido alertado pelo Comitê Consultivo em Ciência das evidências crescentes de que as emis-sões originadas nas indústrias estavam provocando impactos na atmosfera.
No entanto, as declarações de Hansen foram parar nas manche-tes – o que não havia acontecido até então. Por isso, esse é considerado o momento de mudança na compre-
ensão do cidadão americano sobre os impactos do homem no clima. O New York Times publicou “O aqueci-mento global começou, diz especia-lista ao Senado”. Em janeiro de 1989, o Nova, um famoso programa de TV sobre ciências, da emissora pública americana PBS, transmitiu uma repor-tagem chamada “Quente o suficiente para você?”, sobre o verão quente e seco de 1988 e as possíveis consequên- cias do efeito estufa a longo prazo. No segundo semestre de 1989, chegou às livrarias The End of Nature – o pri-meiro livro sobre o efeito estufa para o público leigo –, escrito por Bill McKib- ben, um colaborador da New Yorker de 29 anos. A mídia tinha despertado.
Mesmo que a ideia do aquecimento global estivesse se popularizando, parecia difícil para muita gente fora da comunidade científica acreditar que o ser humano estivesse transformando profundamente algo tão poderoso e aparentemente permanente como o clima da Terra – e tão rapidamente, em cerca de 100 anos.
Para explicar sua ideia, Hansen e outros, como McKibben, procuraram se basear em dados científicos e demons-travam sua teoria de maneira didática. Dessa forma, falaram sobre como o efeito estufa causaria secas mais fre-quentes e elevaria o nível dos mares.
A postura que adotaram – de que bastaria apresentar argumentos cien-
Ian
Be
rr
y
O perigo do equilíbrio
Apesar das provas científicas de que o homem causa as mudanças climáticas,
o noticiário ainda oferece o mesmo espaço à versão contrária
54 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 55
tíficos para induzir a uma ação rápida e definitiva para diminuir o consumo de combustíveis fósseis – acabou se mostrando ingênua. A política não era seu forte.
McKibben não escreve mais para a New Yorker, mas ainda trabalha como jornalista e continua a publicar livros e artigos influentes para a Rolling Stone sobre mudanças climáticas e a neces-sidade de controlar o uso de combustí-veis fósseis. Ele é mais conhecido hoje como o cofundador da 350.org, uma organização engajada em vários pro-jetos ambientais, que reivindica ação mundial urgente sobre as mudanças climáticas. Entre os projetos da 350.org, estão impedir a construção do oleoduto Keystone XL, que ligaria o Canadá com o Golfo do México, e con-gelar novos investimentos em com-bustíveis fósseis.
“Havia uma grande cobertura e a maior parte dela era inteligente”, diz McKibben, por telefone, de sua casa em Vermont, no nordeste dos Estados Unidos. “Os jornalistas falavam com os cientistas e simplesmente relatavam a conversa. Não tinha ocorrido a nin-guém que isso devia ter sido tratado como uma questão política, e não cien-tífica”, afirma, ao lembrar como era feita a cobertura no fim dos anos 1980.
Mas ele acrescenta: “Não demorou muito para a indústria de combustí-veis fósseis se movimentar e transfor-mar o assunto em uma questão polí-tica, algo partidário que eles pudessem explorar. Eles traçaram uma estratégia que hoje vemos como um esforço para derrotar a ciência. E o principal alvo deles eram os meios de comunicação”.
A estratégia foi bem-sucedida. Nos anos seguintes, essa indústria não ape-nas derrotou os conservacionistas, como começou a atuar no discurso da mídia que falava em equilíbrio e equidade.
Desde o início da cobertura sobre clima, é cada vez maior a certeza dos cientistas de que há provas irrefutá-veis do papel terrível que o homem exerce no aumento da temperatura global. Mesmo assim, é como se os jor-nalistas estivessem parados no tempo, apresentando dados científicos como se eles ainda estivessem sujeitos a dis-cussão. Como se fossem mais um ponto a ser debatido, avaliado. Conforme a convicção da comunidade científica cresce – 97% dos cientistas concordam que o planeta está esquentando e que o ser humano é a causa –, os repórteres, editores e produtores de hoje deveriam penetrar o campo da política, em vez de martelar a falsa ideia de que há um debate em torno do assunto.
Muitos especialistas dizem que os jornalistas centram a apuração em fontes cientificamente equivocadas, conhecidas como think tanks patro-cinados e ideologicamente coopta-dos pela indústria de combustíveis fósseis, que se opõem à regulação da emissão de gases causadores do efeito estufa. Os jornalistas também pode-riam fazer mais e tratar de soluções para as mudanças climáticas, e, com isso, diminuir a ansiedade da popu-lação americana quanto às conse- quências econômicas do enfrenta-mento da questão.
Luta de gigantes
Em 1992, apenas quatro anos depois da alarmante declaração de Hansen, o repórter investigativo1 Ross Gelbs-pan se aposentou do jornalismo e pas-sou a escrever ficção política. Gelbs-pan tinha feito revelações chocantes da “guerra suja” entre a União Sovié-tica e a administração Reagan na Amé-rica Central enquanto esteve no Phila-delphia Bulletin, no Boston Globe e no
Washington Post. Quando Paul Eps-tein, um médico da Escola de Medi-cina de Harvard, apresentou a ele uma pesquisa ligando alterações no clima à proliferação de doenças infecciosas, os instintos de repórter de Gelbspan aflo-raram outra vez.
A dupla escreveu um editorial para o caderno Outlook, de opiniões, do Washington Post, intitulado “Devemos temer uma epidemia global?”, desta-cando a pesquisa de Epstein e aler-tando para a proliferação de várias doenças devido à elevação de tem-peraturas no mundo. Gelbspan estava prestes a começar a escrever um livro sobre a investigação, mas logo que o editorial foi publicado, ele passou a receber cartas de leitores do Post argumentando que ele estava exage-rando. O aumento de temperatura era temporário, elas diziam, parte de um ciclo natural.
As cartas o obrigaram a fazer uma pausa. Algumas recomendavam que ele consultasse o trabalho de con-testadores das alterações do clima, como Richard Lintzen, Fred Singer, Pat Michaels e Bob Balling. Os argu-mentos eram convincentes, e Gelbs-pan sentiu certo alívio ao perceber que a humanidade não estava à beira de uma catástrofe climática.
Ele resolveu, então, abandonar o livro em andamento. Mas já havia mar-cado entrevistas com vários clima-tologistas de renome e se sentiu no dever de honrar esses compromis-sos. Um deles explicou ao jornalista que as teorias daqueles céticos não eram totalmente sólidas. Tratava-se de dados escolhidos especificamente para levantar dúvidas, quando todos os demais cientistas estavam seguros do processo de alteração do clima.
No entanto, o especialista disse estar intrigado com uma questão: quem estava financiando os estudio-sos que questionavam as mudanças climáticas? Eles não recebiam ver-
bas das fontes usuais, como a Funda-ção Nacional de Ciências (National Science Foundation, agência federal americana fundada nos anos 1950 para financiar pesquisas básicas em facul-dades e universidades). Muitos dos contestadores eram cientistas reco-nhecidos, embora não fossem espe-cialistas em áreas relacionadas à cli-matologia. De todo modo, a origem de seu financiamento era uma incógnita.
Fossem quem fossem, os céticos estavam espalhando sua mensagem. Os jornalistas os procuravam para responder a opiniões de cientistas como Hansen e Roger Revelle, que em 1965 escrevera um relatório para o governo Johnson. Lintzen, Singer e outros céticos apareciam a toda hora nos meios de comunicação, dizendo que a tendência de aquecimento era parte de um ciclo natural e que a ciên-cia ainda não tinha chegado a um con-senso sobre o assunto.
Gelbspan voltou ao projeto de seu livro. Ele soube que os legisladores de Minnesota realizariam uma audi-ência sobre os impactos ambientais da queima de carvão. Além da chuva ácida, do smog, e outros tipos de polui-ção do ar, um deputado estadual pediu que o aquecimento global também fosse incluído na pauta de impactos a serem estudados.
“Conversei longamente com a pro-curadora que estava coordenando as audiências”, explica Gelbspan. “Ela me disse que a indústria do carvão tinha convidado quatro daqueles cien-tistas céticos para falar. E aquela era uma audiência de pouca expressão – na Comissão de Serviços Públicos ou
coisa assim – e eu perguntei ‘Bem, por que você não faz com que comentem a origem do financiamento deles?’”
De acordo com o repórter investiga-tivo aposentado, no dia da audiência, ele era o único jornalista no recinto.
“Eis que, sob juramento, eles for-necem a lista da origem de seu finan-ciamento, e tudo vem da indústria de combustíveis fósseis”, Gelbspan rela-tou. “Então pensei: ‘Merda, é isso que está acontecendo’.”
Depois disso, ocorreu o que o clima-tologista Michael E. Mann, da Penn State University, chama de guerra do clima, e a principal estratégia era questionar o trabalho de repórteres que mostravam as alterações do clima como fato consumado.
Consenso científico
Era o plano perfeito, porque utilizava uma máxima do jornalismo: ser justo e equilibrado ao apresentar os contornos de um debate. Mas, para fazer isso, os repórteres frequentemente recorriam a porta-vozes ligados à indústria para falar sobre a ciência – e não sobre solu-ções políticas em potencial, esfera da qual a indústria de fato deveria tomar parte. Porém, como as soluções polí-ticas poderiam restringir o lucro, o melhor era questionar o conhecimento em que elas se apoiavam.
Aquilo que McKibben considerava uma cobertura precisa das mudanças climáticas no fim dos anos 1980 – jor-nalistas cobrindo ciência, e não polí-tica – foi para Gelbspan uma falha estrutural grave na atuação dos jor-nalistas na década de 1990.
O equívoco começava já na esco-lha de quem faria a cobertura. “Eram repórteres de ciência que cobriam o assunto, e eles não eram do tipo que rastreia o dinheiro”, diz Gelbspan.
Os incrédulos da mudança do clima daquele tempo estavam roubando o espaço na mídia que antes era da luta contra a regulamentação dos produ-tos de tabaco – reivindicando “equilí-brio” dos jornais e redes de TV na sua cobertura científica. Gelbspan foi um dos primeiros a perceber o ardil des-sas demandas. Mas jornalistas menos espertos foram enganados com facili-dade, ou cederam às pressões cotidia-nas do fechamento. E assim consegui-ram separar cientistas e repórteres.
Em Merchants of Doubt, os histo-riadores Erik M. Conway e Naomi Oreskes traçam a saga do engano ide-ológico financiado pela indústria, ilus-trando com temas que vão do tabaco à chuva ácida e ao buraco na camada de ozônio, até chegar aos debates atuais sobre as mudanças climáticas.
“O caso do tabaco foi a primeira grande campanha sistematizada de negação”, garante Oreskes. “A lição óbvia para os jornalistas é saber que isso existe, e que se apoia na virtude do jornalismo de equilíbrio e objeti-vidade.” Mas acrescenta: “Isso leva o jornalista a um beco sem saída”.
O beco sem saída, em outras pala-vras, é produzido por uma ignorân-cia artificial, dirigida contra o conhe-cimento acumulado. Existem pon-tos questionáveis em algumas áreas – por exemplo, quanto à ligação entre mudanças no clima e certos fenôme-nos naturais extremos. Mas dizer que
O erro foi buscar porta-vozes ligados à indústria para falar sobre a ciência – e não
sobre soluções políticas para resolver questões relacionadas ao aquecimento global
1 Na versão original deste artigo, Ross Gelbspan é chamado de vencedor do Pulitzer. Gelbspan foi editor da equipe do Boston Globe que venceu o prêmio em 1984, mas seu nome não está na lista dos vencedores.
56 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 57
existe um debate científico sobre se as temperaturas no mundo estão subindo, ou se os humanos estão provocando isso, é ignorar totalmente os fatos.
A cada relatório aprovado do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (IPCC, na sigla em inglês), os cientistas afirmam com segurança crescente a ligação entre as emissões de gases do efeito estufa geradas por humanos e o aquecimento global. O primeiro relatório do painel, publi-cado em 1990, afirmava: “As emis-sões resultantes da atividade humana estão aumentando substancialmente a concentração de gases causadores do efeito estufa na atmosfera”, e esses gases “intensificam o efeito estufa, resultando, em geral, em um aque-cimento maior da superfície terres-tre”. O segundo relatório, de 1995, alertava para a “perigosa interferên-cia antrópica no sistema climático”. Em setembro de 2013, o IPCC divul-gou seu quinto relatório, que diz: “É extremamente provável que a influ-ência humana seja a causa prepon-derante do aquecimento observado desde 1950”.
Em 2009 foi divulgado um dado que seria repetido muitas vezes – 97% dos especialistas do clima ou de atmosfera acreditavam haver rela-ção entre as emissões de gases do efeito estufa geradas por humanos e o aquecimento global. É um nível de consenso ligeiramente inferior ao que existe acerca da existência da gravidade e semelhante ao de que há provas científicas que ligam o uso do tabaco ao câncer.
Com esse nível de certeza, declara Oreskes, o objetivo dos jornalistas deveria ter sido precisão em vez de equilíbrio. Em outras palavras, eles não teriam se preocupado com “equi-líbrio” em um debate sobre a Lei da Gravidade, dando o mesmo espaço para alguém defendendo que ela não existe ao reservado a quem acredita nela. Por que deveriam fazer isso em relação às alterações no clima? Ainda de acordo com Oreskes, os repórteres deveriam estar questionando aos 3% de ditos céticos os motivos desse dis-senso, especialmente se considerado o histórico da indústria – e as campa-nhas de desinformação conduzidas pelos think tanks.
A historiadora acrescenta que “é necessário ter informações para jul-gar a objetividade desses pesquisado-res, e para identificar possíveis confli-tos de interesses que possam influen-ciar as descobertas de seus estudos”.
Falha na avaliação
Faz 26 anos desde que Hansen sentou- se diante da comissão do Senado com seu baú de dados científicos. Mesmo assim, os jornalistas ainda vacilam ao cobrir as mudanças climáticas. Quando a indústria de comunicação tinha dinheiro a rodo, as redações transbor-davam de repórteres e editores espe-cializados e experientes. Mas, desde o início dos anos 2000, cortes de pes-soal, a eliminação das editorias de meio ambiente e cobertura cada vez mais focada tornaram o jornalismo sobre o clima ainda mais difícil. A indústria da comunicação foi corrompida por
sua incapacidade de avaliar o interesse político desses céticos, e também por forças econômicas que defendiam seus próprios interesses.
“Você não pode olhar para a cober-tura sobre mudança climática fora do contexto do declínio geral da imprensa”, diz Bud Ward, um vete-rano de quatro décadas de jornalismo ambiental e organizador do Fórum de Mudanças Climáticas e Mídia de Yale.
Qualquer que seja a sua origem, esse falso equilíbrio permanece. No USA Today, a política interna determina que todo editorial sobre um assunto “controverso” seja acompanhado de outro editorial defendendo a posição contrária. Em outubro, o jornal trans-formou o último relatório do IPCC em editorial. Fiel à sua política de equilí-brio, deu espaço para Joseph L. Bast, o chefe do Instituto Heartland, finan-ciado pela indústria de combustíveis fósseis e fundações que se opõem à regulação pelo governo. Bast escre-veu artigos de opinião para veículos de peso, incluindo The Washington Post e Bloomberg News.
Talvez pior do que distorcer a ciên-cia é o fenômeno, especialmente nos principais talk shows de domingo na TV, de ignorar completamente a ques-tão da mudança climática.
Em maio de 2013, Heidi Cullen, cli-matologista chefe da Climate Central, uma organização sem fins lucrativos formada por cientistas e jornalistas para analisar e divulgar os impac-tos das mudanças climáticas, apare-ceu no programa Face the Nation, da rede CBS, que vai ao ar nas manhãs de domingo e traz entrevistas rela-
cionadas a política. Foi a primeira vez em cinco anos que um cientista foi a um talk show de domingo para falar sobre alterações no clima, segundo o centro de pesquisa Media Matters for America.
A conferência do clima de Cope-nhague, o furacão Sandy, os recor-des de temperatura pelo mundo, a contínua seca nos Estados Unidos, os incêndios florestais na Austrália e as inundações na Europa foram gran-des destaques no início do século 21, entre outros acontecimentos ligados ao clima. Mesmo assim, de acordo com o Media Matters, esses progra-mas influentes falharam quando dei-xaram de convidar especialistas para explicar o que se sabe – e o que não se sabe – sobre o aquecimento glo-bal, suas conexões com fenômenos extremos e a influência da atividade humana sobre eles.
Em vez disso, os talk shows domini-cais promoveram debates entre polí-ticos, representantes de indústrias e colunistas que muitas vezes dis-torciam dados científicos para ques-tionar determinada posição política, sem que ninguém estivesse ali para desafiá-los.
Ainda que a indústria do combus-tível fóssil tenha ganhado o primeiro round em sua luta para influenciar a imprensa, os ambientalistas estão se mexendo para vencer o segundo. Entre suas armas há um número cres-cente de sites especializados, como Climate Central, ClimateWire, The Daily Climate, e o site vencedor do Pulitzer InsideClimate News, assim como Mother Jones, uma revista espe-cializada em jornalismo investigativo sobre política, meio ambiente, direi-tos humanos e cultura. Novos opera-dores no mercado de mídia ameri-cano, como o britânico The Guardian e Al Jazeera America, o canal para os Estados Unidos da rede árabe sediada em Doha, no Catar, expandiram os
horizontes da cobertura das mudan-ças climáticas.
De fato, no primeiro dia de trans-missão da Al Jazeera America, em agosto de 2013, 30 minutos foram dedicados às alterações do clima. Segundo a Media Matters, isso cor-responde a cerca de metade do tempo de programação que o tema teve em 2012. Quando o tempo de TV para esse assunto é tão curto, não é preciso muito esforço para ganhar a batalha de influência.
Debate político
A guerra do clima também está sendo travada entre aqueles que assinam os cheques para financiá-la. Fundações conservadoras doaram cerca de US$ 900 milhões entre 2003 e 2012 para organizações sem fins lucrativos e think tanks que se dedicam, pelo menos em parte, a questionar as mudanças climá-ticas, segundo Robert J. Brulle, cien-tista ambiental e professor de Socio-logia na Drexel University. Embora a maior parte desse financiamento esteja voltado para campanhas eleitorais e afins, influenciar a imprensa perma-nece um dos principais objetivos des-ses grupos.
É difícil medir que lado está ga- nhando, uma vez que não há esta-tísticas para cada grupo dedicado a influenciar a consciência ambiental.
O dinheiro não garante, todavia, que a mensagem de certo grupo seja persu-asiva. O indicador mais claro de que a imprensa não fez o seu papel é o baixo nível de compreensão das mudanças climáticas que se revela em pesquisas de opinião – que só tem piorado desde o início da guerra do clima. Em sua mais recente pesquisa sobre o meio ambiente, o Instituto Gallup revelou que 42% dos entrevistados acredi-tam que a imprensa exagerou a ame-aça do aquecimento global. Os meios de comunicação são apenas uma das
influências sobre a opinião pública. Mesmo assim, a pesquisa demonstra o fracasso da imprensa em explicar o assunto claramente.
“A imprensa reflete a covardia da maioria da sociedade quando não encara a realidade nem relata nossa verdadeira situação”, afirma Gelbs-pan. “É uma tremenda traição da con-fiança do público.”
McKibben é categórico: “Não há outro jeito de dizer isso, nos últimos 25 anos o jornalismo fracassou em grande escala ao tentar transmitir a ideia de que a coisa mais perigosa que poderia acontecer para o mundo está acontecendo”.
Gelbspan acredita que, para uma cobertura melhor, os jornalistas deve-riam examinar mais de perto os impac-tos das mudanças do clima, como os prejuízos econômicos causados por fenômenos climáticos mais intensos e frequentes ou o modo como essas alterações podem levar a conflitos civis e políticos.
Muitas das principais organizações de imprensa realizaram investigações aprofundadas sobre a influência das redes políticas conservadoras, finan-ciadas pela indústria dos combustí-veis fósseis, como a família Koch e a ExxonMobil. Nesse sentido, o jorna-lismo político, e não o científico, tem sido mais eficaz ao expor o elo entre esses grupos e a ciência.
Mesmo assim, ainda há muito traba-lho pela frente. Até aqui, deveríamos ter progredido na cobertura intensiva do debate político de como responder às mudanças climáticas, e não cobrir uma discussão sobre se elas existem. Nesse caso, o equilíbrio tem sido ini-migo da verdade. ■
robert s. eshelman é jornalista freelance e produtor associado da série Years of Living Dangerously, documentário em nove capítulos feito para o canal de TV americano Showtime.
Talvez pior do que distorcer as evidências é o fenômeno, muito comum nos talk shows
na TV americana, de ignorar dados comprovados sobre a alteração do clima
Text
o or
igin
alm
ente
pub
licad
o na
edi
ção
de m
aio/
junh
o de
20
14 d
a CJ
R.
58 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 59
enquanto isso no brasil... AnA PAulA Freire
em razão da minha pesquisa de dou-torado, desde que foi divulgado o quarto relatório de avaliação (AR-4) do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, da sigla em inglês), em 2007, acompanho, de forma conti-nuada, a cobertura do aquecimento glo-bal na mídia, com especial atenção para os principais jornais, revistas e portais de notícia do Brasil. Naquela ocasião, quando os cientistas afirmaram, com 95% de confiança, que a ação humana estava alterando o clima da Terra, houve um reconhecimento político e público de que a situação era realmente crítica, e o tema ganhou um apelo midiático de grande proporção em nível mundial.
Para melhor entendimento, farei aqui uma breve recapitulação. Basi-camente, o AR-4 concluiu que houve um considerável incremento das con-centrações de gases do efeito estufa
na atmosfera, consequência principal-mente da queima de combustíveis fós-seis e das mudanças no uso da terra, como o avanço do desmatamento nas regiões tropicais. Essas atividades pro-vocam o aumento nas emissões de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso (gases que, em altas concen-trações, intensificam o efeito estufa natural) e colocam o homem na incô-moda posição de responsável direto pelo aquecimento global, segundo a avaliação do IPCC.
Com a ampla divulgação do AR-4 na mídia, o alerta científico rapida-mente repercutiu na esfera política, e o debate ganhou contornos de embate. No cerne das discussões, a responsa-bilidade individual (e) de cada nação, desvelada na polarização entre os paí-ses já desenvolvidos e os que seguem em desenvolvimento. Afinal, quem vai
pagar a conta dos custos de redução de emissões e da adaptação necessária às mudanças climáticas globais? Essa discussão e seus corolários elevaram o tema a um dos mais importantes na agenda-setting mundial. No Brasil, em particular, o espaço dedicado às ques-tões do clima, em diferentes vieses, é notadamente exponencial.
O interesse da nossa mídia se explica, em grande medida, pelo fato de que, na última década, o Brasil definitivamente consolidou um papel de liderança no cenário internacional, no âmbito das políticas econômicas e ambientais para as mudanças climáticas. Por sua vez, o IPCC assumiu o status de principal referência na avaliação da literatura científica sobre o tema e profissiona-lizou a sua comunicação em todos os níveis. Também contribui o fato de ter-mos vários cientistas brasileiros inte-
grando diferentes grupos do IPCC, o que, sem dúvida, facilita o acesso às informações. Todos esses aspectos devem ser considerados em qualquer análise quantitativa e qualitativa.
Fontes pouco confiáveis
No que diz respeito às controvérsias científicas, vale ressaltar um aspecto diferencial da cobertura no Brasil em relação a outros países: aqui, a imprensa costuma dar voz aos chamados “céti-cos” do aquecimento “antropogênico”. Nesse particular, a relação com as fon-tes ainda é uma das vulnerabilidades do nosso jornalismo. É que, na ânsia de abrir espaço para o contraditório, um dos princípios basilares da prá-xis jornalística, muitas vezes o jorna-lista deixa de observar (ou considerar, o que é mais grave) que a fonte esco-lhida não possui sequer publicação na área. Fomenta-se uma “polêmica” que não reflete as questões científicas de modo apropriado e balanceado.
Ou seja, dar voz a quem discorda ou contesta o IPCC não é o problema, ao contrário – porque, afinal, o debate é o motor para o avanço da ciência e, mais do que isso, é constitutivo do processo de produção do conhecimento. O que eu defendo é que a escolha da fonte
deve observar com rigor alguns indi-cativos, a especialidade e publicações na área, pelo menos. Buscar o con-traditório, portanto, só faz sentido se existir minimamente uma relação de paridade de certos critérios científi-cos entre as vozes dissonantes. Já vi cientista refutar o papel da Floresta Amazônica como reguladora do clima global sem nunca ter pesquisado ou publicado sobre a Amazônia.
Outra característica importante que observo na nossa imprensa é a dificul-dade de incorporar as incertezas ine-rentes ao método científico. Se, por um lado, é inegável o amadurecimento do jornalismo especializado em ciência, por outro, a cobertura continua desli-zando nesse objeto. Uma razão pode estar no fato de que a estrutura canô-nica do jornalismo preconiza exatidão, e formulações sugerindo uma ciên-
Quando não ter novidade pode ser a boa notíciaO tratamento pouco analítico do mais recente relatório sobre mudanças climáticas revela falta de foco da imprensa brasileira, que parece não saber o que é relevante na cobertura científica
Na edição de 21 de junho de 2006, a revista Veja publica um especial anunciando consequências sombrias quase imediatas do efeito estufa
ED
ITO
RA
AB
RIL
60 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014
cia absolutamente precisa sejam uma maneira de (tentar) resguardar o jor-nalista. O problema é quando surgem dados novos e eventualmente confli-tantes, que são interpretados – e alar-deados – como “erros”, não como apri-moramento da ciência.
Ciência do apocalipse
Foi com alarde, aliás, que a mídia noti-ciou as conclusões do AR-4. De um movimento interpretativo sem prece-dentes na cobertura de ciência sobre meio ambiente, anunciou um futuro “sombrio” e “catastrófico” para a Terra. Segundo as “previsões”, muito mais dos jornalistas do que dos cientistas, estava decretado o apocalipse (página dupla da revista Veja falou em “Apo-calipse Já”, para citar um exemplo). O que o AR-4 do IPCC denominou de processo “inequívoco” (a responsabili-dade do homem pelo aquecimento do planeta), a mídia leu e deu a ler como “irreversível”, deslizando para senti-dos como “sombrio”, “catastrófico” e outros correlatos.
O teor alarmista, e muitas vezes sen-sacionalista, predominou na cobertura pós-2007 até a divulgação do AR-5, em setembro do ano passado. Havia grande expectativa de que este fosse ainda mais contundente em suas con-clusões. Não foi, e tivemos uma reper-cussão insossa e pouco analítica. Por-que, para determinada concepção de notícia, o AR-5 “não trouxe novida-des”. E eis aqui o ponto que eu gos-taria de ver debatido no campo jor-nalístico: o fato de não termos tirado proveito desse aspecto, na minha opi-nião, positivo, das conclusões do AR-5. O que deixamos de explorar ao limi-tar a importância de dado aconteci-mento àquilo que é “novidade”?
Vamos por partes. A ciência do clima avançou muito de 2007 para cá. Para ter uma ideia, no AR-5 foram utilizados 47 modelos climáticos, cada um deles muito mais sofisticado do que os 17 usados no AR-4. Verificou- se que os valores calculados para o aumento de temperatura são muito similares entre um relatório e outro, o que indica solidez nas projeções já
feitas em 2007, com a vantagem de um grau maior de sofisticação das análi-ses (talvez isso explique a redução do espaço aos céticos). Obviamente, isso não quer dizer que as conclusões do IPCC são definitivas. Até porque os fenômenos naturais também podem sofrer mudanças ao longo do tempo.
Mas por que, afinal, eu vejo a “ausên-cia do novo” como positiva? Porque nos instiga, como jornalistas, a uma refle-xão sobre a concepção de (e da) notí-cia e o seu impacto social. A similari-dade dos valores em ambos os rela-tórios aponta para uma situação que carece de mobilização e medidas glo-bais, e é sim um indicativo de robus-tez do atual estágio do conhecimento sobre o clima da Terra. Nesse caso, no news, good news. Seja como for, inter-pretar dados científicos é ter (e, no caso da mídia, promover) a compreensão de que a ciência, como processo em cons-trução, não tem o dever nem o poder de ser irreparável e imutável. Quando vencermos essa etapa, a cobertura jor-nalística dará um grande salto. ■
ana paula freire é jornalista e analista em C&T no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/MCTI). É doutora em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Em 3 de fevereiro de 2007, a Folha repercute relatório internacional e dá manchete sobre catástrofes causadas pela mudança do clima
FOLH
AP
RE
SS
62 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 63
na noite de 12 de dezembro de 1957, quando Albert Camus disse a uma plateia de estudantes da Universidade de Estocolmo: “Ainda não dei minha opinião sobre a Argé-lia, mas daria se vocês me perguntassem”, a turma não dei-xou escapar a oportunidade. Dois dias antes, Camus rece-bera o Nobel de Literatura – era o segundo escritor mais jovem a levar o prêmio. Na Argélia, sua terra natal e cená-rio dos célebres romances O Estrangeiro (Record, 2005) e A Peste (Record, 2000), a guerra de independência ardia nas ruas. Em fevereiro de 1956, quando deixou o posto de edi-torialista da revista francesa L’Express, Camus decidira não falar mais em público sobre o conflito; uma série de artigos e reuniões com oficiais franceses e integrantes da Frente de Libertação Nacional (FLN) sobre as virtudes do diálogo e da necessidade de uma trégua civil tinha sido em vão.
Logo, mesmo que naquela noite de dezembro um jovem argelino não tivesse interpelado Camus sobre sua recusa em assinar petições a favor dos argelinos e insultado o escritor, a opinião de Camus estava fadada a virar notí-cia. Em meio a interrupções, Camus declarou: “Você é a favor da democracia na Argélia, seja então democrático e deixe-me falar (...). Deixe-me terminar minhas frases, pois em geral uma frase só faz total sentido quando é con-cluída”. Depois de dizer que, como jornalista, já fora obri-gado a deixar a Argélia por defender a população muçul-mana, e de declarar que apesar do silêncio em público seguia agindo nos bastidores, Camus afirmou: “Sempre condenei o terror. Devo também condenar o terrorismo cego que vemos nas ruas de Argel, por exemplo, e que um dia pode vitimar minha mãe ou minha família. Creio na Justiça, mas defenderei minha mãe antes da Justiça”. Quando concluiu a frase, Camus não percebeu que seu
significado não ficara claro – e tampouco que sua decla-ração sobre a questão, de tão repetida, viraria na prática sua última: em 1960, numa viagem de Lourmarin a Paris com o amigo e editor Michel Gallimard, um acidente de carro o levaria à morte aos 46 anos.
Desde que o jornal Le Monde deu o (único) relato da que-rela, a declaração – comumente classificada de “famosa” ou “polêmica” – ficou aberta a interpretação. Ao contra-por a vida de um indivíduo com o destino de muitos, o argumento foi tachado por várias pessoas de uma atitude covarde diante do colonialismo – algo que remetia, aliás, ao mais jovem agraciado com o Nobel, Rudyard Kipling – e defendido por outros como a sutil crítica de um huma-nista ao terrorismo. Não é de estranhar, portanto, que o episódio de Estocolmo volte à baila em dois novos livros lançados em inglês: um do próprio Camus, Algerian Chro-nicles (do francês Chroniques Algériennes – Crônicas arge-linas –, com edição e introdução de Alice Kaplan e tra-dução de Arthur Goldhammer), e outro sobre o autor, A Life Worth Living: Albert Camus and the Quest for Mea-ning, de Robert Zaretsky. O curioso é que tanto Kaplan como Zaretsky dão outra versão do episódio acima – ver-são há pouco endossada pelos editores das obras comple-tas de Camus e baseada no testemunho do tradutor sueco do autor, que ouviu de outro jeito a polêmica declaração: “Nesse momento, estão jogando bombas nos bondes de Argel. Minha mãe pode estar num desses bondes. Se isso é Justiça, prefiro minha mãe”. Essa retificação do registro (e refutação mais clara de uma só definição de Justiça) não é a única coisa que os dois livros compartilham; aliás, lidos em paralelo, um completa o outro. Concisa, a biografia dá contexto à vida levada por Camus durante os 19 anos que
por elias altman
Escrita engajadaCrônicas de Albert Camus, mais
do que a famosa ficção, mostram a evolução de suas ideias sobre a vida e como vivê-la
Retrato do escritor durante visita a Londres em 1952, ano em que ocorreu o rompimento público com Sartre
Ku
rt
Hu
tto
n/G
et
ty
Ima
Ge
s
64 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 65
os ensaios argelinos cobrem, e o jornalismo nas crônicas dá um marco utilíssimo para essa vida engajada. Para cap-tar o que Camus quis dizer em Estocolmo, é preciso enten-der sua evolução intelectual e moral – indicada pela leitura de tragédias gregas e pelos textos que publicou no jornal da Resistência francesa Com-bat durante e após a Segunda Guerra Mundial.
Um episódio anterior a esse, que nenhum dos dois livros cita – embora Zaretsky o tenha abordado em outra obra biográfica, Albert Camus: Elements of a Life –, já prenunciava a postura de Camus na questão argelina. No final de 1946, depois de ter se retratado pelo apoio ao expurgo de colaboradores nazistas durante os julgamen-tos do pós-guerra na França, quando chegou a defender a pena de morte, Camus cruzou com um velho amigo. O companheiro acabara de se filiar ao Partido Comunista – num momento em que isso significava justificar os gulags de Stalin. Em seus cadernos, Camus narrou o encontro:
– Então, você será um assassino.– Já fui – respondeu o amigo.– Eu também. Mas não quero mais ser.– E você foi meu mentor.Era verdade.– Ouça, Tar. Eis o verdadeiro problema: aconteça o que acon-tecer, sempre o defenderei contra o pelotão de fuzilamento. Mas você será obrigado a aprovar minha execução. Reflita sobre isso.Se o argumento soa elementar, digno de um curso intro-
dutório de ética, é porque é: quando não estava divagando ou tratando superficialmente da obra de pensadores mais rigorosos, Camus exibia o dom (e a maldição) da simpli-cidade. Logo, embora os dois lançamentos cheguem em hora oportuna – 2013 foi o centenário do nascimento de Camus e Chroniques Algériennes, seu último livro a ser traduzido para o inglês, ganhou nova relevância à luz da Primavera Árabe –, ambos também são importantes por martelar uma tese simples, muito cara a Camus: embora possa ser moldada pela ideologia, a vida é vivida exclusi-vamente por homens e mulheres de carne e osso.
Foi a defesa dessa vida imperfeita, em toda sua desor-
dem, que Camus tentou transmitir ao amigo Tar. Seu traba-lho editorial, no qual ideias privadas eram transformadas em posições públicas, registra as decisões e reconsidera-ções que o levaram a defender a moderação em detrimento da conveniência política. Com o fim da guerra mundial e o início da fria – com duas superpotências igualmente prontas para matar e converter –, Camus aventou a tese radical de que não tinha o direito de sacrificar a vida de outrem pelo bem maior ou por um futuro melhor, e ques-tionava quem dissesse o contrário. É fácil declarar Deus e a história como aliados – e a vida em geral vale pouco quando um dos dois está do seu lado. Camus não puxara o gatilho durante o expurgo do pós-guerra na França, mas defendera o carregamento dos rifles. Isso foi suficiente para o autor acabar convencido de que, com uma boa pon-taria, palavras são tão letais quanto balas – e, também, a única defesa contra elas. Camus decidiu que sua húbris jamais deveria se repetir: se houvesse muitos erros desse calibre, não sobraria ninguém para decidir quem estava certo e quem estava errado.
Antes de se aventurar no jornalismo, Camus se lançou aos palcos. Ao concluir a tese na Universidade de Argel, em 1936, foi tocar uma companhia de teatro. Isso coinci-diu com os dois anos em que pertenceu ao Partido Comu-nista (a bilheteria do teatro era doada a trabalhadores desempregados em Argel). A teoria de que a programa-ção devia ser ajustada ao público (know-your-audience) levou à montagem da tragédia Prometeu Acorrentado (editora Martin Claret, 2004), de Ésquilo, em 1937. O deus que desobedece a Zeus e divide com meros mor-tais o fogo divino era cultuado pelo circuito de esquerda
desde 1841, pelo menos, quando em sua tese de douto-rado Karl Marx chamou Prometeu de “o mais nobre dos santos e mártires do calendário filosófico”. Camus ecoou o sentimento: “Uma revolução é sempre contra os deu-ses, a começar pela de Prometeu”.
Logo depois, Camus partiria para seu próximo papel, na jovem redação do Alger-Républican. Ali, poderia redigir e proclamar as próprias falas. O novo periódico em Argel seguia a linha do movimento da Frente Popular liderado pelo socialista Léon Blum, um dos autores do abortado projeto Blum-Violette, que teria concedido direitos civis e ao voto a mais de 20 mil muçulmanos na Argélia. Em um dos primeiros textos que assinou, Camus falou da visita a um navio-prisão abarrotado de árabes: “Não há espetáculo mais abjeto do que ver o homem reduzido a uma condição subumana”. Foi com o mesmo espírito, que infundiria sua melhor produção, que no primeiro semes-tre de 1939 Camus começou a escrever uma série sobre a fome no norte da colônia – a primeira reportagem inclu-ída em Chroniques Algériennes foi intitulada “Misère de la Kabylie” (“Miséria de Cabília”).
Miséria em território francês
Camus não tardou a entender que o problema da fome era econômico, não ecológico, e que a solução não era cari-dade – a doação de algumas toneladas de alimentos –, mas a mudança da política colonial francesa. O homem precisa trabalhar para ter comida, disse Camus, mas não tem como trabalhar se não comer. Em resposta à reação da direita à reportagem, ele escreveu: “Hoje em dia, a impressão é que não é um bom francês quem fala da miséria de um território francês. Devo dizer que é difícil, atualmente, saber como ser um bom francês”. Camus, que era franco-argelino, exor-tou os compatriotas a fazer jus aos ideais de uma república que abolira o direito divino da realeza em favor do ideal de liberté, égalité, fraternité. Para ele, a escolha era clara.
Meses depois da publicação da última reportagem do especial sobre a fome na Cabília, a Alemanha e a União Soviética assinavam o Pacto Molotov-Ribbentrop – expul-sando das primeiras páginas dos jornais as notícias sobre o sofrimento da colônia africana. No dia 7 de setembro, com as tropas nazistas na Polônia, Camus voltava a enxer-gar o preto e o branco de um conflito. “Ninguém pode dizer: ‘Não sei de nada’”, registrou em seus cadernos. “Ou você luta, ou colabora (...). É a um só tempo impossível e imoral julgar um fato de fora. Só preserva o direito de denunciar esse infortúnio absurdo quem permanece den-
tro dele.” Embora já mergulhado no que viria a ser uma trilogia “multigênero” sobre o absurdo – a peça Calígula (com tradução disponível apenas em edição portuguesa), o ensaio filosófico O Mito de Sísifo (Record, 2004 – esgo-tada) e o romance O Estrangeiro –, Camus não podia pre-ver o grau de absurdo que a próxima guerra iria atingir.
Em 1942, para se recuperar de uma crise da velha tuber-culose, Camus trocou a Argélia por um vilarejo nos alpes franceses. No ano seguinte, entrou para a equipe do jor-nal clandestino Combat. Após a libertação de Paris, em agosto de 1944, o cargo de editor do periódico, que assu-mira havia pouco, ganhou maior complexidade. Sem um inimigo comum para unir facções distintas, alianças entre católicos e comunistas, socialistas e conservadores – sur-gidas no bojo da Resistência – logo se esgarçaram; a velha questão do poder, de quem o exercia e como, voltou a se impor. Outro problema nem um pouco desprezível era o destino de colaboradores: membros do governo Vichy, industriais oportunistas, jornalistas complacentes (cerca de 32 mil cidadãos franceses acabaram presos por colabo-ração). Dias após a libertação, Camus se recusou, no Com-bat, a distinguir assassinos de cúmplices. Pouco depois, escreveria: “É inútil contestar o terrível fato de que sere-mos obrigados a destruir uma parte viva desse país para salvar sua alma”. Àquela altura, Camus já vinha travando, em editoriais, um debate com François Mauriac, o escri-tor católico que mais tarde também receberia o Nobel de Literatura. Desde o início, Mauriac se mostrara preo-cupado com o risco de excessos pela Resistência no pós- guerra. Agora, observava que “a inquisição também quei-mava corpos para salvar almas”.
Camus dava sua análise de acontecimentos no país e no exterior – o papel da imprensa numa França livre, a reeleição de Roosevelt, a Espanha do general Franco –, mas a polêmica com Mauriac o obrigava a ser mais espe-cífico ao defender o papel da moral na política. Camus gostava de implicar seus leitores; agora, implicava a si mesmo. Já que é só com o diálogo que a posição de cada lado é verdadeiramente definida, Camus teve de seguir sua lógica até o cadafalso. Quando saiu a primeira sen-tença de morte para um colaborador, seu comentário veio na primeira pessoa do plural, sua favorita: “E nós decidi-mos adotar a Justiça humana, com suas terríveis imper-feições, com o apego sôfrego à honestidade para tentar corrigi-las”. A divina talvez tivesse bastado para quem, como Mauriac, acreditava em Deus, mas para a maioria dos homens a eternidade estava longe demais; a Justiça devia ser rápida e terrível. Que a sentença de morte em
Com a pena certeira, Camus defendeu a tese de uma existência imperfeita,
conduzida em meio à desordem criada por homens e mulheres de carne e osso
66 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 67
questão tivesse ido para um jornalista e não, digamos, para o marechal Pétain, chefe do governo de Vichy, ou para um integrante da milícia paramilitar que deportara judeus era mostra flagrante dessas imperfeições.
Em meio a isso tudo, Camus não deixava de pensar na Argélia. Seis dias depois da rendição da Alemanha, publi-cou no Combat o primeiro de seis artigos inspirados numa visita de três semanas à terra natal. Era um momento difí-cil para mobilizar o leitor na França com mais um episó-dio de fome em outro país, mas Camus insistiu, estam-pando os artigos na primeira página. “Estamos fadados a viver juntos”, escreveu. Mandem Justiça, grãos, dinheiro. Camus lembrou os franceses de que centenas de milha-res de árabes argelinos tinham lutado sob a bandeira tri-color, e que, como a França fora incapaz de assimilar ou emancipar aqueles árabes lá atrás – com a modesta pro-posta Blum-Violette –, não tardaria para que a colônia desse as costas à França. A realidade da fome não muda, concluiu Camus, mas suas repercussões, sim.
Defesa do humanismo
O desencanto acabou invadindo boa parte da produção de Camus. “O mundo é o que é – o que não é muito” era o iní-cio de seu editorial de 8 de agosto de 1945, publicado dois dias depois de os americanos lançarem a bomba atômica sobre Hiroshima. Outra das poucas vozes a denunciar o fato na imprensa francesa foi François Mauriac – e já não era o único tema no qual a opinião dos dois coincidia. Camus agora julgava o expurgo do pós-guerra um desastre: “Não parece fácil encontrar o caminho reto da Justiça em meio a mani-festações de ódio vindas de um lado e o clamor especial de consciências culpadas proveniente do outro”. O preto e o branco tinham virado cinza. A lucidez da posição de Mau-riac estava no apelo à caridade e à moderação – que deve-riam ser buscadas não como virtudes cristãs, mas por terem o poder de refrear o eterno anseio do homem em ser o dono da razão. O perigo representado por esse desejo preocupava cada vez mais Camus – assim como a defesa irrestrita da própria retidão, que poderia minar, e até destruir, a autori-dade que conferira razão ao indivíduo em primeiro lugar.
Assim, no final de 1946, pouco antes da marcante con-versa com Tar, Camus registrava os temas discutidos em outro encontro – no caso, uma noitada de conversas sobre moral e política na casa de André Malraux com Jean-Paul Sartre, Arthur Koestler e Manès Sperber. Koestler falou da necessidade de “um código de ética mínimo na política”; Malraux questionou se o destino do proletariado seria sem-
pre a preocupação suprema; Camus indagou se o desper-tar da esperança não era o reconhecimento de que, vies-sem da escola de Nietzsche ou de Marx, tinham errado ao negar valores morais; já Sartre se recusou a denunciar unicamente a União Soviética, comparando a deportação dos russos ao linchamento de negros nos Estados Unidos (ao que parece, a intervenção do pobre Sperber se limi-tou a um “Sim, etc. etc.”). E, durante todo o tempo”, escre-veu Camus, resumindo o encontro, “a impossibilidade de determinar quanto de medo ou verdade há naquilo que cada um diz”. Os tempos tinham mudado, e o que fora uma frente unida agora era uma esquerda fraturada. Cada um dos antigos aliados assumiria uma postura própria em relação ao comunismo soviético. Por dez anos, Malraux foi ministro da cultura de Charles de Gaulle; Sartre criou um estilo próprio de marxismo militante e anticolonialismo; já Camus retomou o humanismo, a única defesa que enxer-gava contra o totalitarismo da guerra fria.
Em sua última grande contribuição ao Combat, uma série intitulada Ni Victimes, Ni Bourreaux (Nem vítimas, nem algozes), Camus aborda a questão do medo, da verdade, da divisão: “Vivemos em terror porque a persuasão não é mais possível, porque o homem foi entregue por completo à história e já não pode se voltar àquela parte de si mesmo tão verdadeira quanto a parte histórica, e que reencontra diante da beleza do mundo e da face humana”. Eis Camus em seu elemento: não está errado, é apenas anacrônico. No rosto de Sartre em Paris ou no de um argelino em Esto-colmo, Camus esperava descobrir algo em comum; a seu ver, sempre haveria algo, e fosse o que fosse, triunfaria sobre o nada. Tinha visto homens que discordavam se unirem na luta contra o nazismo, e agora o comunismo na União Soviética e o capitalismo nos Estados Unidos descamba-vam, ambos, para uma análise de custo-benefício na qual essa verdade, essa beleza e esse diálogo eram considera-dos dispensáveis. Mas o que poderia substituir esses sis-temas? Essa é sempre a questão. Camus dava sugestões – como o internacionalismo –, mas sempre foi mais eficaz no diagnóstico, e voltou ao deus grego para dar a dimensão do problema: “O homem, hoje, crê que é necessário antes de tudo libertar o corpo, ainda que a mente deva morrer temporariamente. Mas a mente pode morrer temporaria-mente? Na verdade, se Prometeu reaparecesse, o homem moderno faria o que fizeram os deuses lá atrás: o cravaria à rocha, em nome do mesmo humanismo que ele foi o pri-meiro a simbolizar”. Manda hoje quem mandou sempre.
Tanto Zaretsky, no prefácio de A Life Worth Living, como Goldhammer, na nota do tradutor de Chroniques
Algériennes, chamam Camus de moralista. Ambos expli-cam a decisão, pois sabem que o leitor americano vai naturalmente concluir que alguém assim rotulado é pre-tensioso. Embora um verda-deiro moraliste busque lem-brar o homem do que ele é e do que pode ser, o fato é que a maioria das pessoas não tem tempo para isso. E mais: é difícil expor com leveza a dis-paridade entre o que somos e o que poderíamos ser – escre-ver para a posteridade pede mão pesada –, daí os roman-ces de Camus às vezes darem a sensação de que operam em dois planos. Em seus melhores escritos, de ficção ou não, Camus inseriu o homem em uma situação qualquer, absurda ou não, e tentou mostrar como poderia chegar à salvação, sem Deus nem fé na natureza progressiva da história. A crise na Argélia colocou Camus em tal situ-ação. Sua trajetória jornalística começou com a ques-tão do que deveria ser feito lá, carreira que chegaria ao fim sob impacto do mesmo problema. Sua moderação foi posta à prova.
Futuro da tragédia
Em Ni Victimes, Ni Bourreaux, Camus concluía que “a única saída honrosa seria apostar obstinadamente que, no final, palavras seriam mais fortes do que balas”. Foi uma esco-lha ousada. À medida que a Frente de Libertação Nacio-nal e o governo francês adotavam cada vez mais os méto-dos prontamente a seu dispor – a primeira deslanchando uma série de atentados, o segundo respondendo com força desmedida e, às vezes, indiscriminada, incluindo tortura –, Camus começou a escrever editoriais na revista L’Express em 1955, condenando as táticas de ambos. Mais uma vez, estava no meio do fogo cruzado. Foi a Argel tentar conven-cer vozes mais moderadas a aceitar uma trégua e lembrar essas pessoas de que deviam “se recusar tanto a empregar como a se submeter ao terror”. Na rua, uma multidão de argelinos atirava pedras contra a janela. Não fica claro se a arte imitou a vida ou a vida imitou a arte, ou mesmo se há alguma distinção útil, mas o que Camus declarou em “Sur l’Avenir de la Tragédie” (Sobre o futuro da tragédia), uma
palestra proferida em Atenas naquele mesmo ano, expres-sou sua conflituosa posição sobre a Argélia:
Prometeu é, a um só tempo, justo e injusto, e Zeus, que im-piedosamente o oprime, também tem lá sua razão. O melo-drama poderia, portanto, ser assim resumido: “Só um lado é justo e justificável”, enquanto a fórmula trágica perfeita seria: “Tudo pode ser justificado, ninguém é justo”. É por isso que o coro na tragédia clássica costuma pedir prudên-cia. É que o coro sabe que, até certo limite, todo mundo tem razão – e que a pessoa que, por cegueira ou paixão, trans-põe esse limite está rumando para a catástrofe se insistir no desejo de impor uma razão da qual se julga o único detentor.Em seu papel final, Camus se juntou ao coro. Daí ter
rejeitado, em Estocolmo, qualquer Justiça que permi-tisse a morte de civis e de ter enviado uma carta ao jor-nal Le Monde afirmando que o argelino que o interpelara “sabia do que estava falando e seu rosto não refletia ódio, mas tristeza e desespero. Compartilho dessa tristeza. É o rosto do meu país”. Foi a esse país unificado que Camus sentia ter sido sempre fiel – e mesmo durante o silêncio público agiu nos bastidores, protestando, em cartas, contra as cerca de 150 sentenças de morte lançadas pelo governo francês contra combatentes argelinos. Camus publicou Chroniques Algériennes em 1958, seis meses depois de receber o Nobel. Àquela altura, nenhum dos principais envolvidos se importava muito em ouvir seu chamado à prudência. Camus provavelmente sabia que isso geral-mente ocorre nas tragédias clássicas. Palavras não foram páreo para as balas. ■
elias altman é editor associado da revista Lapham’s Quarterly.
“O mundo é o que é – o que não é muito”, escreveu o autor em editorial de 8 de
agosto de 1945, publicado dois dias depois do ataque nuclear a Hiroshima
Text
o or
igin
alm
ente
pub
licad
o na
edi
ção
de ja
neir
o/fe
vere
iro
de 2
014
da
CJR.
68 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 69
“Não fiz, neste livro, nenhuma crítica que não esteja na boca de repórteres e editores. É raro, contudo, ver a imprensa abrir o jogo com o público – algo que, cedo ou tarde, terá de fazer. Não basta enfrentar toda sorte de percalços, como já faz muito jor-nalista, nem fazer das tripas coração para cobrir bem um fato. A filosofia do trabalho em si precisa ser discutida. A verdade sobre os bastidores da notícia precisa ser contada.”walter lippmann, liberty and the news, 1920
no período que iria desembocar na crise financeira de 2008, a imprensa especializada americana não investigou nem colocou contra a parede os bancos de Wall Street ou as grandes instituições hipotecárias dos Estados Unidos. Daí a crise ter caído como uma bomba para o público – e para a própria imprensa. A história a seguir é a verdade dos bastidores da notícia.1
O cão de guarda não latiu. Alguém pode explicar? Como entender que toda uma subcultura do jornalismo, tida como sofisticada e antenada, tenha ignorado o grande drama que se desenrolava debaixo do próprio nariz? E como explicar que um punhado de jornalistas – a maio-ria sem vínculo com os grandes meios – tenha conseguido produzir relatos que denunciavam as mudanças radicais que vinham ocorrendo no sistema financeiro enquanto a maior parte do establishment seguia calada?
Este livro é sobre o jornalismo cão de guarda e o que acontece quando ele não ladra. O que acontece é que o
O cão mudoPor que a imprensa não latiu
antes da crise de 2008?
por dean starkman
A Bolsa de Valores de Nova York foi atingida em cheio em 2008 pela corrupção do mercado financeiro do país C
hr
ist
op
he
r A
nd
er
son
1 Este artigo é um trecho do livro The Watchdog That Didn’t Bark: The Financial Crisis and the Disappearance of Investigative Journalism (em tradução livre: O Cão de guarda que não latiu: a crise financeira e o desaparecimento do jornalismo investigativo), lançado em janeiro pela Columbia University Press.
70 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 71
público fica no escuro – impotente diante de problemas complexos que envolvem instituições cruciais para toda uma nação. Até hoje, poucos pre-cisam ser lembrados do estrago cau-sado pela crise: a perda da casa pró-pria por 10 milhões de americanos (e muitos mais ficaram sob risco de perdê-la), 23 milhões de desempre-gados ou subempregados, a perda de uma geração de conquistas por comu-nidades inteiras, o socorro escanda-loso dos culpados, a polarização polí-tica interna e a instabilidade em outros países. E por aí vai.
A crise que se avizinhava era mesmo tão imperceptível? Era complexa a ponto de escapar à compreensão da grande imprensa e, por tabela, do público? Era mesmo tão secreta? O fato é que a resposta a tudo isso é “não”. O problema – incentivos dis-torcidos que desvirtuaram a indús-tria financeira – era patente, mas não para executivos de bancos, correto-res, agências de classificação de risco, analistas, quants e o resto da fauna do mercado. Era claríssimo, no entanto, para quem via o drama de fora: regula-dores, advogados de gente lesada, gru-pos comunitários, mutuários engam-belados e, sobretudo, ex-funcioná-rios de instituições financeiras que denunciavam a esparrela. Muitos jor-nalistas foram, aliás, falar com essa turma, entenderam o grau de metás-tase do problema e escreveram sobre o assunto. Infelizmente, nenhum deles trabalhava na editoria de economia de grandes meios.
Na esteira do colapso do banco Lehman Brothers, em setembro de 2008, houve um grande bate-boca
sobre as causas da crise – celeuma que, hoje, está mais ou menos resol-vida. Embora obviamente a coisa seja complicada, Wall Street e institui-ções de crédito hipotecário figuram em peso no banco dos réus. Em meio a tudo, houve uma contenda menor sobre o papel da imprensa especia-lizada. Afinal, o setor que ela cobria – e sobre o qual julga ter especial domínio – é o mesmo que de repente implodiu, para o espanto de todos. Para repórteres de economia, a crise foi mais do que uma surpresa – che-gou-se a pensar até que havia algo de sinistro ali. Afinal, uma geração de profissionais nos Estados Unidos tinha crescido com aquele panteão de
bancos e, constantemente, estampado seu nome na capa de meios como For-tune, Forbes, The Wall Street Jour-nal, The New York Times. Tão ínti-mas eram essas instituições que a imprensa americana fora antropo-morfizando sua descrição ao longo dos anos: o Morgan Stanley era o banco da elite anglo-saxã protes-tante; a Merrill Lynch, a firma irlan-desa-católica batalhadora (para mui-
tos meio bronca); o Goldman Sachs, o banco da elite judaica; o Lehman Brothers, o judeu batalhador; o Bear Stearns, a safadinha – e por aí vai. Amados ou odiados, ali estavam: relu-zentes torres do poder abonadas por empresas de auditoria, agências de rating, reguladores. Até que, um dia, deixaram de ser.
Um belo cochilo
Os críticos sugeriram, como seria de esperar, que a imprensa especializada dormira ao volante. Numa entrevista de março de 2009 que tornou-se viral na internet, o comediante Jon Stewart questionou um comentarista do canal
CNBC, Jim Cramer, sobre o problema. Stewart disse, na prática, que o jorna-lismo econômico se ufanava de cobrir o mercado financeiro de ponta a ponta, 24 horas por dia, mas – sabe-se lá como – deixara passar a notícia mais impor-tante do setor na atualidade. “É uma coisa que você sabe que está acon-tecendo, mas um canal de economia na TV [como o seu] vai ao ar e finge que não está acontecendo”, afirmou
Stewart. Muita gente entendia exata-mente o que ele queria dizer.
Grandes nomes do jornalismo eco-nômico defenderam sua atuação no pré-crise, o que talvez também fosse de esperar. Em palestras e entrevis-tas, esses profissionais sustentaram que a imprensa tinha, sim, alertado para o problema. E deram exemplos de reportagens que discutiam o des-calabro do sistema de crédito antes de a crise irromper. Alguns chega-ram a dizer que o erro fora do próprio público – que cruzara os braços diante da informação que a imprensa vinha fornecendo o tempo todo. “Quem esti-vesse atento teria visto a bandeira vermelha que jornalistas de econo-mia vinham agitando havia anos”, escreveu Chris Roush num artigo – “Unheeded Warnings” (algo como “Alertas ignorados”) – que expôs lon-gamente a visão dos profissionais da área. Diana Henriques, respeitada repórter investigativa e de economia do New York Times, defendeu a pro-fissão numa palestra em novembro de 2008: “Se tivessem prestado atenção, o governo, o setor financeiro e o con-sumidor americano teriam ouvido de nós uma série de alertas sobre a crise, lá atrás, quando ainda havia tempo de evacuar e buscar proteção contra a tormenta”. Houve muitas declara-ções do gênero. Até que a imprensa seguiu adiante.
Vale a pena observar que, discur-sos e declarações à parte, o jornalismo econômico não publicou nenhum material contundente sobre seu pecu-liar papel no sistema financeiro no pré-crise. Por outro lado, investigou e cobrou satisfações de praticamente
todos os demais atores na crise: os bancos em Wall Street, instituições de crédito hipotecário, o Federal Reserve, a Securities and Exchange Commis-sion, a dupla Fannie Mae e Freddy Mac, o Office of Thrift Supervision, o Office of the Comptroller of the Cur-rency, consultores de remuneração e por aí vai. Esse trabalho de criminalís-tica é totalmente válido. Mas e quanto ao cão de guarda?
No começo de 2009, a Columbia Journalism Review, na qual sou edi-tor, lançou um projeto com um obje-tivo bem simples: determinar se o jor-nalismo econômico nos Estados Uni-dos realmente tinha – como dizia – alertado devidamente o público para o perigo que se avizinhava enquanto ainda era tempo de agir. A ideia era fazer uma leitura neutra do material que a grande imprensa econômica produzira antes da crise. Criamos uma lista óbvia de nove grandes publica-ções atuantes no jornalismo econô-mico em língua inglesa (The Wall Street Journal, Fortune, Forbes, Busi-nessWeek, Financial Times, Bloom-berg, The New York Times, Los Angeles Times e The Washington Post) e usa-mos bancos de notícias para buscar todo conteúdo que de modo plausí-vel pudesse ser considerado um alerta sobre o cerne do problema: práticas irresponsáveis de instituições de cré-dito imobiliário e seus aliados em Wall Street. Em seguida, pedimos às publi-cações que nos indicassem o melhor conteúdo sobre o tema que haviam produzido no período – e, que fique registrado, quase todas cooperaram.
O resultado foi a reportagem “Power Problem”, publicada na pri-
meira metade de 2009. A conclusão foi simples: a imprensa especializada fizera tudo, menos confrontar as ins-tituições responsáveis pelo colapso do sistema financeiro. Essa imprensa publicou as denúncias mais severas de instituições de crédito e Wall Street entre 2000 e 2003 – e não foram mui-tas, vale dizer. Em seguida, por moti-vos que tentarei explicar, passou o período crítico de 2004 a 2006 publi-cando matérias de utilidade, mas nem de longe suficientemente orientadas para consumidores e investidores. Não se veem reportagens investiga-tivas confrontando diretamente ins-tituições poderosas sobre práticas de negócios básicas enquanto essas ins-tituições ainda tinham poder. O cão de guarda não ladrou.
Em meio à bolha imobiliária
Quem lê uma miscelânea de textos jornalísticos sobre instituições de cré-dito imobiliário e bancos americanos durante a bolha sai do exercício com noções radicalmente divergentes sobre a solidez do sistema financeiro ameri-cano. Tudo depende do texto. Qualquer leitor que estivesse “atento” ao jorna-lismo econômico convencional teria justa razão para crer que a situação era, basicamente, de normalidade. Havia, sim, uma bolha imobiliária. Uma lei-tura imparcial do noticiário da época deixa isso claro – embora quase todo alerta fosse mitigado pela celebração igualmente eloquente do “boom”. E a imprensa disse, sim, que havia uma penca de produtos abomináveis no mer-cado de crédito imobiliário. Essas são questões importantes para consumido-
O furacão que se formava seria tão complexo e imperceptível a ponto de
escapar aos grandes meios e, por tabela, ao público? A resposta é “não”
72 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 73
res e investidores. Mas os jornalistas não foram muito além disso. Quando o olhar se voltava a instituições finan-ceiras, a mensagem era totalmente dis-tinta: tudo azul. E o problema não era só a rasgação de seda e a bajulação. É que até textos que criticavam aberta-mente algum banco ou instituição de crédito formulavam a coisa em ter-mos da concorrência entre firmas: os resultados seriam abalados? Havia uma bolha, sem sombra de dúvida, e o jor-nalismo econômico fazia parte dela.
O problema é que o sistema que cobria estava fazendo água por todo lado. A corrupção institucionalizada, alimentada por incentivos perversos na remuneração, só crescia. A “subpri-mização” do mercado financeiro ame-ricano – a metástase de uma indús-tria notória, até então marginal, para o cerne do sistema financeiro – estava em estágio avançado. Se a coisa toda tivesse sido um grande segredo, até haveria desculpa. Agora, se fosse de fato, como explicar que a Forbes – justo ela – tenha publicado em 2002 uma crítica duríssima da firma House- hold Finance, então uma gigante do subprime, sob o título “Home Wreck- er” – e não tenha voltado ao assunto com igual veemência antes que fosse tarde demais? E o que dizer do Wall Street Journal, que na mesma época estampou uma reportagem como a bri-lhante “Best Interests: How Big Len-ders Sell a Pricier Refinancing to Poor Homeowners...” no espaço nobre que é sua primeira página, e nada mais do gênero depois disso, quando a situa-ção piorou, e muito? Enquanto isso, ainda em 2003, um repórter chamado Michael Hudson escrevia o seguinte:
Uma investigação durante sete me-ses pelo Southern Exposure expôs um padrão de práticas predatórias em unidades de subprime do Citi. O Southern Exposure entrevistou mais de 150 indivíduos – mutuários, advo-gados, ativistas, funcionários, ex-fun-cionários – e analisou milhares de pá-ginas de contratos de empréstimos, autos de processos, depoimentos e relatórios da empresa. Esses indiví-duos e documentos fornecem fortes indícios de que as operações de sub-prime do Citi estão gerando bilhões de dólares em ganhos ilícitos ao mirar o público mais vulnerável de todos.
Outra realidade
Quem é Michael Hudson? E que dia-bos é o Southern Exposure? Aliás, como explicar que um repórter de cidades de um semanário alternativo em Pit-tsburgh, sem nenhuma experiência na cobertura econômica, tenha sido capaz de escrever o seguinte (grifo nosso)?
Por sua própria natureza, o mercado de títulos lastreados em hipotecas in-centiva instituições de crédito a con-ceder o maior volume de empréstimos aos juros mais altos possíveis. Embo-ra possa parecer uma receita para a concessão de empréstimos de forma frenética e irresponsável, normas fe-derais, diretrizes estritas da Fannie Mae e da Freddie Mac, concorrência intensa e direta entre bancos e relati-va sofisticação dos tomadores de em-préstimos em bancos impedem que a coisa fuja ao controle, de acordo com o relatório do Departamento do Te-souro e do Departamento da Habi-tação e Desenvolvimento Urbano. Já
no mercado de crédito subprime es-ses freios não funcionam tão bem, pois a regulamentação é mais frouxa, o mar- keting mais ousado e a clientela me-nos informada.A data? 2004. Enquanto uma moda-
lidade de jornalismo dizia uma coisa, outra pintava uma realidade total-mente distinta. Como explicar essas representações radicalmente opos-tas? E por que o jornalismo econô-mico convencional foi perfeitamente capaz de realizar as duas modalida-des de cobertura quando os proble-mas eram pequenos, mas incapaz de produzir o segundo modelo – mais contundente e valioso – mais tarde, quando necessário?
Walter Lippmann, autor da epí-grafe deste artigo, tem tanta razão hoje quanto o tinha em 1920. Não basta que repórteres e editores enfrentem toda sorte de percalço, como muitos já fazem. É hora de abrir o jogo com o público. A verdade sobre os basti-dores da notícia precisa ser contada. Precisa ser contada porque, no perí-odo que antecedeu a crise financeira mundial, a imprensa especializada deixou o público na mão.
Precisa ser contada porque a crise do subprime e suas sequelas coinci-dem com uma crise no meio jornalís-tico. O Google e uma nova vanguarda de empresas de internet atingiram em cheio o modelo de negócios tra-dicional da imprensa, abocanhando um belo naco da receita publicitária que havia muito sustentava o jorna-lismo americano. Redações de gran-des meios foram dizimadas; milhares de jornalistas de publicações impres-sas foram parar na rua ou na área
de relações públicas. Seus ex-cole-gas hoje atuam num ambiente novo, angustiante, assolado por dificulda-des financeiras e pautado por requisi-tos de produtividade ainda mais exi-gentes. Paralelamente, um novo ecos-sistema digital de jornalismo surgia – com novas publicações, modelos, formatos, práticas, idiomas, ferra-mentas, instituições.
Prestação de contas
Há outra discussão inflamada em curso sobre o futuro do jornalismo: quem vai fazê-lo, que cara terá, e quem – ou o quê – é o tal “público” ao qual o jorna-lismo deveria estar se dirigindo. Como
em todo momento de crise, consulto-res, marqueteiros e oportunistas de toda ordem – nunca distantes do jor-nalismo – vieram a público proclamar que sabem o que o futuro reserva. Só que ninguém realmente sabe. A única certeza no jornalismo hoje em dia é que está tudo em discussão, tudo no ar: modelos de negócios, formatos, fun-ções, práticas, valores. Organizações jornalísticas vão sobreviver? Redes de amadores serão de ajuda? A narra-tiva jornalística é algo ultrapassado?
A análise estatística – o big data – é a próxima revolução? A nova era digital não deve ser descartada só por não ter feito jus a sua promessa.
Estamos num momento, portanto, em que é justo dizer que a grande imprensa não cumpriu uma função básica e que, como sempre, o futuro é incerto. Já o presente anda meio de pernas para o ar. Não há esperança?
Na verdade, há, sim. Há uma moda-lidade de jornalismo comprovada-mente eficaz na defesa do interesse público, um verdadeiro cão de guarda – e isso desde os dias da grande Ida Tarbell [ícone do jornalismo inves-tigativo americano], no começo do século 20. Não é nem alternativa, nem
do establishment. Não é necessaria-mente profissional ou amadora. Não é inerentemente analógica ou digital. É uma prática.
Aliás, essa prática nunca teve um nome bom. Às vezes é chamada de jornalismo que presta contas, ou res-ponsável (accountability reporting). Às vezes, de “jornalismo investigativo”. Às vezes, de “jornalismo de serviço público” ou de “interesse público”. Às vezes, de algum outro nome. Aqui, vamos de “jornalismo responsável”.
Esse accountability é um termo téc-nico do jornalismo – jargão de repór-teres e editores, como diria Lippmann. É, contudo, um termo que conviria ao público entender melhor.
A impressão é a de que todo mundo seria a favor de algo como o jornalismo que presta contas. Mas não: a modali-dade só virou uma prática profissiona-lizada na grande imprensa na década de 1960 e, desde então, teve de lutar para sobreviver em organizações jor-nalísticas. Jornalismo de confronto e denúncia que é, naturalmente des-perta a hostilidade de ricos e pode-rosos. Em 1906, quando chamou a prática de “muckraking” [algo como “remexer a lama, o lixo, a sujeira”], o presidente americano Theo- dore Roosevelt não fazia um elogio. Arriscada, estressante, cara e difícil, a modalidade enfrenta resistência per-manente em organizações jornalís-ticas e causa ojeriza em burocratas, no pessoal do financeiro, na ala ven-dida. Empresários do meio, como o finado fundador do USA Today, Al Neuharth, e o magnata Rupert Mur-doch, zombam do jornalismo de ser-viço público – ou de qualquer coisa semelhante – visto como uma forma de elitismo, uma veleidade de gente presunçosa atrás de prêmios, de jorna-listas que escrevem para “outros jor-nalistas”, como disse um biógrafo de Murdoch. A oposição a reportagens “longas” e “pretensiosas” impostas ao público por profissionais “elitistas” é invariavelmente usada para justificar a falta de verba para o jornalismo de interesse público, como veremos. Só que desprezar a reportagem longa e ambiciosa é como defender a torta de
Empresas de internet abocanharam, naquele período, boa parte da receita publicitária que sustentava os veículos tradicionais
74 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 75
maçã mas se opor à farinha, à man-teiga, ao açúcar e à forma de assar. No fim das contas, não há torta.
Na era digital, a impaciência com o jornalismo que presta contas ficou ainda mais pronunciada. A matemá-tica e a arquitetura tecnológica da notícia na internet militam contra ele. O resultado é que paladinos do jornalismo digital também tendem a ignorá-lo – ou rejeitá-lo por completo. “O conceito da reportagem de fôlego é todo centrado no jornalista, não no público”, disse no Twitter um guru do jornalismo digital, o americano Jeff Jarvis. Só que a prestação de con-tas é uma função vital do jornalismo americano. É o que o distingue, o que o torna poderoso – quando indepen-dente. É ele que define a pauta, que desperta a confiança do público, que cria valor. É ele que explica problemas complexos a um público de massa e põe contra a parede os poderosos. É a razão de ser do jornalismo.
O momento é bom para discutirmos de que jornalismo o público precisa.
O que realmente funciona? Quem são os verdadeiros pais e mães do jorna-lismo? Há algum fio de autoridade no passado coletivo que nos ajude a singrar seu futuro? O que cria valor – tanto no sentido material quanto em termos do que é bom e valioso no jor-nalismo americano?
A grande reportagem
Embora o jornalismo que presta con-tas assuma várias formas – uma série de revelações num jornal ou site, um livro, um bloco numa revista televisiva – a mais comum é, desde muito, a repor-tagem extensa em jornais ou revistas, o foco deste livro. Seria a grande repor-tagem. O formato estreou com os arti-gos semiliterários dos “muckrakers” no começo do século 20 (o texto de Ida Tarbell sobre o monopólio da Stan-dard Oil na revista McClure é um bri-lhante exemplo). Como veremos, a grande reportagem já deu mostras de seu poder subversivo inúmeras vezes, além de ter exposto e elucidado pro-
blemas complexos para um público de massa sobre um leque quase infinito de assuntos: corrupção em cidades ame-ricanas, o trabalho escravo na atuali-dade, o custo humano dos chamados “leveraged buyouts”, a brutalidade e a corrupção da polícia, o socorro de ins-tituições financeiras na surdina pelo governo americano, crimes acoberta-dos de bambambãs da mídia e da polí-tica, e por aí vai – entra ano, sai ano. O maior dos editores “muckrakers”, Samuel S. McClure, vivia repetindo à equipe, quase como um mantra, que “A matéria é o que importa!” E tinha razão.
O “jornalismo de fontes” – ou seja, obter informações privilegiadas de indivíduos e instituições que dete-nham algum poder – é o velho rival do jornalismo que presta contas. No cenário americano, são as duas prin-cipais tendências – e pode-se dizer que a tensão entre ambas define o meio. A escola da fonte e a de pres-tação de contas representam noções radicalmente distintas daquilo que o jornalismo é e a quem deveria servir. As duas práticas produzem repre-sentações totalmente distintas da realidade – diferença que se provou crucial na antevéspera da crise. No jornalismo de fontes, a meta é obter informações exclusivas sobre atos ou intenções de atores importantes antes que sejam amplamente difun-didas. Sua marca é o furo, a informa-ção exclusiva. No jornalismo econô-mico, a típica reportagem de fontes é o furo sobre alguma fusão ou aquisi-ção. Já o jornalismo que presta contas busca obter informações não de – mas sobre – atores de poder. O resultado típico é a longa reportagem.
JORNALISMO DE FONTES JORNALISMO QUE PRESTA CONTASRápido LentoCurto Longo
Fontes em elites Fontes dissidentesVisão ortodoxa Visão heterodoxa
De cima para baixo De baixo para cimaQuantidade QualidadeInvestidor Público
Nicho MassaCordial com empresas Hostil a empresas
Pirâmide invertida NarrativaFuncionalista Moralista
Sempre tenho em mente dois exem-plos, um de cada escola: Gretchen Mor-genson, grande repórter investigativa e editora do New York Times, e Andrew Ross Sorkin, diretor do site Dealbook, uma próspera divisão do mesmo jor-nal cujo foco é a cobertura de fusões e aquisições no meio empresarial. Mor-genson foi a primeira a revelar – diante da feroz oposição do Goldman Sachs, entre outros – quem seriam os benefi-ciados pelo resgate da American Inter-national Group: a própria Goldman Sachs, entre outros bancos de Wall Street. Já o monumental livro de Sorkin sobre a crise, Too Big to Fail [que ori-ginou em 2011 um filme para televisão exibido pelo canal HBO, cujo título em português é Grande Demais para Que-brar], festeja personagens dessa mesma Wall Street pelas (infrutíferas) tentati-vas de evitar uma catástrofe que suas próprias instituições tinham provo-cado. Que os dois grandes represen-tantes desses extremos do jornalismo trabalhem para o mesmo meio vem sublinhar até que ponto o jornalismo precisa equilibrar as duas tendências.
Uma maneira de entender a dife-rença é pensar que o jornalismo de fontes leva ao leitor o que atores pode-rosos dizem, enquanto o que presta contas informa ao público o que esses atores fazem. O jornalismo de fontes tende a falar com elites; o que presta contas, com dissidentes. O jornalismo de fontes discorre sobre temas espe-cíficos para um público de nicho. Já o que presta contas trata de temas gerais para um público de massa. As diferenças são tão gritantes que dá para resumi-las numa tabela, como a que está na página ao lado.
O jornalismo de fontes tende a transmitir visões ortodoxas; o que presta contas, heterodoxas. Na cober-tura econômica, o jornalismo de fontes fecha o foco em interesses de inves-tidores; o que presta contas, no inte-resse público.
As duas modalidades são, portanto, o Jacó e o Esaú, o Gogue e o Magogue do jornalismo, eternamente brigando por recursos, por status, por influên-cia. Não é, contudo, uma briga equi-librada. O jornalismo de fontes é o ganha-pão da atividade. É mais rápido de produzir e raramente antagonista, o que o torna mais compatível com requisitos de produtividade da mídia. Já o que presta contas é sempre mar-ginal, uma operação cara, responsá-vel por reportagens de apuração lenta, que despertam inimizades. Mas, das duas modalidades, somente uma fala para o, e pelo, público em geral.
Arma em defesa do público
Chego a esse debate depois de 30 anos de atuação como jornalista, dez deles como repórter investigativo, outros dez como repórter de economia. Já fiz tanto o jornalismo de fontes como o que presta contas e entendo o que cada um exige. O problema para o jor-nalismo e para o público, no entanto, é que o jornalismo que presta contas é, a um só tempo, o mais vital e o mais vulnerável. A diferença entre os dois está em denunciar os desmandos no Citigroup em 2003 ou encher a bola do banco em 2006. Explicando de forma simples, o jornalismo que presta con-tas captou o drama que passou batido pelo jornalismo de fontes.
Este livro traça a evolução do cão de guarda desde as raízes no “muckraking” e sua luta para conquis-tar um espaço na grande imprensa. Minha esperança, de certo modo, é narrar a história da grande reporta-gem. Há três razões para essa abor-dagem histórica: mostrar que o jorna-lismo que presta contas é, sim, uma arma poderosa de defesa do público; mostrar por que sua ausência foi tão nociva durante a crise hipotecária nos Estados Unidos; e garantir seu futuro seja lá qual for o jornalismo que des-ponte da ruptura digital – pois sem a prestação de contas o jornalismo em si não tem propósito, não tem foco, não tem razão de ser.
A primeira meta é particularmente importante para refutar o que con-sidero críticas simplistas – tanto à direita quanto à esquerda do espectro político, bem como de gurus do jor-nalismo digital – que tendem a tachar a “grande imprensa” de irremedia-velmente tendenciosa (como acusa a direita), de inutilmente tímida (como diz a esquerda) ou, simplesmente, de incapaz (como dizem partidários de novas mídias). As três críticas podem ter algum mérito. Uma boa parte da velha imprensa realmente devia pen-durar as chuteiras. Mas o jornalismo que presta contas devia sempre ser visto como a prática central que define e distingue o jornalismo americano. ■
dean starkman é editor da seção de economia da CJR, “The Audit”, e autor do livro The Watchdog That Didn’t Bark: The Financial Crisis and the Disappearance of Investigative Journalism (Columbia University Press, 2014).Te
xto
orig
inal
men
te p
ublic
ado
na e
diçã
o de
jane
iro/
feve
reir
o de
20
14 d
a CJ
R.
76 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 77
tenas de imagens de fotogra-mas diferentes para criar uma imagem fictícia (como o grande aeroporto inexistente, cheio de aviões fotografados em lugares diferentes do mundo e que nun-ca estiveram na mesma pista ao mesmo tempo).
Esta é a primeira vez que tan-tas fotos são reunidas em um mesmo volume quase obsessivo, sem qualquer tratamento. Cada foto é marcada conforme a sua coordenada exata do lugar, co-mo se fosse uma receita para um outro piloto que queira conferir pessoalmente a imagem exta-siante. Para saber mais, acesse: www.aereasdobrasil.com.br/ ■
para ler e para ver leão serva
Abastecimento de Boeing e Airbus no Aeroporto Internacional de Guarulhos
LIVRO
Aéreas do Brasil – fotografia panorâmica de Cássio Vasconcellos
Com mEdo dE ardEr no fo-go do inferno, pecadores ricos, como traficantes de escravos e agiotas, faziam grandes doa-ções à Igreja em troca de missas diárias para o resto dos tempos. Pagavam, também, para tentar garantir o perdão ou a perpe-tuação de sua memória. Em A Economia da Salvação, o jorna-lista baiano Biaggio Talento nar-ra inúmeros casos desse tipo de negócio que ele pesquisou nos anais da história da Bahia, as-sim como nos arquivos de jor-nais antigos.
São casos como o do ex-es-cravo africano Joaquim de al-meida, que ficou rico no tráfico negreiro em parceria com o ne-gociante pernambucano manoel
Aéreas do BrasilCássio VasconcellosEditora BEI, 2014236 páginas
A Economia da SalvaçãoBiaggio TalentoEditora Primeira Edição/assembleia Legislativa da Bahia, 2013350 páginas
CáSSIo VaSConCELLoS aCaBa dE Lançar o LIVro Aéreas do Brasil (Editora BEI), com fotografias feitas em voos de helicóptero ao longo de cerca de duas décadas. Em suas 236 páginas, predomi-nam fotos tomadas em sentido vertical, com cenas de causar verti-gem, em que a altura transforma os elementos no chão em minia-turas quase abstratas. menos frequentes são as clicadas em senti-do horizontal, captando imagens que estão ao longe, como nuvens, montanhas ou o skyline do rio de Janeiro e de São Paulo, que fo-ram escolhidos para as duas capas do livro.
Vasconcellos é um dos mais importantes fotógrafos brasileiros da atualidade, o que não é pouco em um país que dá ao mundo Se-bastião Salgado e Vik muniz e mais uma cornucópia de talentos. Um conjunto de obras suas foi o grande destaque de fotografia da exposição SP arte de 2012. Eram composições de diversas ima-
gens aéreas, feitas de aeropor-tos, da Ceagesp ou de automó-veis, reunidas em computação em um único e imenso mural.
Quando tinha pouco mais de 20 anos, Cássio foi jornalista, como parte de um time de jo-vens fotógrafos levados à Folha de S.Paulo durante um processo de renovação estética conduzido pelos editores Luiz Caversan e Lenora de Barros, com consulto-ria do veterano david drew Zingg. Isso foi na virada dos anos 1980
para os 90, um desses momen-tos felizes da história do jornalis-mo em que um processo de mu-dança é abraçado com mais fa-cilidade por uma nova geração, sem apego a padrões vigentes anteriormente, criando um mo-vimento claro, orgânico, reco-nhecível no tempo, no espaço e nos nomes de seus componen-tes. À época, a Folha trocara to-do o seu equipamento fotográ-fico e, pela primeira vez, havia montado um estúdio na redação.
os novos fotógrafos fizeram muitas inovações estéticas, que coincidiram com a adoção da impressão colorida todos os dias. Vários dos profissionais que por ali passaram se desta-cam hoje no circuito de galerias da fotografia paulistana: além de Vasconcellos, fizeram parte daquele grupo nomes como ru-bens mano, Cristina Guerra, mo-nica Vendramini, Bel Pedrosa e Ed Viggiani. Logo Cássio Vascon-cellos voltou a se concentrar na fotografia artística, que já fre-quentava antes de trabalhar no jornal (sua primeira exposição foi aos 17 anos).
mas, já então e em todo esse tempo, duas paixões infantis, pela fotografia e por voar de helicóptero, uniram-se na ma-turidade para gerar uma pro-dução constante de fotos aé-reas que resultaram no livro. Sua experiência com a fotogra-fia feita durante voos o tornou também muito requisitado para fotos comerciais, publicitárias ou de construtoras, como narra Xavier Bartaburu na apresenta-ção do livro.
alguns de seus trabalhos an-teriores já utilizaram fotogra-mas feitos do alto, por exemplo nos livros anteriores Panorâmi-cas (dBa, 2012) e Aéreas, da sé-rie Fotógrafos Viajantes (Terra Virgem, 2010). Também eram aéreas as fotos usadas para compor as grandes montagens apresentadas na SP arte de 2013, que juntavam várias cen-
LIVRO
Pecadores tentando comprar um lugar no céu
Cáss
io V
asC
on
Cell
os
de almeida, seu ex-proprietá-rio. ao fim da vida, rico e apa-rentemente arrependido, faz um testamento em que distribui di-nheiro e dá liberdade a vários escravos e escravas, além de pedir que fosse enterrado com “o corpo amortalhado no hábi-to dos religiosos do São Fran-cisco”, “sepultado no convento do mosteiro da ordem” e pediu que rezassem “25 missas de cor-po presente”.
o comércio entre pecadores em busca de salvação e os re-ligiosos envolvia como um dos serviços mais caros o enterro dos doadores dentro das igrejas. Um tipo de transação que fica-va ameaçada pela criação de ce-mitérios, o que acabou gerando em 1836 uma revolta na Bahia conhecida como “Cemiterada”. o local, chamado Campo San-to, só viria a funcionar integral-mente, já como parte da Santa Casa de misericórdia, quase 20 anos depois.
Biaggio Talento, que é repór-ter especial do jornal A Tarde e por cerca de 20 anos foi corres-pondente do Estadão em Salva-dor, não se restringe aos casos baianos documentados nos sé-culos da colônia. Seu livro nave-ga por uma extensa literatura de reflexão sobre a relação entre o homem, a morte e as religiões desde os primórdios dos tem-pos, e seu trabalho jornalístico inclui reportagens sobre cemité-rios, seus clientes e os trabalha-dores, até o século 21. ■
78 JULHO | AGOSTO | SETEMBRO 2014 REviSTA dE JORnALiSMO ESPM | cJR 79
FOTOGRAFIA
a hoLandESa CLaIrE FELICIE PUBLICoU, em maio, um ensaio de fotos com os índios xukuru de Pernambuco, hoje 12 mil habitantes que vivem em um conjunto de montanhas na Serra do ororubá.
Segundo o site Povos Indígenas do Brasil, do Instituto Socioam-biental, os registros da etnia datam do século 16, mas diversos em-bates e expropriações fizeram suas aldeias serem quase extintas. Somente quatro séculos depois, em 2001, seu território foi homo-logado como Terra Indígena, instrumento que ajuda a salvaguar-dar as aldeias e cultura dos índios.
o ensaio de Felicie procura representar o conflito identitário que os xukurus vivem nos tempos atuais: uma sobreposição de tradições culturais (próprias de uma etnia indígena) com práti-cas da vida moderna. Para ver o ensaio completo acesse: http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/13/bem_viver_in_brazil ■
O Réu E O REi não é Uma tra-gicômica trova medieval, mas o nome do novo livro de Paulo Cé-sar de araújo, o mais famoso, po-rém renegado, biógrafo do can-tor roberto Carlos. o historiador e jornalista ganhou notoriedade depois de escrever a biografia não autorizada do seu ídolo, o livro Roberto Carlos em Detalhes, em dezembro de 2006. apesar do sucesso, que fez a obra en-trar para a lista dos mais vendi-dos em poucos dias, araújo foi acusado, ainda no natal daque-le ano, de violar a privacidade do cantor, que, por esse moti-vo, processou o autor. o livro, que era quase uma hagiogra-fia, virou uma pedra no sapa-to do escritor.
ReVIsTA LIVRO
Democracias autoritárias do século 21 usam imprensa estatal
Fotógrafa holandesa faz ensaio com índios xukuru
O Réu e o Rei: a tragédia
o InSTITUTo FErnando hen-rique Cardoso (iFhC) lançou, no mês de maio, o volume 3 do Journal of Democracy em portu-guês, com diversos artigos so-bre mídia e política. disponível em seu site, o número mais re-cente da publicação semestral traz uma reportagem sobre o papel da “mídia estatal” e sua relação com regimes autoritá-rios, em artigo de Christopher Walker e robert W. orttung. a tese dos autores é a de que “ve-ículos de comunicação contro-lados formal ou informalmen-te pelo Estado tornaram-se in-dispensáveis para a manuten-ção dos governos não democrá-ticos mundo afora. as mensa-
gens que essa imprensa disse-mina – e a apatia que ela provo-ca na população – ajudam a evi-tar a deserção de elites cruciais ao regime e a prevenir que ou-tros centros de poder emerjam na sociedade”.
Para tanto, pautam-se em exemplos como os governos da rússia, Irã e China, explicando suas diferenças e particularida-des – inclusive em relação à in-ternet. além disso, citam o mo-delo de imprensa estatal – co-mumente difundido na améri-ca Latina – típico de democra-cias fracas, como as do Equador e nicarágua. nesta última, por exemplo, explicam que metade das emissoras de TV do país é do presidente (daniel ortega) e de seus três filhos; a família também lançou, recentemente, websites e “centros de trolls”, mecanismo utilizado como in-timidação à oposição. Segun-
do analistas políticos, esse tipo de intervenção ajudou ortega a vencer as eleições de novem-bro de 2011 com 63% dos votos.
mas não é só a américa Latina que padece desse conflito de in-teresses. a mídia turca também perdeu grande independência quando os principais donos de órgãos da imprensa começaram a se relacionar comercialmente com o governo. assim, enquan-to a Turquia vivia momentos ten-sos de confrontação política, a TV transmitia programas de culi-nária ou sobre reino animal.
Esse tipo de controle é mais comum na mídia tradicional, mas muitos dos novos veículos não escapam dos governos autoritá-rios. Segundo os autores, os po-deres da internet não podem ser superestimados, dado que a tele-visão ainda reina entre os meios de comunicação. Isto é, nem to-dos têm acesso à rede (no Vietnã,
O Réu e o ReiPaulo César de AraújoCia. das Letras, 2014528 páginas
Journal of Democracy (em português)Vários autoresInstituto Fernando henriqueCardoso/Centro Edelstein Volume 3, 2014123 páginas
assim, em 2007, Paulo Cé-sar teve de enfrentar dois pro-cessos movidos contra ele pelo “rei”: um na área cível e outro criminal. roberto Carlos não ad-mitia uma biografia não autori-zada, não queria ver revelados fatos de sua vida e jogou todo o peso de sua influência em uma disputa judicial desigual, na qual a editora e o autor acabaram to-pando um acordo de rendição: o livro foi retirado de circulação.
Quando o debate sobre liber-dade de expressão e biografias não autorizadas foi ressuscitado pelo grupo Procure Saber, a his-tória voltou à tona, sendo um dos exemplos mais citados durante a discussão sobre a lei da censura.
Sete anos depois do acordo,
o autor decidiu contar sua his-tória, dos 15 anos de pesquisa e redação ao processo judicial e ao acordo de 2007. Lançado em operação discreta pela Compa-nhia das Letras, que temia pos-síveis riscos à produção do livro dado o histórico anterior, O Réu e o Rei rapidamente chegou às lis-tas de mais vendidos da catego-ria não ficção. “nosso encontro no fórum era uma das etapas do processo criminal: uma audiên-cia de conciliação convocada pe-lo juiz Tércio Pires. Inicialmen-te, o magistrado marcara a ses-são para sexta-feira, 13 de abril – conforme chegou a ser publi-cado no expediente judiciário. roberto Carlos solicitou, porém, a mudança de data. Como o pró-prio artista admite, tem supers-tição com o número 13, e sem-pre que possível o evita”, conta.
a obra ganhou exposição nas vitrines das livrarias, ironica-
mente ao lado de lançamentos próprios do culto envolvendo ro-berto Carlos, como seu livro de fotos e letras inéditas (Collector’s Book), ao preço de r$ 4.500, dis-cos e dVds.■
40% da população acessa a web; na arábia Saudita 55%; e, na Chi-na, 45%). E mesmo os que têm podem ser podados. é o caso do regime russo, que usava, até pouco tempo atrás, técnicas pa-ra afetar o modo como a infor-mação era recebida pelos usuá-rios da web, além de ter sancio-nado, em 2012, uma lei que per-mite ao governo fechar sites com “conteúdo inapropriado”.
a mídia alternativa também sofre retaliação: “atualmente, governos autoritários estão de-liberadamente privando cente-nas de milhões de pessoas de in-formações e análises autentica-mente plurais e independentes”, dizem os autores.
Walker e orttung concluem que o autoritarismo bem-suce-dido “absorve os jornais para dentro do governo”, de modo a reduzir a circulação de ideias, garantindo, assim, a imobilida-de política de seus cidadãos.
o leitor que se interessar pe-la agenda da democracia e suas condições ao redor do mundo pode acessar, também, as ou-tras edições do Journal of De-mocracy no site do iFhC: www.ifhc.org.br. ■
junta à discussão em Comitê da Câmara”, “Sistema Solar volta-rá a operar”, “obama: estímulo salvou depressão”, e assim por diante. Para saber mais, acesse: http://shop.newseum.org/a530/correct-me-if-i-m-wrong.html ■
LIVRO
se eu estiver errado, me corrijaCORRECT mE iF i’m WROng, ou “Corrija-me se eu estiver erra-do”, é o nome do livro da Colum-bia Journalism Review que reú-ne títulos publicados em jornais com gafes, deslizes ou erros. Pu-blicado em inglês, é editado por Gloria Cooper e pode ser com-prado no site da newseum.
as manchetes estão dispostas no livro como surgiram no jornal,
Correct Me If I’m WrongColumbia Journalism review
sem serem corrigidas ou altera-das. as resenhas da internet pro-metem várias gafes, chamadas inacreditáveis e algumas risadas.
a compilação é boa para aprender que, apesar de bem- intencionadas, algumas man-chetes podem ter duplo sentido e passar a mensagem errada. é o caso de algumas que aparecem nessa coletânea: “maconha se
Cla
ire
Fe
liCi
e
leão serva é jornalista, professor do curso de graduação em Jornalismo da ESPM e escritor, autor de Jornalismo e Desinformação (Senac, 2001) e coautor de Como Viver em São Paulo Sem Carro – 2013. Dirige a agência de conteúdo Santa Clara Ideias.
TRANSFORME O MUNDO.FAÇA PÓS-GRADUAÇÃO NA ESPM.
INSCRIÇÕES ABERTAS.w w w . e s p m . b r / p o s
Pós - Campanha 2014 - Revista da ESPM_207x274mm.indd 1 10/07/14 12:17
credencial José brito Cunha












































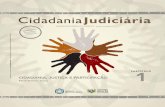


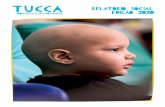



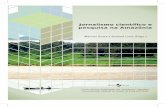



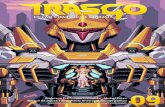




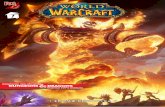

![Crítica à Execução Penal [2a edição]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ae641d43f4e176304a750/critica-a-execucao-penal-2a-edicao.jpg)

