Imprensa e partido: contribuições de Gramsci para a análise do papel político do jornalismo
Jornalismo digital frente ao fenômeno do jornalismo cidadão
Transcript of Jornalismo digital frente ao fenômeno do jornalismo cidadão
INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR-IESPES
COMUNICAÇÃO SOCIAL- HABILITAÇÃO EM JORNALISMO
HELIANE NUNES MEDEIROS
JORNALISMO DIGITAL FRENTE AO FENÔMENO DO JORNALISMO CIDADÃO
SANTARÉM-PARÁ Maio/2014
HELIANE NUNES MEDEIROS
JORNALISMO DIGITAL FRENTE AO FENÔMENO DO JORNALISMO CIDADÃO
Trabalho Acadêmico Orientado apresentado ao Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES como requisito para obtenção do de bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Orientador: Paulo Lima
SANTARÉM-PARÁ Maio/2014
HELIANE NUNES MEDEIROS
JORNALISMO DIGITAL FRENTE AO FENÔMENO DO JORNALISMO CIDADÃO
Trabalho Acadêmico Orientado apresentado ao Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES como requisito para obtenção do título de bacharelado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo.
Aprovado em: ___ de __________de_____.
Comissão Examinadora
_______________________________________________ Nome/Instituição - Presidente/Orientador
_______________________________________________ Nome/Instituição - 2º Membro
_______________________________________________ Nome/Instituição - 3º Membro
Dedico esta conquista às minhas filhas Heloysa Medeiros e Letícia Medeiros, ao meu companheiro Joaquim Rocha, meus pais Nelma Nunes e Mauro Medeiros, minha irmã Heloise Medeiros e ao meu inesquecível amigo Mauro Borges.
AGRADECIMENTOS
Não teria conseguido trilhar esse longo caminho acadêmico e chegar a conclusão
desta graduação sem a força, o apoio e incentivo de algumas pessoas. Por isso,
agradeço...
À Deus que me permitiu a possibilidade de ir tão longe e realizar esse sonho, pois
em meio às inúmeras dificuldades para continuar esse curso me deu a força que
precisava para continuar.
Aos meus pais, irmã e aos meus amores Joaquim Rocha, Letícia Medeiros e
Heloysa Medeiros que foram minha fortaleza, todos me ajudaram e me incentivaram
nos estudos e acreditaram em meu potencial e capacidade.
Agradeço ainda ao meu Orientador Professor Paulo Lima por ter me guiado e
despertado meu interesse pelo tema.
Por fim, agradeço ao coordenador do curso de Jornalismo do IESPES professor
Milton Mauer pela paciência, pois sempre que precisei esteve disposto a me ajudar.
“Não quero de forma alguma dar a impressão de que tudo o que é feito com as redes digitais seja “bom”. Isso seria tão absurdo quanto supor que todos os filmes sejam excelentes. Peço apenas que permaneçamos abertos, benevolentes, receptivos em relação à novidade. Que tentemos compreendê-la, pois a verdadeira questão não é ser contra ou a favor, mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação para vida social e cultural. Apenas dessa forma seremos capazes de desenvolver estas novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista”.
Pierre Lévy
RESUMO
A presente pesquisa tem como foco estudar o Jornalismo Cidadão como uma tendência jornalística, vista hoje como um fenômeno revolucionário. O Jornalismo Cidadão tornou-se um modelo democrático que disponibiliza espaço para que o cidadão manifeste suas ideias, opiniões, revoltas de maneira livre em ambientes virtuais, ou seja, em sites específicos para publicação de conteúdo produzido pelo próprio cidadão. Diante dessa mudança que aconteceu no ambiente comunicacional ocorridas devido à introdução de novas tecnologias, com a criação de plataformas participativas/colaborativas na Internet e as discussões sobre o “jornalismo” praticado por um cidadão que não possui os mesmos conhecimentos técnicos dos profissionais de Jornalismo formados em faculdades de Comunicação Social, surgiu a ideia de elaborar um estudo sobre essa nova prática de produção de conteúdo noticioso, se existe alguma relação com Jornalismo tradicional, como funciona, buscar compreender as dinâmicas utilizadas pelos Jornalistas Cidadãos, apontar a importância e o seu papel social, se esse fenômeno surgiu para agregar valores ou não ao jornalismo e a sociedade. Para obter um conhecimento mais abrangente foi efetuado um estudo bibliográfico que ajudou a entender os assuntos correspondentes a pesquisa.
Palavras-chaves: Colaboração. Internet. Jornalismo cidadão. Participação.
ABSTRACT
This research focuses on studying the Citizen Journalism as a journalistic trend seen today as a revolutionary phenomenon. The Citizen Journalism has become a democratic model that provides space for citizens express their ideas, opinions, revolts freely in virtual environments, in other words specific for publishing content produced by citizens own sites. Given this change that happened in the communication environment occurred due to the introduction of new technologies, the development of participative/collaborative platforms on the Internet and discussions about the “journalism” practiced by a citizen who does not have the same expertise of professionals trained in Journalism in faculties of Social Communication, the idea of a study on this new practice of producing news content arose, if there is any relationship with traditional journalism, how it works, try to understand the dynamics used by citizen journalists, pointing out the importance and its role social, if this phenomenon has emerged to add value or not to journalism and society. For a more comprehensive knowledge of a bibliographic study that helped to understand the issues relevant research was conducted.
Keywords: Collaboration. Internet. Citizen journalism. Participation.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9 1 BREVE HISTÓRIA DO SURGIMENTO DA INTERNET ........................................ 11 1.1 A chegada da Internet ao Brasil ....................................................................... 13
2 INTERNET COMO NOVA MÍDIA ........................................................................... 15 2.1 Internet e jornalismo ......................................................................................... 16 2.1.1 Definindo mídia digital ................................................................................... 17 2.1.1.1 Multimídia, hipermídia e unimídia .............................................................. 17
2.1.2 Definindo jornalismo digital .......................................................................... 18 2.1.2.1 Primeiros passos do jornalismo digital no brasil ..................................... 19
3 WEBJORNALISMO ............................................................................................... 23 3.1 A trajetória de produção do produto jornalístico para web ........................... 25 3.2 WEB 2.0 e jornalismo ........................................................................................ 27
3.2.1 Entendendo o fenômeno da web 2.0 ............................................................ 27 3.2.2 Plataforma WEB 2.0: ferramenta para democracia...................................... 28
4 REDES SOCIAIS, MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO ......................................... 31 4.1 Entendendo o que são as redes sociais ......................................................... 31
4.2 Entendendo o que são as mídias sociais ........................................................ 33 5 O SUJEITO COLETIVO ......................................................................................... 35
5.1 O fenômeno do jornalismo participativo ......................................................... 36
5.2 Você como produtor ......................................................................................... 39 5.3 O processo de colaboração nas mídias digitais conectadas ........................ 41 5.4 Jornalismo participativo: modelos independentes (aberto e auto-
regulado) ............................................................................................................ 44
5.5 As transformações no “fazer jornalismo”: possíveis adaptações e alguns aspectos que desfavorecem o jornalismo participativo ................... 45
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 51 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 53
9
INTRODUÇÃO
A Internet tornou-se um novo e revolucionário meio de comunicação e é hoje
uma ferramenta imprescindível para execução de diversas atividades humanas,
devido ao grande poder de disseminar informações e conhecimento. A facilidade de
acesso a informação de forma mais rápida fez da rede uma aliada para o
desenvolvimento dos trabalhos jornalísticos que também beneficiaram a sociedade.
O avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) possibilitou
a utilização de novas ferramentas digitais para produção de conteúdos jornalísticos.
O que muitas empresas e os próprios jornalistas não contavam era que as
inovações tecnológicas pudessem modificar o processo de produção noticiosa em
virtude do desenvolvimento da Internet e da criação de novas plataformas
comunicativas. As transformações acabaram atingindo o comportamento das
estruturas sociais e isto causou um certo desconforto para os meios tradicionais de
comunicação. As atenções acabaram ficando voltadas para essa mudança da
sociedade que foi originada a partir da introdução da plataforma Web 2.0 anunciada
por Tim O‟ Reilly, que permite a participação de usuários da rede como
colaboradores da informação, foi uma das primeiras experiências que se aproveitava
segundo Ercilia e Graeff (2008, p. 43) do “efeito de redes” (conceito popularizado por
Robert Metcalfe) e do que foi denominado de inteligência coletiva.
Os efeitos deste processo participativo foram observados em blogs; nas redes
sociais Facebook, Orkut, Myspace e outros; nas iniciativas de criação de conteúdo
da Wikipédia; e em sites de compartilhamento de imagens como YouTube e Flickr. A
Web 2.0, não passou despercebida pelas empresas que procuraram entender como
funcionava a plataforma e passaram a utilizar os wikis e os blogs para melhorar suas
organizações aproveitando a ideia de inteligência coletiva dos funcionários e dos
usuários colaboradores. O intuito das empresas era estabelecer uma comunicação
mais aberta. Só o que não se esperava é que esse processo pudesse ser motivo de
preocupação mais tarde para as mídias tradicionais.
A web oferece um espaço praticamente ilimitado como suporte para se
discutir, compartilhar informações e contribuir com as inciativas de protesto e
mobilização da sociedade, tornando-se um meio democrático como confirma
Morillon e Julliard (2010) “[...] a Internet é o caldeirão em que as organizações da
10
sociedade civil que sofrem repressão podem ganhar um novo ânimo e desenvolver
suas atividades.”
Nesse desenvolver das atividades surgiu a colaboração informativa que
ganhou espaço nas mídias digitais e é vista hoje como uma nova modalidade de
produção de conteúdos textuais, sonoros e visuais. O cidadão virou um produtor de
conteúdo noticioso e ficou conhecido como Jornalista cidadão. As redes virtuais
estão cada vez mais abrindo espaço para que o leitor não seja apenas um simples
receptor da mensagem, mas também um fornecedor de informações. O Jornalismo
Cidadão ou Jornalismo participativo acontece quando o cidadão comum tem
participação ativa na elaboração de trabalhos jornalísticos.
Para Castilho e Fialho (2009, p.120) “a web começou como uma plataforma
de publicação, depois passou a ser um ambiente para interatividade social, e agora
entra na fase de produção de conhecimentos [...]”, isso acontece devido a essa
oportunidade que foi dada aos usuários de diversas áreas da atividade humana
(economia, direito, educação e artes) poderem publicar conteúdo de cunho
jornalístico na web.
Porém, esse Jornalismo Cidadão é considerado uma agressão aos padrões
impostos por manuais de redação do Jornalismo tradicional, pois não são aplicadas
as normas neste novo jornalismo.
Os jornalistas profissionais obedecem as regras éticas impostas pelos
Códigos Deontológicos da profissão jornalística, ao contrário do Jornalista Cidadão
que faz suas publicações sem a necessidade de seguir os mesmos padrões
estabelecidos pelas redações dos veículos de comunicação.
O estudo foi elaborado com o intuito de esclarecer qual a importância do
Jornalismo praticado por um cidadão comum, conhecer como funciona esse novo
modelo de jornalismo participativo, averiguar quais as suas vantagens e
desvantagens, através da sua trajetória e identificar quais as mudanças que
ocorreram com o seu surgimento nas redações e na própria sociedade, e fazer uma
análise sobre a função social desse novo modelo de Jornalismo, verificando se
existem propostas adaptativas entre o Jornalismo tradicional e o Jornalismo cidadão,
visto que ainda não é muito bem aceito por alguns jornalistas como algo consistente.
Espera-se que essa pesquisa possa ser fonte de contribuição para estudos
posteriores.
11
1 BREVE HISTÓRIA DO SURGIMENTO DA INTERNET
Segundo Ferrari (2010, p.14) para que haja uma melhor compreensão do
jornalismo na internet e suas particularidades, necessita-se uma retrospectiva da
história da internet e a criação do World Wide Web, por ser um dos fatores
propulsores do seu desenvolvimento.
A era tecnológica e os conceitos fundamentais utilizados nas redes foram
iniciados nos anos 60. Em 1962, J. C. R Licklider, do Massachussets Institute of
Tecnology (MIT), tratava através de memorandos sobre a possível criação de uma
“rede galáctica”, que tinha por finalidade o compartilhamento da rede de
computadores e isto aconteceu devido a ideia de interação que existia na época.
(RODRIGUES, 2005).
Os anos foram passando e a ideia de Licklider acabou sendo colocada em
prática, comenta Kleina (2011):
Temendo um combate em seu território que acabasse com a comunicação e com todo o trabalho desenvolvido até então, cientistas norte-americanos colocam o plano de Licklider em prática com a ARPANET, uma rede de armazenamento de dados que inicialmente conectou algumas universidades e centros de pesquisa: as sedes da Universidade da Califórnia em Los Angeles e Santa Bárbara; o Instituto de Pesquisa de Stanford e a Universidade de Utah.
Então em 1969 quando uma organização do Departamento de Defesa norte –
americano que tinha como foco pesquisar informações destinadas ao serviço militar,
a Advanced Research Projects Agency (Arpa - Agência de Pesquisa e Projetos
Avançados), criou a ARPANET, a primeira rede de compartilhamento de dados, de
acordo com Rodrigues (2005) esse sistema estava interligado com computadores de
quatro universidades americanas através de uma rede de troca de dados. Havia
restrição aos acessos, somente acadêmicos poderiam utilizar, instituições de
pesquisas que tinham relação com o governo e ao setor militar. O intuito da criação
desta era garantir a comunicação emergencial caso acontecesse ataques nucleares
por outro país ao Estados Unidos em especial a antiga União Soviética (atualmente
Rússia e países do Leste Europeu), seu principal inimigo. Já em 1975 a Agência de
Comunicação e Defesa passou a assumir o controle da ARPANET a partir de então
foram surgindo mudanças e a rede foi se expandindo.
12
O aumento da circulação dos dados entre novos usuários deu início a criação
de novas redes, dando acesso a outras universidades e organizações de pesquisa,
como por exemplo, a Bitnet (Because It‟s Time Network) e a CSNET (Computer
Science Network- Rede de Ciência da Computação). Em 1986 expandiu-se para
pesquisadores de outros países pela National Science Foundatin (NSF- Fundação
Nacional de Ciência), esta rede era chamada NSFNET. (FERRARI, 2010).
Findando os anos 80 já haviam diversos computadores conectados à rede
mundial, estavam instalados em laboratórios e centro de pesquisa acadêmica. A
interface da rede já não era mais a mesma, havia sido melhorada, explica Ferrari
(2010, p.16), “[...] a internet não tinha a cara amigável que todos conhecem hoje. Era
uma interface simples e muito parecida com os menus dos BBS [...].”
No início dos anos 90 mais precisamente em 1991 foi lançado um sistema
baseado em recursos para internet e hipertextos o chamado World Wide Web
(www). O pesquisador britânico Tim Berners-Lee, cientista do Conseil Européen pour
La Recherche Nucléaire (Conselho Europeu de Pesquisas Nucleares), foi o inventor
da “WWW”, trabalhou durante anos para criar uma versão de um protocolo para web
com uma linguagem mais clara que permitisse o compartilhamento de documentos
entre os computadores do Laboratório Europeu de Estudo de Partículas Físicas a
outras instituições de pesquisas.
De acordo Barwinski (2009) o objetivo da “WWW” era interligar as
universidades, afirma ainda que esse sistema “[...] nasceu para que os trabalhos e
pesquisas acadêmicos fossem utilizados mutuamente em um ambiente de
contribuição dos lados envolvidos [...].”
Berners-Lee inventou também vários códigos e protocolos como o código
HTML - HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)
ferramenta utilizada para produzir páginas para web através de marcação, ou seja,
são textos criados e editados em qualquer editor de textos e depois “jogados na
rede”, e o protocolo HTTP- Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência
de Hipertexto), é a base que estabelece comunicação entre os dados que são
distribuídos pela WWW, estes dois são ferramentas muito importantes para internet,
que foram sendo modificadas e aperfeiçoadas com o tempo, a utilização destes
acabou tornando-se indispensável.
A versão original da WWW sofreu importantes modificações na sua estrutura
para tornar-se o que é hoje, devido a um projeto de design criado em 1992 por um
13
pesquisador da InfoDesign, Jean François Groff que chamou Berners-Lee para ser
seu primeiro aluno, em parceria transformaram e deram um novo visual para
internet. (FERRARI, 2010).
1.1 A chegada da internet ao Brasil
Anos antes de Tim Berners-Lee criar a World Wide Web, em 1988 a internet
brasileira já dava os primeiros passos em seu desenvolvimento, pois algumas
universidades e centros de pesquisas como o Laboratório de Computação Científica
(LNCC) localizada do Rio de Janeiro e na Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp) faziam parte da rede mundial de computadores das
instituições ligadas a ARPANET dos Estados Unidos.
No ano de 1989 foi concebido o primeiro serviço de envio de e-mails e grupos
de discussões conectados à internet fora do ambiente acadêmico, fundado pelo
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), Rio de Janeiro, uma
ONG instituída pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, teve a
iniciativa de levar ao ar o BBS ALTERNEX.
A ALTERNEX foi o primeiro protótipo de internet que surgiu no Brasil no início
dos anos 90, era uma rede apenas para pesquisadores e universitários. Segundo
Ercilia e Graeff (2008, p. 47) a data de nascimento da web brasileira é dia 18 de
junho de 1989, entretanto considera-se que a primeira conexão foi estabelecida em
1991 pela Fapesp, principal administradora do domínio “br”.
No ano de 1992 após o surgimento do “WWW” a internet passou a fazer
parte da vida do público, que pode conhecer a rede mundial de computadores. O
seu uso para divulgação de notícias e informação aconteceu neste ano, quando o
IBASE conquistou o apoio da ONU, da APC (Association for Progressive
Communications), da RPN (Rede Nacional de Pesquisa) e da Rede Rio para
elaborar um sistema de informação eletrônica que serviria para acompanhar as
negociações da ECO-92.
Foi uma experiência mundialmente pioneira de uso da Internet para divulgação de notícias e informações. O IBASE é um dos fundadores da [...] APC (Association for Progressive Communications), organização internacional que continua a ligar ONGs e entidades da sociedade civil no mundo inteiro, através de iniciativas semelhantes. (ERCILIA; GRAEFF, 2008, p. 47).
14
Fora do âmbito acadêmico e órgãos de pesquisa, a ALTERNEX era a única
opção que disponibilizava o acesso à Internet no Brasil. Apenas em 1994 outros
servidores passaram a entrar em funcionamento.
Contudo, havia ainda uma briga entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o
Ministério das Comunicações para assumir o controle da Internet comercial. Porem a
Embratel tinha a pretensão de adquirir o seu monopólio, mas em 1995 uma
declaração pública do Ministério das Comunicações descartou essa possibilidade.
Para encerrar o surgimento da internet no Brasil, no final do ano de 1995 de
acordo com Ercilia e Graeff (2008, p. 48) o número de provedores de acesso
comercial eram mais de 20 que surgiram, e havia pela estimativa 120 mil usuários
conectados à rede, mas apenas no ano consecutivo que estrearam os grandes
provedores de internet.
15
2 INTERNET COMO NOVA MÍDIA
A chegada da internet deu origem a uma nova maneira de se comunicar e de
propagação de conhecimento em diversos campos, revolucionando os meios de
comunicação já existentes como a televisão, o rádio, o jornal impresso e outros, pois
é o único veículo que dá a possibilidade de troca e difusão de informação de forma
instantânea, por oferecer notícias, entretenimento, serviços e negócios, tornando-se
um “verdadeiro rival” dos meios tradicionais pela sua multiplicidade, por ser um meio
diga-se que infinito.
Pinho (2003, p. 49) faz uma ressalva sobre o surgimento deste veículo e o
seu poder de desenvolvimento, “a velocidade de disseminação da internet em todo o
mundo deve transformá-la efetivamente na decantada superestrada da informação.
[...].”
Este meio de comunicação se tornou um novo desafio para os profissionais
da área de jornalismo. Em 1994 nasce o fenômeno do jornalismo on-line,
webjornalismo, ou ciberjornalismo, diferentes nomes, cada qual com um conceito,
mas com o mesmo objetivo, fazer jornalismo para internet.
Contudo mudam-se os conceitos, a estrutura, a estética, a narrativa do
jornalismo, uma revolução do âmbito comunicacional, principalmente com a rapidez
com que as informações são repassadas, como vão surgindo e sendo divulgadas,
todo este processo de transformação acaba provocando mudanças não só no
cenário jornalístico, mas também na vida do público receptor.
Rodrigues (2005, p. 255) argumenta sobre a internet e a mudança que
causou no jornalismo:
A internet certamente mexe com um dos critérios mais badalados do jornalismo atual: a brevidade. A notícia imediata, tem sido dado um valor imenso porque, cada vez mais, as pessoas precisam de maior quantidade de informação num menor espaço de tempo.
Na verdade tem-se muita informação, mas questiona-se, será que há
qualidade no que é noticiado? Há a preocupação com a divulgação das notícias com
tanta rapidez? É um fator favorável para os usuários da internet ou é apenas um
fetiche a ideia de que se tem de oferecer para o público a “noticia em tempo real”?
16
Em Pernisa Júnior e Alves (2010, p. 47) há uma certa contestação em relação
ao que se pensa sobre essa rapidez e faz um esclarecimento a respeito:
A utilização cada vez maior de espaço somente para as notícias em tempo real começa a mascarar o jornalismo feito por esse tipo de veículo. Muitas vezes, no intuito de dar a notícia mais rapidamente, a própria ideia de jornalismo é colocada de lado em favor de uma rapidez que não parece condizer com aqueles que acreditam numa imprensa séria e sensata. Faz-se de tudo para colocar no ar, em segundos, qualquer coisa que se pareça com uma notícia. [...]
A existência de aspectos negativos a respeito do que é publicado na internet
ainda causa muitas indagações e Rodrigues (2005, p. 255) considera um fato
importante dessa tendência jornalística dizendo que, “[...] muitas vezes, as notícias
não são checadas e as políticas de publicação on-line correm por normas frouxas,
fazendo com que a possibilidade de erro seja maior. [...]”, ou seja, a rapidez com que
se divulga uma notícia na internet ainda é um problema, pois é necessário que haja
certos cuidados, e isso nem sempre acontece, e acabam ocorrendo dúvidas quanto
ao papel desse veículo como um meio de disseminação de informação por não
existir exatamente normas e critérios para sua execução.
2.1 Internet e Jornalismo
Voltando um pouco no tempo para falar do jornalismo e a internet antes do
surgimento da web, havia outro tipo de departamento para realização de
experiências com relação a confecção e distribuição de notícias denominado de
Comunicação Mediada por computador (Computer Mediated Communication), eram
projetos de videotexto, teletexto ou BBS (Bulletin Board Systems), mas com o
passar do tempo por conta das vantagens que a web disponibilizava estes sistemas
foram abandonados.
Alves (2006, p. 94) faz um relato de como era o ambiente gráfico da internet:
O modelo dos jornais diários foi naturalmente adotado como metáfora para a organização e apresentação dos conteúdos naquele novo ambiente gráfico da Internet, um meio ainda precário e com predominância de texto. A página inicial (home page) assemelhava-se à tradicional primeira página dos jornais, e as camadas interiores de conteúdo reproduziam as mesmas seções da edição em papel. Até mesmo as emissoras de televisão e as revistas seguiram mais ou menos esse modelo, quando criaram seus sítios na web.
17
Os avanços tecnológicos na área da comunicação são resultados de grandes
transformações no cenário jornalístico e na sociedade tornando-se responsável
também até pela mudança de certos hábitos e de comportamentos. A chegada da
internet ofereceu amplos recursos técnicos e suporte para diversas atividades
existentes nesse meio eletrônico, com um maior espaço para circulação de
informação por meio da rede de computadores, um campo novo e promissor para
quem procura adquirir uma grande e variada gama de conhecimento, está tudo
disponível na rede mundial de computadores, é muito grande a quantidade de
informações disponíveis, todos os tipos, bastante diversificado o conteúdo.
2.1.1 Definindo Mídia digital
O termo mídia vem sendo utilizado no plural- mídias. Mídia é um conjunto de
meios, e é originário do latim media e médium. Em Pernisa Júnior e Alves (2010, p.
25) o sentindo de mídia indica uma pluralidade interna e uma multiplicidade e
esclarece os motivos dessa ideologia e porque mídia digital.
[...] A mídia digital é algo já intrinsecamente plural. Mídia digital poderia comportar, a princípio, todo e qualquer meio que utilize da informática, transformando informações para a linguagem binária de zeros e uns, princípio da digitalização. Como o termo mídia refere-se, na maioria das vezes, ao universo da comunicação, a mídia digital seria o espaço que comporta os meios de comunicação que se utilizam da linguagem binária da informática. [...]
A inclusão das redes, como a internet; os meios ópticos, conhecidos como
CD, DVD e Blu-Ray; os meios analógicos, digitais, como o rádio, cinema, fotografia e
televisão, são um conjunto de meios digitais que usufruem da pluralidade como
suporte, pois estão relacionados com o som, a imagem e o texto, chamados de
multimídia, unimídia e hipermídia. Contudo mídia digital é um termo considerado
mais próximo da nossa realidade, desse universo digitalizado que vivemos no
momento.
2.1.1.1 Multimídia, hipermídia e unimídia
Quando se pensa em mídia digital é possível também conciliar aos termos
multimídia, hipermídia e unimídia, embora pareçam sinônimos, mas, não são, cada
18
palavra possui um significado, entretanto, todos possuem a finalidade de ser um
espaço utilizado para a reunião dos meios visuais, sonoros e textuais. Já é sabido
que mídia digital é a busca da pluralidade, tem a ideia de múltiplo, esta concepção
faz parte do universo da mídia, onde texto imagem e som podem ser trabalhadas em
conjunto.
Para exemplificar melhor o sentido dessas palavras Pernisa Júnior e Alves
(2010, p. 26) usa dessa pluralidade, dizendo que:
Mídia digital parece atender melhor a tudo isso [...], deixando espaço para multimídia quando do uso de meios diferentes em espaços também diversos. Isso, contudo, não impede que termos unimídia e hipermídia sejam usados nas suas mais variadas formas. Aqui, apenas, acredita-se que mídia digital seja um termo mais razoável para atender o que está sendo pensado no momento – e mesmo o uso do termo mídia, em casos específicos, não será descartado.
Contudo, mídia digital é o sentido que melhor define essa multiplicidade
existente neste meio, essa habilidade de utilização de imagem, som e texto em um
único ambiente.
2.1.2 Definindo Jornalismo digital
O que seria jornalismo digital? Ainda não existe uma definição específica para
o termo. Pode-se considerar como sendo um meio de comunicação que dá a
possibilidade de disponibilização de informações através de conteúdo jornalístico em
um ambiente virtual, chamado de ciberespaço, é estruturado em formato
hipertextual, com um grande potencial multimidiático e tem também a capacidade de
estabelecer a interação entre o público receptor e o próprio jornalista. Em Pena
(2005) é mencionado a teoria dos gêneros para classificar esse jornalismo digital e
considera como um fenômeno revolucionário.
A teoria dos gêneros no jornalismo ainda encontra dificuldades para definir jornalismo digital. A confusão conceitual envolve os termos webjornalismo, jornalismo on-line e ciberjornalismo, entre outros. Entretanto, sem entrar no mérito deste problema, um aspecto parece obter a unanimidade dos teóricos: foi o advento da internet que possibilitou o novo gênero, e ele veio para revolucionar as relações profissionais e as próprias rotinas produtivas. (PENA, 2005).
19
Este tipo de jornalismo é abrangente em qualquer suporte ou em rede, não é
determinado nem um limite, a não ser, pelo o que o ambiente comunicacional impõe
como concepção do que seria o jornalismo. Possui relação com o digital devido a
sua ligação com a informática e a computação, e neste sentido acaba diferenciando
em alguns aspectos do jornalismo on-line, webjornalismo e ciberjornalismo.
Pernisa Júnior e Alves (2010, p. 41) faz uma diferenciação entre os nomes
dados ao jornalismo digital:
Jornalismo on-line pressupõe a existência de uma rede e que esta possa trabalhar com dados em tempo real. No jornalismo on-line, a ideia principal é a da conexão sempre presente e que se atualiza. O webjornalismo acontece somente na internet, na sua parte denominada World Wide Web, ou WWW. Não há, pois, como ter webjornalismo fora do que seja a própria web. De certa forma, não difere do jornalismo on-line, pois este, preferencialmente, ocorre na própria web. Ciberjornalismo seria o jornalismo em rede, independente da internet, da web ou do tempo real, o seu limite é o ciberespaço, que engloba a web – esta, contida na internet – e as outras redes de computadores existentes.
Apesar de jornalismo digital englobar todas estas especificações e
diferenciações em relação ao seu significado, esta distinção é importante devido ao
fato de se tratar de jornalismo em rede.
2.1.2.1 Primeiros passos do Jornalismo digital no Brasil
Quando se falava em jornalismo digital em um primeiro momento fazia-se
uma ligação ao CD – ROM, pois as revistas lançadas no Brasil eram publicadas
neste formato, continham sons, imagens e textos. A revista Neo Interativa, foi uma
tentativa pioneira a ser publicada em CD – ROM, mas não durou por muito tempo,
lançada no ano de 1994 até 1998. Este formato não teve uma longa duração logo
perdeu espaço para internet dando início ao jornalismo feito para web em 1995, com
o Jornal do Brasil, em seguida outros órgãos de imprensa começaram a criar os
próprios endereços eletrônicos na rede mundial de computadores, logo, jornais
locais e regionais já disponibilizavam a sua versão digital.
Neste início, não havia praticamente noção alguma do que seria uma boa edição de jornal pra web. A maioria dos veículos impressos na rede não estava preocupada em criar uma publicação especifica para a internet, fazendo basicamente uma versão muito semelhante à da edição em papel. Os grandes jornais do país, no entanto, logo começaram a perceber que
20
não havia motivo para estar na grande rede se não fosse para ter algo diferente do que já era feito na edição em papel. A presença somente na internet já não parecia ser a única justificativa para existência dessas publicações. (PERNISA JÚNIOR; ALVES, 2010, p. 42).
Como não havia algo que pudesse ser considerado novo, diferenciado do
jornalismo feito para internet e o escrito em papel, o impresso, muitos jornais digitais
buscaram fazer modificações em seu conteúdo que pudessem trazer resultados
significativos, mas como a conexão com a rede na época não era tão rápida, foram
criados recursos sonoros e imagens animadas adaptadas ao que estava disponível,
as fotografias também obtiveram uma produção especial através da possibilidade de
oferecer a ampliação da imagem. Os jornais digitais criaram cadernos especiais com
matérias diferentes das versões impressas, eram feitas exclusivamente para web,
como o Jornal do Brasil, O Globo e O Estado de São Paulo.
Embora o Brasil tivesse grandes avanços em relação à internet, os jornais
ainda estavam despreparados para ir em frente com seus projetos para o jornalismo
digital, haviam apenas algumas empresas com grande estrutura que chegaram a
montar um setor específico para publicação on-line, como O Globo e o Jornal do
Brasil, este se mantinha com uma pequena equipe trabalhando para continuar
publicando seus conteúdos na web.
Pernisa Júnior e Alves (2010, p. 44) confirmam este fato dizendo que:
[...] O que parecia ser uma tendência que se consolidava, aos poucos foi sendo colocada em xeque. O Brasil tinha grandes avanços na internet – como hoje também tem –, mas os jornais se mostraram despreparados para deslancharem na grande rede. [...]
O material produzido pelos jornalistas para rede era o mesmo das outras
emissoras de notícias, não havia nada de diferente, o que acontecia é que estavam
sendo feitas apenas uma reprodução dos conteúdos para ser publicado na internet.
A internet estava entrando numa fase em que a figura do jornalista e mesmo a do especialista em computação perdiam espaço para o que já vinha pronto de outro lugar. Esse tipo de material permitia movimentação da publicação na rede praticamente minuto a minuto e não trazia grandes custos, pois a agência existia antes mesmo da publicação digital, e um jornalista poderia dar conta da produção de um grande número de pequenas notas durante um bom período de tempo. Essa estratégia funcionou tão bem que as seções especiais dos jornais na rede foram diminuindo ou mesmo se extinguindo. [...] (PERNISA JÚNIOR; ALVES, 2010, p. 44 e 45).
21
Com o tempo, o maior interesse das empresas jornalísticas estava baseado
na velocidade, focado no que já não era nenhuma novidade para o jornalismo digital,
a notícia em “tempo real”, esse fetiche tem como intuito dar aos usuários a
possibilidade de receber em “primeira mão”, as informações sobre os mais variados
acontecimentos o mais rápido possível.
As seções especiais da maioria dos jornais que disponibilizavam conteúdos
para a web aos poucos foram acabando, os que se mantinham faziam apenas
cópias dos textos produzidos para o impresso como destaca Pernisa Júnior e Alves
(2010, p. 45) isso acontecia “[...] numa espécie de “volta às origens” da web”.
Para João Canavilhas (2001) o que sucedia era que:
Marshall McLuhan afirmava que o conteúdo de qualquer médium é sempre o antigo médium que foi substituído. A internet não foi exceção. Devido a questões técnicas, (baixa velocidade na rede e interfaces textuais), a internet começou por distribuir os conteúdos do meio substituído - o jornal. Só mais tarde a rádio e a televisão aderiram ao novo meio, mas também nestes casos se limitaram a transpor para a internet os conteúdos já disponibilizados no seu suporte natural. [...]
A queda na reprodução de notícias feitas com o conteúdo original para
internet deu origem as seções de noticiários feitos em “tempo real”, fator esse que
fez crescer a ideia do texto curto e com frases diretas, o chamado hipertexto, onde
links de uma matéria levava a outra. Transformou-se também depois de um certo
tempo em uma hipermídia, onde o texto se unia a som e imagem. Sendo que essas
duas ideias (hipertexto e hipermídia) surgiram separadamente, mesmo possuindo
ligação, quando se fala em jornalismo digital, prevalece apenas a estrutura
hipertextual.
Findando o ano de 1999 é criada a revista Noticia e Opinião (NO), criada por
um grupo de renomados profissionais jornalistas, do Rio de Janeiro, “[...] quando foi
ao ar, em abril de 2000, a revista provocou inúmeras reações no mercado
jornalístico. [...]” afirma Rodrigues (2009).
Enquanto a NO estava no mercado, um dos acontecimentos que mais causou
surpresa, foi o fato de acadêmicos do curso de Comunicação Social se interessarem
pelo projeto, buscavam repostas para as mais diversas questões, e o diretor de
redação da revista Marcos Sá Corrêa era chamado a dar palestras para falar sobre a
prática do jornalismo on-line comenta Carla Rodrigues (2009) que:
22
[...] Durante os dois curtos anos de existência, o diretor de redação, Marcos Sá Corrêa, foi insistentemente convidado para falar em universidades, sempre sobre o mesmo tema: o que caracterizava a prática do jornalismo on-line? Aos estudantes, Corrêa costumava responder: “Eu acreditava e ainda acredito que o principal instrumento da comunicação para um repórter brasileiro é a língua portuguesa, escrita ou falada. E isso a internet não mudou.” (RODRIGUES, 2009 p. 13 e 14).
A prática do jornalismo na web não muda o cenário jornalístico de modo geral,
pois se mantem a utilização da língua portuguesa escrita ou falada para construção
de uma notícia como comenta Sá Corrêa (no texto acima), mas para Rodrigues
(2009, p. 15) o que mudou com a internet foi “[...] o domínio da técnica, as
peculiaridades do conteúdo, a complexidade no campo das fontes de notícia e as
exigências na formação profissional.”
23
3 WEBJORNALISMO
Mielniczuk (2003) faz referência ao webjornalismo como sendo “[...] uma parte
específica da Internet, que disponibiliza interface gráfica de uma forma bastante
amigável.” Somente para fazer uma introdução esse é um dos conceitos dados para
o jornalismo feito na web, pois existem outras denominações já citadas.
As implementações feitas no webjornalismo ocorreram a partir da segunda
metade dos anos 90, mas apenas no final desta década começou a atuar de forma
abrangente com a contratação de profissionais para aumentar a equipe e um alto
salário, o cenário foi sendo modificado. Prado (2011, p. 31) faz uma ressalva sobre o
que marcou esse período:
[...] Marca a bolha ocorrida na virada e 1999 para 2000, quando a web foi, de forma precipitada, superestimada economicamente. Era chamada de Nova Economia, ou seja, economia gerada pela internet. O webjornalismo e seus portais eram considerados um novo negócio.
Logo no começo muitos jornalistas e consumidores estranharam esse novo
negócio (o webjornalismo) e as empresas foram aos poucos se adaptando a web
como afirma Prado (2011, p. 31) “[...] era preciso experimentar, testar o retorno, e
ver se realmente o sistema digital funcionava.”
Para Barbosa (2005) essa “[...] forma de jornalismo mais recente, o
webjornalismo é a modalidade na qual as novas tecnologias já não são
consideradas apenas como ferramentas, mas, sim, como constitutivas dessa prática
jornalística.”
Canavilhas (2001) ressalta que com a introdução de um novo modelo, para
um jornalista o processo de produção de notícia muda, já para o público receptor
modica-se a maneira de ler. Com essas transformações o autor aponta um grande
desafio para esta nova plataforma jornalística, que é “[...] a procura de uma
"linguagem amiga" que imponha a webnotícia, uma notícia mais adaptada às
exigências de um público que exige maior rigor e objetividade.” O jornalista precisa
achar uma maneira diferente de informar, quebrando as regras existentes em outros
meios de comunicação, impostas anteriormente.
24
Na história do desenvolvimento do webjornalismo, o mesmo passou por três
fases na concepção de Mielniczuk (2003), na primeira, logo no início da web está
caracterizada apenas pela adaptação do conteúdo produzido para outros meios. Na
segunda etapa, há a exploração de alguns recursos da web pelos veículos de
comunicação. Na terceira, iniciada no ano de 2000, tem como característica a
produção de produtos jornalísticos mais específicos na veiculação de notícias na
web, explorando o que o webjornalismo disponibilizava como propriedades.
Para que haja um melhor entendimento das transformações que ocorrem
constantemente no webjornalismo Zago (2008) declara:
[...] Também é preciso levar em conta as especificidades do ambiente da web para a prática jornalística. [...] O hipertexto, e a possibilidade de se conectar blocos de informações passadas e futuras, dados textuais e audiovisuais, textos de uma e outra fonte; e a interatividade, ou a possibilidade de que as pessoas possam interagir no mesmo suporte, trocando ideias e informações. [...]
Para Mielniczuk (2003) “[...] algumas dessas especificidades decorrem das
características existentes no webjornalismo”, como as citadas por Zago (2008) no
texto acima. Cada fase do webjornalismo possui uma característica, na busca de
facilitar o seu entendimento, para melhor compreender esse processo que vem se
desenvolvendo. Para isso foram adotadas as divisões de experiências em três
categorias diferentes.
[...] Não se trata de uma divisão estanque no tempo e tais categorias também não são excludentes entre si, ou seja, em um mesmo período de tempo, podemos encontrar publicações jornalísticas para web que se enquadram em diferentes gerações e, em uma mesma publicação podemos encontrar aspectos que remetem a gerações distintas. (MIELNICZUK,2003).
John Pavlik (2001 apud MIELNICZUK, 2003) fez uma sistematização das
etapas ocorridas no webjornalismo tendo como foco principal a produção de
conteúdos e a identificação de três fases, são elas:
Na primeira, dominam os sites que publicam material editorial produzido, em primeira mão, para edições em outros meios, às quais o autor (Pavlik) denomina de “modelo-mãe”. Em uma segunda fase, os jornais criam conteúdos originais para rede [...]. A terceira fase, [...] caracteriza-se pela produção de conteúdos noticiosos originais desenvolvidos especificamente para a web, bem como o reconhecimento desta como um novo meio de comunicação. (MIELNICZUK, 2003).
25
A partir da terceira fase a web passou a ser visada como uma maneira de
distribuição de informações de cunho jornalístico, surgi então novas formas de
experimentações do webjornalismo. Porém não muito diferente da visão de Pavlik, o
autor Silva Júnior (2002 apud MIELNICZUK, 2003) raciocina sobre a relação das
interfaces que promovem a mediação de conteúdos jornalísticos nas redes e
estabelece três estágios de desenvolvimento:
- O transpositivo, como modelo eminentemente presente nos primeiros jornais online onde a formatação e organização seguia diretamente o modelo do impresso. Trata-se de um uso mais hermético e fiel da ideia da metáfora, seguindo muito de perto o referente pré-existente como forma de manancial simbólico disponível. - O perceptivo. Num segundo nível de desenvolvimento, há uma maior agregação de recursos possibilitados pelas tecnologias da rede em relação ao jornalismo online. Nesse estágio, permanece o caráter transpositivo, posto que, por rotinas de automação da produção interna do conteúdo do jornal, há uma potencialização em relação aos textos produzidos para o impresso. Gerando o reaproveitamento para a versão online. No entanto há a percepção por parte desses veículos, de elementos pertinentes à uma organização da notícia na rede. - O hipermidiático. Mais recentemente, podemos constatar que há demonstrações de uso hipermidiático por alguns veículos online, ou seja: o uso de recursos mais intensificado hipertextuais, a convergência entre suportes diferentes (multimodalidade) e a disseminação de um mesmo produto em várias plataformas e/ou serviços informativos. (SILVA JR., 2002 apud MIELNICZUK, 2003).
A diferença de pensamento entre os autores Pavlik e Silva Jr. está, o primeiro
preocupa-se com a produção de conteúdos noticiosos e o segundo pensa de forma
mais abrangente, preocupado com a categorização que surge com a disseminação
de informações do jornalismo disponível na web.
3.1 A trajetória de produção do produto jornalístico para web
É importante salientar aqui, também sobre os três momentos da trajetória dos
produtos jornalísticos desenvolvidos para web, ao qual estão divididos em:
a. Webjornalismo de primeira geração ou fase de transposição - onde os
produtos eram cópias dos jornais impressos para internet. É interessante
fazer uma observação em relação as experiências deste primeiro
momento do jornalismo.
O que era chamado então de jornal online na web não passava da transposição de uma ou duas das principais matérias de alguns editorias.
26
Este parco material era atualizado a cada 24 horas, de acordo com o fechamento das edições do impresso. Em alguns casos, como o do O Estado de S. Paulo, conforme pode ser observado em material de arquivo, referente ao primeiro ano de existência do jornal, eram disponibilizados também o conteúdo de alguns cadernos semanas. (MIELNICZUK, 2003).
Nesta fase o dia-a-dia de produção de conteúdo jornalístico está muito ligado
ao modelo do jornalismo feito em papel, no caso o impresso, e não havia uma
preocupação em inovar ao que já era feito, apresentando uma narrativa diferenciada
para web, ficando restrita a ocupar um espaço sem que houvesse a exploração das
muitas possibilidades oferecidas neste meio que dispõem características exclusivas
que nenhum outro meio de comunicação disponibiliza.
b. Webjornalismo de segunda geração ou fase da metáfora - nesta,
procurou-se o aperfeiçoamento das ferramentas estruturais e técnicas da
internet, fase em que se desenvolve o jornalismo online utilizando as
características específicas disponíveis na rede, apesar de ainda haver
uma relação com o jornal impresso, aqui neste segundo momento
começam a acontecer as tentativas de experimentar o que a web oferece,
o jornalismo impresso passa a ser usado como metáfora na criação das
interfaces do que é produzido como notícia.
Ao mesmo tempo em que se ancora no modelo do jornal impresso, as publicações para web começam a explorar as potencialidades do novo ambiente, tais como links com chamadas para notícias de fatos que acontecem no período entre as edições; e-mail passa a ser utilizado como possibilidade de comunicação entre jornalistas e leitor ou entre os leitores, através de fóruns de debates; a elaboração das notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto; surge as seções „ultimas noticias‟. [...] (MIELNICZUK, 2003).
Esta tendência mantinha relação ao modelo de jornal impresso como um
produto de veiculação de notícias, porém ao mesmo tempo, havia também as
empresas jornalísticas que mantinham esse vínculo, pois a sua credibilidade e
rentabilidade dependia desse jornalismo, o impresso.
c. Webjornalismo de terceira geração ou fase da exploração das
características do suporte web - a partir desse momento é dado início
ao novo quadro, aqui começam a acontecer as mudanças tanto
empresarial, quanto na editorial específica para internet. Nesta fase
surgiram as ideias de criar uma versão, já existente, de jornal impresso
27
para web, isso se deu através da junção das empresas de informática e
jornalística de televisão, quando resolveram juntar a Microsoft e a NBC,
estas foram as primeiras empresas a fazerem a fusão no ano de 1996
segundo informações disponíveis em o Estado de S. Paulo (1996).
Explorar e aplicar as potencialidades oferecidas pela internet nesta fase dos
produtos jornalísticos eram as principais observações realizadas, pois haviam os
recursos de multimídia – sons, animações; recursos de interatividade – chats,
enquetes, fóruns de discussões; a estrutura hipertextual para a organização de
informações da edição e a narrativa jornalística de fatos.
3.2 Web 2.0 e Jornalismo
3.2.1 Entendendo o fenômeno da Web 2.0
A chegada de novas ferramentas de comunicação para web como os blogs,
wikis e as novas formas de produção através da colaboração de usuários e o
compartilhamento de conteúdo deram origem a uma fase inovadora para internet e o
jornalismo.
O fundador da O‟Reilly Media (uma empresa de livros sobre tecnologia), Tim
O‟Reilly, publicou em 2005 um artigo com o título denominado “What Is Web” (O que
é Web 2.0) segundo Ercilia e Graeff (2008, p. 42) o intuito era “[...] comparar as
práticas de alguns dos primeiros serviços da Web e dos serviços cuja popularidade
se mostrava em ascensão. [...]”
Para Crucianelli (2010, p. 12) a Web 2.0 está baseada na seguinte ideologia:
As pessoas fazem contato entre si, originando a Web social. Ela permite enviar e baixar arquivos por conta própria. Há geração de conteúdos próprios, geralmente novos e, portanto, diferentes do que já existe. Facilita a comunicação entre as pessoas e promove a formação de grupos de indivíduos com interesses comuns. Se a Web 2.0 fosse uma biblioteca, qualquer pessoa poderia colocar um texto seu na estante e escolher textos alheios. Mas autores também podem comunicar entre si e discutir as suas obras.
O conjunto de preceitos e tendências das novas práticas ficou conhecido
como “Web 2.0”, nome dado por O‟Reilly. Entre o que foi observado em
praticamente todos os serviços que obtiveram um resultado de sucesso, está a
28
elaboração de aplicações que permitem a participação de usuários, aproveitando o
“efeito de redes” e do que foi chamado de inteligência coletiva.
O conceito de “efeito de rede” foi popularizado por Robert Metcalfe ao se referir a redes de telecomunicações. Segundo ele o valor de uma rede de telecomunicações é proporcional ao quadrado do número de usuários do sistema. Essa ideia ficou conhecida como “Lei de Metcalfe”. (ERCILIA; GRAEFF, 2008, p. 43).
Essa ideia explica os efeitos observados em blogs, nas redes sociais
Facebook, Orkut, Myspace e outros, nas iniciativas de criação de conteúdos da
Wikipédia e em sites de compartilhamento de imagens como o YouTube e Flickr.
No caso da Wikipédia os usuários colaboram escrevendo e editando o
conteúdo já existente ou não, vão criando conceitos, é uma espécie de enciclopédia
virtual, cada participação aumenta a qualidade e quantidade de informações, o que
acaba atraindo mais pessoas tornando-as colaboradoras que realimentam esse
processo.
O surgimento da Web 2.0, não passou despercebida pelas empresas, essas
procuraram entender este processo e passaram a utilizar essas ferramentas, como
as wikis e os blogs para melhorar as suas organizações aproveitando a ideia de
inteligência coletiva de funcionários e possíveis usuários colaboradores buscando
estabelecer uma comunicação mais aberta com os usuários, que estão cada vez
mais informados.
3.2.2 Plataforma Web 2.0: ferramenta para democracia
A Internet oferece espaço ilimitado como suporte para se discutir,
compartilhar informações. Uma importante ferramenta que surgiu para contribuir com
as inciativas de protesto e mobilização da sociedade, tornando-se um meio
democrático. Para Morillon e Julliard (2010) “[...] a Internet é o caldeirão em que as
organizações da sociedade civil que sofrem repressão pode ganhar um novo ânimo
e desenvolver suas atividades.”
A chegada das novas mídias principalmente as redes sociais que oferecem
para sociedade a oportunidade de colaborarem e alterarem a ordem social pode-se
notar uma mudança de comportamento das pessoas, em especial os jovens que
estão ocupando um espaço cada vez maior de utilização da internet e se
29
apropriando dessa ferramenta para manifestarem indignações, revoltas ou algo que
seja de interesse público.
Morillon e Julliard (2010) citam como exemplo o Facebook, o YouTube como
redes sociais utilizadas para manifestações:
A rede social Facebook tornou-se um ponto de encontro para ativistas impedidos de se manifestar nas ruas. Um simples vídeo no YouTube – como o Neda Iran (Vídeo que retrata o assassinato da jovem iraniana Neda, que assistia a protesto contra o resultado das eleições no Irã, em 2009) ou Marcha Saffron dos monges em Mianmar (Manifestações lideradas pelos monges budistas em repúdio à ditadura militar em Burma) - pode ajudar a expor abusos dos governos para o mundo inteiro.
Morillon e Julliard (2010) também dizem que:
[...] um simples flashdrive USB pode ser tudo o que se precisa para disseminar notícias – como em Cuba, onde eles se tornaram as “samizdats” (Cópias não autorizadas de textos censurados pelo regime soviético, que eram reproduzidos por dissidentes e passavam de mão em mão) locais.
A necessidade de defender a livre circulação de informação está diretamente
ligada aos interesses econômicos principalmente em alguns países em que as
empresas são as que possuem um acesso de qualidade a internet, porém este fato
acaba trazendo consequência positivas para a sociedade.
A proliferação das novas tecnologias mudaram o cenário autoritário de líderes
desde que a internet passou a fazer parte da vida das pessoas.
[...] Os tempos mudaram desde que a Internet e os novos meios de comunicação eram vantagem diferencial dos dissidentes e opositores. Os líderes de alguns países foram surpreendidos pela proliferação de novas tecnologias e principalmente com o surgimento de novas formas de debate público. De repente, eles tiveram que lidar com o fato de que as “Revoluções Coloridas” se tornaram “Revoluções Twitter”. Assim, o grande potencial do ciberespaço não poderia continuar reservado para vozes dissidentes. [...] (MORILLON; JULLIARD, 2010).
Porém estes fatores também colocam em risco a vida de internautas que se
manifestam de alguma forma nas redes e são contra interesses de autoridades e
outros, e acabam se tornado alvo de perseguições em um ritmo cada vez maior.
[...] Pela primeira vez desde a criação da Internet, um número recorde de cerca de 120 blogueiros, usuários da Internet ciberdissidentes estão atrás das grades por terem se manifestado livremente no mundo online. O maior número deles está na China, que está muito à frente de outros países (com 72 internautas detidos), seguida pelo Vietnã e pelo Irã, que lançaram ondas brutais de ataques a sítios Web nos últimos meses. (MORILLON; JULLIARD, 2010).
30
Essas informações foram retiradas de um artigo publicado pela organização
de Repórteres sem Fronteiras em março de 2010.
De acordo com Morillon e Julliard (2010) embora não existam ainda
estratégias de controle e repressão da rede, os internautas que fazem
manifestações são repreendidos com a detenção em cadeias, pois não foram
criados normas de combate, por ser um meio de comunicação “livre”, alguns países
adotam apenas a prisão dos manifestantes.
31
4 REDES SOCIAIS, MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO
Os termos mídias sociais e redes sociais embora sejam semelhantes,
possuem uma conceituação distinta. Alguns as tratam como se fossem sinônimos,
mas não são. De acordo com Pires (2010) nos Estados Unidos chama-se “Social
Media”, no Brasil é denominado “Redes Sociais” para sites de relacionamentos
como Facebook, Twitter, Orkut, Google +, e para publicações de vídeos o YouTube
(estes são os considerados mais usados e populares, segundo Oliveira, 2014). Mídia
Social trata-se da Internet e as ferramentas tecnológicas, da produção de conteúdo.
4.1 Entendendo o que são as Redes Sociais
As Redes Sociais estão compostas por um grupo que compartilham
informações com interesses semelhantes. É um sistema criado com o objetivo de
facilitar as relações entres as pessoas através da troca de conhecimentos. Possui
uma grande variedade de serviços, sendo caracterizada como uma plataforma
interativa, dando a possibilidade dos usuários se conectarem, por meio de sites de
relacionamentos.
O processo de disseminação das redes sociais tornou-as bastante popular e
fica entre os sites considerados mais acessados mundialmente, pois é uma maneira
que se tem de estabelecer relacionamento e trocar experiências uns com os outros,
uma verdadeira ferramenta de comunicação.
A dinâmica das redes sociais não costuma variar muito de um site para outro. Cada usuário cria um perfil com informações que podem ser vistas pelos outros participantes e convida parentes, colegas de trabalho ou da escola para se tornarem “amigos”. É possível navegar nas listas de amigos e assim descobrir mais pessoas que podem ser adicionadas – um bom jeito de reencontrar gente com o qual se perdeu contato, assim como de conhecer gente nova. (ERCILIA; GRAEFF, 2008, p. 63).
Existem dentro das redes socais, outros recursos que servem para conhecer
outras pessoas, para manifestação de ideias, trocas de conhecimentos, debates de
assuntos polêmicos ou não etc., que são grupos ou comunidades.
Aponta Ercilia e Graeff (2008, p. 63 e 64) que:
32
Uma das formas de conhecer nas redes sociais é se juntar aos grupos ou comunidades de usuários. As comunidades costumam ser criadas em torno de temas relacionados a uma escola, uma empresa, um bairro, ou aos interesses específicos dos participantes. É nos fóruns de discussão das comunidades que os participantes trocam ideias, criam jogos e brincadeiras e organizam encontros ao vivo. É comum também montar álbuns de fotos e compartilhar vídeos.
Ainda em Ercilia e Graeff (2008, p. 64) é apresentado um alerta sobre a forma
de utilização das redes sociais:
É bom ter consciência de que tudo que é publicado nas redes sociais pode ficar disponível na Internet durante muito tempo. Para não se arrepender mais tarde convém não divulgar informações muito pessoais ou publicar nos fóruns das comunidades mensagens que podem se mostrar constrangedoras no futuro.
Os usuários das redes sociais devem utiliza-la como uma ferramenta que
surgiu para somar e não o contrário, estas ferramentas tem que servir como auxílio,
seja na execução de trabalhos, relacionamentos, expressar opiniões, enfim, são
muitas as possibilidades disponíveis, basta saber usar.
Segundo Aguiar (2007) a mídia e os estudos acadêmicos utilizam a
expressão “redes sociais na internet” como referência aos tipos de relações sociais e
de sociabilidade virtuais que possuem diferentes dinâmicas e propósitos, e
esclarece:
De um lado, há uma ampla variedade de “comunidades virtuais” e os chamados sites de redes sociais (Social Network Sites – SNSes, em inglês), cuja existência e desenvolvimento são contingenciados pelo ambiente tecnológico em que são construídos. De outro, inúmeras experiências de redes sociais constituídas nas práticas cotidianas e nas lutas sociopolíticas do “mundo real”, que utilizam a Internet como um ambiente de interação e/ou um espaço público complementar.
Aguiar (2007) discute as diferentes possibilidades de tomar posse das
tecnologias de informação e comunicação (TICs), estão representando um desafio
nas teorias e metodologias das técnicas tradicionais que fazem as Análises das
Redes Sociais (ARS ou SNA – Social Network Analysis) e da emergente
Ciberantropologia, isto ocorre devido a “[...] complexidade e abrangência, com
vínculos que não se delimitam às fronteiras geográficas e culturais (etnias, religião,
idioma, gênero etc.) [...].”
33
4.2 Entendendo o que são as Mídias Sociais
Todos os meios de comunicação (jornais, rádio, televisão...etc.) são
denominados Mídia. A Mídia Social (social media) está constituída pelas ferramentas
tecnológicas e a internet. Refere-se especificamente à produção de conteúdo, sendo
que não fica sobre o domínio de grandes organizações. Os produtos produzidos na
internet são descentralizado do controle editorial das empresas jornalísticas, pois
nesta plataforma dá-se a oportunidade das “vozes individuais serem ouvidas” (Inf.
PORTAL DA EDUCAÇÃO), o usuário tem a possibilidade de expressar-se
livremente.
Há um novo ecossistema midiático em formação, contendo os meios de comunicação analógicos, surgidos a partir das concepções econômicas da Revolução Industrial, e as redes digitais conectadas, que possuem conexões topológicas descentralizadas e de baixa hierarquia, fornecendo novas possibilidades de consumo de conteúdo e alterando a relação estabelecida, pelo modelo broadcasting, entre a audiência e as suas preferências informacionais. (LIMA, 2009, p. 24).
Para esclarecer este fenômeno das Mídias Sociais Recuero (2011, p. 14)
explica:
O que muitos chamam de "mídia social" hoje, compreende um fenômeno complexo, que abarca o conjunto de novas tecnologias de comunicação mais participativas, mais rápidas e mais populares e as apropriações sociais que foram e que são geradas em torno dessas ferramentas. É um momento de hiperconexão em rede, onde estamos não apenas conectados, mas onde transcrevemos nossos grupos sociais e, através do suporte, geramos novas formas de circulação, filtragem e difusão dessas informações.
O surgimento das Mídias Sociais não possui relação com as Redes Sociais, e
sim com as ferramentas tecnológicas, como a própria internet, considerado como
primeiro meio de comunicação massivo e interativo.
De acordo com Recuero (2011, p.14 e 15):
[...] Os próprios mecanismos de chat, por exemplo, que são quase tão antigos quanto a própria internet, já continham em si o embrião dessa
participação, assim como os e‐mails e os fóruns e, posteriormente, os blogs e fotologs. A mudança está na horizontalização do processo de constituição da mídia que, ao contrário da chamada mídia de massa, distribuiu o poder de distribuição da mensagem (ou, como André Lemos explica, caracteriza‐se pela "liberação do polo emissor").
34
O termo Mídia Social possui relação ao conteúdo produzido para web e a
participação dos usuários, pois tudo o que está disponível nas redes é para todos
lerem, envolverem-se e colaborarem, é um meio de interação entre as pessoas para
criarem, compartilharem, fazendo a troca de informações e conhecimento, não só
por meio de comentários nas comunidades e redes sociais, mas também através da
produção textual de conteúdo jornalístico.
Oliveira (2011) reforça essa ideia dizendo:
Dentro das mídias sociais cada usuário se torna um produtor de conteúdo, onde ele se atua como um meio de informação para todas as pessoas presentes em sua rede. As mídias sociais reforçam o conceito da internet colaborativa que é exatamente essa participação ativa dos usuários na internet não mais apenas como observadores e sim como coautores.
A partir deste momento o internauta passa a ter vez e voz, todos podem ser
“ouvidos”, deixa-se de ser um simples leitor e se torna um propagador de
informação. A existência das Mídias Sociais permite também às “pessoas que vivem
em locais tão distantes, criarem entre si laços sociais [...]” de acordo com Oliveira
(2011).
Para Lima (2009, p. 24) o surgimento de novas tecnologias digitais amplia as
possibilidades de conexão no campo da comunicação social “[...] passamos, em um
curto espaço de tempo, da era da escassez da informação (que durou centenas de
anos) para a era do Big Data.”
35
5 O SUJEITO COLETIVO
As primeiras experiências com os sujeitos coletivos surgiram com um post
feito por Rod Malda no site Slashdot (www.slashdot.org) em setembro de 1997.
Residente da cidade de Holland, estado de Michigan, nos EUA, Malda sempre
debatia com os amigos sobre diversos assuntos relacionados à tecnologia e outros.
Ferrari (2010, p.30) confirma que Slashdot pode ser considerado um site
pioneiro que disponibilizava conteúdo participativo na rede mundial, e ressalta ainda,
que com o passar do tempo, aumentou a quantidade de usuários que contribuíam o
que fez também com que houvesse a necessidade de expansão do site.
Com o crescimento vertiginoso das discussões sobre Linux e o mundo do software livre, Slashdot cresceu em número de usuários cadastrados e Malda conseguiu 25 colaboradores para filtrar spams e selecionar o material que ia ser publicado. [...] O site cresceu e em um ano eram 50 mil pessoas cadastradas. Logo, os 25 escudeiros de conteúdo não davam mais conta e o dilema de Malda foi continuar pequeno e preservar a qualidade ou crescer e sacrificar tudo o que ele mais estimava? (FERRARI, 2010, p. 30).
Com o dilema em que se confrontava Malda, surgiu então, a ideia de expandir
o número de usuários da web e transformá-los em escudeiros ao invés de aumentar
o número de escudeiros que possuía trabalhando no site.
Segundo Ferrari (2010, p. 31) essa ideologia tinha base em quatro critérios
estabelecidos em um manifesto feito online em um post do Slashdot, eram eles:
“fomente a qualidade, desencoraje a bobagem; torne Slashdot o mais legível
possível para o maior número de pessoas possível; não gaste um tempo enorme de
qualquer moderador; não permita que um único moderador tenha “um reinado de
terror” (inf. website Slashdot apud FERRARI, 2010, p.31).”
Ferrari (2010, p. 31) considera que foi a partir desse momento, que nasceu
“[...] a ideia de produção coletiva de conteúdo [...]”. Outros sites como o Amazon
(http://www.amazon.com/); o e-bay (http:// www.ebay.com/), que era um site de
leilão; o Digg (http://www.digg.com/), em 2007, esse era considerado um site que
abriu as portas para a colaboração, fez igualmente ao Slashdot. Todos foram criados
dando espaço para os usuários participarem através de comentários e podendo
expressar suas opiniões.
36
O OhMyNews (http://english.ohmynews.com/) realizou em junho de 2007, o
Fórum Internacional de Repórter Cidadão, o objetivo era debater as potencialidades
do jornalismo online. Esse contava com a colaboração de diversos países como a
Alemanha, Irã, Taiwan e Vietnã e foi idealizado por Oh Yeon-ho. Então
consecutivamente outros sites apareceram e com o intuito de explorar o feedback,
princípio proposto por Steven Johnson (2003, apud FERRARI, 2010, p. 31).
Na verdade, a partir do momento que consumimos, quase que organicamente, o ciberespaço, começamos a perceber que a textura híbrida da hipermídia está presente em tudo, sem falar que o hipertexto nos permite derrubar as fronteiras entre os gêneros ficcionais, factuais participativos, ou seja, entre o real e o virtual. Saímos do mundo da sequencialidade para o mundo da associação, onde o ato de ler e clicar é a peça-chave para o sucesso ou fracasso de um produto na Internet, seja ela um romance ou uma manchete de jornal. (FERRARI, 2010, p. 34).
As redes virtuais estão cada vez mais abrindo espaço para que o leitor não
seja apenas um simples receptor da mensagem, mas um fornecedor de
informações, pois tem-se na Internet um mundo sem fronteiras, livre para que o
usuário vire colaborador. Em Ferrari (2010, p. 36) a cibercultura é a responsável pelo
fortalecimento do sujeito coletivo, e também “[...] reconhecida como um dos pilares
da inteligência coletiva [...],” pois tem como referência os recursos midiáticos, e as
variadas áreas do conhecimento que ajudam a compreender melhor as narrativas
digitais, enfatiza a autora.
5.1 O fenômeno do jornalismo participativo
O surgimento da Internet trouxe consigo uma quantidade enorme de
informações, quase que infinita, são muitos os documentos disponíveis na rede, um
verdadeiro fenômeno histórico, porém esse conhecimento todo ou parte dele, em
sua maioria, pode tornar-se inútil devido à “[...] dificuldades de os sistemas
convencionais processarem tal quantidade de informação” (CASTILHO; FIALHO,
2009).
Para Castilho e Fialho (2009) essa “[...] avalanche informativa gerada pela
Internet provocou uma situação paradoxal [...]” por possuir e poder oferecer bastante
37
conhecimento, mas existe a dificuldade dos sistemas processarem esse
conhecimento.
Porém essa “ironia histórica” tornou- se importante para dar início a um novo
processo, a produção colaborativa vista hoje, segundo Castilho e Fialho (2009)
como:
[...] a grande ferramenta tanto para administrar a avalanche informativa e, como para lograr uma contextualização mínima das notícias, fatos e dados, em um ambiente em que percepções equivocadas podem ter consequências imprevisíveis.
A colaboração informativa vista hoje como uma nova modalidade de produção
de conteúdos textuais, sonoros e visuais, tornou-se herdeira da antiga colaboração
comunitária, produz notícias agora no ambiente virtual através da participação dos
usuários das redes digitais.
Castilho e Fialho (2009, p.120) apontam que o processo de produção
colaborativa quando ocorre em ambiente comunitário “permite captar conhecimento
tácito, a chamada cultura popular, e transformá-lo em conhecimento explícito, capaz
de ser publicado e recombinado.” Consideram o processamento de conhecimento
fundamental para que haja uma evolução cultural, econômica e social, que permita
fazer a inclusão de fatores importantes para as inovações da tecnologia que é
indispensável no “progresso humano” (CASTILHO; FIALHO, 2009, p. 120). Os
autores enfatizam ainda que “a web começou como uma plataforma de publicação,
depois passou a ser um ambiente para interatividade social, e agora entra na fase
de produção de conhecimentos [...]”, essa produção de conhecimento acontece
devido a oportunidade dos usuários de diversas áreas da atividade humana
(economia, direito, educação e artes) poderem colaborar publicando conteúdo,
principalmente em ambiente virtual, a Internet.
Malini (2008) identifica que “em sua configuração atual, a Internet transita
para uma nova paisagem midiática. [...]” O comportamento dos usuários mudou,
passaram a agir livremente como um colaborador do fazer jornalismo, sem precisar
estar diretamente ligado a empresas jornalísticas, isso acontece devido a web ser
um meio totalmente social que disponibiliza conjunto de ferramentas com suporte
on-line para propagação de informações.
38
Desde a radical napsterização da rede, em 1999, quando os usuários passam a determinar livremente o seu comportamento e ligações sem intermédio de centros de difusão de informação, a internet passou a ser um ambiente atravessado por um conjunto de meios sociais online baseados na lógica peer-to-peer. (MALINI, 2008).
O termo peer-to-peer segundo Malini (2008) “passou a designar múltiplos
processos e práticas sociais relacionados com a livre possibilidade de construção
autônoma de novos meios de expressão da cultura.”
Em Bauwens (2005, online apud MALINI, 2008) peer-to-peer é um “terceiro
modo de produção social” (MALINI, 2008) baseado em:
[...] Uma nova economia política – que se alicerça em cinco infraestruturas: a primeira é o acesso ao capital fixo, particularmente, aos computadores; a segunda é a disponibilização de sistemas públicos de publicação da informação e de comunicação, que possibilita ao usuário participar hospedando todo tipo de conteúdo, conectando-os a outros conteúdos e a outros sujeitos, os chamados dispositivos webcasting; a terceira é a existência de um sistema de software destinado à cooperação autônoma [...]; o quarto é a existência de uma infra-estrutura legal [...]; o quinto, e último, o requisito social, o que significa a aceleração da capacidade, em massa, por parte dos cidadãos, de participar da criação e divulgação de suas próprias obras. (BAUWENS, 2005, online apud MALINI, 2008).
A Internet traz um mundo inovador, capaz de interligar as pessoas e “os
possibilita formar o seu próprio habitat de comunicação sem que para isso, ter de
passar por qualquer mediação” (MALINI, 2008).
MALINI (2008) considera essa mudança de comportamento como um plano
antagônico devido ao crescimento da colaboração dos usuários quando produzem
conteúdo jornalístico em sites destinados ao próprio público, ou quando
complementam ou divergem dos textos dos veículos de outros meios de
comunicação de massa.
Malini (2008) comenta que:
A novidade, portanto, está na existência de sites e sistemas de informação populares que só funcionam graças à colaboração dos usuários na publicação, troca e avaliação de conteúdo. Esses sites e sistemas, portanto, são auto-regulados, editados, moderados, comentados, ranqueados e administrados pelos próprios usuários (ou com a colaboração deles).
Estes meios destinados a colaboração dos usuários segundo Malini (2008) já
foram denominados como sendo meios sociais ou meios cidadãos, pois a sociedade
é responsável pela ativação e criação dessa nova cultura generalizadora.
39
Ferrari (2010, p. 61) denomina essa experiência de Remix narrativo,
ressaltando que quando foi colocado em prática em 16 de setembro de 2005:
[...] Buscou mapear a evolução da narrativa a partir da mudança de paradigma do receptor, que sai de um estado passivo para tornar-se participativo e ativo. A partir dos ensinamentos absorvidos com os autores Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser, de que diante do texto ficcional, o leitor é forçosamente convidado a se comportar como um estrangeiro, que a todo instante se pergunta se a formação de sentido está cumprida, trabalharemos com o leitor anônimo – personagem que ganhou força e passou a desenvolver e tabular suas próprias escolhas a partir da última década do século XX.
Esse sistema, enfatiza a autora, foi pensado e criado em um “ambiente
multiusuário participativo de troca de narrativas” (FERRARI, 2010, p. 61),
independente do formato (textos, imagens, ou de uso comunitário em uma rede
social).
Para respaldo dessas teorias, em 16 de setembro de 2005, foi criado um site
com o intuito de debater as narrativas produzidas pelos usuários colaboradores
como comenta Ferrari (2010, p. 62) que:
[...] O experimento foi ao ar com uma home-page onde usuário podia encontrar um grande varal com roupas penduradas. A inspiração para a construção de um varal, como ícone simbólico do experimento veio de uma frase da artista gaúcha Elida Tessler. “Colocamos as roupas no varal para que sequem, como que renovadas. Elas passam de um estado a outro. É preciso esperar, ter paciência. Estender para entender. Há um tempo entre o pendurar e o recolher as roupas no varal. As toalhas ali estão em suspensão, como páginas em branco.”
A ideia seria que com o tempo esse experimento poderia ir ganhando o seu
espaço e se desenvolvendo, os usuários se adaptariam com esse novo sistema
disponível para participação e começariam a contribuir através da colaboração mais
ativamente com a produção de conteúdo noticioso.
5.2 Você como produtor
O Jornalismo Cidadão ou Jornalismo participativo é aquele em que “[...] o
cidadão comum participa na elaboração de trabalhos jornalísticos, sejam eles
notícias, reportagens ou qualquer outro género jornalístico” (GARCIA, 2009).
40
Os jornalistas tem que obedecer as regras éticas impostas pelos Códigos
Deontológicos da profissão jornalística, ao contrário do Jornalista Cidadão (cidadãos
comuns) que produzem textos de cunho jornalísticos e publicam em Mídias sociais
ou fazem pequenos posts em Redes Sociais sem a necessidade de seguir os
padrões impostos por manuais de redação em jornalismo, e nem seguir os Códigos
de Ética profissional.
Garcia (2009) reforça dizendo que:
Ao contrário dos cidadãos comuns que produzem trabalhos jornalísticos, como é o exemplo dos bloggers, os jornalistas têm que obedecer a regras éticas, nomeadamente ao Código Deontológico da sua profissão. Um jornalista para além de ter mais qualidade no seu trabalho (regra geral) também há uma maior regularidade na produção deste. Isto é, os jornalistas produzem notícias regularmente e não apenas quando há algum acontecimento que lhes suscita mais curiosidade, como acontece no caso do jornalista-cidadão.
A sociedade têm direito e dever de cobrar dos jornalistas profissionalismo em
seu exercício e responsabilizá-lo caso não cumpra o seu papel de jornalista dentro
dos padrões éticos e regras impostas por Manuais. Já o Jornalista Cidadão é o único
responsável por aquilo que escreve e pública. Para Garcia (2009) “responsabilidade,
contrato social, exigência e regularidade são conceitos base para se estabelecer
esta distinção entre jornalismo profissional e Jornalismo cidadão.”
Qualquer forma de produção de conteúdo elaborado e publicado pelo
cidadão, principalmente quando divulgado nas novas ferramentas tecnológicas,
pode ser considerado como sendo um Jornalista Cidadão, pois recolher, selecionar,
analisar e difundir informações nas mídias, tornou-se um papel também social.
A participação do leitor, rádio-ouvinte ou telespectador no campo jornalístico
(jornalismo tradicional) não é nenhuma novidade, pois já existiam outros tipos de
tentativa de aproximação da audiência com o processo de produção de informação,
como o Jornalismo Cívico ou Público, Jornalismo de Opinião, porém esses não
devem ser comparados com a mais recente forma de participação que é o fenômeno
do Jornalismo Cidadão, são gêneros jornalísticos distintos.
O Jornalismo Cidadão diferencia-se dos demais por ser elaborado por
Jornalistas cidadãos, ou seja, aqueles que não são formados em Jornalismo, é feito
por pessoas sem nenhum treinamento específico na área, mas que possuem outros
tipos de formação profissional ou educacional. O Jornalista cidadão não é
41
remunerado pele o que produz e pública, é um jornalismo feito de forma
“amadorística” (LIMA JÚNIOR; 2010, p. 123), elaborado por qualquer usuário das
Mídias Digitais Conectadas.
O Jornalismo muda com tempo e o Jornalismo Cidadão é uma evolução natural e extensão do Jornalismo tradicional, que, na atualidade, é facilitado pelas introduções tecnológicas nos processos e produtos jornalísticos. [...] Por conseguinte, pode-se utilizar as tecnologias disponíveis nas Mídias Sociais Conectadas, agregando-se as experiências realizadas em outras plataformas analógicas, visando produzir um jornalismo compromissado e entrelaçado com o interesse público. (LIMA JÚNIOR; 2010, p. 124).
O Jornalismo Cidadão é uma novidade quase que indispensável no campo
jornalístico nos últimos tempos, pois em todo o mundo, tanto em países pobres ou
ricos, independente de classe social, o cidadão está transformando a mídia
tradicional, desafiando os seus conceitos e o modo de se fazer jornalismo.
A própria sociedade tornou-se um produtor de notícia que compete com o
jornalismo existente (jornalismo tradicional). As empresas estão tendo que repensar
sobre o seu modo de fazer jornalismo, procurando se adaptar, se adequar aos novos
modelos.
5.3 O processo de colaboração nas Mídias Digitais Conectadas
Em aproximadamente 60 anos de desenvolvimento de novas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) que de acordo com Lima Júnior (2010, p.119)
“estruturaram configurações robustas e acessíveis de redes computacionais,
permitindo um fluxo informacional jamais imaginado.” Esse pode ser considerado,
um processo contínuo que modificou completamente o cenário social, devido aos
avanços ocorridos em áreas como das telecomunicações, máquinas
computacionais, em Ciências da Computação e dispositivos de saída de
informações (impressoras, displays e outros) e a mobilidade.
O impacto social dessa penetração e difusão tecnológica é, agora, notado devido a mudanças no comportamento do consumo de informações. No mercado de produção e consumo de informações, o Jornalismo, como prática social, foi atingido de diversas formas. Tanto as organizações midiáticas quanto os profissionais de Jornalismo estão tentando absorver os efeitos das transformações impetradas pelas TICs e da contínua introdução de inovações tecnológicas. (LIMA JÚNIOR, 2010, p. 120).
42
Essas mudanças em relação ao papel das hierarquias entre emissor e
receptor na produção de notícias, ainda não está bem compreendida por ser uma
das características dos modelos tradicionais de produção de informação em
Jornalismo, havendo assim uma tentativa de comparar as configurações existentes,
com as novas Mídias Digitais Conectadas.
Para Franco (2009) essa configuração entre as Redes telemáticas e as Redes
sociais encontram-se estruturadas:
Assim como a democratização é um movimento de desconstituição de autocracia, as redes são um movimento de desconstituição de hierarquia. Isso é mais do que um paralelo evocativo. Trata-se, a rigor, do mesmo movimento se entendermos por redes as redes distribuídas (quer dizer, mais distribuídas do que centralizadas). As redes estão para hierarquia assim como a democracia está para a autocracia. [...] Parece óbvio, a esta altura da discussão, que a questão do poder precisa ser melhor tratada quando se está falando em redes. As redes empoderam seus membros (na medida do seu grau de distribuição – conectividade).
Esses modelos estruturais gerados pelas redes telemáticas acabou causando
a proximidade entre “[...] os produtores da audiência e também permitiu que
“amadores” se convertam, também, além de consumidores da informação, em
criadores de conteúdo jornalístico [...]”, como afirma Lima Júnior (2010, p.120).
Mesmo com a discussão sobre as hierarquias e sua “flexibilidade” no processo de
produção de informação, o autor considera que “[...] é importante constatar que os
procedimentos de produção e distribuição noticiosa, no ambiente de redes
telemáticas, não pertencem mais só às empresas de comunicação e aos
profissionais de jornalismo” (LIMA JÚNIOR, p.120).
Esses procedimentos de produção de notícias, na Mídia Digital Conectada,
agora pertencem aos próprios receptores, os usuários da Internet, que exercem
também o papel de produtor de conteúdo, transformou-se em um bem social, porém,
para isso, o usuário tem que participar efetivamente do processo de confecção de
informação.
Outro fator importante ocorrido na área de comunicação social foi a
convergência tecnológica digital, como reforça Lima Júnior (2010, p.121):
Ela pavimentou tecnologicamente a convergência de mídias, abrindo um campo para arquivamento, compartilhamento e distribuição de ativos digitais utilizados no relacionamento humano, através de maquinas computacionais e redes telemáticas. Formou-se, então, um ambiente enredado que emula
43
algumas das necessidades humanas, entre elas, o convívio através de comunidades.
Para permanecer invicto neste novo cenário o Jornalismo precisa se adaptar,
encontrando maneiras e formatos dentro desse ambiente digitalizado. É necessário
que os profissionais entendam o que é e como funciona as relações sociais nesse
universo conectado, onde, o usuário torna-se também um produtor de notícias.
Os profissionais de jornalismo devem explorar o espaço das Redes sociais,
porém com objetivos jornalísticos definidos.
A estratégia consiste em realizar um recorte tecnológico, utilizando o ferramental fornecido pela Ciência da Computação e formatar plataformas midiáticas com o objetivo de elaborar, compartilhar e distribuir informações, transformando-as em um bem social. Essa plataforma denomina-se Mídia Social Conectada. Portanto, apesar de utilizar o escopo tecnológico das Redes Sociais, o formato Mídia Social Conectada é configurado através de combinações entre ferramentas disponíveis nas Redes Sociais e a criação de outras, mas combinadas para atingir objetivos editoriais pré-definidos. (LIMA JÚNIOR; 2010, p. 122).
É necessário que haja um planejamento dessas plataformas para o usuário
poder entender, como funciona esse ambiente colaborativo informativo, que tem
relevância social, diferente de outros espaços destinados para relacionamento
virtual.
A Mídia Social Conectada é um formato de Comunicação Mediada por Computador (CMC) que permite a criação, compartilhamento, comentário, avaliação, classificação, recomendação e disseminação de conteúdos digitais de relevância social de forma descentralizada, colaborativa e autônoma tecnologicamente. Possui como principal característica a participação ativa (síncrona e/ou assíncrona) da comunidade de usuário na integração de informações. (LIMA JÚNIOR; 2010, p. 122).
Dentro das Mídias Sociais Conectadas, as Redes Sociais também possuem
inúmeras possibilidades, como identifica Lima Júnior (2010, p. 123):
As inúmeras possibilidades no uso de Redes Sociais podem ser direcionadas para, também construir um espaço de discussão, compartilhamento e produção de informação de relevância social, criando um ambiente de melhora da qualidade informativa.
44
5.4 Jornalismo participativo: modelos independentes (aberto e auto-regulado)
As experiências de Jornalismo participativo não acontecem somente em
grandes veículos das mídias tradicionais, mas especialmente de forma
independente, em modelo aberto – ausente de jornalistas profissionais, ou híbridos -
entre usuários e jornalistas profissionais.
Iniciativas, como Overmundo (Brasil), Wikinews (EUA), BottomUp (Espanha), ÁgoraVox (França) ou ainda o já reconhecido OhMyNews (Coréia do Sul), curto-circuitam o modus operandi midiático ao dar visibilidade a um conjunto de notícias que não aparecem em grandes jornais. A maior parte dessas experiências é caracterizada como “processos emergentes”, em que todo o sistema de publicação e divulgação de notícias se organiza em mecanismos de auto-organização, auto-coordenação e a livre troca de saber. (MALINI, 2008).
O modelo de regulação é baseado na ideia de edição administrada de forma
coletiva, se distingue dos demais devido haver a atuação de redatores profissionais
que possuem como dever “[...] hierarquizar as informações, a partir de critérios
estabelecidos pela comunidade de repórteres-cidadão; ou há espaços de
moderação” (MALINI, 2008), os usuários ficam responsáveis para sugerir as pautas
e pela aprovação do que será noticiado, em seguida enviar aos redatores
profissionais para efetuar a revisão e correções, fazer a publicação do material.
Malini (2008) comenta que:
Nos dois casos, o objetivo é a precaução de vandalismo e oportunistas. Aliais, em muitos momentos, é a própria comunidades de repórteres-cidadão que reporta possíveis abusos aos redatores. Em ambos os sistemas de edição, há um predomínio das licenças públicas creative commons, que funcionam como não-proprietário da produção noticiosa.
De acordo com Malini (2008) o primeiro modelo é mais híbrido devido os
redatores profissionais possuírem maior autonomia e o segundo é considerado um
modelo mais radical, pois possibilita que decisões relacionadas a edição seja de
forma coletiva entre a comunidade de produtores de notícias.
Malini (2008) descreve o perfil de quatro atores dentro da edição colaborativa,
no modelo aberto e no híbrido, são os consumidores de informações, os redatores
ou administradores, o jornalista cidadão e o colaborador.
- o consumidor de informação (visitante): não pública, somente consome notícias.
45
- os redatores/administradores (profissionalizados ou não): cuidam de revisar, alterar ou até mesmo excluir o conteúdo, mediante a decisões em espaços de moderação ou quando outros usuários reportam determinados abusos. - o jornalista-cidadão: é usuário registrado, que participa da construção do ambiente através de upload de notícias e comentários próprios, bem como no relacionamento com outros repórteres-cidadãos. - o colaborador: espécie de colunista, mas também podendo ser blogueiros. Sua característica é uma escrita especializada.
Esses, de acordo com Malini (2008) são os quatro tipos de colaboradores, e
estão divididos entre aqueles que apenas consomem informação sem publicar e os
que publicam conteúdos em sites mais específicos para produção colaborativa ou
em blogs.
5.5 As transformações no “fazer jornalismo”: possíveis adaptações e alguns
aspectos que desfavorecem o Jornalismo participativo
Como tudo que está relacionado à Internet gera discussões, o Jornalismo
praticado por não-jornalistas também tornou-se motivo para debates, devido não
apenas às mudanças trazidas pelas inovações tecnológicas, e sim, no próprio modo
de fazer jornalismo. A falta de conhecimento por parte dos considerados Jornalistas
cidadãos de normas estabelecidas em manuais de redação, sobre conduta ética, e
fatores como credibilidade dos fatos e acontecimentos que são publicados na rede,
se as informações são verdadeiras ou falsas, são questões que implicam com o
novo jornalismo. Por essas razões, existem alguns jornalistas profissionais alguns
com formação acadêmica contra o modelo colaborativo, o Jornalismo cidadão,
jornalismo produzido por um cidadão comum.
Garcia (2009, p. 10) cita o pesquisador, conferencista, blogger e professor da
Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, José Luis Orihuela como
sendo um jornalista contra o Jornalismo cidadão, pois considera esse conceito “[...]
inadequado para descrever o que se está a passar no mundo da comunicação
social” (Garcia, 2009, p.10). O autor argumenta ainda que para Orihuela “[...] o
jornalismo é algo que se estuda, algo que segue uma ética e uma deontologia e que
tem uma função social muito importante.” Garcia ressalta que mesmo o professor
pensando assim, ele acredita que os blogs tem sua importância.
Mesmo com as controvérsias sobre o Jornalismo cidadão as empresas
jornalísticas e o próprio jornalista deveriam pensar no novo, como algo que poderá
46
beneficia-los e não como se esse processo pudesse substituir o antigo pelo novo,
mas sim, como se viesse para complementar os trabalhos nas redações, afinal
vivemos em um mundo que está sempre em processo de mutação, de
transformações, de modificações.
Lévy (1999, p. 218) faz uma ressalva sobre a preocupação que existe em
relação a ideia de substituição e considera que:
Uma das ideias mais errôneas, e talvez a que tem vida mais longa, representa a substituição pura e simples do antigo pelo novo, do natural pelo técnico ou do virtual pelo real. [...] É muito raro que um novo modo de comunicação ou de expressão suplante completamente os anteriores. Fala-se menos desde que a escrita foi inventada? Claro que não. Contudo, a função da palavra viva mudou, uma parte de suas missões nas culturas puramente orais tendo sido preenchida pela escrita: transmissão dos conhecimentos e das narrativas, estabelecimento de contratos, realização dos principais atos rituais ou sociais etc. Novos estilos de conhecimento (o conhecimento “teórico”, por exemplo) e novos gêneros (o código de leis, o romance etc.) surgiram. A escrita não fez com que a palavra desaparecesse, ela complexificou e reorganizou o sistema de comunicação e da memória social.
Ferrari (2010, p. 78) fala um pouco sobre as mudanças ocorridas nas
redações jornalísticas e o resultado do “casamento tecnológico com o jornalismo”:
Novas Tecnologias da Informação e suas subdivisões com softwares cada vez mais modernos e capazes de automatizar o dia a dia de uma redação digital estão transformando o “fazer jornalístico” num processo automatizado e muito particular. Onde foi parar a reunião de pauta? A fonte primária? O jornalismo como prestação de serviço? E a produção da notícia propriamente dita? Podemos dizer que os portais na internet são a personificação de um ambiente ideal onde o core Technologies se juntou com o core business, resultado em empresas que alimentam e trafegam informações 24 horas por dia.
Torres (2010) acreditava que com a introdução de novas tecnologias no
campo comunicacional havia a necessidade de uma “reformulação do jornalismo”
em especial o jornal impresso, que precisava aceitar a web, pois o tempo não
voltaria, e as coisas não seriam como eram, para que isso ocorresse o autor dizia
“[...] ou fazemos a nossa parte, ou os céticos de plantão irão concretizar o sermão
de morte da imprensa tradicional” (TORRES, 2010). O autor ressalta ainda que:
Aceitar algo que incomoda nunca é fácil, ainda mais quando se trata de um fato que interfere no senso de comodismo de muitos profissionais de comunicação, na zona de conforto de que tais jornalistas seriam e detinham, sempre, um poder incalculável para com a sociedade.
47
O fato das pessoas não estarem contentes com esse comodismo dos
jornalistas e com algumas publicações de notícias feitas nas mídias tradicionais,
provocou uma possível falta de credibilidade com relação aos veículos de
comunicação, estes fatores podem ter causado essa mudança de comportamento, o
descontentamento fez com que passassem a fazer um jornalismo mais próximo de
sua realidade.
Foletto (2009, p. 205) cita os blogs como exemplo para confirmar esse
pensamento:
O advento dos blogs de informação de relevância jornalística é decorrente de vários fatores e, dentre os principais, está o fato de que muitas pessoas não estavam contentes com o que era noticiado pelo jornalismo tradicional, cada vez mais distante da realidade por elas observada. A expansão mundial dos weblogs do início da década possibilitou que muitas pessoas passassem a manifestar essa insatisfação, transformando os seus blogs em “observatórios de imprensa”.
O cidadão está mais atento com o que a mídia anda publicando e apontam os
erros cometidos com mais liberdade, “[...] transformando-se em poderosos antídotos
contra o jornalismo descuidado” afirma Foletto (2009, p. 205).
Porém Silva (2010) argumenta que o novo jornalista “[...] deve ter na cabeça
que não basta só escrever, fotografar, pesquisar, entrevistar, diagramar ou filmar.
Ele precisa dominar todas estas técnicas juntas, porque o seu leitor na internet
domina e vai cobrar. É fundamental que esse novo profissional tenha conhecimentos
técnicos e metodológicos utilizados no fazer jornalismo, é um fator importante, pois o
leitor cobra, e isso não vai mudar.
Silva (2010) ressalta ainda que:
O novo jornalista deve saber que o seu texto na internet não termina no ponto final, ele se desdobra na caixa de comentários. E nesta surgem discussões entre jornalista x leitor, leitor x leitor, que levantam novas pautas para o primeiro trabalhar. O leitor não da pitaco, o leitor colabora? Isso mesmo, menosprezar a inteligência do leitor em tempos de internet é atestar a própria burrice.
Para Silva (2010) o melhor é aceitar essas mudanças do jornalismo visto que:
O Jornalismo está passando por transformações, saindo de uma zona de conforto secular, e o grande barato é que não dá pra apontar os coreanos do Oh My News e dizer que eles estão no caminho certo, ou então, dizer que o New York Times está dando uma lição de como se reinventar. Isso porque todo jornalismo está se reinventando, seja ele rádio, TV, impresso ou internet.
48
Contudo, existe o porém desse processo de mutação da comunicação, por
um lado os fatores que favorecem o Jornalismo feito pelo cidadão por outro os que
desfavorecem.
A maioria das pessoa não possui a formação necessária, muito menos a educação e bagagem que os jornalistas profissionais possuem. Comunicólogos, então, remete termo aos profissionais formados em comunicação. Portanto, o jornalismo participativo ou cidadão deve se estruturar em jornalistas da imprensa tradicional e seus cidadãos comuns, os colaboradores da imprensa. (TORRES, 2010).
Volta-se a comentar aqui, sobre a ideologia de Torres (2010) de fazer uma
“nova reformulação midiática”, deve ser levada em consideração, é quase o mesmo
que unir a “velha mídia” com a “nova mídia” e fazer uma só, procurar saídas é uma
maneira de solucionar os problemas enfrentados com a produção de conteúdos feita
por colaboradores, Jornalistas cidadão, a intenção é propor uma aliança.
Os jornais tendem a uma reformulação massiva em suas estruturas, e não a um desesperado ato de proclamação por uma salvação através do jornalismo colaborativo. Deve-se deixar claro que os jornais não acabarão e que sua salvação não será feita por meio dos cidadãos colaboradores, mas sim, com o auxílio deles. (TORRES, 2010).
Palácios (2003) já possuía uma ideologia parecida para adaptar os suportes
anteriores com os novos suportes de Jornalismo na Web e defendia ela dizendo:
Entendido o movimento de constituição de novos formatos mediáticos não como um processo revolucionário linear de superação de suportes anteriores por novos, mas como uma articulação complexa e dinâmica de diversos formatos jornalísticos, em diversos suportes, “em convivência” (e complementação) no espaço mediático, as características do Jornalismo na Web aparecem, majoritariamente, como Continuidades e Potencialização e não, necessariamente, como Rupturas com relação ao jornalismo praticado em suportes anteriores.
Fazer uma adaptação entre Jornalismo tradicional e o Jornalismo cidadão nas
empresas jornalísticas é uma tentativa amigável para enfrentar essa possível crise
que o Jornalismo anda enfrentando em relação ao cidadão que produz conteúdo
noticioso.
Os grandes centros de mídia são, por vezes, referencias em credibilidade e profissionalismo. Um jornal impresso, por exemplo, se traduz em uma marca confiável composta por profissionais formados, respeitados e com enorme bagagem de conhecimentos, tanto técnicos, acadêmicos ou específicos. A
49
maioria dos cidadãos não possuem essa formação fundamental para uma boa produção de conteúdo informativo. Ademais, pautas fictícias e fraudulentas já foram motivos de desconfiança por parte de um jornalismo inteiramente produzido por não jornalistas. (TORRES, 2010).
Para que haja a credibilidade o ideal é que os não-jornalistas aprendam com
os profissionais sobre o que deve ser feito, adquirir conhecimento sobre as técnicas
jornalísticas para produção noticiosa podem ser de grande ajuda. Existem hoje
também, ferramentas que servem de auxílio para os não-jornalistas. Foschini e
Taddei (2006, p. 27) consideram importante “aprender como os jornalistas
profissionais lidam com as notícias pode ajudar na comunicação.”
Segundo Foschini e Taddei (2006, p. 35) os aspectos legais da internet valem
também:
[...] Para o universo do jornalismo cidadão as mesmas restrições legais que se aplicam a outros veículos de comunicação. Como cidadão jornalista, você tem de movimentar-se entre a liberdade de expressão e os limites impostos por lei. O bom senso pode ajudá-lo a mapear o que é proibido. Conteúdo racista ou que expresse preconceito religioso é considerado crime. Espalhar boatos, se passar por outra pessoa, divulgar dados confidenciais de pessoa ou empresa, usar logo marca alheia, fazer apologia ao crime, dar dicas sobre como piratear serviços, transmitir informações sobre atividades ilegais também são. Tudo isso você, como cidadão, já sabe que são ações sujeitas a punição. No ciberespaço, nada muda, também são atividades ilegais. Quando se trabalha com imagens e materiais produzidos por outras pessoas, é preciso prestar atenção nos direitos autorais e de reprodução. A internet pode dar, às vezes, a falsa impressão de que tudo pode ser copiado livremente. Mas não é bem assim.
Não é porque a Internet “[...] é o espaço paradoxal em que melhor se
manifesta a fragmentação ética e o individualismo [...]” (KUCINSKI, 2005, p. 71), que
as pessoas não vão ter consciência do que pode e o que não pode ser publicado,
tem que agir legalmente. O bom senso por parte dos cidadãos é fundamental,
mesmo que a Internet seja considerada, de acordo com Kucinski (2005, p. 71) “[...]
uma nova e poderosa ferramenta dos libertários, dos que não se resignaram ao
triunfo do neoliberalismo [...]”, as leis valem para todos. Os deslizes cometidos não
podem ser justificados pela pressa em publicar uma notícia os cuidados têm que ser
redobrados.
Se render ao que está acontecendo no momento e aceitar o fato, em que, os
cidadãos deixaram de ser coautores e passaram a fazer parte da produção noticiosa
não significa que será a solução dos problemas técnicos, éticos e de credibilidade
das redações, a ideia é apenas aceitar que o jornalismo está mudando e terá que
50
ser reinventado e pensar em fazer a adaptação dessa nova forma jornalística nas
empresas. Esse, pode ser considerado um debate quase que infindável se forem
levados em conta o tamanho da Internet e as suas possibilidades, a ideia é chegar a
um consenso entre Jornalistas e não-jornalistas, a única certeza que se tem, é de
que o acesso a informação é livre e um direito de todos, e não deixará de ter o seu
valor.
51
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ambiente comunicacional vem sofrendo profundas transformações,
principalmente em relação aos avanços das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) que propiciam aos Meios de Comunicação outras formas de
produção noticiosa através das plataformas digitais. Esses fatores acabaram abrindo
as fronteiras do jornalismo para qualquer cidadão conectado e interessado em
escrever. Com a facilidade que se tem hoje de publicar conteúdos nas plataformas o
cidadão não se contenta mais em apenas ler, quer comentar, participar, e até
mesmo produzir notícia.
Os usuários talvez por estarem insatisfeitos pelos serviços oferecidos por
webjornais, ou até mesmo pela necessidade que se criou em fazer um jornalismo
diferenciado mais próximo da sua realidade optaram por aproveitar o espaço
disponível nas Mídias Digitais Conectadas para se tornarem também produtores de
conteúdo jornalístico. Esses novos cidadãos jornalistas não possuem formação
acadêmica e nem os conhecimentos técnicos dos profissionais de jornalismo, mas
aproveitam as plataformas digitais para fazer jornalismo.
Esta nova tendência ficou conhecida como Jornalismo cidadão, e tem um
importante papel social, visto que, muitas vezes as mídias tradicionais não dão vez e
nem voz para sociedade fazer suas manifestações, o que se divulga é pouco perto
da necessidade que existe de poder expressar as indignações com o mundo. A
criação de plataformas de comunicação na internet abriu as portas que faltavam
para o cidadão poder expressar-se abertamente, mas é claro sem que cometa
irregularidades, sempre dentro dos aspectos legais.
Recentemente, em 23 de abril de 2014 foi aprovado pelo Congresso Nacional
e sancionado pela Presidência o Marco Civil da Internet no Brasil (Lei nº 12.965), a
Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para a utilização da Internet
no país.
O Marco Civil da Internet foi criado após uma possível violação de
informações sigilosas relacionadas à presidente Dilma Rousseff quando teve os e-
mails rastreados por órgãos do governo norte-americano. A ideia de espionagem
chegou a gerar uma crise diplomática entre os dois países, e então, surgiu a
necessidade de criar uma legislação específica para assegurar a liberdade e a
52
igualdade para o uso da Internet no Brasil seu ponto principal é garantir o direito à
privacidade dos usuários, à inviolabilidade e ao sigilo de suas comunicações pela
internet. Os provedores não podem mais fornecer informações sigilosas para
terceiros, somente se o internauta autorizar. (Inf. http://marcocivil.com.br).
A Lei teve o seu primeiro esboço no Projeto de Lei nº 5.403, em 2001, como
uma tentativa de regulamentação da Internet e foi deixada de lado por um tempo, e
após dez anos foi efetuada uma nova tentativa com o Projeto de Lei nº 2.126, em
2011, que veio com cláusulas polêmicas com enfoque sobre a Responsabilidade
Civil de Terceiros e a Neutralidade das Redes e o Potencial para a Inovação,
aconteceu uma audiência, mas acabou ficando por um bom tempo no Congresso
Nacional em debate pela Câmera dos Deputados e somente este ano foi aprovada
com alguns avanços mais significativos como a exigência de qualidade dos serviços
oferecidos pelos provedores de internet expressos no Art. 7º da lei. (Inf.
http://www.egov.ufsc.br/portal).
O Marco Civil pode ser considerado uma importante conquista social, pois
essa nova legislação gera uma reflexão sobre os riscos e a importância da utilização
da Internet. Os usuários passam a ter mais segurança e começam a agir de forma
mais ética. Outro ponto que marca essa conquista é o caráter colaborativo que
ganha mais espaço na internet e é agora amparado pela Lei.
A participação de organizações responsáveis por movimentos sociais da
internet que ajudaram a elaborar as ideias inseridas na produção do Marco Civil (Inf.
http://marcocivil.com.br) com temas que tratam da “liberdade de expressão” (Art.2º)
como um direito fundamental para o cidadão se comunicar, se manifestar e
considera a internet importante para o “exercício da cidadania”, inclusive “a abertura
e a colaboração”, garante “a finalidade social da rede”, “a preservação da natureza
participativa da rede” (Art. 2º II, IV, VI, VII) dentre outros. Deverá no decorrer da sua
regulamentação, aprimorar normas para que não ocorram tantas irregularidades
nesse ambiente digital.
Contudo, verificou-se que quanto às transformações ocorridas com o cenário
jornalístico devido às tecnologias disponíveis que acabaram dando vez para o
Jornalismo cidadão, é preciso que haja a aceitação dessas mudanças, pois o
cidadão já conquistou o seu espaço nas redes.
53
REFERÊNCIAS
AGUIAR, Sonia. Redes sociais na internet: desafios à pesquisa. In. XXX Intercom-Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Santos, 29 de agosto a 2 de setembro de 2007. Disponível em: <http://portcom.intercom.org.br/navegaçãoDetalhe.php?option=trabalho&id=35506 >. Acesso em: 15 de março de 2014 ALVES, Rosental Calmon. Jornalismo digital: Dez anos de web... e a revolução continua. 2006. Disponível em: <http://revcom.portcom.intercom.org.br/index.php/cs_um/article/viewFile/4751/4465. Acesso em: 12 de maio de 2014. ARAUJO, Thiago Souza. Aprovação do Marco Civil da Internet Lei nº 12.965/2014. E-GOV. 2014. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/aprova%C3%A7%C3%A3o-do-marco-civil-da-internet-lei-n%C2%BA-129652014>. Acesso em: 18 de maio de 2014. BARBOSA, Suzana. Bases de dados e webjornalismo: em busca de novos conceitos. 2005. Disponível em: <http//:www.bocc.ubi.pt/pag/barbosa-suzana-bases-dados-webjornalismo.pdf>. Acesso em: 14 de maio de 2014. BARWINKS, Luiza. A World Wide Web completa 20 anos, conheça como ela surgiu. 2009. Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/historia>. Acesso em: 15 de março de 2014. BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Presidência da República, Casa civil. Brasília: 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil2011-2014/2014/lei/l12965.html>. Acesso em: 18 de maio de 2014. CANAVILHAS, João Messias. Webjornalismo: considerações gerais sobre jornalismo na web. Portugal: Biblioteca On-line de Ciência da Comunicação, Universidade de Beira Interior, 2001. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-webjornal.pdf>. Acesso em: 11 de fevereiro de 2014. CASTILHO, Carlos; FIALHO, Francisco. O jornalismo ingressa na era da produção colaborativa de notícias. In: RODRIGUES, Carla (Org.). Jornalismo online: modos de fazer. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Editora Sulina, 2009. 216 p.
54
CRUCIANELLI, Sandra. Ferramentas digitais para jornalistas. Tradução de Marcelo Soares, 2010. E-book. ERCILIA, Maria; GRAEFF, Antônio. A Internet. 2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. ESTADO de S. Paulo. (1996) Gates desafia a CNN. Disponível em: http://www.estado.com.br/jornal/96/07/15/GAYTE15.HTM. Acesso em 25 de abril de 2014. FERRARI, Pollyana. A força da mídia social. São Paulo: Factash Editora, 2010. ______. Jornalismo digital. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2010. FOLETTO, Leonardo Feltrin. Blogosfera x Campo jornalístico: aproximação e consequências. In. AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel; MONTARDO, Sandra. Blogs.com: estudos sobre blogs e comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009. E-book FOSCHINI, Ana Carmen; TADDEI, Roberto Romano. Jornalismo cidadão: Você faz a notícia. Coleção conquiste a rede, 2006. E-book. FRANCO, Augusto de. O poder nas redes sociais. In: Escola de redes, 2009. Disponível em: <http://escoladeredes.net/m/blogpost?id=2384710%3ABlogPost%3A30853>. Acesso em: 08 de maio de 2014. GARCIA, Filipa. Jornalismo cidadão. 2009. Disponível em: <http://ciberjornalismo-ulht.blogspot.com.br/2009/06/jornalismo-cidadão-pdf.html?m=1>. Acesso em: 25 de abril de 2014. KLEINA, Nilton. A história da internet pré-década de 60 até anos 80. 2011. Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/infografico/9847-a-historia-da-internet-pre-decada-de-60-ate-anos-80-infografico-.htm>. Acesso em: 15 de março de 2014. KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo na era virtual: ensaios sobre o colapso da razão ética. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo: Ed. UNESP, 2005. LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999.
55
LIMA JÚNIOR, Walter Teixeira. Mídia Social Conectada: produção colaborativa de informação de relevância social em ambiente tecnológico digital. In. SCHWINGEL, Carla; ZANOTTI, Carlos A.. Produção e colaboração no Jornalismo Digital. Florianópolis: Insular, 2010. 240 p. LIMA, Walter. Mídias Sociais Conectadas e Social Machines. In. BRAMBILLA, Ana. Para entender as Mídias sociais. 2011. E-book. MALINI, Fábio. Modelos de Colaboração nos meios sociais da internet: uma análise a partir dos portais de jornalismo participativo. In: XXXI Intercom – Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Natal, 2008. Disponível em: <http//:www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3_2015_1.pdf>. Acesso em: 05 de maio de 2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. Nenhum direito a menos! Disponível em: <http://marcocivil.com.br >. Acesso em: 19 de maio de 2014. MIELNICZUK, Luciana. Jornalismo na web: uma contribuição para o estudo do formato da notícia na escrita hipertextual. Tese de Doutorado em Comunicação e Culturas Contemporâneas, Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, 2003. Disponível em: <http://poscom.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/05/Luciana-Mielniczuk.pdf>. Acesso em: 14 de maio. 2014 _______. Sistematizando alguns conhecimentos sobre jornalismo na web. Disponível em: <http://suelytemporal.wordpress.com/artigo/utros-autores/sistematizando-alguns-conhecimentos-sobre-jornalismo-na-web/>. Acesso em: 14 de maio de 2014 MORILLON, Lucie; JULLIARD, Jean-François. Web 2.0 versus Controle 2.0. Repórteres sem Fronteiras. 2010. Disponível em: <http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf>. Acesso em: 14 de maio de 2014. OLIVEIRA, Natanael. As Redes Sociais mais usadas. 2014. Disponível em: <https://www.natanaeloliveira.com.br/redes-sociais-mais-usadas/>. Acesso em: 07 de abril de 2014. _______. Breve Conceito: redes sociais e mídias sociais. 2011. Disponível em: <https://www.natanaeloliveira.com.br/breve-conceito-redes-sociais-x-midias-sociais/>. Acesso em: 07 de abril de 2014.
56
PALACIOS, Marcos. Fazendo Jornalismo em Redes Híbridas: notas para discussão da Internet enquanto suporte mediático. Minas Gerais, 2003. Disponível em: <http://www.fca.pucminas.br/jornalismocultural/m_palacios.doc>. Acesso em: 13 de maio de 2014. PENA, Felipe (Org.). Jornalismo. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2005. _______. Teoria da Comunicação- conceitos, mídias e profissões. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2005. PERNISA JÚNIOR, Carlos; ALVES, Wedencley. Comunicação digital: jornalismo, narrativas, estética. Rio de Janeiro: Mauad X, 2010. PINHO, J. B.. Jornalismo na Internet: planejamento e produção da informação on-line. São Paulo, Summus, v.71, 2003. PIRIS, Rodrigo Gabriel. A diferença entre mídia social e rede social. 2010. Disponível em http://rodrigopiris.wordpress.com/2010/01/10/a-diferenca-entre-midia-social-e-rede-social/. Acesso em 07 de abril de 2014. PORTAL DA EDUCAÇÃO. Mídias sociais x Redes sociais: Qual a diferença?. Elaborado por Colunista Portal - Informática E Tecnologia, 2013. Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/48810/midias-sociais-x-redes-sociais-qual-a-diferenca#ixzz2yJYjjLVj > Acesso em: 08 de abril de 2014. PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2011. RECUERO, Raquel. A nova revolução: as redes são as mensagens. In. BRAMBILLA, Ana. Para entender as Mídias sociais. 2011. E-book. RODRIGUES, Carla (Org.). Jornalismo on-line: modos de fazer. Rio de Janeiro: Ed. PUC- Rio: Editora Sulina, 2009. RODRIGUES, Suzana Meireles. Internet. In. PENA, Felipe. Teoria da Comunicação - conceitos, mídias e profissões. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2005. 432 p. SCHWINGEL, Carla; ZANOTTI, Carlos A. (Org.). Produção e colaboração no Jornalismo Digital. Florianópolis: Insular, 2010.
57
SILVA, Gilmar Renato. O jornalista e a Internet. In: SILVA, Gilmar Renato. Novos jornalistas: para entender o jornalismo hoje, 2010. E-book. TORRES, Cleyton Carlos. Jornalismo-cidadão ou jornalismo com colaboração?. In. Observatório da Imprensa, edição 585, 13 de abril de 2010, Feitos e Desfeitos. Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/jornalismocidadao_ou_jornalismo_com_colaboracao>. Acesso em: 13 de maio de 2014. WIKIPEDIA. HTML. Disponível em: <http://pt.m.wikipedia.org/wiki/HTML>. Acesso em: 17 de março de 2014. WIKIPEDIA. HTTP. Disponível em: <http://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?search=http&fulltext=search >. Acesso em: 17 de março de 2014. ZAGO, Gabriela da Silva. O Twitter como suporte para produção e difusão de conteúdo jornalístico. In. 6º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, São Bernardo do Campo, São Paulo, 2008. Disponível em: <http://www.uff.br/ciberlegenda/ojs/index.php/revista/article/view/2>. Acesso em: 25 de abril de 2014.





























































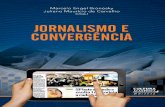













![Agência FOTEC – Vivências com a prática do [Foto]Jornalismo Experimental](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315f81d5cba183dbf083dd5/agencia-fotec-vivencias-com-a-pratica-do-fotojornalismo-experimental.jpg)



