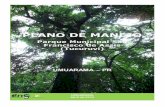Plano de acção
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Plano de acção
POTENCIAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NO BAIXO GUADIANA 2010 / 2025
PLANO DE GESTÃO PARA AS TERRAS DO BAIXO GUADIANA
(Rui Mateus escreve de acordo com a (mais bonita) antiga ortografia)
INTRODUÇÃO Fundamentação da necessidade de um Plano de Gestão: a pertinência doenquadramento político, social e económico actual, uma ocasião a nãoperder
O território do Baixo Guadiana, tal com a ele nos referimos, é umaentidade geográfica, que não tem correspondência formal, num planoinstitucional, jurídico ou político. No entanto, ao designá-lo assim,para lá das características históricas e bio-físicas que justificam adesignação, o que fazemos é expressar o sentido de uma visãoestruturante para o desenvolvimento local de uma parcela do sul dePortugal, uma expressão que é a síntese do argumento idealista desteplano – as terras do baixo guadiana como um território único.
No entanto, este não é ainda o momento de avançar para um qualquerpropósito de reconfiguração administrativa como primeiro passo para adinamização do referido território. A tradição de uma divisãodistrital algo artificial continua a impor-se como particularmentedominante em todo o País – mesmo no cenário das actuaisreconfigurações intermunicipais -, e parece-nos, portanto, um caminhodesnecessário, senão errado, com infrutífero dispêndio de energias erecursos, investir numa proposta de agregação das entidades municipaisque administram o território geográfico do Baixo Guadiana.
Mais útil parece ser o objectivo de congregar sinergias que possamdemonstrar a validade da cooperação intermunicipal e comunitária, nosentido de concretizar o potencial existente, fazendo um caminhoinverso, em que projectos desenvolvidos em cooperação, com objectivosconcretos para a melhoria das condições ambientais e socio económicasdas suas populações, poderão, num qualquer futuro, vir a justificar aconstrução de uma unidade formal nova, dotada de um distinto modelo deadministração política e institucional.
A área do desenvolvimento turístico, por ser precisamente aquela quejá usa o território ecológico e geográfico do Baixo Guadiana também
como matriz de referência, é a actividade que pode servir,precisamente, como laboratório para essa cooperação institucional; etambém, coincidentemente, é a área de actividade que, pela diversidadedos stakeholders que com ela se relacionam, que pode servir de campode avaliação do desenvolvimento deste território a partir de uma ideiade cooperação comunitária, visando igualmente a sustentabilidade dosseus recursos, como modelo fundamental para a construção de umasolução de grande durabilidade temporal, que permita a estabilizaçãodas condições actuais, trabalhando para a sua melhoria e evitando oseu agravamento. Um plano de acção para a gestão turística com estavisão em prol da sustentabilidade local pode ser um instrumentoprecioso para a concretizar,
O turismo sustentável pode gerar emprego e ganhos financeiros para apopulação local, fornecendo igualmente motivação e incentivos para aconservação ambiental e patrimonial, contribuindo nesse aspecto para aconsciencialização do público para a diversidade biológica e cultural,para os saberes e práticas tradicionais da região.
Do ponto de vista estratégico, e como se verá no desenvolvimento desteplano de gestão, é preferível adoptar uma metodologia conceptual queseja o mais integradora possível. Considerando, como se verá nadescrição territorial, que uma parte considerável do mesmo são jááreas de protecção ambiental classificadas, faz todo o sentido adoptaruma metodologia que considere o conjunto do Baixo Guadiana como se deuma área de reserva ambiental integral se tratasse. Esse procedimento,que visa o melhor do seu sistema de gestão e conservação, e não o piordas suas limitações regulamentares, permitiria ir desenvolvendoeconómica e socialmente o território, com imediata integração decláusulas de protecção e promoção ambientais (referimo-nos aqui aambiente natural e cultural, em simultâneo, incluindo as práticas deuso tradicional e cultural que as interligam), que garantiriam osucesso da estratégia turística no presente e no futuro.
O desenvolvimento de práticas de turismo sustentável em áreaconsideradas como reserva natural também permite a introdução,assimilação e desenvolvimento das linhas orientadoras internacionaisde protecção da biodiversidade, tal como estão consignadas naConvenção da Diversidade Biológica que foi assinada em 2004. Estesprincípios promovem o turismo sustentável e fornecem um quadroorientador para o planeamento da gestão turística. Estão focalizadas
no turismo que se pratica em áreas de reserva biológica, mas podemser, apesar disso, aplicados a outros territórios. No Baixo Guadiana,onde existe essa coincidência de zonas protegidas e/ou classificadascom outras que o não são, devemos conduzir a nossa reflexão no sentidode ter um plano de gestão integrador do conjunto, com predomínio doconceito conservação, para que assim se possa garantir asustentabilidade global de todo o sistema proposto, que assente, comojá se afirmou, no potencial dos recursos locais.
É preciso não nos esquecermos que gerir o turismo significa igualmenteavaliar os impactos actuais e futuros do desenvolvimento turístico emonitorizar os impactos das actividades turísticas. A monitorizaçãodeve ser baseada em indicadores claros, em análises das capacidades decarga, na definição dos limites aceitáveis de mudança e noestabelecimento de mecanismos que devem ser activados no caso dedesenvolvimentos desfavoráveis. Um plano de gestão deve funcionar comouma ferramenta que ajuda a alcançar resultados de modo mais eficientee com custos mais proveitosos; deve mostrar as prioridades e salientaros piores problemas causados pelo desenvolvimento turístico e oscaminhos para resolver esses problemas; deve identificar com clarezaaquilo que é necessário fazer e quem é responsável por executar astarefas que foram identificadas; deve ajuda a planear as tarefas quedevem ser executadas pelos gestores das áreas naturais protegidas,pelas autoridades locais e pelos operadores turísticos; deve asseguraruma gestão continuada e consistente e informa os futuros gestoresrelativamente ao que foi feito, assim como porquê, quando e de quemodo foi executado.
Mas não devemos, igualmente, esquecer que a metodologia para aelaboração desse plano deve ser estabelecida visando, também ela, osucesso da estratégia a implementar. Daí que, como se verá no decursodesta proposta, se opte claramente por um modelo que faça sobressair aparticipação comunitária e os procedimentos de gestão em governançapartilhada. Sem o contributo empenhado das populações, querindividualmente, quer através das suas organizações colectivas, umatal proposta de plano, imposta por organismos exógenos ou em políticaspúblicas top down, podem não corresponder às legítimas expectativas einteresses das comunidades locais, ficando irremediavelmente condenadaao insucesso. Um plano de gestão para este território deve serelaborado seguindo as tendências democráticas que estão a evoluir noquadro europeu, para todos o sistema de políticas e serviços públicos,
em que a governança, como prática, começa a ser cada vez maisintroduzida: uma preparação participada favorece uma melhor prestaçãode serviços, e uma gestão e avaliação feita em cooperação com ascomunidades de utilizadores tem largamente contribuído para uma melhoreficácia económica dos mesmos, com acrescidos ganhos quer em termossociais quer da própria sustentabilidade dos sistemas de suporte. Semeste modelo de gestão participada os projectos acabam por não gerarconsensos, antes produzem entropias, e o desperdício de recursos semproveitos dignos de referência.
Dai que este plano de gestão sugira procedimentos que permitam quetodos os membros da comunidade local podem ser agentes activos domesmo Através deles, a entidade gestora (que a seu tempo seapresentará neste documento), que deve ser um consórcio local,comunica, a todos os stockholders relevantes e a um público maisvasto, os objectivos da gestão do turismo sustentável desde o iníciodo processo de planeamento. Isto assegura o seu apoio e envolvimentono processo e pode, por sua vez, identificar possíveis conflitos aindanuma fase inicial (parte desta avaliação foi feita no decurso doprocesso de elaboração deste plano de gestão).
Um plano deste tipo tem vantagens de reflexão e de planeamentoestratégico que são inegáveis, mas igualmente enquanto instrumentoconcreto de execução de medidas, que passam a integrar-se numobjectivo final de desenvolvimento para este território. Assim, oplano do seu conjunto pode servir para reforçar e qualificar as infraestruturas e sistemas de serviços públicos no Baixo Guadiana,imprescindíveis ao favorecimento das condições de desenvolvimentosocio-económico, à atracção de investimentos e à rentabilizaçãosustentada das actividades e empreendimentos turísticos em geral; aestruturação do plano pode permitir agir no sentido de concretizartodo o potencial turístico do território, e das estruturas neleexistentes ou a criar; o plano permite igualmente organizar os modelosde promoção do Baixo Guadiana enquanto destino turístico, contribuindopara a melhoria do seu posicionamento nacional e internacional comodestino turístico, valorizando um território que está vocacionado paraum turismo de qualidade, estruturado a partir dos recursos locais e dasua sustentabilidade; nesse sentido, o plano:
a) Atrair ao Baixo Guadiana investimentos geradores de postos detrabalho e de riqueza, que sejam indutores da qualificação das
potencialidades turísticas do Guadiana, designadamente através doapoio à instalação de projectos estruturantes e estratégicos para oturismo, que sejam centros de mobilização dos demais recursosturísticos endógenos;
b) Apoiar a organização e promoção turística integrada ao longo de todoo Baixo Guadiana, visando atrair a esta dinamização a parteespanhola da sua margem, quer na parte da Extremadura, como daAndaluzia (neste caso, reforçada a partir da constituição da regiãoEuropeia AAA), como forma de ganhar dimensão e visibilidade nomercado internacional, assim reforçando as sinergias eu deste planopossam resultar;
c) Assegurar que o esforço de dinamização e valorização do potencialturístico do Guadiana será ajustado às características da região eaos valores culturais próprios, induzindo o aproveitamento dopatrimónio já edificado e a carecer de reafectação, no sentido decriar uma oferta turística específica e contribuindo decisivamentepara a preservação e a valorização dos recursos e dos valoresessenciais ao Baixo Guadiana, designadamente ao nível da cultura,tradição rural e património, e da paisagem, natureza e ambiente.
INTRODUÇÃO - ACRESCENTOS
Políticas 44
“Em termos de promoção, o governo português, definiu novas áreaspromocionais e um novo conceito de mercado interno. A recenteabordagem à promoção é baseia-se numa visão complementar. Poroutras palavras, o objectivo português é o de promover Portugalcomo um destino turístico, sem esquecer a imagem de Portugalcomo um todo, com tudo o que tem para oferecer.” (COKE, 2000,28)
PARA ACRESCENTAR NA INTRODUÇÃO
Neste estudo foi feita uma caracterizagao do turismo no Baixo Guadiana, ao nivel dos recursos
naturais e culturais e das instalagées e infraestruturas existentes neste territério.
O modelo de turismo local é marcado nic so pela oferta e procuraassociada aos destinos
turisticos, mas também representa o grau de desenvolvimento que em reIa;5o as
infraestruturas, socioeconomia e politicas territoriais tornam um territério turistico unico.
Neste caso, também devemos Iembrar que o modelo analisado é Iocalizado em quatro
municipios diferentes, levando a outros fatores administrativos,fiscais e, politicos - que tém
algumas semelhangas, mas também tém elementos diferenciadores e formas de promogio
turistica diferentes.
A atividade turistica no territério do Baixo Guadiana e, portanto, o atual modelo de
desenvolvimento pode ser definido em Iinhas gerais por duas caracteristicas que o definem e
marcam substancialmente:
Existe, do ponto de vista turistico, duas areas distintas, que correspondem a uma érea costeira
e cujos principais expoentes 550 a cidade de Vila Real de Santo Antonio e, em menor medida,
Castro Marim, os quais desenvolveram um modelo de turismo de sole praia, que atua como o
principal foco de atragio para os turistas de hoje.
Existe ainda uma zona de interior composta pelos restantes municipios, Mértola e Alcoutim
com um menor nivel de desenvolvimento turistico que atuam como oferta complementar para
os destinos acima mencionados.
O rio Guadiana, o principal recurso natural da area e eixo vertebral do territério que
historicamente tem desempenhado um papel de fronteira, representa na atualidade a
possibilidade de Iiderar uma estratégia comum de desenvolvimentoturistico que tenha na
sustentabilidade e equilibrio ambiental os seus principais valores.
A representagao do modelo atual de desenvolvimento turistico é marcado por um maior
desenvolvimento do turismo no Iitoral do que nas Iocalidades do interior, com base numa clara
preponderancia do turismo de sol e praia, em oposigao a ele, a tendéncia do futuro modelo,
devera estar marcada por um desenvolvimento conjunto, sustentavel e com um claro enfoque
no turismo integrado no ambiente natural, tendo no rio Guadiana como recurso fundamental
para tal desenvolvimento.
Estas duas caracteristicas mencionadas marcam o nivel de desenvolvimento turistico, afetando
a oferta basica, com uma clara dicotomia entre litoral / interior, com valores e dados relativos
ao tipo e mimero de alojamentos completamente diferentes em ambas as areas, bem como a
oferta complementar e outros equipamentos turisticos relacionados com o grau de utilizagao
dos recursos.
A forga da zona costeira coloca de certa forma em segundo plano a zona de interior, uma vez
que esta area também faz parte de uma oferta turistica de sol e praia consolidada em grande
medida, como sao os destinos do Algarve. Ambos os destinos, nos quais se localiza Vila Real de
Santo Anténio e Castro Marim, representam uma percentagem significativa neste tipo de
oferta a nivel regional e nacional, sendo que em Portugal 35% dacapacidade hoteleira total a
nivel nacional (INE Portugal 2010) se concentra no Algarve.
Na zona costeira desenvolveu-se um turismo assente na existénciade praias, com a criagao de
importantes complexos hoteleiros, que representam 9S,2% da capacidade de alojamento do
,___
territério estudado.
Em contrapartida, na area do interior, a oferta bésioa é muito reduzida, sendo mais acentuada
no municipio de Mértola. Até mesmo o tipo de estabelecimentos é totalmente diferente, com
uma clara predominancia de estabelecimentos rurais. Isto signitica que a oferta turistica
atualmente existente nesta area, esta voltada para umjurismo muito menos massincado, mas
mais integrado com a natureza e com o rico e variado patriménio cultural e natural da zona
ribeirinha do Baixo Guadiana.
Est diferenciagao da oferta, tem-Se destacado na analise dos recursos culturais e naturais, nas
quais existe uma base muito interessante para formar um produto turistico que tenha como
eixo estruturante o Rio Guadiana, tanto pela identidade que estes recursos tém como pela sua
relagao histérica com o mesmo.
Importa ainda mencionar que, embora seja claro que o foco turistico atual é o que abarca a
faixa costeira, as tendéncias de procura atuais estio cada vez mais orientadas para um tipo de
turismo mais integrado com 0 meio ambiente, com a realizagio de atividades, conhecendo
Iugares e interagindo com a cultura e os costumes dos destinos visitados.
E necessério formar um produto turistico em torno do Rio Guadiana, fazendo com que o
turismo funcione como motor de desenvolvimento econémico das Iocalidades do Baixo
Guadiana.
Prova disso s§o os diferentes instrumentos de planeamento desenvoividos pelas instituigées
publicas e que tém uma influéncia decisiva na e|abora¢5o deste modelo turistico: desde
politicas a pianos regionais, as estratégias desenvoividas pelosatores locais, todos tém como
objetivo alcangar um modelo de turismo sustentével, baseado principalmente num turismo de
natureza totalmente integrado no territério e que respeite o grande valor ambiental e
ecolégico do mesmo. a MMA Jo AFX ‘¢¢W_ yg)-.M A 54.2
,u_/u./Af-'Gt ¢&¢»,$' Ile-\¢p».».(_]¢' 'rf ,
O maior desenvolvimento turistico da zona litoral consequéncia de uma maior agio do homem
sobre o meio, provocou a execugao de um turismo mais massificadoque na zona do interior.
Este desenvolvimento teve como resuitado uma importante oferta de alojamento tanto em
numero de estabelecimentos como em numero de vagas, e cujos tipos de alojamento mais
representatives scio as residenciais, aparthotéis, hospedarias ehotéis. N50 ocorre assim na
zona do interior, na qual os estabelecimentos rurais sao a tipoiogia mais comum.
A estada média dos turistas na zona litoral é maior que na zona do interior, isto deve-se
principalmente a formagao de pacotes de férias oferecidos pelas grandes cadeias hoteleiras.
Os estabeiecimentos do interior nao desenvolvem este tipo de produtos, ao menos ao nivei
dos grandes hotéis.
Observou-se que a sazonaiidade é mais visivel na zona do litoralque na do interior, jé que os
meses de maior ocupagao sao os de ver5o com muita diferenga sobre o resto da temporada.
Na zona do interior, existe uma maior repartigio da ocupagio ao Iongo do ano.
Em ambas as zonas, destaca»se o clima como um dos fatores importantes na hora de eleger o
destino do Baixo Guadiana, jé que nos encontramos numa das areascom o clima mais benigno
de toda a Europa.
E importante destacar que tipos de atividades sac as mais necessérias para a
complementaridade de ambas as zonas. Se bem que na zona do litoral existe uma pré-
disposicio a atividades préprias de sol e praia, cada vez mais atendéncia atual esta inclinada
para a realizagao de atividades diferentes ou ao menos distintasdas habituais. Neste caso, o
Baixo Guadiana oferece uma grande variedade de possibilidades, fundamentadas numa serie
de recursos préprios de grande valor. Bens patrimoniais, recursos naturais e elementos
etnograficos, representam uma atrativa oferta para realizar miiltiplas atividades: destacam-se
principalmente as visitas aos sitios relacionados com os recursos naturais de cada localidade,
os castelos e fortificaciies, os recursos patrimoniais e etnogréficos e as praias, as quais se
podem levar a cabo em todo o terrltério do Baixo Guadiana, pois mesmo os concelhos do
interior tém como oferta praias fluviais.
Tudo isto leva a que se insista que o modelo de desenvolvimento deve estar ao nivel das novas
necessidades dos turistas, que exigem dos destinos uma maior oferta de atividades e
possibilidades de realizaéo de novas experiéncias. Isto deve-se principalmente a diferentes
motivacoes, desejo de experimentar, aprender, etc. No caso da zona do interior, é esta uma
caracteristica comum tanto dos turistas internacionais como nacionais, também, existe um
especial interesse em conhecer detalhes sobre a zona, cultura, costumes, etc.
Ha que mencionar também uma serie de consideragées que cada vez mais estio influenciadas
sobre os diferentes movimentos, que fundamentam o desenvolvimento de um modelo
turistico conjunto do Baixo Guadiana:
~ Cada vez mais 0 turista procura conhecer e experimentar uma maior variedade de emociies,
com o que é necessario a realiza<;5o de mais atividades. No casodo territério do Baixo
Guadiana, o intervalo de possibilidades aumenta notavelmente ao contar com as Iocalidades
do interior.
- Procura-se o regional, o original, o que impiica que os destinos turisticos tenham de estar
continuamente a langar novas ideias e promogées, e combinando multiplas atividades: turismo
de golfe -turismo néutico, turismo cultural -turismo ativo, etc.
- As viagens de low cost provocaram um not:-ivel aumento das viagens na ultima década,
principalmente a destinos turisticos consolidados, como o Algarve (aeroporto de Faro).
- Os meios de comunicacao e internet, facilitaram e melhoraram sem lugar para duvidas a
comercializacao dos diferentes produtos turisticos, abordando aos turistas os recursos
patrimoniais, os elementos naturais, etc.
Na atualidade, o territério do Baixo Guadiana carece de uma imagem diferenciada nos
mercados turisticos. Estas zonas correspondem a um modelo administrativo de cada
municipio, o que seria muito importante contar com uma estratégia conjunta, que englobse
todo o territério, com o fim de poder identificar o modelo de desenvolvimento turistico de
forma singular, facilitando assim o desenvolvimento da oferta e da sua promogao.
Se bem que existem diferentes instituigées, entidades e organismos que intervém com mais ou
menos intensidade na promogao do seu territorio. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo
e a Entidade Regional de Turismo do Algan/e, sic quem executa esta fungi-io de forma oficial,
no entanto como um dos municipios do Baixo Guadiana pertence a regiio do Alentejo, nio
existe uma promogao conjunta deste produto turistico.
O desenvolvimento da regiio do Baixo Guadiana deve assim ser entendido como uma tarefa
coletiva de promogio igual de oportunidades, o que impiica a procura de iniciativas
”inovadoras" no plano das atividades econémicas e de exploragiiode recursos, como o turismo
nas suas diversas modalidades, implicando a promogio de novos e mais ativos protagonismos
Iocais, através de parcerias mais operativas.
A estratégia de desenvolvimento desta regiao deve implicar a conciliagao de eficécia
economica com politicas de protegio social e de justiga redistributiva, tendo como objetivo a
integragao destes quatro municipios em contextos mais vastos, bem como o desenvolvimento
de redes e de Iagos relacionais fortes, de forma a procurar posi;5es mais vantajosas no
exercicio de influéncia nos contextos de poder.
A almejada articulagao sub-regional depende, em Iarga medida, davisao politica para o
desenvolvimento dos territories, porque desde que os responséveis politicos percebam as
mais-valias em caminhar em conjunto e que podem efetivamente ganhar 'escala’, abrir-se»é
todo um conjunto de oportunidades economicas e sociais promotoras de mudanga. Apostar na
articulagao dos territérios e das suas potencialidades, criando uma 'marca' sub-regional e
promovendo rotas e roteiros, é uma forma de afirmar o Baixo Alentejo como sub-regiao e de
contribuir para esbater a ainda existente dicotomia litoral-interior. Querendo ser mais
ambiciosos poder-se-é mesmo pensar numa articulagio transfronteiriga, a semelhanga do que
ja existe no Noroeste Peninsular com excelentes resultados para o Norte de Portugal e Galiza.
Pressupostos da estratégia:
- históricos: o Guadiana como espaço vital
Um projecto desta natureza, de dinamização do Baixo Guadiana,não pode, como é evidente, deixar de retirar muita da suajustificação do facto de que estarmos perante uma estratégia dereconstituição de uma área com uma dimensão histórica, que
embora não tenha tido essa classificação administrativa em algumperíodo do seu passado institucional, não deixou de ser umespaço vital enquanto território natural, económico e cultural.
As marcas do passado comum são por demais evidentes. Os 3concelhos mais antigos desempenharam um papel vital enquantoescalas do grande rio do sul durante os séculos em que este,integrado em vários reinos locais, como no período tartéssico ouvisigótico, ou nos grandes impérios mediterrânicos de Roma e doIslão, foi uma via de acesso fundamental de trocas comerciais ede exportação metalífera para os recursos de toda a regiãobaixo-alentejana. Criado o reino de Portugal, os seus casteloscumpriram, em diversos períodos da nossa história, o seu papelde baluartes da independência e de garante da defesa dasoberania lusa face ao vizinho ibérico. Quando Vila Real deSanto António, por determinação régia, nasceu para se juntar aogrupo, essa fundação não fez senão atestar da importânciacomercial e económica que o rio também possuía, para lá damilitar. O contínuo de mercadorias, que subiam e desciam pelagrande estrada fluvial, alimentava as gentes que se acolhiam nassuas margens, e criaram, entre elas, laços identitários queperduram, ainda, nas gerações mais idosas, que viveram, e aindaacarinham, esse quotidiano de então.
Os pescadores, alentejanos e algarvios (para usar os termos dosactuais distritos, construíram uma comunidade cujas tradiçõesdas artes ainda revelam da comunhão cultural em que viviam. Eesta é uma das marcas que ainda persistem dessa vivênciapartilhada. A linguagem dos naturais deste território exprime-se, em parte, em termos que ilustram essa permanentetransumância entre Mértola e Vila Real de Santo António,cruzando etimologias com sotaques duma forma tão partilhada queé evidente que vários séculos foram vividos em comum, nesseBaixo Guadiana tão percorrido mas ao mesmo tempo tão periféricopara qualquer uma das nações a que pertenciam. Muitos dosaspectos que aqui se referem eram também partilhados com osvizinhos da parte castelhana, e não foram poucos os momentos dahistória em que essas solidariedades falaram mais alto do que aobediência aos ditames das distantes capitais de cada um.
A história deixou, por isso, uma marca identitária que nãodesapareceu, ainda totalmente, nos nossos dias. Num espaço tãodesertificado e seco com o são as regiões envolventes doGuadiana, o rio e a riqueza que dele brotava, mesmo que comesforço, eram um inevitável chamariz ao estabelecimento decomunidades nas suas margens ou imediações. Um modelo quepretenda a reconstituição e a renovação desse potencial, feitode recursos novos mas também dos tradicionais, geradores deriqueza económica, de dinamização social e de desenvolvimentoterritorial sustentável e integrado, não pode deixar de apelar àherança histórica, simbólica e identitária que o Baixo Guadianarepresenta. Nestes projectos, e porque a cultura e asmentalidades contam mais do que poderá parecer aos maisincautos, a vontade de repetir momentos de maior riqueza e demaior autodeterminação, como em algumas épocas do passado, podeser o factor aglutinador que despolete vontades e que faça ahistória passada tornar-se o momento presente.
- ambientais e patrimoniais: as vantagens doatraso do «progresso»
Os recursos naturais e ambientais do Baixo Guadiana seriam, porsi só, suficientes para justificar um projecto desta natureza,que visa a gestão integrada de um espaço geográfico determinado.Para lá dos aspectos meramente geofísicos - é incontornável queestamos no quadro natural de uma parcela da bacia hidrográficado Guadiana, um território físico que apresenta algumasespecificidades que por isso, lhe traçam os limites – é desalientar a existência de importantes áreas naturais, FAZER AQUINOTA LATERAL que ocupam uma parcela considerável do territórioem análise. Essas parcelas em si mesmas, são testemunho dagrande bio-diversidade do Baixo Guadiana, algumas delaspossuindo inclusive reconhecimento internacional pela suaelevada qualidade e pelas espécies que nelas se abrigam,representando não só uma importante reserva ecológica nacional einternacional, como igualmente constituem um recurso natural quetem possibilidades de usufrutos de lazer e turísticos que podemintegrar e valorizar a estratégia de desenvolvimento localsustentável que este plano preconiza. Acrescentar, aliás, como
reforço do já dito anteriormente, que estas áreas, juridicamentedefinidas, são a espinha dorsal geográfica de uma área quetambém tem a sua «unidade histórica» enquanto território. Duasdessas áreas, o Parque Natural do Vale do Guadiana e a ReservaNatural do Sapal de Castro Marim possuem, inclusive, uma zona deconectividade, demonstrando como existem condições de base e defacilitação de integração que podem ser potenciadas em favor dodesenvolvimento do território. É necessário portanto, avançar emmedidas que permitam uma gestão partilhada, e tal pode ser feitoaproveitando igualmente o momento para trazer uma parte dessagestão para a participação da comunidade, produzindo um modelode governança em que os stakeholders locais passam a integrar oplaneamento, as decisões, mas, também, as actividades deprotecção, conservação e dinamização dessas mesmas áreas.
No campo do património cultural - seja material ou imaterial – ariqueza deste território do Baixo Guadiana é igualmenterelevante, quer na sua dimensão, mas particularmente na suadiversidade. Sem estar a entrar na inventariação detalhadadesses recursos (há inúmeros estudos que o fazem) NOTA LATERALCOM O ULTIMO, e num documento de avaliação e propostaestratégica como este, mais vocacionado para as metodologiasoperativas, essa minúcia não se justifica. O patrimónioedificado, como se focou no sub-capitulo anterior, mostra como aregião esteve integrada nos momentos regionais e nacionais,possuindo vestígios dos diferentes momentos, espelhando quer ocontacto com as correntes culturais exógenas – que se expressanos detalhes e monumentos mais eruditos – quer demonstrando oresultado de uma qualquer especificidade local e/ou regional, defeição muitas vezes marcadamente popular, mas que, hoje, lhepermite ter um cunho de originalidade e de singularidade quepode ser, igualmente, valorizado no quadro de uma estratégialocal de turismo.
Merecedora de grande destaque é a complementaridade que osdiferentes recursos representam como potencial de ofertacultural. De facto, neste território é possível encontrar, numespaço geográfico não muito extenso e facilmente acessível deextremo a extremo, uma enorme diversidade de vestígios materiaisdas épocas culturais e funcionais do mesmo. Há patrimónioedificado de qualidade, existem espaços museológicos ao longo de
todo o território, permanecem vestígios de práticas ancestrais,algumas ainda a funcionar, outras apresentadas soba forma depatrimónio visitável ou observável, e que espelham o percursohumano neste troço navegável do Guadiana. Do interior ao litoral(ou vice-versa), o visitante pode encontrar uma história dessatroca, dessa partilha, dessa complementaridade que as distintasterras que o Guadiana atravessa usufruíram durante séculos embenefício e pelo esforço dos seus habitantes. «Dos borregos àssardinhas» podia ser uma metáfora curiosa para essa mescla tãointeressante de práticas culturais quotidianas, algumas delasainda sobreviventes.
O «atraso» da moderna civilização em chegar, ou os menoresimpactos que foi tendo nesta região (apesar de mais intensos,claro, na estreita faixa altamente urbanizada do litoral (já)marítimo) permitiu que algum desse património vivo ainda aípermaneça, e possa ser mobilizado e enriquecido, representandoum dos maiores potenciais que a região, no seu conjunto, podeter para dispensar aos seus visitantes. A matéria-prima de todoeste plano estratégico.
- sociais: participação comunitária nagovernança
A estratégia a ser seguida para o Baixo Guadiana não podeignorar a evolução dos conceitos que a globalização veiointroduzir nas políticas regionais, onde o local interage com oglobal (o que até originou o conceito e a expressão “Glocal”,onde, numa perspectiva global, a pertinência incide no local).Neste contexto de globalização, o espaço é cada vez mais umterritório. Ora o território é também o espaço de vivência dascomunidades humanas, o que implica que a articulação dosrecursos com as estratégias seja feita de uma forma que tenharelevo social. O que em termos práticos significa que aquelesque sofrem impactos resultantes das escolhas possam passar aassumir um papel distinto na definição das políticas que estãosubjacentes a essas opções. Esta forma de fazer intervir acomunidade, tornando possível a endogeneização de recursos comoa tecnologia, os bens, os serviços, as organizações, resulta
numa maior co-responsabilização e envolvimento de todos osatores.
Esta estratégia de envolvimento social dá maiores probabilidadesde sucesso ao processo desejado de desenvolvimento localsustentável, já que o desenvolvimento se faz com a comunidade epara ela.
O território, numa tal metodologia de intervenção, valoriza-se ereforça-se, ao ser entendido como um contexto de acção social ede ação coletiva, onde a questão da cidadania e da governançaentram na agenda política (local mas também regional enacional), dando corpo ao que se pode designar de paradigma dainter-territorialidade, que neste cenário multi-municipal doBaixo Guadiana muito claramente se aplica. Este paradigmaestimula “a participação efectiva dos grupos directamenteemanados da sociedade civil nos processos de desenvolvimento(aquilo a que neste plano de gestão chamamos stakeholderslocais), ao consolidar uma cultura estratégica de concertação debase e inter-territorial atenta aos diferentes tipos de actores(públicos, associativos e privados).
Esta evolução do conceito de desenvolvimento acompanha oaparecimento de uma nova estrutura de governação social, maisfocada nos cidadãos e procurando dinamizar novas formas departicipação, de descentralização e de governança. Nessasplataformas, que estão a emergir um pouco por todo o lado,interagem interesses individuais, colectivos e gerais, e sãoestruturadas novas formas de organizar e gerir os territórios,ou seja, novos modelos de governação territorial.
Governar, tal como é entendido nas sociedades europeias naactualidade, deve assentar num esforço para activar e coordenaros actores sociais, de tal modo que as intervenções públicas, dasociedade civil (como ONG’s) e das organizações privadasrespondam às necessidades decorrentes do esforço de trataradequadamente os problemas e fazer uso das oportunidades que seapresentam à sociedade contemporânea. Este papel que os governosmodernos devem desempenhar, concretiza-se através das parcerias,da modernização administrativa, bem como no desenvolvimento deredes de cooperação (inclusive tirando partido das novastecnologias). No quadro do Baixo Guadiana, onde o plano social
é, na grande maioria do seu território, dos que maioresdificuldades atravessa, estas novas plataformas poderiamdesempenhar um papel muito importante, cruzadas numa estratégiaque pretende fazer do turismo a alavanca do crescimentoeconómico – alavanca que inclui o gerar de emprego, que poderásuprir alguns campos das desvantagens sociais que neste momentose podem aqui encontrar. O cruzamento de uma ideia de governançacom esta opção de desenvolvimento local permitirá assegurar oendossamento e participação social que o projecto forçosamentetem que integrar para ter sucesso num modelo desustentabilidade; estes, como já foi referido, requerem aintegração da participação comunitária e a adesão da comunidadeem si mesma à escolha colectivamente decidida.
Por último, a participação social na governança requer o aumentoda capacitação social. Os processos para assegurar essecrescimento devem obrigatoriamente fazer parte de um plano degestão do território, se se pretende efectivamente obter para omesmo uma gestão partilhada. Não devemos esquecer que, aoassegurar esse aumento das capacidades de cidadania dacomunidade, vamos obter maior inclusão social, uma sociedademais democrática e uma mais eficiente coordenação dos diferentesgrupos e etapas.
A participação dos cidadãos nos processos de decisãorelacionados com a gestão comunitária e com as políticaspúblicas são pertinentes no seu bom desenvolvimento, coordenaçãoe de avaliação, sem deixar de considerar que, actualmente, aideologia da governação é cada vez mais a de uma gestãopartilhada, de uma governação democrática, multiplicando-se asformas de representatividade dos cidadãos. Num contextomunicipal como aqueles que está constituído no Baixo Guadiana, eque não se pretende nesta plano de gestão, alterar, algumas dasetapas de representatividade social e política estão jáconsagradas. Restam, o que não é pouco, a evolução para umametodologia de maior participação – contornando o sistema demera legitimação dos programas eleitorais a cada 4 anos -,conduzindo a sociedade e o território para uma tipologia degovernança que, á medida que a capacitação for crescendo, sepode ir alargando a vários campos da gestão local. O turismo,pela transversalidade de stakeholders que mobiliza, não deixa de
ser um campo interessante para desbravar esse novo caminho parao progresso social.
- políticos: a reafirmação local no quadro regionale nacional e a legitimidade da gestão turísticalocal
Os pressupostos políticos das propostas integradas neste plano degestão são de duplo âmbito, um mais local outro mais regional enacional. Começando por este último, o desenvolvimento, pelos quatromunicípios, de um projecto de gestão turística para o Baixo Guadiana,mesmo que meramente sob a figura de protocolo, permite reforçar umaarticulação que até aos dias de hoje tem sido apenas pontual eexperimental, passando esta a ser regular e estruturada. A almejadaarticulação sub-regional depende da formação de uma visão políticapara o desenvolvimento dos territórios, esperando-se que este plano degestão possa sensibilizar os responsáveis políticos para reconheceremas mais-valias de caminharem em conjunto. A aquisição de escalacomparativa - face a outras regiões e áreas turísticas, e face àsinstituições públicas de gestão turística - permitirá, aos quatromunicípios do Baixo Guadiana, o acesso a todo um conjunto deoportunidades económicas e sociais promotoras de mudança. Apostar naarticulação dos territórios e das suas potencialidades, criando umamarca sub-regional e promovendo rotas e roteiros, é uma forma deafirmar o Baixo Guadiana como sub-região e de contribuir para esbatera ainda existente dicotomia litoral-interior.
Como se referiu a propósito do património, também aqui deve vingar oargumento político da complementaridade. A resolução dos problemassociais será mais bem conseguida articulando estratégias. A falta depeso demográfico das regiões do interior pode ser compensada com amaior dimensão de população e de visitantes das zonas mais próximas domar, contribuindo por sua vez para tornar estas menos dependentes do«sol e praia», e dar-lhes maior peso no quadro político da sua regiãoespecífica, dentro da qual o seu posicionamento é, igualmente,periférico, como o é o concelho mais interior no quadro da região aque pertence. A assunção de uma nova área turística voltada para oGuadiana permitir-lhes-ia um acesso privilegiado a territóriosculturais distintos, tornando todo o conjunto mais rico e cativante,
no quadro de uma estratégia turística. A percepção do valor destecaminho e a decisão de o incentivar, cabe, no quadro municipal actual,aos políticos que se ocupam da sua gestão. Vislumbrar a possibilidadede um maior equilíbrio e sustentabilidade, mobilizando as populaçõesatravés de processos participativos, para nele se integrarem, cabe-lhes também, aos políticos locais, certamente. Nesta dimensão dadecisão, há um papel dinamizador deste quadro territorial aquidesignado por Baixo Guadiana que está longe ainda de estar plenamentepreenchido. O avançar nesse sentido é a parcela da visão que em grandemedida cabe aos que se ocupam da gestão da «coisa pública», haja avontade de percepcionar as vantagens políticas de uma decisão em prolde uma maior autonomia, de uma maior sustentabilidade, de uma maiorpartilha dos processos de gestão integrada do território. A vontade,segundo os inquéritos que foram realizados para sustentar este plano,parece existir. Faltam os passos da concretização concreta destaestratégia local, alguns dos quais se deixarão enunciados nestaproposta.
A dimensão política, a querer-se mais expressiva, poderá mesmo vir aconduzir, no futuro, a uma articulação transfronteiriça, à semelhançada existente no Noroeste Peninsular, entre o Minho e a Galiza,igualmente dinamizada por um rio de margens partilhadas. É verdade quea dimensão populacional e que o número de localidades das suas margenso facilita, mas, com um modelo adaptado ao território em causa, essa éuma dimensão da partilha da qual o Guadiana não deverá ficar afastadonum futuro próximo. Este plano não contempla, objectivamente, essadimensão, mas entendemos que seria útil deixá-la referida para umareflexão posterior.
- económicos: um modelo para asustentabilidade empresarial
O aproveitamento económico dos recursos locais deste território,cujo potencial não explorado é ainda muito grande, necessitalevar em conta muito do que já aqui se enunciou nos propósitosda estratégia a desenvolver. Aliás, este campo é, talvez, o maismelindroso e aquele de cujos procedimentos de gestão depende, emgrande medida o sucesso a longo prazo da mesma. A gestão dosrecursos naturais e culturais do Baixo Guadiana deve ser feita
de modo a reduzir os impactos negativos que o seu usufruto vai,inevitavelmente, causar. Portanto, em termos de estratégiaeconómica, a aposta na sustentabilidade é um caminho de viaúnica que não pode, não deve, ter alternativas. São várias asrazões que o justificam. Mas mesmo as de natureza meramenteeconómica são pertinentes. O fraco nível de infraestruturação demuito do seu território obriga a investimentos muitas vezes maisonerosos. A localização periférica (em termos regionais) de umaparte considerável deste território obriga a uma avaliação detaxas de consumo medida com moderação, em que o factor qualidadese deve impor como elemento constante de grande atractibilidade,favorecendo a regularidade do seu “consumo” ao longo de todo oano (recordar que este é um dos aspectos que é sempre encaradocomo fundamental para a sustentabilidade dos negócios da área doturismo); essa qualidade, certamente, também tem um valoreconómico, de investimento e de manutenção. A utilização detecnologias que sejam preservadoras do ambiente naturalenvolvente – grande recurso a defender – deve ser exigível, eelas comportam igualmente um custo. No entanto, todos estesaspectos dos gastos económicos são essenciais para garantir umaqualidade de excepção, elemento que deverá integrar quer oplaneamento, quer a concretização prática destes projectos. Esseserá o factor decisivo do sucesso económico da região.
Esta bitola exige uma co-responsabilização empenhada por partedos stakeholders que representem o sector empresarial e daquelesque, não pertencendo especificamente a este grupo, tenham algumapartilha dos proventos que dos recursos locais pode resultar.Essa adesão, por parte do sector dos negócios do turismo éfundamental, até pelos impactos sociais que o sector gera. Assimsendo, mais uma vez se justifica a introdução dos métodos degestão partilhada que propomos, de modo a assegurar que, emdevido tempo, os interesses do grupo são calibrados em funçãodas vantagens e dos riscos da exploração dos recursos locaispara finalidade turística, definindo padrões que sejam, depois,no quotidiano, respeitados e promovidos por todos, assegurando-se a protecção e salvaguarda dos mesmos. Não há outro caminhopara assegurar a sua perenidade, e sem ela, os investimentospodem vir a revelar-se injustificados ou desastrosos.
- turísticos: o turismo sustentável comoprocesso para uma nova estratégia dedesenvolvimento regional
Por tudo o que já foi antes enunciado, parece redundante vir aterminar este sub-capitulo dos pressupostos estratégicos mencionando oturismo, que tantas vezes foi já citado. Mas nunca será demais, atépara que se faça aqui uma pequena avaliação do que foi feito nestesector, neste território, nas últimas 3 décadas.
Foi em Mértola que se começou a desenvolver, precisamente nessa data,uma estratégia de turismo cultural de nova matriz, em que a cultura jánão era o património mas sim o território e as suas gentes e práticas.Esse modelo, que então tinha até uma carga ideológica subjacente, devalorização da cultura popular, de respeito pelo meio, de colaboraçãocom a população, acabou por vir a consagrar-se, atéinternacionalmente, como a base das estratégias da sustentabilidade:abordagem holística, cooperação com as comunidades, salvaguarda econservação dos recursos ambientais, respeito pela multiculturalidade.Ao mesmo tempo, e com o Guadiana em decadência no seu papel social eeconómico, quer pelo fecho da Mina de São Domingos, quer peloprogresso e alargamento do transporte rodoviário (cada vez maisindividualizado), o turismo de «sol e praia» avançava com força nacosta de Vila Real de Santo António, num alastramento em mancha deóleo das urbanizações já sem espaço no Algarve central.
Em breve este modelo, pelos seus impactos negativos, e pela suamarcada sazonalidade, veio a mostrar-se insuficiente para corresponderàs expectativas de qualidade de um público consumidor cujos padrões econsciência ecológica também têm vindo a aumentar desde os anos 90 doséculo XX. Assim, a procura de maior qualidade do meio ambiente veio abeneficiar, primeiro Castro Marim, que permite fornecer um acessoigualmente fácil à praia num contexto de maior tranquilidade ediversidade de recursos complementares. Nestes, cada vez mais se foram(vão) integrando os concelhos de Alcoutim e de Mértola, que, de umprimeiro momento mais associado à cultura e ao património edificado,começaram a diversificar a sua oferta de lazer para os elementosambientais e para o conhecimento e usufruto do rio. Num instante, esem que tenha havido uma concertação relativamente ao momento deorigem e à complementaridade dos recursos, os 4 concelhos como que seencontraram de novo, por via do papel do rio no pacote turístico de
cada um deles, tal como sucedia nos tempos em que a carreira regulardo vapor subia e descia todos os dias pelas suas águas.Progressivamente, as suas entidades, alguns stakeholders, foram-seapercebendo que a defesa da qualidade dos recursos e da sua boa gestãopoderia ter maiores benefícios no quadro de um plano de gestão comum.
Plano esse que, igualmente, pode desempenhar um papel estratégicorelevante: garantir a sustentabilidade dos recursos defendendo, comotipologia para esta actividade, a do turismo sustentável. O usufrutodos recursos através de um modelo de actividade económica que tambémse preocupa com a sua protecção (não actuando de forma predadora, massim, ao invés, proactivamente, na sua conservação), é um factorcrucial de defesa dos investimentos e das suas expectativas, bem comodos impactos sociais resultantes do seu bom desempenho.
O desenvolvimento local e regional só podem vir a beneficiar com ocrescimento da actividade turística, e, a nosso ver, esta nãocrescerá, ou pelo menos não será um crescimento sustentável, sem queseja seguido um modelo desta índole. A fragmentação actual doterritório, a que se acumula a escassa partilha da estratégia dedinamização turística e de promoção do território do Baixo Guadiana,não podem senão conduzir a uma impacto reduzido em proporção aosrecursos despendidos, ou a um «benefício por inerência» do modeloactual, no qual os municípios beneficiantes não têm um papel directivona condução do mesmo, e que por isso mesmo, pode cair num instante,dada a sua grande dependência de factores exógenos para os quais nestemomento não se está a construir alternativa consistente. Aconcretização de passos para uma estratégia de turismo sustentávelpara o Baixo Guadiana, a 4 mãos, poderá ser a plataforma para evitaresse risco, e o começo de um caminho de desenvolvimento económico esocial mais autónomo que certamente todos desejam trilhar.
Toda a estratégia que este plano vai desenvolver, assenta por issonessa matriz. E como ela não pode fazer-se sem as pessoas, sem osstakeholders dos diversos interesses, motivações e exigências que neleco-habitam, nele se vão igualmente traçar caminhos para uma gestãocomunitária participada, visando a governança partilhada no quadra daestratégia turística, em paralelo com as políticas públicasactualmente existentes nos sectores a que a mesma estratégia estejaligada, procurando igualmente contribuir para o seu aprofundamento emelhor eficácia de resultados. Assim nos ajude o engenho e a arte.
DESENVOLVIMENTOModelos e Metodologias para o DesenvolvimentoRegional
1.As políticas públicas pela sustentabilidade, nomodelo social da União Europeia
Na Europa que se pretende social, o potencial e a efectivaparticipação públicas estão a crescer. As oportunidades para envolverdirectamente os cidadãos na construção de políticas públicas têm,igualmente, sofrido um considerável acréscimo, muito fruto dodesenvolvimento tecnológico, como seja o caso da internet, que permiteuma extensa e rápida consulta aos cidadãos no quadro dos diversosníveis e representatividade a que pertencem. Existe, por sua vez, dolado dos cidadãos, uma consciência mais clara dos métodosparticipativos, bem como um crescente entendimento e consciênciacívica relativamente à deliberação como modo de troca democrática.Todos estes factores têm o potencial de permitir aos cidadãosenvolverem-se mais nas trocas deliberativas que se processam entre osdecisores e os cidadãos, o que encoraja ambos os lados a justificaremdevidamente as suas posições. O domínio da informação e das formas dea ela aceder tornaram-se determinantes na evolução social e culturaldo mundo contemporâneo, e muito intensa a sua troca.
Em função dessa situação de aceleração dos processos deliberativos, edo correspondente crescimento da vontade participativa, tem sido, nareflexão produzida relativamente às políticas públicas, uma grandeatenção às oportunidades e aos desafios colocados pelas deliberaçõespúblicas; mas, inversamente, o formato concreto dos processos departicipação não tem vindo a ter o mesmo eco nesses debates. Isto éparticularmente pertinente quando os organizadores dessa participaçãopública não possuem prática em processos democráticos ou em ciênciassociais, mas são, sim, peritos em planeamento e noutros processos detomadas de decisão através da participação, e mantém o seu foco viradopara os conteúdos e não para o processo em si mesmo. Independentemente
disso, as metodologias para a participação pública são em númerosuficiente para que qualquer plano de gestão que queira assentar naparticipação pública se possa estruturar sem qualquer dificuldade demaior, mesmo que esta seja, muitas vezes, definida de modos diversos.Apesar de a variedade de interpretações poder vir a constituir-se comoum problema, pensamos que, num caso concreto como este, serásuficiente que se defina um rumo estratégico e que se opte, emconjunto com os stakeholders locais, por um ou alguns formatos quepossam enquadrar essa necessidade. São mais pertinentes os desafiosnoutros aspectos.
Nas décadas mais recentes, mudanças significativas têm lançadodesafios às sociedades europeias. Por exemplo, a globalização, asconsequências ambientais da nossa sociedade de consumo, a emigração emmassa e o crescimento da heterogeneidade cultural, ou as pressõeseconómicas visando a reforma do «estado social». Uma resposta comum aesses desafios tem sido a de despolitizar as políticas. Por exemplo,através do uso de discursos científicos e económicos especializados,com vista a neutralizar os conflitos políticos; pelo uso de legislaçãotécnico-burocrática, que se caracteriza por estabelecer obrigações,rigor e delegação, e que exclui todos aqueles que não sejam,presumivelmente, peritos; reforçando o poder dos tribunais, e a parteexecutiva dos governos e do aparelho administrativo. Ou seja, aadministração pública, numa primeira fase, confrontada com asdificuldades, isolou-se, e procurou dar uma resposta «de laboratório»a problemas que de facto, pelo seu peso social, exigiam umaparticipação colectiva e empenhada de toda a comunidade para assegurara sua resolução.
A contribuição dos cidadãos para os processos de tomada de decisão éum dos pilares da democracia. Nas democracias modernas, no entanto, aparticipação tem sido largamente restringida às eleições, e asdecisões de carácter político são depois apenas tomadas por aquelesque são eleitos, baseados na legitimidade do acto eleitoral, mas,tantas vezes, sem considerarem que esse acto não só não legitima todosos processos, como existem circunstâncias que, no decurso do tempo deum mandato, se vão alterando.
Gradualmente, os cidadãos têm vindo a exprimir a sua insatisfação comestes processos de tomar decisões, o que se tem vindo a exprimir numcada vez menos número de votos expressos nesses escrutínios e emvalores cada vez mais baixos na aprovação do exercício de cargospolíticos como uma profissão. Com este cenário de fundo, tem vindo asurgir uma nova vaga de pensamento democrático, cada vez mais forte,em favor de uma melhor democracia deliberativa, com maiorparticipação. Baseia-se no pressuposto de que este sistema políticoseria mais vigoroso se envolvesse mais as pessoas nos processosdeliberativos do dia-a-dia. A participação pública seria assim umprocesso deliberativo pelo qual os cidadãos afectados ou interessados,bem como as organizações da sociedade civil ou os actoresgovernamentais são envolvidos na definição das políticas antes de asdecisões estarem tomadas. Por deliberação entenda-se um processo dediscussão profunda baseado na troca de argumentos e razões de escolha.Este processo implica o reconhecimento do pluralismo que envolve osobjectivos e os valores, e permite a resolução de problemas emcolaboração, com métodos estruturados para instituir políticas commaior legitimação. É verdade que a deliberação final por este processonem sempre é fácil. Mas é de frisar que só através dela se consegue umnível elevado de envolvimento dos cidadãos. E que só com a suainclusão se conseguirá fazer a diferença no modo como, actualmente, oscidadãos pensam o processo democrático. AQUI SE CALHAR FALAR DA ESCADADE ENVOLVIMENTO DE ARNHEIM…QUANDO INTRODUZIR GRÁFICO Assim sendo,quais são as práticas democráticas que as políticas possam adoptar quevenham a empoderar os cidadãos comuns sob novas formas?
O potencial democrático da informação, só por si, é limitado, uma vezque os decisores não estão obrigados a ela. A consulta tem maior valorde influência, uma vez que os cidadãos têm maior acesso aos decisorese estão em condições e contribuir para as decisões a tomar, mesmo que,muitas vezes, apenas parcelarmente. E embora não tenham o poder paraassegurar que os seus conhecimentos ou opiniões sejam levados emconta, o mero acto da participação pública e o esclarecimento que delaresulta são factores positivos num modelo que privilegie a cidadania.As qualidades ao nível da deliberação que dela emanam também permitemcrer que se verifiquem os efeitos democráticos positivos que a escolhadesta metodologia tem como expectativa.
A aspiração partilhada por todos aqueles que defendem a participaçãopública nos processos de tomada de decisão é conseguir abordagensparticipativas que possam gerar envolvimentos deliberativos entre osdecisores e os cidadãos; estas abordagens devem estreitar o leque deinteresses dispersos representados e reflectidos nas decisõesalcançadas – o que requer um desenho particularmente cuidadoso nascondições e nos métodos de comunicação, envolvimento e deliberação.
Para uma nota disto… o termo participação etimologicamente significa«ser parte de» ou «tomar parte em», e pressupõe uma componente activaem si mesmo. A consulta e a participação partilham os objectivos demelhorar a qualidade das decisões através de fluxos «bottom-up» egerando oportunidades para desenhar as políticas públicas. Naparticipação pública devem ter lugar interacções, diálogos e,idealmente, deliberações. Em vez de pura e simplesmente se trocareminformações, membros dos dois lados (promotores e participantes) devemadmitir a possibilidade de que as suas opiniões possam modificar-se.Neste enquadramento ficam facilitadas as soluções de consenso.
Vejamos agora, de forma sintética, alguns campos acerca dos quais, eno contexto do presente Plano de Gestão, são pertinentes algumasnoções sobre a constituição e o desenvolvimento de políticas públicas:
a)Para o Desenvolvimento sustentável
A questão do desenvolvimento sustentável, desde os anos 90, temestado no centro dos debates relacionados com o crescimentoeconómico e social da União. Em todos os processos negociaisressalta esse tópico, seja pelos impactos internos dessasescolhas (com maior ou menor incidência da subsidiariedade) oupela influência internacional das escolhas europeias. Noentanto, apesar da aparente vontade de edificar um modelo pró-sustentabilidade em todo o seu espaço, a União tropeça em simesma, porque as políticas concretas e os seus orçamentos estãodependentes de negociações entre os estados membros e ainda deposterior aprovação pelos diferentes organismos de poderpolítico de cada nação.
Consequência da sua densidade demográfica e urbana, e doelevadíssimo dispêndio de recursos, a União Europeia foi aprimeira entidade a colocar-se num plano de destaque na defesade políticas de sustentabilidade, paradigma que, de há muito,faz parte das preocupações de muitos responsáveis políticos eexecutivos dos organismos europeus. A necessidade quaseimperiosa de uso mais racional dos recursos que se colocou aeste continente – além do mais, actualmente desprovido deterritórios exógenos onde antes ia buscar os excedentes para osseus elevados hábitos de consumismo de recursos - conduziu àconstituição de linhas de apoio à racionalização e deinvestimentos para divulgação de novas tecnologias verdes.
Foi em 1972, com a realização da Conferência sobre o MeioHumano, que a temática ambiental se tornou central nos processosdo desenvolvimento humano, fruto das evidências de que osrecursos poderiam esgotar-se num quadro geracional muitopróximo. As suas conclusões foram perpetuadas num relatório («Onosso futuro comum»), elaborado por uma comissão dirigida porGro Harlém Brundtland, que lhe emprestou o nome com que ficouconhecido para a posteridade. É nas suas páginas que surge oconceito de “Desenvolvimento Sustentável”, definindo-o como “aquele que garante as necessidades do presente sem comprometeras possibilidades das gerações vindouras satisfazerem as suas”.
Este conceito tornou-se uma matriz fundamental em todos osprocessos, conseguindo uma influência tão globalizante como ados perigos para os quais alertava se o rumo do consumo derecursos não fosse alterado. É fácil, por isso, entender que oturismo, que é uma das maiores indústrias do mundo e que produz,tantas vezes ainda, más «pegadas ecológicas» por todo o lado,não possa ter ficado de fora da inevitável alteraçãocomportamental que o “Relatório Brundtland” recomenda.
Mas as políticas públicas de gestão sustentável dos recursosexistentes não se ficaram por aqui. A não adopção, por todos ospaíses, das recomendações do relatório de 1972 levaram ànecessidade, vinte anos depois, de rever preocupações e metas,ampliando os avisos aos que, pelo seu comportamento negligente,
nos afectam a todos. Assim, em 1992, realizou-se a Conferênciadas Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento(CNUMAD), mais conhecida por Cimeira da Terra; na sequênciadeste encontro de grande relevo mundial, a União Europeiainstituiu o 5º Programa de Acção Comunitária para o Ambiente,designado “Por um Desenvolvimento Durável”, adoptado então atéao ano 2000, mas cujas linhas mestras continuam ainda hoje a serseguidas, inscritas agora nos preâmbulos de quase todas asresoluções relacionadas com o crescimento (nos diferentessectores) da Europa.
A Cimeira da Terra teve ainda uma outra consequência dedestaque: nela foi lançado um ambicioso programa de acção sobreDesenvolvimento Mundial Sustentável – o Programa 21, vulgarmentedesignado por Agenda 21. Evidenciando uma particular incidêncianos aspectos sociais, económicos e ecológicos, o documentoestimula os governos a encontrar estratégias conducentes a umdesenvolvimento sustentável e, sobretudo, obriga a que estassejam construídas com uma participação generalizada de todos ossectores, incluindo as organizações não-governamentais e apopulação em geral, orientação programática que se veio arevelar de enorme alcance futuro: Neste caso particular,estimulava todos os sectores da sociedade a cooperar no estudode soluções para os problemas sócio ambientais. Organizada numprograma de acção, constitui a mais ousada e abrangentetentativa já realizada de promover, em escala planetária, umnovo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de protecçãoambiental, de justiça social e de eficiência económica. Eintroduziu com grande impacto, uma nova metodologia de abordagemaos assuntos da gestão e das políticas públicas, que deixoufrutos, tornando-se uma das alavancas que tem vindo a motivar ocrescimento e a adopção dos processos de governança em muitoslocais e em relação às mais variadas temáticas.
Uma dessas influências de maior relevo, por curiosidade, foiinterna ao próprio processo: as discussões relacionadas com aAgenda 21 tiverem como consequência a percepção da necessidade deuma adaptação mais detalhada no quadro das circunstâncias decada localidade (no caso português, de cada município). Surge,
assim, a Agenda Local 21, entendida como o processoparticipativo de determinado território com vista ao seu própriodesenvolvimento e que abre caminho à participação pública,individual ou colectivamente considerada, já que promove asensibilização ambiental e fomenta a colaboração dos cidadãos.Esta metodologia reforça a sociedade civil, simultaneamenteresponsabilizando-a, passo interessante para os processos dedemocracia participativa e de apropriação local dodesenvolvimento.
Assistimos também a um notável progresso no que respeita àreflexão teórica relativa a estes aspectos, na promoção de umanova atitude com vista à garantia da sustentabilidade do planetaem vivemos, visão a que não são alheias investigaçõescientíficas que comprovam um acelerar da degradação doecossistema global resultante em muito da pressão sobe osrecursos. Essa reflexão foi, gradualmente, fazendo o seu caminhode incorporação dos discursos e das práticasinstitucionalizadas, adquirindo foro de obrigatoriedade naspolíticas públicas que se pretendiam de qualidade.
Já em 1997, o desenvolvimento sustentável era considerado umobjectivo central das políticas da União, ao ver a suareferência introduzida no Tratado de Amesterdão. Na cimeira deGothenburg, em 2001, os líderes da UE puseram em curso aprimeira estratégia para o desenvolvimento sustentável, com basenuma proposta elaborada pela Comissão Europeia. Este documentotornou-se a peça chave das políticas europeias para odesenvolvimento sustentável, que esteve na base das propostas àConferência Mundial de 2002, realizada em Johannesburg (e talcomo tinha sido, em si mesma, uma consequência «interna» dastomadas de posição assumidas pela União na Cimeira da Terra, noRio de Janeiro, em 2000). A confirmação destas políticas veio aestabelecer-se com a aprovação da Estratégia de DesenvolvimentoSustentável, em 2006, que se estrutura em sete pilaresfundamentais, e que é a actual matriz europeia para odesenvolvimento sustentável da União:
- Mudanças climáticas e energias limpas
- Transportes sustentáveis- Produção e consumo sustentável- Conservação e gestão dos recursos naturais- Saúde Pública- Inclusão social, demografia e migrações - Luta contra a pobreza e desafios do desenvolvimento
sustentável.
O Conselho Europeu, em Dezembro de 2007, emitia uma declaraçãoonde se afirmava que: “O desenvolvimento sustentável é umobjectivo fundamental da União Europeia. (…)as estratégias daUnião e as dos diferentes países também necessitam de serintegradas. A estrutura de governação e os instrumentos usadosna SDS, em particular aqueles que se relacionam com amonitorização dos progressos e com a difusão de boas práticas,devem ser usados plenamente e reforçados”; de facto, aoConselho, não lhe parecia suficiente a mera afirmaçãoinstitucional destes princípios, e, por isso, propõe igualmentemecanismos para melhorar a coordenação com outros níveis degovernação e pede a cooperação dos empresários, das OrganizaçõesNão-Governamentais e dos cidadãos para se envolveremvoluntariamente neste processo. Claro que, a sermos realistasnesta análise, é preciso não ignorar o facto de que as boasintenções das medidas comuns, e os esforços regulamentares daComissão Europeia, tropeçam, regularmente, nas políticasgovernamentais e nas preocupações individuais de cada nação,tantas vezes igualmente influenciadas por distintos calendáriose resultados eleitorais, isto é, pelas políticas e agendas decada país. É habitual verificar-se que os governos nacionais nãotransferem a maior fatia do seu orçamento e da sua agenda parauma gestão comum, e portanto, as políticas de desenvolvimento –e em particular todas aquelas que se relacionam com asustentabilidade – dificilmente podem obter um sucesso maior,dada a «desintegração europeia» neste campo em particular.
As conclusões «europeias» a que se chega, muitas vezes, servemde capa aos verdadeiros interesses nacionais que nelas sedisfarçam. É evidente que com 27 estados membros, qualquerprojecto europeu de desenvolvimento sustentável interfere com
inúmeros interesses singulares e, se é verdade que a Europapoderia desenvolver as bases de um modelo de desenvolvimentosustentado mais consentâneo com os princípios do RelatórioBrundtland, a ausência de visão firme e única – particularmenteem negociações com outras nações – impedem essa afirmação. Noentanto, as reformas mais recentes das Convenções Europeiastrazem esperança numa gestão mais central, com maior pesoinstitucional e político, porque representa uma janela deoportunidade para as políticas de desenvolvimento sustentado epara as reformas necessárias para assegurar a continuidade daespécie e a maior qualidade de vida e condições básicas de todosos seres humanos.
Os pressupostos ideológico-filosóficos da União Europeia, emmatéria de desenvolvimento sustentável, estão claramente, muitomais avançados do que as medidas concretas que os poderiamconsubstanciar; dito de outra forma, o problema existe, éconhecida a sua gravidade, são boas as intenções de o combater,mas na prática as dificuldades são muitas, até pelos diferentespatamares de desenvolvimento dos países e dos continentes.
Apesar desta aparente inoperacionalidade, a verdade é que emtodos os momentos existe sempre uma política de desenvolvimentoa ser colocada em prática nas instituições europeias. Osobjectivos de desenvolvimento europeu não são, em si mesmos, neminovadores nem únicos – nem isso nos parece o mais importante -,uma vez que, geralmente, seguem as directrizes internacionais,em particular as das Nações Unidas, como sucede actualmente, emque a maioria das nações está comprometida com os Objectivos deDesenvolvimento do Milénio. A partir de então, começaram aprivilegiar-se, nesta área de actividade, as políticas que visama sustentabilidade dos destinos, ou seja, dos recursospatrimoniais que servem de matéria-prima às estratégias dosector. Mas além dessa ideologia do desenvolvimento, oscritérios de avaliação actuais debruçam-se sobre as tendênciasdesta área de investimentos, sobre as ferramentas e métodos paraa sua eficiente gestão, sobre as flutuações nas preferências dosconsumidores, sendo que estes critérios depois se revertem paraas legislações e os programas nacionais, constituindo-se então
como base para as políticas públicas que vão ser promovidas. Oque nos parece relevante é que, em todos os processos, como estede instituir um Plano de Gestão para o território do BaixoGuadiana, que esses princípios sejam defendidos e reforçados.
As políticas da União assentam igualmente em práticasmulticulturais. No espaço interno da União, elas são o resultadoda subsidiariedade, que conduz as decisões para a base dasociedade civil, colocando a programação próxima das diferentescomunidades locais e suas organizações de base, muitas delas comfortes traços étnicos quer dos naturais europeus, quer dasrepresentativas das comunidades de emigrantes: mais uma vez, ospressupostos estratégicos deste plano seguirão essasrecomendações. Apesar de as diferenças culturais não seremsignificativas, pensando no quadro de grande homogeneidade quePortugal, comparativamente a outras nações, apresenta, serásempre de considerar neste plano igualmente um conjunto decuidados de raiz multicultural cujo acautelamento em muto podemcontribuir para melhorar os processos de diálogo entre osdiversos stakeholders, diminuindo «vícios de vizinhança» quenestes processos podem muito facilmente ser exacerbados ecomprometer todo o processo. É preciso assegurar que, no seudecurso, esta estratégia influencia em maior grau asolidariedade do que a competição, o que será a melhor formapara enfrentar as fragilidades em presença neste contexto. Essaserá uma importante contribuição local e que nenhuma políticapública, por si só, poderá melhorar.
Particularmente nos territórios de baixa densidade, as políticaspúblicas são fundamentais, com destaque para a sua transformaçãoeconómica, onde os recursos existentes podem não ser, numprimeiro momento, suficientes para ter o efeito indutor, dealavanca, que se desejava tivessem. Assim, é necessárioconsiderar a necessidade de políticas públicas adequadas a esseefeito. E que, efectivamente, estejam direccionadas para asnecessidades reais dos territórios ou dos sectores que pretendematingir – como no caso do Baixo Guadiana ed o seu modelo deturismo possível, que são particularmente exigentes nessaadequação, dadas as grandes dificuldades e constrangimentos
pelos quais este território e as suas comunidades estão apassar. Daí o cuidado com que os processos participativos comvista à definição do enquadramento das políticas públicas vãoser tratados neste Plano de Gestão.
De facto, as políticas públicas têm como objectivo dar respostaàs solicitações que emanam da sociedade, principalmente dossectores mais vulneráveis, emergentes, específicos ou onde severifique uma necessidade suplementar de medidas complementares.Estas necessidades devem encontrar eco junto dos poderesconstituídos, que dessa percepção e da resposta que lhe derempodem retirar muito da sua base social de apoio. Claro que nassociedades contemporâneas, abertas e com importantes formas decomunicação pública, podem ser, paralelamente às formasinstitucionais de organização política, constituídos grupos depressão, assentes na sociedade civil, cuja mobilização podeafectar a agenda política, bem como as políticas públicas quedaí resultem. É o que muitas vezes acontece, por exemplo, naspolíticas ambientais e sociais.
Mas que se tem vindo a reflectir, também, na actividadeturística. Curiosamente, as políticas públicas para o sectorenquadram-se num cenário ideológico cuja ideia central é a deque, por princípio, o turismo é uma actividade positiva. Eportanto, as políticas públicas que são instituídas paraassegurar o seu funcionamento visam geralmente também o seucrescimento e expansão (aumentando também a diversidade dosprodutos complementares), usando este sector como uma alavancafundamental para fazer face a problemas de emprego, decapacidade financeira, para equilibrar a balança financeiraatravés das divisas obtidas, entre outros aspectos. Além domais, precisamente pela dimensão de postos de trabalho que podegerar, o turismo acaba muitas vezes pr ser o responsável peladinâmica económica de muitos outros sectores que não lhe estãodirectamente ligados, mas que são influenciados pela manutençãoe/ou crescimento dos valores demográficos absolutos. Por isso, oplaneamento turístico continuado deve ser integrado com todo orestante planeamento do desenvolvimento, devendo ser modeladocomo um sistema interactivo, visando um desenvolvimento
alternativo, centrado nas pessoas e no seu ambiente, mais do quena produção e nos lucros. Um desenvolvimento alternativo queseja baseado, como deve ser, no espaço de vida da sociedadecivil, que procure resolver a questão da melhoria das condiçõesde vida e das vivências numa integração com o território onderesidem, e que seja planeado e governado de forma participativa,pelo somatório de ideias e esforço com que cada um desejecontribuir.
PARA UMA NOTA AQUI Em Portugal Os principais obstáculos àaplicação da Agenda Local 21 encontrados na última sondagem(2006) responsabilizam principalmente o cidadão, com falta dehábito de participação nas decisões locais ou regionais einsuficiente informação sobre temas que envolvem odesenvolvimento sustentável.
b)Para a Governança
A governança, tal como já referido para a participação pública,tem igualmente merecido especial atenção, no âmbito das suascompetências e atribuições, da União Europeia, que a temassociado aos seus objectivos de desenvolvimento e coesão, comoaliás, o também têm feito outros organismos internacionais comoas Nações Unidas ou a OCDE. Esta atenção tem em vista aconcretização dos objectivos de desenvolvimento e coesão sociala que se encontra vinculada, particularmente depois da suaintegral adesão a modelos que preconizam quer a sustentabilidadedos recursos quer a equidades da repartição dos proventos que osmesmos geram.
Nesse sentido, para a Comissão Europeia a governança afirma-secomo uma componente essencial no quadro dos objectivos geraisdas políticas e reformas em favor da redução da pobreza, dademocratização e da segurança global. É por este motivo que oreforço das capacidades institucionais, em especial no querespeita à boa governança e ao primado do Direito, representa umdos sectores prioritários da política de desenvolvimento da
Comunidade Europeia no quadro da aplicação dos programascomunitários.
Muito embora não exista uma definição de governançainternacionalmente acordada, o que não permite uma uniformizaçãoda sua disseminação, o conceito tem vindo a ganhar importânciadentro da U.E. para quem governança diz respeito às regras,processos e comportamentos segundo os quais são articulados osinteresses, geridos os recursos e exercido o poder na sociedade.No livro Governança Europeia - Um Livro Branco (2001), a EUmenciona que “por governança entendem-se as normas, processos econdutas através dos quais se articulam interesses, se geremrecursos e se exerce o poder da sociedade”, ou seja, significa acapacidade do Estado servir os cidadãos e assenta nos cincoprincípios fundamentais: da transparência, da participação, daresponsabilidade, da eficácia e da coerência, salientando quecada um destes princípios é fundamental para uma governança maisdemocrática porque estão na base da democracia e do Estado dedireito nos Estados-Membros, mas aplicam-se a todos os níveis degoverno – global, europeu, nacional, regional e local. Cada umdestes princípios é importante por si só, mas a sua aplicaçãoconjunta reforça os da subsidariedade e da proporcionalidade,tal como referido nas conclusões do Conselho de Maio de 2002 daComissão.
Por outro lado, para a UE, à medida que os conceitos de direitoshumanos, democratização e democracia, estado de direito,sociedade civil, partilha descentralizada do poder eadministração pública sólida, vão assumindo cada vez maisimportância, a sociedade vai-se transformando num sistemapolítico mais sofisticado e o conceito de governança evolui para"boa governança", sendo esta uma prioridade não apenas napolítica de Cooperação da CE como na de Desenvolvimento.
Tal como os conceitos de direitos humanos, democratização edemocracia, Estado de direito, sociedade civil, partilhadescentralizada do poder e administração pública sólida vãoassumindo cada vez maior importância à medida que uma sociedadese vai transformando num sistema político mais sofisticado, o
conceito de governação evolui para "boa governação".(Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e aoComité Económico e Social Europeu, Governança e Desenvolvimento,2003).
Também no Acordo de Parceria de Cotonou (Art. 9.3) a boagovernação é definida como "a gestão transparente e responsáveldos recursos económicos, financeiros, naturais e humanos, com oobjectivo de desenvolvimento equitativo e sustentável, nocontexto de um ambiente político e institucional que defenda osdireitos humanos, os princípios democráticos e o primado dalei". No quadro do "Consenso Europeu" e da "Estratégia EU -África" a questão da Boa Governação é igualmente realçadaatribuindo-lhe um papel de destaque na promoção o dodesenvolvimento.
A participação, o desenvolvimento e a boa governação foramreconhecidos explicitamente na Declaração do Milénio e a suapromoção vista como uma abordagem-chave para a redução dapobreza e o desenvolvimento sustentável, salientando que há umarelação vital entre sistemas de governação democráticos, abertose responsáveis, o respeito pelos direitos humanos e a capacidadepara alcançar o desenvolvimento económico e social sustentável.Por isso, as questões da boa governação, desenvolvimentoparticipativo, direitos humanos e democratização estãoclaramente interligadas (IPAD Boa Governação, Participação eDemocracia - Documento de Estratégia, 2009: 20).
Por seu turno, também as Nações Unidas afirmam que a criação deum contexto propício ao desenvolvimento depende, nomeadamente,de uma boa governança em cada país e no plano internacional, bemcomo da transparência dos sistemas financeiros, monetários ecomerciais (Declaração do Milénio das Nações Unidas 2000) e noConsenso de Monterrey (2002), o objectivo da boa governança foiinternacionalmente aceite e adoptado pelo denominado "Consensode Monterrey”, onde os Chefes de Estado concordaram em que a boagovernança a todos os níveis é essencial para um desenvolvimentosustentável, um crescimento económico sustentado e para aerradicação da pobreza.
Também a OCDE tem emitido vários documentos sobre a importânciaestratégica da participação e da governação, nomeadamente em1995, em que, partindo do conceito de governação do BancoMundial, delineou orientações para os seus membros para promovera boa governação nos países em desenvolvimento. As suasdirectrizes apontam a boa governação como parte de uma agendaintegrada que inclui o desenvolvimento participativo, ademocratização e os direitos humanos.
É neste contexto que, hoje, assumem maior importância aparticipação, as práticas de governança local ou a aproximaçãodos processos de decisão relativamente aos cidadãos. Dessa formase pode também afirmar que, em alguns casos, a construção depolíticas públicas – quer como movimento gerador das mesmas,quer em termos de medidas concretas destinadas a essa finalidade– visa ampliar e tornar efectivos determinados direitos doscidadãos, cuja visão, seja através de Organizações Não-Governamentais ou outras formas de associação, particularmenteda sociedade civil, passa a ser gradualmente incorporada nadefinição das políticas públicas. Embora, normalmente, aspolíticas públicas tenham uma tendência maioritária parareflectirem a agenda dos detentores do poder (geralmente aagenda dos partidos políticos legitimados), pelo que tendem acontemplar interesses de determinados segmentos sociais, tantomais expressivos quanto seja a capacidade representativa emobilizadora destes, junto da sociedade civil.
Também as organizações internacionais reforçam esta novaconceção de governo e de forma de governar, considerando queesta é bem mais abrangente do que o de aquela, integrando asinstituições, as políticas, os processos decisórios e as regrasformais e informais, que determinam como o poder é exercido,como as decisões são tomadas e como os cidadãos participam doprocesso decisório. É o caso da UNDP quando documenta que:
“A governança pode ser vista como o exercício da autoridadeeconómica, política e administrativa para gerir um país em todosos níveis. Compreende os mecanismos, processos e instituiçõespor meio dos quais os cidadãos e grupos articulam seus
interesses, exercitam seus direitos legais, cumprem com suasobrigações e mediam suas diferenças” (UNDP, 1997).
Aos governos genuinamente democráticos é-lhes actualmente exigido quecoloquem grande enfase no estabelecimento de uma verdadeira parceriademocrática entre a população e as instituições, e que esse esforçoseja acompanhado de um compromisso para uma maior flexibilidade einovação no, e pelo governo, de modo que consigam que a população seenvolva mais nos processos de decisão. Isto pode ser obtido através deum compromisso para aumentar a participação nas decisões que possamenvolver a comunidade local, nas perspectivas ambiental, social,económica e cultural. São estes os princípios que igualmente vãoenformar o Plano de Gestão do Baixo Guadiana que aqui estamos aconstruir, neste particular procurando destacar as soluçõesmetodológicas que facilitem os processos de gestão colaborativa quesão necessários, assim como dando relevo aos argumentos estratégicosque favorecem a evolução para um sistema de partilha de poder, face aoque está hoje instituído, como forma de sensibilização para que essecaminho seja trilhado em favor do território, das comunidadesresidentes e das gerações futuras que se pretende que nele venham apoder residir.
O desafio é alargar a capacidade de ouvir com atenção os diferentesgrupos de interesse, assim como aqueles que podem estar sub-representados num determinado processo de construção da decisão. Osresultados a longo prazo podem ser aumentados pela inclusão de umadiversidade de pontos de vista e de interesses, pelo crescimento dacapacitação individual e colectiva, pelo reforço da cidadania. Odesafio do presente para os governos (nacionais ou locais) é dar apoioás comunidades para construírem a sua capacidade para participarem deforma mais activa no desenvolvimento do seu futuro comum.
UMA NOTA PARA A GOVERNANÇA Em 1950 existiam 22 Estados democráticosnum conjunto de 154 países, comparativamente ao ano 2000, em queexistem 119 democracias no conjunto de 192 países- No que se refere àsorganizações não governamentais com estatuto junto das Nações Unidas,em 1948 eram 41, enquanto que à data são mais de 2000.
O termo governança tem origem na língua grega e refere-se a condução.A condução de um navio, por exemplo, tem um sentido mais vasto do quemeramente manter este a flutuar, e de o saber manobrar nas diferentesdirecções. Trata-se efectivamente da definição de um rumo e garantirque o navio se mantem constantemente dentro da rota desejada, e quevai chegar onde é esperado. Ao aplicar-se este conceito aodesenvolvimento, refere-se a uma mescla de relações entreinstituições, sistemas, processos, procedimentos e relações publicase/ou privadas que, por acção de uma liderança (sejam os objectivossociais, políticos, económicos ou de gestão e/ou administração)atingem determinados objectivos traçados. No caso da boa governança,que nos interessa como metodologia de gestão na actual proposta,trata-se do exercício dessa autoridade com a participação, o interessee o suporte dos governados como base principal. A governança local,por sua vez, refere-se ao exercício dessa regulação ao nível dacomunidade local. Devemos, no entanto, salientar que nem todas asformas de governança praticadas num nível local constituem governançalocal. É possível ter governança central ou mesmo estrangeira ao nívellocal. O que determina com rigor se essa governança é ou não local é adimensão do envolvimento da população local na condução do processo,determinando o rumo de acordo com as suas necessidades, problemas eprioridades locais. Neste sentido, governança deixa de constituir umconceito meramente associado a governar, para ser um processo demúltiplas inter-ligações e relações nas quais os diferentes actoresdos sectores público e privado, assim como a sociedade civil aosníveis local, nacional e internacional desempenha diferentes papéis,uma vezes de conflito, outras de reforço e complementaridade deposições, visando a satisfação dos interesses manifestados pelacomunidade local.
c)Para o Turismo
Uma política de turismo, para inscrevermos aqui uma referênciasintética, é um conjunto de intenções, directrizes e estratégiase ou acções deliberadas, no âmbito do poder público, com afinalidade de alcançar um objectivo geral e dar continuidade aopleno desenvolvimento da actividade turística num dado
território; são políticas públicas do turismo o conjunto defactores condicionantes e de directrizes básicas que expressamos caminhos para atingir os objectivos globais para o Turismo nopaís; determinam as prioridades da acção executiva, supletiva ouassistencial do Estado; facilitam o planeamento das empresas dosector quanto aos empreendimentos e às actividades maissusceptíveis de receber apoio estatal. Ela deverá nortear-se portrês grandes condicionamentos - o cultural, o social e oeconómico - por mais simples ou ambiciosos que sejam osprogramas, os projectos e as actividades a desenvolver; pormenores ou maiores que sejam as áreas geográficas em que devamocorrer; quaisquer que sejam suas motivações principais ou ossectores económicos aos quais possam interessar.
Em função das necessidades de enquadramento desse crescimento edessas expectativas, e das novas condicionantes positivasmotivadas pelo desejo de sustentabilidade dos lugares e dasmodalidades do seu usufruto, as políticas públicas têm vindo aser cada vez mais importantes e, simultaneamente, mais exigentesnos seus pressupostos. Em termos de desenvolvimento económicosustentável, é nítida, no sector do turismo, a preocupação com asalvaguarda ambiental (e não só o natural), tendo as políticaspúblicas actuais, em termos de economia global contemporânea,sempre uma base repartida em dois objectivos distintos: apromoção das qualidades dos destinos e a estruturação docomportamento do seu sector nacional ligado a esta actividade(regulação).
As acuais políticas públicas levam já em consideração asalterações sócio económicas ligadas ao lazer, cujo tempo dededicação tem vindo gradualmente a aumentar, assim como oprogressivo crescimento dos rendimentos disponibilizados paraesta actividade por parte dos cidadãos. Com as suas raízesassentes no processo de consolidação do welfare state, ebeneficiando de políticas públicas particularmente incisivas apartir dos anos 60 do século XX (apesar de alguns momentos deretracção ao longo do seu percurso), esta indústria tem sido umdos sectores económicos à escala mundial com um crescimento maismarcante, principalmente em resultado do crescimento da classe
média nos países em desenvolvimento, que procura nessa novaocupação dos tempos de lazer uma das marcas da afirmação do seunovo estatuto económico-social.
É actualmente aceite, por todos aqueles que se dedicam aoplaneamento territorial, que a concepção de políticas públicasadequadas e de estratégias locais concertadas, partilhadas eascendentes podem contribuir decisivamente para um maior oumenor ritmo de progresso. Daí a importância de que se reveste oestudo das políticas públicas, enquanto instrumentos indutoresdo desenvolvimento. Na sua obra Tourism, Planning and Policy, Dredge eJenkins (2006) referem a abordagem às políticas públicas comoinstrumentos quer de decisão, em função de uma graduação deinteresses, implicando escolhas e tomadas de decisão, quer de“ligação” de interesses e valorações diversas entre os váriosstakeholders. Em termos de concepção e implementação de políticasdo turismo, trata-se sempre de dirimir interesses, mediar ideiase articular valores. E entender, como prática de gestão, que aspolíticas de turismo deverão ser sempre dinâmicas dada a próprianatureza multidisciplinar do turismo, o qual só funciona empleno se cooperar em rede com muitos outros sectores dasociedade e da economia. Daí que, precisamente, no decurso dodesenvolvimento do Plano de Gestão para o Baixo Guadiana, sejamanalisadas, e em certa medida contempladas, as estratégiasinscritas no Plano Nacional de Turismo, assim como relativamenteàs medidas estruturantes para o sector que emanam da UniãoEuropeia.
A transversalidade do turismo implica que, tal como eleinfluencia outros segmentos de actividade de um determinadoterritório, que esses segmentos também tenham impacto sobre oseu funcionamento. Ao considerar a abrangência da actividadeturística, é por isso necessário levar em conta políticaspúblicas que actuam directamente na actividade (como é o casodas políticas nacionais) ou indirectamente (nas questõesreferentes à saúde, segurança, transporte, etc.). Essaspolíticas, por emanarem do sector público, têm aresponsabilidade de reduzir os impactos negativos e de maximizaros impactos positivos proporcionados pelo turismo; e devem
preocupar-se em assegurar a equidade, ou seja, que os benefíciosgerados devem chegar ao maior número de pessoas possível, aocontrário de defender somente os direitos de grupos isolados,como é o caso do sector privado. Mas parece também evidente, queem vez de isso ser feito por regulamentação emanada de umaautoridade distante, que será mais eficaz se, no território, comos poderes locais e através de processos participativos, seconseguir encontrar o modelo que garanta essa equidade,acrescentando-lhe a transparência e uma maior informação sobreos investimentos, riscos e benefícios, aumentando a compreensãoface aos distintos níveis de repartição.
A abordagem tradicional do sector público no turismo,centralizada e gerencialista, “de cima para baixo”, tambémlevava a que este tivesse que assumir responsabilidades pelaprovisão de infra-estruturas, controle do planeamento, marketinge promoção, e desenvolvimento proactivo para o bem público. Estaforma de administração da actividade – que promovia o turismocomo um bem público, através de um conjunto de políticas einstrumentos - alterou-se para um modelo de gestão empresarial,com grande ênfase na eficácia, no retorno do investimento, dandoprimazia ao papel do mercado enquanto regulador. Igualmente nasrelações com os stakeholders houve uma significativamodificação, passando a actividade a deixar de ser regulada decima para baixo, com os agentes que gerem junto do público onegócio a terem uma palavra activa cada vez mais substantiva,inclusive na definição das citadas políticas. De uma promoção deviagens para os tempos de lazer passou-se a uma organizaçãoconsentânea com a ideia de indústria que hoje assenta com totaljustiça na actividade turística.
Nas políticas públicas do turismo está-se a verificar o mesmofenómeno que se pode encontrar nos restantes domínios dasactividades públicas: uma alteração profunda de paradigma, nocaso do nosso país mais lentamente devido ao peso tradicional damáquina administrativa, mas mesmo assim em curso: de algumaforma, poder-se-á pressupor que a governação partilhada está emprogresso. Este processo é mais descentralizado, inclusivo, emais assertivo no seu encorajamento para que as comunidades
locais e as empresas se motivem a tomar uma maiorresponsabilidade pela gestão. Esta mudança, apesar de originadanas críticas neoliberais à actividade do Estado, na necessidadede cortes na despesa pública, e, em certa medida, pelodesencanto do público com as políticas governamentais, pode terum final distinto daquele que as críticas iniciais preconizavam.A integração do conceito «público» num quadro de governançalocal, com participação comunitária, sob a supervisão dospoderes locais legitimados por processos electivos, pode reporos conteúdos sociais que estas políticas devem ter: Nuncadevemos esquecer que a actividade turística se desenvolve apartir de matérias primas – naturais, culturais e vivenciais -que pertence a uma comunidade, e que, portanto, esta deve serchamada ao processo de gestão e à repartição e responsabilizaçãodas suas consequências.
A responsabilidade das políticas públicas para o turismo devecontinuar a ser assegurar que esta actividade beneficia toda asociedade e não apenas alguns interesses particulares. Como tal,elas devem executar as preferências da sociedade utilizando osinstrumentos de regulação económica, os investimentos e aarrecadação fiscal; e maximizar os benefícios sociais doturismo, facilitando uma maior e melhor informação, formação,gestão, aumento da produtividade do sector público e a provisãode bens públicos, que vão desde a ordem pública até a protecçãodo meio ambiente.
Num processo de desenvolvimento integrador e participativo, aformulação e implementação de políticas públicas adequadaspoderá proporcionar o ambiente propício a esse desenvolvimento,aqui entendido como a construção de uma estratégia que avaliediferentes interesses e percursos, facilitando e propondo atomada de decisões políticas. E se o essencial das políticas deturismo consiste no tentar criar um clima propício à colaboraçãoentre os vários stakeholders, seja apoiando, facilitando eenunciando mesmo as várias funções que aqueles desempenham,nomeadamente: fornecer uma direcção com orientações para todosos stakeholders, seja facilitando o consenso em redor de uma visãoespecífica, estratégia e objectivos para um dado destino, então
os dois objectivos parecem não só próximos, como capazes deserem integrados por uma metodologia que favoreça os seuselementos comuns.
Em função do papel regulador e dinamizador que, por enquanto, seentende necessário outorgar a uma qualquer entidade pública, osestudos sobre o “poder” ou “poderes” locais, manifestam-se departicular interesse para as políticas de turismo, se atendermosa que o poder, isto é, quem decide, governa em interacção com osindivíduos e organizações, acabando por influenciar ou mesmodeterminar a definição e implementação de políticas de turismo,o que fica facilitado quer quando é feito num contexto deproximidade, e com a participação empenhada da comunidade nessaestratégia. Em particular, em territórios em que o processo dedesenvolvimento se deseje assente em princípios e práticassustentáveis, a definição e gestão participada de políticaslocais exige a actuação compartilhada entre o sector público eprivado, da sociedade civil, em particular das organizações nãogovernamentais e dos próprios cidadãos individualmenteconsiderados. Assim, podem construir-se destinos competitivos,atractivos e funcionais, integrados num ambiente bem planeadoonde as formas apropriadas de desenvolvimento turístico sãoencorajadas e facilitadas”.
No entanto, nada garante que a actividade turística produza defacto esse efeito. Sobretudo, a prazo, não é linear que sejamapenas positivos os impactos, sobretudo em termos desustentabilidade ambiental e equidade económica e social. A suainegável capacidade de catapultar economias locais e regionais éigualmente acompanhada do risco de lhes provocar efeitosnefastos e eventualmente irreversíveis, se o processo for malplanificado, erradamente conduzido ou deficitariamenteparticipado, ou se por outro lado, a sua especificidade não derazo a políticas públicas adequadas. Assim, assumem particularrelevância as políticas públicas que possam enquadrar, regular epotenciar o turismo, fazendo surtir efeitos positivos,transformando em oportunidades os recursos endógenos,conciliando os diferentes e legítimos interesses, em particular,das comunidades locais, as empresas, do Estado e dos turistas.
Por isso os Planos de Gestão para os territórios mais sensíveissão fundamentais.
d)Para a Participação comunitária
Num número ainda alargado de países membros da União Europeia,as administrações nacionais são ainda herdeiras de uma culturade centralismo que afectam a autonomia dos processos dedesenvolvimento local, apesar de haver um cada vez maior númerode projectos associativos que procuram gerar maiores dinâmicasnos seus territórios e nas comunidades que neles habitam.Gradualmente, a participação da população tem vindo a aumentar,e as iniciativas vão-se multiplicando, sejam aquelas que emanamde um quadro mais institucional e/ou formal, ou outras decarácter mais espontâneo, que se baseiam em solidariedade e/ouem voluntariado.
O paradigma da representatividade política, é nítido, está emalteração. Na Europa o modelo hoje predominante é o dademocracia representativa, mas a evolução de governação paragovernança começa a ter cada vez mais exemplos que a reforçamcomo caminho evolutivo para a democracia europeia; à medida queos processos participativos evoluem, a governança também evoluipara apoiar uma participação mais ampla e mais madura.
Este processo retira das mãos do Estado a responsabilidadeintegral pela sua eficácia, deixa de ser uma coisa que se esperapara tornar-se numa coisa que se faz e que exige participaçãodas populações, sendo da expressão dessa participação queresulta, por um lado, uma maior ou menor robustez do processo,e, por outro, uma maior ou menor legitimidade das tomadas dedecisão. Experiências realizadas com projectos dedesenvolvimento comprovam, no entanto, que a capacidade de auto-organização dos territórios, a riqueza do capital socialacumulada, a participação interventiva, associadas a umadinâmica cultural, social e política, a um ambiente propício à
criatividade, à partilha e a um sentimento de apropriação doprocesso pelas comunidades locais, constituem factoresessenciais para a sua consolidação.
Não nos podemos esquecer que a participação comunitária é um paradigmaocidental relativo à gestão e utilização dos recursos naturais.Normalmente, o conceito participação comunitária tem o seu foco noprocesso de tomada de decisão e nos benefícios decorrentes dodesenvolvimento turístico. Assume-se que, quando as comunidades estãoenvolvidas nas tomadas de decisão, que os seus ganhos estãogarantidos, assim como os seus estilos de vida tradicionais e valoresserão respeitados. Esta visão idealista, emanada da evolução cívicaque muitos países europeus e os seus dois parceiros norte americanospossuem, onde o conceito de partilha de poder não é mera letra deforma, raramente se encontra nos países em vias de desenvolvimento. Noentanto, não só pelo seu exemplo na criação de políticas públicas oude metodologias de gestão participada para os recursos, mas no seucomportamente e atitude enquanto consumidores de recursos exógenos –na qualidade de turistas, por exemplo – os seus cidadãos podemfuncionar como catalisadores do alastramento das estratégias departicipação comunitária.
Com igual relevância, na participação, surge a questão doconhecimento, da informação. O ponto de partida para qualquerestratégia de participação pública devia ser um claro senso de qual éa presente situação e o que pode ser feito para a melhorar. Acompreensão melhorada pode ajudar a dar mais clareza, objectividaderelativamente aos objectivos, o que pode ser obtido, como se podemseleccionar as técnicas de participação adequadas, e como estabeleceros processos de revisão e de monitorização. O desafio subjacente écomo devem ser executados os passos em direcção a uma mudança napercepção do público de modo qua que os enquadramentos institucionaispareçam menos burocráticos e distantes, e mais abertos e acessíveis.
Um segundo passo deve ser dado no sentido de conseguir melhorcomunicação entre as autoridades e para lá delas. Sistemas quepermitam que as pessoas se aproximem dos processos de decisão e dasautoridades para perceberem como se consultam os processos e quais sãoos mecanismos processuais que estão em funcionamento são igualmente
essenciais. Também é muito importante uma capacidade efectiva decomunicar com o público sobre o conjunto disponível de oportunidadesde participação. Procurar chegar ao público mais do que esperar que opúblico venha às instituições, alargar o número de convites àparticipação para lá de um número relativamente habitual destakeholders, muitas vezes eles próprios já consideravelmenteinstitucionalizado.
Uma terceira etapa deve ser instituída no sentido de diminuir adistância entre as perspectivas do público e as das instituições eautoridades devem ser a construção e capacidade. Uma vez mais, devemser as instituições a definir processos que permitam que a própria«definição de agenda» seja o mais enraizada possível na comunidade.Construir capacitação pode envolver a educação para a cidadania,desenvolvimento comunitário ou iniciativas direccionadas(particularmente para segmentos mais jovens da população, ou outrosgrupos mais difíceis de serem mobilizados).
Um quarto passo será dado com o reforço das conexões de modo a que osprocessos de participação desenvolvam fortes ligações entre osdiversos processos de gestão e de representação política no quadro dasautoridades locais. Diminuir essa falha significa que a participaçãonão pode ser vista como uma alternativa ao processo políticorepresentativo mas antes como um elemento essencial nesse processo ecomo um processo de gestão profissional para melhorar os serviços quesão disponibilizados à comunidade.
Deste modo vai conseguir-se que as pessoas desejam estar maisenvolvidas na definição de uma visão para a sua comunidade, assim comorepresenta uma contribuição para que eles sejam capazes de resolver osseus próprios problemas e os da sua comunidade.
Embora a responsabilidade pela formulação de políticas e a decisãofinal recaiam sobre o governo, desde a informação até à consulta, oexercício da cidadania expresso na participação activa, influencia opapel que os cidadãos podem exercer na formulação de políticas, o queproporciona ao governo uma melhor base para a sua formulação,garantindo, em simultâneo, uma implementação mais efectiva, na medida
em que os cidadãos se tornam mais bem informados sobre as políticas eparticipam de seu desenvolvimento.
Daí que a crescente preocupação dos governos com o fortalecimento desuas relações com os cidadãos se prenda também dentro do contexto daspolíticas públicas, particularmente nas que se referem aodesenvolvimento. São desafios que os decisores sabem ser difíceis eque exigem cooperação e acordos entre os diversos níveis de governo,sejam eles locais, regionais, nacionais ou globais, e que igualmenterequerem um exercício activo de cidadania.
A implementação das políticas públicas pode ser considerada a partirde duas perspectivas: top-down e bottom up. Política pública naperspectiva top-down não pode ser entendida senão como uma decisão enão um processo, já que as acções governamentais são realizadas decima para baixo. Uma visão alternativa, ainda dentro da abordagem top-down, considera a formulação e a implementação de políticas como umprocesso linear. A implementação é vista como estágio relevante e osproblemas que nela ocorrem devem ser assimilados pela análise dosprocessos políticos (em termos de propostas programáticas) econsiderados como sendo de diferentes tipos. Eles podem estar ligadosà capacidade institucional destes actores responsáveis pelaimplementação. Os problemas podem ser também decorrentes de questõespolíticas. Em terceiro lugar, eles podem decorrer de resistências eboicotes por grupos afectados de modo negativo pelas políticas. Essavisão também apresenta certos limites.
Por sua vez, a abordagem bottom-up procura ser mais realista eaplicável. Ao partir do conceito de que a administração não é perfeitae que nem sempre os recursos externos estão disponíveis no tempo e naqualidade requisitados, estes modelos salientam a confiança depositadano implementador e procuram garantir um grau de liberdade de acçãopara os promotores, que lhes permita lidar com as incertezas emrelação ao ambiente através da flexibilidade e da aprendizagem.
A informação deve continuar a ser produzida em fluxos constantes erelevantes, sendo incentivada a sua difusão como um pressuposto básicopara a participação, e os processos consultivos como sendo o caminhofundamental à formulação de políticas; a participação activa é uma
nova fronteira que reconhece a capacidade dos cidadãos para discutir egerar opções de políticas, exigindo que os governos compartilhem aelaboração da sua agenda. Por outro lado, as políticas devem serconcebidas de forma a incentivar um governo eficaz, credível etransparente, integrando a participação das organizações e osindivíduos de uma forma mais equitativa.
O desenvolvimento da participação e a possibilidade de uma boagovernança andam a par, com a finalidade de aumentar asustentabilidade e a auto-suficiência e de alcançar a justiça socialpor meio do melhoramento da qualidade da participação dos indivíduos,através da melhoria qualitativa da participação nas sociedades locais
2. O Planeamento territorial
Modelos e Metodologias para o Turismo Sustentável
1.Porquê o turismo? Turismo, sustentabilidade e biodiversidade
Mesmo sob um olhar menos atento, é evidente que existe um laçofundamental entre um sector turístico com continuidade, compossibilidade de funcionar a longo prazo, e a protecção da suaprincipal atracção – a natureza em si mesma. A indústria do turismo,muitas vezes descrita como a maior do mundo, tem por isso, emconsequência, uma grande responsabilidade na preservação dabiodiversidade, da escala planetária à local. Sem dúvida que osrecursos, globalmente considerados, não lhe faltam para desempenhar
esse papel: o turismo gerou, em 2006, de acordo com o Conselho Mundialdo Turismo, uma receita superior a 575 biliões de dólares.
Por causa da importância da qualidade ambiental e da biodiversidadepara o turismo, a indústria do turismo tem um interesse de longo prazona conservação e na protecção ambiental. Os esforços dedesenvolvimento do turismo sustentável dependem agora, urgentemente,dos progressos que se consigam em termos das políticas públicas dosector, indo mais para além do que o modelo actualmente predominante.
Na actualidade, a expansão do turismo não é apenas baseada nainfraestrutura física, existe igualmente uma expansão na dimensão dasexperiências disponíveis para os turistas. Num número cada vez maior,os turistas também não estão interessados apenas em férias de «sol epraia», ou em desportos de inverno, mas em novas ofertas turísticas delargo espectro. Essa diversidade que é precisamente uma das grandesmais valias do território do Baixo Guadiana.
No entanto, a procura de outros espaços e de outras actividades tambémtem trazido, a sítios antes entregues ao ritmo equilibrado dos seusquotidianos ancestrais, o impacto dessa procura, muitas vezes com umaintensidade e número muito superiores ao que seria desejável, não sódo ponto de vista da conservação patrimonial mas igualmente daqualidade da fruição. Esses impactos requerem atenção, e essa atenção,antes de tudo, requer planeamento. E o planeamento requer debate,consenso, e concretização.
Deste modo, entende-se a responsabilidade e o seu contributo – que sevai tornando cada vez mais consciente - para a preservação dabiodiversidade. O turismo é como o fogo: pode cozinhar-se a nossacomida com ele, ou, se não se tiver cuidado, também pode queimar acasa onde vivemos. O turismo de facto oferece oportunidades para odesenvolvimento económico, social e ecológico, mas apenas se os riscosque essa actividade envolve não forem negligenciados.
O turismo sustentável deverá:
- optimizar o uso dos recursos ambientais que constituem o elementochave do modelo turístico que se pretende implementar, respeitando ascapacidade de carga locais, quer físicas, quer sociais, e mantendo o
essencial dos processos ecológicos e ajudando a conservar a herançanatural e a biodiversidade;
- promover, junto dos visitantes, a conservação da biodiversidadeatravés do aumento da consciência a ela relativa, e por aumentar operfil da conservação da biodiversidade nos níveis local e nacional;
- obter de fundos adicionais para a conservação gerados pelaactividade turística.
- respeitar a autenticidade socio-cultural das comunidades deacolhimento, conservando a sua herança vivencial e edificada e os seusvalores tradicionais, e contribuindo para um entendimentointercultural e para a tolerância;
- promover a actividade turística em favor da sustentabilidade –particularmente onde esta possa gerar postos de trabalho locais e useprodutos e serviços locais –, o que pode, inclusive, ajudar a reduzir,quando esta se verifique, a exploração insustentável dos citadosrecursos; envolver a menor saída possível deste território dosrecursos financeiros gerados;
- assegurar a viabilidade a longo prazo das operações económicas,providenciando benefícios socio-económicos que sejam distribuídos comjustiça a todos os stakeholders, incluindo o trabalho permanente e asoportunidades de obtenção de rendimentos e de serviços sociais paratodas as comunidades de acolhimento, contribuindo para odesaparecimento das condições de carência;
- contribuir para o bem estar das comunidades locais; incluir aexperiência de interpretação e a aprendizagem do território;
- assegurar um elevado nível de satisfação por parte dos turistas eque a sua visita seja uma experiência significativa, elevando a suaconsciência relativamente à temática da sustentabilidade e promovendoentre si as práticas do turismo sustentável.
- promover uma participação informada de todos os stakeholdersrelevantes, assim como uma forte liderança política para assegurar umalarga participação e a construção de consensos.
Atingir um turismo sustentável é um processo contínuo que requer umaconstante monitorização dos impactos, e a introdução de medidas
preventivas e/ou correctivas sempre que sejam necessárias, ou seja,deve garantir que:
1) as condições para a execução da actividade turística são asadequadas para que esta actividade possa ter continuidade futura, e
2) deve garantir a capacidade da sociedade e do ambiente empoderem absorver e beneficiar do turismo de uma forma sustentada
2- Um modelo de turismo baseado na comunidade
O termo “turismo sustentável” é usado na indústria turística, na áreaambiental e ainda no desenvolvimento comunitário e pode ser definidocomo um turismo que utiliza os recursos de uma dada comunidade para odesenvolvimento turístico. Esse modelo de desenvolvimento pelo turismosustentável integra, nas suas características, a participação pública,os benefícios locais, a conservação dos recursos ambientais locais,idealmente uma parcela considerável do turismo operacionalizado pelacomunidade local, com a possibilidade de envolvimento de parceirosexógenos, em função da escala da operação, mas que em situação algumadeve colocar em causa o equilíbrio dos eco-sistemas e dos recursoslocais. A herança cultural pode ser uma das mais importantes atracçõesdo turismo de base comunitária, em que a sustentabilidade da suautilização reside precisamente no facto de ela ser feita em parceriacom as comunidades locais. Actualmente, muitos autores consideram quea existência de participação pro-activa por parte dessas comunidades éo factor decisivo na sua boa gestão, sendo que estes stakeholdersdevem ser, obrigatoriamente, considerados como desempenhando váriospapéis em simultâneo: de participantes, de investidores, de decisorese ainda, inclusive, de consumidores. O debate actual em torno destaquestão já não a coloca em termos de se a comunidade deve participarmas sim de como e quando ela o deve fazer.
Como veremos nas conclusões da investigação par ao território do BaixoGuadiana, a eptapa inicial de qualquer projecto com esta metodologiadeve começar por identificar o nível existente de participaçãocomunitária. E, de imediato, os diferentes níveis de envolvimentodevem ser ligados ás diferentes avaliações e previsões (por grupos destakeholders, também), permitindo definir as acções a concretizar, emdiferentes níveis temporais, de modo a conseguir aumentar acapacitação, a intervenção, a gestão autónoma dos rumos da estratégia
inscrita no seu território comunitário. O desenvolvimento daparticipação comunitária vai empoderando os seus membros, aumentando asua auto-estima e o grau do seu envolvimento cívico, facto que deveser enfatizado como um meio e um objectivo para se adquiriremcapacidades humanas básicas, como seja o poder de obter uma certaqualidade de vida. Aplicando este conceito ao turismo, esseempoderamento deveria estipular que as destinações turísticascomunitárias deviam ter a autoridade, em vez dos governos ou asempresas do sector, de ter a autoridade e os recursos para tomar asdecisões, obter a capacidade de agir e o controlo sobre odesenvolvimento turístico. Deste modo, torna-se evidente que paraconcretizar um turismo sustentável, o empoderamento das comunidadesafectadas pelo desenvolvimento turístico terá que estar ligado àimportância da justiça política e socio económica que se consigaimplementar.
Parcerias e colaboração:
Desde a publicação do Relatório Brundtland em 1987, que as instânciasinternacionais ligadas ao desenvolvimento, como foi a Cimeira Mundialpara o Desenvolvimento Sustentável realizada em Joanesburgo em 2002,reconhecem que a construção de parcerias e a colaboração são aspectosessenciais para o desenvolvimento sustentável. Uma vez que o turismodepende de inúmeros factores externos, as parcerias deviam envolverinúmeros stakeholders, apresentando largo número de ligações público-privado (CHAMEM O SÓCRATES!), bem como entre a comunidade e os agentesprivados, ao lado de um planeamento transsectorial e uma partilha noprocesso de tomada de decisão, visando em todas estas associações aconstrução de pontes que unam as diferenças culturais em presença.
Nos modelos de turismo baseados na comunidade, de há muito que umaabordagem pela participação comunitária é defendida como parteintegral de um modelo de desenvolvimento de turismo sustentável. Deacordo com alguns autores, a participação não se reporta apenas àpossibilidade de se atingir uma mais eficiente e mais equitativadistribuição dos recursos materiais: é também respeitante à partilhade conhecimento e à transformação do processo de aprendizagem em simesmo ao serviço do autodesenvolvimento da comunidade. Já Arnstein, em1969, escrevia que o propósito da participação é a redistribuição dopoder, desse modo viabilizando a redistribuição justa dos benefícios e
dos custos. No que respeita ao planeamento turístico especificamente,a participação comunitária é o processo pelo qual são envolvidos todosos stakeholders (governo local, cidadãos, investidores, empresários,organizações locais), de tal modo que o processo de tomada de decisõesseja partilhado.
Problemas de percepção comum e soluções largamente consensuais sãodescobertas, muitas vezes, em resultado destes processos decolaboração; seria muito pouco provável que tivessem surgido apenaspor sugestão de um dos stakeholders agindo isoladamente. Além do mais,a colaboração é uma forma de resolver tensões que existam entrediferentes stakeholders, quer no sector público quer no privado, epermite que todos os stakeholders se envolvam no processo deconstrução das decisões.
Os críticos desta metodologia argumentam, entre outros aspectos, queuma abordagem participativa é sempre muito lenta, consumindo muitotempo para se obterem resultados. E que parte da comunidade não teráeducação suficiente para entender certos aspectos técnicos, ou que nãoterão experiência empresarial para se pronunciarem sobre certosaspectos. Muitas vezes os cidadãos nem sabem como exercer essesdireitos (também porque muitas vezes alguns stakeholders maispreparados – administrações, associações etc., não queremefectivamente favorecer essa partilha)
A capacidade de participação não deve ser assegurada apenas pelodireito de o fazer, os meios para a concretizar também devem serassegurados. A participação concreta exige os direitos e os meios.
Tópicos da abordagem BASEADA NA COMUNIDADE: razões porque esta é muitorelevante
1 – os assuntos locais têm uma influência directa na experiência que ovisitante absorve. Os ambientes turísticos devem ser criados emharmonia com o clima social, no qual os residentes beneficiarão doturismo e não serão, ao invés, as suas vítimas;
2 – a imagem do turismo assenta na comunidade local, a cooperação dacomunidade hospedeira é essencial para o acesso e o correctodesenvolvimento desses recursos;
3 – as funções de envolvimento público são uma força condutora paraproteger o ambiente natural e a cultura da comunidade como produtosturísticos;
4 – este modelo aumenta a fiabilidade e a longevidade dos projectos,no qual todos os planos devem estar ligados com o desenvolvimentosocio económico geral da comunidade;
NOTA LATERAL / DEFINIÇÃO DE COMUNIDADE – uma comunidade, por definiçãoimplica um conjuto de indivídios com alguma responsabilidadecolectiva, e a capacidade de assumir decisões através de órgãosrepresentativos.
Nota LATERAL sobre os facilitadores: “os facilitadores desempenham umpapel crucial num cenário de conflito, eles transforma um conflitodestrutivo num diálogo construtivo. Os facilitadores num cenáriocomunitário, normalmente consultores contratados, ou organizações não-governamentais ou representantes dos poderes políticos, podem promovera construção de relações respeitosas por empoderamento dos diversosstakeholders, particularmente da comunidade oudos seus representantes.
a) A participação comunitária Definição deprincípios orientadores e dos métodos de participação
No âmbito do planeamento e da construção de projectos dedesenvolvimento turístico, uma comunidade pode ser genericamentedefinida a partir de uma perspectiva geográfica – um conjunto depessoas vivendo num mesmo território. É notório que, na prática, esteconceito falha ao não levar em conta a natureza multifacetada de umacomunidade, e necessitada e ser subdividido em «comunidades dentro dacomunidade» (tal como faremos em capítulo posterior, no processo deestruturação do plano de gestão turística para este território). Mas,integrando a história e características dessa comunidade nadiversidade que a representa face a outras, este conceito tem um valor
operativo importante, por permitir um perímetro definido com clareza.Qualquer intenção de planeamento e de intervenção concreta precisadesta delimitação orientadora, sem a qual os resultados efectivos nãosó têm dificuldade em ser implementados, como ainda, para além disso,de serem medidos, avaliados e melhorados.
Igualmente relevante é, com o mesmo sentido de eficácia, a adopção, aoconstruir-se um processo de planeamento, de procedimentos que sejamentendíveis, defensáveis, onde as decisões possam ser obtidas e ondeos valores inerentes à protecção da sustentabilidade desejada sejamexplicitamente referidos. Mais do que tudo, é essencial que osstakeholders sejam envolvidos de forma apropriada no processo. Tomardecisões acerca do desenvolvimento turístico em áreas de valor não éfácil; envolve não apenas os gestores directamente com ela ou com asactividades relacionados, ou mesmo os visitantes e turistas, mastambém os cidadãos da comunidade residente nesse território. Daítambém a importância de se delimitar com rigor essa mesma comunidade,de modo a poder estruturar a sua participação de forma justa, rigorosae relevante para estes processo que estão associados aodesenvolvimento local e que não poderão cumprir, na sua totalidade ,os seus objectivos sem contarem com o contributo dos seus membros.
É evidente que, dentro de uma comunidade, existem distintas atitudesface a esse processo e às suas componentes estratégicas e sectoriais.Essa diversidade reflecte-se, também, nas atitudes face ao turismo eao seu crescimento e importância no contexto do território. Essadiversidade estende-se a todos os residentes, (e não apenas aosnaturais) o que aumenta ainda mais a diversidade das atitudes,efectivas e expectáveis. O tratamento do conjunto da comunidade de umterritório pode ser feito com base em factores de semelhança (umageografia, uma identidade e/ou experiências partilhadas), mais do quenuma unidade baseada em factores internos da comunidade (original),que geram diferenças, competição e resistência face a eventuaisinovações. O planeamento bem sucedido envolve, geralmente, todos osgrupos, de tal modo que todos possam dar o seu contributo para asdiferentes componentes do processo, e como tal, sentirem-se tambémautores do modelo de planeamento a que se pretende chegar. O processode tomada de decisão deve, aliás, ser desenhado integralmente pelosstakeholders desde o início, e não apenas acrescentado ao processo,como se faz em tantas áreas que exigem opinião da comunidade (meralegitimação, e não verdadeira participação). INSERIR AQUI A PARTE NOVA
Se, como parece evidente, cada grupo de stakeholders tem os seusvalores e objectivos particulares – a sua «cultura» - estes reflectem-se em exigências distintas. A construção de consenso é, por isso,imprescindível para a aceitação do resultado final, de modo a que osrecursos disponíveis possam ser atribuídos à execução do planeado, ouque as restrições decididas possam ser executadas, sem que isso tragadepois problemas no seio de determinados grupos. A participaçãoalargada dá algumas garantias quanto à execução do que tenha sidoplaneado, as diferentes metodologias do processo (que mais adianteserão apresentadas com detalhe) a assegurarem que mesmo aqueles quesejam preteridos em algumas das suas preferências pessoais se sintamno dever comunitário de adoptar as posições e caminhos que tenham sidoescolhidos no decurso do processo.
Os programas de participação dos diferentes stakeholders também nãodevem ser determinísticos, ou seja, virem previamente definidos apartir das instituições oficiais (processo designado habitualmente portop-down), sob pena de não enquadrarem as necessidades e possibilidadesde um determinado grupo, ficando assim a sua empenhada e indispensávelcolaboração perdida, comprometendo a ideia de construir um planeamentopor consenso e comunitário.
Uma última noção deve ainda estar presente em todos aqueles que tenhamresponsabilidade nestes processos de planeamento: o envolvimentocomunitário é um processo de trocas com dois sentidos, entre os planosinstitucional e o público / comunitário. Estes processos podem gerarbenefícios mútuos, implicando etapas de aprendizagem mútua, atravésdas trocas de conhecimentos, de experiência e de especialização.Apesar de existirem diferentes modelos para a concretização desseenvolvimento, alguns princípios não devem ser esquecidos em qualquercircunstância, devendo funcionar como princípios orientadores dessamesma prática; a saber:
- Transparência: envolvendo o processo no qual as decisões sãotomadas. Todos aqueles que nelas estão envolvidos possam ter a noçãodo decorrer do processo, em particular relativamente aos momentos detomada de decisão;
- Clareza e objectividade: são importantes para a definição dosparâmetros que envolvem a participação pública. A natureza e o âmbitodessa participação devem ser definidos com clareza, sempre que
possível incluindo quais são os resultados expectáveis pela suaexecução;
- Relevância: as actividades que se apresentam devem ser importantesno contexto da comunidade às quais dizem respeito;
- Aplicabilidade ou influência: os resultados da participação públicadevem ter efectivos impactos, e serem reconhecidas por isso mesmo (oque implica, portanto, que esses impactos tiveram antecipadamente umacordo maioritário por parte da referida comunidade);
- Oportunidade (timing): o momento de envolvimento dos diferentesactores locais no processo de participação deve ser escolhido de modoa dar o maior destaque possível a essas intervenções;
- Eficácia na gestão de custos e recursos: a boa gestão dos recursos edos meios financeiros é um aspecto muito motivador à participaçãopública das comunidades, cuja eficácia deve ser claramente demonstrada– a gestão da participação envolve, também ela, custos (pessoas, meiostécnicos, processos de comunicação, etc.), sem os quais a participaçãocomunitária jamais se concretizará. A comunidade envolvida precisa deter essa percepção e de poder fiscalizar do bom uso dos meiosfacilitadores do processo;
- Representatividade: aqueles que participam neste processo devemconstituir uma amostra representativa da generalidade da comunidade(ou de determinados segmentos dos públicos alvo envolvidos numdeterminado plano de gestão), até pela possibilidade de assim havermaior diversidade de pontos de vista, facilitando a construção deconsensos prévios;
- Focalização com o público-alvo (convergência estratégica): asactividades que envolvem a participação comunitária devem ter enfoquesparticularmente desenhados, incluir componentes de identificação epossuir argumentos e metalinguagens que favorecem a conexão e apossibilidade de avaliação crítica por parte dos envolvidos,reconhecer os seus interesses – só deste modo poderá existir umefectivo empenho, pelo seu lado, nesse mesmo envolvimento;
- Independência: a participação comunitária deve ser desligada dequaisquer compromissos «escondidos», permitindo a concretizando dosplanos traçados em comum;
- Envolvimento: deve envolver a comunidade de forma significante erespeitosa;
- Avaliação e aprendizagem contínua: neste processos, é necessárioconsiderar a inclusão de processos objectivos de avaliação, bem comode metodologias que permitiam aprender e ir afinando os processosassociados a esta participação comunitária / pública. Esta críticadeve ter em consideração os tempos de reflexão essenciais para umacorrecta avaliação dos diferentes aspectos que estejam contidos noprocesso de participação.
UMA GAMA de fórmulas de participação em processos de tomada dedecisão:
- Participação nominal, o modo mais simples como alguém podeparticipar num processo deste tipo é fazer parte de um grupo, estarinscrito, mas nunca aparecer às sessões de debate e discussão, muitasvezes porque depois não têm disponibilidade para o fazer, por teremoutras responsabilidades, embora também possa suceder que não queremcomparecer, porque, por exemplo, por alguma razão ssentem não ser bem-vindos;
- Participação passiva, na qual as pessoas são membros do grupo, eestão presentes nas reuniões de debate ou onde são tomadas asdecisões, mas assistem passivamente à descrição das decisões játomadas pelos decisores (grupo elitista), fazendo papel de ouvintessem opinião ou poder;
- Participação consultiva, na qual as pessoas são consultadas a darinformações e a sua opinião (novos dados, preferências e mesmopropostas) aos decisores. Nunca assumem tomadas de posições entre si,nem participam, uma vez mais, nas decisões, reservadas, ainda, aogrupo decisor, que pode condescender em tomar a opinião dos inquiridosem conta, mas não tem qualquer obrigação de o fazer;
- Participação por petição, através da qual os membros de um grupopodem solicitar às autoridades qe tomem certas decisões ou querealizem determinadas acções, normalmente para solucionar queixas porparte da comunidade. Embora as prerrogativas de decisão continuem apertencer a uma elite, neste modelo o grupo comum tem o direito de serouvido, e existe o dever de lhe responder, e de conceder ou pelo menos
de acautelar; este processo é muito usado nos processos tradicionaisde tomada de decisão influenciada pela comunidade;
- Implementação participativa – os decisores determinam os objectivosos meios principais à disposição, definindo ainda a táctica parachegar aos resultados, os participantes têm, em consequência, umespectro de decisões que podem tomar, dentro deste enquadramento pré-definido;
- Negociação, processo no qual seja qual for o poder individual oucolectivo que as pessoas tenham, podem usá-lo em negociações com osdecisores, sendo, no uso deste processo, adversários e não parceiros,com a conduta de ambos os lados a ser marcadamente influenciada porinteresses próprios; neste processo verifica-se uma certa tendênciapara a opinião da elite decisora predominar;
- Deliberação participativa, os grupos da comunidade ou os indivíduostomam as decisões em conjunto, envolvem-se em entendimentos práticos,e procedem à votação de propostas e de argumentos no sentido deconseguirem acordos no estabelecimento de políticas para o bem comum,pelo menos aquelas que uma maioria está disposta a aceitar
b) Processos de gestão comunitária
A participação comunitária relacionada com o aproveitamento dosrecursos locais para finalidades de lazer e valorização económica deuos seus primeiros passos nas comunidades rurais dos EUA, na década de70 do século XX, e foi concretizada através da realização deassembleias comunitárias (fóruns), realizados com líderes e membrosdesses grupos. Dos debates que então se realizaram foi possívelconstruir os objectivos de cada comunidade para o desenvolvimentoturístico local. Esses planos tinham como finalidade asustentabilidade dos recursos, uma lição de há muita aprendida poralguns grupos ambientalistas que dela fazem lobby, em resultado dacriação, ainda no século XIX, dos primeiros parques naturais no mundo,igualmente na América do Norte, Canadá incluído.
A partir desse exemplo, e das práticas democráticas associadas àspolíticas públicas na Europa (que estão em crescendo desde os anos80), as abordagens comunitárias, também neste campo específico doturismo, passaram a ser consideradas como permitindo aumentar aqualidade de vida quer para os residentes quer para os visitantes.
Nas décadas de 80 e 90 foram desenvolvidas técnicas para o fomento doturismo comunitário, e para a participação comunitária no planeamentoe desenvolvimento do turismo, assim como para os processos de tomadade decisão. Muitas das dificuldades já então encontradas relacionavam-se com as diferenças de poder efectivo entre a comunidade e osorganismos oficiais (governos e administração pública dos maisvariados níveis).
Independentemente dessas dificuldades, um largo número de técnicas deapoio foi desenvolvido, para contribuir para concretizar estratégiasque optam por impulsionar um turismo da comunidade e a participaçãocomunitária na gestão deste sector da actividade local:
- estabelecer um comité ou fórum permanente par ao turismo, com onúmero mais vasto possível de stakeholders (no caso seria uma espéciede conselho intermunicipal de turismo) que funcionaria como conselhoconsultivo para os processos de gestão em curso;
- criar um organismo transversal englobando os governos locais,regionais ou nacionais que funcione igualmente como conselhoconsultivo e como plataforma para a definição do apoio financeiro aodesenvolvimento das iniciativas da comunidade;
- proceder à consulta dos membros da comunidade sempre que estejam emcausa assuntos estratégicos para o sector turístico, com apossibilidade de votar em alternativas;
- usar a metodologia dos pequenos grupos ou dos focus grupo parafacilitar os processos democráticos de decisão;
- proceder a sondagens de opinião regulares, junto da comunidade, paraidentificar assuntos a resolver e possíveis soluções;
- utilizar oradores e especialistas independentes ao território, àcomunidade e aos agentes directamente envolvidos, para informaremimparcialmente a comunidade das implicações das propostas relativas àimplementação e desenvolvimento de uma dada estratégia para o turismo;
- utilizar materiais visuais e outros, com linguagens adequadas, parafazer a apresentação das diferentes soluções, com o propósito deinformar correctamente a comunidade das opções em causa;
- realizar sessões públicas em assuntos chave do planeamento,introduzindo medidas para melhorar a qualidade do trabalho daindustria turística – por exemplo, promover acções de formação paramelhorar a qualidade dos profissionais deste sector;
- organizar eventos, de fim de semana ou festivais, que sejamdireccionados para a comunidade, como forma de sensibilização da mesmapara a sua participação também como consumidores dos produtos locais.
(estas ferramentas e metodologias devem ser sempre adaptadas a cadacaso em particular)….
Relações entre desenvolvimento comunitário e participação, cujosresultados são importantes e benéficos para os indivíduos e acomunidade:
- Consciência: a participação pública permite ter consciênciarelativamente aos problemas e às tomadas de decisão entre as pessoas,e desse modo capacita-as como cidadãos para tomarem decisões para odesenvolvimento da comunidade de uma forma racional;
- Confiança: a participação não só permite o aumento específico daconfiança e da auto-estima , e a oportunidade de adquirir novascompetências, como também pode conduzir a uma maior satisfação e a umaqualidade de vida acrescida.
- Descoberta do potencial próprio: a participação, ao conseguirfavorecer a descoberta dos potenciais próprios, pode fazer os cidadãosterem a percepção de que as decisões tomadas dentro do sistema ao qualpertencem são efectivamente suas, facto que aumenta a adesão àimplementação da sdecisões, o que é muito relevante para o sucesso demuitas das medidas.
- Planeamento: o planeamento conjunto e a participação fornecemoportunidades para um pensamento criativo e inovador, o que conjugadocom um modelo de governança, onde todos, os mais e os menos influentesmembros da comunidade podem dar a sua opinião, pode resultar emprocesso de grande relevo a nível do desenvolvimento local.
- Eficácia: a participação pode ajudar a gerir os recursos com maioreficácia e eficiência, e seguramente aumenta a equidade nos processosde desenvolvimento. Desse modo, o envolvimento das comunidades locaisnos processos de tomada de decisão conduzirá seguramente a melhoresdecisões, que são mais adequadas e mais sustentáveis (com menos custose menos riscos de insucesso) porque são apropriadas pelos membros dacomunidade local.
MANDAR A PARTIR DAQUI…………
c) Sobre a questão da participação:
a. Os processos participativos e a habilitação para acidadania. O capital social. A partilha.
A participação pública é promovida como um processo na qual oscidadãos, as organizações da sociedade civil e os actoresgovernamentais estão envolvidos na construção de políticas antes dadecisão política ser tomada. Apesar de atraente, tal descrição éinsuficiente em si mesma para concretizar a participação pública comoa pedra de toque dos processos democráticos na Europa. A participaçãopode ser dispendiosa, quer em termos de tempo, quer financeiramente ecomo tal pode ser encarada por muito como sendo ineficiente. Muitosacreditam que os cidadãos não possuem conhecimentos suficientes paraparticipar nos complexos processos de tomada de decisão. Muitos gruposde participação são criticados por representaremdesproporcionadamente, os mais ricos, com maior grau de educação oumaiores conhecimentos profissionais. Muitos destes arranjos sãoigualmente criticados por reduzirem a qualidade das normas produzidase por reforçarem e não aligeirarem condições pré-existentes.
O uso abusivo dos processos participativos pode também desencorajar oscidadãos a participar, uma vez que os custos de repetitivas sessõespode ser encarado como muito elevado. Porque de facto existem custos,quer para as administrações ou entidades proponentes quer para os
cidadãos. Eles podem ser cuidadosamente controlados, mas não podem sercompletamente evitados. O desafio é, por isso, demonstrar que aparticipação implica benefícios pelos quais vale a pena pagar o custo.
Existe um outro desafio, o desafio da complexidade. Mas em várioscasos onde se realizou investigação empírica aos processos departicipação demostraram que submeter a tomada de decisões políticas àsabedoria colectiva de cidadãos comuns se revelou benéfica, mesmo emcasos que implicavam políticas tecnicamente complexas. Elevados econsistentes níveis de participação podem resolver problemas de escalae possibilitar uma pesquisa e uma deliberação em favor de soluçõesinovadoras.
Quanto à representatividade, trata-se de um duplo problema: escolheruma amostra de cidadãos que seja representativa das diferentes matizesde opinião possíveis, e, ao mesmo tempo, com isso satisfazer o publicoem geral que não individualmente envolvido no processo participativo.
A inclusão de cidadãos comuns nos processos de tomada de decisão tem opotencial de democratizar o sistema político. A participação públicapermite aos cidadãos reavaliarem as suas percepções e aceitarem oupelo menos entenderem que existem visões alternativas, que, por suavez, podem permitir que assuntos eventualmente contenciosos possam serresolvidos antes de a discussão se tornar excessivamente polarizada.Estas práticas e os seus potenciais benefícios contrastam comprocessos deliberativos em que o envolvimento é menor, que não têmqualquer interesse no estabelecimento de acordos, apenas nas decisões,como é o caso dos referendos clássicos, que fomentam a polarização ecolocam uma grande parte da população contra a decisão da maioria,constituindo-se como grupo anti-activo das decisões tomadas.
O envolvimento da comunidade nos processos de tomada de decisão temvindo a ganhar cada vez mais adeptos, e aqueles que o defendemargumentam que os seus aspectos positivos são visíveis e relevantes,tanto no processo em si como nos resultados que dele se podem obter.Os argumentos que fundamentam esta posição são:
- que um envolvimento da comunidade num dado processo, quer no seuplaneamento, quer na sua execução, conduz a relações de confiançaentre as instituições e os cidadãos, relações que foram edificadas ereforçadas ao longo do processo de dialogo e discussão que a suaconcretização implicou;
- que os processos participativos aumentam as habilitações decidadania da população, favorecendo um melhor entendimento dasinstituições e dos processos de governação, assegurando um maiorempoderamento, uma participação mais activa na governança, um aumentodo capital social, e ainda acrescendo nas capacidades de entendimentoe de tolerância relativamente aos pontos de vista distintos dos decada um.
- que, em ultima instância, o resultado desse compromisso públicoentre todos os actores são decisões melhores, com maior qualidade emaior fiabilidade na sua concretização. Decisões construídas a partirdesse envolvimento são decisões mais consensuais, resultam deabarcarem o mais largo número de pontos de vista, possuem maiorsustentabilidade porque as diferentes perspectivas que as geraramenglobam aspectos de eficiência económica, possibilidades técnicas,protecção ambiental e aceitação social, e podem mais facilmente serimplementadas porque o seu resultado final foi apropriado por um vastonúmero de membros da comunidade, facilitando a sua aceitação. Oprocesso conduz a que a grande maioria se reveja nas opções finais.
Decerto modo, pode aceitar-se que os resultados efectivos destaspráticas consideradas, à luz da democracia, como boas, precisam demais exemplos, sistemática e cientificamente abordados, quedeterminem, em que grau e extensão, a qualidade das decisões resultadirectamente dos processos e das metodologias associadas. Uma propostacomo a que aqui se consubstancia pode ser igualmente um contributonesse campo, enquanto que se afigura neste momento, como únicoprocesso correcto para o desenvolvimento desta estratégia dedesenvolvimento local sustentável.
A participação comunitária em processos de decisão públicos envolvehoje um conjunto claro de regras e de valores. A AssociaçãoInternacional para a Participação Pública – que promove esseenvolvimento – identifica alguns dos objectivos principais a atingirse se pretende um envolvimento comunitário efectivo, entre os quais:
- que o estabelecimento, a construção e o desenvolvimento de relaçõesperenes entre o quadro institucional e as comunidades deve assentar naconfiança e na partilha de conhecimento, englobando as diferentesperspectivas que existem no seio dessa comunidade;
- que o providenciar informação objectiva e equilibrada à comunidaderelativamente ao problema ou oportunidade em debate, sabendo-se quedecisão tem de facto que ser tomada, por quem e quando, que permita aobtenção de um resultado consensual por consulta pública, produzsempre resultados de maior qualidade.
Outros objectivos da participação pública são:
- a recolha de percepções dessa mesma comunidade relativamente às suasaspirações, assuntos e preocupações, permitindo usar essa informaçãona construção das decisões;
- trabalhar directamente com a comunidade para encorajar o diálogo e adiscussão, assim como para gerar ideias e inovação;
- gerar parcerias com os actores locais e com os membros da comunidadenos processos de tomada de decisão.
Aqueles que criticam estes processos reclamam que eles só servem paraperder tempo e dinheiro; que é um desperdício de recursos porque aspessoas nunca estarão todas de acordo e cada uma só pensa nos seuspróprios interesses; que muitos destes processos envolvem decisõessobre gestão financeira, técnica e política dos processos, a que ascomunidades não possuem as capacidades técnicas para uma opiniãosustentada.
Mas, dizem os seus oponentes, a falta dessa visão mais informadaresulta de uma decisão ideológica, de não partilhar informação ou denão facilitar a sua compreensão, para ter deste modo argumentos quedeixem de lado a possibilidade da comunidade participar em decisõesque claramente as afectam, e muitas vezes negativamente.
É preciso também não esquecer que os processos participativos setornam mais robustos na medida em que sejam submetidos regularmente aprocessos de avaliação válidos e de confiança.
NOTA LATERAL “Participação é o processo no qual os stakeholdersinfluenciam e partilham o controlo sobre iniciativas ligadas aodesenvolvimento e sobre as decisões e os recursos que lhes sãoafectadas”. Esta definição liga directamente, nomeadamente, a
participação pública ao desenvolvimento, que é provavelmente ocontexto mais habitual no qual o publico é envolvido. Nos últimos anosestas organizações internacionais todas têm evoluído de uma visãoelitista, assente no planeamento entregue a especialistas, para umapostura mais ligada à participação das comunidades e dos diversosstakeholders. As razões para esta alteração são simples: a experiênciademonstrou que a postura dos especialistas não gerava mudançassociais, enquanto que a postura participativa o conseguia. Talresultado deve-se à “aprendizagem social” que os stakeholders geram einteriorizam durante o processo de planeamento e de implementação. Aacrescentar a isto, os stakeholders locais têm geralmente um maiorenvolvimento com o desenvolvimento do que os peritos externos, etendem a desenvolver novas e adequadas instituições / grupos /estruturas locais durante o processo de participação.
NOTA LATERAL /CAPITAL SOCIAL: o conceito de capital social deriva dasociologia, e ganhou uma posição importante na retórica dodesenvolvimento assistido a partir dos anos 90, integrando a cartilhado Banco Mundial e seus associados. É geralmente entendido como “asnormas e as redes que permitem às pessoas agir colectivamente”. Algunsautores definem-no como tendo 4 aspectos: comunitarismo, redes,institucional e sinergias. Informação, educação e facilitadores tambémsão, nesta visão, indispensáveis para a criação de capital social.
A participação activa dos cidadãos incide sobre diversas temáticas daspolíticas públicas: ambiente, exclusão social, saúde, educação,cultura, segurança, cooperação internacional, defesa do consumidor e,claro, desenvolvimento local, dentro do qual podemos englobar ocarácter estratégico do turismo. A participação activa, a serefectiva, deve permitir aos cidadãos envolverem-se em todas as etapasdo ciclo de elaboração das políticas públicas: estruturação da agenda,planeamento, tomada de decisões, implementação e avaliação. O papel dacomunidade pode ser definido como permitindo assegurar os direitos doscidadãos e a protecção dos recursos comuns. Cinco capacidades podemdesde logo ser identificadas como resultado de uma participaçãoactiva:
- poder de produção de informação e interpretações da realidade;
- poder de usar símbolos para mudar a consciência colectiva;
- poder de assegurar a coerência da sua missão com as iniciativasinstitucionais;
- poder de mudar as condições materiais;
- poder de promover parcerias.
Princípios condutores do envolvimento público:
Transparência
Objectividade e finalidade
Relevância
Aplicabilidade ou influência
Actualidade
Eficácia custos/meios
Representatividade
Direccionada
Independente
Envolvimento significativo e respeitoso
Avaliativa e formativa
Actual
b. A capacitação: a importância do conhecimento (knowledgee know how). A inclusão para a participação.
As capacidades da comunidade são a soma de dois importantes conceitos– a capacidade humana e a capacidade social. A capacidade humana sãoas técnicas, os conhecimentos, e as capacidades dos indivíduos. Acapacidade social é a natureza e a força das relações e dos níveis deconfiança que existem entre os indivíduos. Estes dois elementos podemreforçar-se mutuamente. Por exemplo, as capacidades individuais podemaplicar-se melhor e com maior impacto num ambiente que seja deconfiança e de cooperação. Semelhantemente, uma comunidade que tenha
uma malha social apertada pode responder mais rapidamente às mudançasse existir um determinado nível de capacidades e de liderançaindividuais disponível, por exemplo, para pensar e executar um modelode desenvolvimento sustentado; não podemos esquecer, no entanto, que acapacitação envolve uma transferência significativa de poder erecursos para as comunidades, o que ainda está, no nosso país, umpouco distante do patamar ideal, mesmo se tem existido algum movimentodireccionado para conceitos como consultas à comunidade, participaçãoda comunidade, auto-determinação e auto-gestão, que atingem o poder, eque devem ser considerados como muito positivos.
Um outro aspecto relevante tem a ver com a necessidade de dotar osactores sociais de competências que lhes permitam estar em condiçõesde igualdade no processo de tomadas de decisão, não meramente emtermos de compreensão técnica dos processos e das questões em debate,mas em termos do efectivo exercício das suas capacidades democráticas,existindo, por parte dos restantes stakeholders, respeito por essamesma condição de participante. A construção da capacitação – eportanto, o alargamento do processo de inclusão – deve considerartodos os actores em presença e não avançar com preconceito paraaqueles que são considerados, de antemão, como grupos maisdesfavorecidos. Essa análise deve ser feita no decurso do processo eem termos de entender quais as capacidades necessárias, quais as queestão em carência e trabalhar com todo o conjunto de stakeholders nosentido de resolver essas lacunas. Educar para a participaçãosignifica também alterar a cultura política predominante, que assentaem processos de mera legitimação, quando o que vai sendo cada vez maispertinente e necessário é alargar o domínio da participação. Por issoé preciso educar em favor da cultura cívica, sem uma cultura forte decidadania, a participação dificilmente será efectiva, uma vez que ascondições de negociação são, geralmente, desiguais em função dasdiferenças nas habilitações de cada grupo de stakeholders.
Só um efectivo desejo de cooperação integrada, de partilha, podealterar o modo de funcionamento dos grupos decisores. Em 1969, SherryArnstein criou um modelo de escada da participação (até aos nossosdias usado como referencial) em que se torna clara a hierarquizaçãodos diferentes indivíduos ou stakeholders nos contextos sociais e tudoo que estes envolvem, particularmente as questões do poder e da tomadade decisão; a «escada» justapõe os cidadãos desprovidos de quaisquerpoderes com aqueles que o possuem visando mostrar claramente as
divisões fundamentais entre eles. Mas, efectivamente, nem aqueles quenada têm nem os detentores são blocos homogéneos. Cada grupo contém umconjunto de pontos de vista diferentes, divisões significativas,interesses outorgados competitivos, e divisões em sub-grupos. Ajustificação para a utilização de categorias tão simplistas – e que seafigura correcta – tem a ver com o facto de que, na maior parte doscasos, cada grupo vê os restantes dessa forma, como conjuntosmonolíticos: aqueles que estão no lado desfavorecido encaram os outroscomo «o sistema» e os detentores do poder vêm os outros como «essagente», tendo muito pouca percepção, cada um deles, das nuances edivisões existentes no grupo «dos outros». Este é um aspecto quemuitas vezes não é tratado nos processos participativos e que é muitoimportante ser abraçado, por esforço de aproximação e compreensão,para se conseguir o sucesso desejado – os preconceitos de cada grupopara com os outros.
Muitas vezes nestes processos em que se pretende usar um modelo degestão partilhada, coloca-se grande enfase nas trocas de informação,na sua disponibilidade e clareza; mas é preciso ter a percepção deque, se bem que a informação seja essencial para todos os processos departicipação, ela em si mesma não é participativa, nem estádirectamente ligada à aceitação dessa mesma informação. A ligaçãoentre o conhecimento e a implementação da mudança é mais forte quandoas pessoas que se espera que implementem essa mudança estão envolvidasno desenvolvimento dos conhecimentos que trazem consigo a capacidadede agir. Muitas vezes, as soluções oferecidas durante os processos deinformação, através de conhecimento e capacidades, têm tendência aassumir um formato muito técnico ou científico, e podem, por isso, nãopermitir uma total compreensão da complexidade do assunto. Afinar arelação entre as audiências e as mensagens-chave a transmitir atravésde processos de «pesquisa de mercado», como tantas vezes é feito, podenão conseguir descortinar ligações que podiam ser melhor exploradasatravés de processos de envolvimento, de colaboração ou deempoderamento, em modalidades que privilegiam o contacto directo.
Um outro aspecto que sobressai desta metodologia que favorece aaproximação, é a maior facilidade com que, por vontade de ambas aspartes, se constroem metalinguagens, ou seja, plataformas discursivascomuns, que evitam que alguns dos participantes sejam excluídosmeramente por questões de forma, que lhes bloqueiam, injustamente, o
acesso aos conteúdos. Esta é um aforma simples de conseguir a suainclusão.
Outra vem da própria metodologia de trabalho possuir a flexibilidadenecessária para que se entenda que o processo está verdadeiramente emdiscussão partilhada, e transformadora, e não meramente numa etapa delegitimação sem grandes possibilidades de alteração dos seus conteúdose pressupostos. Inicialmente, talvez tenha que ser necessário negociarformas de auxiliar estas comunidades a trabalharem connosco(instituições publicas ou privadas, promotores da estratégia). Porexemplo, quando se reúne um grupo de stakeholders para trabalharem emconjunto pela primeira vez, pode acontecer que algumas das questõeslevantadas ou das preocupações manifestadas são ligeiramentedistintas, ou fora do âmbito até, do ângulo de abordagem que oprojecto ou a estratégia apresentam. O que fazer então? Talvez entãotratar de imediato desses aspectos, chamando até se necessário outrosparticipantes institucionais mais directamente associados com essesaspectos, que permitam dar resposta aos mesmos. Essa disponibilidadeassim demonstrada na prática para ir ao encontro das preocupaçõesimediatas dos stakeholders pode ser um forte alicerce de confiança ede proximidade na relação que se pretendia estabelecer, podendo ser umpasso decisivo para tornar mais forte e facilitado o trabalho para oprojecto específico que tinha originado a convocação dos mesmos.Construir confiança deve ser um lema forte deste tipo de abordagem,com vista a conseguir uma forte participação na estratégia. O plano degestão que pretendemos desenvolver nesta proposta, adopta estafilosofia de participação, e portanto, as suas propostas e estruturapretendem funcionar como plataforma inicial dinamizadora, com o fococentrado na visão que resulta do trabalho de investigação realizado nodecurso da sua definição, mas considerando que a grande maioria dosseus passos podem sofrer adaptações, revisões ou mesmo exclusões,muitas vezes por factores exógenos, mas igualmente por vontade daparticipação dos stakeholders na sua concretização. Dado que se tratade um plano de gestão para o sector do turismo, deve propor-se que acapacitação seja vista como um processo multidimensional que permite:fornecer às comunidades uma metodologia de consulta; a oportunidade deaprendizagem e escolha; a capacidade de tomar decisões; a capacidadede implementar e aplicar essas decisões; a aceitação daresponsabilidade por essas decisões e actos e pelas suasconsequências; e resultados que beneficiem directamente a comunidade eos seus membros.
NOTA PARA A PARTICIPAÇÃO
Considera-se que as pessoas afectadas por uma decisão têm de fazerparte do processo que conduz à tomada dessa decisão, já que o conceitode participação está intimamente relacionado com os direitos dacidadania nomeadamente nos regimes democráticos, sendo que osconceitos de participação e de democracia estão umbilicalmenteligados, pelo que a cidadania e a intervenção numa comunidade, dãoorigem a diferentes formas de exercício democrático dos indivíduos.
c. Empoderamento e governança: os cidadãos como parceiros
Encontramo-nos assim perante um cenário em que os processos dedecisão participativos não são apenas desejados e solicitadospelos cidadãos que desejam desempenhar um papel mais activo nagovernança da sua sociedade, mas igualmente pelos Governoslocais, regionais e nacionais, por ong’s e agências dedesenvolvimento, mesmo por cientistas socias e companhiasprivadas, todos eles estão igualmente ansiosos por poderemrecolher os benefícios efectivos do envolvimento, nos processosde tomada de decisão, das diferentes perspectivas emitidas poraqueles que serão afectadas por essas políticas.
Por facilitarem a concertação e a inclusão, os processos dedecisão participativa têm sido solicitados para lidar comdiversos problemas da esfera pública, tais como a falta deconfiança entre o público e as suas instituições de governo,incluindo as noções de fraca legitimidade com que tantas vezesestes órgãos são encarados pelas suas comunidades.Efectivamente, o público interpreta muitas decisões como sendoimpostas «top-dowm», e somente o seu envolvimento no planeamentoe implementação das acções pode aumentar a compreensão e o apoiodo público às políticas em curso.
O envolvimento nos processos participativos também desenvolve acapacitação da comunidade, uma vez que estes processos estimulam
a sua educação; assim como asseguram a sua melhor gestãocontinuada, através de criação de redes de pessoas relevantes(escolhidas entre os stakeholders) que possam continuar adedicar-se ás questões das políticas públicas ao longo do seudesenvolvimento. No entanto, não é apenas o público que precisade aprender. Todos os decisores podem melhorar os seus serviçose produtos recebendo feed-back directo dos «utilizadores». Porisso é clara a maior eficiência que se pode adquirir se osutilizadores finais forem envolvidos no design e planeamentoiniciais.
Além disso, uma abordagem participativa na construção depolíticas públicas tem que ser vista, igualmente, como uma formade construir coesão social. É um processo útil para obterconsensos quando diferenças de opinião, ou mesmo conflitos,necessitam de resolução. Quando este tipo de abordagem éutlizado nas etapas iniciais destes processos, os participantespodem partilhar as suas perspectivas, valores, e reflexões sobreuma determinada temática emergente à medida que estas sedesenvolvem e amadurecem. No mínimo, estes processos alcançamentendimento mútuo e todas as vozes podem ser escutadas. Osactores chave (lideres) do processo podem conseguir esseenvolvimento de diferentes formas:
- INFORMAR a comunidade das políticas que estão a serdireccionadas para o seu território;
- CONSULTAR a comunidade como parte do processo dedesenvolvimento dessas políticas, e/ou aumentando a suaconsciência e entendimento dessas mesmas políticas;
- ENVOLVER a comunidade através de um conjunto de mecanismospara assegurar que dúvidas e preocupações são entendidas econsideradas como parte do processo de tomada de decisão;
- COLABORAR com a comunidade desenvolvendo parcerias para aformulação de opiniões e para a elaboração de recomendações;
- EMPODERAR a comunidade para tomar decisões e para levar a caboas modificações, assim como para depois as gerir.
Claro que, como já se referiu, o empoderamento envolve umprocesso educativo essencial para assegurar que o envolvimento
da comunidade seja autêntico (isto significando a transparênciaética por parte de quem tem o “poder” - de obter recursos etomar as decisões finais - de efectivamente especificar asrealidades a serem modificadas). Potencialmente, há múltiplasverdades em qualquer desenvolvimento comunitário, pesquisaparticipante ou avaliação, ou iniciativa de promoção social /territorial / comunitária, e a questão ética central é corrigiro desequilíbrio entre os múltiplos poderes, seja em relação aquem “detém” o conhecimento ou a quem “controla” ofinanciamento. Estas etapas iniciais do processo deempoderamento, mais conduzidas, ou formalmente iniciadas por umgrupo líder, são necessárias até que o conhecimento dacomunidade possa ser igualmente considerado ao lado doconhecimento dos especialistas; até que as organizações dacomunidade (associações e/ou ONG’s), ou movimentos sociais,tenham acesso aos recursos e orçamentos e até que a capacitaçãoda comunidade em pesquisa ou nos métodos de avaliação se torneefectiva, só então pode haver um processo autêntico departicipação ou empoderamento. A ética é, sem dúvida, muito maiscomplexa no processo político, e alguns indicadores deempoderamento existentes demonstram a sua importância; condiçõese realidades do empoderamento da comunidade são consideradasmais vincadas quando há transparência nas instituições públicase privadas; quando há responsabilidade do governo para com apopulação; e quando o envolvimento cívico é expresso de modosignificativo e real, e existe maior “articulação” do capitalsocial (auto-gestão do grupo de stakeholders ou confiança nasinstituições oficiais para o fazerem). Tal plataforma deentendimento e princípios, que exalta a solidariedade (nosobjectivos) e a lealdade (nos processos) representa um campoaberto ao desenvolvimento do diálogo «inter-pares» e dasparcerias, o primeiro destes visando melhorar o entendimento eexplorar as opções em presença, as parcerias procurando assinergias que podem resultar das diferentes competências erecursos, de modo a transformar os objectivos em acçõesconcretas.
As parcerias envolvem organizações com interesses, motivações einfraestruturas distintos, e não são necessariamenteconstruídas, de início, sobre uma alargada partilha de valores,culturas ou interesses entre os participantes; em vez disso,
elas devem ser desenhadas e negociadas para encontrar asnecessidades específicas de cada parceiro, de modo a assegurar oseu envolvimento necessário para atingir os objectivos gerais daparceria, beneficiando todos.
As parcerias colocam um desafio único e particular para agovernança e fiabilidade das organizações, levantando questõessobre como deve ser eficazmente concebido o processo deenvolvimento dos diferentes stakeholders e das suas estruturas,meios e contexto social, quer dentro da parceria (e entre cadaum dos parceiros activos) e na sua rede de membros, sócios estakeholders. A título de exemplo, pode referir-se que, para ocaso aqui em análise, as parcerias para a constituição e gestãode umas ditas «terras do Baixo Guadiana» teriam que serconstituídas numa tipologia multilateral, entre os variadosstakeholders de base local, em que a sua ligação visaprimordialmente corresponder e dar resposta às necessidades dacomunidade local, mas mantendo, por eficácia, distintos sub-grupos organizados por referências temáticos que aumentassem afacilidade operativa, dado o contexto de escassos recursos edispersão geográfica existente.
Este exemplo demonstra o papel fundamental do território - e docapital social, como recurso endógeno de um dado espaçogeográfico – ao qual as políticas públicas devem conceder amaior atenção, territorializando a actividade governativa, emparticular no que se refere às políticas públicas. Tal assunçãoenquadra as novas perspectivas de desenvolvimento local queestão a surgir um pouco por todo o lado (e em grande força nospaíses emergentes), modelo que se revê nas novas formas degovernança e onde o local interage com o global, valorizando-see reforçando-se o contexto de proximidade, na acção social e naparticipação comunitária, onde a questão da cidadania e dagovernança entram na agenda política, dando corpo ao que algunsestudiosos chamam de “paradigma da inter-territorialidade”, que estimula aparticipação efectiva da sociedade civil nos processos dedesenvolvimento, local e não só. Assim sendo, e se considera queé a unidade «território» que é relevante para a estruturação dosprojectos de governança, então estes devem assentar naquilo quese poderia designar por «especificidades locais», sobre as quaisdeverá ser estabelecida a matriz de valorização partilhada. As
acções de governança territorial revestem-se dos seguintesatributos:
- encaram o território como um “bem comum”;
- identificam e valorizam o “capital territorial”;
- o território de acção é flexível, sendo definido durante aacção (por exemplo, as acções tradicionais de governação incidemsobre territórios administrativos, enquanto que as acções degovernança territorial não incidem necessariamente sobreterritórios delimitados do ponto de vista administrativo).
Nas últimas décadas o debate em torno do desenvolvimentoeconómico local e regional tem vindo a despertar novasabordagens, quer pela força de nele se incluírem e participaremoutros atores e novas camadas sociais (dos sectores normalmenteexcluídos destes processos), quer pela premência de se criaremnovas estruturas económicas e sociais de bem-estar. O imperativode avaliação destas novas políticas que visam promover odesenvolvimento local passa a receber mais atenção nasdiscussões académicas, levando a uma série de novas abordagens,tais como a sustentabilidade, a descentralização, as questõesambientais e de descriminação de género e, particularmente, aparticipação pública como estímulo do desenvolvimento, estaúltima em resultado das vantagens competitivas que podemresultar do aproveitamento das potencialidades e diversidades decada localidade, onde os atores sociais têm uma responsabilidadefundamental para a promoção do desenvolvimento económico local,através e possibilidades de investimento, mas igualmente atravésdos processos participativos e de governança.
No âmbito das suas competências e atribuições, sobretudo emmatéria de desenvolvimento e coesão social, também a UniãoEuropeia, particularmente a sua Comissão, tem vindo a associar,aos seus objectivos de desenvolvimento e de coesão, quer aparticipação pública quer as práticas de governança, como aliás,o têm feito outros organismos internacionais como as NaçõesUnidas ou a OCDE.
A participação, o desenvolvimento e a boa governação foramreconhecidos explicitamente na Declaração do Milénio, e a suapromoção é actualmente vista como uma abordagem-chave para aredução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável,salientando, este documento internacional, que há uma relaçãovital entre sistemas de governação democráticos, abertos eresponsáveis, o respeito pelos direitos humanos e a capacidadepara alcançar o desenvolvimento económico e social sustentável.
Reflexões diversas e em diferentes fóruns de opinião,particularmente académicos, autárquicos e de organizações dasociedade civil, referem que, na discussão sobre a governaçãoregional dos próximos ciclos de políticas estruturais na UniãoEuropeia, são incontornáveis os seguintes aspectos:
- a escolha das escalas territoriais pertinentes para a macro-concepção do quadro global de actuação;
- a relação a estabelecer entre medidas de política e a escalaterritorial em que elas se planeiam, decidem e executam (oâmbito territorial de cada programa);
- as esferas da administração estatal que se elegem como agentesactivos de concepção, gestão e decisão, e
- a relação a estabelecer com os actores socio-político-económicos (tanto os públicos como os não-públicos).
No livro “Governança Europeia - Um Livro Branco”, editado em 2001, aUnião Europeia menciona que “por governança entendem-se asnormas, processos e condutas através dos quais se articulaminteresses, se gerem recursos e se exerce o poder da sociedade”,ou seja, significa a capacidade do Estado em servir os cidadãos,e assenta em cinco princípios fundamentais: transparência,participação, responsabilidade, eficácia e coerência,salientando o texto que cada um destes princípios é fundamentalpara uma governança mais democrática - porque estão na base dademocracia e do Estado de direito nos Estados-Membros – e quedevem aplicar-se a todos os níveis de governo – global, europeu,nacional, regional e local.
Estes novos ideais vão gradualmente alterando aquele que era oparadigma fundamental no que respeita à elaboração e
implementação de políticas públicas através da administraçãopública, que geralmente assentava num modelo top-down (umresultado indirecto da democracia representativa e dos processosde legitimação eleitorais), e que, em virtude do aprofundamentodos processos democráticos, passou a incluir uma perspectivabottom-up, incorporando as estruturas sectoriais e ocomportamento dos destinatários, deste modo garantindo uma maioreficácia das políticas a implementar. O alargamento progressivoa outros actores sociais tem vindo a incluir na formulação eimplementação de políticas, nomeadamente, o governo local, oterceiro sector e as entidades independentes de carácterprofissional e económico, bem como as redes público-privadas,com o intuito de ultrapassar as «falhas» que sempre podemocorrer nos processos que emanam de um singelo centro decontrolo político hierárquico (peso em perspectivas muitas vezesdistorcidas da realidade e, quase sempre, nos vícios da gestãocentralizada)
A própria constituição da União Europeia veio abrir algumasdestas portas, a caminho de uma (assim habitualmente designadana literatura anglo-saxónica) “modern governance”, sobretudodevido à nova estrutura de governação euro-comunitária, decarácter transnacional, e à obrigatoriedade de transposição dedirectivas para os enquadramentos nacionais, alterando a nossanoção de «um centro decisor», para uma visão multi sectorial dopoder de onde emanam as políticas públicas. O crescimento daafirmação das práticas de governança, e a exigência de maiorauscultação e poder de envolvimento e de decisão por parte dascomunidades nacionais, regionais e locais não é senão uma formade compensação, num processo que alguns qualificavam como tendoum marcado «défice democrático», e que assim consegueestabelecer, no seu interior, algum equilíbrio. As regras dasubsidiariedade que há anos vigoram são um claro exemplo destaafirmação dos poderes locais e regionais.
A governança, que defende um carácter mais participativo(enquanto a governação persiste na defesa de uma certa estruturainstitucional mais tradicional / consagrada), engloba os atorese a sua capacidade de exercício de participação na gestãopolítica. Esta nova tendência caracteriza-se pelos seguintesaspectos:
- envolve a participação de instituições e atores de diferentesesferas de governo;
- as fronteiras e as responsabilidades estabelecidas entre osatores são menos nítidas na área de acção social e económica;
- reflecte uma interdependência entre os poderes dasinstituições envolvidas na acção colectiva;
- supõe a participação de redes de actores autónomos; e
- parte do princípio de que é possível agir sem se fazer uso dopoder ou autoridade do Estado , ficando este com o papel deorientar e guiar a acção colectiva na prossecução de objectivostraçados em processos participativos.
Em consequência desta nova visão, gradualmente transforma-se arelação entre o governo, os agentes de mercado e outros actoressociais, através de processos que promovem e ampliam aparticipação do cidadão nos processos decisórios relacionadoscom as políticas públicas de desenvolvimento, em que acapacidade do Estado de governar diminui, enquanto decisorúnico, mas se mantém e reforça no seu papel de coordenador, deelo de ligação e animação na implementação das políticassociais. Surgem assim outras questões e novos desafios aodesenvolvimento, aliados a um crescente e rápido processo decomplexificação social. De mero crescimento económico, odesenvolvimento ganha uma relação mais próxima com os níveislocal e regional, com a qualidade de vida dos cidadãos e com odesenvolvimento sustentável, reforçando e reforçando-se com agovernança democrática e a participação, a descentralização e agestão dos processos em redes territoriais.
Hoje, as novas formas de governança são ditadas pelasinteracções entre o sector público, o sector privado e oTerceiro sector, que, por sua vez, podem ser consideradassimultaneamente como causa e efeito da natureza complexa,dinâmica e diversificada das sociedades actuais. Nas novasformas de governação (na governança) assistimos a uma alteraçãoda unilateralidade (exercida pelo governo ou pela sociedade, masseparadamente) para uma interacção (do governo com a sociedade).A ideia de governance, já antes citada, surge assim como umprocesso de permanente equilíbrio entre as necessidades de
governar e a capacidade de dirigir, no quadro de um sistemapolítico. Esta perspectiva da governação social e política nãose confina à interacção entre governo e sociedade, mas refere-se, isso sim, ao conjunto de processos que permitem uma relaçãoentre o governo e a sociedade civil procurando concretizarobjectivos públicos. Alguma literatura mais recente refere umconceito de “governação colaborativa”, para designar aquilo que,no fundo, são as novas tendências de uma governança partilhadapor vários actores, que sendo parceiros sociais (mesmo cominteresse distintos ou divergentes) num determinadoenquadramento específico, procuram incrementar alternativas deactuação, reconhecer soluções, definir prioridades e tomardecisões conjuntas.
Em suma, existe um processo dialéctico em curso, entre umagovernança que, por um lado, estabelece a cidadania activa comofactor crítico, que se preocupa com o capital social e com aexistência dos fundamentos sociais necessários para umdesempenho económico e social efectivo (no plano dos recursos edas competências); e, por outro, o Estado, que se vê sujeito aprocessos imprevisíveis de confrontação de agentes e de redesmuito diferentes entre si, e que tende, face a este cenário deinteresses (aparentemente) pulverizados, a admitir negociaçõespermanentes - formais ou informais - com os diversos atores quea modernização e a complexidade social disseminaram.Gradualmente, se a tendência evolutiva se mantiver, as acções sevão concretizar num plano cada vez mais horizontal, diluindo-seas fronteiras entre o público e o privado, com a decisão e aimplementação a aproximarem-se dos diversos patamaresterritoriais, e mencionando-se, também cada vez mais, nos textosde suporte a essas mesmas políticas, o termo “governação” em vezde “governo” e praticando-se a governança em vez de governação.Na descentralização das políticas, das estratégias e dosenquadramentos legais, vamos assistir, no plano vertical, a umaprogressiva transferência de autoridade, de funções, deresponsabilidade e de recursos para os governos locais (no casoportuguês, para os municípios, veja-se o que está a suceder naeducação, no apoio social, etc.), e, no plano horizontal, aoempoderamento das comunidade locais de base, que passam aplanear, a gerir e a executar as medidas do seu própriodesenvolvimento socio-económico.
Assim, a governança local poderá cumprir os seus objectivos:
- de capacitar e activar as populações locais a participarem nadefinição, construção e monitorização das decisões e dos planosque levam em consideração as necessidades, prioridades,capacidades e recursos locais;
- de reforçar a fiabilidade e a transparência, tornando oslideres locais directamente responsáveis pela execução daspolíticas, criando um elo claro entre os recursos disponíveis eos níveis de concretização;
- de aumentar a sensibilidade e a capacidade de resposta daAdministração Pública ao contexto local, colocando oplaneamento, o financiamento, a gestão e o controlo da prestaçãode serviços nos níveis necessários, viabilizando a possibilidadede os líderes locais de criarem e reforçarem estruturascomunitárias locais participativas;
- de desenvolver um planeamento e um gestão económicasustentável, assegurando o desenvolvimento social, político eeconómico;
- de reforçar a concretização e a eficiência no planeamento, nofornecimento e na monitorização de serviços, através de esquemasde gestão de proximidade.
Todos estes modelos conceptuais e de execução prática partilhamcaracterísticas comuns: são organizados em níveis de interacçãomultíplos, utilizando o referencial socioecológico no seudesenho (estendendo-se de características individuais, ouempoderamento psicológico, ao empoderamento da comunidade, ou aresultados como novas capacidades da comunidade, mudanças nossistemas e na política, etc.); são baseados nas capacidades erecursos da comunidade e no “valor essencial” - ou convicção -de que a população pode fazer a diferença na melhoria das suaspróprias vidas; são orientados por acções (concretas/objectivas)no desenvolvimento de programas, criando ou construindocapacidades na comunidade; e são elementos dinâmicos etransformadores em benefício da comunidade.
NOTA LATERAL DO TERCEIRO SECTOR
Nesta nova concepção do envolvimento dos cidadãos, de política edo exercício do poder e da gestão do território, o papel e adimensão do Estado começou a ser questionado. Durante um intensoprocesso de concentração de capitais, verificaram-setransformações sociais das quais surgiram organizações,provenientes na sua maioria da sociedade civil (mas não só),voltadas para fins colectivos, gerando o que se designa porTerceiro Sector. Estas entidades emergiram num novo espaçopúblico activo, em que agentes estatais, privados ou mistos serelacionam, interagindo em dinâmicas de interesse ou conflito,originando novas configurações sociais e de gestão pública eterritorial.
NOTA LATERAL DO EMPODERAMENTO
O empoderamento tem sido, também, em termos linguísticos, umtermo desafiador. Mas, apesar da tradução «distorcida», o seufoco assenta numa relação com o poder que não permite enganosrelativos à sua finalidade. Na participação, por exemplo,refere-se a quem está ou não participando e com que recursos(capacities) participa; tal como nas modificações das relaçõesde poder, permite verificar se foram ou não, efectivamente,modificadas e se estamos, realmente, criando uma sociedade maisdemocrática. O empoderamento é necessário para que todo opotencial das comunidades para participar de forma significativanas tomadas de decisão para o desenvolvimento (turístico ououtro) seja alcançado.
NOTA LATERAL DA GOVERNANÇA , ISTO É A LEGENDA DE UM DIAGRAMA VAISER INTRODUZIDO NESTE CAPÍTULO.
DIAGRAMA 2 - Modelo simples para análise dos stakeholders da governança local – Aonível da governança local existem muitos actores e stakeholders, que se encontram nosector público, no sector privado, na sociedade civil, entre os doadores e parceiros dedesenvolvimento, ao nível das comunidades locais, nacionais, regionais einternacionais.A capacidade, ou a falta dela, para a governança local, não pode ser
endereçada somente à comunidade em questão. A pre-disposição apropriada paraconstruir capacitação para a governança local é facilitar o acesso às capacidades decada em relação estreira com os seus papéis, de modo a que as capacidade de cadaum sejam reforçadas para desempenharem um papel efectivo.
NOTA LATERAL DAS PARCERIAS – Nas parcerias o poder é de factoredistribuído através de negociações entre os cidadãos e osdetentores do poder. Os parceiros concordam em partilhar oplaneamento e a responsabilidade das decisões através deestruturas, tais como, por exemplo, conselhos de gestão depolíticas, comités de planeamento e de mecanismos de resoluçãode impasses. Após algumas regras de base terem sido definidasatravés de processos de «dar e receber», as modificações nãopoderão jamais ser feitas de forma unilateral.
d) A ética no desenvolvimento sustentável:
a. Fundamentos éticos
A partir da Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, muitas dasformas de gestão dos recursos ambientais do nosso planeta foramsendo progressivamente alteradas. A indústria do turismo, a cujaresponsabilidade se poderia acrescentar o interesse próprio – jáque depende em muito da qualidade e da perenidade dos recursosnaturais para a continuidade e desenvolvimento da sua área denegócios -, não ficou alheia a esta tendência, pelo que, muitopouco depois, em 1995, através da Organização Mundial deTurismo, redigiu e instituiu a Carta do Turismo Sustentável, que setornou a peça ideológica fundamental desta actividade.
Esse documento, no Artigo 1º, explicita claramente que: “Odesenvolvimento turístico deverá fundamentar-se sobre critériosde sustentabilidade, ou seja, deverá ser suportável
ecologicamente a longo prazo, viável economicamente e equitativonuma perspectiva ética e social para as comunidades locais.”(Carta do Turismo Sustentável, 1995). Deve, no entantoreconhecer-se que este sector já estava desperto há algum tempopara esta problemática, uma vez que os problemas ambientais queafectavam muitos destinos já se estavam a verificar, muitoparticularmente aqueles de impactos depredadores resultantes doconsumo massificado de certos destinos. Daí que já em 1980, aDeclaração de Manila sobre o Turismo Mundial começava aintroduzir elementos de equilíbrio no uso e gestão dos recursos,afirmando que o turismo “só pode florescer baseado na equidade,igualdade soberana e cooperação entre os Estados.” Com baseneste pressuposto, a actividade deveria ser desenvolvida apartir de uma evolução e de uma assimilação aceitável dos seusimpactos e resíduos negativos produzidos. Já não era admitidauma forma de turismo que causasse tais impactos numa determinadaregião que comprometesse a durabilidade dos seus recursos.
Com base na ética e na equidade dos comportamentos expectáveis,foi, a partir dessa data, afirmada em todos os documentos daOMT, a responsabilidade e a obrigação compartilhada tanto pelasempresas turísticas e responsáveis públicos pelos destinos, comotambém pelos turistas em garantir essa sustentabilidade presentee futura. Por exemplo, no seu relatório de 2007, afirma-se: “ofortalecimento da identidade cultural de um povo através doturismo constitui obrigação ética dos actores principais daactividade turística”. Tais declarações de princípios visamreforçar o reconhecimento do turismo como actividade que podeproporcionar o entendimento e respeito entre os homens, comoinstrumento de desenvolvimento pessoal e colectivo, viabilizandoo desenvolvimento sustentável e contribuindo para a valorizaçãodo património cultural da humanidade.
Mas não se trata apenas de garantir um comportamento ético nagestão dos recursos, mas igualmente de assegurar a equidade naredistribuição dos seus dividendos. De acordo com a Carta de1995, a inclusão da comunidade local não deveria ficar restritaà empregabilidade no sector turístico, mas ser alargada àparticipação da população na estruturação das componentes dodestino, bem como da sua gestão e promoção. Para conseguirconcretizar os princípios do desenvolvimento sustentável
ambicionados, todos os sectores do turismo deveriam serplaneados de forma integrada, visando o objectivo de garantir adurabilidade dos recursos naturais, desiderato que não pode seralcançado com êxito sem a participação da comunidade local. Epara que tal suceda é igualmente importante assegurar aacessibilidade das comunidades à cadeia de valor completa que égerada pelas actividades do turismo sustentável.
A publicação, em 1999, do Código Ético Mundial do Turismo foi ummarco no estabelecimento de princípios para o desenvolvimento doturismo sustentável (apesar de que a sua publicação não foisuficiente para torná-lo conhecido e fazer com que, em todos osdestinos, todos os agentes turísticos estabelecessem uma condutaadequada. Há ainda caminho a percorrer). Apesar disso, aspráticas turísticas adequadas e compatíveis com os princípioséticos que nesse documento foram divulgados, devem funcionarcomo um instrumento positivo para auxiliar, entre outrosaspectos, à melhoria da qualidade de vida, ou à redução dedificuldades sociais ou de situações de pobreza, etc., nascomunidades de destino.
A dimensão ética do turismo sustentável incide principalmentesobre a participação comunitária e sobre a sua influência nastomadas de decisão. Portanto, no turismo sustentável, éfundamental que a actividade seja planeada e executada de acordocom princípios de autenticidade. Isso significa que a comunidadedeve compartilhar com o turista toda a estrutura e serviços queutiliza, ou seja, os residentes devem vivenciar aquilo que ovisitante pretende desfrutar como atractivo turístico. Dessaforma, a conservação ambiental passa a ser tão importante quantoa eficácia económica ou a justiça social para a criação deemprego, para a (re)distribuição de rendimentos e para amelhoria da qualidade de vida de todos os envolvidos.
Os conceitos que estão por detrás destes princípioséticos são os seguintes:
- a comunidade tem o direito de se envolver nas decisõesque os afectam;
- se a comunidade contribui, então a sua decisão deveter alguma influência nas decisões que estão as sertomadas;
- o processo de envolvimento precisa de reflectir todosos interesse de todos os actores / stakeholders,incluindo dos decisores, e servir de suporte a umadecisão sustentada;
- os construtores dessas políticas devem procurar efacilitar a integração das visões daqueles a quem essasdecisões irão afectar;
- os actores locais devem ter opinião tambémrelativamente ao modo como são envolvidos nesse processo(uma vertente ainda muito negligenciada por cá)
- a informação adequada deve ser fornecida a todosaqueles que estejam envolvidos num dado processo;
- a comunidade deve ser informada sobre as consequências(num dado processo) que o seu envolvimento teve nadecisão final.
As estratégias de envolvimento da comunidade local buscaramdesenvolver e aprimorar os espaços de participação comunitária,tendo como base o princípio de que esta é a condição éticaessencial para a sustentabilidade de projectos dedesenvolvimento. Os processos de envolvimento e participaçãocomunitária, através da melhoria progressiva das estratégias deplaneamento participativo, tornam-se uma importante via para odesenvolvimento local. Como afirma Bordenave (1994), “aparticipação das pessoas ao nível da sua comunidade é a melhorpreparação para a sua participação como cidadãos em nível dasociedade global” (p.58). Enfatizando a noção de “participação”,Faundez (1993) afirma que “sem uma participação coletiva,criadora, crítica e permanente, não é possível [...] descobriras questões essenciais, nem as respostas adequadas quepermitirão construir uma sociedade mais justa, mais livre e maissolidária”.
b. Princípios orientadores
i.Transparência
As conexões entre informação, transparência e democracia sãofundamentais. A informação é essencial ao estabelecimento decompetências democráticas de base, como sejam a enunciação depreferências e de opiniões, a avaliação das escolhas e aparticipação nos processos de decisão. Sem essas competências,os cidadãos não podem fazer-se entender no mercado das ideias evêm-se privados do direito à liberdade de opinião e de expressãoque são garantidos pela natureza intrínseca da democracia. A«boa informação» é um pré-requisito da «boa democracia». Apesarde a transparência, a participação e a colaboração necessitarem,ao início, de bastante recursos e de tempo, elas permitem dequalquer modo a expectativa de um rendimento superior daspolíticas públicas e na participação comunitária, graças àcompreensão da comunidade e à pressão que este processo exercesobre a melhoria das condições, ao aumento da reserva de ideiaspertinentes, à exploração de novas fontes de especialização e aoreforço das competências cívicas.
O conceito de transparência convoca a disponibilidade de umaquantidade crescente de informação recente, completa,pertinente, altamente rigorosa e de confiança relativamente àactividade dos poderes instituídos (qualquer que seja a forma depoder, mas desde que tenha ascendente sobre o colectivo social),onde os cidadãos tenham delegado a autoridade de tomar decisõesem seu nome. Numa democracia representativa, onde esse processode transferência se verifica, o acesso à informação é crucialpara lançar as bases de um consenso sólido.
A transparência pode reforçar a vontade da população em aceitaras estruturas institucionais de distintas maneiras, por exemploexplicitando claramente os meios utilizados para criar asestruturas da autoridade, demonstrando de forma clara asvantagens concretas da actividade institucional e encorajando oscidadãos a acreditar que eles podem influenciar as decisõesinstitucionais e podem avaliar os resultados.
A transparência tem a vantagem, em processos participativos, defacilitar e dinamizar a participação e a colaboração, processoem que existe a necessidade de mobilizar as diversas partes queestão relacionadas a uma determinada decisão, para que elas
partilhem a responsabilidade ou exerçam uma forma de autoridadesobre as actividades e as politicas dos responsáveis e dosdiversos grupos cooperativos. Ao facilitar todo odesenvolvimento dos processos comunitários, ela vai acrescentaraos mesmos:
Rentabilidade – obter ganhos ou exceder os objectivoscom os mesmos recursos, ou obter os mesmos ganhos eatingir os mesmos objectivos com menos recursos;
Eficácia – aumentar a qualidade dos resultadosesperados;
Melhoramentos intrínsecos – mudar o ambiente ou ocontexto das partes envolvidas com a ajuda de meiosdotados de valor próprio;
ii.Diálogo
Tal como a auscultação / consulta, também o diálogo envolve a troca depontos de vista e opiniões. Mas, ao contrário do que sucede com esta,o diálogo procura explorar as diferentes perspectivas, necessidades ealternativas com o desejo de nutrir o entendimento mútuo, a confiançae a cooperação acerca e algum assunto, estratégia ou iniciativa.Dialogar também proporciona a oportunidade para as empresascontextualizarem as barreiras e os compromissos que têm de enfrentarao tentarem corresponder ás expectativas dos diferentes stakeholders;e aos stakeholders, dá-lhes a ocasião de transmitirem a sua ideia decomo essas expectativas podem ser correspondidas. De alguma forma, odiálogo é a pedra de toque dos processos de envolvimento comunitário,e as estratégias que o facilitem e que delem produzam consenso devemser prioritárias em todo o processo.
iii.Colaboração
A COLABORAÇÃO- incompleto
A colaboração surge quando os diversos sectores da sociedade trabalhampara se porem de acordo, num contexto no qual os cidadãos dispõe deinformações complementares com utilidade potencial para a resoluçãodos
problemas públicos, e que a colaboração pode gerar o capital socialnecessário +ara a participação cidadã de valor acrescentado.
a) Objectivos da participação
OBJECTIVOS definir o que deveria ser
OBJECTIVOS DA PAR COMUMa existência de uma postura de solidariedade, tolerância e confiança entre os cidadãos, mesmo em situação de conflito ou de divergências, superando as atitudes oportunistas, para além da existência de associações, indicadas como as estruturas sociais da cooperação, refletem para o autor, a face social e participativa das comunidades cívicas (Putnam, 2002, 100).
Os esquemas de participação são adoptados por um variado conjunto demotivações. Para as instituições públicas locais eles podem enquadrar-se em 3 categorias:. fornecer informação e oportunidades para o público ser melhorinformado relativamente às políticas e prioridades das autoridadeslocais (INFORMAR);- ouvir e aprender com o público (APRENDER);- definir questões(problemas) e debater problemas e soluções com opúblico (TROCAR).Este processo tem a expectativa de resultar em:- uma melhor relação com o público em termos de aumentar a compreensão/ entendimento, aprovação e legitimação dessa autoridade local;- conhecimento e informação que possa, por sua vez, melhorar osserviços prestados por ser mais direccionado (mais preciso naresposta dada aos problemas colocados);- mudanças no processo de tomada de decisões serem reflectidos naspolíticas, nos orçamentos e em novos compromissos (objectivosprogramáticos).
b) Factores que influenciam a participação
a. Benefícios
EFEITOS BENÉFICOS DO TURISMO NO AMBIENTE, pode ser na introdução…
O turismo é responsável pela protecção de vastas zonas de habitatnatural. A vida selvagem, as reservas florestais e as paisagens
notáveis foram antes de mais preservadas em consequência da suaatractividade turística. De acordo com a União Mundial para aNatureza, mais de 100.000 reservas foram criadas em todo o mundo,constituindo uma base importante para esta actividade de lazer.
O turismo é, igualmente, um elemento essencial para a conservação dosmonumentos históricos, dos sítios arqueológicos, dos edifíciosantigos, e dos monumentos de valor religioso e cultural. A Europa, como seu rico património histórico e a diversidade dos seus monumentos,igrejas, cidades e vilas, é talvez o melhor exemplo do mundo para aconservação do património relacionada com finalidades turísticas. E oturismo não só é causa inicial, muitas vezes, de medidas de protecçãodo património, como ainda fornece recursos financeiros para aconcretizar.
842 milhões de turistas internacionais. Estes valores consideramapenas o turismo internacional, e não os turistas internos, ocasionaisou não, nem os visitantes, passantes e excursionistas – portanto onúmero final pode ser mais significativo, mais elevado, doque esteaqui globalmente apresentado.
O turismo, enquanto actividade económica, tem todo o interesse emmanter a qualidade ambiental que constitui para este sector um recursoessencial.
(fracas instalações e uma fraca qualidade de serviço reduzem aatractividade dos destinos, que pode assim descer).
Necessidade de um turismo respeitoso do ambiente
Para que o turismo possa prosseguir a sua expansão e permanecer umaindústria rentável, os procesoso de funcionamento e de desenvolvimentodevem evoluir para práticas mais satisfatórias do ponto de vistaambiental. O compromisso e a responsabilidade ecológica estão nocoração da evolução que se deve conseguir cumprir. Tal como osfabricantes de artigos trabalham continuamente na melhoria dos seusprodutos, a industria do turismo deve devolver à natureza qaquilo quedela retirou e que dela recebe praticamente de forma grastuita: oambiente.
O que é um turismo dependente do ambiente?
Um turismo respeitador do ambiente ou turismo sustentável podedefinir-se como um turismo que responde às necessidades actuais dos
turistas e das empresas do sector, sem comprometer a capacidade dosturistas e das empresas do futuro de poderem apreciar e aproveitar osmesmos destinos. Dito de outra forma, e fazendo eco da declaração deBrundtland, um turismo sustentável é um turismo que responde àsnecessidades das gerações actuais conservando e valorizando a beleza ea integridade dos sítios turísticos para as gerações futuras.
BENEFICIOS DE UM ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO BEM SUCEDIDO:
Para as entidades públicas:
- as contribuições da comunidade podem contribuir para aumentar aqualidade das políticas que estão a ser desenvolvidas, permitindo quese tornem mais práticas e relevantes;
- o envolvimento da comunidade pode assegurar que os serviços sãodisponibilizados de um modo mais efectivo e eficiente para acomunidade;
- o envolvimento com as comunidades é uma forma de o governo verificardas boas relações com ela cara-a-cara; e também permite explorar viasa partir das quais esse relacionamento pode ainda permitir um trabalhomais próximo entre todos naquilo que respeita ao futuro da comunidade;
- o envolvimento com as comunidades são oportunidades de asinstituições públicas (e políticas) de aferirem da sua popularidade,reputação e estatuto. Perguntar directamente às comunidades como é queas instituições (públicas) estão a ir ao encontro das necessidadeslocais pode ser uma forma positiva – ou pelo menos informativa – deenvolvimento.
- dar-se conta, tão cedo quanto possível, dos assuntos que sãoemergentes na comunidade coloca as instituições públicas numa melhorposição para tratar dos mesmos de uma forma proactiva, em vez dereagirem só depois das queixas ou os ressentimentos emergirem, gerandoconflitos tantas vezes improdutivos.
- o bom envolvimento gera uma reputação de as instituições seremabertas, fiáveis e disponíveis para ouvir as comunidades para as quaisexercem funções de gestão.
Para os stakeholders e para as comunidades:
- com um envolvimento direccionado e bem planeado existirãooportunidades para que uma diversidade de opiniões se possa fazerouvir em assuntos que interessam à comunidade;
- as comunidades podem assim ter a expectativa de as instituiçõespúblicas poderem demonstrar determinado nível de envolvimento e daremfeedback relativamente à capacidade que as instituições tiveram deatingir esse desejado nível;
- as comunidades podem ser elas próprias a identificar as suasprioridades;
- pode haver maior autoria partilhada (sentido de posse) das soluçõesencontradas para problemas actuais ou no planeamento para o futuro demodo a que a comunidade partilhe as tomadas de decisão e tenha ummaior nível de responsabilidade nesses cenários futuros;
- o envolvimento pode gerar um sentido de pertença à comunidade maiselevado e maiores benefícios poderão resultar de um trabalho emconjunto em favor da comunidade;
- cada um pode tornar mais empoderado e mais proactivo no que dizrespeito a assuntos que o possam afectar
OS SEIS C’S DO ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO BEM SUCEDIDO Brown &Isaacs fazer um quadro
CAPACIDADE – os membros são capazes de dialogarCOMPROMISSO – benefícios mútuos mais importantes queinteresses pessoaisCONTRIBUIÇÃO – os membros da comunidades participamvoluntariamente e existe um ambiente colectivo que “encoraja”os membros a «experimentarem agir» e/ou a assumiremresponsabilidades e riscosCONTINUIDADE – os membros partilham ou alternam papéis (deresponsabilidade, ou acção), e, à medida que alguns membros dacomunidade partam, existe um processo de transição que susteme mantem a memória corporativa da comunidadeCOLABORAÇÃO – interdependência de confiança. Uma visãotransparente, em que todos os membros nela envolvidos agem numambiente de partilha e confiançaCONSCIÊNCIA – representa ou reporta a princípios éticos de«serviço público», de confiança, e de respeito que estãoexpressos no modo de funcionamento da comunidade.
Destaca o turismo como atividade benéfica para os países ecomunidades de destino, por conta da criação de empregos epolíticas organizadas para melhorar o nível de vidapopulação. No entanto, ressaltou a necessidade de estudossobre o impacto dos projetos turísticos, discorrendo sobreas obrigações dos agentes do desenvolvimento responsáveispela atividade, sobre o direito ao turismo, a liberdade dedeslocamento, direito dos trabalhadores e dos empresáriosdo setor.
12. Costs and benefits isto depois tem que ser separado em2….
ISTO É UMA COISA DO TIPO INTRODUÇÃO DISTO - Os custosefectivos das abordagens participativas são, ainda, muitodifíceis de determinar, uma vez que os parâmetroseconómicos e sociais são apenas parcialmente adequados namedição de custos e benefícios. A avaliação dos benefíciosé, no entanto, muito importante, porque dá indicadoressobre a viabilidade económica e financeira das medidas,factor que é muito relevante para os planeadores edecisores ao nível governamental que ainda olhampredominantemente para o desenvolvimento a partir de umaperspectiva económica.
Mas é importante salientarmos aqui que nesta avaliação decustos e benefícios no quadro de uma estratégia dedesenvolvimento participado o factor que deve merecer maiordestaque positivo é o crescimento da auto-confiança dosmais desfavorecidos, o que é muito difícil de imediatamenteavaliar em termos meramente económicos. No entanto, e dadoque a metodologia prevê um crescimento da capacitação, oque deve ser esperado (e mensurável) é a diminuição dos«apoios de arranque externos» e o aumento do investimentolocal nos vários segmentos constituintes da estratégialocal.
No entanto, existem alguns custos dos processosparticipatórios com os quais se pode desde logo contar, epara os quais podem ser definidos patamares financeiros dearranque, mesmo que seja meramente a partir de um cálculoper capita, como sejam a formação de animadores, workshops de
aprendizagem em metodologias de participação comunitária edinâmicas de grupo, etc.
ISTO AQUI A SEGUIR DEVE IR PARA O PLANO MESMO PARA ASMETODOLOGIAS
- A contratação de um pequeno grupo de animadores locais, quepossam funcionar como promotores dessa mesma participação no seio da suacomunidade (aspecto que pode implicar alguma formação para conseguirpotenciar as suas qualificações e desempenho);
- Realização de ateliers para treino de técnicas e processo departicipação comunitária, com destaque para as técnicas de dinâmica degrupos (para a comunidade), e posteriores reuniões comunitárias de avaliaçãodos resultados entretanto obtidos;
- Realização de investigação relacionada com os indicadores socio-económico;
- Monitorização e avaliação relativa a formação de grupos, bem comodas suas acções, desempenhos e limitações.
O custo destas actividades pode ir sendo reduzido à medidaque o projecto vai progredindo (positivamente) e vai sendoredesenhado, e, a longo prazo, por comparação com os seusbenefícios económicos e sociais. Em alguns casos, podemesmo vir a colocar-se a questão de já não seremnecessários, numa etapa posterior á inicial, de dotaçõespara angariar elementos dinamizadores da participação –basta provavelmente reenquadrar verbas e pessoalexcedentários em tarefas das quais agora se encarrega,autonomamente, a comunidade local e/ou alguns dos seusstakeholders (envolvimento mecenático).
BENEFÍCIOSA primeira questão pertinente que se pode colocar neste campo é se os benefícios ultrapassam os custos? E é uma questão à qual é difícil dar uma resposta cabal uma vez quenem todos os benefícios da participação são facilmente identificáveis, e portanto, também dificilmente
quantificáveis e avaliáveis, mais a mais quando alguns levam anos para adquirirem uma visibilidade relevante.
b.
c. Dificuldades / Custos
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO
A participação devia de fazer parte daquilo que é a actividade dasautoridades locais no seu trabalho diário. Assim sendo, os custos daparticipação devia estar ligado à utilização de tempo de atendimento,às disponibilidades de espaços e outros recursos organizacionais.Abertura, fiabilidade e comunicação efectiva com o público devemconstituir o coração de um bom governo local, por isso existem todasas razões para que o concelho consagre todos os seus recursos a essametodologia de funcionamento. VER ISTO DO TODOS…
A PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA IMPLICA :
1 – um envolvimento democrático e voluntário das pessoas
2 – iniciativas da comunidade local, e não impostas de fora
3 – a capacidade dos participantes para fazerem escolhas einfluenciar os resultados
4 – a partilha das tomadas de decisão em todos os níveis ediversidade da programação
5 - partilha justa dos benefícios do desenvolvimento resultantesdessa participação
Dificuldades – a participação dos stakeholders em todoas todasaas fases é difícil por isso não admira que o debate em torno daparticipação comunita´ria tenha permanecido focado nas questões dasmetodologias sobre como conseguir esse envolvimento no processo deplaneamento…. Também porque há uma diferença entre ter um plano e conseguirefectivamente concretizá-lo.
A autentica participação raramente ocorre (a total parceria com oscidadãos) ---é necessária uma combinação perfeita entre técnicas,objectivos e etapas…não se conseguiu ainda a mistura correcta mas mais doque uma fórmula
mágica o que interessa é definir alguns objectivos rlevantes e ir trabalhando de forma correcta nelese com a participação da comunidades e dos stakeholders
Muitas das dificuldades já então encontradas relacionavam-se com asdiferenças de poder efectivo entre a comunidade e os organismosoficiais (governos e administração pública dos mais variados níveis).O mesmo acontece entre os actores directamente ligados à indústria emsi mesma e a comunidade em geral ISTO DE VE SER TRATADO DENTRO DOQUADRO DAS QUESTÕES DA GOVERNANÇA.
DIFICULDADES DA PARTICIPAÇÃO
Convém no entanto referir que a intervenção local com base na participação ativa e diversificada dos cidadãos implica acrescentar algumas dificuldades, sobretudo, porque a multiplicação de atores corresponde a uma maior divergência de opiniões e de interesses ambientais, culturais, económicos, políticos e sociais (e até mesmo pessoais), bem como a uma maior diversificação dos domínios de ação, das preocupações e das incertezas (Bourdin, 2000: 133), apesar do enriquecimento que obviamente ocorre no domínio dos saberes postos à disposição do coletivo. Acrescente-se também que outra das dificuldades reside no fato de a participação não significar que todas as expetativas sejam satisfeitas o que pode defraudar as esperanças dos atores.
i.Operacionais
FACTORES QUE PODEM AFECTAR O ACESSO À PARTICIPAÇÃO
Em áreas rurais de grande dimensão podem existir problemas dedistância entre as comunidades, transportes, etc., principalmenteafectando os grupos mais idosos;
Os mais jovens que podem sentir se alienados, o que faz bloquear desdelogo o seu desejo de participação;
Mais genericamente, existe uma necessidade de se compreender que falarem público pode ser uma tarefa difícil para muitas pessoas. Algumaspessoas receiam as consequências de exprimirem a sua opinião. Por issoexiste necessidade de grande habilidade e sensibilidade na gestão doscontactos entre o público e as autoridades / instituições oficiais.
a)DIFICULDADES OPERACIONAIS
Políticas 113
“…os modos de participação local com vista à tomada de decisões não devem ser necessariamente os utilizados mundialmente, mas devem antes depender de diferentes acordos institucionais e outras restrições locais. Para além disso, os modos de participação podem estar ligados com diferentes estágios de desenvolvimento turístico. (…) À medida que o turismo evolua de um estado de desenvolvimento para uma etapa de maturidade deveráexpectar-se que os problemas de redistribuição justa dos recursos se torne mais importante do que a eficiência” (LI, 2006:141)
Políticas 101
“A complexidade caracteriza as situações de gestão ambiental porque as questões primordiais embrulham-se numa teia de factores biológicos, físicos, políticos, financeiros, e sociais.Cientistas sociais e naturais concordam agora que “gerir” recursos ambientais ou naturais é um contra-senso (Ludwig et. al., 1993; Mitchell, 1997). Em vez disso, a gestão tem de lidar com interacções humanas conflituantes entre si acerca do ambiente não humano. Em vez de ser sempre considerado um obstáculo ao planeamento, o conflito é hoje considerado “normal”pelos investigadores de gestão ambiental, porque advém de valores legítimos, e diferentes interesses, esperanças, expectativas, prioridades dos indivíduos ou grupos societais (Mitchell, 1997). Para além disso, o conflito pode também ser produtivo se oferecer oportunidades de aprendizagem mútua (Daniels & Walker, 1996).” (REED, 1999:333)
i.Estruturais
DIFICULDADES ESTRUTURAIS
Políticas 102
“Como sucede com situações de gestão ambiental, os cenários turísticos emergentes combinam sistemas ecológicos e sociais de formas que são complexas e fundamentalmente incertas e
imprevisíveis. Muitos problemas, tais como o crescimento da população e os padrões de uso das terras reflectem esta incerteza. Por exemplo, muitas vezes não conseguimos prever os resultados ou os impactos de acções locais a uma escala mais ampla (Cartwright, 1991). A disponibilidade e a desejabilidade de paisagens específicas para usos específicos não podem ser conhecidas com muita antecipação. Similarmente, fenómenos sociais em larga escala (como uma mudança de governo e políticasassociadas ou estratégias de investimento internacional) podem inibir ou realçar oportunidades para o desenvolvimento do turismo local.” (REED, 1999:333)
ii.Culturais
DIFICULDADES CULTURAIS
Políticas 67
“Quando a cultura é concebida como uma entidade estáticadesprovida de dinâmicas de mudança, as acções, motivações evalores dos membros da comunidade local são ignoradas. O queesta abordagem ética ignora é o facto do turismo não poder serisolado de muitos outros aspectos da cultura, que ao tratar oturismo como uma força exógena os analistas correm o risco deignorar como o turismo pode tornar-se parte da realidade local(Picard 1993; Hitchcock et al. 1993:9) (…) muitas sociedades sãode facto resilientes e demonstraram capacidade para evitar odomínio de forças exteriores; elas colocaram o turismo atrabalhar para elas em vez de trabalhar para o turismo, e dessaforma incorporaram-no no seu espaço social. A capacitação é achave para esta resiliência, determinando o caminho da suaresposta adaptativa. (…) A adaptação pode ser descrita de formamais ou menos objectiva mas quando os impactos da adaptação aoturismo são examinados e considerados “positivos” ou “negativos”o argumento torna-se frequentemente subjectivo, relacionado“mais com a ideologia do que com a lógica” (Harrison 1996:76).”(SOFIELD, 2003:335)
b. Desafios
b) Factores de sucesso do envolvimento efectivo
Existe um conjunto de factores que devem ser levados emconsideração ao serem elaborados objectivos para planosparticipativos de desenvolvimento local sustentável.Principalmente quando estas soluções se revestem de um carácterinovador, utilizando metodologias nunca antes experimentadas, ouformas de valorização dos recursos locais em formatos distintosdos habituais; assim estes factores podem ser, muitosinteticamente referidos como sendo:
UM DESAFIO – as comunidades, os investidores, as entidades reguladoras querem tera certeza de que as soluções inovadoras vão gerar serviços fiáveis e de qualidade (sejaqual for o sector). Os fornecedores de serviços, que têm experiência nas soluçõestradicionais, querem garantias de que os custos da inovação vão superar os custos.
UMA SOLUÇÃO – o envolvimento dos stakeholders deve permitir que todos aquele quepotencialmente possam ser afectados por uma solução distinta possam exprimir a suadúvida. A comunidade pode querer, pr exemplo, saber a opinião geral dos visitantes,as instituições podem querer estudos de caso das realidades concretas, os investidorespodem querer estudos que comparam custos com benefícios.
UM RISCO – num processo de diálogo efectivo entre os stokeholders, os proponentes(de uma qualquer solução) devem estar preparados para verem a sua proposta serrejeita (pelos outros).
UM VALOR – as inovações que forem aceites têm que passar a ser defendidascomprometidamente por todas as partes, o que, alongo prazo, contribuirá para o seusucesso.
A QUALIDADE DAS DECISÕES BASEADAS NOS STAKEHOLDERS
Um dos mais citados factores de sucesso dos processosparticipativos que têm vindo a ser estudados na literaturainternacional - particularmente na sua intervenção e impactos naárea do turismo sustentável - é o da qualidade das decisõesbaseadas nos processos de consulta aos stakeholders. Essasanálises dão testemunho de um cenário optimista para estasolução como processo de decisão. Nesta metodologia existeigualmente uma percepção de que alguns «aspectos políticos» delaresultantes não poem em causa a qualidade das decisões. A maiorparte das evidências que esses estudos têm recolhido mostram
que, apesar de possuírem tipologias processuais distintas,implicando variadas formas de governação, e de estarem assentesem contextos ambientais diversificados, a qualidade das decisõestem sido preservada. Aquilo que parece existir comummente é umintervalo temporal excessivo entre os momentos de tomada dedecisões e a sua efectiva implementação. É também generalizada aopinião de que um dos factores que tem feito crescer a aceitaçãodesta metodologia de decisão é o descontentamento com o status quoexistente. A legitimação simples, em intervalos temporaisrelativamente alargados, vai desagradando às comunidades, queassim querem qualificar de «participada» a gestão, o orçamento,as programações…
Claro que este processo teve que fazer o seu caminho, não foiimediato nem o seu aparecimento como proposta, nem a suaaceitação como prática. A primeira destas etapas, designada de«tomada de consciência», decorreu na década de 80, e centrava asua atenção em assuntos locais e ambientais. Neste período,verificaram-se preocupações públicas cada vez maioresrelativamente aos desgastes no ambiente, com crescimento dadesconfiança relativamente às empresas. Muitas companhias actuamde forma predadora em contextos locais, e só se dedicavam amelhores soluções quando eram confrontadas com a oposição movidapor actores externos (normalmente actores locais coligados comagências ou ONG’s de responsabilidade social), respondendo amaior parte das vezes com a negação de tais impactos e evitandoa resolução de problemas o mais que lhes fosse possível (ACRIAÇÃO DA ADPM, nesta década, PARA EVITAR/PROTEGER O PATRIMÓNIOLOCAL, lembram se as lutas com os tipos das celuloses?? Secalhar não havia parque natural se não se tem intervindo dessaforma ISTO É UM APARTE PARA AS MENINAS QUE ERAM MUITO NOVITAS OUNEM NASCIDAS À DATA!! CARAMBA!!); durante a 2ª etapa, chamada«da atenção», que começou sensivelmente por ocasião daConferência de Terra, em 1992, (Conferência para o Ambiente e oDesenvolvimento das Nações Unidas), os tópicos do ambiente anível local abriram caminho para preocupações expressas para umcontexto geográfico muito mais alargado, quer no campo ambientalquer no social. Esta mudança foi o resultado da globalização nosnegócios, associada a públicos cada vez mais conscientes einterligados entre si, e a redes de organizações não-governamentais. Um entendimento cada vez mais sofisticado dos
impactos globais e a longo prazo causados pelo desenvolvimentoindustrial em geral, assim como relativamente àqueles dasbiotecnologias e das mudanças climáticas, trouxerem para a ordemdo dia um maior reconhecimento da complexidade dos problemas eda magnitude das mudanças. Como resultado disso, o problematornou-se difícil de ignorar. A combinação destes factoresdespoletou o envolvimento dos stokeholders, a partir das suaspreocupações muito focadas nos seus locais de origem ouresidência, para uma visão mais global. Muitas empresastornaram-se mais atentas a estes assuntos, assumindo as suasresponsabilidades perante os impactos causados. O resultado foique passou a haver uma abordagem muito mais proactiva na gestãodestes impactos, passando a haver mais informação ao públicosobre questões ambientais e sociais; a terceira etapa - «a erado envolvimento» - iniciou-se depois da Conferência para oDesenvolvimento Sustentável, em 2002 (em Johannesburg, na Áfricado Sul). Muitas empresas tornaram-se sofisticadas no modo detratar de assuntos com impactos ambientais e sociais. Emconjunto com diversas ONG’s começaram a trabalhar em parceriaspara a resolução de problemas que gradualmente vinham areconhecer não poderem ser tratados por cada uma delasindividualmente, trabalho esse feito com o apoio e oenvolvimento de organismos internacionais e agênciasgovernamentais. Nesta era, na qual ainda estamos, vai aumentandoo número de parcerias estratégicas, trazendo as comunidades paraos grupos de stokeholders, e aumentando os factores detransparência e de fiabilidade, não só a nível empresarial, masigualmente junto das organizações da sociedade civil, numametodologia aberta que vai progressivamente incorporando nosstokeholders as entidades que têm surgido em consequência denovos desafios e oportunidades. A criação e desenvolvimento dasAgendas 21 são um bom exemplo da ideologia e prática destaetapa; no caso do Baixo Guadiana, por exemplo, permitiu à ADPMdifundir uma prática como modelo ideo-ambiental semelhante –criando bases para uma estratégia de gestão ambiental comumneste território.
Deve reconhecer-se que uma parte do sucesso do processocolaborativo resulta da sua própria metodologia dedesenvolvimento. No geral, este é estruturado em três fases: aprimeira, é a de “definição do problema”, onde se identifica a
natureza do desafio; a segunda, é a do “estabelecimento dedirecções”, onde se pretende alcançar alguns consensospolíticos; e a terceira, é a da “estruturação”, que está,primordialmente, voltada para a programação e implementação.Outros factores de grande importância são a intensidade dacolaboração, incluindo a natureza e a frequência doenvolvimento, o fluxo de informação (entre os diversosstakeholders e com outras entidades envolvidas no processo), ograu de compreensão mútua, o respeito e a aprendizagem entre asvárias partes interessadas, e o desenvolvimento de novasabordagens.
No desenvolvimento dos processos participativos, o grau deconsenso entre as várias partes interessadas sobrepõe-se àforma, à implementação e à avaliação das políticas. Mas éfundamental recordar que, algumas vezes, os pontos de vista dos“actores-chave” podem evitar que perspectivas alternativas,defendidas pelas posições mais fracas ou que possuemargumentações mais desarticuladas, sejam sequer expostas. Istosucede porque, muitas vezes, as limitações temporais só permitemo estabelecimento de um “consenso parcial” entre as váriaspartes interessadas. O progressivo desaparecimento destes«domínios» e o alargamento do número de envolvidos queclaramente expressam a sua opinião são um sinal de maturidadecívica destes procedimentos, e um dos factores de sucesso quedevem ser perseguidos al longo do tempo.
As avaliações e monitorizações a estes processos, de que podemoscolher eco na literatura especializada, demonstram que mesmo apercepção do sucesso ou do valor das metodologias vairaconsoante os grupos, digamos assim, de stakeholders quenormalmente estão envolvidos nos mesmos (o que de certa forma éum paralelo com o mesmo tipo de resposta grupal / corporativaque podemos encontrar relativamente às tomadas de posição. AsONG’s, por exemplo, relativamente à questão do envolvimentoefectivo, destacam a necessidade: de se dever assumir umcompromisso com a acção; de se manter o direito a não estar deacordo; de se agir com transparência e fiabilidade; de nãoesperar mudar o mundo de um dia para o outro. Daí a importânciade se conceberem planos (de gestão ou outros) com algumpragmatismo, em modelos «step by step», com realismo, que não
queiram definir objectivos gerais muito vastos, mas sim aconcretização de algumas etapas reais que sejam importantes parao progresso da visão geral para este território.
Claro que para obter o sucesso desejado, este processo tambémtem que enfrentar desafios. Normalmente, nos processosparticipativos, as maiores dificuldades vêm das tensõesinternas, que se geram entre os diferentes stokeholders. Noentanto, essas tensões podem ser evitadas através demetodologias que reforcem o compromisso comum e a transparência.Muitas ONG’s referem que, enquanto a colaboração e as parceriasem projectos de envolvimento de stokeholders que resultam emacções concretas, constituem iniciativas tangíveis egratificantes, não deixa de ser importante que o diálogo por sisó, sem nenhum projecto concreto em vista, também deve servalorizado, como processo para construir entendimentos comuns. Odiálogo bem sucedido entre diferentes stakeholders proporcionaespaço e oportunidade aos diversos participantes para ouvirem eaprenderem acerca uns dos outros, e poderem assim vir apartilhar visões e agendas. Isto pode ser um processo muitopoderoso de fazer as coisas avançar, e de acarinhar novasfuturas relações entre eles – aumentando a consciência,partilhando conhecimentos, estimulando a inovação ou atédisseminando ideias e possibilidades para o desenvolvimentosustentável. No fundo, um pouco à semelhança daquilo que a ADPMtem vindo a promover ao longo de muitos anos, - esforço de queeste plano de gestão é testemunho – promovendo uma agenda para odesenvolvimento sustentável. Algumas ONG’s consideram que muitasvezes essa tentação do diálogo é apenas um consumidor de tempo,particularmente se os interlocutores são desprovidos de qualquerpoder que possa alterar a situação em presença ou o estado dascoisas. A chave para este dilema reside em conseguir gerir atensão que se verifica, conduzindo à identificação de camposconcretos e construtivos comuns, e à necessidade de assegurar aprioridade de acções com resultados tangíveis.
Outro dos factores de sucesso tem a ver com a diferença d que oconhecimento dos cidadãos pode trazer, podendo ser graças ao seuenvolvimento que os projectos têm sucesso. A análise que os
stakeholders locais podem fazer das condições e dos problemaslocais, e a sua desenvoltura na implementação de soluções, sãofactores decisivos que permitem ajustamentos adequados nodecurso dos processos de desenvolvimento local; muitas vezesporque estes stakeholders representam grupos que não pertencem àelite local, a sua opinião não era muito valorizada, mas, defacto, e as avaliações já realizadas a casos concretos,demonstram que existe muito valor na integração do capitalintelectual dos cidadãos, mesmo que num primeiro momento talcontributo não fosse perceptível ou parecesse pouco relevante.
Na sequência desta argumentação, parece evidente salientar-se,então, que a educação dos cidadãos - cívica ou de outra qualquernatureza – é outro dos factores que pode acrescentar sucesso aoenvolvimento efectivo da comunidade. A educação é,efectivamente, um instrumento de democratização e de cidadania,e uma plataforma que pode ajudar a resolver alguns dos problemassociais emergentes, precisamente através dos processosparticipativos a nível local. Mas a aprendizagem pode ser feitaem contextos e formatos muito distintos, e seguramente aaprendizagem através da prática social colectiva, usando apartilhando a experiência de cada um, é um dos meios de oconseguir. No desenvolvimento local, afigura-se como uma dasestratégias para conseguir a integração de todos osstakeholders, e o maior envolvimento de uma dada comunidade comoum todo, no modo de superar os desafios que o desenvolvimentolocal coloca. As interacções entre os indivíduos sãofundamentais para a aquisição de novos saberes, e essas acçõesocorrem fundamentalmente no plano da comunicação verbal,carregadas de todo um conjunto de representações, o que numcontexto participativo, permite descodificar aquilo que cadaprocesso, ou os seus resultados, representam para cadaparticipante. A educação permite-lhes compreenderem a actuaçãodos diferentes actores sociais na apropriação da gestão do seuterritório, viabilizando as dimensões da sua participaçãosocial.
Modelos e Metodologias daparticipaçãoThe central pillar of a participatory approach is the creationof a cooperative relationship with all stakeholders, buildingrelationships based on voluntary compliance rather thandraconian enforcement (Lane 2001, Mascia 2003). This doesnot mean that enforcement must not exist, however, it has tobe promoted through participatory decision making with allstakeholders involved (Aswani et al. 2004). Rules must beclear and easy to understand, where internal and externalboundaries are well defined and recognized by both resourceusers and PA personnel (Mascia 2003). Although well trained,equipped, and motivated personnel are vital for the success ofmost PAs, adequate governance must guarantee that penaltieswill be applied and consistently enforced (Dudley et al. 2007,Nkhata and Breen 2010). Such statements confirm ourresearch findings that promoting local communityparticipation in a PA’s decision-making process can be apowerful strategy to enhance compliance with the PA’spolices.Stewardship may only be effective if alternative economicincentive programs are also developed with a participatoryprocess (DeFries 2007). The most important goal in this caseis to foster economic development of local communities,improving their livelihoods and at the same time reducing theexploitation of natural resources inside the reserves (DeFrieset al. 2007). For example, in Kilum-Ijim Forest, Cameroon,since an income livelihood project began in 1987 through aparticipatory approach, the park’s boundaries have beenrespected, and the local community now has a positive attitudetoward the conservation program (Abbot et al. 2001).Therefore, based on our research results, we could suggestthat, without participation and consent of local communities,an outreach program might not be effective in halting illegalactivity inside PAs. Moreover, if implemented as the solestrategy, alternative income generation programs couldpromote dependencies, creating a misconception that localssupport external economic assistance (Pretty and Smith 2004).Instead, alternative income generation must be aligned withcapacity building, which is likely to play an important role inensuring long-term sustainability. According to Pretty andSmith (2004), the learning process of ecological and physicalaspects of an ecosystem is paramount for the success of anyparticipatory management approach. This promotes positivechanges in attitudes toward conservation strategies (Pretty andSmith 2004, Ban et al. 2009). Environmental education andtraining in technical aspects such as financial management,
agriculture improvements, and marketing are some examplesof capacity building in local communities (Abbot et al. 2001,Fu et al. 2004, Kaltenborn et al. 2008). Capacity building mustalso be extended to PA personnel, thus improving their naturalresource management, conservation planning, and social skillsin conflict resolution and diplomacy (Akama et al. 1995, Fiallo
and Jacobson 1995, Ban et al. 2009).
CHOOSING STAKEHOLDERSA Key Step in a Collaborative ProcessCorder/Thompson & AssociatesIncreasingly there is a demand to convene negotiating groups to reach consensus onsolutions to community problems. These groups are made up of stakeholders–thosesegments of the community that are affected by or have a “stake” in the decision: citizengroups, funding sources, service providers, government regulators, environmentalists,consumers, etc.Involvement in the community problem-solving processes is important for severalreasons:• to assure that the decision addresses as many different stakeholder interests aspossible;• to increase the probability of a creative outcome;• to build broad-based support for the decision made by thenegotiating group; and• to facilitate implementation of the decision.When involving stakeholders and using a consensus-based process, conveners face amajor challenge: how to select a group of stakeholders who will be seen as inclusiveand representative, and will be clear on their roles and prepared to work effectivelytogether on the problem.In order to increase the probability of a successful collaborative process, at least fourcategories of issues related to stakeholders should be addressed:
• clarifying appropriate levels of participation by different groups and establishingmechanisms for that participation;• deciding on the composition of the negotiating or decision-making group;• specifying the desired characteristics of participants inthe group; and
• deciding how representatives will be selected.
COMPOSITION OF THE COLLABORATIVE GROUPFor collaborative processes, the composition of the group is very important. Often thereis a tension between the desire to include everyone who wants to be at the table andthe need to have a group that is a reasonable size for decision making. In deciding onthe composition of the group, a number of factors should beconsidered.Keeping the Size of the Group ManageableOne of the most important considerations when establishing a negotiating or decisionmakinggroup is the size of the group. The most frequent challengeis to keep the groupto a size that allows members to participate actively and communicate effectively,permits the process to be completed in a finite time frame,and fosters creativity inseeking solutions. The optimum size group is between 8 and 20.Inviting the Appropriate Stakeholder Representatives• Who has official decision-making authority on this issue?Begin with those agenciesor individuals who have an official role in the decision: funding sources,organizational or agency leaders, public officials, etc.3© Corder/Thompson & Associates — 2002.• Who has the power to implement the solution? Consider whowill have to live withand implement the decision, policy or program on a daily basis. Often successfulimplementation of a decision is hindered if the process didnot involve those who will
be implementing the outcome.• Who has the power to block the decision? Which groups mayorganize oppositionthrough lawsuits, demonstrations, funding or legislation? Often there is reluctance toinvolve representatives of these groups. However, if they are not involved in theprocess, they may block the implementation of the decision.• Who may have little power, but is still affected by the outcome? Many members ofthe public may not have organized themselves into groups and yet their involvement,support and insight will be crucial to finding a lasting solution. For example, lowincome neighborhoods, local merchants, minority communities, or retired citizensmay need to be informed about how the issue may affect them, how to access thedecision-making process, or how to organize themselves to have a stronger voice inthe process.Maintaining a Balance of InterestsIt is important to keep in mind that a single group might have a number of interests andthat several groups might have the same interests. Those planning the process need toavoid a situation where there is a large number of representatives who care about someinterests and a limited number who care about other interests. Since the group is notvoting, numbers are not important in this sense. However, when the numbersrepresenting different interests are not balanced, the group is more likely to push forvoting as a means of making decisions. In addition, it can be difficult to balance theamount of discussion time given to all interests represented at the negotiating table.Offering Alternative Ways to ParticipateNot all stakeholders may want to be at the negotiating table. Sometimes there are
variations in the degree of involvement in the process desired by stakeholders. Thesedifferences could be related to such things as differences in the kind of impact thedecision will have on stakeholders, the time they have available to participate in theprocess, or perceived threats or advantages related to the decision. In some kinds ofcollaborative processes, different stakeholders may be involved at different levels:• being an observer of the process;• providing input to a representative who is seated at the negotiating table; or• providing input in written form or at a public meetingMaking different roles in the process available can be an effective strategy for involving
people who will not be at the table, but want to be involved in theprocess.
STRATEGIES FOR SELECTING STAKEHOLDER REPRESENTATIVESThere are a variety of possible strategies for selecting representatives for decisionmakinggroups:• Stakeholder groups select their own representatives. Thisprocess can be used in avariety of situations. Once stakeholder groups that should be represented in thenegotiating group have been identified, they can be given the list of characteristicsfor stakeholder representatives and asked to select their representatives. If thereare multiple groups that will be represented by one negotiator, the groups cancaucus to select a representative. Sometimes it is useful to provide a neutralfacilitator to assist them with this process.• The convening entity appoints a steering committee of representatives of keystakeholder groups and the steering committee selects representatives to invite to
participate in the negotiation group. Often a steering committee is established toassist with selecting stakeholder representatives and with designing the process.Typically the steering committee will be composed of peoplewho are closelyidentified with key interests related to the issue and who also are consideredcredible in the community.• The convening entity selects the representatives. The convening entity identifieskey interests and representatives of those interests and invites them to participate inthe group.• Attendees at an open public meeting select representatives to participate in thedecision-making process. This strategy is often used when it is difficult to identifyorganized groups representing different stakeholder interests. Interests can be5© Corder/Thompson & Associates — 2002.identified at the meeting and then those with similar interests can selectrepresentatives.• Use the first meeting of the stakeholder group to explorewhether any key interest isnot represented. The representatives involved in the negotiating group often are thebest sources of information about whether or not any key interests are notrepresented in the group. Time at the initial meeting can be set aside for thisdiscussion and then the group can agree on ways to get representatives of anymissing interests.• Consider the possibility of adding representatives as theprocess proceeds.Sometimes in spite of the best efforts to identify all relevant stakeholders, as theprocess proceeds, the group discovers that an important interest is not represented.
If this occurs, a representative can be added, or the groupcan decide on othercreative ways to make sure those interests are addressed bysolutions that areproposed.Making public the criteria for participating in the negotiating group is important both tothe perception that the selection process was fair and to the credibility of the process.This is especially important when there are more groups whowant a specificrepresentative to be a member of the negotiating group thanthere are seats at thetable. Publishing the selection criteria also adds to the credibility of the collaborativedecision-making process.For collaborative public processes to be effective, it is important to spend the time thatis necessary to make sure that key stakeholder groups are represented at the table.The decisions made by the negotiating group will have more credibility if those who areaffected by the decision believe that their interests were adequately represented in thedecision-making process.
Corder/
METODOLOGIAS
Existem dois passos chave na determinação de qual deve ser a forma departicipação do público:
- avaliação do enquadramento constitucional e da situação política, emparticular das oportunidades de regulamentação e o clima político.GUADIANA, possibilidade de novos arranjos intermunicipais, clima políticomédio, desconfiança talvez, medo de perder parcelas de poder.. sem percebero que se pode ganhar…. Que tipo e com que dimensão de participação públicaé legalmente possível e em que termos é que se pode tornar mandatória? Que
desafios é que a participação pública vai encontrar neste contextoterritorial e que medidas de precaução é que são necessárias tomar?
- escolha do método para a participação que se encaixe nesta avaliaçãopolítica e o seu objectivo especifico e tema. A escolha devia serimparcial, levando em conta os custos financeiros e sociais, a necessidadede maxizar o envolvimento bem como as provas de eficácia dos métodos naobtenção de benefícios eficientes e democráticos. A popularidade de ummétodo deverá ser um critério secundário.
Quando pretenda melhorar a cultura democrática e reduzir o desencantamentodos cidadãos com as práticas políticas actuais, a participação pública deveincluir a deliberação. Os participantes aprendem e valorizam a democraciaexperimentando-a, usando o processo de decisão e a troca de argumentos parachegar a soluções consensuais. A participação do público fá-lo reconhecer opluralismo dos objectivos e dos valores e proporciona uma colaboraçãoresoludora de problemas, que está estruturada para obter políticas dotadasde maior legitimidade.
O uso sistemático da avaliação é necessário para providenciar mais normas,e conselhos baseados em factos provados (experiência/ conhecimento) nosprocessos de participação pública organizados e para construir argumentosresilientes relativamente aos efeitos prováveis das escolhas obtidas naparticipação pública organizada.
IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS
A identificação e análise dos stakeholders é uma componente fundamental doprocesso de planeamento com envolvimento. Pelo entendimento e gestão dasrelações entre os stakeholders (incluindo os membros da comunidade) podemosaumentar a probabilidade de atingir os objectivos finais de uma determinadaestratégia (ou projecto). Ao contrário, falhar nessa apreciação da dinâmicadas relações que existem entre os stakeholders pode conduzir a oposiçõesque gerem impactos negativos na estratégia geral.
A DIVERSIDADE …dos grupos participantes..
Uma definição geral de diversidade deve assentar no conceito de igualdadede oportunidades. Vai para lá do conceito de meramente corrigir asdesvantagens de determinados grupos alvo, colocando ênfase na importânciade adoptar uma cultura inclusiva e de valorizar a diferença entreindivíduos e comunidades. No entanto, apesar de que devemos procurar ser
inclusivos em todas as nossas acções, às vezes também é necessário adaptaros nossos processos de envolvimento e as actividades resultantes de modo apermitir a mais larga participação quer das comunidades quer dosindivíduos.
UMA NOTA SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS - «o motivo básico pelo qualfazemos envolvimento dos stakeholders é porque precisamos uns dos outros.Negócios, governos, força de trabalho e ONG’s são parcerios necessários nomovimento em direcção a um futuro sustentável. Trata-se de uma forma muitoprática de lidar com assuntos complexos» Pieter van der Gaag, NorthernAlliance for Sustainability
What is a Stakeholder Model?The New Model
The intent of the Stakeholder Model is for Tourism Vancouver Island to embrace all tourism industry participants in the region by considering them as stakeholders, without a requirement to pay membership fees.By removing the fee structure the association will accomplish two significant goals:
Tourism Vancouver Island will be able to fully represent the breadth of tourism product available in the region to the consumer, and
Participation in the Tourism Partner programs with Tourism B.C. will be available to all eligible tourism businesses within the region.
Benefits of Stakeholder Model
Greater opportunity to build more diverse and dynamic marketing initiatives.
Optimized relationships with all association groups. Stronger voice with a greater stakeholder base. More opportunity to share resources and capitalize on
the strength of the entire industry. Broader and more diverse range of tourism product to
offer the consumer Increased stakeholder base, resulting in greater
participation in marketing initiatives and consequentlymore frequency and a greater impact in the marketplace.
More partnership opportunities with Tourism Associations, Industry Associations and Chambers of Commerce, etc.
Increased flexibility when working with the media and travel trade.
Greater revenue generating opportunities.
24.2 Approach to Stakeholder ManagementStakeholder analysis should be used during Phase A (Architecture Vision) to identify the key players in the engagement, and also be updated throughout each phase; different stakeholders may be uncoveredas the engagement progresses through into Opportunities & Solutions, Migration Planning, and Architecture Change Management.
Complex architectures are extremely hard to manage, not only in terms of the architecture development process itself, but also in terms of obtaining agreement from the large numbers of stakeholders touched by it.
For example, just as a building architect will create wiring diagrams,floor plans, and elevations to describe different facets of a buildingto its different stakeholders (electricians, owners, planning officials), so an enterprise architect must create different views of the business, information system, and technology architecture for the stakeholders who have concerns related to these aspects.
TOGAF specifically identifies this issue throughout the ADM through the following concepts (as defined in 35.1 Basic Concepts):
Stakeholders
Concerns
Views
Viewpoints
24.3 Steps in the Stakeholder Management ProcessThe following sections detail recommended Stakeholder Management activity.
24.3.1 Identify Stakeholders
Identify the key stakeholders of the enterprise architecture.
The first task is to brainstorm who the main enterprise architecture stakeholders are. As part of this, think of all the people who are affected by it, who have influence or power over it, or have an interest in its successful or unsuccessful conclusion.
It might include senior executives, project organization roles, clientorganization roles, system developers, alliance partners, suppliers, IT operations, customers, etc.
When identifying stakeholders there is a danger of concentrating too heavily on the formal structure of an organization as the basis for identification. Informal stakeholder groups may be just as powerful and influential as the formal ones.
Most individuals will belong to more than one stakeholder group, and these groups tend to arise as a result of specific events.
Look at who is impacted by the enterprise architecture project:
Who gains and who loses from this change?
Who controls change management of processes?
Who designs new systems?
Who will make the decisions?
Who procures IT systems and who decides what to buy?
Who controls resources?
Who has specialist skills the project needs?
Who has influence?
In particular, influencers need to be identified. These will be well respected and moving up, participate in important meetings and committees (look at meeting minutes), know what's going on in the company, be valued by their peers and superiors, and not necessarily be in any formal position of power.
Although stakeholders may be both organizations and people, ultimatelythe enterprise architecture team will need to communicate with people.It is the correct individual stakeholders within a stakeholder organization that need to be formally identified.
O conjunto dos interessados (stakeholders) de um projeto englobatodas as pessoas que de alguma forma podem influir no sucesso do projeto. Assim considera-se interessado desde o patrocinador, os fornecedores, os membros da equipe de projeto, os membros da diretoria da empresa e o público externo (usuários e vizinhos) que seja afetado pelo projeto. Cadaprojeto tem seu grupo de stakeholders próprio. A questão críticaé identificar todos os que
podem influir.
No caso de uma represa, pelas dimensões do empreendimento haveráimpacto para os moradores da região e ao longo do rio. Estas pessoas são afetadas pelo resultado do projeto e podem influir de várias formas no andamento dos trabalhos, desde colaborando com as equipes de construção até obstruindo a obra com denúncias junto aos orgãos de controle ambiental. Uma atitude pró-ativa por parte do Gestor do Projeto é estabelecer um canal de diálogo comeste grupo, ou grupo(s), para evitar supresas que tenham impacto negativo no andamento dos trabalhos.
Normalmente, como no caso acima, nos preocupamos com as ameaças externas, esquecendo que os maiores perigos podem estar mais próximos, dentro de casa. Penseno caso dos acionistas e diretores da empresa. É tentador supor que estão todos interessados no sucesso do projeto para o bem da empresa, mas os acionistas podem ser um problema se têm uma mentalidade de maximização dos lucros no curto prazo e/ou se preferem assumir um mínimo de risco na operação, o que pode tirar espaço para a inovação. Um diretor com uma visão de curto prazo, preocupado só com o seu bônus anual, pode ser um problema quando começa a reter recursos vitais para o sucesso do projeto.
A Análise dos Stakeholders é um processo sistemático de coleta eanálise de informação sobre os interesses, objetivos e preferências dos interessados para semapear os riscos e as necessidades de comunicação do projeto. Resumidamente, as etapas são estas:
O primeiro passo é determinar quem pode afetar o projeto. A lista deve ser exaustiva como dissemos.
O segundo passo é identificar os pontos de contato de cada interessado com o
projeto. Pessoas que estão realizando o trabalho diariamente têm maior influência do que fornecedores pontuais.
O terceiro passo é identificar como cada interessado pode ajudar e atrapalhar o andamento do projeto,são as influências positivas e negativas.
O quarto passo é quantificar os graus de poder/influência e interesse de cada interessado. Isso pode ser subjetivo obtido a partir do levantamento do comportamento passado ou mais objetivo usando um modelo probabilístico.
Para sistematizar a sua análise, faça uma planilha com os nomes/cargos dos interessados na primeira coluna. Na segunda coluna você lista as influências positivas e na terceira as negativas. Na quarta coluna coloque uma uma nota de 1 a 10 para dimensionar o grau depoder (influência) que cada interessado tem no projeto (10 é o máximo). Na quarta e quinta colunas coloque o grau de interesse (de 0 a 10) no projeto.
Na tabela de análise, você pode colocar uma sexta coluna indicando como você vai tratar cada interessado, que pode ser: monitorar (acompanhar a distância), manter informado (este caso já merece que se formalize a comunicação no Plano de Comunicação), manter satisfeito (além deinformado, este nível exige um acompanhamento das expectativas) e gerenciar (nível máximo de acompanhamento, com contato frequente e muita transparência). Como o patrocinador tem poder total sobre todas as etapas do projeto, ele é um stakeholder crítico que deve ser gerenciado, ie. deve receber umacompanhamento muito próximo.
Pela natureza do seu conteúdo, este documento é estratégico e sigiloso. Ele tem este aspecto:
Uma ferramenta gráfica que se usa nesta tarefa é um mapa com dois eixos: o de poder (vertical) e o de interesse (horizontal). Coloque os interessados no mapa segundo os parâmetros da análise que você já fez como neste diagrama:
Este diagrama segue esta estrutura:
Para entender o interesse de um stakeholder no projeto, pense noque ele tem a ganhar ou perder com o sucesso do projeto e não se esqueça de que mesmo as pessoas"racionais" têm comportamentos "irracionais".
A língua alemã tem até uma palavra para a sensação que se temdiante do infortúnio alheio: "schadenfreund".Claro que se você puder fazer algo para vencer as resistênciasconhecidas, essa é uma boa horapara pensar nas estratégias para reverter opositores em aliadosou, pelo menos, em neutros.
Pense no exemplo do gerente de outra área que pode estarinteressado no fracasso do seu projeto. Para isso, ele pode desde ativamente trabalhar contra ou simplesmente serum potencial concorrente para os escassos recursos que o projeto demanda. Não se trata só de dinheiro:suponha que há um grande especialista no assunto que seu projeto necessita e este concorrente interno orequisita justamente quando você precisa dos conselhos deste especialista.
Não há como buscar este recurso no mercado já que esteprofissional é altamente especilizado e deve possuir um profundo conhecimento das pecualiaridades dosprodutos que sua empresa fornece. Ao retirar a possibilidade de contar com o especialista, oconcorrente interno efetivamente impactou o seu projeto e isso deveria ter sido previsto antecipadamente.Discutimos mais esse tópico ao falarmos sobre a Gestão de Riscos.
Relato uma situação que vivi, só omitindo os nomes para serelegante. Fui chamado para implantar um serviço numa empresa que já tentara isso duas vezes no passado,com seus colaboradores. Procurei saber porque o projeto não deu certo. Conversando comvárias pessoas fui informado de que na primeira vez o engenheiro destacado era da velha guarda e nãoconcordava com a forma como o serviço seria implantando e sabotou o trabalho. Como este profissionalnão dominava o indioma inglês, a versão oficial era que ele não conseguia se comunicar com os "gringos".Depois foi chamado um jovem engenheiro que falava inglês para ajudar o mais experiente a implantar o
serviço. O engenheiro mais velho se sentiu humilhado por ter de se reportar a uma pessoa bem maisjovem, uns 30 anos mais jovem. Quando eu fui conversar com ele, ele me recebeu com duas pedras na mão:queria saber quanto eu entendia da solução técnica e me sabatinou.
Naquele momento eu sabia bem menos do que ele, mas disse-lhe quegostaria de estudar a questão a fundo e precisaria da sua ajuda neste processo. Eu deixei claroque era consultor externo e não pretendia me empregar naquela empresa, de forma que não deveria ser vistocomo um concorrente para ele. Mesmo assim trabalhei com cuidado para evitar qualquer ofensa emantive uma postura de bom discípulo do "mestre". Eu comprei livros, estudei a tecnologia e em duassemanas dominava a questão técnica. Fiz ao engenheiro uma série de perguntas que lhe mostraram queeu entendia o assunto e ele se acalmou.
O segundo passo foi estabelecer contato com os técnicos noexterior, que se sentiram mais tranquilos diante da minha fluência no idioma e me confessaramespanto com o atraso na implantação.Eu estabeleci um bom relacionamento com eles e sabia o que tinhade fazer do nosso lado, mas ainda assim não conseguia fazer o projeto andar.
Neste momento, o velho engenheiro foi indispensável para osucesso do trabalho pois ele conhecia todos os técnicos da empresa e lhes pedia atenção especial aonosso projeto. Cada vez que era atendido, ele se gabava de sua senioridade e respeito por todos os outrostécnicos, muitos "ele mesmo ensinara a trabalhar". No final, com o serviço operacional ele veio me agradecer porter tirado uma pedra do seu sapato e ficamos bons amigos. Até hoje ele me chama de seu "pupilo".
Se alguem ainda pensa que isso tudo é perda de tempo, é porquenunca teve uma experiência ruim.
Quando faço coaching de profissionais, eu exijo a planilhadetalhada de análise porque ela indica o quanto o Gestor conhece o terreno onde pisa. Muitas vezes ficamos horasdiscutindo os detalhes de cada interessado crítico. Mas para isso agregar valor, você precisapartir de dados concretos, portanto comece fazendo um levantamento completo. Com qualquer destasferramentas, o importante mesmo é investir no levantamento de informações sobre cada participante e refletirsobre seus interesses e objetivos com o projeto. Só assim você evita surpresas desagradáveis lá na frente.
Boa Sorte !
Although it is often difficult and time-consuming to involve a range of stakeholdersin the planning process, this involvement may have significant benefitsfor sustainability. In particular, participation by multiple stakeholders withdiffering interests and perspectives might encourage more consideration of thevaried social, cultural, environmental, economic and political issues affectingsustainable development (Bramwell & Lane, 1993). Timothy (1998) argues thatparticipation in tourism planning by many stakeholders can help to promotesustainable development by increasing efficiency, equity and harmony. Forexample, broad stakeholder involvement has the potential to increase theself-reliance of the stakeholders and their awareness of the issues, facilitate moreequitable trade-offs between stakeholders with competing interests, andpromote decisions that enjoy a greater degree of ‘consensus’ and shared ownership(Warner, 1997).Assessments can be made of the stakeholders who are affected by a tourismproject and who might participate in collaborative tourism planning arrangements.The identification of these stakeholders can be of critical importance for technical, political and, eventually, operational reasons. Being identified, orconversely, not being identified, as a relevant stakeholder is an essential first stepthat affects the whole process of involving participants in collaborative planningas well as the likely outcomes of this planning.
Approaches to Stakeholder AssessmentWhat approaches can be taken to assessing the stakeholders who are affectedby a tourism project and who might participate in collaborative tourism planningarrangements?
A first potential approach is to examinewhether the stakeholders who becomeinvolved in collaborative planning arrangements for a project adequately representthe affected stakeholders (Boiko et al., 1996). If the collaborating stakeholdersare not representative, then some needs might not be articulated andrelated planning alternatives could be ignored, and stakeholders who areexcluded might reject the resulting planning proposals (Gregory & Keeney,1994). Finn (1996) also suggests that problems can arise if some stakeholders areexcluded from the early stages of the collaboration process. For example, it riskshaving to begin all over again as members joining at a later stage insist ondiscussing and negotiating about their understanding of the issues and abouttheir views on planning options (Bryson, 1988; Gray, 1989). Another considerationis whether the stakeholders involved in collaborative planning includesparties with significant financial, institutional or political power and whoseinvolvement might significantly broaden the planning options which arefeasible for the other stakeholders (Warner, 1997).A second approach involves passing information from assessments of relevantstakeholders to the stakeholders involved in collaborative planning arrangementsin order to improve their understanding of the interests and viewpoints ofother stakeholders (Finn, 1996). The information from these assessments mightalso assist the stakeholders to identify strategies to secure specific managementor political outcomes (Bryson & Roering, 1987). For example, such informationcould enable stakeholders to identify parties who are supportive, opposed or358 Journal of Sustainable Tourismneutral to their collective interests. These stakeholders might then form coalitionsamong supportive stakeholders in order to enhance their power and alsotarget neutral or ‘swing’ stakeholders with special lobbying (Bryson, 1988; Roweet al., 1994). Such political objectives may be very contentious.A third potential approach is to identify stakeholders who are considered tohave legitimate and important views but need to have their capacities raised toenable them to put these views forward and to negotiate in collaborative decision-making arrangements (Carroll, 1993). For example, they may lack technicalknowledge about tourism planning or skills in presenting their views in meetings,and these might be developed through education and training. Warner(1997: 418) adopts a normative position that ‘stakeholder targeting’ is neededtocreate an equitable basis for collaborative negotiations, and that ‘a “consensus”model of participation should direct early effort towards those stakeholderswhoare most polarized from a capability to negotiate collaboratively’.The approaches mentioned so far can be developed further by a fourth: askingstakeholders affected by the tourism issue or project to identify other stakeholderswhocould be of interest to the researcher. Stakeholders can also be asked
for their opinions on which stakeholders affected by a tourism project ought to beinvolved in its planning. Stakeholders’ opinions can be collected using suchmethods as focus group discussions, interviews or questionnaires. The stakeholderswho are identified by other stakeholders as relevant to a tourism projectwill reflect the value judgements of the stakeholders themselves (Mark &Shotland, 1985).The snowball method is a useful means of identifying relevant stakeholdersbased on the views of other stakeholders. This method can involve identifying acore subset of actors who are affected by an issue or project and asking them tonominate other stakeholders they consider have relevant characteristics. Thesenominated stakeholders then can be asked to nominate others they consider havethe characteristics, with the potential to repeat this process until few new stakeholdersare identified (Finn, 1996; Rowley, 1997). The snowball method can bevery useful at a local level. Political rather than personal knowledge may beparticularly critical in the use of the snowball method at regional and nationalscales.A fifth approach to assess relevant stakeholders is to place them on a diagramor map according to their key relationships to the issue. A network of arrows canthen be used to show existing or likely relationships between the stakeholders,such as the involvement of some of them in collaborative planning arrangements.Patterns of particularly important relationships usually emerge, andthese patterns can be portrayed on a revised map. The resulting stakeholdermap, usually involving a complex array of multiple relationships, can be examinedusing social network analysis. The purpose of this analysis is to evaluate therelational networks between stakeholders, notably to determine interdependenciesbetween stakeholders, how their positions in the network influence theiropportunities, constraints and behaviours, and how their behaviours affect thenetwork (Marin & Mayntz, 1991; Rowley, 1997).Stakeholders affected by an issue or project can be positioned on a mapaccording to many relationships (Harrison & St John, 1994). Only three of theseStakeholder Assessment and Collaborative Tourism Planning 359relationships are discussed here, although these three can be particularly important.The first such relationship is the power of different stakeholders affected byanissue to influence the relationships between them (Eden, 1996). Mitchell et al.(1997) suggest that the power of a stakeholder in such relationships is related tothe extent to which it can impose its will through coercion, through access tomaterial or financial resources, or through normative pressure. A second relationshipis the perceived legitimacy of the claims of different stakeholders. Legitimacyrelates to perceptions that the interests or claims of a stakeholder areappropriate or desirable, with these perceptions being based on socially
constructed values and beliefs. It has been claimed in the context of ecotourismthat ‘legitimacy is socially produced in the communicative interaction amongstakeholders’ (Lawrence et al., 1997: 309). The third relationship is that of theurgency of the claims of different stakeholders. According to Mitchell, Agle andWood (1997: 867), this urgency arises from ‘the degree to which stakeholderclaims call for immediate attention’. Such claims for immediate attention willbeaffected by views on importance, which in turn are affected by the other attributesof power and legitimacy. These three relationships are likely to be significantinfluences on which stakeholder groups become involved in collaborativeplanning arrangements around an issue.The utility of the first and fourth of the approaches discussed above is nowillustrated in an examination of the stakeholders affected by the Costa Douradaproject. The two approaches are used to assesswhether the range of stakeholdersparticipating in the project planning was representative of the stakeholdersaffected by the project, and also likely to promote consideration of the diverseissues surrounding sustainable development. These issues are social, cultural,environmental, economic and political, and may also relate to various geographicalscales. While the Costa Dourada project is a regional tourism developmentinitiative, the analysis also considers these issues at the local and nationalspatialscales. This geographical hierarchy may be particularly important becausegovernment power can be highly centralised in developing or relatively newlyindustrialised countries (Milne, 1998; Tosun & Jenkins, 1998).
The project should first make an inventory of all existing forms of people's groups organizations within the proposed action area. These groups and organizations may be traditional or more modern types, such as farmer associations, cooperatives and trade unions.
The question is whether or not these organizations genuinely represent the interests of the rural poor. Cooperatives are often too large and their structures too hierarchical to be effective vehicles for participatory development. Similarly, traditional tribal orcommunity groupings are often managed in a top-down fashion and may provide limited opportunities for participatory learning and decision making.
If the inventory indicates that participatory groups are lacking, the project should promote their formation among project participants. In PPP's experience four essential guidelines should be followed:
Groups should be small. The optimum number of members is between eight and 15. Small groups facilitate dialogue between members, have greater economic flexibility, and are less likely to be dominated by management elites or break down into factions.
Groups should be homogeneous. Members should live under similar economic conditions and have close social affinity. Homogeneity reduces conflict at group level: members with similar backgrounds are more likely to trust each other and accept joint liability for their activities.
Groups should be formed around viable starter income-raising activities. Income-raising activities are crucial to group development because they generate assets that help build financial self-reliance.
Groups should be voluntary and self-governing. Participants should decide who will join the groups, who will lead them, what rules they will follow, and what activities they will undertake. Decisions should be taken by consensus or majority vote.
Prior to beginning group formation, project staff should conduct a household survey with the local population to identify homogeneity factors, poverty levels,priority needs and criteria for group membership. The objectives of the project and its focus on the poor should be openly discussed and the villagers involved in selection of criteria for participation in the groups.
The project should then organize informal meetings with prospective group members to discuss the purpose, methods of operation and benefits of groups, as well as possible enterprises and means of production. Group promoters should make a list of potential group members and leaders, possible group activities and required inputs.
Once the participants have identified viable income-raising activities, those interestedin a particular activity should decide on criteria for group membership: for example, whether members should belong to a specific category (such as small-holders, tenants or landless) or whether the group should be male-only, female-only or mixed. They should also assess their productive resources, including capital, skills and experience.
By consensus or formal voting, the group members should then elect a chairperson, secretary and treasurer. Project staff should encourage rotation of leadership positionsamong group members in order to give all members leadership experience, thus minimizing the risk of domination by a few. Finally, the group should formulate its own constitution and procedures, setting out rules on such matters as the frequency of groupmeetings and the use of savings and loans.
Formation of viable and stable groups requires patience and, in most cases, a period of from two to six months. Both overly rapid formation and overly long delays, which may dampen the interest of potential group members, should be avoided.
Stakeholders in Sustainable Tourism Development and their Roles
Although group activities vary widely, four general types can be distinguished:
Direct income-raising activities. These are existing or new enterprises, in any economic sector or subsector, that produce income. For example, groups may intensify production of food or cash crops, develop small-scale animal husbandry,small-scale aquaculture or agro-processing, and build small scale irrigation, drainage or anti-erosion systems. Other activities include development of low-cost storage, transport and marketing facilities, supply points for inputs or utility stores, and micro-industries such as blacksmithing.
Cost-saving activities. These are activities that increase net income by reducingcosts. They include activities that reduce production costs, such as bulk purchasing of inputs, group transport and marketing of products, and consumer savings through joint purchasing of consumer goods in bulk. Groups might also benefit from social savings - e.g. group agreement to cut spending on alcohol andgambling - and social insurance through group welfare funds or collective insurance arrangements.
Production-facilitating activities. These aim at creating favourable conditions for group production. They include consolidating members' holdings for joint production, cleaning irrigation canals, building or repairing roads, and village electrification. At the political level, groups might lobby for enforcement of land reform laws.
Community development activities. Many groups undertake social and cultural activities in the fields of health and sanitation, education, family planning, folk theatre and village beautification. In many areas there is an acute need forgroup action to promote better nutrition and improved food storage, and install clean water supplies.
Contemporary tourism is much more than just going on holiday(Holden, 2001, p.5); it is a truly global activity thataccounts for the single largest peaceful movement of peopleacross cultural boundaries in the history of the world (Lett,1989, p.277)
No one can deny the remarkable expansion of global tourism thatoccurred during the latter half of the 20th century (Weaver, 2000),as a spectacular boom in the 1950s witnessed an exploding horizonof what was set to become the world’s fastest growing industry. Inspite of this, the UNEP & WTO (2005) warn that tourism presents aconsiderable challenge to the local environment and communities onwhich it is dependent. As the Asian saying states:
“Tourism is like fire: you can cook your dinner on it, but ifyou’re not careful it will burn your house down.” (WWF, 2004)
For a host community, investment in a tourism industry can havecertain advantages over others. Tourism is often viewed as anenvironmentally friendly industry compared to other industries suchas manufacturing (Davis and Morais, 2004; Wilson et al., 2001). Asan economic development strategy, tourism can be less costly andeasier to establish than other economic development strategies,because it is for the most part dependent upon the infrastructurealready present in these communities.
Although tourism has the potential to provide many financialand environmental benefits to a community — especially thoseexperiencing a decline in other industries — it is by no meansa panacea. But in some cases, tourism has the potential tocreate negative impacts.
During the 1980s, at a time when green consciousness was theprecursor in developmental thought, tourism research began torecognize these detrimental impacts and emphatically articulate theneed for a new, more socially and ecologically benign alternativeto mass tourism (Fennel, 2003, p.4; Berry & Ladkin, 1997, p.434).In trying to be different (or better?) alternative tourism has cometo encompass a whole range of synonyms. For example ‘soft’, ‘eco-’,‘responsible’ and ‘green’ tourism all purport to circumventeconomic and technical necessities alone, emphasising the demandfor an unspoiled environment and a consideration of the needs oflocal people.
Consequently, ‘sustainability’ has seemingly been endorsed asthe new ideal to arrest tourism’s damaging effects (Godfrey,1998, p. 213).
In an effort to incorporate sustainable concepts into tourismdevelopment, many authors have attempted to define or describesustainable tourism development (Gunn 1994; Hardy & Beeton 2001;Ioannides 1995; Robson & Robson 1996; WTO 1998), but there is no uni-versally accepted definition. The definition applied most often bytourism planners and in the tourism research literature was developedby the World Tourism Organization (WTO). The definition is as follows:Sustainable tourism development meets the needs of the presenttourists and host Regions while protecting and enhancing opportunitiesfor the future. It is envisaged as leading to management of allresources in such a way that economic, social, and aesthetic needs canbe fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecologyprocesses, biological diversity, and life support systems (p 21,1998).
The WTO ’ s conceptualization of sustainable tourismdevelopment addresses six main principles: (1) a high level oftourist satisfaction, (2) optimal use of environmentalresources, (3) respecting the socio-cultural authenticity ofhost communities, (4) providing socio-economic benefits to allstakeholders, (5) constant monitoring of impacts, and (6)informed participation of all relevant stakeholders, as well asstrong political leadership.4 TURIZAM | Volume 14, Issue 1, 1-12 (2010)
Who should be involved in the sustainable tourism developmentprocess? Based on the definitions that are used for sustainabilityand sustainable tourism development four distinct groups areidentified; the present visitors, future visitors, present hostcommunity, and future host community. The host community can befurther divided into residents, business owners, and governmentofficials. The management view of the stakeholder theory indicatesthat all stakeholder groups should be involved in the entiretourism development process.
The concept of stakeholder participation has its roots in thebusiness management and public administration literatures. Stakeholderparticipation was not prominent in the management literature until1984 when Freeman wrote Strategic Management: A Stakeholder Approach.Freeman (1984) defined a stakeholder as “any group or individual whocan affect or is affected by the achievement of the organizationsobjectives” (p 46). Donaldson and Preston (1995) refined thisdefinition, stating that to be identified as a stakeholder, the groupor individual must have a legitimate interest in the organization.Since Freeman’s first work on stakeholder theory, stakeholder theoryhas been incorporated into business management literature (Clarkson1995; Donaldson & Preston 1995; Jones 1995; Stoney & Winstanley 2001).
De Lopez (2001: 48) explains that, ‘stakeholder managementessentially consists of understanding and predicting thebehavior and actions of stakeholders and devising strategies toethically and effectively deal with them’.
All stakeholders do not need to be involved equally in the decisionmaking process, but it does require that all interests are identifiedand understood (Donaldson & Preston 1995). Failure to identif
a) Escolha e consultação dos stakeholders
PARTICIPAÇÃO E CONSULTA DOS STAKEHOLDERS
A participação dos stakeholders que estão envolvidos no turismo, ouque podem vir a ser afectados por ele, é essencial para uma gestãointegrada da actividade e dos recursos naturais e culturais que lheestão associados. Esta participação e envolvimento devem sempreincluir as comunidades locais residentes no território em causa.
A participação e a consulta aos stakeholders aplica-se a todos osaspectos da planificação e da gestão associados ao turismo e aosambientes existentes, incluindo a preparação dos planos para odesenvolvimento estratégico do território, para o desenvolvimentocomunitário, e para a avaliação e a tomada de decisões que se refiramàs propostas para as actividades de turismo e do desenvolvimentolocal. A representação das minorias e dos sectores mais vulneráveisprecisa também de ser assegurada no decurso deste processo, e devem as
conclusões reflectir a percentagem de cada segmento, com particulardestaque para: a representatividade geográfica; as comunidades ruraise urbanas; o equilíbrio entre géneros.
Os elementos da participação devem ser a facilitação de informação, aconsulta, a colaboração nos processos de tomada de decisão e, emalguns casos, na delegação de competências para a tomada de decisões,derivadas de uma determinada autoridade num grupo representativo destakeholder que tenha sido apropriadamente constituído. Asexpectativas excessivas, por parte dos stakeholders, podem serreduzidas a termos mais realistas através da obtenção de acordospartilhados no início do processo de planeamento e de tomadas dedecisão, e quanto ao modo como esses mesmos stakeholders participarãono seu desenvolvimento e/ou terão oportunidade de participar.
O desenvolvimento turístico e a conservação ambiental envolvem, ambos,um leque muito variado de stakeholders. Logo, estes terão interessesmuito diversificados, com diferentes interesses e modos de percepçãodos problemas e das oportunidades que se apresentam, e com filiações agrupos muito distintos, e necessitam de participar numa gestãointegrada do turismo e dos recursos.
Os potenciais stakeholders para este caso do BG são:
SECTOR PÚBLICO:
- as autoridades municipais;
- as autoridades centrais (ministérios, agências governamentais eorganismos da administração) e as suas delegações regionais;
SECTOR PRIVADO:
- Operadores turísticos e agentes de viagens
- Hotelaria, restauração, atracções e actividades correlativas;
- Transportes e outros fornecedores de serviços;
- Guias, interpretes e
- Fornecedores desta indústria;
- Organizações do turismo e do comércio;
- Organizações empresariais;
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS:
- grupos ambientais
- grupos conservacionistas
- outros grupos de interesses (caçadores, pescadores, associaçõesdesportivas)
COMUNIDADE:
- grupos locais organizados (associações culturais, etc…)
TURISTAS:
- organismos representativos dos turistas na região ou nos locais deorigem (se forem pertinentes)
- organizações internacionais de turismo.
As vantagens de envolver um largo numero de stakeholders naparticipação e nas consultas é que isto permite aos stakeholderstambém ajudarem a introduzir responsabilização neste processo –permitindo que cada stakeholder possa ser responsabilizado – e cria apossibilidade do estabelecimento de trabalho em rede e parcerias. Deacordo com os princípios do Artigo I da Abordagem aos Ecosistemasestabelece «os objectivos da gestão da terra, da água e dos recursospara a vida são objecto de uma escolha social». Devidamente geridas, aparticipação e a consulta dos stakeholders proporcionam um mecanismopara originar consensos à volta de tais escolhas sociais.
O processo de planeamento participativo é estruturado de modo aassegurar que todos os stakeholders importantes que estão envolvidosno processo de desenvolvimento turístico e nas suas actividades, ouque são por ele afectados, estejam identificados; e que eles sãoconsultados na íntegra e que está assegurada a sua participaçãoefectiva nas decisões a tomar relativamente à gestão integrada doturismo e dos diversos ambientes do contexto territorial em causa. Emalgumas circunstâncias e/ou casos, COMO É NO BG, os mecanismos ou osinstrumentos para ou ligados à participação dos stakeholders ou dealguns deles podem já ter sido estabelecidos para certos aspectosrelacionados com os recursos naturais ou coma actividade turística.Alguns deles podem até estabelecer requisitos legais para a consultapública relativa a aspectos ambientais e/ou outros. Onde esses
mecanismos ou enquadramentos já existam podem ser utilizados como basepara os processos de planeamento participativo, sendo que alguns dosseus pressupostos e recomendações podem vir a ser incorporados naestrutura da nova estratégia integrada.
a. Sector público
SECTOR PÚBLICO
Políticas 111
“A abordagem tradicional, centralizada e gerencialista, “de cima para baixo” do sector público, no turismo, assume responsabilidades pela provisão de infra-estruturas, controle doplaneamento, marketing e promoção, e desenvolvimento pro-activo para o bem público. Isto foi parcialmente substituído por uma forma de governação mais encorajadora, descentralizada e inclusiva, em que as comunidades locais e as empresas sejam encorajadas a tomarem uma maior responsabilidade pela gestão (Hall 2000). As razões para esta mudança incluem as críticas neo-liberais à actividade do estado, os cortes na despesa pública, e, em certa medida, o desencanto do público com as políticas governamentais (Bramwell e Lane 2000; Long 1994).” (VERNON et alia, 2005:327)
b. Sector privado
c. ONG’s
ONG’s
Políticas 108
“As ONGs não actuaram apenas como críticas do turismo, ou adoptaram o papel de advogar um turismo mais sustentável. Um certo número envolveu-se de forma activa em projectos relacionados com o turismo. Nestas circunstâncias, a motivação das ONGs parece ter sido o “ir corajosamente” onde os governos e
organizações comerciais privadas encontrariam uma certa resistência política e económica.” (BRAMWELL e LANE, 2005:421)
Políticas 109
“Resumindo, este problema específico aumenta o número de questões fundamentais sobre o papel das ONGs enquanto parte interessada do sistema turístico. Tanto as vemos a fazer campanhas como no papel de organismos pro-activos, capazes de operar numa grande variedade de ambientes naturais, económicos epolíticos. Podem ser intermediários entre grupos conflituosos, ealgumas têm o potencial de agir como gestoras. Algumas ONGs parecem ter uma capacidade especial para colaborar em parcerias baseadas em objectivos partilhados com as comunidades locais, o sector privado e outras ONGs. Nestas situações, o trabalho desenvolvido pelas ONGs pode ser directamente custeado pelos lucros do turismo, pela participação activa em projectos turísticos, ou através de donativos directos e indirectos às suas organizações.” (BRAMWELL e LANE, 2005:423)
d. Comunidade
e. Turistas
a) Estratégias
a. Reforço das conexões e gestão flexível
REFORÇO DAS LIGAÇÕES
As ligações entre os diferentes elementos participantes devem serfeitas durante o próprio processo de governança comunitária e nãoestarem predefinidas
As autoridades vêm muitas vezes a participação como uma ameaça.
Boa liderança exige capacidade para informar e para explicar.
Debater se uma determinada política pública e/ou estratégia dedesenvolvimento local é correcta ou não deve contar com a contribuiçãodas opiniões do público e a participação deve ser um contributoefectivo para esses processo.
As autoridades locais têm um papel de representatividade, falam emnome dos indivíduos e das comunidades (sejam geográficas ou deinteresses). O reforço da participação pode ajudá-los a desempenharemmelhor esse papel. A relação entre uma participação efectiva eprocessos políticos melhor sustentados é evidente. A mesma relaçãopode ser vista no quadro dos processos de gestão – especialmente nocaso da construção de um MELHOR VALOR A população quer que os gestoresgiram e respeita a legitimidade última daqueles que são eleitos natomada de decisões. A chave para um processo bem-sucedido é dar àcomunidade a possibilidade de se envolver.
Não esquecer que algumas tensões podem resultar de:
- haver tendência para, quando são as autoridades a promover aparticipação, pensar-se que não é pedida de boa-fé (que só areconstrução da confiança poderá gradualmente fazer desaparecer);
- haver dificuldade materiais a essa mesma participação, num contextode recursos escassos; ou em situações em que o tema, e a decisão,sejam particularmente sensíveis, melindrosos.
GESTÃO FLEXIVEL ADAPTATIVA
Em alguns casos, uma rápida intervenção pode ser necessária para evita maismales causados por impactos negativos do turismo. Pode ser necessário, porexemplo, decidir imediatamente na redução do número de visitantes ou noredireccionamento dos turistas para áreas menos sensíveis. Estas decisõestem, mesmo assim , que seguir na caminho traçado pela visão, de acordo como plano, o mais possível. A gestão adaptativa, mais ou menos flexível, deveser incoroporada no plano de desenvolvimento tur´sitico através dodesenvolvimento de cenários e por plano de actuaçlão que p+dem serdespoletados para serem tomadas decisões particularizadas. Adicionalmente,o plano deve ser actualizado a intervalos regulares de modo a sofrerajustamentos às condições que se tenham modificado. As mudanças do planorequerem a participação e a consulta de todos os stakeholders e de todosaqueles que sejam afectados por essas mudanças.
b) REFORÇO CONEXÕES
Políticas 110
“A colaboração no turismo tem aumentado devido à necessidade de se alcançar um amplo apoio para as políticas turísticas, numa indústria que é variada e fragmentada. Teoricamente as colaborações público-privado devem proporcionar uma democratização, e um estabelecimento de processos mais inclusivoe equitativo do que as abordagens convencionais de planeamento, gestão e governação (Bramwell e Lane 1999:2). Na realidade, taisprojectos apresentam vários novos problemas e desafios, tais como uma organização, representação e avaliação efectivas, da eficácia dos resultados (Bramwell e Sharman 1999, 2003). Se o processo de colaboração melhora a eficácia e a coordenação das políticas é uma questão que deve ser respondida através de pesquisas empíricas (Goodwin 1998).” (VERNON et alia, 2005:326)
Políticas 103
“A colaboração que inclui uma componente de aprendizagem também é importante por outras razões. A colaboração por si só não serácapaz de resolver distribuições desiguais de poder que circulam e agem no interior de cenários turísticos emergentes (Reed, 1997a). Por exemplo, a falta de instituições que apoiem o turismo pode permitir que os habituais detentores de poder da comunidade retenham a sua influência nestas decisões chave. Istonão pretende sugerir que a cooperação e a colaboração são impossíveis de atingir, mas que, tanto as condições estruturais como as condições de procedimento, dentro das quais o planeamento do turismo comunitário é constituído, irão agir comorestrição à colaboração. Assim sendo, a colaboração, como um meio para o turismo sustentável, é insuficiente sem os esforços específicos que abordem as relações do poder local. Ao considerar os esforços de colaboração como experiências adaptativas, podemos examinar e resolver explicitamente as relações de poder dentro do contexto comunitário, e talvez as explicações e as experiências de colaboração comunitária baseadas no planeamento do turismo possam prosseguir.” (REED, 1999:334)
Políticas 105 GESTÃO FLEXÍVEL
“Os desafios institucionais também são significativos. A implementaçãobem sucedida tem de confrontar a complexidade e a incerteza que acompanha a mudança planeada. A gestão adaptativa requer a construção
de objectivos que se vão actualizando para cada iniciativa, para que amonitorização possa conduzir a futuras melhorias. Terá de existir boavontade para se tentarem novas iniciativas de um modo experimental. Contudo, os utilizadores de uma abordagem cooperativa e adaptativa devem reconhecer que esta implementação não irá seguir um plano modeloracional e pormenorizado. A experimentação pode ser vista, pelos decisores, não só como demasiado dispendiosa, mas também como demasiado arriscada politicamente. A protecção de interesses próprios por parte de alguns partidos durante o processo de planeamento é um problema grave.” (REED, 1999:351)
b. Coligações discursivas
COLIGAÇÕES DISCURSIVAS
Problemas políticos são socialmente construídos
Existem muitas realidades possíveis
A linguagem é reconhecida como um meio, um sistema de significados atravésdos quais os actores não só descrevem como criam o mundo
O uso da linguagem na vida politica ou no discurso político torna-se, emconsequência, num importante objecto dos estudos políticos.
Uma coligação discursiva é basicamente um grupo de actores que partilhamuma construção social.
«Discurso» é definido aqui como um conjunto de ideias, conceitos ecategorias através dos quais os significados são dados aos fenómenos. Osdiscursos enquadram certos problemas; isso é dizer que eles distinguemapenas uns aspectos da situação e não outros.
Condição da institucionalização do discurso
As políticas do discurso é melhor descrita como um processo contínuovisando dar significado a um vago e ambíguo mundo social por meio de linhasnarrativas e pela subsequente estruturação da experiência através de varias
práticas sociais que podem ser encontradas num determinado campo deanálise. A coligação discursiva traz por isso 3 vantagens:
1) analisa estrategicamente a acção no contexto de um especificodiscurso socio histórico e de determinadas práticas institucionais efornece as ferramentas conceptuais para analisar controvérsias sobrequestões individuais;
2) leva a explicação mais longe do que uma mera referência deinteresses, analisando como os interesses são usados no contexto dediscursos específicos e de práticas organizacionais;
3) esclarece como diferentes actores e práticas organizacionais ajudama reproduzir ou a combater uma determinada tendência semnecessariamente orquestrarem ou coordenarem as suas acções ou semnecessariamente partilharem valores mais profundos.
No nosso caso, existe alguma coligação discursiva de facto em torno do desenvolvimento sustentávele dos recursos locais/naturais – a coligação, no entanto, está estruturada, mas depois não estáinstitucionalizada – nem todas as políticas são construídas nesse discurso, ou os recursos que lhe sãoatribuídos não revelam verdadeira intensão de as colocar a funcionar.
A abordagem da coligação discursiva sugere que, uma vez que um novodiscurso seja formulado, vai produzir uma narrativa num problemaespecífico, utilizando a maquinaria conceptual do novo discurso (porexemplo, o desenvolvimento sustentável). Uma coligação discursiva é, porisso o conjunto de um grupo de narrativas, dos actores que as pronunciam, edas práticas que estão conformes com esses argumentos, todos organizados emvolta de um discurso.
a) Ferramentas (tools kit)
i.Networking etc etc
SOBRE A GOVERNANÇA…… OU INTROD ÀS FERRAMENTAS….
Formas mais bem estruturadas de democracia estão a começar a surgir,proporcionando aos cidadãos oportunidades significativas paraparticipar nos processos de decisão política.
Na sociedade actual em que a diversidade de interesses é umaconstante, e onde existem grupos organizados de pressão com vista ainfluenciar as escolhas (incluindo os partidos políticos), a melhorforma para conseguir obter uma visão legítima do interesse público éenvolver os cidadãos de forma que seja significativa.
Precisamos com grande necessidade de novas e inovadoras ferramentaspara dar mais relevo e poder de influência ao nosso sistemademocrático e às suas instituições.
Esses podem ser: o envolvimento directo por uma amostra representativade toda a comunidade, através de uma selecção aleatória entre osmembros da comunidade; e através de uma processo de facilitaçãodinâmica que dê poderes ao grupo para conseguir uma perspectivaunificada (consensual) através de alterações e avanços que evitem anegociação para trás e para a frente habitual. Em todo o mundorealizam-se actualmente experiências de governança directa atravésdestes grupos representativos, que têm conseguido bons resultados nadesejada participação colaborativa que se colocam a diferentescomunidades.
AS TECNOLOGIAS
A ideia de fazer apelo às tecnologias para sustentar, melhorar, enriquecer,revigorar, as práticas democráticas, não é inédita. A história dos media noséculo XX mostra que a aparição de quaisquer novos meios de comunicação deuhabitualmente origem a hipóteses exageradas quanto às suas consequênciaseventuais sobre o processo e as práticas democráticas cruzar isto com aqueleoutro que diz qu a coisa ainda vai funcionando bem é quando a coisa se desenvolve cara-a-cara,pessoalmente!!!
MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO
È importante salientar que os componentes identificados não são fixos, massim adaptáveis com cada contexto de participação. ISTO REFER-SE ÀS TICS EAO GRANDE POTENCIAL QUE PODEM TER NA GESTÃO DESTES PROCESSOS PARTICIPATIVOS- a participação p+ublica engloba troca de informação, consulta eenvolvimento, de forma a que os afectados por determinadas decisões tenhamasua opinião acatada. A forma que staas opiniões são obtidas pode sercaracterizada também na morfologia dos métodos de participação – cadamétodo sw participação utilizado para implementar um pr9ocesso
participativo possui peculiaridades que podem dificultar a correctaselecção das ferramentas por parte do projectista, o que prejudica aefectividade destes ambientes.
mecanismos adequados de informação, consulta e participação activa naelaboração de políticas: compromisso, direitos, clareza, prazo, objectividade,recursos, coordenação, responsabilidade, avaliação, e, por fim, cidadaniaactiva.
A participação comunitária no Turismo
a) Turismo baseado na comunidade
a. Reconceptualizar o turismo
No período contemporâneo, cerca de meados do século XX, o mundoocidental iniciou um processo de consolidação de direitoslaborais (ainda não generalizado, mas com algum crescimento emtodas as latitudes), no contexto dos quais foram reconhecidasaos trabalhadores o direito a descanso e férias remuneradas,facto que teve como consequência um grande impulso na actividadeturística. Ainda hoje o mesmo efeito é sentido: nos países ondese vai alargando a faixa da classe média que possui essesdireitos, o turismo cresce na mesma proporção. Tal como então,esse período, como alternativa de lazer ou tempo livre, passa aser qualificado como uma forma de renovar energia e adquirirconhecimentos sobre os diferentes sistemas sociais e culturais.Mas muitos destes destinos foram, em consequência, massificados,com um consumo excessivo dos seus recursos naturais elogísticos, gerando graves consequências no seu equilíbrio.Devido à intensificação das actividades e consequente aumentodos impactos negativos, passou-se a caracterizá-lo como turismode massas. Tal como no uso dos recursos ambientais nasactividades quotidianas, também no uso turístico o uso passou
para lá da capacidade regenerativa de uma dada bioesfera e daresistência física e cultural do património nela apresentado.Muitas vezes, o uso turístico foi predador
No entanto, também o modelo, e não apenas os locais, sofreramdesgaste: a ideia subjacente aos 4S (sun, sea, sand, sex – sol, mar,areia, sexo) sofreu uma saturação num período de crise económica(cada vez mais barato, mas cada vez menos qualidade, devido àmassificação), o que levou ao seu actual menor consumo.Portugal, por exemplo, foi um dos países que sofreu a criseresultante deste desequilíbrio, daí que, para enfrentar odeclínio do produto, foram criados alguns instrumentos deplaneamento estratégico “para agir nos locais onde o impactoambiental do turismo de massas foi mais intenso”. Assim, foramcriados os Regional Territory Planning do Algarve, RegionalTourism Plan do Algarve e o Local Master Plan andRequalification Coastel Plan do Algarve.
Esta situação de desgaste também está muito relacionada edependente do comportamento dos turistas. Felizmente, muitos dosturistas actuais têm hoje um comportamento muito menos predador– mais consciência, melhor atitude face aos recursos naturais /ambientais – o que, se calhar, permitiria actualmente, para umamesma situação, um maior número de visitantes para um impacto damesma dimensão. Mas não foi só o comportamento dos utilizadoresdos eco-sistemas que se modificou. Igualmente se alterou o modocomo se olha hoje para as questões ambientais, assumindo-se queelas têm uma natureza mais complexa do que o que inicialmente sesupunha serem as condições necessárias à sua sustentabilidade.As abordagens já não são hoje lineares, mas sim integradas,reconhecendo-se os sistemas (neste caso, dos lugares) comocomplexos. O turismo poderá progredir, como actividade, se osseus agentes, desde investigadores, empresários, stokeholders,consumidores e outros, entenderem essa complexidade e agirem deacordo com as necessidades para garantir os equilíbriosdesejáveis; de outro modo, o progresso será prejudicado e asanálises e os resultados finais serão distorcidos, incompletos edespojados de um sentido integral. O sistema turísticogeralmente consiste no conjunto das estruturas, bens serviços e
recursos que contribuem directamente para este sector, o sistematurístico integrado inclui significativas componentes sociais,económicas, geológicas, e ecológicas, alem dos processos efunções que complementam a sua totalidade e que são essenciaispara a sua sustentabilidade. A reflexão / investigação deve serconduzida também fora do “sistema central” (onde estão asactividades especificamente turísticas) para explorar melhoroutras ligações e interacções que se estendem até por exemplo aomodo como o turismo afecta os modos de vida, o bem estareconómico do sistema, e das pessoas envolvidas, directa ouindirectamente. GESTÃO DO TURISMO É MAIS DO QUE GESTÃO DAINDÚSTRIA DO TURISMO.
Para conseguir este avanço duplamente positivo, asustentabilidade tem vindo a ser considerado como o conceitomais correcto, o modelo que pode melhorar e suportar o bem estarda humanidade de forma infinita, sem esgotar os sistemas desuporte da vida dos quais dependemos. Essa dupla faceta, do meionatural mas também dos humanos que nele residem, fez com que otópico do desenvolvimento sustentável (sustentabilidade) tenhaevoluido nas últimas 3 décadas de ser um tópico ambientalistapara se tornar um movimento sociopolítico em busca de umamudança socio económica de carácter benéfico para o conjunto dahumanidade, que, inclusive, trouxe para o campo da planificaçãoe da gestão, outros actores quem, por processos de participaçãotécnica e comunitária, são essenciais à concretização deste novomodo de viver e conviver.
O turismo sustentável – que se tornou o paradigma específicopara o sector - busca formas alternativas para o desenvolvimentode uma actividade centrada nas pessoas, mas em que estasprecisam de conhecer e adaptar-se às leis da natureza. Opropósito já não é conhecer para dominar diferentes lugares, masreaprender os diversos modos de conviver com a natureza e com asmúltiplas formas de organização sociais. Quando o seuplaneamento é bem estruturado e transposto para a execução, estaactividade protege e amplia as oportunidades locais, favorecendouma melhor gestão dos recursos. Porém, o desenvolvimentosustentável da actividade turística não deve levar em
consideração apenas a satisfação das necessidades do turista,mas principalmente, as da população residente. E por isso, paraserem implementados, os princípios de desenvolvimento do turismosustentável precisam de apoio e compromisso político (daí aatenção dada neste plano à explicação do smodelos da gestãoparticipada, do envolvimento comunitário e à ideologia dagovernança).
Esta questão não é, apesar disso, assim tão recente: aConferência de Estocolmo, realizada em 1972, foi a primeira aestabelecer um amplo debate sobre a relação entredesenvolvimento e meio ambiente. Em 1973, Maurice Strongutilizou pela primeira vez a palavra “ecodesenvolvimento”, masfoi Ignacy Sachs quem formulou os princípios básicos para oecodesenvolvimento, que deslocam o problema do aspectoquantitativo, e passam a analisar a qualidade do crescimento. Énessa sequência que surge a expressão “desenvolvimentosustentável”, introduzida na década de 80, e atingindo o plenoda sua consagração na Conferência das Nações Unidas sobre o MeioAmbiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992).
Com este novo enquadramento, os planos de desenvolvimento localpassam a incluir: a identificação e promoção de alternativassustentáveis, quer relativamente aos recursos da natureza querao rendimento que podem proporcionar; o envolvimento das pessoasque vivem no território, e que devem participar na elaboraçãodos planos de conservação e na gestão da área; o incentivo paraaumentar a consciência cívica e a adesão da comunidade localquanto ao valor e à necessidade de protecção da área e sobre ospadrões de sustentabilidade do crescimento apropriado ao local.Requer, portanto, um planeamento local participado, que nos seusstakeholders englobe principalmente a comunidade, as autoridadeslocais e associações de cidadãos, sociais ou empresariais. Só apartir da adopção de uma política de turismo sustentável porquem tem responsabilidades relativamente ao planeamento doterritório, se poderá mudar a tentação economicista da ocupaçãomassiva. O “turismo sustentável” terá de incentivar hábitosdiferentes do denominado “turismo de massas”, salientando anecessidade de preservar os recursos para que estes não se
esgotem. Sem recursos naturais, a existência do turismo éimpossível, pois estes são, precisamente, uma das suas maioresatracções: percentualmente, o ambiente natural (e cultural neleintegrado) é o património principal dos destinos turísticos.
Mas existe ainda uma questão conceptual a exigir um novoenquadramento, que passa pela necessidade de aceitar o turismocomo um sistema complexo, com grandes afinidades com ocomportamento de outros eco-sistemas, e que exige uma gestãoflexível , adequada a sistemas adaptativos. Os conteúdos evariáveis do turismo tornam-no um sector muito poucodeterminístico, pouco previsível, com aspectos intermutáveis,dos quais emergem outras conexões. Mas também possuem aqualidade – desse que os seus recursos não tenham sidointegralmente exauridos – de se adaptarem a novas circunstânciase condições envolventes. As metodologias de gestão de umdeterminado recurso e/ou destino devem compreender e integraresta noção. Um outro aspecto essencial da sua complexidade é oreconhecimento de que o turismo está intrinsecamente ligado aoutras áreas de políticas públicas TALVEZ AINDA DESENVOLVERAQUI sendo principalmente relevantes aquelas que se destinamao reforço das competências locais, é preciso não esquecer quesó desde os anos 90 se tem assistido à introdução de políticaspúblicas no sentido do reforço das instituições locais.
Devido a esta situação, a teorização sobre o turismo e aspolíticas para o turismo vigentes ainda estão como que atrás dostempos. A necessidade explícita de uma política nacional para oturismo é por vezes questionada: potências turísticas como osEstados Unidos desmantelaram as suas agências centrais deturismo; outros, como a União Europeia, atribuem a sua políticaturística a pequenos departamentos com orçamentos ridículos,recursos humanos inadequados e programas incoerentes. Em algunspaíses, especialmente naqueles que começaram a sua actividadeturística recentemente, é praticado o intervencionismo, enquantooutros empregam a desacreditada apesar de bem intencionadafórmula de deixar os negócios para os empresários, enquanto asadministrações públicas se encarregam da promoção, caso no qualse situa, em grande medida, o nosso país, que define ainda top-
down, o seu plano nacional de turismo (PNT); às entidadesregionais, e muito particularmente às câmaras municipais, nãolhes resta senão enquadrarem-se nas linhas centrais definidas noPNT. A consequência disto é que muito do que se poderia fazer emtermos de planeamento integrado não se concretiza, até porqueainda vinga, nalguns casos, uma certa ideia de «concorrênciamunicipalista», que impede um trabalho eficaz com os vizinhosterritoriais, desperdiçando-se assim não só recursos massinergias possíveis. Uma das componentes do PNT (em sequênciaaté das politicas europeias que favorecem as abordagens feitasnuma dimensão regional e o reforço das suas conexões) vai nosentido de privilegiar (e financiar) os processos que sejamintegrados, no caso do turismo territorialmente integrados. Épreciso não perder de vista que o planeamento do turismointegrado pode ser considerado como uma abordagem interactiva oucolaborativa que requer a participação e interacção entre os váriosníveis da organização ou entidade de governação e entre asorganizações responsáveis e os stakeholders no processo deplaneamento, de modo a concretizar parcerias horizontais everticais dentro do processo de planeamento. O que, de qualquermodo, apela a um reforço das integrações regionais, quando estasfaçam sentido e/ou tenham elementos distintivos que assim opossam justificar e motivar.
Nessa melhor e mais diversificada gestão dos recursos turísticos– com usos e valorização em micro escala (de que adiantefalaremos) – parecem estar a ficar para trás as estratégiasempresariais de turismo de massas (a Era Fordiana do Turismo, naqual se procurava a realização de lucro em economias de escala ena consequente estandardização de rígidos pacotes de turismo) –estão a dar lugar a um novo paradigma moldado pela segmentaçãodas novas exigências dos consumidores, com maior especializaçãoe adaptação personalizada dos produtos e serviços, com apromoção e parte da logística assente em novas tecnologias(simplificadoras dos processos e com menores custos, efectivos eambientais), em novas formas de produção e numa mais eficientegestão empresarial visandoa sustentabilidade de todo o sistema.“Os recursos do turismo tradicional e as suas vantagensrelativas (clima, paisagem, cultura, etc.) estão a perder cadavez mais importância relativamente a outros factores da
competitividade turística. Informação (ou melhor, a gestãoestratégica da informação), inteligência (capacidade de inovaçãodas equipes duma organização) e conhecimento (o saber ou acombinação de competências tecnológicas, tecnologia e culturaorganizacional – humanology) são hoje novos recursos turísticos eos factores chave para a competitividade das organizaçõesturísticas (empresas, destinos e instituições) ” (FAYOS-SOLÀ eBUENO, 2001, 47).
É preciso portanto que se continue a verificar essa tendênciapara uma reconceptualização do turismo, que permitia também aalteração das avaliações de termos meramente quantitativos paraoutros parâmetros, valorizando mais as mais valias, asrequalificações dos territórios, as sinergias comunitárias, oreordenamento territorial, etc. E que as políticas nacionaisdêem mais relevo, nos seus apoios, aos projectos que estimulam acompetitividade e a eficiência, em todos os parâmetros,incluindo todos aqueles que favorecem a sustentabilidade dosistema.
Estamos cientes que tal alteração implica uma mudança nasfunções tradicionais do sector público do turismo, a saber:
Em primeiro lugar, a transição duma situação em que osector público possui e opera todo o tipo de instalaçõesturísticas e intervém usualmente no fornecimento directo debens e serviços, para um papel de coordenador de acçõespúblicas e privadas no turismo.
Em segundo lugar, a abertura dos meios e objectivos dapolítica de turismo, de um conteúdo quase exclusivamentepromocional (publicidade genérica, missões e exposições decomércio, publicações, etc.), para uma ampla gama deinstrumentos para promover e facilitar as actividades dosdecisores no turismo.
Finalmente, a evolução, duma filosofia de rígidosregimentos de actividades empresariais, para adesregulação e privatização do turismo.
Isto enquadra bem no novo papel da nação-estado: representaçãointernacional das populações (e empresas) localizadas dentro dassuas fronteiras, concordância de interesses que nem sempre estáem acordo – através da estimulação da actividade associativa ecooperativa – e o melhoramento da qualidade de vida dentro dosseus limites territoriais.
As implicações para a formulação de políticas nacionais para oturismo são claras:
1. Os objectivos destas políticas devem suster-se na criação deenquadramentos competitivos numa escala local-regional-nacional que, através do melhoramento das condições doenquadramento económico, social e ambiental, alcançamcontribuições do sector do turismo para o bem-estar doscidadãos.
2. Apesar do uso de instrumentos promocionais por administraçõesde turismo (comunicação, publicidade, etc.) continuar a serrequisitado pelos decisores do turismo, a sua importânciaestá a diminuir. Por outro lado, tornou-se evidente anecessidade de coordenar a promoção numa mais ampla rede deinstrumentos na política do turismo.
3. Os novos instrumentos públicos para o desenvolvimento egestão turística não são fundamentalmente diferentes daquelesutilizados na política sectorial industrial. Em essência,elas promovem a competitividade dos existentes clustersturísticos e a adopção de estratégias para o sucesso emmercados internacionais de destinos emergentes ou daquelesque estão num processo de reestruturação.” (FAYOS-SOLÀ eBUENO, 2001, 51-52)
Um último aspecto a referir neste domínio da reconceptualização,mas já aqui focado no capítulo precedente: a necessidade dealteração os pressupostos da gestão, alargando-a a um modeloparticipado por todos os stakeholders inerentes a um dadoterritório. A maior parte dos textos programáticos ainda nãoincluem a devolução real do poder às comunidades, para definir aagenda numa situação de planeamento proactivo, acompanhado pelopoder de implementar decisões com impactos concretos. Em vezdisso, a comunidade está restringida a dar resposta a uma agendaexterna, com uma abordagem de cima para baixo, com componentespara apreciação comunitária elaboradas por profissionais,políticos, planeadores, investidores e accionistas externos.Reconceptualizar o turismo passa por alterar a sua configuraçãotambém neste domínio.
NOTA LATERAL – A maior parte dos estudos sobre turismo feitosaté 2005 continuavam a seguir as indicações do RelatórioBrundtland (WCED 1987); da Conferência das Nações Unidas para oAmbiente e o Desenvolvimento 1992; da Agenda 21 (UN1993); e,mais recentemente, da Cimeira Mundial para o DesenvolvimentoSustentável (UN2002).
Nessa perspectiva o ecoturismo englobaria viagens queproporcionam ligação entre o homem e a natureza, mas tambempromovem recursos para a conservaçao do meio ambiente e odesenvolvimento das comunidades receptoras, conforme o conceitoda ecotourism society que diz que o ecoturismo é a visitaresponsável a áreas naturais visando preservar o meio ambienteeo bem estar das populações locais.
Note-se neste conceito a relação intrínseca que o ecoturismopossui com as comumnidades locais, sendo que o bem estar destaspopulações não pode ser eresumido a torna las atractivas aosvisitantes por meio do seu patrim´+onio cultural, cabe nesta
relação um parâmetro fundamental que os projectos de ecoturismoobjectivem «maximizar o impacto socio económico e ambientalpositivo para as comunidades locais e minimizar o impactonegativo
a. O turismo noquadro daglocalização
O CONCEITO DE GLOCALIZAÇÃO
Um outro aspecto que deve ser considerado na estruturação de umPlano de Gestão para a área do turismo tem a ver com a novadimensão do espaço de acção com o qual ele se deve relacionar.Hoje, nenhum sector está imune à escala mundial, dada a rupturadas dificuldades de acesso que a evolução tecnológica acarretou.Sem limites, instalou-se a globalização, termo que pertencia àpsicologia, e que hoje domina o comércio e a indústria a nívelmundial. No entanto, este conceito, também ele, acaboucontaminado pelas necessidades da sustentabilidade, e apesar deainda ser campo de conflitos entre as perspectivas económicasespeculativas e as de pendor eco-sistémicas, cada vez mais vaisendo substituído por uma variante mais integradora, conhecidapor glocalização - uma combinação de Global e de Local.
É um conceito que junta as tendências globais às realidadeslocais. Ao adaptar a cultura das empresas e dos sectoreseconómicos às condições locais, elas tornam-se ainda maiscompetitivas, e simultaneamente mais sustentáveis a longo prazo,beneficiando das sinergias resultantes da interacção com ascomunidades residentes. Este é o aspecto que aqui nos interessadestacar.
O conceito de “Glocalização” tem o mérito de restituir àGlobalização uma realidade multidimensional, garantindo apreservação das características específicas de um local sem queeste tenha que ser isolado da realidade exógena, antes pelocontrário, interagindo com ela, e dela retirando apoio e
recursos para a sua mesma continuidade. A defesa dasingularidade não pode fazer-se pelo isolamento mas,precisamente, pela demonstração do valor (cultural, social, mastambém económico) dessa mesma singularidade no contexto de umasociedade aberta. A “Glocalização” é uma Globalização queestabelece limites: ela deve adaptar-se às realidades locais, emvez de ignorá-las ou simplesmente destruí-las. É interessanteque a resistência ideológica à globalização acabou por trazer ummaior empenho na protecção e dinamização das realidades locais;mas, para conseguir vencer a causa do “local”, é preciso agir aonível global, utilizando todo o potencial deste novo espaçoglobal e das suas tecnologias de suporte, a fim de maximizar aacção localmente. Vivemos num mundo “glocalizado”. Pensarglobalmente, mas agir localmente é o lema do momento. E aqueleque melhor pode integrar o conceito de sustentabilidade. Nenhumlugar está isolado. Aquilo que se concluiu para os impactosambientais vale para todos os outros campos da actividadehumana.
O TURISMO NA GLOCALIZAÇÃO
Neste percurso de evolução da globalização, e do modelo dedesenvolvimento que ela poderia revelar, o turismo foi,curiosamente, identificado como um agente que simultaneamente seservia da escala global protegendo os locais. A demonstração dapossibilidade de um caminho que, com eficiência, e valorespositivos, poderia representar a melhor via para um futurosustentável. A incorporação da matriz do desenvolvimentosustentável leva este conceito mais à frente, transpondo asconsiderações éticas para além da geração actual até às geraçõesfuturas, para uma igualdade intergeracional, absorvendo asconclusões do Relatório Brundtland.
No entanto, na vertente da gestão, a globalização aumentou anecessidade de políticas nacionais e internacionais para oturismo. Nesse enquadramento, é evidente que as grandesmultinacionais vão absorver uma parcela considerável dos fluxosde turistas e vão, naturalmente, preocupar-se com a eficiência erentabilidade do turismo internacional. Em contraponto, e
favorecendo a escala local, as organizações não governamentaistambém desejarão intervir de forma a assegurarem que o turismoseja compatível com os seus programas e com os seus própriosobjectivos culturais, ambientais e sociais. COMO A ADPM Porisso, torna-se muito importante o papel dos governos nacionais ede outras organizações intergovernamentais – como a UniãoEuropeia – no sentido de garantir que os objectivos económicosdo turismo global se adequam às políticas ambientais, culturaise sociais que protegem as comunidades e o seu desenvolvimentointegrado. As empresas multinacionais/transnacionais e asorganizações não-governamentais globais não devem desempenhar opapel principal na governação representativa, apesar dainfluência que podem ter na construção de mensagens no espaçoglobalizado da informação. O turismo, devido à sua importânciano desenvolvimento de regiões e países e na sua capacidade paratransmitir imagens de identidade cultural – tão profundamentenecessárias na configuração da sociedade global – requerorganizações representativas das suas comunidades, e comdestaque para as organizações que representam as comunidades nosdesignados «destinos turísticos». A gestão do turismo deve serfeita, ou entregue a quem a possua, numa perspectiva dacontribuição do turismo para o bem-estar dos cidadãos, motivandoa sua participação nas decisões sobre que tipo de bem-estarrealmente desejam.
Na Europa, muito do apoio às políticas integradas de turismoestá consignado em paralelo com o desenvolvimento do território,daí que ambas as linhas programáticas estejam contempladas noFEDER; e é curioso constatar que nos estados com sistemaspolíticas federalizados e/ou regionalizados, os resultados daaplicação deste modelo são claramente positivos, já que asautoridades provinciais ou locais possuem maior autonomia não sóna gestão dos fundos como do planeamento subjacente, numa clarademonstração do rumo que deve ser estimulado (ao invés, ospaíses com políticas mais centralizadas não conseguem obterresultados localizados tão favoráveis, já que o próprio
É importante que as políticas do turismo estejam dependente deagentes – institucionais e sociais – que estejam explicitamente
identificados. Apesar da contestação que muitas vezes se faz aopapel das agências governamentais para a promoção turística –reclamando que a gestão do marketing deve ser empresarial como osão a maior parte das vertentes logísticas deste sector -, érelevante a salvaguarda da definição das políticas públicas paraeste sector, no sentido de assegurar a protecção de outrosvalores que não meramente os decorrentes dos resultadosfinanceiros positivos. Os planos de gestão com participaçãocomunitária, por exemplo, são instrumentos que se devemenquadrar nessas políticas públicas nacionais, que devemenquadrar jurídica e institucionalmente, esses instrumentos dodesenvolvimento local sustentável.
b. A importânciada dimensãolocal: microescalas eproximidade.
No ano 2000, na sequência de duas décadas em que a temática veioa ser discutida no seio da organização, a OMT publicou aDeclaração de Hainan, que apresentava a sua visão relativa àsquestões críticas para o desenvolvimento sustentável do turismo,pensando na preservação ambiental como factor primeiro para asua viabilidade e durabildade. Com esta declaração, aorganização tentava integrar o planeamento para o turismo nosplanos nacionais de desenvolvimento relativos à gestão derecursos. Nela, a OMT estabelece, a seu ver, as funções daspartes interessadas para o desenvolvimento do turismosustentável, destacando o papel de governos, indústria doturismo, ONG’s, proprietários de terras e comunidade local.Entre outras funções, ao governo coube a garantia daparticipação dos diversos stakeholders, o estabelecimento daspolíticas públicas e a monitorização da qualidade ambiental. Osector privado foi responsabilizado por adoptar tecnologiasambientalmente adequadas, pela educação dos turistas, peloplaneamento da actividade e gestão da terra. Às ONG’s e aos
proprietários foi solicitado que zelassem pela integridadeambiental dos recursos naturais. Quanto à comunidade local,considerada a principal interessada na expansão e manutenção daindústria do turismo quando esta representa ou pode representarum recurso fundamental ao seu desenvolvimento económico esocial, foi frisada a necessidade de ela tomar consciência doseu papel de relevo em todo o processo – ou seja, todas aspráticas de dinamização da participação comunitária, os processode capacitação, etc., aqui preconizados enformam os pressupostosdeste documento. A declaração enfatizou, como aspecto crucialpara o desenvolvimento sustentável, a efectiva participação dapopulação local, reconhecendo que o sucesso do turismo éinfluenciado pelo seu nível educacional e pela massa críticaparticipativa que se possa desenvolver no quadro de cadaterritório específico.
A OMT em 2003 escrevia: “O desenvolvimento do turismosustentável atende às necessidades dos turistas de hoje e dasregiões receptoras, ao mesmo tempo que protege e amplia asoportunidades para o futuro. É visto como um condutor da gestãode todos os recursos, de tal forma que as necessidadeseconómicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas semdesprezar a manutenção da integridade cultural, dos processosecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemasque garantem a vida.” (OMT, 2003, p. 24)
Por isso o papel das populações locais é tão determinante: quemmais do que elas está preocupado com a possibilidade de uma vidacom qualidade para as gerações futuras? Para os seus própriosdescentes, de facto. É nessa articulação estratégica do actualcom o longo prazo que a ligação dos elementos locais com astendências globais de atractividade dos destinos podem ser poreles identificadas com relativa facilidade e as eventuais falhascorrigidas. Também é aqui que pode existir a melhor oportunidadecolectiva para receber turistas. O orgulho na exibição dos seuspróprios recursos também pode ter aqui o seu papel, contribuindopara fazer da qualidade do acolhimento um superavit daestratégia planeada.
A proximidade, portanto, facilita a construção de uma visão desustentabilidade para os recursos locais e permite concretizaretapas, de forma coerente; podemos, por isso, salientar comovantagens:
- uma relativa pequena escala das acções;- uma proximidade física dos agentes principais;- uma visibilidade literal das oportunidades e problemasprincipais; e a relativa facilidade com que pessoas com uminteresse comum se podem unir para os resolver.
c. O turismo nasáreas ruraise nosterritóriosdeprimidos
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO TURISMO RURAL
Ao longo dos anos, a documentação produzida relativa àestratégia para este sector, foi gradualmente destacando osprincípios do turismo sustentável, mesmo se algumas vezesreformulados pelo sistema económico, a fim de fazer com que aactividade turística seja aceite como uma das melhores formaspara gestão e preservação das potencialidades e recursosambientais de uma região. Por isso, é necessário despertar nacomunidade o interesse pela temática do turismo sustentável,estimulando nela princípios de uma ética ambiental que deveestender-se aos outros stakeholders, e, evidentemente, aosturistas.
No domínio específico do turismo rural, a participação dacomunidade no seu desenvolvimento deve ser entendida enquantoactividade, através de um conjunto de processos e comportamentosque se estendem a todos os residentes, procurando estimular asua intervenção proactiva, particularmente no sentido deproteger o ambiente local e de conservar as tradições sociais eculturais, assegurando a promoção do turismo no quadro de um
desenvolvimento local sustentável. A participação da comunidadeno turismo rural representa a vontade dos locais de teremintervenção no desenvolvimento e na gestão dos seus mecanismos,incluindo o planeamento turístico e as actividades económicasque lhe estão associadas. Em dois dos factores locais, aprotecção ambiental e a preservação do contexto social ecultural, colocar a comunidade nesse papel de destaquerepresenta o cerne das novas ideologias e metodologias dedesenvolvimento turístico. Os residentes locais, através de umconjunto variado de formas de participação no turismo ruralseriam estimulados a elevar o seu nível cultural, os conceitosde protecção ecológica, e ao desenvolvimento de uma novaconsciência de protecção ambiental. No sentido de melhoraproveitarem o potencial do turismo rural local, eles protegerãoconscientemente a paisagem ecológica local.
Um aspecto é consensual em todas as análises: se o estado deespírito da comunidade for negativo, isso vai afectar em grandemedida a indústria local do turismo, e até pode mesmo conduzirao fracasso do desenvolvimento desejado para o turismo a nívellocal. Em particular, espaços cuja localização geográfica ou aexistência de recursos patrimoniais e ambientais se afiguramcomo diferenciadores, mas que igualmente são marcados porfragilidades duradouras e/ou impeditivas de actividadesagrícolas ou industriais, olham o turismo como a oportunidadeque, mesmo que vinda de fora, poderá incrementar o crescimentoeconómico e portanto, aumentar a qualidade de vida. Nestecontexto, é natural que residentes, empresas, políticos e outrosstakeholders e decisores encarem o turismo como uma estratégiaprivilegiada para o desenvolvimento de um determinado territórioe conduzam as suas decisões em consonância com esses objectivos,esperando simultaneamente que ocorram decisões políticas quecontribuam para esse desiderato. Consciente desse facto, e daimportância do papel dos decisores, a Organização Mundial doTurismo, escrevia, nu folheto publicado nos anos 90: “Asautoridades locais responsáveis por municípios, freguesias,cidades, vilas, aldeias, áreas rurais e locais de interesseestão cada vez mais envolvidas no desenvolvimento e gestão devárias facetas do turismo. Esta é a direcção seguida por muitospaíses para a descentralização do governo dando uma maior
responsabilidade às autoridades locais. Estas autoridadesnormalmente sabem reconhecer melhor quais os seus interesses eempenhar-se-ão em atingir os objectivos do desenvolvimentolocal. Isto também reflecte a ênfase que tem vindo a ser dada aoenvolvimento da comunidade no turismo, com as comunidades locaisa participarem no planeamento turístico e nas suas áreas dedesenvolvimento.”
Estes aspectos assumem ainda mais destaque quando se tornaclaro, como sucede actualmente, que existe um efectivo apelo dosambientes extra-urbanos, uma sedução para, pelo menos nos temposde lazer, conviver com um interior mais natural, podendo, peloturismo, disfrutar da oportunidade de experimentarem ambientes eactividades alternativas e compensatórias, viabilizados porserviços turísticos que oferecem diversas oportunidades aosvisitantes de experimentarem novas atracções e serviçoshospitaleiros, através de actividades e serviços centrados emáreas de paisagem natural, preferencialmente de qualidade.
A dispersão logística desse tipo de turismo, centrado empequenas unidades nas zonas rurais – e a sua crescenteimportância para as economias rurais – podem parecercontraditórias, em termos de racionalidade económica, face àseconomias de escala do turismo massificado. Contudo, o turismorural incide em zonas específicas – para aquelas que sãocenicamente deslumbrantes, por exemplo –, retirando desse factoas mais valias que a especialização ea qualidade lhe podemrender. É evidente que os usos resultantes do uso desse espaçonatural pela industria de serviços que o turismo é pode ser darorigem a conflitos, mesmo com todas as vantagens, em termos dedesenvolvimento local sustentável que este pode trazer,derivados das diferentes percepções da sua finalidade principale da prioridade que se deve dar ao turismo e às ocupações delazer. Daí que o principal objectivo do planeamento e da gestãolocal desta actividade deva ser equilibrar a oferta e a procura,para que os conflitos sejam minimizados e as zonas rurais sejamutilizadas no seu máximo potencial sem deterioração dos seusrecursos. Para atingir isto, deve ser dada particular atenção àformulação e implementação das políticas para o turismo, de
preferência através de um modelo de participação comunitária,que não deve esquecer os próprios representantes dos turistas nogrupo de stakeholders locais, de modo a assegurar, desde oinício, que a correcta compreensão das práticas ecológicas eeticamente equilibradas para o uso deste território são levadasem consideração.
a) A percepção da comunidade sobre os impactos doturismo
PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE OS IMPACTOS DO TURISMO
As atitudes da comunidade são cruciais para um bem sucedido esustentável desenvolvimento turístico uma vez que o entendimentodas percepções e das atitudes da comunidade se podem revelarinformações valiosas para os decisores. A comunidade é oparceiro mais importante, uma vez que são eles que serãoafectados, positiva ou negativamente, pelo planeamento edesenvolvimento desta actividade. Desse modo, através daidentificação das atitudes das populações locais, podem serlançados programas para minimizar as fricções entre os turistase os residentes. A valorização da comunidade receptora naparticipação e planeamento do plano de gestão turística local, ena avaliação de benefícios e prejuízos, torna-se fundamental. Eigualmente as questões relacionadas com a protecção ambiental edesenvolvimento social não podem ser analisados separadamente,já que à desarticulação social e à deterioração cultural – quepodem resultar de uma actividade turística mal coordenada com acomunidade local - seguem-se a exploração desmedida e degradaçãoambiental.
Alguns investigadores salientam que as diferenças entre asatitudes ambientais da comunidade e a intenção comportamentalface ao desenvolvimento turístico sugerem que a promoçãoespecífica das atitudes ambientais não deixará de ter reflexosnas atitudes face ao turismo e aos seus processos de
desenvolvimento, visando particularmente conseguir uma matriz desustentabilidade para os recursos. A estrutura social dacomunidade local tem a maior importância na sua capacidade paraabsorver positivamente as diferentes normas, comportamentos evalores aportados pelos turistas. A questão financeira tambémnão deve ser negligenciada – normalmente o turismo envolve umatroca entre os benefícios económicos e os custos culturais e/ouambientais -, os residentes aceitam os impactos negativos dandoenfase aos ganhos económicos para manter os níveis de satisfaçãoda comunidade.
O turismo é uma força de mudança na economia, quer seja nospaíses mais desenvolvidos ou nos menos…. Uma estratégia deturismo sustentável deve ter em consideração os impactos que oturismo tem nas comunidades residentes As atitudes da populaçãolocal face à actividade turística ser importante dado oargumento de que uma comunidade satisfeita é mais susceptível desustentar o desenvolvimento desta actividade e de acolher osturistas. Durante as últimas décadas, crescente atençãoacadémica tem sido dada à percepção dos impactos do turismo, eum número considerável de estudos tem sido dado à estampa,particularmente focando aquestão das percepções e das atitudesrelacionadas com os impactos socio-culturais. O choque culturalentre os diferentes grupos, locais e visitantes, pode tergrandes dimensões, que tendem a ser mais significativos quando aregião de acolhimento é economicamente carente ou deprimida. Eainda se tornam mais significativos em regiões pertencentes apaíses com uma cultura de gestão top-down, muito centralizada(como é o caso de Portugal), onde as comunidades são excluídasdo desenho das estratégias e das tomadas de decisão inerentes. Odesenvolvimento de estratégias de desenvolvimento sustentávelpelo turismo não poderá fazer se sem se alterar esse paradigmada gestão e sem se introduzirem práticas de governança – mesmoque parcial – que integrem as populações locais nos processo degestão territorial, nestas se incluindo, como é evidente, asactividades económicas, sociais e culturais do mesmo.
a. Benefícios do turismo
i. No ambiente
ii. Na comunidade
The experience of PPP has demonstrated that true participationis possible only when the rural poor are able to pool theirefforts and resources in pursuit of objectives they set forthemselves. The most efficient means for achieving thisobjective, FAO has found, are small, democratic and informalgroups composed of eight to 15 like-minded farmers. Forgovernments and development agencies, people's participationthrough small groups offers distinct advantages:
Economies of scale. The high cost of providing developmentservices to scattered, small scale producers is a majorconstraint on poverty-oriented programmes. Participatorygroups constitute a grassroots "receiving system" thatallows development agencies to reduce the unit delivery ortransaction costs of their services, thus broadening theirimpact.
Higher productivity. Given access to resources and aguarantee that they will share fully in the benefits oftheir efforts, the poor become more receptive to newtechnologies and services, and achieve higher levels ofproduction and income. This helps to build net cashsurpluses that strengthen the groups' economic base andcontribute to rural capital formation.
Reduced costs and increased efficiency. The poor'scontribution to project planning and implementationrepresent savings that reduce project costs. The poor alsocontribute their knowledge of local conditions,facilitating the diagnosis of environmental, social andinstitutional constraints, as well as the search forsolutions.
Building of democratic organizations. The limited size andinformality of small groups is suited to the poor's scarceorganizational experience and low literacy levels.Moreover, the small group environment is ideal for thediffusion of collective decision-making and leadershipskills, which can be used in the subsequent development ofinter-group federations.
Sustainablility. Participatory development leads toincreased self-reliance among the poor and theestablishment of a network of self-sustaining ruralorganizations. This carries important benefits: the greaterefficiency of development services stimulates economicgrowth in rural areas and broadens domestic markets, thusfavouring balanced national development; politically,participatory approaches provide opportunities for the poorto contribute constructively to development.
BENEFICIO DA COMUNIDADE
Políticas 43
“A política para o turismo está a sofrer uma recente evoluçãocom a criação do National Natural Tourism Plan e das directrizes para oturismo sustentável, que estão a ser seguidas pela NationalProtected Areas Network. Isto irá promover o desenvolvimentosustentável local, focando-se nas áreas com desenvolvimentoeconómico e social mais fraco. Nos últimos anos, também no querespeita aos problemas ambientais, os cursos de formaçãoprofissional estão a ter em conta a consciência ambiental deforma a prevenir impactos negativos do turismo.” (COKE, 2000, 2
O território do Baixo Guadiana
a) Factores do contexto
a. Território
O espaço territorial que serve de contexto a esta investigação é
o Baixo Guadiana, entre Vila Real de S. António e Mértola, assim
considerado por ser até onde a maré chega e o Rio é navegável.
Especificamente, esta região do Baixo Guadiana, no Sul de
Portugal, compreende 4 concelhos, nomeadamente: Mértola (Sueste
do Baixo Alentejo) e Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de S.
António (Sotavento do Algarve) que são transversalmente ligados
pelo Rio Guadiana1, - O Grande Rio do Sul -, designação dada a
partir de um documentário com o mesmo nome realizado pela ADPM. O
Guadiana, se por um lado, assumiu desde sempre o papel de
fronteira natural, por outro, significou um elemento marcante da
vida social, cultural, económica e ambiental do território ao
longo dos séculos, transformando-se num elo fulcral de ligação e
identidade entre as comunidades e o território e que ainda hoje
perduram.
Todo o Baixo Guadiana constitui um espaço de rara beleza, com uma
paisagem invulgarmente preservada. A sua beleza cénica, a
abundância e qualidade do seu património arqueológico,
monumental, arquitetónico e etnográfico, conferem-lhe condições
de exceção para uma descoberta que associe o turismo de natureza
e o turismo cultural, bem como o turismo náutico, dado que também
através da navegabilidade pelo Rio Guadiana, se usufrui
turisticamente o rio e suas margens, notando-se ainda uma
perfeita harmonia entre os aglomerados ribeirinhos e a sua 1 A denominação atual do rio Guadiana provém da junção do vocábulo árabe para rio – Uádi -e Ana ou Anas, nome dado ao rio pelos romanos. O Guadiana é um rio internacional, partilhado por Portugal e Espanha, que apresenta um potencial hídrico elevado sendo o quarto maior rio Ibérico. O rio Guadiana nasce nas Lagoas de Ruidera, em Campo Montiel, terras de Espanha a uma altitude de 1700 m e desagua em Portugal, no Oceano Atlântico, entre Vila Real de Stº António e Ayamonte, percorrendo uma extensão total cerca de 830 Km.O vale por onde corre formou-se com a terceira revolução geológica da Terra (antes da qual, praticamente todo o território nacional estava submergido.
envolvência. Do ponto de vista geográfico é uma das principais
entradas de Portugal, não só numa perspetiva funcional, mas
também na perspetiva histórica e simbólica do sítio, considerando
a sua singularidade estuarina, delicadeza paisagística,
diversidade geomorfológica e eco sistémica.
Foi precisamente a particularidade de ser navegável por mais de
setenta quilómetros adentro do interior do país que lhe conferiu
uma relevância histórica e económica a que sempre esteve
associado a própria história deste território do BG e, numa
perspetiva mais ampla, do Gharb al-Ândalus.
O Baixo Guadiana estrutura um território cujo tronco é
constituído pelo rio que lhe dá o nome e é partilhado por duas
unidades administrativas portuguesas e uma região autonómica
espanhola. O troço entre Mértola e Vila Real de Santo António,
também referido como Vale do Guadiana, é navegável por
embarcações de média dimensão até à localidade do Pomarão –
antigo cais de embarque de minério, e até Mértola por barcos de
pequeno calado, aproveitando as marés que, duas vezes por dia,
elevam a água entre um a dois metros.
A região do Baixo Guadiana delimita-se por 4 concelhos, sendo a
área na sua maioria representada por zonas rurais. Nomeadamente:
Mértola (Baixo Alentejo), Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de
Santo António (Algarve), os quais ocupam uma área de 2.213 km² e
que estão situados no Sul de Portugal, no Baixo Alentejo Sueste
e no Sotavento Algarvio.
Por sua vez, os concelhos dividem-se nas seguintes freguesias:
Concelho de Mértola: Alcaria Ruiva, Corte do Pinto,
Espírito Santo, Mértola, Santana de Cambas, São João dos
Caldeireiros, São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e
São Sebastião dos Carros.
Concelho de Alcoutim: Alcoutim, Giões, Martim Longo,
Pereiro e Vaqueiros.
Concelho de Castro Marim: Azinhal, Castro Marim, Odeleite
e Altura.
Concelho de Vila Real de Santo António: Vila Nova de
Cacela, Vila Real de Santo António e Monte Gordo.
O BG faz fronteira com vários concelhos da região do Alentejo a
Norte, bem como os concelhos da região do Algarve a Oeste, a
província de Huelva (Região de Andaluzia – Espanha) a Este e o
Oceano Atlântico a Sul.
Acumulado ao longo de séculos por diferente e variados povos e
culturas, a região do Baixo Guadiana encerra saberes ancestrais
traduzidas num conjunto de atividades tradicionais de grande
interesse cultural e económico; contudo está sujeito a uma forte
propensão à desertificação física e humana, apresenta uma base
económica e produtiva débil, com poucos recursos humanos em
idade ativa e os existentes com frágeis níveis de qualificação.
Persistem algumas insuficiências em termos de infraestruturas e
serviços de proximidade, principalmente no interior, o que dita
muito do afastamento populacional deste território, sobretudo
fora dos polos urbanos de Vila Real de Santo António, Castro
Marim, Alcoutim e Mértola.
Se por um lado o território apresenta alguns fatores que
obstruem o processo de desenvolvimento, por outro, apresenta
condições naturais e culturais de excelência, evidenciando
enormes potencialidades consubstanciadas nos seus recursos
endógenos. Nas últimas décadas, o turismo e as atividades de
lazer em espaço rural têm-se constituído como meios
privilegiados de promoção dos recursos existentes nos
territórios rurais, fatores de revitalização do tecido económico
e social e uma oportunidade para o desenvolvimento desses
territórios. A navegabilidade do Guadiana confere-lhe uma mais-
valia interessante, podendo catalisar recursos e investimentos
que possam contribuir para inverter a tendência de erosão física
e social a que o território está sujeito, como o confirmam os
dramáticos números do censo de 2011, onde a única exceção é o
concelho de Vila Real de S. António.
Nesse sentido, tem emergido com entusiasmo a oportunidade de,
desassoreado o Guadiana, se iniciar um processo de
desenvolvimento ancorado precisamente no turismo que o Guadiana
pode atrair. No entanto, as expetativas têm sido goradas, Quadro
após Quadro comunitário e, hoje, essa possibilidade parece estar
cada vez mais longe. Falta de peso político e de ação conjunta
do território terão ditado até agora a falta de prioridade do
desassoreamento do Rio. No entanto, tal não tem impedido que
surjam cada vez mais atividades de cariz cultural e económico,
reveladoras do potencial que o território encerra.
Por forma a uma melhor apreensão do território, apresentamos de
seguida, uma caraterização das suas principais singularidades.
O troço inferior do Rio Guadiana constitui uma das áreas
fluviais e de estuário melhor conservada da Península Ibérica. O
reconhecimento gradual do valor natural desta zona que se
estende ao longo da fronteira administrativa entre Espanha e
Portugal conduziu à delimitação de vários espaços protegidos que
incluem o próprio rio e extensos territórios em ambas as
margens, tendo mesmo já sido sugerida a sua classificação como
Reserva da Biosfera. De realçar a existência de importantes
áreas naturais neste território de estudo, tais como o Parque
Natural da Ria Formosa, que engloba uma área de proteção
especial para a Avifauna (ZPE), uma área para as Aves (a nível
europeu – IBA) e um Biótopo Corine; a Mata Nacional das Dunas de
Vila Real de Santo António representa uma grande extensão de
pinhal (mandado plantar pelo Marquês de Pombal para fixação das
areias e proteção das áreas agrícolas das Hortas) com grande
riqueza vegetal, de espécies únicas.
Também a biodiversidade existente em torno do Guadiana é
notável, destacando-se duas Áreas Protegidas de importância
internacional: o Parque Natural do Vale do Guadiana (PNVG)2 e a
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António (RNDCMVRSA)3. Só por si, estas particularidades elucidam
bem o potencial presente quer em termos de biodiversidade, quer
de propensão turística.2 O PNVG é uma área Protegida de grandes dimensões (cerca de 70.000 hectares), criada em 1995 (Decreto-Lei nº 28/95, de 18 de Novembro) desenvolve-se ao longo de um troço de 50 Km do Rio Guadiana. Está também designada como ZPE (ZPE do Vale do Guadiana, código PTZPE0047) e incluída na Lista Nacional de Sítios (Guadiana, código PTCON0036). A conectividade entre estas duas Áreas Protegidas (ambas consideradas internacionalmente como IBA – Important Bird Area) é assegurada pelo Sítio Guadiana, o qual se desenvolve ao longo do troço médio e inferior do rio Guadiana e seus principais afluentes.
3 A Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António foi a primeiraReserva Natural a ser criada em Portugal, (Decreto nº 162/75 de 27 de Março), à qualforam atribuídos diversos estatutos de conservação internacionais, sendo a áreadesignada como Zona de Protecção Especial ao abrigo da Directiva Habitats (RiaFormosa/Castro Marim, código PTCON0013). Foi também designada como Zona Húmida deImportância Internacional ao abrigo da Conservação sobre Zonas Húmidas (Ramsar) em 1996.Formado por 2.312 ha de sapais, salinas, matos, zonas florestadas e agrícolas, trata-sede um espaço protegido de reconhecida importância, devido à função que exerce comomaternidade natural de variadas espécies de peixes e como lugar de migração, invernada enidificação de muitas espécies de aves.
a. Demografia
A análise demográfica constitui um elemento essencial de
caracterização de um território já que a sua dimensão e
especificidade traduzem muito das dinâmicas desse território,
quer como resultados quer como causas.
A densidade populacional no Baixo Guadiana é em média de 11,8
habitantes por km2 sendo que o gradual afastamento do litoral
vai marcando a paisagem com uma densidade populacional cada vez
menor, como se pode observar na tabela….. abaixo apresentado,
sendo visível que a região do Baixo Guadiana tem sofrido um
decréscimo populacional acentuado, mais visível na zona do
interior. Os concelhos de Mértola e Alcoutim perderam uma
percentagem dramática da população no período entre 1970 e 2011,
sendo que Mértola teve um decréscimo populacional de 49% e
Alcoutim registou 57%, o que se traduz num fator alarmante para
a sustentabilidade do território em relação aos seus recursos
humanos. Em Castro Marim também se verificou um decréscimo mas
com um peso muito menos significativo do que nos concelhos mais
interiores, apenas registando um decréscimo de 10%. Vila Real de
Santo António, município marcadamente litoral, com uma linha de
costa superior ao de Castro Marim, é o único concelho desta
região do Baixo Guadiana que teve um aumento populacional,
cifrado em cerca de 39%.
A evolução da população do território é negativa, já que o
decréscimo populacional sentido nos municípios de Mértola,
Alcoutim e Castro Marim, não é compensado pelo crescimento de
Vila Real de Santo António. Estes valores desiguais entre a zona
do interior e do litoral do Baixo Guadiana podem apontar algumas
diferenças socioeconómicas importantes entre estes espaços
territoriais.
Tabela 8.2. - Evolução da População nos Concelhos do Baixo Guadiana entre 1970 e 2011
Municípios 1981/1991 1991/2001 2001/2011 1970/2011
Mértola - 16% - 11% -17% - 49%
Alcoutim - 13% - 18% -23% - 57%
Castro Marim - 7% - 3% 2% - 10%
Vila Real de Santo
António
- 12% 25% 7% 39%
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Recenseamentos de 1970, 1981, 1991
e 2001 e 2011 (Dados Preliminares). Elaboração própria. Nota: Os dados da
população dos municípios correspondem à população residente.
Estes municípios apresentam diferenças relativamente aos
restantes do Algarve e do Baixo Alentejo; assim, enquanto a
população do Algarve apresenta um aumento considerável entre
1991 e 2011, ao invés, o Alentejo sofreu um processo de
despovoamento, reflexos do processo generalizado de
despovoamento das zonas rurais, que foi favorecido pelo
urbanismo e o desenvolvimento do sector turístico nas zonas
costeiras nos últimos anos.
Este fenómeno, generalizado em toda a região do Alentejo,
acentua-se no sul e caracteriza-se como um dos fenómenos
socioeconómicos mais importantes ocorridos nas últimas décadas,
o que fez com que a densidade populacional fosse muito inferior
tal como se observa no quadro seguinte. Também há que ter em
conta que falamos de municípios com dimensões territoriais muito
diferentes, pois o concelho de Mértola apresenta uma superfície
22 vezes superior ao concelho com maior densidade populacional:
Vila Real de Santo António.
Tabela 8.3. - Densidade Populacional dos Municípios do Baixo
Guadiana entre 1991 a 2011
Município
Superfíci
e
municipal População
Densidade
populacional (hab. /
km2)
(km2) 2001 2011 2001 2011
Mértola 1.279 8.712 7.274 6,8 5,7
Alcoutim 576 3.770 2.917 6,5 5,1
Castro Marim 300 6.593 6.747 22 22,5
Vila Real de Santo
António 58 17.956
19.15
6 309,6 330,3
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos de 1991 e 2001 e 2011 (Dados
Preliminares). Elaboração própria. Nota: Os dados da população dos municípios
correspondem à população residente.
A esta diminuição da população juntou-se um processo de
envelhecimento, em muito provocado pela deslocação da população
ativa para onde as oportunidades de emprego estavam mais
presentes e a qualidade devida se afigurava melhor.
Quanto à distribuição da população por faixas etárias, destacam-
se as diferenças novamente entre os municípios do interior e do
litoral. Na zona litoral, particularmente em Vila Real de Santo
António, a população encontra-se menos envelhecida com uma
proporção, segundo dados de 2011, maior de 65 anos de 19,8%,
enquanto na zona do interior podemos destacar o concelho de
Alcoutim com uma percentagem de 44%, assim como Mértola que
também tem uma percentagem elevada de 34,9%. Apesar de Vila Real
de Santo António ser o município que regista maior número de
população, podemos verificar que é também aquele que tem menor
número de indivíduos com mais de 65 anos, indicando que é o
município mais jovem do Baixo Guadiana, ou, por outras palavras,
o menos envelhecido.
Tabela 8.4. - População por Faixas Etárias dos Municípios
do Baixo Guadiana 2011
Município < 15 anos
Entre 15
e 24 anos
Entre 25 e
64 anos > 65 anos Total
Nº % Nº % Nº % Nº %
Mértola 666 9,2 645 8,9 3.427 47
2.53
6 34,9 7.274
Alcoutim 230 7,9 182 6,2 1.221
41,
9
1.28
4 44 2.917
Castro Marim 838 12,4 644 9,5 3.452
51,
2
1.81
3 26,9 6.747
Vila Real de Santo
António 2.974 15,5
2.03
0
10,
6
10.35
1 54 3.801 19,8
19.15
6
Total
4.70
8 13
3.50
1 9,7
18.45
1
51,
1
9.43
4 26,1
36.09
4
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2011 – Resultados Provisórios do Alentejo e Algarve. Elaboração própria. Nota: Os dados de população dos municípios portugueses correspondem à população residente.
b. Recursos humanos e coesão social
c. RECURSOS NATURAIS
RECURSOS NATURAIS 4
Os Recursos Naturais têm grande importância neste território,
sobretudo por ser um território que tem preservado toda a sua
natureza, seja por propósito humano, seja pelos condicionantes
mais diversos e que em muito determinam o maior ou menor grau de
intervenção, sobretudo o próprio relevo. A localização
geográfica e o enorme leito de água que entra pela terra adentro
tornam-no igualmente peculiar no que respeita a habitats, sítios
de descanso ou mesmo de nidificação de aves migradoras. Embora
obviamente não existam sítios virgens, é comum encontrar vales
encaixados, ravinas íngremes e barrancos profundos onde o
imaginário nos leva amiúde para outros tempos e outros povos.
Recursos que se afiguram autênticos paraísos para o turismo de
natureza, maduros, mas a precisar de postos ao serviço do
desenvolvimento do território.
Dada a importância que os recursos naturais assumem sempre para
qualquer estratégia de desenvolvimento, que se queira sustentada
e assente nos recursos locais. É claramente o desejável para
este território, oferece recursos naturais apropriados para isso
mas, mais uma vez, sem o suporte de uma estratégia conjunta para
todo o território que lhe confira dimensão e robustez de destino
turístico. Também a bibliografia referente a este tema continua
4 ÁREAS COM ESTATUTO ESPECIAL DE PROTEÇÃO NO BG: 1.Vale do Guadiana: Parque Natural; Rede Natura 2000 - Sítio PTCON0036 “Guadiana”; Rede Natura 2000 - Zona de Proteção Especial “Vale do Guadiana”. 2. Ribeira do Vascão: Rede Natura 2000 - Sítio PTCON0036 “Guadiana”; Apresentada proposta (em 2012) para classificação de Sítio Ramsar. 3. Rio Guadiana. 4. Sapal de Castro Marim e Vila Real de Sto. António; Reserva Natural; Sítio Ramsar PT010 “Sapais de Castro Marim”; Rede Natura 2000 - Sítio PTCON0013 “Ria Formosa/Castro Marim”; Rede Natura 2000 - Zona de Proteção Especial “Sapais de Castro Marim”. 5. Terras da Ordem: Mata Nacional das Terras da Ordem; Rede Natura 2000 - Sítio PTCON0036 “Guadiana”. 6. Mata de Monte Gordo: Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António; Rede Natura 2000 - Sítio PTCON0013 “Ria Formosa/Castro Marim”.
a apresentar por concelho os variados valores naturais.
Apresentamos, numa breve referência os os argumentos que mais
distinguem este território e que o valorizam ambiental e
turisticamente.
No que diz respeito às zonas de proteção ou zonas protegidas, o
concelho de Mértola apresenta o Parque Natural do Vale do
Guadiana que se estende por 69.773 ha, abrangendo parte dos
concelhos de Mértola e Serpa num troço de rio que se estende
desde uma zona a montante do Pulo do Lobo (cascata fluvial
formada pelas águas do rio Guadiana) até à foz da ribeira do
Vascão, fronteira entre o Alentejo e o Algarve. O interesse
faunístico do concelho é importante, o que justifica a sua
inclusão na lista de Áreas com importância Ornitológica
(Importante Bird Áreas). A importância do concelho em termos de
estudo e investigação na área da erosão dos solos, é também
merecedora de referência, pela existência do Centro Experimental
de Vale Formoso 5, um dos mais antigos e importantes, se não o
mais importante Centro Experimental de Erosão na Europa, já que,
sem ser propriamente um recurso natural não deixa de a eles
estará associado.
Tal como Mértola, para além de extensas áreas incluídas em Rede
Natura e reserva Agrícola Nacional, Alcoutim é também um
território privilegiado para a observação de aves, pois é um
território escassamente habitado, com vastas extensões de
5 A criação deste Centro pelo Eng.º Ernesto BAPTISTA D’ARAÚJO tinha por objetivo o estudo e quantificação das perdas de solo agrícola por erosão hídrica e o desenvolvimento e implementação de medidas e práticas de
conservação de solo. Refira-se que a recolha e registo de dados de perda de solo por erosão hídrica não sofreu interrupção, dispondo-se até hoje de uma série cronológica contínua e muito vasta de dados experimentais sobre erosão de solos, recolhidos nas parcelas de erosão aí construídas segundo uma metodologia e um modelo de investigação experimental importado dos EUA. www.cpada.pt/.../ Centro _ Experimental _de_Erosao_de_ Vale _ Formoso em 12/8 /2012
matagais, sendo um paraíso para as aves e para os que fazem
turismo a observá-las. Ondulações do relevo, a marcar bem a
transição entre a serra e a planície, dão bem conta da
importância dos recursos naturais, ligados à paisagem, aparentam
ter no concelho. A ribeira do Vascão, que circunda a parte norte
do concelho (e que é conhecida por dividir o Alentejo do
Algarve) é referenciada como um dos cursos de água melhor
conservados da Península Ibérica e justificada pela presença do
Saramugo, espécie piscícola endémica e em risco de extinção.
Em relação aos recursos naturais mais relevantes existentes no
concelho de Castro Marim, destaca-se a Reserva Natural do Sapal
de Castro Marim e Vila Real de Santo António, que, com os seus
2089 hectares da Reserva Natural, que se estende pelos concelhos
de Castro Marim e Vila Real de Santo António se apresenta como
uma zona húmida ocupada por salinas, charcos e sapais.
Classificado como reserva natural, é um verdadeiro paraíso de
plantas indígenas e aves migratórias.
Com uma dimensão relativamente pequena, se comparado com os
outros concelhos do Algarve, Vila Real de Santo António
apresenta uma enorme diversidade ambiental, que vai desde as
praias, às matas, às zonas húmidas de sapal na "fronteira" com o
concelho de Castro Marim e ao barrocal, na freguesia de Vila
Nova de Cacela. Para além da RNSCMVRSA, o Parque Natural da Ria
Formosa reúne um conjunto ambiental de rara beleza onde a
natureza foi mantida intacta. A constituição sedimentar da Ria
Formosa prende-se sobretudo pela ação das marés, ventos e
correntes marítimas, proporcionando um habitat de exceção para
inúmeras espécies raras como por exemplo o camaleão (Chamaleo
Chamaleon).
Tabela 8.10. - Distribuição dos Recursos Naturais de Interesse pelos Municípios
Recursos
Naturais de
interesse
Município
Mértol
a
Alcouti
m
Castro
Marim
Vila Real de
Santo António
Barragens 1 0 2 0
Matas 0 0 0 1
Miradouros 3 1 1 0
Reservas
Naturais
1 0 1 2
Rias/Ribeiras/
Rios
8 3 2 3
Serras 5 1 0 0
Praias 1 1 3 3
Total 19 6 9 9
Fonte: Recolha de informação através dos Postos de Turismo do BG e
Autarquias. Elaboração própria.
d. Património e cultura locais
b) 8.2.3.1. RECURSOS HISTÓRICOS
O património, particularmente em termos históricos,
arqueológicos e etnográficos (de que o número de núcleos
museológicos existente é sintoma) assume um valor apreciável
neste território, podendo contribuir (já o faz) para uma
diversificação da oferta turística, científica e cultural desta
região, representando um potencial de atração turística de
grande importância no conjunto dos recursos existentes neste
território. Mértola é o exemplo mais paradigmático neste âmbito,
sendo sobejamente conhecido como exemplo de sustentação de um
processo de desenvolvimento assente nos pilares do património,
da cultura e da investigação. Mas, tal como Mértola, também
Alcoutim, por se localizarem à beira do rio, testemunham a
presença de povos desde o final do Neolítico e início do
Calcolítico (cerca de 4000 a.C.) e, desde 2500 a.C. até ao
período da ocupação romana que estas vilas estão associadas ao
facto de se situarem no local onde se fazem sentir as marés do
Guadiana, que obrigavam os barcos que faziam o tráfego dos
metais e de outros produtos a aguardar durante horas as
condições propícias à descida do rio. Factos que, na Era Moderna
se podem revelar importantes em termos de desenvolvimento,
particularmente na área do turismo.
A partir da análise da documentação existente nos postos de
turismo e nas Câmaras Municipais, inventariámos um conjunto de
dados que ilustram bem as caraterísticas do território. Assim,
quanto ao património edificado pode-se constatar que é Mértola o
concelho com mais oferta deste tipo de património (46%); é
importante referir também que 43% deste tipo de património
pertencente a todo o território do Baixo Guadiana corresponde ao
património edificado religioso (Igrejas, Ermidas, Capelas,
Santuários), correspondendo o restante património edificado
(57%) a Castelos, Muralhas, Moinhos, Estátuas, Casas, Avenidas e
Praças.
Tabela 8.8. - Distribuição do Património Edificado pelos
Municípios do Baixo Guadiana
Município Quantidade de
Património
Edificado
%
Mértola 41 46
Alcoutim 21 24
Castro Marim 11 12
Vila Real de Santo
António
16 18
Total 89 100
Fonte: Recolha de informação através dos Postos de Turismo do BG e Autarquias.
Elaboração própria.
Em relação ao património arqueológico verifica-se novamente a
elevada percentagem deste tipo de património nos dois municípios
mais interiores, no entanto é o concelho de Alcoutim que
atualmente mais sítios arqueológicos visitáveis regista. No
município de Castro Marim os únicos sítios arqueológicos
identificados atualmente são o Castelo e o Forte, no entanto em
algumas localidades do território deste concelho já ocorreram
várias intervenções arqueológicas. Em relação ao município de
Vila Real de Santo António, destaca-se o Centro de Investigação
e Informação do Património de Cacela, que é o núcleo científico
ativo, interpretativo do território de Cacela, que visa
potenciar o usufruto dos patrimónios por públicos de origens
diversas numa perspetiva informativa, museológica, de lazer e
turismo.
Mértola, Vila Museu, como o seu nome indica é o território do
Baixo Guadiana que maior número de museus tem. Os Museus de
Mértola têm como âmbito principal a arqueologia. No município de
Alcoutim existem 9 núcleos museológicos, sendo que na sua
maioria se tratam de exposições etnográficas sobre tradições e
memórias locais. No município de Castro Marim existe apenas um
núcleo museológico em atividade, o núcleo museológico do Castelo
da Castro Marim, inserido no próprio castelo, é um espaço onde
os visitantes têm a possibilidade de conhecer um pouco mais da
história de Castro Marim. Também existe um outro núcleo
museológico em Odeleite mas que ainda não está em funcionamento.
O concelho de Vila Real de Santo António conta com a presença de
apenas 2 núcleos museológicos, um deles contem todo o espólio
existente ao longo da costa entre Manta Rota e Cacela Velha, o
outro museu é dedicado à arte de um pintor e gravador, onde
existe a maior coleção de gravuras em madeira.
Tabela 8.9 – Distribuição dos Museus pelos Municípios doBaixo Guadiana
c)
Município Quantidade de
Museus
%
Mértola 12 48
Alcoutim 9 36
Castro Marim 2 8
Vila Real de Santo
António
2 8
Total 25 100
Fonte: Recolha de informação através dos Postos de Turismo do BG e
Autarquias. Elaboração própria.
Podemos concluir desta análise que em relação aos recursos
históricos, os municípios do interior são os que permitem uma
maior oferta turística de âmbito histórico e cultural, e é
assente neste tipo de turismo que principalmente a oferta
turística de Mértola se tem caracterizado.
8.2.3.2 RECURSOS CULTURAIS E ETNOGRÁFICOS
O artesanato é outra das riquezas do Baixo Guadiana. O saber-
fazer tradicional transmitido de geração em geração é um símbolo
da sua identidade e prende-se, essencialmente à vida rural e à
conceção de objetos utilitários. Na região poderão encontrar-se
artesãos que trabalham a cana, as fibras vegetais, o linho, a
madeira, o barro, entre outros materiais que a natureza oferece.
O trabalho artesanal, elaborado com técnicas herdadas e
utilizando os próprios recursos da terra, tem a peculiaridade de
ser transversal a todo o território, com inúmeras aplicações e
variedades de produtos. Também aqui são os municípios do interior
os que mais produtos artesanais produzem.
Resultante da própria história do território, em particular da
inevitável miscigenação com as diferentes culturas que desde
sempre subiram o rio, o BG é um território rico do ponto de vista
etnográfico. O mar, a serra e o rio o o que lhes está associado
constituem verdadeiros oásis coletivos de saberes, tradições,
ofícios, gestos, cantares, dizeres, práticas e comportamentos
ancestrais, muitos a exigir uma etnografia de salvaguarda. 6
Embora cada um dos concelhos seja mais conhecido por este ou
aquela artefacto ou prática, é pelo conjunto que melhor se
entende e vale o território. Assim, a montante, em Mértola
destacam-se a tecelagem, a cestaria, a pintura e escultura,
miniaturas em madeira, óleos essenciais, entre outros, enquanto
em Alcoutim ainda se confecionam vários produtos tradicionais,
tais como peças de lã e de linho, coloridas mantas de trapos,
colchas e toalhas, bordados e rendas, cestaria, artefactos em
madeira, arranjos florais, bonecas de juta, olaria, cerâmica,
cadeiras e calçado. Mais a sul, próximo do mar, os municípios de
Castro Marim e Vila Real de Santo António são os que menos
produtos artesanais produzem, sendo que a cerâmica, pintura,
cestaria e latoaria são os produtos mais representativos destes
dois municípios.
As questões de socialização, por norma muito aliadas à cultura,
nesta região são definidas pelo enaltecimento da oralidade, das
festas, romarias e festivais alicerçados em tema, produtos ou
imaginários locais, bem como das atividades tradicionais que tão
bem caracterizam uma determinada região. No entanto, como não
existe uma articulação conjunta entre os quatro municípios,
todos os eventos, festas e feiras são organizadas por cada
autarquia sem uma aparente articulação ou estratégia conjunta de
promoção ou mesmo de atração, evidenciando as potencialidades de
cada território concelhio, mas sem a desejável articulação entre
elas.
6 Etnografia de salvaguarda refere-se a um ramo da etnografia que se aplica na salvaguarda de registos que restam de uma cultura antes que desapareça.
8.2.3.3. RECURSOS GASTRONÓMICOS
Os recursos gastronómicos também são um dos fatores mais
procurados pelos turistas. Por norma, são iguarias confecionadas
com ingredientes típicos da região e que materializam muito a
utilização dos recursos locais, mas igualmente, simbolizam
aspetos imateriais como os aromas, os sabores ou as práticas
alimentares. Ingredientes como as ervas aromáticas, o peixe, o
queijinho de cabra, o requeijão, os cogumelos ou as túberas,
fazem as delícias dos pratos tradicionais. Também aqui é o
conjunto que vale independentemente das “especialidades” de cada
município.
No entanto é salientado que no município representativo do
Alentejo dá-se especial destaque para o pão tradicional
alentejano, os queijos de cabra e ovelha, os enchidos, o mel e o
vinho, as ervas aromáticas e os cogumelos, a partir dos quais
surgem os Cozidos de Couve, Feijão ou Grão, os pratos de caça e
os pratos com o peixe do rio como a lampreia, para além das
açordas e do ensopado de borrego, dos espargos ou cogumelos com
ovos.
Alcoutim devido à proximidade do rio Guadiana, à riqueza
cinegética e à agricultura, fatores que se refletem na sua
gastronomia, fazem com os seus pratos típicos sejam muito
apreciados. A carne de porco, o pão e o borrego, o azeite, os
queijos de cabra e ovelha e o almece são procurados no concelho,
dando origem a receitas deliciosas como o ensopado de enguias, o
gaspacho e a vinagrada, as diversas “sopas”, entre todos os
outros.
Castro Marim faz jus à sua localização e os seus pratos são uma
mistura entre a serra e o mar. Os pratos de peixe e marisco são
secundados pelos doces de amêndoa, alfarroba e figo. Mas também
o território serrano deste concelho permite que sejam
confecionados pratos com carne de borrego, porco e outras.
Típicos desta região são também as caldeiradas de peixe, as
papas de milho, as favas sapatadas e o peixe “alimado”, entre
outros.
No município de Vila Real de Santo António, terra de pescadores,
o peixe fresco e o marisco representam a gastronomia desta
região, assim como os doces tradicionais do Algarve. Os
grelhados, a estupeta de atum, o arroz de marisco, tamboril ou
biqueirão, assim como as cataplanas e as papas de milho com
conquilhas a que se juntam como o Dom Rodrigo, os Morgados e os
figos com amêndoa, são imagens de marca deste canto do Baixo
Guadiana.
Políticas 68 - “Os conceitos de “cultura” e “autenticidade” sãoelementos chave. A definição de património no dicionário sublinha a noção de herança: o que é ou o que pode ser transmitido dos antecessores. A utilização turística classifica-o frequentemente como um património cultural ou natural. (…) O património cultural pode ser definido de forma alargada para englobar a história e as ideias de um povo e/ou de um país, valores e crenças, edificações e monumentos, locais de eventos importantes do passado, as artes (literatura, musica, dança, escultura, arte), eventos e festivais tradicionais, e estilos devida tradicionais. O património natural refere-se a paisagens onde predomina uma pura vastidão (florestas virgens, rios sem barragens, montanhas não cultivadas). As paisagens modificadas
pelo empenho humano são consideradas como parte de um legado cultural.” (SOFIELD, 2003:336)
a. Actividades económicas principais
As diferenças quanto à dinâmica da população também se detetam
na evolução de alguns dos principais indicadores económicos e do
mercado de trabalho, proporcionando uma imagem aproximada da
realidade sócio laboral destes municípios.
Tabela 8.5. - Evolução do Desemprego 2005 a 2009
Municíp
io
2005 2006 2007 2008 2009
H M Total H M Total H M
Tota
l H M
Tota
l H M
Tota
l
Mértola 113 251 364 97 194 291 85 171 256 81 159 240 93 119 212
Baixo
Alentej
o
2.8
14
4.57
1 7.385
2.42
3
3.85
5 6.278
2.02
2
3.44
9
5.47
1 1.915
3.15
4
5.06
9 2.466 3.090
5.55
6
Alcouti
m 29 38 67 24 33 57 18 22 40 13 22 35 17 18 35
C.
Marim 75 138 213 59 107 166 44 93 137 49 76 125 110 111 221
V.R.
S.
Antóni
o 320 476 796 261 402 662 191 365 556 207 325 532 487 477 964
Algarve
5.4
62
7.83
8
13.30
0
5.32
7
7.45
4
12.78
1
4.80
5
7.05
8
11.8
62 4.775
7.17
6
11.9
51 9.751
10.37
0
20.1
21
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
No Baixo Guadiana, as maiores entidades empregadoras continuam a
ser as Câmaras Municipais, seguidas de outros serviços públicos,
dos serviços sociais desenvolvidos por entidades sem fins
lucrativos, vulgo, entidades de economia social, tais como
lares, infantários, IPSS, associações de desenvolvimento, entre
outras.
A agropecuária e silvo-pastorícia continuam a ter alguma
expressão no território, secundadas pela produção de hortícolas,
pelas atividades que provêm do aproveitamento cinegético,
apícola, das plantas aromáticas e medicinais, do sal, dos
recursos florestais lenhosos e não lenhosos, entre outros Alguma
atividade transformadora, sobretudo ligada aos produtos locais
como os enchidos e o pão, salientam-se igualmente, quer pela
qualidade quer pelos postos de trabalho inerentes. O turismo,
direta e indiretamente assume uma importância crescente no
território, como se comprova, particularmente em Mértola. Claro
que em Vila Real esta caraterização é distinta, tendo o turismo
aqui o papel de condutor do crescimento do concelho.
d) O turismo no Baixo Guadiana
CONTEXTO
A actividade turística no território do BG engloba duas áreasdistintas, que correspondem a uma área costeira e cujos principaisexpoentes são a cidade de Vila Real de Santo António e a frentemarítima de costa algarvia que lhe pertencem administrativamente,componente que influencia, particularmente por via da logística dealojamento e restauração, também o concelho limítrofe de Castro Marim.Estes dois concelhos estão assim marcados por uma opção de turismo desol e praia, ainda sequente do modelo estratégico posto em marcha nosanos 60 do século XX, e cujos impactos positivos e negativos são
semelhantes ao de qualquer opção de monocultura: tanto podem ser bonscomo catastróficos, e são seguramente limitadores da diversidade,tornando a estratégia, a longo termo, mais frágil às condicionantesexógenas, por menor capacidade de defesa às suas variações. Devido àsua menor centralidade (e maior qualidade em muitas dasinfraestruturas, por mais recentes), esta estratégia permite ainda,nos dias de hoje, uma grande atracção de turistas, favorecendo umconsumo sazonal (Verão) com alguma massificação.
Mértola e Alcoutim correspondem a uma zona de interior, que tem ummenor número de turistas, e uma tipologia turística distinta, podendofuncionar como produto complementar ao citado anteriormente.
Em qualquer dos casos, o Rio Guadiana funciona como principal eixo doterritório, apesar de se situar na fronteira política com a vizinhaEspanha (e de ter menos impacto territorial no lado esquerdo do queaquele que possui na margem portuguesa, o que se explica por razõeshistóricas fácies de entender, o parceiro mais fraco a ter maiornecessidade de ter e manter localidades mais importantes nesta linhafronteiriça, para o reino vizinho um mero território periférico).
Este curso de água – o mais importante recurso natural do territóriosul interior de Portugal – pode permitir, devolvido ao papel de traçode união relevante entre estes 4 municípios, o crescimento de umaestratégia integrada para o desenvolvimento integrado desta zona, emque o turismo sustentável pode ser o alicerce para um crescimentoeconómico e socio-demográfico essencial ao seu futuro.
A interligação entre estes quatro municípios pode ainda, pela adiçãosuperlativa dos seus recursos, permitir a saída do actual quadro decondições, estreito e pouco diversificado, para um modelo maisintegrado que tira partido dos recursos naturais e culturais de formamais sustentável, permitindo corresponder a um leque de interessesmais variado, o que lhe dará maior visibilidade junto de audiênciasmais diversificadas, e permitirá um equilíbrio mais homogéneo das suasvalências e infraestruturas. Equilíbrio que resulta apenas dadinamização da sua complementaridade, como adiante se detalhará,juntando a capacidade da infraestrutura à oferta patrimonial ecultural, o lazer com o enriquecer (culturalmente falando) e criandoprodutos que, pela sua originalidade e diversidade, obrigam osvisitantes a permanecer neste destino (enquanto conjunto… UMA PORCARIAISTO
O desenvolvimento do turismo nos concelhos mais no litoral teve comoresultado a criação de uma maior infraestrutura de acolhimento,principalmente no alojamento, e na sua tipologia; nos concelhos do interiorhá um número muito mais pequeno de camas em oferta (só cerca de 5% do totalcontabilizável neste território), e numa tipologia ligada principalmente aoturismo rural. Existe também uma diferença em termos de sazonalidade, que émais expressiva na zona do litoral (no Verão, como é evidente) e maisrepartido no interior.
O clima é de grande amenidade ao longo de todo o ano, com a excepção de umreduzido número de dias, em todo o território, dando-lhe condições, nesteparticular, excelentes para a prática desta actividade de lazer e recreio.
…. Os recursos (elementos naturais, culturais, histórico-patrimoniais,económicos, educativos e institucionais) constituem a principal componenteda oferta, que através da sua atractividade estimulam a procura no mercado;porém, para que estes recursos possam constituir um produto turístico, teráde existir um conjunto de infraestruturas básicas e específicas de suporteà actividade turística. Para que o produto turístico assuma um nível dequalidade e sustentabilidade aceitável, será necessária a integração equalificação das diferentes componentes da oferta turística.
BARREIRAS NO BAIXO GUADIANA isto na caracterização do território ISTO PARAA TAL PARTE QUE VAI COPIAR O INDICE DO CAP ANTERIOR, dificuldades, custo ebenefícios e tal
Acredita-se que o turismo pode ser utilizado como uma ferramenta pararesolver problemas como o desemprego e a pobreza (escassez de recursos,COMO O Baixo Guadiana). A participação comunitária é geralmente umacomponente necessária para um bem sucedido desenvolvimento turístico de umdeterminado destino, uma vez que existe uma relação simbólica entre aparticipação comunitária e o desenvolvimento turístico- BARREIRASOPERACIONAIS BARREIRAS ESTRUTURAIS BARREIRAS CULTURAIS
O turismo está, hoje, muito presente nas expetativas de
desenvolvimento deste território. Daí o evidenciarmos nesta
caraterização. A tradição turística do algarve, a ligação do rio
Guadiana com o mar e tudo o que lhe é associado, a gradual
procura deste território por segmentos turísticos como o
cultural, científico, o birdwatching, o cinegético, a par da
recente instalação do aeroporto de Beja, antecedida da criação
do maior lago artificial da Europa: Alqueva, acalentaram e
acalentam a esperança de que os recursos que o território detém
possam constituir, pelo turismo, boas razões de desenvolvimento.
De facto, a zona do Baixo Guadiana é bastante diversificada
quanto à oferta turística, desde logo porque se estende da costa
ao interior, colocando esta área com reconhecida riqueza
histórica, cultural e ambiental e gastronómica como potencial
destino de visitantes. De caraterísticas ímpares, dispersas
pelos quatro concelhos, encerram toda uma riqueza que, uma vez
valorizada e dinamizada, poder-se-á afirmar como
transversalmente estruturante de uma boa parte do processo de
desenvolvimento deste território. É consensual entre os atores
locais que as atividades turísticas podem desempenhar um papel
importante neste território, desde que equacionadas tendo
presente uma avaliação das suas potencialidades e restrições,
elaborada a partir de uma análise compósita dos vários recursos,
interesses e valores e numa perspetiva de bottom-up e de
sustentabilidade. Assim, e no que respeita à análise da oferta
turística da região do Baixo Guadiana, podemos verificar que não
existe um produto turístico associado a esta região como um
todo, antes, cada município tem a sua estratégia turística
consoante os recursos que disponibiliza. No entanto, os
municípios do algarve, associados na Associação ODIANA,
articulam muita da promoção, particularmente externa, do
território, sobretudo por via de projetos comunitários.
A atividade turística no território do Baixo Guadiana e,
portanto, o atual “modelo” de desenvolvimento, neste setor, pode
ser definido em linhas gerais por duas características que o
definem e marcam substancialmente:
- A existência de duas áreas distintas, que correspondem a uma
área costeira e cujos principais expoentes são a cidade de Vila
Real de Santo António e, em menor medida, Castro Marim, os quais
desenvolveram um paradigma de turismo de sol e praia, que ainda
atua como o principal foco de atração para os turistas;
- Uma zona de interior composta pelos restantes municípios,
Mértola e Alcoutim (e uma parte - o interior - de Castro Marim)
com um diferente perfil de turismo, que atuam como oferta
complementar para os destinos acima mencionados, sendo que
Mértola, representa só por si, especificidades de atração,
particularmente no segmento histórico e científico.
Podemos assim encontrar uma divisão da oferta turística entre os
municípios do interior e os do litoral em que Mértola e Alcoutim
são os que mais disponibilizam um tipo de turismo cultural e
histórico, rural, náutico, cinegético, natural e ecológico,
assente no património histórico e arqueológico, assim como na
paisagem e biodiversidade nela existente. E a excelência
cinegética reforça também atratividade turística destes
concelhos. Se bem que ainda muito de passagem e de
excursionismo, o turismo assume um papel crescente no
território, particularmente em Mértola onde, mercê do trabalho
de investigação e valorização patrimonial de várias décadas, a
vinda de turista é propositada.
Já os concelhos de Castro Marim e Vila Real de Santo António
oferecem um tipo de turismo maioritariamente de recreio e lazer,
caraterizado pelo carismático sol e praia, um turismo como de
permanência, em que os visitantes ficam alojados durante um
período de dias considerável, por norma entre uma semana e um
mês.
Neste contexto, o rio Guadiana (adiante aprofundaremos um pouco
a singularidade e importância do rio para este território), o
principal recurso natural da área e eixo vertebral do território
que historicamente tem desempenhado um papel de charneira e
representa hoje uma oportunidade de implementar uma estratégia
comum de desenvolvimento turístico no BG, que tenha na
sustentabilidade e equilíbrio ambiental e endogeneidade, os seus
principais valores.
Por oposição a modelo de desenvolvimento turístico (ainda bem
vincado) com base numa clara preponderância do turismo de sol e
praia, a estratégia defendida para este território deverá estar
marcada por um desenvolvimento conjunto, sustentável e com um
claro enfoque no turismo integrado no ambiente natural, tendo no
rio Guadiana como recurso fundamental para tal desenvolvimento.
Esta pode ser uma aposta que venha a revelar-se muito
interessante já que, só por si constitui uma boa perspetiva de
desenvolvimento, em particular nas estações do ano intermédias,
e, por outro, pode ser complementar ao sol e praia das costas
andaluza e algarvia, sobretudo se tivermos em conta que as
tendências de procura atuais estão cada vez mais orientadas para
um tipo de turismo mais integrado com o meio ambiente, com a
realização de atividades, conhecendo lugares e interagindo com a
cultura e os costumes dos destinos visitados.
Isso mesmo denota o tipo de estabelecimentos hoteleiros: o
interior apresenta uma clara predominância de estabelecimentos
rurais, significando que a oferta turística está voltada para um
turismo muito menos massificado, mas mais integrado com a
natureza e o variado património cultural e natural da zona
ribeirinha do Baixo Guadiana, particularmente os valores
patrimoniais, recursos naturais e elementos etnográficos, que
representam uma atrativa oferta para realizar múltiplas
atividades: visitas aos sítios relacionados com os recursos
naturais de cada localidade, os castelos e fortificações, os
recursos patrimoniais e etnográficos e as praias, as quais se
podem levar a cabo em todo o território do Baixo Guadiana, já
que mesmo os concelhos do interior têm como oferta praias
fluviais.
Já na zona costeira desenvolveu-se um turismo assente na
existência de praias, com a criação de importantes complexos
hoteleiros, que representam 95,2% da capacidade de alojamento do
território estudado
No entanto, o território do Baixo Guadiana carece ainda de uma
imagem própria nos “mercados turísticos”, pese embora seja
notório um esforço nos últimos anos nesse sentido, mas muito
espartilhado administrativamente. Estas zonas correspondem a um
modelo administrativo de cada município, o que, como temos vindo
a elucidar, não reforça o trabalho conjunto, neste caso, uma
estratégia conjunta de promoção e valorização turística do
território.
O desenvolvimento da região do Baixo Guadiana parece assim,
necessitar de ser entendido como uma tarefa coletiva de promoção
e valorização, implicando a procura de iniciativas “inovadoras”
no plano das atividades económicas e de exploração de recursos,
como o turismo nas suas diversas modalidades, ampliando e
diversificando novos e mais ativos protagonismos locais, através
de parcerias mais operativas e robustas bem como o
desenvolvimento de redes e de laços relacionais fortes, de forma
a procurar posições mais vantajosas no exercício de influência
nos contextos de poder e dos centros de decisão.
e) Envolvimento comunitário no território do BaixoGuadiana
a. O papel da sociedade civil
b. O papel dos diferentes actores sociais
O guadiana como espaço vital IR VENDO ONDE ISTO TUDO DEPOIS ENCAIXA
«o modelo de desenvolvimento deve estar ao nível das novasnecessidades dos turistas, que exigem dos destinos uma maior oferta deactividades e possibilidades de realização de novas experiências. Istodeve-se principalmente a diferentes motivações, desejo deexperimentar, aprender, etc.. No caso da zona do interior, esta é umacaracterística comum tanto para turistas internacionais comonacionais, também, existe um especial interesse em conhecer detalhessobre a zona, cultura, costumes, etc. (…) no caso do território dobaixo Guadiana, o intervalo de possibilidades aumenta notavelmente aocontar com as localidades do interior».
«Na actualidade, o território do Baixo Guadiana carece de uma imagemdiferenciada nos mercados turísticos. Estas zonas correspondem a ummodelo administrativo de cada município, o que seria muito importantecontar com uma estratégia conjunta, que englobasse todo o território,com o fim de poder identificar o modelo de desenvolvimento turístico
de forma singular, facilitando assim o desenvolvimento da oferta e dasua promoção».
«O desenvolvimento da região do Baixo Guadiana deve assim serentendido como uma tarefa colectiva de promoção igual deoportunidades, o que implica a procura de iniciativas “inovadoras” noplano das actividades económicas e da exploração dos recursos, como oturismo nas suas diversas modalidades, implicando a promoção de novose mais activos protagonismos locais, através de parcerias maisoperativas».
VER SE ISTO FICA AQUI, PODE FAZER A LIGAÇÃO COM DADOS RETIRADOS DE JORGE
Para ligar com as coisas do Jorge que ainda têmque ser integradas aqui…GOVERNANÇA LOCAL – estas estratégias devem considerar as implicação es paraaqueles que são afectados localmente pelo desenvolvimento da «renovaçãodemocrática» na governação local, e devem reforçar um entendimento maisgeneralizado sobre a governança, a democracia e a participação. Estesobjectivos departicipação foram concretizados de duas maneiras AQUI VÃODEPOIS APARECER OS RESULTAODS DO TRABALHO DO JORGE atravésde entrevistascom focus grupos com políticos, empresários e com membros da comunidade ecom ong’s… depois através da definição de um plano de acção ISTO QUE AQUIESCREVO SE FOR CAPAZ… NO CASO DO Baixo Guadiana, ainda só se avançou num estudo prévioda opinião pública por grupos representativos. As metodologias e acções concretas para lá chegarainda estão por definir.
A construção do protótipo do Plano de Gestão
INTRODUÇÃO ao plano de gestão. conceitos
ESTA PARTE É PARA A COISA DOS DADOS QUE DEPOIS VOU TIRAR DA TESE DO JORGE
Introdução a qualquer coisa: A participação numa democracia tende a serconsiderada automaticamente como um factor positivo. O argumento paradefender a participação pública chega a ser até mitizado, e a serapresentado como se todas as pessoas fossem a favor dela. Mo entanto, sequeremos efectivamente introduzir a participação no quadro de uma dadoprojecto menos que ir para além desses slogans generalistas, e perceberefectivamente qual é a dimensão desse desejo, e qual é na opinião dos
diferentes grupos de stakeholders. A participação devia estar no centrodaquilo que os municípios são (municipia / com-municipia), mas para sedesenvolverem estratégias concretas é necessário que se faça uma avaliaçãorigorosa às práticas e conceitos actuais. ASSIM SE FEZ NESTA COISA USARDADOS INVESTIGAÇÃO DO JORGE o ponto de partida dessa investigação deve sera determinação do grau de divergência (muitas vezes elevado) entre aperspectiva que o público tem da participação e aquele que possuem ostécnicos e os eleitos no quadro de gestão institucional dos concelhos. Eacrescentar a este a visão das ONG’s, que é intermédia entre o quadroinstitucional oficial e a população, e a visão empresarial, que é afectadapor um marcado individualismo e/ou corporativismo. Todos estes grupos podemter uma visão cínica da participação mas mesmo nesse caso existe sempre umavisão diferente, em cada um deles, sobre quem deve ser responsabilizado poressa falta de participação.
É difícil negar que um dos pontos de percepção iniciais, em todos osgrupos, relativamente à participação é instrumental: o tempo e esforçoexigido a cada um para participar vai trazer algum benefício adequado? Masnão deixa de existir uma janela de oportunidade de, conseguido um primeiropasso, de demonstrar que existem interesses mais vastos e que existemoportunidades decorrentes desse processo de participação. No geral, e issotambém é comum, na maior parte das respostas obtidas, existe uma noção dede que se deve investir na educação para a cidadania e em mais informação,aspectos considerados como facilitadores da participação.
Políticas 14
“Da mesma forma, espaços e experiências turísticas não ocorremespontaneamente, mas evocam o desenvolvimento de um espectro de oportunidades deturismo que dê resposta às várias exigências dos turistas (Butler and Waldbrook,1991). A criação de um conjunto adequado de regras para o turismo rural exigeuma selecção e manipulação deliberada dos elementos do ambiente rural de formaa fornecer diferentes estilos e tipos de uso ao visitante.” (PIGRAM, 1993,163)
a) Recolha de dados relativos aos diferentes stakeholders(as visitas vem aqui também)
ESCOLHA DOS STAKEHOLDERS (para cruzar com o que está na tese do Jorge)
Como identificar os stkh (esta estrutura para justufucar as categoriasque «estudámos» Tese J
- divisão em stkh chave ou em pequenos grupos coesos
- agrupados de acordo com o seu back ground (político, social,ambiental, etc)
- divisão entre público geral e profissionais
O publico profissional: -indivíduos, grupos ou organizações que estãoenvolvidas no turismo e/ou no desenvolvimento espacial da região doprojecto; ou, a somar a estes: peritos em diferentes campos (porexemplo, turismo , desenvolvimento regional, legislação, conservaçãode monumentos históricos ou naturais, etc.
O publico geral: - indivíduos, grupos e organizações que não estão nemdirectamente envolvidas no sector turístico nem são imediatamenteafectadas pelo turismo. A sua participação no processo é extremamentoeimportante, Como o turismo é uma ferramenta económica e social muitorelevante, para garantir e/ou aumentar o nível de vida da população,comunicar com o público e garantir a sua consulta no que se relacionacom o desenvolvimento tur´sitico da sua «sua» região é muitoimportante para o sucesso estratégixo pretendido.
Usar esta divisão no meu plano, na sugestão das acções de continuidade. Salientar que osestudos são mais minuciosos no público profissional do que no geral (população)….. como asugestão é fazer o planeamento a partir dfos stkh especializados que a região já tem (comonão é do 3º mundo…) este problema da não identificação não se coloca….a questão maispertinente aliás é a da fairness e da trust – confiança transparência – para se conseguir oCONSENSO é o que mais falta neste território…a haver consenso, seria fácil estruturarestrategicamente este território e ele assim teria mais capacidade / uma riqueza potencialmuito maior.
OS stake holders podem contribuir com asua sabedoria – tese do Jorge –útil fonte de informação: no decurso da construção da visão, e dosobjectivos, assim como durante as etapas de gestão de impactos, demonitorização e aprovação, os stkh têm oportunidade de desenvolver assuas prórias ideias e de decidir do ruo para o turismo no quadro dasua região. Isto fagvorece a posse da estratégia, a identificação, porparte dos stkh e facilita o seu compromisdo p+ara como desenvolvimentodo plano.
a. Comunidades locais
b. Empresários
c. Administração pública
d. ONG’s e outros actores locais
b) Síntese dos painéis de peritos, focus.grupo econferências de consenso
c) Análise das análises SWAT pré-existentes: a resoluçãode obstáculos chave e a promoção de oportunidadescruciais
d) Estrutura do Plano de Gestão
a. Pilares do Plano (ideias chave)
b. Orientações estratégicas
c. Objectivos específicos
e) Programação
a. Linhas temáticas
b. Acções
c. Calendarização e recursos necessários(ferramentas operativas)
MUITO MUITO MUITO IMPORTANTE
Planeamento de longo prazo – ou planeamento estratégico
- objectivos vastos, mas realistas para o plano de gestão turística
- intervalo temporal: cinco a dez anos
Planeamento de médio prazo – ou planeamento táctico
- define os passos de médio prazo para se alcançarem os objectivos delongo prazo
- intervalo temporal: até cinco anos
Planeamento de curto prazo – ou planeamento oeracional
- actividades especificas necessárias se se querem cumprir osobjectivos de médio prazo
- intervalo temporal: um ano
Modelos e Metodologias da avaliação
a) Pressupostos da avaliação;
AVALIAÇÃOESTES INTRODUÇÃO DA AVALIAÇÃO
Políticas 1“Tendo em funcionamento um sistema de monitorização, pode-se transformar um conceito confuso de turismo sustentável num conjuntoclaro de objectivos mensuráveis com o qual o progresso é avaliado, a informação é gerada, o conhecimento amplificado e é tomada uma acção positiva para ajudar na transição para um turismo mais sustentável.” (MILLER e TWINING-WARD, 2000:51).
Políticas 2 “Desde a Cimeira da Terra, no Rio, muitas organizações, lideradas pelas associadas com as Nações Unidas, começaram a desenvolver indicadores como ferramentas para monitorizar o progresso feito no sentido de atingir os objectivos gerais de desenvolvimento sustentável. A Agenda 21, o documento mais importante saído da Cimeirado Rio, enfatiza consideravelmente a necessidade de monitorizar o desenvolvimento sustentável usando indicadores.” (MILLER e TWINING-WARD, 2000:52).
Políticas 3“Foi só na segunda metade da década de 90 que um número cada vez maior de investigadores do turismo começaram a expressar a necessidade de desenvolvimento de indicadores mais abrangentes para o turismo sustentável que estabeleçam a importante ligação entre turismoe processos económicos, ambientais e sociais mais vastos no destino (Mowforth and Munt, 1998; Swarbrooke, 1999; Sirakaya et al., 2001).” (MILLER e TWINING-WARD, 2000:53)
Políticas 4“Ao longo dos últimos anos, várias publicações têm discutido as especificidades técnicas do desenvolvimento de indicadores, nomeadamente Sirakaya et al. (1999), Miller (2001) e OMT (2004), mas a maioria dos autores adoptam uma abordagem provinciana dos indicadores, concentrando-se unicamente na industria do turismo e
nos recursos de que esta depende. No entanto, a OMT talvez tenha feitomais pelo avanço no estudo dos indicadores do turismo sustentável do que qualquer outro organismo. De uma abordagem com medidas de impacto restrito adoptada nos primeiros estudos da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a última adição ao seu trabalho, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Turismo para Destinos Turísticos, é muito mais abrangente.” (MILLERe TWINING-WARD, 2000:53)
Políticas 5 e 6“Meadows (1998) diz que indicadores mal escolhidos, medidos inadequadamente, adiados ou tendenciosos, podem causar sérias anomalias nos sistemas de monitorização que resultarão em reacções ou muito fortes ou muito fracas levando a uma tomada de decisões ineficaz. “(Miller e Twining-Ward, 2000, 56). “…indicadores devem ser entendidos como um suplemento, e não um substituto, para um estudo científico e rigoroso dos processos de desenvolvimento do turismo.” (MILLER e TWINING-WARD, 2000:56)
AVALIAÇÃO ----- Políticas 7 “É claro que os indicadores não podem serum fim em si mesmo; são uma abordagem técnica a um problema humano e como outras técnicas precisa de uma gestão cuidada e apropriada. No entanto, quando os indicadores são escolhidos cuidadosamente para reflectir as especificidades do local contemplando as partes interessadas no destino, adaptados à medida que que essas especificidades vão mudando ao longo do tempo e os resultados usados para orientar as políticas para o turismo, denotamos que o acompanhamento pode se inestimável como uma abordagem para o turismo sustentável.” (MILLER e TWINING-WARD, 2000:57)
Políticas 104“O processo estruturado de «aprender fazendo» envolve muito mais do que o mero incremento de políticas uma vezque exige melhor monitorização e dar respostas a impactos de gestão inesperados. Todas as iniciativas planeadas requerem medidas concretas de desempenho contra as quais os resultados previamente esperados possam ser confrontados, os erros possam ser reconhecidos, e as alterações feitas. Dentrop do contexto das abordagens científicas, estes critérios de desempenho podem tomar a forma de hipóteses e(ou de previsões relativas aos impactos de acções alternativas. Enquanto tal terminologia possanão ser aplicada às situações, o esforço deliberado para estabelecer indicadores de mudança e para continuamente experimentar e sistematicamente aprender a partir da experiência é a abordagem apropriada.” (REED, 1999:337)
a. A avaliação da participação pública na elaboraçãode políticas públicas
IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO
O desenvolvimento da avaliação participativa convida-nos a consideraruma nova forma de avaliação; não como um mero exercício em queavaliadores, externos ou internos, simplesmente entrevistas gruposalvo e descobrem «a verdade», mas sim como um processo de mútuaaprendizagem. Esta abordagem sugere que a avaliação deve ser umprocesso de auto-reforço e de construção de consenso e portanto deveser uma via de construção de actividades sustentáveis onde os actoreschave têm uma palavra a dizer relativamente à aplicação dosresultados. As questões principais nestas metodologias são a definiçãode quando, porquê e como é que os diferentes stakeholders intervêm noprocesso de avaliação. O seu envolvimento pode ir desde a resposta asimples quesitos de avaliação até mesmo à definição das própriasquestões que devem ser colocadas, analisando respostas dadas e fazendouso desses mesmos resultados. A avaliação participativa requer umsubstancial investimento na construção de capacidades entre osparticipantes e a existência de um suporte metodológico correcto.
A necessidade de envolver os cidadãos no desenvolvimento da spolíticaspúblicas é cada vezmais recinhecido como um passo necessário parauamentar e manter a confiança nas instituições públicas e nosprocessos de tomada de decisão. No entanto, a confiança do público naparticipação publico pode ser afectada se tais esforços não sãoavaliados considerando: como são conduzidos; a transparência doprocesso; e o impacto do desenvolvimento dessas políticas. Qualqueravaliação coloca dificuldades, dependendo desde logo de quem conduzessas mesmas etapas, de quem é avaliador, de quem as organiza oupatrocina. Apesar dessas dificuldades, as conclusões que hoje já sãopssiveis de tirar dos casos estudados apontam para que a consultapermanente e participada do público é essencial para assegurar umaqualidade permanente dos processos e a confiança do público nosresultados obtidos.
PARTICIPAÇÃO – AVALIAÇÃO
Só causando impacto é que a participação pode conseguir curar a separaçãoexistem entre aqueles que elaboram políticas e os cidadãos que tem sidogeralmente identificada como o mal-estar das democracias europeias.
Essa avaliação pode tomar a forma de consultas, onde os decisores pedem aoscidadãos para contribuir com os seus conhecimentos para resolverem umproblema, e com a inclusão directa de cidadãos na construção de soluçõesque os comprometem (co-governança).
b) A avaliação da participação comunitária em projetos habitacionais
c) Uma questão freqüentemente colocada na análise da participação comunitária diz respeito à mensuração de seus alcances e de sua intensidade. As organizações comunitárias variam na forma através da qual trabalham,no nível de mobilização que alcançam, nos objetivos queestabelecem e na sua capacidade de redistribuir oportunidades e recursos em favor dos grupos que elas representam. Devido à diversidade de práticas de participação comunitária, torna-se difícil defini-la, analisá-la e, mais ainda, avaliá-la. No entanto, o estabelecimento de um referencial teórico para esta análise é fundamental.
d) Paul (1987) realizou um estudo sobre a experiência do Banco Mundial em projetos nas áreas de habitação, saúdee nutrição e irrigação. Foi selecionada uma amostra de quarenta projetos que incluíam, de forma potencial, a possibilidade de participação comunitária. Nem todos osprojetos, no entanto, incorporaram a participação comunitária em suas estratégias e nem todos aqueles quea adotaram obtiveram resultados totalmente satisfatórios. Para os propósitos desse estudo, Paul propôs um referencial teórico cujo foco se voltou para os objetivos, a intensidade e os instrumentos da participação comunitária e para a inter-relação entre estes componentes. É este referencial que apresentaremos a seguir.
e) De acordo com este autor, participação comunitária podeser vista como um processo que serve a um ou mais dos seguintes objetivos:
f) a) Empowerment: em uma tradução livre, a palavra traz osignificado de aumento de poder, ou, em uma tradução literal, seria “empoderamento”. O alcance deste objetivo leva a uma distribuição eqüitativa de poder e a um alto nível de consciência e de força política. A participação comunitária seria, desta forma, um meio dehabilitar pessoas a iniciar ações baseadas em sua
própria iniciativa e organização e, assim, influenciar os processos e os resultados do desenvolvimento.
g) b) Capacity building: seria a capacidade de implementação ou gerenciamento de um projeto. Este objetivo inclui o compartilhamento de tarefas relacionadas à administração do projeto, através da assunção de responsabilidades operacionais, como, por exemplo, seu monitoramento ou sua sustentação.
h) c) Eficácia: a participação comunitária pode ainda resultar em um aumento da eficácia do projeto, ou seja,quando o envolvimento dos usuários contribui para um projeto mais adequado, um projeto no qual os serviços propostos correspondem e atendem as necessidades dos usuários.
i) d) Eficiência: ocorre quando a participação comunitáriaé utilizada para facilitar o fluxo do projeto através da promoção de consenso, da busca de cooperação e interação entre os usuários e entre eles e as instituições responsáveis, com a finalidade de reduzir atrasos, minimizar custos e manter metas e prazos estabelecidos.
j) e) Compartilhamento de custos: dá-se quando a participação comunitária significa que os usuários deverão contribuir com dinheiro ou mão de obra ou assumir a manutenção do projeto, visando o barateamentode seu custo.
k) Estes objetivos podem sobrepor-se em situações reais, uma vez que a participação comunitária pode ser utilizada para o alcance de um ou de todos eles. Um objetivo como empowerment incorpora necessariamente alguns dos outros. Já a busca da eficiência não leva necessariamente a uma situação de empowerment. Os objetivos relacionam-se a outras dimensões de um projeto tais como intensidade e instrumentos.
l) Intensidade pode ser definida, um tanto vagamente, comoos níveis de envolvimento dos usuários em um projeto particular ou em uma particular etapa de um projeto. Podem ser identificados quatro níveis de intensidade, em ordem crescente: compartilhamento de informação, consulta, tomada de decisão e iniciativa de ação. Eles podem variar de acordo com a natureza e o desenho do projeto e conforme as características dos usuários.
m) Instrumentos são aqui entendidos como agentes cujas funções têm por finalidade promover a organização e a manutenção da participação comunitária. Estes agentes
podem ser agrupados em três categorias: trabalhadores da instituição responsável pelo projeto, trabalhadores comunitários e grupos de usuários.
n) A análise dos objetivos e dos resultados da participação comunitária traz à tona a questão da possibilidade dela promover ou não a transferência de poder e alcançar melhorias reais nas condições de vida dos usuários envolvidos. De acordo com Hall (1988) muitos são os obstáculos para o alcance da participaçãoe alguns limites podem ser identificados e relacionadosa aspectos operacionais ou estruturais.
o) Aqueles que compreendem a participação comunitária apenas como meio para facilitar o fluxo de um projeto ao longo de linhas previamente estabelecidas, tendem a superestimar os limites operacionais demonstrando uma percepção essencialmente instrumental ou mecânica de participação. Aqueles que defendem que a verdadeira participação contempla o compartilhamento do poder e a tomada de decisões enfatizam os limites sócio-políticosou estruturais. Estes obstáculos incluem um sistema desigual de posse de terra, uma distribuição desigual de renda e a prevalência de interesses que perpetuam asdesigualdades sociais.
p) Tem-se, portanto, que a participação comunitária pode sempre apresentar, ainda que potencialmente, dimensões que vão além do acesso a benefícios materiais e do alcance de objetivos imediatos. Uma abordagem não dicotômica entre meios e fins e a ênfase na participação comunitária em todas as fases do ciclo de um determinado projeto pode direcioná-la para a consecução de objetivos cada vez mais amplos e mais complexos.
a. Os princípios éticos da avaliação
b. A participação dos cidadãos e dos stakeholders naavaliação
Participatory evaluation is a process of self-assessment, collective knowledgeproduction, and cooperative action in which the stakeholders in developmentinterventions participate substantively in the identification of the evaluation issues,
the design of the evaluation, the collection and analysis of data, and the actiontaken as a result of the evaluation findings. By participating in this process, thestakeholders also build their own capacity and skills to undertake research andevaluation in other areas and to promote other forms of participatory development.Participatory evaluation seeks to give preferential treatment to the voices anddecisions of the least powerful and most affected stakeholders – the localbeneficiaries of the intervention. This approach to evaluation employs a widerange of data collection and analysis techniques, bothqualitative and quantitative,involving fieldwork, workshops, and movement building (Jackson and Kassam,1998:8)
q) Execução da avaliação:
The point here is not to make judgments about whose perspective is “right”. We canappreciate how each point of view might make sense. Itall depends on yourassumptions. The lesson is that a performance-measurement framework for any publicprogram is only going to be meaningful in relation to assumptions about ultimateoutcomes. For any given program, different assumptions about ultimate outcomes implydifferent logic models and, therefore, different setsof performance indicators.
a. Análise de indicadores observáveis
i.monitorização de realizações
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Um dos desafios mais relevantes é o de se verificar se os objectivosdas políticas traçadas foram efectivamente atingidos e com eficiência.A avaliação precisa de assentar num modelo de monitorização, queenvolve um acompanhamento continuado dos processos em curso, quepermite a afinação e ajustes na estratégia em curso. A monotorização éuma forma de avaliação integrada que se revela sempre mais ajustada emprocessos de natureza social que são sempre susceptíveis de mudançasao longo dos mesmos, e que assim podem ir sendo corrigidos nos seusprocessos e desenvolvimento estratégico.
ii.gráficos de resultados e impactos
iii.avaliação da utilização de recursos(análise qualitativa: investimentos v.impactos [económicos, sociais e culturais]
The concept of 'public value' has been proposed as a step forward from these tools, offering a"rough and ready yardstick against which to gauge the performance of policies and publicinstitutions, make decisions about allocating resources andselect appropriate systems ofdelivery"6.This approach suggests a focus on outcomes, services and trust - far beyond the simple'efficiencies' of previous measurement regimes, and aiming to achieve the best balance ofaccountability, innovation and efficiency. In this model, the focus is less on simply spendingmore, or cutting expenditure (as previous political models would have it), but rather "how wellpublic resources are spent". In other words, not just looking at how much it costs, but ratherwhat is achieved with those resources, so a much closer relationship is sought betweenspending / investment and achievement. However, although public value is clearly a usefulconcept for getting beyond the previous general principles governing public expenditure, it
cannot easily be applied in practice to assessing the costsand benefits of participation.
b. Reguladores ISTO AQUI VAI TER UNS QUADROS, TEMQUE SER DESENHADOS
i.Qualitativos (diversidade positiva)
democracy (and participation) will always have moral and philosophical value
attached to them, which cannot be subject to such measurement. Yet evidence does already
exist that can be built upon: Involve's review found research showing that Swiss cantons with
more democratic rights on average had about 15% higherlevels of economic performance;
Robert Putnam's famous research in Italy showed how social capital (generated from social
networks including those resulting from various forms of participation) affected democratic
engagement and economic performance; and Nobel economics laureate Amartya Sen has
shown the correlation between democracy and eradicating famine.
ii.Quantitativos
In summary, the arguments for measuring the costs andbenefits of participation are:
• To build the evidence base on the actual costs andbenefits of participation.
• To improve practice by identifying the mosteffective methods for achieving the desired
outcomes.• To avoid repeating costly mistakes.• To improve the planning and delivery of
participation (e.g. better budgeting and clearerobjectives).• To demonstrate the value of participation.In addition to these practical reasons for better
measurement, there are more general ethicaldrivers, including:• Accountability: much participation is funded by
public money, and continuing
investment needs to be justified appropriately.• Principles of openness and transparency: this is one
of the principles of goodparticipation and essential in managing participation
well.
c. Dinâmicas de correcção do planeamento e práticasassociadas
CENAS DA AVALIAÇÃO DO EMPODERAMENTO
A avaliação, portanto, precisa considerar medidas ou indicadoresde mudança, tanto dos processos e seus resultados, comodaqueles que se estendem dos resultados de mudança no nívelindividual ao nível comunitário e da sociedade. Muitas dessasmedidas têm sido desenvolvidas, incluindo a escala de empoderamentopsicológico de Zimmerman, medidas de capital socialde Putnam e colegas, a teia (spiderweb) de participação de Rifkinpara programas de desenvolvimento comunitário ou medidasde equidade de gênero do Banco Mundial. Outras, como o conhecimentode quais fatores de participação são mais úteis paraa criação de mudança política, ainda precisam ser exploradas emais bem identificadas.
MUITO IMPORTANTE ISTO AQUI sobre a avaliação dos parâmetros
aavaliação participativa também demanda uma etapa adicional decriação de estratégia de avaliação coletiva, baseada nas necessidadeslocais e contextuais; e, frequentemente, exige que sejaoferecida capacitação aos membros da comunidade para quepossam participar de todas as etapas da avaliação.
BENEFÍCIOS DA AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA In terms of the benefits of PE, practitioners of participatory evaluation report that this approach“democratizes and enriches the assessment of development. At the same time, participatoryevaluation enhances the capacity of interventions to achieve impacts that benefit the stakeholdersengaged in the process” (Jackson and Kassam, 1998:2). Better, more accurate knowledge isproduced about development performance by PE than by non-particpatory methods, PE
proponents argue.
The process of participatory evaluation can also develop orenhance the community’scapacity to recognize the various strengths, weaknesses, and alternatives in project8activities. This enables them to plan for the future and toassert their interests in futureactivities affecting their well-being. In this way, participation, and the capacity buildingit encourages, can make an essential contribution to the much sought-after sustainabilityof projects and programs (Cummings et al, 1997:4).
Scaling up participatory evaluation “requires effective champions in the institutions themselves,leaders who have the capacity to take the risks of creatinga space for creative questioning,learning, and conflict. It also requires certain levels of social capital or at least a commitment bygroups to work together despite differences. It requires creating and supporting withincommunities and organizations, new cultures and environments where learning both for programaccountability and for broad community and institutional change can occur” (Gaventa et al,
DIFICULDADES / CUSTOS DA AVALIAÇÃO PARTICIPATIVAFrom a development agency perspective, one of the major costs of participatory evaluation istime. Writes Whitmore (1998:98): “it cannot be rushed. We can condense human learning andthe change process just so much. The problem is that we operate in a system that tends todemand ‘measurable results’ in the short term. Even administrators committed to participatoryapproaches fins themselves having to convince superiors to hold off and allow the process towork.” Institutional self-assessments, or meso-level PE processes, take a particularly long time,and require the extended involvement of the staff, members and other constituents of the institutuion
There is also the cost of the evaluation studies themselves. It is likely that external consultants orfacilitators must be engaged to help animate the process. Foreign or domestic, they must be paidin fees, though the fee rates of the former are almost always double or triple that of the latter (notto mention the greater foreign-consultant travel costs). Further, local field workers and researchassistants may also be needed; this represents another costin fees, transport and accommodation
Benefits and Costs from a Citizen PerspectiveSo far, the discussion has centred on the benefits and costs of participatory evaluation as seenfrom the point of view of donor agencies, governments and NGOs. There is another importantperspective that must be brought forward: that of project beneficiaries, the “end users” ofdevelopment services, the ultimate “customers” of projects.It is recognized here, however, that the development community’s terminology is inadequate inreflecting the reality and intent of participatory development. The term “beneficiary” is asomewhat patronizing label. Rather, today’s participatory approaches seek to empower poorcitizens, with “voice” and “choice”. In fact, “citizen” is a much better term than beneficiary; sois “primary stakeholder,” which is used in some quarters. These more appropriate terms will beused here.Development results mean a great deal to citizens who live in poverty. A new school, clinic,road, or access to credit and other inputs, can literally change the lives of the members of acommunity or household. In fact, citizens are probably the most results-oriented stakeholders inany project network. Generally speaking, they are little concerned with bureaucratic systems anddevelopment strategies. Instead, they want concrete, usefulresults – as rapidly as possible.
Consequently, their participation in PE processes is predicated on an understanding that PE willlead to, or enhance, development results. Otherwise, it makes little sense for citizens tocontribute their time and ideas. The opportunity costs aretoo great.
COMPARATIVE STAKEHOLDERS ANALISYS - A different approach iscost-effectiveness analysis, which “refers to the evaluation of alternativesaccording to both their costs and their effects with regardto producing some outcome or set ofoutcomes” ... “When costs are combined with measures of effectiveness and all alternatives canbe evaluated according to their costs and their contribution to meeting the same effectivenesscriterion, we have the ingredients for a CE analysis”( Levin, 1983: 17-18).
Moreover, cost-results analysis can and must be applied from the perspective of each separatestakeholder group. In effect, in practice, each stakeholdergroup in a poverty-reduction initiativeconducts, informally and continuously, its own cost-resultsanalysis – on its own terms. Projectsthat do not deliver the real outcomes that matter to each of the stakeholders become viewed asunaffordable ventures, stakeholders withdraw from their engagement, and projects rapidly losethe support and momentum derived from the alliances and coalitions that usually holdinterventions together.
Areas for Future ResearchThe foregoing suggests some possible areas for future research on the costs and benefits ofparticipatory evaluation, and of participation in poverty reduction interventions in general. Theseareas are at the nexus of participation and results:1) Citizen-oriented cost-results analysis. Detailed research is neededon how various groups of
primary stakeholders – citizens – assess the costs and results-payoffs of their participation atdifferent points in the intervention cycle–in both qualitative and quantitative terms. How dodifferent categories of primary stakeholders judge the results that matter to them against theircosts?2) Return on citizen investment. To what extent do the citizens who are supposed to be thebeneficiaries of development projects receive a return on their direct investment of time,money, ideas and other resources? How do they judge an acceptable rate of return in thisregard? How can external agencies understand and track these decision-processes? Whatrates of return are possible to achieve, in what sectors, and under what conditions?3) Valuing the intellectual capital of citizens. If citizens often exertthe greatest influence overproject success, how should their time and knowledge – their intellectual capital – be valuedin comparison to other stakeholders?3) Citizen-defined indicators of development results. Within and across sectors, what sorts ofresults indicators are most important to primary stakeholders? To what extent are theseindicators aligned with (or divergent from) those of local and external development agencies?How can such indicators be integrated into the evaluation and monitoring processes ofdevelopment interventions?3) Reward systems for development professionals. What reward systemsand particularincentives are most effective in encouraging officers in development agencies to facilitate13and support participatory processes at various points in the intervention cycle? Morespecifically, how can salaries, bonuses, and other incentives be linked to officer behaviourthat encourages participatory anti-poverty action?
3) Agency reporting on development results. How can development-agency reporting systems,indicators and protocols regarding development results and effectiveness achieve areasonable and insightful balance among the interests of primary stakeholders and theinterests of other stakeholders in the intervention network?There are other issues, as well, which could be addressed in future work on the costs andbenefits of participatory evaluation.
10. Participatory research, monitoring and evaluationResearch, monitoring and evaluation are essential functions of any developmentproject. Properly performed, they help donors, governments and implementation agencies to identify project constraints and beneficiary needs, to monitor progress toward project objectives and to evaluate results. Since one of the main aims of participatory projects is to develop the rural poor's own capacity to identify and solve their problems, they must be involved directly in all phases of this process.
In PPP, research, monitoring and evaluation are intended primarily to meet the information needs of the participants and solve concrete problems they confront. The approach is viewed as a participatory learning tool that helps groups to strengthen their problem-solving capacity and achieve self-reliance.
Participatory action research
A basic tenet of the PPP approach is that, in planning and implementing participatory projects, field investigators should involve the rural poor in collecting and analysing information on social and economic conditions, on constraints affecting the poor and their organizations, and on the community as a whole. Only through participatory action research of this kind can the project learn about the problems of the poor and help them to find solutions.
Initially, the main research objectives are to select the project area and - within these, village-clusters - to identify the rural poor and to determine whether they are involved in development efforts, especially through existing local organizations. Research is then conducted to assess potentials for group formation, to plan and implement group activities and to develop appropriate training programmes.
During project implementation, ongoing participatory research aims at solving concrete problems and providing data for field workshops, developing and sustaining a workable participatory monitoring and evaluation system, carrying out case studies of rural poor groups and developing appropriate technologies for project participants.
Tools for participatory action research are simple household and village surveys conducted periodically, mainly by GPs in collaboration with participants. These surveys will help to establish economic and social benchmarks, which highlight the status of thebeneficiaries in the initial phase of the project and allow progress to be evaluated.
Group discussions with villagers are useful in familiarizing project staff with the local people and their situation, and in enhancing awareness of the villagers' problems.Part of this action research is a careful and systematic recording of GPs' findings, particularly of steps taken by participants to form their groups.
Participatory monitoring
Participatory monitoring is a process of collecting, processing and sharing data to assist project participants in decision making and learning. The purpose is to provide all concerned with information as to whether group objectives are being achieved. Implementing agencies and donors also require data on progress toward overall project objectives.
A workable participatory monitoring system should, therefore, be based on a multi-level approach that harmonizes the different - and often competing - information needs of those involved in the project and provides for regular meetings at each level to make use of the data generated.
The main tools for participatory monitoring are:
At group level, group log-books, meetings, ledgers and accounts
At GP level, GP diaries and log-books, and meetings to monitor group progress
At project level, project records and accounts, sample surveys, field visits, preparation of periodic progress reports and GP meetings to review their progress
At donor level, external monitoring and workshops.
The information gathered should indicate shortfalls in project performance anddiscrepancies between objectives planned and those achieved. This information will be used in modifying project objectives and rectifying project deficiencies.
Participatory monitoring should be conceived from the beginning as part of the group learning and action process. This means that baseline and benchmark data, as well as data on inputs, outputs, work plans and progress made in group development, should be recorded, discussed and kept for later use.
Groups should keep records of their meetings and of major problems discussed, decisions made and actions undertaken, using elementary standardized forms contained in simple log-books. Each group should also learn a minimum of bookkeeping in order to record their loans and savings. The systematic collection of data on loans and repayment, in conjunction with simple cost-benefit analyses, gives essential insights into the capacity of groups to manage their affairs and improve their conditions.
Participatory evaluation
On-going evaluation is the systematic analysis by beneficiaries and project staff of monitored information, with a view to enabling them to adjust or redefine project objectives, policies, institutional arrangements, resources and activities, where necessary.
The main evaluation tools are:
GPs' log-books summarizing group records, and diaries containing personal observations on the process and results of beneficiary participation
monthly review and evaluation meetings of GPs
quarterly group and inter-group evaluation sessions
newsletters in the local language based on information provided by the groups
evaluation studies and surveys
field workshops that allow participants, project staff and concerned outsiders toassess the project fully.
These tools should all be used to promote a constant two-way flow of information between groups and the project staff.
The groups should also be encouraged to evaluate the performance of the delivery system.This helps groups to "talk back" to the delivery system by, for example, focusing on shortcomings and identifying bottlenecks. The results may then be brought up in field workshops.
Evaluation done in this way stimulates critical awareness and motivation for better group self-management. Self-evaluation results need to be presented systematically to other project participants at local and higher levels.
Evaluation should include not only tangible and measurable results of group activities but, as much as possible, spill-over benefits that facilitate the group members' economic, social and human development. It should consider, for example, progress in acquiring verbal and writing skills, in presenting ideas logically and clearly, in overcoming timidity when dealing with officials and in overcoming anti-social habits, such as excessive drinking and gambling.
Project staff can use a number of indicators to measure the progress made by groups. These include:
Regularity of group meetings and level of member attendance. These two indicatorsprovide clear evidence of whether members are benefiting from the learning process. When regular meetings and high attendence continue in the absence of theGP, the group is obviously well on the way to achieving self-reliance.
Shared leadership and member participation in group decision making. Groups that share leadership reponsibilities and in which there is a high level of participation in decision-making tend to learn more quickly and develop a broader
leadership base than those in which leadership and decision making responsibilities are monopolized by a minority. The latter groups tend to be muchmore vulnerable to leadership crises and less able to maintain long-term self-sustainability.
Continuous growth in group savings. The ability of the group to accumulate savings is a key measure of members' faith in and financial commitment to group activities. It is also a good indicator of the profitability of the group activity and of the group's financial ability to weather risk and adversity. Groups which do not save, or save very little, are less likely to achieve self-sustainability quickly.
High rates of loan repayment. A group's capacity to repay loans on time is another indicator of group financial discipline, as well of the profitbility of its income-generating activity.
Group problem-solving. The ability of the group to solve problems and take initiatives to achieve its self-development in the absence of the GP indicates members' confidence in their own capabilities.
Effective links with development services. The self-reliance of a group also depends on its ability to maintain links with government and NGO development services, in the absence of project staff.
Micro-level process criteria seen in the Atherton (2003) evaluation approachCompetencenew ideas/ways forward are elicited“best knowledge” is elicitedknowledge is inclusive of expert, lay and critical domains“sound science” is elicitedtruth/fact claims are challenged and verified or otherwise, assumptions anduncertainties are identifiednew meanings and understandings are generatedactive sense making occursreflexivity is inducedFairnesstransparency of the process and content of decision makingframing is open to redefinition by the participantsparticipants are not bound by the disciplining nature of the eventdiscourse equality of access (being able to speak) and of providing an environment inwhich participants are willing to defend claimsdeliberative production of views and positionsappropriate resources (including information and time) are available to all participantsin order that they have the ability to participateinclusiveness of all relevant/appropriate entitiesrepresentative of different views and groups of stakeholders
capture by inappropriate interest groups is avoided
Social learningparticipants learnproject initiators develop insight into a range of valuesincreasing responsiveness and growing ability to listen meaningfully to participantscapacity buildinga clearer definition of the issues at stake is achievedalternative values are articulatedQuality of resultsoutcome is well supported by evidence and/or argumentresults are justifiable with reference to legitimate processresults are usable by institutionsStakeholder acceptanceproducing more acceptable/less contentious policies/strategies/plansdeveloping sense of shared responsibility for problem and acceptability of solutiondeveloping sense of the common goodinterest and engagement of participantsimproves understanding between participantsimproves trust between participantsreduction of conflict
CONCLUSÕES
Os tópicos a tratar aqui são:
- A possibilidade de criar um modelo activo para a criação de valor
UM MODELO CÍCLICO DE CRIAÇÃO DE VALOR
Isto tem um diagrama que o z vai desenhar
- Triple bottom line
TRIPLA BOTTOM LINE MUITO IMPORT PARA AS CONCLUSÕES SE CALHAR
Contem a ideia de que o desempenho global de uma com0panhia (podemos dizerede um projecto) deve ser medido com base na sua contribuição combina para
a prosperidade económica, a qualidade ambiental e o capital social. (pelamesma ordem : parao desenvolvimento sustentável, para o turismo sustentável, para a gestão participativa num modelo de governança)
3 descobertas fundamentais: 1) o envolvimento dos stakeholders é umaferramenta valiosa para gestão das oportunidades e do risco que pode levarà anulação ou à redução dos custos e à optimização do valor; 2) osinvestidores e o mundo dos negócios reconhecem que, actualmente, que osassuntos complexos não podem ser resolvidos por qualquer actor actuandosozinho. Essa resolução requer esforços combinados entre múltiplosstakeholders contribuindo com soluções inovadoras e sustentáveis; 3) oenvolvimento empenhado dos stakeholders proporciona a oportunidade paragerir esses desafios, para encontrar soluções inovadoras e para criar valorpara todos os envolvidos,
Citação «precisamos fazer o desenvolvimento sustentável acontecer para gerar crescimentoeconómico com uya maior eficiência de gestão de recursos, conseguindo ao mesmo tempo reduzir osimpactos ambientais e um bem estar social mais elevado para mais pessoas. Tambemreconhecemos a cada vvez mais clara consciência de que os negócios são uma parte indispensávelda solução dos problemas do mundo,. Melhorámos as nossas relações com os governos, as ONG’s eoutros parceiros. Juntos, através de parcerias de grande sentido prático, vamos conseguir que a ideiade desenvolvimento sustentável se torne uma crescente realidade no terreno» Cimeira Mundialparao Desenvolvimento Sustentável, Johannesburg 2002.
- O poder das redes (networking)
- O planeamento de um processo de mudança social
- Dos cenários ao plano de acção: uma nova metodologia de gestãointegrada
- Estado da questão da participação pública na construção de umaestratégia de desenvolvimento sustentável para o Baixo Guadiana(tendências / cenários / objectivos a longo termo)
- Resenha de desafios e objectivos estratégicos para o desenvolvimentosustentável do Baixo Guadiana
CONCLUSÕES mais
No que respeita à participação pública, parecem evidentes três necessidadeschave:
- um quadro constitucional / legal / normativo que enquadre a participaçãodo público. Este enquadramento deve clarificar em que extensão osresultados dos processos participativos serão levados em conta pelosdecisores;
- uma metodologia para escolher os métodos de participação públicaadequados. Isto deveria conduzir á escolha de uma ferramenta simples deutilizar, que realmente acrescentasse valor ao trabalho dos organizadoresdos processos de participação pública;
- uma avaliação mais sistemática e consistente dos processo de participaçãode modo a construir um conhecimento de base. Apenas o desenvolvimento e acontinuada actualização da mesma pode permitir um realista e enriquecedoruso da participação pública de modo a que esta consiga realizar todo o seupotencial democratizador.
CONCLUSÃO
Políticas 29
“Melhorar o Know-how para promover a I&D, educação eformação prática e gestão de informação;
Diversificar a oferta com novos produtos e destinos; Modernização física de instalações e infra-estrutura; Melhorar os clusters empresariais, encorajando acções da
parte de empresas complementares, associações e a coopetição(cooperação-competição) entre agentes privados e o sectorpúblico;
Melhorar a promoção, com melhor qualidade (respondendo àsnecessidades promocionais da actual e existente oferta) eeficiência;
Conservação e regeneração de áreas turísticas; Melhorar a coordenação horizontal (interdepartamental) e
vertical (local-regional-estadual-intergovernamental) dasadministrações públicas para a gestão do turismo.” (FAYOS-SOLÀ e BUENO, 2001, 49-50)
Políticas 33
“A política nacional de turismo irá permanecer um factoressencial de desenvolvimento do turismo na maioria de paísespelo menos na próxima década, apesar da devolução para governos
regionais e locais poder modificar o seu papel em algumas áreas.A importância do turismo e as suas implicações económicas,sociais e ambientais, que afectam a governação e o âmbito maisalargado da política económica, fala a favor do estabelecimentode enquadramentos de políticas nacionais de turismo bemexplícitos. Esta política sectorial pode ser então implementadapor administrações regionais e locais, que estão mais perto dosverdadeiros destinos turísticos e clusters empresariais. Aquestão é assim de reatribuir tarefas e não implica o automáticoenfraquecimento das administrações nacionais de turismo.”(FAYOS-SOLÀ e BUENO, 2001, 62)
Políticas 78
“A capacitação e desenvolvimento são ambos acerca de poderpolítico: quem obtém o quê, onde, como e porquê. É nestes pontosque capacitação e desenvolvimento coincidem, donde aargumentação de que a capacitação deve ser incorporada nadefinição de desenvolvimento se se se pretender que aimplementação das políticas e planos seja eficaz e se asustentabilidade alcançada.” (SOFIELD, 2003:342)