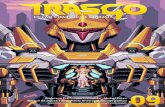PETBio | UFMA EDIÇÃO ESPECIAL - WordPress.com
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of PETBio | UFMA EDIÇÃO ESPECIAL - WordPress.com
1 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
ENTREVISTA ESPECIAL
A PROF. DRA. GISELE GARCIA AZEVEDO CONTA SUA HISTÓRIA COMO TUTORA EGRESSA DO PET BIOLOGIA
ANANDA REGINA PEREIRA MARTINSArtigo: “Following bates: a evolução da coloração de borboletas Heliconius”MARIANA BONFIM PINTO MENDES
Artigo: “Transporte marítimo e dispersão de espécies: como navios contribuem para introdução e persistência de organismos não-nativos costeiros”
KAUÊ NICOLAS LINDOSO DIASArtigo: “Taxonomia vegetal na Amazônia brasileira: revelando preciosidades de um mundo verde único”
TAINÁ CONSTÂNCIA DE FRANÇA PINTOArtigo: “Novo registro de afloramento de idade cretácea no norte do Maranhão: fósseis em evidência”
LEONARDO MANIR FEITOSAArtigo: “Estudos de ecologia do movimento: interface entre biologia e química para conservação de elasmobrânquios”
BOLETIMPETBio | UFMA
ISSN: 2237-6372ANO 13, N. 50, DEZ /2019
Imagem: FAVPNG
EDIÇÃO ESPECIAL
POR ONDE ANDAM?
UMA EDIÇÃO REPLETA DE ARTIGOS SOBRE AS PESQUISAS DE PETIANOS EGRESSOS QUE SEGUEM CARREIRA EM DIFERENTES PARTES DAS AMÉRICAS
2 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
SUMÁRIO
Transporte marítimo e dispersão de espécies:como navios contribuem para introdução e persistência de organismos não-nativos costeirosPor Mariana Bonfim Pinto Mendes
Taxonomia vegetal na Amazônia brasileira:revelando preciosidades de um mundo verde únicoPor Kauê Nicolas Lindoso Dias
Profª. Dra. Gisele Garcia AzevedoProfessora do departamento de Biologia da UFMA e tutora do PET Biologia no período de 2005 a 2015. Por Ana Jessica Sousa Coelho, Anna Letícia Silva da Costa e Sabrina Torres Soares
Following Bates:a evolução da coloração de borboletas HeliconiusPor Ananda Regina Pereira Martins
ARTIGOSENTREVISTA
4
12
18
31
6Novo registro de afloramento de idade cretácea no norte do Maranhão: fósseis em evidênciaPor Tainá Constância de França Pinto
25 Estudos de ecologia do movimento:interface entre biologia e química e suas aplicações para conservação de elasmobrânquiosPor Leonardo Manir Feitosa
ISSN: 2237-6372ANO 13, N. 50, DEZ 2019
BOLETIMPETBio | UFMA
3 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
EDITORIALBOLETIM PETBIO UFMA
Ano 13, N. 50, Dezembro de 2019ISSN: 2237-6372
CORPO EDITORIAL
RealizaçãoGrupo PET Biologia - UFMA
Supervisão geralProfª. Dra. Mayara Ingrid Sousa Lima
Revisores
Prof. Dr. Leonardo Dominici CruzProfª. Dra. Gisele Garcia AzevedoProf. Dr. Lucas Cardoso Marinho
Gabrielle Silva NevesJuliana Mendes Sousa
Juliana Rivas Figueredo PereiraRoberta Neves Alcantara
Robson Pontes de Oliveira
DiagramaçãoAna Caroline Carvalho Araujo
Ana Vitória Santos Jorge Fabricio Pires Chagas
Larissa Helena Sousa Baldez CarvalhoRuth Myrian de Moraes e Silva
CONTATOSE-mail
petbioufma.wordpress.comInstagram
@petbioufma
Caros leitores,
O PET Biologia apresenta com muito entusiasmo a edi-ção comemorativa de número 50 do Boletim PET Bio. Nós estamos em festa, pois essa conquista é fruto do ár-duo trabalho de todos aqueles e aquelas que ajudaram a escrever essa história ao longo dos anos, tutoras e tuto-res, discentes bolsistas, não-bolsistas e voluntários/as, a família petiana da Biologia que acredita na importância desse projeto para formação acadêmica dos/as nossos/as estudantes, bem como para divulgar o conhecimen-to científico. E claro, nossos sinceros agradecimentos a todos/as, que além de leitores/as, também contribuem como autores/as no boletim. Nessa edição 50, temos a honra de apresentar artigos escritos por petianos/as egressos/as do PET Biologia, que continuam atuando na construção científica, em diversas áreas das Ciências Biológicas. Assim, nossa gratidão a Ananda, Mariana, Kauê, Leonardo e Tainá por toparem fazer parte dessa ideia, e como é bom ver os/as excelentes profissionais que vocês se tornaram. Ainda, trazemos uma linda entrevista com a Profª Gisele Garcia Azevedo, petiana egressa e eterna tutora do PET Bio, que sempre acredi-tou, lutou e se dedicou por esse programa. Por fim, meus agradecimentos pessoais ao Profº Leonardo Dominici e toda essa geração incrível de petianos “ovinhos”, “in-termediários” e “dinos” por continuarem trilhando essa linda história e por me permitirem escrever esse editorial, como despedida desse maravilhoso e impor-tante período que estive como tutora do PET Biologia.
Boa Leitura,Profª. Dra. Mayara Ingrid Sousa Lima
Tutora egressa (2016-2019)
4 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o Profª. Dra. Gisele Garcia Azevedo, professora do Departamento de Biologia da
Universidade Federal do Maranhão, assim como tutora do PET Biologia no período de 2005 a 2015, onde orientou diversas iniciativas dentro do programa, bem como contribuiu para a formação de inúmeros petianos e ajudou a construir um espaço para o crescimento profissional e pessoal dos membros do grupo. Em 2007 foi membro da Comissão Científica e editorial do Boletim informativo do Pet Biologia.
Ana Jessica Sousa CoelhoAnna Letícia Silva da CostaSabrina Torres SoaresCurso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís
A Profª. Drª. Gisele Garcia Azevedo é graduada em Ciências Biológicas, mestre em Entomologia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e doutora em Entomologia pela Universidade de São Paulo (USP). Sua linha de pesquisa realiza estudos sobre a estrutura da comunidade de borboletas, vespas e abelhas em diferentes ecossistemas da Amazônia, Cerrado e Caatinga do Maranhão, contribuindo
para o conhecimento de sua biodiversidade e biogeografia. Atualmente, vinculada ao Departamento de Biologia, da Universidade Federal do Maranhão, leciona as disciplinas de Biologia do Desenvolvimento e de Sistemática Filogenética para o curso de Ciências Biológicas, UFMA, e desenvolve trabalhos no Laboratório de Ecologia e Sistemática de Insetos Polinizadores e Predadores (LESPP).
Foto
grafi
a: I
nsta
gram
pes
soal
Imag
em: P
ixab
ayENTREVISTA
PETBio UFMA: O que fez você se interessar pela tutoria do PETBio?
Diferente do lançamento de um edital da Proen, que hoje conduz o processo de seleção de novos tutores, dando a oportunidade de professores interessados se candidatarem a tutoria, na minha época ainda não havia esse processo. Embora eu sempre seja grata ao PET pela sua profunda contribuição para minha formação acadêmica, profissional e cidadã, não houve um interesse direto e nem a minha candidatura a tutoria do PetBiologia. Fiz parte da primeira seleção de bolsistas do PET, quando ainda era Programa Especial de Treinamento, mantido pela CAPES, em 1988, e fiquei no Pet até o final da minha graduação em 1992. Ingressei no Departamento de Biologia em abril de 2002, sendo eu e a profa. Flávia Nascimento, as primeiras petianas da biologia a serem contratadas na UFMA. Embora sempre interessada nas atividades do PET, eu, na verdade, assumi a tutoria a convite do prof. Manuel Alfredo, que estava deixando o PetBiologia para assumir a coordenação do Curso de Ciências Biológicas, em 2005. Acredito que a maior motivação do prof. Manuel Alfredo pela minha indicação foi realmente me dar a oportunidade de retornar ao PET como tutora e, por ter sido petiana por tantos anos, conhecer a filosofia e o funcionamento do Programa. Naquela época a substituição acontecia na forma de indicação do ex-tutor. Embora receosa pela enorme responsabilidade que estava assumindo, me senti extremamente feliz em poder voltar ao PET e retribuir todos os benefícios e oportunidades que o Programa me proporcionou.
PETBio UFMA: Quais foram os desafios que você encontrou como tutora?
Foram muitos os desafios, pois no começo, ainda agia como bolsista, repetindo muitas das atividades que desenvolvi quando era aluna. Aos poucos, novas atividades foram sendo construídas de forma coletiva com os meus bolsistas. Talvez o nosso primeiro grande desafio foi quando recebemos um parecer do MEC que dizia que não tínhamos um projeto que articulasse Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse momento, nos vimos na obrigação de entender como funciona esse tripé e desenvolver um projeto completamente diferente daqueles que vínhamos desenvolvendo, nascendo ali o Projeto Jambeiro que foi elaborado a partir das nossas vivências com as necessidades daquela
comunidade. Foi um projeto que trouxe muitas parcerias com professores de outros departamentos e conhecimentos de diferentes técnicas de análise. Foi um momento extremamente produtivo e, nos impulsionou a elaborar e executar outros projetos articulados como o Projeto da Revitalização da Trilha do Mocambo em Urbano Santos e do Projeto Raposa. Nasceu ali uma grande família, onde aprendemos não só compartilhar conhecimentos, mas também nossas vivências, dificuldades e superações. Aprendemos muito juntos e nos fortalecemos como grupo. A partir dali, o PET começou a participar mais ativamente dos eventos regionais e nacionais, atuando na linha de frente das discussões acerca da politica estudantil e do programa junto ao MEC. Grandes desafios foram a realização, em 2009, do Encontro Nordestino de Grupos Pet (ENEPET) com cerca de 700 inscritos e, em 2012, do Encontro Nacional de Grupos Pet (ENAPET) com mais de 2000 inscritos. Na realização desses eventos, o PETBiologia sempre compôs a comissão de Infraestrutura. Foram momentos gratificantes! Poderia citar vários outros ao longo desses 11 anos de tutoria.
PETBio UFMA: Quais mudanças você percebeu no PETBio entre a época em que você era petiana para os dias atuais?
Embora na minha época, muitos cursos e mini-cursos, ciclos de seminários, organização do Ciclo de Estudos Biológicos, confraternizações, recepção aos calouros foram promovidos para melhoria da graduação, acredito que hoje há maior integração dos petianos com os demais alunos do curso. Além disso, vejo o fortalecimento das atividades de ensino e extensão, promovendo o fortalecimento da formação cidadã e política dos petianos. PETBio UFMA: Quais atividades foram implantadas na sua tutoria?
Como disse, a elaboração de projetos articulados de ensino, pesquisa e extensão; a indexação do Boletim como uma publicação periódica de divulgação científica; a publicação de artigos com os resultados dos projetos; a apresentação das atividades e projetos do PET nos Eventos Regionais, Nacionais e outros eventos com os de Educação e Extensão; promoção de cursos e minicursos ministrados pelos próprios petianos.
5 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Foto
grafi
a: I
nsta
gram
pes
soal
Imag
em: P
ixab
ay
PETBio UFMA: Em que aspectos você acredita que o boletim se destaca como um material de divulgação científica?
Embora a proposta inicial do Boletim fosse criar um espaço em que os petianos pudessem desenvolver suas habilidades de leitura, interpretação, síntese e redação de pequenas resenhas, a qualidade da produção textual nos estimulou a abrir o espaço para os outros alunos do curso, criar um corpo editorial e indexar o Boletim com o objetivo de divulgar o ensaios elaborados pelos alunos. A princípio parte dos recursos financeiros eram destinados à impressão do Boletim que era distribuído aos demais grupos locais, para outros cursos de Biologia, nos eventos regionais e nacionais, e para os e-mails cadastrados de alunos e professores. A gráfica da UFMA também nos auxiliou na impressão durante algum tempo. Posteriormente, passamos a divulgar apenas online. Acredito que a periodicidade, a qualidade dos textos produzidos e os resultados de alguns trabalhos realizados pelos petianos e demais alunos do Curso me permite caracterizar o Boletim como, de fato, um material de divulgação científica.
PETBio UFMA: Você acredita que o impacto do boletim vai além da comunidade acadêmica? Não.
PETBio UFMA: Em sua opinião, qual o impacto que o PETBio traz para a vida acadêmica dos petianos e demais alunos de Ciências Biológicas?
Como falei anteriormente, diversas atividades realizadas pelo PET visam promover a melhoria do ensino de graduação como a oferta de ciclo de seminários, cursos e minicursos com temas fora da grade curricular, organização de ciclos de discussão com temas científicos, filosóficos e éticos sobre assuntos da atualidade e da política; participação na organização de Eventos Acadêmicos como o Ciclo de Estudos Biológicos; promoção de confraternizações visando a maior integração e troca de ideias; além da publicação de ensaios no boletim, promovendo a melhoria da produção científica dos alunos. E talvez o maior o impacto, em minha opinião, seja o exemplo do trabalho coletivo com a presença constante do Tutor, como um grande parceiro.
PETBio UFMA: Você acredita que o Programa de Educação Tutorial como um todo tem impacto para toda a comunidade acadêmica?
Sim! Pois, além de promover atividades de melhoria dentro de seus cursos de graduação, o que por si já é uma grande contribuição para a Instituição, também promove eventos para toda a comunidade acadêmica, tais como eventos do MARAPET, ENEPET e ENAPET. A Educação Tutorial traz benefícios indiscutíveis para formação acadêmica, cidadã e profissional de seus integrantes, ampliando o universo de oportunidades no mercado de trabalho. Deveria ser um modelo a ser implantado em todos os cursos de graduação, independente de bolsas.
PETBio UFMA: Quais efeitos você acha que o PET tem além dos muros da universidade?
Os efeitos são extremante positivos quando vão de encontro com as necessidades das comunidades por meio do diálogo e da troca de conhecimento. O PET tem por obrigação promover essa vivência para uma boa formação cidadã.
Imag
em: P
ixab
ay
6 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
NOVO REGISTRO DE AFLORAMENTO DE IDADE CRETÁCEA NO NORTE DO MARANHÃO: fósseis em evidência
Imag
em: B
logs
potARTIGO
7 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Tainá Constância de França Pinto: Mestranda em Evolução e Diversidade pela Universidade Federal do ABC. Graduada em Ciências Biológicas (bacharelado) pela Universidade Federal do Maranhão. Foi bolsista do Programa de Educação
Tutorial - PET/SESU/MEC - PET Biologia, desenvolvendo atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Faz parte do Laboratório de Paleontologia
de Vertebrados e Comportamento Animal situado na Universidade Federal do ABC (LAPC - UFABC). Atua na área de Zoologia - Paleontologia de Vertebrados (Archosauromorpha, com ênfase em Dinosauria).
Imag
em: B
logs
pot
8 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019Imagem: Pinterest
O Maranhão possui destaque na Paleontologia do Brasil por apresentar ampla diversidade de fósseis, dos mais variados táxons, desde plantas e invertebrados a grandes
vertebrados, como os dinossauros. Muitos desses registros estão associados à Formação Itapecuru na Bacia do Parnaíba (reconhecida também como Bacia São Luís-Grajaú sensu ROSETTI et al., 2001; Figura 1), uma unidade geofísica que data do Período Cretáceo Inferior (Aptiano-Albiano, atualmente estimado entre 125 - 100,5 milhões de anos de acordo com a International Commission on Stratigraphy - v 2020/01; COHEN et al. 2020). Essa formação apresenta uma série de exposições rochosas ao longo dos municípios de Itapecuru-Mirim, Cantanhede, Pirapemas e Coroatá (CARVALHO, 2002; CASTRO et al., 2007). Apesar da sua ampla extensão territorial, estendendo-se por mais de 250 quilômetros no vale do Rio Itapecuru, o registro fossilífero da Formação Itapecuru ainda é escasso.
Figura 1. Localização da Formação Itapecuru na Bacia do Parnaíba. Fonte: extraída de Corrêa-Martins, 2019.
Contudo, o grande potencial fossilífero de certas regiões pouco exploradas pode alterar essa realidade. Em 2016, próximo ao povoado de Conceição, um novo afloramento foi descoberto por moradores locais nos limites do município de Coroatá: “Ravina Boca de Forno” (FRANÇA et al., 2019; Figura 2).
Figura 2. Localização da Ravina do Igarapé Boca de Forno no vale do Rio Itapecuru, norte
do Maranhão. Imagem cedida por: Manuel Alfredo Medeir.
Essa sucessão aflora através de um paredão com cerca de oito metros de altura, constituindo um leito de canal que faz parte da drenagem do vale do Rio Itapecuru, no norte do Maranhão (Figuras 3 e 4).
Figura 3. Leito de canal da Ravina Boca de Forno. Equipe realizando a coleta em 2016. Imagem cedida por: Manuel Alfredo Medeiros.
Figura 4. Perfil estratigráfico da sucessão fossilífera da Formação Itapecuru. Imagem cedida
por: Rafael Lindoso.
9 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019Imagem: Pinterest
"A Formação Itapecuru se destaca por apresentar
uma paleofauna com ampla variedade de vertebrados, que inclui dinossauros predadores a exemplo
das famílias Carcharodontosauridae e Spinosauridae, cujo registro é
composto principalmente por dentes (MEDEIROS; SHULTZ, 2001)."
Esse sítio fossilífero está situado entre duas das principais áreas de concentração de fósseis ao longo do rio: o entorno da sede do município de Coroatá, ao sul, e as proximidades do município de Itapecuru Mirim, ao norte. Assim, esse novo sítio preenche uma lacuna entre duas importantes áreas que vêm sendo exploradas e que representam alguns dos principais registros do Aptiano-Albiano no norte da Bacia do Parnaíba. As publicações sobre a paleofauna, particularmente de vertebrados, têm sido pontuais, com intervalos de dezenas a centenas de quilômetros entre si (CARVALHO et al., 2003; MEDEIROS et al., 2014; NOBRE, 2004; PEREIRA et al., 2013). O afloramento Ravina Boca de Forno fornece um dos poucos registros numerosos de fósseis de vertebrados, em associação com os comumente invertebrados conchíferos (Mollusca, Bivalvia) encontrados, podendo, uma vez estudado, ajudar a preencher a lacuna no registro espacial do norte da Bacia do Parnaíba. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é estudar a fauna de vertebrados e invertebrados coletada no afloramento Ravina Boca de Forno e contextualizar com os demais fósseis identificados em relação à paleofauna já registrada na Formação Itapecuru, bem como investigar, durante a interpretação dos dados obtidos, aspectos paleoecológicos e paleobiogeográficos da biota cretácea ali encontrada.
Contexto Geológico da Formação Itapecuru
A Formação Itapecuru foi proposta por Campbell (1949) para contextualizar a sucessão sedimentar aflorante abaixo da ponte sobre o Rio Itapecuru, no município de Itapecuru-Mirim. Posteriormente, Lima e Leite (1978) complementam a descrição da sedimentologia local. O conjunto sedimentar é formado por arenitos de granulação fina, predominantemente vermelhos e cinza-claros, com argilitos, siltitos e folhelhos intercalados (CAMPBELL, 1949; LIMA; LEITE, 1978). A sucessão domina o baixo curso do Rio Itapecuru, na porção norte da Bacia do Parnaíba, sendo bem representada no interior do estado - desde o sul de Coroatá até Rosário, próximo ao litoral. Essa formação é datada no intervalo Aptiano superior a grande parte do Albiano (PEDRÃO et al., 1993; VICALVI; CARVALHO, 2002) e, concordantemente, recobre os folhelhos betuminosos da Formação Codó (Aptiano) (CAPUTO, 1984). Esse intervalo é referente às duas últimas idades do Período Cretáceo Inferior e data aproximadamente de 125 a 100,5 milhões de anos. Rossetti e Truckenbrodt (1997) identificaram três intervalos formacionais distintos na sucessão Itapecuru, o que os levou a questionar seu status de formação individualizada. Os autores ainda empregaram o termo Itapecuru para a categoria de “grupo”, abrangendo também outras formações espaciais e temporalmente relacionadas (Codó e Grajaú, Alcântara e Cujupe) no norte do Maranhão. Entretanto, o termo “Formação Itapecuru” continua sendo comumente utilizado, referindo-se a uma unidade
litoestratigráfica distinta (CORRÊA-MARTINS, 2019; FERREIRA et al., 2016; GONÇALVES; CARVALHO, 1996). Os sistemas aventados como responsáveis pela deposição da Formação Itapecuru são: fluvial meandrante, lacustre, fluvio-lacustre e estuarino, incluindo amplos depósitos de planície de inundação (CARVALHO et al., 2003; PESSOA; BORGHI, 2005; VICALVI; CARVALHO, 2002).
Assembleia fossilífera da Formação Itapecuru
Na Formação Itapecuru fósseis dos mais variados táxons têm sido registrados, desde conchostráceos, moluscos bivalves e gastrópodes, peixes, crocodilomorfos, quelônios e dinossauros (CARVALHO, 1994; DUTRA; MALABARBA, 2001; FERREIRA et al., 1991; 1992). Além dos macrofósseis, os microfósseis têm sido também assinalados na literatura, como ostracodes, estruturas reprodutivas de carófitas e palinomorfos (VICALVI; CARVALHO, 2002).A Formação Itapecuru se destaca por apresentar uma paleofauna com ampla variedade de vertebrados, que inclui dinossauros predadores a exemplo das famílias Carcharodontosauridae e Spinosauridae, cujo registro é composto principalmente por dentes (MEDEIROS; SHULTZ, 2001). O registro dos grandes dinossauros herbívoros, os Sauropodomorpha, é representado pelos grupos Titanosauria e Diplodocoidea. O material de Titanosauria se refere a fragmentos de vértebras (como dorsal e caudal) e fragmento proximal de úmero. O material de Diplodocoidea corresponde a fragmentos do arco neural e espinha neural (CASTRO et al., 2007). Um novo gênero e espécie de Diplodocoidea foi descrito por Carvalho et al. (2003), a espécie Amazonsaurus maranhensis foi nomeada a partir de espinhas neurais dorsais, vértebra caudal posterior, ílio, púbis e demais elementos pós-cranianos. Os Crocodyliformes são representados pelo grupo
Notosuchia, que ocorrem no Cretáceo da América do Sul e da África e possuem adaptações para a vida
terrestre (BONAPARTE, 1991). O espécime de Notosuchia pertence à espécie-tipo
Candidodon itapecuruense, que se trata de dois ramos mandibulares, além
de dentes com padrão morfológico semelhante a incisiforme, pré-molariforme e molariforme (CARVALHO, 1994). Foram encontrados também elementos pós-cranianos associados a mesma
espécie, como vértebras pré-sacrais, úmero, fêmur, além de osteodermos
(NOBRE, 2004). Os peixes são um dos grupos bem
amostrados da Formação Itapecuru, dentre eles, pode-se destacar a espécie Mawsonia
gigas, um celacanto da família Mawsoniidae, cujo material é composto por angular e parietais que fazem parte
da caixa craniana, que são ossos grandes e bem ornamentados (CARVALHO, 2002). Peixes Dipnoicos também são encontrados, como o Ceratodus africanus e Asiatoceratodus tiguidiensis (PEREIRA et al., 2013). A ocorrência dessas espécies é associada principalmente a placas
10 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
dentárias (DUTRA; MALABARBA, 2001). Sobre Chelonia, grupo do qual fazem parte as tartarugas, jabutis e cágados, o material encontrado é associado a Araripemys barretoi, espécie que também ocorre na Formação Santana, no Araripe, além de ser conhecida também no Cretáceo do Marrocos (KISCHLAT; CARVALHO, 2000). No presente contexto, os estudos a respeito da diversa assembleia fossilífera da Formação Itapecuru formam um vasto arcabouço de informações que poderá ser usado como base comparativa para melhor compreender a taxonomia, tafonomia, padrões de distribuição biogeográficos, entre outros conhecimentos que permeiam a Ravina Boca de Forno. Assim, os novos dados desse afloramento que estão sendo obtidos são de suma importância, pois contribuem de modo expressivo com o entendimento da biota cretácea local.
Paleobiota preliminarmente identificada
Campanhas sistemáticas para realizar a prospecção e a coleta de fósseis nos arredores do município de Coroatá resultaram na descoberta e identificação de um vasto conteúdo fossilífero. Parte dos resultados prévios foram apresentados durante o XXVI Congresso Brasileiro de Paleontologia, em 2019, a partir da identificação taxonômica do espécime VT-1502, que se refere a um dente com tamanho de 4,12 centímetros do ápice até a base da sua coroa (Figura 5 A). Nesse estudo, o exemplar foi associado à família Carcharodontosauridae (Dinosauria, Theropoda) por possuir os seguintes caracteres morfológicos: coroa com formato subtriangular e labiolingualmente achatada; carenas com dentículos subquadrangulares (“chisel-like”), em que o esmalte apresenta ondulações marginais suaves e espaços interdenticulares (“blood-groves”) obliquamente orientados no sentido basal (FRANÇA et al., 2019; Figura 5 B e C). O conjunto de caracteres descritos acima foi identificado de acordo com o trabalho de Hendrickx e colaboradores (2015), que propuseram a padronização da terminologia de aspectos morfológicos em dentes de Theropoda, bem como o reconhecimento de clados com base em tais características.
Figura 5. A) Espécime VT-1502 com 4,12 cm do ápice até a base da coroa; B) Em detalhe espaços interdenticulares obliquamente orientados no sentido basal; C) Em detalhe dentículos subquadrangulares.
O quadro exposto reflete o contexto temporal e biogeográfico em que se insere a biota da Formação Itapecuru, uma vez que esse táxon tem sido registrado em diversos afloramentos do Cretáceo maranhense, do Albiano ao Cenomaniano, ocorrendo em vários afloramentos do baixo curso do vale do Itapecuru e nos sítios fossilíferos costeiros das regiões de Alcântara e Cajapió (Formação Alcântara) (BITTENCOURT; LANGER, 2011; MEDEIROS; SCHULTZ, 2001; 2002; MEDEIROS et al., 2007). Outros exemplares foram também identificados, contudo, carecem de uma análise mais acurada a fim de, se possível, especificar o seu grupo taxonômico correspondente. Dentre as descobertas foram identificados fósseis de invertebrados (Mollusca, Bivalvia), fragmentos de vegetais, restos de peixes, bem como dentes e fragmentos ósseos de tetrápodes, incluindo outros dinossauros.
Considerações finais
A Ravina Boca de Forno poderá preencher uma lacuna espacial no registro da paleobiota cretácea do norte da Bacia do Parnaíba. Em coleta realizada no afloramento em dezembro de 2016 foram encontrados diversos fósseis constituintes dessa biota cretácea, dentre eles, particularmente, uma série de elementos ósseos de dinossauros, incluindo dentes isolados de Theropoda, bem como fragmentos de invertebrados e de outros vertebrados. A proposta do meu estudo de mestrado inclui análise do depósito fossilífero e de sua fauna, com destaque para os grupos de vertebrados, por meio de uma abordagem taxonômica, além de avaliar as implicações paleoecológicas e paleobiogeográficas a partir dos dados obtidos. O conjunto de informações levantado será interpretado usando-se como base de comparação o conjunto de informações sobre paleoambientes e paleofauna da Formação Itapecuru já publicado (ver sumarizações em CARVALHO et al., 2003; MEDEIROS et al., 2014) e será de grande relevância para compreender a paleobiota cretácea da Bacia do Parnaíba.
Referências
BITTENCOURT, J. S.; LANGER, M. C. Mesozoic dinosaurs from Brazil and their biogeographic implications. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 83, n. 1, p. 23-60, 2011.BONAPARTE, J. F. Los vertebrados fosiles de la Formacion Río Colorado, de la ciudad de Neuquén y cercanías, Cretácico superior, Argentina. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Paleontologia, v. 4, n. 3, p. 17,123, 1991.CAMPBELL, D. F. Revised report on the reconnaissance geology of the Maranhão Basin. CNP/DEPEX/SEDOC (Relatório interno), Rio de Janeiro, 103-00093, p.117, 1949.CAPUTO, M. V. Stratigraphy, tectonics, paleontology and paleogeography of northern basins of Brazil. University of California, Doutorado em Filosofia e Geologia - University of California, Santa Bárbara, p.583, 1984.CARVALHO, I. S. Candidodon: um crocodilo com heterodontia (Notosuchia, Cretáceo Inferior - Brasil). Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 66, n. 3, p.331-346, 1994.
11 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
CARVALHO, I. S. et al. Amazonsaurus maranhensis gen. et sp. nov. (Sauropoda, Diplodocoidea) from the Lower Cretaceous (Aptian-Albian) of Brazil. Cretaceous Research, v. 24, p.697-713, 2003.CARVALHO, M. S. S. O gênero Mawsonia (Sarcopterygii, Actinistia) no Cretáceo das bacias Sanfranciscana, Tucano, Araripe, Parnaíba e São Luís. Programa de Pós-Graduação em Geociências, IGEO/UFRJ, Tese de Doutorado, Rio de Janeiro. p.177, 2002.CASTRO, D. F. et al. Sauropods of the Itapecuru Group (Lower/Middle Albian), São Luís-Grajaú Basin, Maranhão state, Brazil. Revista Brasileira de Paleontologia, v. 10, n. 3, p.195-200, 2007.COHEN, K.M., HARPER, D.A.T., GIBBARD, P.L. 2020. ICS International Chronostratigraphic Chart 2020/01. International Commission on Stratigraphy, IUGS. www.stratigraphy.org (visited: 2020/04/01)CORRÊA-MARTINS, F. J. The Neostratotype of Itapecuru Formation (Lower-Middle Albian) and Its Impact for Mesozoic Stratigraphy of Parnaíba Basin. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 91, 2019.DUTRA, M. F. A.; MALABARBA, M. C. S. I. Peixes do Albiano-Cenomaniano do Grupo Itapecuru no estado do Maranhão, Brasil. In: ROSSETTI, D. F.; et al. O Cretáceo na Bacia de São Luís-Grajaú. Museu Paraense Emílio Goeldi: Coleção Friedrich Katzer, 2001. p. 191-208. FERREIRA, C. S. et al. Novas ocorrências de fósseis na Formação Itapecuru, Cretáceo do Maranhão. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 1991. v. 63, p.98-99.FERREIRA, C. S. et al. Os fósseis da Formação Itapecuru. Simpósio sobre as Bacias Cretácicas Brasileiras, Rio Claro, 1992. v. 2, p.107-110. FERREIRA, N. N. et al. Palynological and sedimentary analysis of the Igarapé Ipiranga and Querru 1 outcrops of the Itapecuru Formation (Lower Cretaceous, Parnaíba Basin), Brazil. Journal of South American Earth Sciences, v. 66, p. 15-31, 2016.FRANÇA, T. C. et al. Occurrence of Carcharodontosauridae at Boca de Forno Gully (Itapecuru Formation, Parnaíba Basin, Maranhão). In: Boletim de Resumos do XXVI Congresso Brasileiro de Paleontologia, 2019, Uberlândia. Boletim de Resumos do XXVI Congresso Brasileiro de Paleontologia, Uberlândia, 2019. p. 282-283GONÇALVES, R. A.; CARVALHO, I. S. Contribuição ao estudo da sedimentação da Formação Itapecuru - região de Itapecuru-Mirim, Bacia do Parnaíba (Cretáceo Inferior) - Maranhão - Brasil. Revista de Geologia, v. 9, p.75-81, 1996.HENDRICKX, C. et al. A proposed terminology of theropod teeth (Dinosauria, Saurischia). Journal of Vertebrate Paleontology, v. 35, n. 5, p. e982797, 2015.KISCHLAT, E.-E.; CARVALHO, I. S. A specimen of Araripemys barretoi Price (Chelonii, Pleurodira) from the Itapecuru Formation (Lower Cretaceous of Northeastern Brazil). In: Simpósio Brasileiro De Paleontologia De Vertebrados,
2., 2000, Rio de Janeiro. Resumos do Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados. Rio de Janeiro: Museu Nacional/ UFRJ, 2000. p.33. LIMA, E. de M.; LEITE, J. F. Projeto Estudo global dos recursos Minerais da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), Pernambuco, v. 1 e 2, 1978.MEDEIROS, M. A. et al. Another African dinosaur recorded in the Eocenomanian of Brazil and a revision on the paleofauna of the Laje do Coringa. XX Congresso Brasileiro de Paleontologia. In: CARVALHO, I. S. et al. Paleontologia: Cenários de Vida. Interciência, Rio de Janeiro, 2007. v. 1. p.413-423.MEDEIROS M. A. et al. The Cretaceous (Cenomanian) continental record of the Laje do Coringa flagstone (Alcântara Formation), northeastern South America. Journal of South American Earth Sciences, v. 53, p.50-58, 2014.MEDEIROS, M. A.; SCHULTZ, C. L. Uma paleocomunidade de vertebrados do Cretáceo médio, Bacia de São Luís. In: ROSSETTI, D. F.; et al. O Cretáceo na Bacia de São Luís-Grajaú. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, p. 209-221, 2001. MEDEIROS, M. A.; SCHULTZ, C. L. A fauna dinossauriana da “Laje do Coringa”, Cretáceo Médio do nordeste do Brasil. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, v. 60, n. 3, p. 155-162, 2002.NOBRE, P. H. Morfologia pós-craniana de Candidodon itapecuruense (Crocodylomorpha, Mesoeucrocodylia), do Cretáceo do Brasil. Revista Brasileira de Paleontologia, v. 7, n. 1, p. p.87-92, 2004.PEDRÃO, E. et al. Análise palinológica de uma amostra de superfície de Querru (Formação Itapecuru), município de Itapecuru-Mirim (MA). PETROBRAS/CENPES (Relatório interno), Rio de Janeiro, 65015087, Projeto 01.02.40, p.26, 1993.PEREIRA, A. A. et al. Novos registros de peixes no vale do Rio Itapecuru (Formação Itapecuru, Cretáceo, Estado do Maranhão). In: Congresso de Paleontologia/I Simpósio de Paleontologia Brasil-Portugal, 23., 2013, Gramado. Boletim do Congresso de Paleontologia: 2013. p.263.PESSOA, V. C. O.; BORGHI, L. Análise Faciológica da Formação Itapecuru (Bacia do Parnaíba) em testemunhos de sondagem. Anais do 3° Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, IBP, Salvador, 2005.ROSSETTI, D. F.; TRUCKENBRODT, W. Revisão estratigráfica para os depósitos do Albiano-Terciário Inferior (?) na Bacia de São Luís (MA), Norte do Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Ciências da Terra, v. 9, p.29-41, 1997.ROSSETTI, D. F.; et al. O Cretáceo na Bacia de São Luís-Grajaú. Museu Paraense Emílio Goeldi: Coleção Friedrich Katzer, Belém, p. 209-221, 2001. VICALVI, M. A.; CARVALHO, I. S. Carófitas cretáceas da Bacia do Parnaíba (Formação Itapecuru), Estado do Maranhão, Brasil. In: Simpósio Sobre el Cretácico de América del Sur, 2, 2002, São Pedro. Boletim do 6º Simpósio Sobre o Cretáceo no Brasil: UNESP, 2002.
12 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
FOLLOWING BATES: a evolução da coloração de borboletas Heliconius
Imagem: www.rawpixel.com
ARTIGO
13 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Imagem: www.rawpixel.com
Ananda R. Pereira Martins é formada pela Universidade Federal do Maranhão em Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), possui mestrado em Ciências (Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade) pelo Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (2014). Atualmente é doutoranda no programa de Biologia (Neotropical Environment) da McGill University e Smithsonian Tropical Research Institute. Desenvolve trabalhos na área de evolução, ecologia, sistemática e taxonomia de Lepidoptera.
Imag
em: a
rqui
vo e
nvia
do p
ela
auto
ra
14 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Introdução
Durante suas expedições pela bacia amazônica, há mais de 150 anos, Henry Walter Bates documentou com detalhes a biodiversidade local, e em particular
a de borboletas do gênero Heliconius (BATES, 1863). Hoje, sabe-se que as borboletas deste gênero representam um caso de mimetismo mülleriano, no qual diferentes espécies e subespécies tóxicas apresentam fenótipos semelhantes resultado de seleção natural, formando diferentes anéis miméticos, cada um com um padrão de coloração de advertência (Figura 1). Por sua vez, os predadores naturais de borboletas (principalmente aves) aprendem a evitar presas com específicos padrões de asas pois estes são associados a toxicidade (MALLET, 2010). Bates também notou uma transição geográfica dos anéis miméticos, onde diferentes fenótipos são encontrados em diferentes regiões, com algumas áreas de sobreposição chamadas zonas de hibridização (BARTON; HEWITT, 1989) (Figura 2). Desde Bates (1863), nós adquirimos uma compreensão muito maior quanto à história geológica e climática da bacia Amazônica (MALHADO et al., 2013), assim como os genes responsáveis pela coloração das asas de borboletas Heliconius (MORRIS et al., 2019; NADEAU et al., 2016; VAN BELLEGHEM et al., 2017). No entanto, os padrões e processos que deram origem à região mais biodiversa do planeta ainda permanecem controversos (SILVA; GARDA, 2011). A bacia amazônica representa quase 40% da distribuição geográfica de borboletas do gênero Heliconius e é o centro de distribuição dos fenótipos dennis-raiado e dennis (Figura 1 e 2) (MALLET, 2010). Por estarem sob forte pressão de seleção de predadores, é provável que a distribuição dos fenótipos de Heliconius esteja associada à distribuição dos predadores e sua capacidade de aprendizagem (PINHEIRO, 2003; LANGHAM, 2004). No entanto, outras pressões seletivas também parecem desempenhar papéis importantes nessa distribuição. Blum (2008) enfatizou a importância da cobertura do solo na variação dos padrões de cores entre diferentes ambientes, destacando a influência da escolha do habitat na sinalização visual tanto para o alerta contra predadores, como na escolha do parceiro sexual. Curiosamente, Bates (1863) também sugeriu a influência de variáveis ambientais, como tipo de solo, na transição de cores. Brown Jr. (1982) desenvolveu a hipótese de Bates e apontou que diferentes tipos de solo sustentam diferentes tipos de habitats e, consequentemente, podem ser importantes para a distribuição espacial de cores de Heliconius. Finalmente, fatores ambientais históricos também podem ter influenciado a distribuição dos padrões de cores de Heliconius. De fato, a região amazônica sofreu mudanças ambientais ao longo do Mioceno e Pleistoceno, o que influenciou o tamanho, a conectividade entre as populações e a origem de novos fenótipos (ARRUDA et al., 2018; BUSH, 1994; HAFFER, 2008; HOORN et al., 2010).
Em meu projeto de doutorado, eu proponho revisitar a região explorada pela primeira vez por Bates e, testar hipóteses sobre a evolução e distribuição de padrões de cores das asas. Para este estudo, eu foco nas espécies Heliconius erato e H. melpomene. Estas são espécies filogeneticamente “distantes” e que apresentam um conjunto de características interessantes, incluindo: conhecimento detalhado da base genética de cada cor presente nas asas (MORRIS et al., 2019; NADEAU et al., 2016; VAN BELLEGHEM et al., 2017) e genomas de referência completo de alta qualidade (http://ensembl.lepbase.org). Assim, os principais objetivos de meu projeto são: 1) entender quais fatores ambientais contribuem para a distribuição de diferentes padrões de coloração na Amazônia e 2) testar modelos evolutivos para a origem de novos padrões de asas.
Figura 1. Subespécies de Heliconius melpomene e Heliconius erato pertencentes a diferentes anéis miméticos: 1) fenótipo postman, 2) fenótipo dennis-raiado e 3) fenótipo dennis.
Figura 2. Distribuição simplificada dos fenótipos de Heliconius no Brasil com destaque em vermelho para as zonas de hibridização. a) postman com banda amarela na asa posterior, b. postman, c1. dennis, c2. dennis-raiado.
15 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Métodos
Realizou-se uma coleta detalhada de Heliconius em quatro transectos da Amazônia brasileira (Figura 3), cobrindo uma grande área de distribuição e capturando a heterogeneidade de diversos parâmetros ambientais (HIJMANS et al., 2005). Estão sendo realizados sequenciamento de genoma completo de cerca de 300 indivíduos de Heliconius erato e H. melpomene utilizando tecnologia Illumina 2x150bp. Esse número fornecerá estimativas robustas de tamanhos populacionais ao longo do tempo, o momento da diversificação e seleção ao longo do genoma. Os dados de coleta fornecerão uma descrição detalhada da variação fenotípica e como ela se relaciona aos parâmetros ambientais. A combinação dos dados de fenótipo, genótipo e informações ambientais nos permite testar teorias sobre o papel que a heterogeneidade de habitat desempenha na estruturação das populações de borboletas Heliconius. O WorldClim está sendo utilizado para a obtenção de dados climáticos em resoluções espaciais de 1km2 (HIJMANS et al., 2005) e o software Maxent (PHILLIPS et al., 2006) para modelagem de distribuição de padrões de cores. Para características físicas, serão utilizados tipo de solo e vegetação, além da porcentagem de cobertura vegetal. Fotos de alta resolução de todas as asas com padrões de cores e tamanho estão sendo realizadas. A variação fenotípica está sendo quantificada usando o software de análise de imagem patternize (VAN BELLEGHEM et al., 2018) e o genótipo de todos os indivíduos está sendo registrado, aproveitando o fato de que os efeitos fenotípicos dos alelos dos principais genes responsáveis pela coloração já são conhecidos (MORRIS et al., 2019; NADEAU et al., 2016; VAN BELLEGHEM et al., 2017). Diferentes cenários evolutivos deixam assinaturas distintas nos padrões de divergência do genoma entre os fenótipos. Em um cenário em que as populações de ambas as espécies foram submetidas a um período de separação geográfica compartilhada (Figura 4A), as raças de H. erato e H. melpomene devem compartilhar uma história demográfica semelhante, com subespécies pertencendo aos mesmos anéis miméticos mostrando mudanças concordantes na população através de espaço e tempo (RAVINET et al., 2017). Em um cenário alternativo em que a variação do padrão de cores surge durante um período de fluxo gênico contínuo (Figura 4B), não há expectativa a priori de que H. erato e H. melpomene devam ter evoluído paralelamente. Inferir processos evolutivos que geraram um padrão específico de divergência genômica não é simples devido ao grande número de fatores que interagem no processo (MORRIS et al., 2019; NADEAU et al., 2016; VAN BELLEGHEM et al., 2017). Para entender como um novo alelo surge e se espalha nas populações, serão modelados um conjunto de cenários evolutivos (Figura 4) com parâmetros
variáveis e esses modelos comparados com os padrões de divergência genômica observados nos sequenciamentos de genoma completo (EXCOFFIER et al., 2013; GONZÁLEZ ‐ SERNA et al., 2019; MARQUES et al., 2019; RAVINET et al., 2017).
Figura 3. A) América do Sul (azul), Brasil (cinza), Amazônia brasi-leira (verde). B) Quatro transectos na Amazônia brasileira represen-tados pelas cores vermelho, azul, verde e amarelo. Linhas turquesa representam os principais rios amazônicos.
Figura 4. Cenários evolutivos. A) fluxo gênico em contato secundário. B) constante fluxo gênico. X: população ancestral, XI e X2: populações em processo de divergência, GB: barreira geográfica, t0: tempo de sepa-ração, tI: tempo após isolamento. Setas: fluxo gênico.
Tem
po
16 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Resultados Preliminares e Conclusão
Até o momento foram realizadas análises usando o algoritmo Maxent (PHILLIPS et al., 2006) para modelagem de distribuição de padrões de cores de diferentes subespécies de Heliconius melpomene e parâmetros ambientais extraídos do WorldClim (HIJMANS et al., 2017). Como resultado preliminar, observamos que para três subespécies representando os fenótipos postman com banda amarela na asa posterior, postman e dennis-raiado, a distribuição é principalmente moldada por precipitação anual, variação da temperatura anual e isotermalidade (Figura 5). Esses resultados corroboram até o momento com nossa hipótese de que diferentes ambientes selecionam diferentes padrões de coloração de asa. Outras análises usando um maior número de variáveis estão sendo realizadas, como por exemplo, tipo de solo e porcentagem de cobertura vegetal, visto que esses parâmetros também possam estar associados à distribuição do padrão de asas, como proposto por Bates (1862), Brown Jr (1982) e Blum (2008).
Também foram realizadas análises de quantificação de cores de asas usando o pacote do R patternize (VAN BELLEGHEM et al., 2018). Como resultados preliminares pode-se observar que é possível distinguir em parte fenótipos puros e híbridos. No caso dos fenótipos postman com banda amarela e postman, os seus híbridos apresentam fenótipo semelhante ao fenótipo puro postman (Figura 6A), enquanto nos híbridos dos fenótipos dennis-raiado e postman, é possível diferenciá-los somente pelo padrão de cores das asas anteriores (Figura 6B). Análises do padrão da face ventral ainda estão sendo realizados, assim como análises com subespécies de Heliconius erato. As análises genômicas também ainda estão sendo realizadas. Os padrões encontrados nos dados genômicos serão acrescentados nos diferentes modelos evolutivos (e.g. divergência parapátrica X divergência alopátrica). Se você quiser continuar acompanhando este projeto e curiosidades sobre a Amazônia ou ainda queira mandar perguntas e curiosidades, siga o nosso instagram e twitter @followingbates.
Figura 5. Modelos de distribuição geográfica de fenótipos postman com banda amarela, postman e dennis-raiado de Heliconius melpomene usando modelagem Maxent com avaliação de modelo AUC, desvios padrão e variáveis mais importantes para cada modelo de distribuição.
Figura 6. PCA do padrão de cores da face dorsal de asas de indivíduos puros e híbridos de Heliconius melpomene. No lado esquerdo, análises de pa-drão de coloração entre os fenótipos puros postman com banda amarela, postman e seus híbridos. No lado direito, análises de padrão de coloração entre os fenótipos puros dennis-raiado, postman e seus híbridos. Quanto ao padrão de cores das asas anteriores, pode-se observar que não existe uma distinção de clusters entre fenótipos puros de postman com banda amarela, postman e seus híbridos (A). O mesmo não ocorre com a análise das asas anteriores de fenótipos dennis-raiado, postman e seus híbridos. Neste caso é possível observar uma distinção entre as duas formas puras e os híbridos como intermediários (B). Nas análises de padrão de coloração das asas posteriores, em ambos os casos de hibridização é possível difer-enciar as formas puras, porém os híbridos apresentam o fenótipo de uma das formas parentais.
Variável Contribuição Percentual
Precipitação Anual 27
Precipitação do Mês Mais Seco 26.7
Isotermalidade 24.3
Faixa Anual de Temp. 16.2
Variável Contribuição Percentual
Faixa Anual de Temp. 85,9
Precipitação 6.8
Sazonalidade da Precipitação 6.4
Temp. Min. do Mês Mais Frio 0.5
Variável Contribuição Percentual
Isotermalidade 50.8
Precipitação do Mês Mais Seco 25.9
Precipitação Anual 19.6
Faixa Anual de Temp. 1.6
17 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Referências
ARRUDA, D. M. et al. Vegetation cover of Brazil in the last 21 ka: New insights into the Amazonian refugia and Pleistocenic arc hypotheses. Global Ecology and Biogeography, v. 27, n. 1, p. 47–56, 2018.BARTON, N. H.; HEWITT, G. M. Adaptation, speciation and hybrid zones. Nature, v. 341, n. 341, p. 497–503, 1989.BATES, H. W. The Naturalist on the Amazon River. 3 ed. Cambrigde: Cambrigde University Press, 1863.BLUM, M. J. Ecological and genetic associations across a Heliconius hybrid zone. Journal of Evolutionary Biology, v. 21, n. 1, p. 330–341, 2008.BROWN Jr., K. S. Paleoecology and regional patterns of evolution in neotropical forest butterflies, In: Biological Diversification in the Tropics: Proceedings, Fifth International Symposium of the Association for Tropical Biology. Prance, G. T., New York, 1982.BUSH, M. B. Amazonian Speciation: A Necessarily Complex Model. Journal of Biogeography, p. 5-17, 1994.EXCOFFIER, L. et al. Robust Demographic Inference from Genomic and SNP Data. PLoS Genetics, v. 9, n. 10, e1003905, 2013.GONZÁLEZ‐SERNA, M. J.; CORDERO, P. J.; ORTEGO, J. Spatiotemporally explicit demographic modelling supports a joint effect of historical barriers to dispersal and contemporary landscape composition on structuring genomic variation in a red‐listed grasshopper. Molecular Ecology, v. 28, n. 9, p. 2155-2172, 2019.HAFFER, J. Hypotheses to explain the origin of species in Amazonia. Brazilian Journal of Biology, v. 68, n. 4, p. 917–947, 2008. HIJMANS, R. J. et al. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, v. 25, n. 15, p. 1965–1978, 2005. HOORN, C. et al. Amazonia Through Time: Andean Uplift, Climate Change, Landscape Evolution, and Biodiversity. Science, v. 330, n. 6006, p. 927–931, 2010.LANGHAM, G. M. Specialized Avian Predators Repeatedly Attack Novel Color Morphs of Heliconius butterflies. Evolution, v. 58, n. 12, p. 2783–2787, 2004.MALHADO, A. C. M. et al. The ecological biogeography of Amazonia. Frontiers of Biogeography, v. 5, n. 2, 2013.
MALLET, J. Shift happens! Shifting balance and the evolution of diversity in warning colour and mimicry. Ecological Entomology, v. 35, p. 90–104, 2010.MARQUES, D. A.; MEIER, J. I.; SEEHAUSEN, O. A Combinatorial View on Speciation and Adaptive Radiation. Trends in Ecology & Evolution, v. 34, n. 6, p. 531–544, 2019.MORRIS, J. et al. The genetic architecture of adaptation: convergence and pleiotropy in Heliconius wing pattern evolution. Heredity, v. 123, n. 2, p. 138–152, 2019.NADEAU, N. J. et al. The gene cortex controls mimicry and crypsis in butterflies and moths. Nature, v. 534, n. 7605, p. 106–110, 2016.PHILLIPS, S. J.; DUDÍK, M.; SCHAPIRE, R. E. 2006. Maxent software for modeling species niches and distributions (Version 3.4.1). Disponível em: <http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/>. Acessado em 10/11/2019.PINHEIRO, C. E. G. Does Mullerian Mimicry Work in Nature? Experiments with Butterflies and Birds (Tyrannidae). Biotropica, v. 35, n. 3, p. 356–364, 2003.RAVINET, M. et al. Interpreting the genomic landscape of speciation: a road map for finding barriers to gene flow. Journal of Evolutionary Biology, v. 30, n. 8, p. 1450–1477, 2017.SILVA, J. M. C. da; GARDA, A. A. Padrões e processos biogeográficos na Amazônia, pp. 189–197, in: de Carvalho, C. J. B.; Almeida, E. A. B. (Orgs.). Biogeografia da América do Sul: padrões e processos. São Paulo: Roca, 2011, p. 189-197. STANKOWSKI, S.; SOBEL, J. M.; STREISFELD, M. A. Geographic cline analysis as a tool for studying genome-wide variation: a case study of pollinator-mediated divergence in a monkeyflower. Molecular Ecology, v. 26, n.1, p. 107–122, 2017.THURMAN, T. J.; SZEJNER‐SIGAL, A.; MCMILLAN, W. O. Movement of a Heliconius hybrid zone over 30 years: A Bayesian approach. Journal of Evolutionary Biology, v. 32, n. 9, p. 974–983, 2019.VAN BELLEGHEM, S. M. et al. Complex modular architecture around a simple toolkit of wing pattern genes. Nature ecology & Evolution, v. 1, n. 3, p. 1-12, 2017.VAN BELLEGHEM, S. M. et al. patternize: An R package for quantifying colour pattern variation. Methods in Ecology and Evolution, v. 9, n. 2, p. 390–398, 2018.
Imag
em: a
rqui
vo e
nvia
do p
ela
auto
ra
18 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
TRANSPORTE MARÍTIMO E DISPERSÃO DE ESPÉCIES: como navios contribuem
para introdução e persistência de organismos não-nativos costeiros
Imag
em: A
dapt
ada
de m
ariti
mes
a.or
gARTIGO
19 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Mariana Bonfim Pinto Mendes: Dutoranda em Biologia (Temple University, Philadelphia, USA), onde desenvolve pesquisa com tópicos em ecologia marinha, biogeografia, invasões biológicas e mecanismos de introducao via transporte maritmo, com bolsa Doutorado Pleno pelo programa Ciências sem Fronteira (CNPq/LASPAU). Colabora com o projeto multinacional financiado pela NSF “BioVISION” (Biogeographic Variation in Interactions Strengh and Invasions at the
Ocean’s Nearshore) liderado por Dra. Amy Freestone (Temple University), Dr. Gregory Ruiz (Smithsonian Environmental Research Center) e Dr. Mark Torchin (Smithsonian Tropical
Research Institute). Possui grau de Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Maranhão (2015). Tem experiência e interesse nas áreas de identificação molecular de microorganismos patogênicos em amostras ambientais e de lastro, mecanismos e padrões ecológicos de invasões biológicas, além de métodos não-formais de ensino aplicados a educação ambiental marinha.
20 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Introdução
Isolamento geográfico é um dos principais processos que contribui para especiação. Barreiras físicas como oceanos, montanhas, geleiras, vales, dentre outras paisagens,
representam barreiras ao movimento individual, natural e espontâneo de populações biológicas. Ao longo do tempo, estas populações passam por processos como deriva genética e seleção natural, eventualmente dando origem a novas espécies. Isto ocorre em largas escalas de tempo geológico, sendo uma acumulação de processos geralmente derivados de eventos que também envolvem a dispersão dessas populações, expandindo (ou modificando, deslocando) sua área natural de ocorrência. Em tempos modernos, ações antrópicas têm contribuído para a rápida e acelerada dispersão de espécies além barreiras biogeográficas naturais (RUIZ et al., 2000). Uma vez em novo ambiente, muitos desses “estrangeiros/ imigrantes” se veem em cenários favoráveis de crescimento populacional e colonização da nova localidade. Uma vez que não estão mais diante de taxas de predação históricas, sob a qual se desenvolveram, competição por recursos e mortalidade por parasitas naturais, esses organismos passam a se tornar entidades de crescimento e expansão de caráter parcialmente irrefreável, podendo tornar-se, portanto, invasora do novo local (ELTON, 1958).
Espécies invasoras são atualmente consideradas uma das maiores ameaças a biodiversidade (MOLNAR et al., 2008). No entanto, uma serie de inconsistências ainda existe na literatura, principalmente no que se refere ao uso de terminologias, rotas de transporte de espécies não-nativas e uma compreensão holística sobre processos de naturalização desses organismos nas regiões recipientes, onde são introduzidos. Além disso, cerca de 80% de todo comércio mundial atualmente depende do transporte marítimo (IMO, 2011), o que vem aproximando cada vez mais regiões biogeográficas distantes e contribuindo para o transporte de espécies não nativas que podem desencadear o processo de homogeneização da biota mundial (SIMBERLOFF; HOLLE, 1999). Séculos de navegação também tornam obscura a compreensão acerca dos processos naturais de distribuição de espécies tidas como cosmopolitas, uma vez que alguns desses organismos podem se tratar de invasores crípticos (GROSHOLZ, 2002). Diante disso, esse artigo propõe brevemente resgatar a discussão acerca de espécies ditas “invasoras”: 1) abordando como o uso e escolha de terminologias podem afetar o entendimento de processos ecológicos para desenvolvimento de políticas públicas e conservação da biodiversidade; 2) as principais rotas de transporte acidental de organismos não-nativos entre províncias marinhas; 3) a forma como interações biológicas, como por exemplo predação e competição, podem oferecer uma resistência a invasores e como isso influencia modelos de previsão de risco. Embora este artigo não tenha foco na pesquisa nessa área em escala local, exemplos internacionais podem inspirar reflexões acerca da temática e desencadear discussões para o leitor no que diz respeito a aplicações e futuro desse tipo de pesquisa no Maranhão.
Espécies invasoras, não-nativas, pestes? Terminologia vs. Ecologia
Desde que humanos passaram a ter a habilidade de se dispersar continentalmente, levaram consigo uma gama de organismos e espécies intencional ou acidentalmente. Espécies domesticadas de importância econômica, plantas para cultivo ou até mesmo “hitchhikers” em embarcações, roupas, baús e containers. Esses organismos terminavam por se tornarem colonizadores de sucesso na nova localidade em que eram introduzidos. Tornavam-se, em alguns casos, um problema à biota local por estabelecerem relações ecológicas geralmente negativas com a mesma. Espécies invasoras competem, predam, hibridizam com espécies nativas. Isso termina por gerar aceleradas mudanças no contexto ecológico de cada sistema, afetando a distribuição e resiliências de populações nativas, levando-as em extremos casos a completa dizimação.
Dispersão antrópica não é a única forma de espécies ultrapassarem barreiras biogeográficas. Recentemente uma série de estudos tem mostrado como espécies têm expandido zonas naturais de ocorrência em resposta ao cenário mundial de mudanças climáticas (WALTHER et al., 2009). Nesse sentido, a já discordante discussão de invasões biológicas se tornou ainda mais subjetiva. Independentemente do ainda corrente debate, é suficiente dizer que organismos não-nativos (e seus demais sinônimos como exótico, invasor, alien, não-indígena etc., Tabela 1) são aqueles que foram movidos além barreiras biogeográficas naturais. Portanto, nem todo organismo que é registrado em nova localidade desencadeará em efeito negativo (ou em raros casos positivos) à biota local. Os termos não-nativo e não-indígena têm, portanto, sido mais priorizados na literatura acadêmica, por terem conotação de alta relevância ecológica (i.e., entende-se o organismo como não naturalmente pertencente ao sistema em questão), mas tratando com parcimônia eventuais impactos que a presença da espécie possa ter na nova área.
O processo de estabelecimento de uma espécie não-nativa passa por uma série de filtros até que a mesma possa colonizar com sucesso o novo local (Figura 2). Por sucesso, entende-se quando os organismos conseguem estabelecer populações viáveis, sem a necessidade de repetidas introduções
Imag
em: p
ixab
ay
21 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Imag
em: p
ixab
ay
entanto, reconheço que o uso de certos termos podem também ser dependente de contexto, em que o uso de “invasora”, palavra que causa mais impacto, seja usado mais frequentemente em documentos oficiais, leis e demais escritos de cunho político, versus não-nativa, cuja conotação é mais ecológico-biogeográfica e parcimoniosa no que se refere ao impacto causado por determinada espécie em novo local de chegada.
O interesse por espécies invasoras e não-nativas começa a crescer ao observar que estas novas populações geralmente eram beneficiadas em detrimento de populações locais nativas. No clássico da literatura de ecologia de espécies invasoras, Charles Elton defende a ideia de espécies não-nativas como capazes de modificar profundamente o ambiente no qual são introduzidas, geralmente de forma prejudicial (ELTON, 1958). Tal conotação negativa perdura até os dias atuais, e permeia grande parte da literatura principalmente governamental. Relatórios ambientais frequentemente se valem do termo invasora, exótica, peste como forma de desencadear uma reação carregada para maior impacto na criação de políticas públicas (CARLTON, comunicação pessoal). É claro que se reconhece o valor e poder que a aplicação de certas terminologias tenha, principalmente naquilo que possa aproximar a população do conhecimento acadêmico. No entanto, recomenda-se um julgamento mais parcimonioso e conservador por parte do pesquisador e estudioso. Sem estudos profundos de ecologia, determinação de persistência populacional e impactos nos novos sistemas no qual encontram-se estas novas espécies, insistir em nomenclaturas de impacto para atribuir valor ou chamar atenção, é incorrer no erro.
Comércio marítimo e dispersão de espécies costeiras A globalização do comércio marítimo contribuiu para acelerada dispersão de espécies marinhas e costeiras pelo globo. Grande parte do comercio internacional dá-se através do transporte marítimo de embarcações de grande porte e alta tonelagem. Através do tempo, tecnologia permitiu que essas viagens se tornassem mais rápidas e mais curtas, conectando regiões ainda mais distantes (KELLER et al., 2011). Embarcações e navios, passam, portanto, a servir como “mares em movimento” proporcionando micro-habitat onde espécies possam sobreviver temporariamente, servindo como vetores para introduções de organismos. Introduções marítimas acidentais ocorrem por duas vias principais de transporte: 1) água de lastro (água captada geralmente no porto de partida para manter estabilidade da embarcação durante longas viagens) e 2) bioincrustação (organismos de habito séssil e biota associada que colonizam superfície submersa do casco da embarcação, tanto externa como interna). Além disso, navios comerciais como cargueiros, são colossais em tamanho e tonelagem. Estima-se que a área submergida total da frota comercial global ativa até 2013 fosse de aproximadamente 325 x 106 m2 (MOSER et al., 2016). Autores comparam isso ao tamanho da zona metropolitana de Washington DC nos Estados Unidos. Se toda essa área fosse colonizada por cracas de tamanho médio de 6,45 cm2 cerca de mais de 500 bilhões de animais cobririam o substrato. Usando essa analogia, espero que fique claro ao leitor da escala que se trata quando estudiosos se referem a ameaça que navios comerciais oferecem aos oceanos.
por meio de vetores de transporte (BLACKBURN; DUNCAN, 2001). Estas são então tomadas por espécies estabelecidas ou naturalizadas, porém seu impacto nos sistemas locais é inexistente ou desconhecido. Uma vez que estas espécies oferecem certa ameaça a biota local e/ ou passam a desencadear processos de modificações estruturais em comunidades, estas são ditas invasoras e/ou exóticas (BLACKBURN et al., 2011) . Vale lembrar, que para determinar tal “status”, é necessário um referencial geográfico. Uma espécie só pode ser tomada por “estrangeira” se sua distribuição nativa/ indígena/ natural for conhecida e bem delineada. Carlton e Hodder (1995) sugere a nomenclatura “criptogênica” para organismos cuja zona de distribuição natural é ainda obscura. Em muitos casos essa classificação termina por ser utilizada em trabalhos científicos em sua grande maioria como uma forma mais conservadora, para evitar afirmações infundadas de invasão ou até mesmo erros de identificação taxonômica (LINS et al., 2018).
Figura 1. Processo de formação de conjuntos de espécies locais e comunidades a partir de um pool regional de espécies. Espécies precisam passar por “filtros” para conseguirem estabelecer-se e colonizar novo local. No caso da colonização natural isso ocorre em escala geológica. Atualmente, a ação antrópica tem facilitado o transporte de diversos organismos além barreiras biogeográficas (e.g. oceanos), contribuindo para a acelarada dispersão de espécies, elevando probabilidades de colonização de novas localidades. No entanto, se reconhece que o processo de introdução e estabelecimento é muito mais complexo que geralmente tratado na literatura, e organismos não-nativos ainda assim podem encontrar um ambiente abiótico desfavorável, além de resistência por parte da biota local, de forma que nem toda introdução resultará em um estabelecimento de sucesso (círculos rosado e cinza, coluna da direita).
A ecologia de invasões biológicas é uma disciplina que nasce gradativamente da combinação de outras áreas mais tradicionais historicamente como agricultura, florestamento, entomologia, zoologia, botânica e patologia (LOCKWOOD; HOOPES; MARCHETTI, 2007). Em cada uma dessas áreas, cientistas buscavam compreender os processos pelo qual novas espécies colonizavam novos locais e decimavam espécies nativas, gerando impactos principalmente econômicos nas regiões em que eram introduzidas. Isso acabou afetando a terminologia e nomenclaturas utilizadas em estudos e relatórios governamentais, o que é ainda hoje território fértil para debate. É possível que o leitor encontre inconsistência no uso e aplicação de termos, principalmente na literatura mais antiga que serviu de base para inspirar estudos atuais. Aqui utilizarei a nomenclatura atual de maior concordância da comunidade científica internacional. No
22 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Grandes embarcações proporcionam potencial de despejo de larga escala e alta frequência de organismos. Isso pode facilitar com que organismos introduzidos superem barreiras que pequenas populações enfrentam em processo de estabelecimento como estocasticidade, efeitos demográficos (efeito Allee) e baixa diversidade genética (LOCKWOOD; CASSEY; BLACKBURN, 2005). Portanto, dependendo da intensidade desses transportes marítimos (i.e., esforço de introdução) espécies não-nativas podem tornar-se estabelecidas no sistema e persistirem a longo-prazo.
Explorar padrões de movimentação portuária e navegação são importantes no estudo global de invasões marinhas e costeiras. Teoria em ecologia de invasões prevê que quanto maior a pressão do propágulo, maior a probabilidade de estabelecimento de uma espécie não nativa (LOCKWOOD; CASSEY; BLACKBURN, 2005). Pressão do propágulo aqui é definida como esse esforço de introdução, ou seja, uma combinação entre número de propágulos (ou número de indivíduos introduzidos em um único evento) e tamanho do propágulo (ou número de eventos de introdução). Nesse sentido, navios podem contribuir para o transporte desses propágulos e diversas características de cada região portuária afetam probabilidade de invasão. Drake e Lodge (2004) desenvolveram um dos primeiros modelos bem sucedidos de estimativa de risco de invasões baseados sumariamente em características de zonas portuárias. Outros modelos futuros passaram não só a avaliar o potencial invasor baseado em total de navios aportados, mas também tempo de viagem, procedência e rota feita pela embarcação, além da sazonalidade das viagens (KALUZA et al., 2010), o que está diretamente ligado ao número de eventos de introdução ou tamanho do propágulo. Simplificando, quanto maior o número de navios cargueiros e quanto menor a sazonalidade de aportes, maior o risco de invasões. Por mais que tal ideia sirva como ponto de partida para a compreensão da relação entre invasões marinhas e transporte marítimo, essa premissa é uma supersimplificação de sistemas tão complexos e ignora certos outros fatores que afetariam a sobrevivência de organismos introduzidos como as barreiras ambientais existentes na região recipiente.
Nem toda introdução resulta em invasão. Na Figura 1, observa-se o processo de formação de uma comunidade local, também sob um cenário de intervenção antrópica. Organismos precisam sobreviver nos novos locais de introdução e desenvolver mecanismos de formar populações autossustentáveis (i.e., que independam dos depósitos de propágulos). Nesse sentido, a incompatibilidade ambiental entre região doadora e região recipiente é tão importante quanto a quantidade e frequência de organismos depositados no novo local para compreender risco de invasões marinhas. Seebens et al. (2013) encontraram uma maneira relativamente simples, ao mesmo tempo que precisa, de combinar ambas teorias na estimativa de probabilidade de invasões, as teorias de pressão do propágulo e de incompatibilidade ambiental. Ao incluir
um delta ambiental (que incluía diferenças entre salinidade e temperatura entre região doadora e região recipiente, além da sazonalidade desses parâmetros), os modelos demonstraram que portos com alta movimentação não necessariamente estavam sob maior risco de invasões. Tratava-se de uma combinação entre fonte e frequência, ou seja, quantos navios vinham e de onde vinham. Para regiões portuárias de porte relativamente menor (Europa ocidental) o sucesso de invasão marinha é determinado pela complexa interação entre fonte de transporte de propágulos e ambiente recipiente adequado (SEEBENS et al., 2019). No entanto, para certas localidades do mundo, como por exemplo, o Canal do Panamá, a pressão do propágulo parece ser tão alta (cerca de 12.000+ embarcações/ anos antes da expansão do canal; ACP, 2019), que isso sobreporia qualquer outro efeito de barreira ambiental (BONFIM et al., dados não publicados). Portanto, diferentes fatores podem mediar a pressão do propágulo e
determinar risco de invasão. Apesar do sucesso em avaliar as contribuições de incompatibilidade ambiental nesses
modelos, como relações biológicas medeiam sucesso de invasão, no entanto, permanecem
inexploradas.
Resistencia biótica em sistemas marinhos: como relações ecológicas
podem limitar risco de invasão Resistencia biótica refere-se à redução
na probabilidade de estabelecimento de uma espécie não-nativa dado suas interações com
a biota local (i.e., da região recipiente) (ELTON, 1958; LOCKWOOD; HOOPES; MARCHETTI, 2007).
Comunidades com maior número de espécies teriam um maior número de predadores, competidores e parasitas, limitando a colonização e persistência pela espécie não-nativa. Predadores geralmente têm muito mais efeito na sobrevivência e crescimento das presas, o que pode inibir o estabelecimento de não-nativos (MITTELBACH et al., 2007). Hunt e Behrens Yamada (2003) em estudo na California, EUA, observaram que apenas quando enclausurados, populações do caranguejo verde europeu invasor Carcinus maenas conseguiam sobreviver. Quando na presença do predador nativo, Cancer productus a mortalidade de C. maenas elevou a mais de 50% e o percentual de predação a 80%, mesmo com outras presas nativas oferecidas em mesma quantidade. Similarmente, em comunidades tropicais a ascídia solitária da espécie Ascidia sydneyensis tida como não-nativa no Golfo do Panamá, apenas foi detectada na costa quando malhas plásticas foram usadas em comunidades experimentais (painéis de PVC em suspensão), limitando o acesso de macropredadores pelágicos a comunidade (FREESTONE; TORCHIN; RUIZ, comunicação pessoal; BONFIM, observação pessoal). É possível portanto que predadores exerçam um mecanismo de controle de espécies não-nativas ou impeçam o estabelecimento desses “novos residentes”.
Evidência sugere que intensidade de resistência biótica varie em gradientes biogeográficos como latitude, com sistemas mais resistentes nos trópicos em comparação com a zona temperada (SAX F., 2001; HILLEBRAND, 2004). As forças diferenciais da predação através da latitude podem contribuir para essa variação na resistência biótica, dado o efeito mais forte dos predadores na
“Explorar padrões de movimentação portuária
e navegação são importantes no estudo global de invasões
marinhas e costeiras. ”
23 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
um mundo mais quente no qual espécies tem suas fenologias e ciclos de vida afetados em virtude do aquecimento global, é imperativo um esforço internacional de estabelecer colaborações em pesquisa e buscar, não só detectar organismos não-nativos, como também explorar seus aspectos ecológicos (i.e. tolerâncias ambientais, persistência populacional etc.) especialmente em face das limitações impostas pela fauna nativa através de predação e competição (LAVENDER et al., 2017; ROSLIN et al., 2017). Iniciativas da Ciência Cidadã trabalhando junto à comunidade (e.g. https://www.zooniverse.org/projects/serc/invader-id) se mostram extremamente positivas como forma de aproximar a população da problemática, exercitar o pensamento cientifico e obter dados de qualidade em larga escala. Nesse contexto, plataformas abertas de dados como NEMESIS – repositório de espécies marinhas não-nativas nos EUA (https://invasions.si.edu/nemesis/) e NBIC – repositório de toda movimentação portuária e operações de lastro de navios aportados nos EUA (https://nbic.si.edu/) e InvasivesNet internacionalmente (https://www.invasivesnet.org/) são exemplos para todo o mundo da possibilidade de aplicações que essa nova era de “big data” pode proporcionar para a ciência e esforços de conservação. Modelos preditivos de risco de invasão oferecem uma boa ferramenta que combine experimentações em campo e simulações matemáticas. No entanto é necessário um esforço coletivo para padronização de estudos de larga escala que permitam a elaboração e expansão de tais modelos.
montagem da comunidade e na sobrevivência e crescimento de presas nos trópicos (e.g. FREESTONE et al., 2011; FREESTONE; RUIZ; TORCHIN, 2013; VIEIRA; DUARTE; DIAS, 2012). Uma forte predação nos trópicos também pode reduzir a probabilidade de invasão bem-sucedida, apesar do alto esforço de introdução (i.e., pressão de propágulo). Desta forma, o risco de invasão seria também condicionado a posição geográfica da região recipiente, uma vez que resistência biótica poderia sistematicamente reduzir risco de invasões independentemente do número e tamanho do propágulo. Relações biológicas como predação podem reduzir a probabilidade de invasões bem sucedidas em sistemas marinhos recipientes nesses modelos de avaliação de risco de introduções via bioincrustração de casco de embarcações (BONFIM et al., dados não publicados). Embora a incorporação da resistência biótica nos modelos de probabilidade de estabelecimento exija mais esforço, ela fornece resultados mais precisos, essenciais para gerenciar invasores que causam danos ecológicos e econômicos em larga escala.
Conclusão As espécies não-nativas estabelecidas podem deslocar espécies nativas, modificar a estrutura das comunidades e alterar processos fundamentais em ecossistemas. Sistemas eficientes de monitoramento para a conservação da diversidade de espécies exigem conhecimento sobre a dinâmica de propagação dos próximos invasores em potencial e, portanto, a distribuição das espécies, sua plasticidade fenotípica e a probabilidade de novas introduções. Embora invasões próximas à costa sejam comuns e conspícuas nos ecossistemas marinhos costeiros em todo o mundo, as pressões bióticas e as forças ecológicas que determinam o sucesso de invasões em várias regiões do mundo ainda não foram totalmente exploradas. Evidências sugerem que as interações bióticas podem influenciar principalmente no sucesso da invasão em sistemas marinhos, especialmente os efeitos de predadores na comunidade de presas. A predação limita o assentamento, crescimento e disseminação de não-nativos, removendo organismos em diferentes estágios de montagem da comunidade. Isso pode resultar em maior resistência biótica tropical a invasões, reduzindo a probabilidade de introdução e estabelecimento bem-sucedidos, apesar do alto número de propágulos não-nativos no sistema. Nesse sentido, entender como essa pressão biótica pode influenciar as assembleias pode fornecer a linha de base para entender a variação na relação propágulo-resistência e elaborar melhor o manejo das invasões.
Organismos invasores são frequentemente ignorados em estudos, muitas vezes em virtude do desconhecimento da biota nativa, ou recebem excessiva atenção fruto do mau uso de certos conceitos ecológicos (ROCHA et al., 2013). A homogeneização da biota mundial é algo vivenciado em muitos sistemas, principalmente marinhos, com uma série de espécies tidas como cosmopolitas e naturalizadas cuja história de vida é pouco conhecida (e.g. Bugula neritina, briozoário presente em toda a extensão das Américas). Uma serie de espécies de invasão críptica também surgem nesse contexto, como é o caso do Butis koilomatodon, peixe provavelmente não-nativo no Maranhão, que passou alguns anos não detectado por pouca resolução taxonômica (BONFIM et al., 2017). No despontar de
ReferênciasACP. Autoridad del Canal de Panama. Transit statistics 2019. Disponivel em: https://www.pancanal.com/eng/op/transit-stats/index.html . Acessado em: 2 de abril de 2020.BLACKBURN, T. M. et al. A proposed unified framework for biological invasions. Trends in Ecology and Evolution, v. 26, n. 7, p. 333–339, 2011. BLACKBURN, T. M.; DUNCAN, R. P. Determinants of establishment success in introduced birds. Nature, 2001. BONFIM, M. et al. Non-native mud sleeper Butis koilomatodon (Bleecker, 1849) (Perciformes: Eleotridae) in Eastern Amazon coastal region: An additional occurrence for the Brazilian coast and urgency for ecological assessment. BioInvasions Records, v. 6, n. 2, p. 111 - 117 2017. CARLTON, J. T.; HODDER, J. Biogeography and dispersal of coastal marine organisms: experimental studies on a replica of a 16th-century sailing vessel. Marine Biology, v. 121, n. 4, p. 721–730, 1995. DRAKE, J. M.; LODGE, D. M. Global hot spots of biological invasions: Evaluating options for ballast-water management. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, v. 271, n. 1539, p. 575–580, 2004. ELTON, C. S. The Ecology of Invasions by Animals and Plants. [s.l: s.n.]. FREESTONE, A. L. et al. Stronger predation in the tropics shapes species richness patterns in marine communities. Ecology, v. 92, n. 4, p. 983 - 993, 2011. FREESTONE, A. L.; RUIZ, G. M.; TORCHIN, M. E. Stronger biotic resistance in tropics relative to temperate zone: Effects of predation on marine invasion dynamics. Ecology, v. 94, n. 6, p. 1370–1377, 2013. GROSHOLZ, E. Ecological and evolutionary consequences of coastal invasions. Trends in Ecology and Evolution, v. 17, n. 1, p. 22 - 27, 2002.
24 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
HILLEBRAND, H. Strength, slope and variability of marine latitudinal gradients. Marine Ecology Progress Series, v. 273, n. 1992, p. 251–267, 2004. HUNT, C. E.; BEHRENS YAMADA, S. Biotic resistance experienced by an invasive crustacean in a temperate estuary. Biological Invasions. n. 5, p. 33-43, 2003IMO. MEPC.207(62) Add.1 Guidelines for the control and management of ships’ biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic specie. v. Annex 26, n. July, p. 1–25, 2011. KALUZA, P. et al. The complex network of global cargo ship movements. Journal of the Royal Society Interface, v.7, n. 48, p. 1093 - 1103, 2010. KELLER, R. P. et al. Linking environmental conditions and ship movements to estimate invasive species transport across the global shipping network. Diversity and Distributions, v. 17, n. 1, p. 93-102, 2011. LAVENDER, J. T. et al. An empirical examination of consumer effects across twenty degrees of latitude. Ecology, v. 98, n. 9, p. 2391-2400, 2017. LINS, D. M. et al. Predicting global ascidian invasions. Diversity and Distributions, v. 24, n. 5, p. 692–704, 2018. LOCKWOOD, J. L.; CASSEY, P.; BLACKBURN, T. The role of propagule pressure in explaining species invasions. Trends in Ecology and Evolution, v. 20, n. 5, p. 223–228, 2005. LOCKWOOD, J. L.; HOOPES, M. F.; MARCHETTI, M. P. An introduction to invasion ecology. In: Invasion Ecology. [s.l: s.n.]. MOLNAR, J. L. et al. Assessing the global threat of invasive species to marine biodiversity. Frontiers in Ecology and the Environment, v. 6, n. 9, p. 485–492, 2008. MOSER, C. S. et al. Quantifying the total wetted surface area of the world fleet: a first step in determining the potential extent of ships’ biofouling. Biological Invasions, v. 18, n. 1, p. 265–277, 2016.
ROCHA, R. M. et al. The need of more rigorous assessments of marine species introductions: A counter example from the Brazilian coast. Marine Pollution Bulletin, 2013. ROSLIN, T. et al. Latitudinal gradients: Higher predation risk for insect prey at low latitudes and elevations. Science, 2017. RUIZ, G. M. et al. INVASION OF COASTAL MARINE COMMUNITIES IN NORTH AMERICA : Apparent Patterns, Processes, and Biases. Annual Review of Ecological Systems, v. 31, p. 481–531, 2000. SAX F., D. Latitudinal gradients and geographic ranges of exotic species : implications for biogeography. Journal of Biogeography, v. 28, n. 1, p. 139–150, 2001. SEEBENS, H. et al. Non-native species spread in a complex network: The interaction of global transport and local population dynamics determines invasion success. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, v. 286, n. 1901, 2019. SEEBENS, H.; GASTNER, M. T.; BLASIUS, B. The risk of marine bioinvasion caused by global shipping. Ecology Letters, v. 16, n. 6, p. 782–790, 2013. SIMBERLOFF, D.; HOLLE, B. VON. Positive interactions of nonindigenous species: invasional meltdown? Biological Invasions, p. 21–32, 1999. VIEIRA, E. A.; DUARTE, L. F. L.; DIAS, G. M. How the timing of predation affects composition and diversity of species in a marine sessile community? Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, v. 412, p. 126–133, 2012. WALTHER, G. R. et al. Alien species in a warmer world: risks and opportunities. Trends in Ecology and Evolution, v. 24, n. 12, p. 686–693, 2009.
ARTIGO
25 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
ESTUDOS DE ECOLOGIA DO MOVIMENTO: interface entre biologia e química e suas aplicações para conservação de elasmobrânquios
Imag
em:w
allu
p.ne
t
ARTIGO
26 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Leonardo Manir Feitosa: Mestre em Biologia Animal (UFPE) e graduado em Ciências Biológicas, modalidade Bacharelado, pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET/SESU/MEC) e bolsista CAPES através do programa Ciência sem Fronteiras, pelo qual realizou graduação sanduíche na University of Texas at Austin, TX, EUA. Atuou como estagiário do Laboratório de Ecologia e Sistemática de Polinizadores e Predadores (LESPP), adquirindo experiências teóricas e práticas acerca de Lepidópteros, assim como colaborador de pesquisa em Ecologia e Sistemática de Actiniários. Trabalhou também no Coastal and Marine Laboratory na Florida State University como auxiliar de pesquisa com tubarões costeiros e de altas profundidades. Tem também experiência com estudos de ecologia de invertebrados marinhos e com taxonomia, ecologia e biologia molecular de tubarões e raias. Atualmente, trabalha com Ecologia e Conservação de Elasmobrânquios no Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (DIMAR - UFRPE).
27 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Introdução
Entender aspectos da biologia geral dos animais talvez seja uma das funções mais básicas dos zoólogos. Seja entre os cnidariólogos, entomólogos, ictiólogos,
mastozoólogos, ornitólogos, etc. De modo geral, todos têm uma missão em comum: desvendar os mistérios dos seus táxons de estudo. Para isso, usamos diferentes metodologias e fazemos diferentes perguntas. Por exemplo, o que um guará (Eudocimus ruber) come? Onde a pescada amarela (Cynoscion acoupa) se reproduz? Quantos anos vive uma baleia jubarte (Megaptera novaeangliae)? É praticamente impossível obter todas as respostas sobre cada animal e essa talvez seja uma das coisas mais incríveis da biologia. A busca pelo conhecimento nunca cessa.
No caso específico dos vertebrados, uma das principais invenções que possibilitaram o estudo de seus movimentos no ambiente selvagem (i.e., uso de habitat) foram os transmissores de sinais (FRASER et al., 2018). Existem vários tipos: os de acústica externos ao corpo, os internos e os que emitem sinais captados por satélites são os mais comumente usados. É interessante perceber também que o uso desses transmissores atingiu o público geral através dos famosos documentários veiculados pelo Discovery Channel, Animal Planet e National Geographic. A Semana do Tubarão do Discovery Channel, por exemplo, é um período clássico do ano, em que uma grande quantidade de documentários sobre tubarões é exibida. Entre os documentários, há os que mostram pesquisas sobre os maiores tubarões brancos que conseguem achar, colocando um transmissor de satélite na primeira nadadeira dorsal a fim de descobrir por onde o animal irá passar a partir daquele momento. Essa técnica é chamada de telemetria, podendo ser ativa ou passiva. A diferença entre as duas é como o pesquisador obtém os dados para análise.
A primeira, feita com o transmissor externo, exige que o cientista siga o animal marcado no campo, seguindo o sinal com seu receptor que vai marcando um caminho no GPS. A segunda, que pode ser feita com transmissor externo ou interno, permite ao cientista implantar o transmissor no animal e esperar um determinado tempo para receber os resultados. No caso da telemetria acústica, é implantado um transmissor de sinais dentro da cavidade celomática do animal, ou entre o tecido muscular e a pele, e é necessária também uma ampla rede de receptores de sinais no ambiente (https://secoora.org/fact/the-technology/acoustic-telemetry/). Sempre que o animal chegar perto de um desses receptores, o transmissor passa os dados que ele coletou para o receptor, que os armazena. Depois de um determinado tempo, estipulado pelos cientistas, eles retiram os receptores e analisam os dados armazenados.
No caso dos transmissores de satélite, cada vez que o transmissor é exposto à superfície (i.e., quando um tubarão nada na superfície e a nadadeira onde o receptor
foi implantado sai da água), os dados são transmitidos ao pesquisador. Mas, como funciona com animais que não chegam à superfície? Nesses casos, são usados receptores programados previamente para se soltarem do animal depois um determinado intervalo de tempo. Ao fim deste intervalo, o receptor se solta do animal e, por ter uma pequena boia, volta à superfície, permitindo o acesso aos dados para o cientista.
Porém, essas tecnologias têm alguns problemas importantes que devem ser considerados ao se fazer trabalhos com animais longevos como os elasmobrânquios. O principal problema é o preço dos transmissores bem como a necessidade de coletar os animais em vida, o que
para animais marinhos como tubarões, raias e grandes peixes ósseos, é bastante custoso.
Devido ao elevado preço, projetos de pesquisa não conseguem comprar um
número grande de transmissores, o que reduz consideravelmente o número de indivíduos que podem ser estudados, ocasionando outro problema, especialmente do ponto de vista
estatístico. Outro grande problema, principalmente no caso dos transmissores
via satélite, é que eles conseguem coletar dados por uma janela de tempo muito curta da
vida do animal (i.e., algumas semanas ou meses), o que diz essencialmente muito pouco sobre uso de habitat e
padrões de movimentação dos indivíduos.
Entretanto, há grandes vantagens de se aplicar telemetria em estudos de uso de habitat e movimentação de indivíduos. Entre elas, destacam-se a alta qualidade de dados, visto que os transmissores captam dados abióticos (p.ex. salinidade, temperatura, pressão, temperatura corporal do animal) em tempo real, além de fornecerem dados com alta precisão geográfica (FRASER et al., 2018). Essas informações são cruciais para a análise de eficácia de eventuais áreas de proteção marinha que já existam na região de estudo e para o melhor manejo da espécie. Por exemplo, em um recente estudo publicado na revista Nature, Queiroz et al. (2019) reuniram dados de telemetria de 23 espécies de tubarões com alto valor comercial e os compararam com os dados de movimentação de embarcações pesqueiras de grande porte. Com isso, geraram um mapa global das áreas de maior impacto pesqueiro e onde proteções legais às espécies exploradas são mais necessárias.
O que é a microquímica e o que ela pode nos ensinar?
Durante muito tempo, ecólogos tentam encontrar padrões na natureza, muitas vezes se utilizando de fontes de dados bastante diferentes para responder perguntas comuns. É assim com a biologia molecular em que se usa o DNA, nuclear ou mitocondrial (para animais), para se obter dados acerca da conectividade entre populações, níveis de diversidade genética, impactos antrópicos nas populações ou até mesmo taxonomia, sistemática e evolução (DUDGEON et al., 2012; HENDERSON et al., 2016; NAYLOR et al., 2012). Im
agem
: png
tree
“É praticamente impossível obter todas as
respostas sobre cada animal e essa talvez seja uma das buscas
mais incríveis da biologia. A busca pelo conhecimento
nunca cessa.”
28 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
A microquímica de elementos traço, por sua vez, é usada para obter respostas para perguntas semelhantes, mas utiliza assinaturas químicas de elementos específicos guardados em estruturas rígidas (p.ex. dentes, otólitos de peixes ósseos, vértebras de tubarões e raias) (HERMANN et al., 2016; MCMILLAN et al., 2017; PONTUAL; GEFFEN, 2002; SMITH; MILLER; HEPPELL, 2013; ZUMHOLZ et al., 2007).
Basicamente, o processo é o seguinte: ambientes aquáticos, marinhos ou dulcícolas, estão sujeitos a regimes físico-químicos diferentes que podem ter variações de pequena, média ou larga escala (p.ex. diferenças de relevo, presença de estuários, influência de correntes marinhas, entre outras). Essas diferenças ambientais, especialmente o tipo de solo ao longo das bacias hidrográficas, expõe diferentes elementos ao intemperismo e, portanto, delimitam a composição química dos rios (PONTUAL; GEFFEN, 2002; SEYLER; BOAVENTURA, 2003). Estes, por sua vez, podem modificar a composição química das regiões estuarinas e até mesmo do mar, apesar deste último ser muito mais homogêneo em sua composição química.
Desta forma, as concentrações dos diferentes elementos químicos presentes na água são refletidas em determinadas estruturas rígidas de diferentes organismos, dentre eles os estatólitos de cefalópodes, otólitos de peixes ósseos e vértebras de elasmobrânquios (MCMILLAN et al., 2017; PONTUAL; GEFFEN, 2002). Além disso, alguns elementos são característicos por ocorrerem em maior concentração em determinados tipos de ambientes. Por exemplo, o Bário (Ba) é conhecido por ser muito abundante em ambientes fluviais, enquanto que o Estrôncio (Sr) é conhecido por ser mais abundante em regiões marinhas. Portanto, ao analisar o otólito de um peixe diádromo (i.e., com partes do ciclo de vida em ambientes marinhos e outra em ambientes dulcícolas), por exemplo, observa-se que o padrão de distribuição do Ba é inversamente proporcional ao do Sr na fase de vida em que o animal permanece em água doce. Por conseguinte, o oposto é evidenciado quando o animal está em água majoritariamente salgada (MCMILLAN et al., 2017).
Entretanto, é necessário salientar que nem toda estrutura rígida é passível de ser usada em estudos desta natureza. As estruturas utilizáveis são apenas aquelas em que não há reutilização do material ali depositado, especialmente o cálcio, pelo corpo. Por exemplo, vertebrados em geral são passíveis de reutilizar minerais depositados em seus ossos e, portanto, eventuais estudos analisando a composição de elementos-traço nessas estruturas não refletiria a real concentração desses elementos na natureza (QUAN-SHENG; MILLER; CALCIOTROPHIC, 1989). Da mesma forma, a estrutura ideal para ser usada nesse tipo de trabalho são as que crescem concentricamente por acreção (ELSDON et al., 2008), ou seja, que aumentam de tamanho de acordo com o desenvolvimento do animal sem que camadas depositadas anteriormente sejam afetadas pelas novas (PONTUAL; GEFFEN, 2002).
Trabalhos analisando concentrações de elementos-traço são muito abundantes para peixes teleósteos (com quem essa técnica foi primeiramente desenvolvida nos anos 1990) e ainda incipientes para elasmobrânquios. Por isso, muito da literatura e dos pressupostos aplicados pelos trabalhos de microquímica com tubarões e raias são baseados na literatura publicada com peixes ósseos. Entretanto, elasmobrânquios e teleósteos são grupos com uma separação evolutiva muito antiga (400 milhões de anos) (COMPAGNO; DANDO; FOWLER, 2005), bem como têm fisiologias e taxas metabólicas bastante diferentes, o que reforça a necessidade de um avanço metodológico desta técnica focado especificamente para tubarões e raias.
De qualquer forma, vários trabalhos foram produzidos na última década, o que trouxe bastante desenvolvimento a essa área ainda incipiente. Essa área tem ganhado tanta projeção entre a comunidade científica em geral que uma das principais revistas de ecologia marinha do mundo, a Marine Ecology Progress Series, fez uma edição especial para trabalhos com esclerocronologia para o manejo de recursos marinhos em 2018. Nesta edição, dez artigos foram publicados com diversos grupos taxonômicos. Entretanto, nenhum dos trabalhos avaliou aspectos metodológicos dessas análises em elasmobrânquios. Trabalhos com esse enfoque incluem efeitos de variáveis ambientais (p.ex. temperatura, salinidade, pH) na absorção de diferentes elementos químicos e sua incorporação nas vértebras (PISTEVOS et al., 2019; SMITH; MILLER; HEPPELL, 2013), efeito do crescimento na absorção e incorporação dos elementos (SMITH; MILLER; HEPPELL, 2013) e efeitos dos diferentes tipos de armazenamento de amostras e procedimentos de limpeza de vértebras nos resultados da microquímica (LEWIS; PATTERSON; CARLSON, 2017). Para uma ampla revisão bibliográfica sobre o uso de microquímica em elasmobrânquios, leia McMillan et al., (2017).
Além disso, há diversos trabalhos avaliando uso de habitat, existência de berçários, idade e crescimento e estruturação de estoques pesqueiros de elasmobrânquios através da microquímica. No caso de uso de habitat e avaliação de áreas de berçário, um trabalho se destaca. Tillett et al., (2011) estudou como populações de duas espécies de tubarão (Carcharhinus leucas – tubarão cabeça chata e C. amboinensis – sem nome popular no Brasil) usam o ambiente e os padrões microquímicos das suas zonas de berçário na Austrália. Com isso, conseguiu-se evidenciar diferenças entre o uso de habitat entre os sexos para C. leucas, com fêmeas adultas fazendo incursões periódicas em água doce para dar à luz. Já para a outra espécie, cujo hábito é totalmente marinho, a microquímica não foi informativa sobre a existência de berçários, visto que o ambiente marinho é mais homogêneo quimicamente do que o fluvial.
Já para idade e crescimento, a microquímica foi usada para confirmar a periodicidade da formação de anéis de crescimento em uma das espécies de raia mais ameaçadas do mundo: o espadarte (Pristis pectinata). Scharer et al., (2012) usaram leituras de fósforo (P) e razão Sr:Ca para confirmar a
29 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
formação dos anéis, portanto validando a formação anual dos anéis de crescimento. Tal validação é crucial para estudos de idade e crescimento que usam apenas os métodos tradicionais (p.e.x avaliação das vértebras em microscópio estereoscópico, análise de incremento marginal) e é uma das partes mais difíceis de se fazer quando se estudam espécies ameaçadas de extinção. Isso se deve à necessidade de um grande número de amostras, com indivíduos em diversos tamanhos e em uma mesma área. A microquímica, nesse caso, facilitou esse processo com o uso de apenas 15 amostras.
No caso de análise de estruturação de estoques pesqueiros, temos um ótimo exemplo publicado recentemente. McMillan et al., (2018) avaliaram as assinaturas microquímicas nas vértebras de 154 indivíduos da espécie Galeorhinus galeus na Austrália. Essa espécie sofreu com grande pressão pesqueira, levando ao colapso de seus estoques pesqueiros e, consequentemente, à necessidade de conservação para recuperação populacional. Dessa forma, os autores testaram se há diferenças entre os padrões de assinatura química de tubarões capturados em diferentes áreas da costa sul da Austrália. Esse tipo de informação é crucial para o manejo pesqueiro e para entender se o estoque estudado é composto por uma única população ou mais. No caso de G. galeus, os autores descobriram que existem dois estoques diferentes na região, aumentando o conhecimento sobre a espécie e auxiliando na elaboração de medidas para seu manejo pesqueiro.
E o Brasil nessa história toda?
No Brasil, estudos de microquímica não são muito comuns, mas existem. Talvez o mais importante deles tenha sido o de Hermann et al., (2016), que testaram os padrões microquímicos de várias espécies de teleósteos amazônicos e de grande interesse comercial, como Arapaima sp (pirarucu), Plagioscion squamosissimus (pescada amazônica), Prochilodus nicrigans (curimbatá), Brachyplatystoma rousseauxii e B. filamentosum (dourada). Nesse trabalho, os autores conseguiram mostrar os padrões migratórios das espécies na bacia amazônica através da microquímica dos otólitos.
No caso dos elasmobrânquios, estudos de microquímica ainda são incipientes no país e têm avaliado principalmente uso de habitat e comparado estes dados com a história de vida. Até hoje, os únicos trabalhos realizados com essa técnica no Brasil e, até mesmo na América do Sul, são realizados no Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (DIMAR) da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Até agora, apenas um trabalho com essa análise foi publicado (FEITOSA et al., 2020). Neste trabalho, nós estudamos o uso de habitat e testamos a existência de uma zona de berçário para a espécie Carcharhinus porosus (cação junteiro), um dos tubarões mais comumente encontrados no litoral amazônico nas décadas de 1980 e 1990, mas que agora encontra-se como criticamente ameaçada no Brasil e em
estágio de declínio ao longo de sua distribuição (FEITOSA et al., 2020).
Para o cação junteiro, observamos que não há diferenças de uso de habitat entre os diferentes estágios de vida, o que mostra que ambos neonatos, jovens e adultos usam a mesma região a vida toda. Essa informação foi inclusive confirmada com o uso de dados de pescarias
experimentais na mesma região na década de 1980 (LESSA et al., 1999). Além disso, mostramos
que a região amazônica na verdade não é uma área de berçário segundo os critérios
delimitados na literatura (HEUPEL et al., 2018; HEUPEL; CARLSON; SIMPFENDORFER, 2007), mas sim uma área essencial para a manutenção da espécie, visto que ela completa
o ciclo de vida inteiro na mesma região. Dessa forma, demonstramos a
importância da costa amazônica brasileira para a conservação desta espécie de tubarão
e provamos que a microquímica é uma técnica viável e eficaz para estudos populacionais em zonas de baixas latitudes.
Conclusão
Historicamente, os avanços tecnológicos têm aumentado e melhorado consideravelmente a nossa capacidade de analisar dados, com uma qualidade cada vez maior. Foi assim para os primeiros ecólogos que utilizaram o uso de captura-recaptura para estudos de movimento de animais, depois surgiram as formas de rastreio com ondas de rádio, depois através de satélites e, agora, temos a chance de avaliar a composição química de elementos-traço em tecidos rígidos de uma grande variedade de taxa. Como disse Walther (2019) em um artigo de revisão, a microquímica é incapaz de fornecer resultados de uso de habitat em pequena escala como a telemetria via satélite, mas é capaz sim de fornecer resultados como um quadro impressionista, em que a figura só toma forma quando vista de longe. Ela fornece informações amplas e com dados da vida inteira de cada indivíduo. Infelizmente, ainda estamos engatinhando nesse assunto, tanto no Brasil quanto no mundo. Porém, esperamos que nos próximos anos os avanços nessa técnica sejam cada vez maiores e mais significativos.
“... esperamos que nos próximos anos os avanços nessa técnica sejam cada vez maiores e
mais significativos”
Referências
COMPAGNO, L.; DANDO, M.; FOWLER, S. Sharks of the World. New Jersey: Princeton University Press, 2005. DUDGEON, C. L. et al. A review of the application of molecular genetics for fisheries management and conservation of sharks and rays. Journal of fish biology, v. 80, n. 5, p. 1789–843, abr. 2012. ELSDON, T. et al. Otolith Chemistry To Describe Movements And Life-History Parameters Of Fishes. In: GIBSON, R. N.; ATKINSON, R. J. A.; GORDON, J. D. M. (Eds.). Oceanography and Marine Biology: An Annual Review. 46. ed. Boca Raton: CRC Press, 2008. p. 297–330.
30 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
FEITOSA, L. M. et al. Potential distribution and population trends of the smalltail shark Carcharhinus porosus inferred from species distribution models and historical catch data. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, v. 31, n. May 2019, p. 1–10, 2020. FRASER, K. C. et al. Tracking the conservation promise of movement ecology. Frontiers in Ecology and Evolution, v. 6, n. October, p. 150, 2018. HENDERSON, A. C. et al. Taxonomic assessment of sharks, rays and guitarfishes (Chondrichthyes: Elasmobranchii) from south-eastern Arabia, using the NADH dehydrogenase subunit 2 (NADH2) gene. Zoological Journal of the Linnean Society, v. 176, n. 2, p. 399–442, 2016. HERMANN, T. W. et al. Unravelling the life history of Amazonian fishes through otolith microchemistry. Royal Society Open Science, v. 3, p. 160206, 2016. HEUPEL, M. R. et al. Advances in understanding the roles and benefits of nursery areas for elasmobranch populations. Marine and Freshwater Research, 2018. HEUPEL, M. R.; et al. Shark nursery areas: Concepts, definition, characterization and assumptions. Marine Ecology Progress Series, v. 337, n. Nmfs 2006, p. 287–297, 2007. LESSA, R. et al. Population structure and reproductive biology of the smalltail shark (Carcharhinus porosus) off Maranhão (Brazil). Marine and Freshwater Research, v. 50, p. 383–388, 1999. LEWIS, J. P.; et al. Natural variability and effects of cleaning and storage procedures on vertebral chemistry of the blacktip shark Carcharhinus limbatus. Journal of Fish Biology, v. 91, n. 5, p. 1284–1300, 2017. MCMILLAN, M. N. et al. Elements and elasmobranchs: hypotheses, assumptions and limitations of elemental analysis. Journal of Fish Biology, v. 90, n. 2, p. 559–594, 2017. MCMILLAN, M. N. et al. Natural tags reveal populations of conservation dependent school shark use different pupping areas. Marine Ecology Progress Series, v. 599, p. 147–156, 2018.
NAYLOR, G. J. P. et al. A DNA sequence-based approach to the identification of shark and ray species and its implications for global elasmobranch diversity and parasitology. Bulletin of the American Museum of Natural History, v. 367, n. 5, p. 262, 2012. PISTEVOS, J. C. A. et al. Element composition of shark vertebrae shows promise as a natural tag. Marine and Freshwater Research, v. 3, 2019. PONTUAL, H. DE; GEFFEN, A. J. Otolith microchemistry. In: PANFILI, J. et al. (Eds.). Manual of fish sclerochronology. [s.l.] Éditions Ifremer, 2002. p. 245–307. QUAN-SHENG, D.; MILLER, S. C.; CALCIOTROPHIC, S. C. M. Calciotrophic hormone levels and calcium absorption during pregnancy in rats. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, v. 257, n. 1, p. E118–E123, 1989. SCHARER, R. M. et al. Age and Growth of Endangered Smalltooth Sawfish (Pristis pectinata) Verified with LA-ICP-MS Analysis of Vertebrae. PLoS ONE, v. 7, n. 10, 2012. SEYLER, P. T.; BOAVENTURA, G. R. Distribution and partition of trace metals in the Amazon basin. Hydrological Processes, v. 17, p. 1345–1361, 2003. SMITH, W. D. et al. Elemental Markers in Elasmobranchs: Effects of Environmental History and Growth on Vertebral Chemistry. PLoS ONE, v. 8, n. 10, p. 1–19, 2013. TILLETT, B. J. et al. Decoding fingerprints: Elemental composition of vertebrae correlates to age-related habitat use in two morphologically similar sharks. Marine Ecology Progress Series, v. 434, p. 133–142, 2011. WALTHER, B. D. The art of otolith chemistry: Interpreting patterns by integrating perspectives. Marine and Freshwater Research, 2019. ZUMHOLZ, K. et al. Statolith microchemistry traces the environmental history of the boreoatlantic armhook squid Gonatus fabricii. Marine Ecology Progress Series, v. 333, p. 195–204, 2007.
ARTIGO
31 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
ARTIGO
Imag
em: d
eerb
rand
s.com
TAXONOMIA VEGETAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: revelando preciosidades de um mundo verde único
32 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Kauê Nicolas Lindoso Dias: Mestrando em Ciências Biológicas - área de concentração Botânica Tropical pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Graduado em Ciências Biológicas (Licenciatura) pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Membro e co-fundador do Grupo de Discussão em Evolução e Sistemática/UFMA. Foi bolsista de apoio técnico do Herbário do Maranhão (MAR) em 2017 e aluno colaborador do Laboratório de Estudos Botânicos (LEB) de 2014 a 2018, atualmente pesquisador colaborador, atuando na área de diversidade de Poaceae no Maranhão. Foi bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/UFMA) no Laboratório de Estudos Botânicos, desenvolvendo trabalho na área de taxonomia e sistemática da família Poaceae entre agosto de 2016 e julho de 2017. Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial - PET/SESU/MEC (grupo PET Biologia UFMA) no período de maio de 2014 a julho de 2016 e voluntário no período de agosto de 2016 a fevereiro de 2017, onde desenvolveu atividades em Ensino, Pesquisa e Extensão voltados para a comunidade acadêmica da UFMA e para escolas públicas da Ilha de São Luís. Possui experiência em taxonomia e sistemática vegetal, com ênfase em Poaceae.
33 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
A Amazônia é um dos biomas que mais causa comoção pública. Muito se ouve em salvar a Amazônia, as explorações ilegais
ali realizadas sempre ganham a mídia quando descobertas, incêndios florestais são amplamente divulgados. Porém, embora bastante noticiada, a Amazônia ainda é pouco conhecida. Frequentemente os estudos realizados no bioma relatam que a riqueza de espécies é subestimada. Muitas áreas desta vasta imensidão verde nunca foram exploradas cientificamente e, quando o são, muitas espécies novas são descobertas.
Diferente do que se popularmente imagina, a Amazônia não é apenas constituída de florestas úmidas de grande porte, embora esta seja a maior parte. Na verdade, a Amazônia é um grande mosaico vegetacional havendo desde florestas de terra firme (que não inundam), florestas de igapó (inundadas permanentemente) e florestas de várzea (inundadas periodicamente), até extensas matas de galeria, campinaranas (ou campinas, sendo campos abertos de solo arenoso) e formações vegetais aquáticas (IBGE, 2012). Todos esses tipos vegetacionais criam nichos ecológicos1 específicos, sendo muito comum encontrar plantas ocorrentes em apenas algumas dessas vegetações. Com isso, podemos deduzir que este mosaico vegetacional propicie a especiação e elevada riqueza de espécies na Amazônia.
A essa altura, você já deve imaginar que há uma grande diversidade vegetal na Amazônia. E há! De acordo com o The Brazil Flora Group (BFG, 2015), existem 13.195 espécies de plantas ocorrentes na Amazônia brasileira, sendo 8.347 endêmicas do bioma. Número aproximado é encontrado para a Mata Atlântica, com 17.758 espécies, das quais 9.954 são endêmicas. A diferença está na extensão dos biomas, a Amazônia possui cerca de 7.000.000 km2 (BERRY; RIBEIRO, 1999) e a Mata Atlântica cerca de 1.110.182 km2 (INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2019), o que não significa que a Amazônia tenha menos diversidade, mas sim que ela é menos estudada. Isso é visível ao se comparar a quantidade de estudos taxonômicos existente em cada bioma. A Figura 1 mostra as coletas de plantas realizadas na América do Sul, com foco no Brasil.
É recorrente nos trabalhos acadêmicos sobre a biodiversidade amazônica a informação de que ela é subamostrada. E além do que já foi mencionado acima, outro problema que existe é a dificuldade logística existente na região. A falta de investimento em pesquisa é outro empecilho: há poucas instituições de ensino e pesquisa na região Norte. O conjunto de toda essa obra resulta no que observamos na Figura 1, e na eterna subamostragem da biodiversidade amazônica.
Diante disso, o objetivo desse artigo é discorrer sobre o estado da arte e como acessar a biodiversidade vegetal na Amazônia brasileira.
Figura 1: Mapa da América do Sul com foco no Brasil, mostrando a ausência de coletas na região amazônica. Quanto mais intenso o azul, maior a quantidade de coletas. Extraído de Global Biodiversity Information.
Como descobrimos novas espécies de plantas e a biodiversidade vegetal amazônica
A forma mais básica de mensurarmos a biodiversidade é por quantidade de espécies (riqueza), mas como teremos acesso a essa informação? Aqui entra a figura do taxonomista, profissional habilitado a estudar as características das espécies e circunscrevê-las de acordo os seus conhecimentos. O taxonomista geralmente foca seus estudos em apenas um grupo taxonômico, pois como esses estudos exigem grande aprofundamento é inviável lidar com uma quantidade muito grande de táxons. E como o taxonomista descobre novas espécies? Bem, em botânica, adotamos o conceito morfológico ou tipológico de espécie (JUDD et al., 2009), no qual delimitamos cada espécie por seus atributos morfológicos (KISCHLAT, 2005). Imagine que você tenha que descrever morfologicamente dois bolos de cenoura, um deles com bastante ganache e o outro sem cobertura. Você certamente apontaria que ambos os bolos podem até ser de cenoura, mas não são bolos iguais de cenoura, são tipos de bolos diferentes. É mais um menos assim que os taxonomistas botânicos lidam com as espécies.
Agora imagine-se explorando uma área, onde você conhece bem um determinado grupo vegetal desta localidade, você sabe bem a descrição de todas as espécies conhecidas desse grupo. E então, você encontra uma espécie que morfologicamente não se encaixa nas descrições conhecidas por você. Um formato de fruto diferente, quantidade de estames² diferentes, porte da planta diferente. Pronto, você tem uma espécie nova! Agora imagine que essa área tenha sido destruída antes de você encontrar aquele espécime³ ou se nunca tivesse ido àquele local, essa espécie nunca teria sido descoberta. É mais ou menos isso que acontece com a Amazônia, muitos lugares são explorados por garimpos, indústrias madeireiras e agropecuárias (COHEN et al., 2007), antes mesmos de conhecermos a biodiversidade do bioma.
Font
e: h
ttps:/
/ww
w.ni
cepn
g.co
m
34 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Apesar dos obstáculos, há instituições de pesquisa na região que se empenham em conhecer a diversidade amazônica. Com os avanços tecnológicos, apoio das instituições de fomento e formação de pessoal qualificado (taxonosmistas) muita coisa tem sido descoberta.
Qual o estado da arte da taxonomia vegetal na Amazônia brasileira?
Por muito tempo as principais referências sobre a biodiversidade vegetal amazônica eram provenientes de pesquisadores estrangeiros. A maior obra a documentar boa parte da biodiversidade vegetal da Amazônia do Brasil foi a Flora Brasiliensis (VON MARTIUS, 1840 e 1906), que foi como o pontapé para os estudos botânicos no país. Desde essa obra poucos trabalhos taxonômicos mais amplos foram publicados para a região. No final do século XX, o projeto Flora da Reserva Ducke (BERRY; RIBEIRO, 1999) dedicou-se a estudar a flora de uma reserva amazônica, localizada em Manaus – AM. Recentemente, o projeto Flora das cangas da Serra dos Carajás (VIANA et al., 2016) estudou a flora dos campos ferruginosos da Floresta Nacional de Carajás – PA, fazendo todo o tratamento taxonômico para as famílias nesta localidade.
A Flora da Reserva Ducke resultou em um livro e diversos tratamentos taxonômicos, que foram publicados até o ano de 2019. Já a Flora das cangas da Serra dos Carajás resultou em quatro volumes de artigos com tratamentos taxonômicos e diversas novas espécies e novos gêneros, como Carajasia (Rubiaceae) e Brasilianthus (Melastomataceae). Entretanto, embora tenham gerado diversos produtos, estes projetos investigaram apenas pequenas porções da Amazônia brasileira.
A região conta com universidades e institutos federais de educação, além de dois grandes institutos de pesquisa: o Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA, Manaus, Amazonas) e o Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém, Pará) que possuem programas de pós-graduação em Botânica. Porém, dada a extensão do bioma, pode-se dizer que faltam, ainda, instituições de pesquisa na região Norte do país. É importante também mencionar a questão da formação de novos taxonomistas, algo que só será possível com aumento no investimento em programas de pós-graduação e instituições de ensino e pesquisas da Amazônia.
A importância da taxonomia na tarefa de estimar a biodiversidade
Como mencionado anteriormente, as estimativas de diversidade se baseiam em dados como número e
distribuição das espécies, geralmente dados gerados e/ou verificados por taxonomistas. No entanto, nem sempre quem faz as estimativas são profissionais ligados à taxonomia. Frequentemente são publicados artigos em que os autores estimam a quantidade de espécies de plantas ocorrentes em toda a extensão da Amazônia, alguns chegando a estimar cerca de 50.000 espécies (HUBBELL et al., 2008). Números impressionantes, no entanto, podem estar equivocados. Alguns problemas taxonômicos geralmente estão presentes nas listas de espécies utilizadas para os cálculos, superestimando os números. Tais dados, embora pareçam bons, mascaram a realidade já mencionada: subamostragem e subestimação do número de espécies, o que mantém a real diversidade ainda desconhecida.
Mediante isso, um grupo de taxonomistas publicou um artigo com estimativas realizadas com base em uma lista taxonomicamente verificada (CARDOSO et al., 2017). O artigo intitulado Amazon plant diversity revealed by a taxonomically verified species list obteve resultados mais realistas: para as florestas de terra firme foram estimadas 14.003 espécies de plantas, sendo 48% árvores e 52% herbáceas e epífitas.
Isso nos mostra o quão importante é o trabalho do taxonomista e como dependemos da ciência de base4 para realizar estudos mais aplicados. Mostra ainda que, embora pouco estudada, o número de espécies na Amazônia já é impressionante. Todas essas informações estão diretamente ligadas ao trabalho dos taxonomistas.
Como é fazer ciência de base em botânica na Amazônia brasileira?
A frase que pode melhor responder a esta pergunta é: complicado, mas instigante. Ela se aplica a quase todos os estudos na Amazônia. O bioma é imenso em extensão e o acesso a muitas áreas é feito apenas por meio de barcos, pequenos aviões ou helicópteros. No entanto, quando estes recursos são viáveis, coisas magníficas podem ser descobertas. Um exemplo recente disso, foi o projeto “Riqueza de espécies em regiões montanhosas da Amazônia brasileira: diversidade e conservação”, conduzido por pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (COELHO et al., 2015), neste projeto foram realizadas expedições de coleta a regiões montanhosas da Amazônia, a fim de se catalogar as espécies vegetais ocorrentes nessas áreas.
E como descobrir tais coisas? O trabalho principal do taxonomista botânico é coletar, identificar e descrever. O profissional vai a campo e coleta tudo aquilo que se encontra fértil (com flores ou frutos). Espécimes não-férteis (estéreis), embora possam ser identificados à nível específico, dificultam a determinação.
35 Boletim PETBio UFMA / nº 50 / Dezembro de 2019
Após a coleta, o material é prensado e secado em estufa, para só então ser devidamente identificado (devidamente analisado com base em literatura específica para correta determinação do nome da espécie) e inserido em uma coleção de herbário (PEIXOTO; MAIA, 2013). Após essas etapas, a descrição é feita com base nas observações anotadas em campo, como coloração, altura e possíveis odores, caracteres que são perdidos (que se perde após secagem, além da análise morfológica do material coletado. É durante esse processo que se descobre se a espécie já é conhecida para a ciência –já possui um nome científico – ou se é uma espécie nova para a ciência, o que pede uma publicação seguindo o código de nomenclatura botânica, nomeando-a formalmente. Esse trabalho, que pode parecer simples para alguns, é minucioso e requer muitos anos de estudo no reconhecimento e caracterização das espécies.
Em se tratando da Amazônia, à parte das dificuldades, trabalhar com taxonomia é desbravar o grande desconhecido e estar constantemente sendo desafiado pelo ambiente. Há também muito aprendizado com as comunidades tradicionais e indígenas, onde se trocam muitos saberes tornando todo o trabalho extremamente gratificante.
Desbravando problemas: o futuro da taxonomia na Amazônia brasileira
Dentre as belezas e os empecilhos de se trabalhar na Amazônia, cabe discutir o futuro do estudo da grande floresta em face às políticas ambientais recentes e cortes de verbas para ensino e pesquisa. Primeiramente, a taxonomia é naturalmente inferiorizada frente à outras áreas de pesquisa, por ser ciência de base. Segundo, os recentes cortes efetuados nas bolsas de estudos de agências de fomento prejudicam ainda mais a formação de recursos humanos para atuar em taxonomia e outras ciências que não são diretamente aplicadas à população. E por fim, como já mencionado, a Amazônia é muito extensa e conta com poucos centros de ensino e pesquisa.
Portanto, podemos afirmar que a ausência de informação sobre a real diversidade da Amazônia deve-se, especialmente, à carência de investimentos. Enquanto isso não mudar, teremos poucos taxonomistas atuando na região, ausência de expedições de coleta e, consequentemente, desconhecimento sobre a biodiversidade vegetal deste bioma.
Glossário1. Nicho ecológico: é o conjunto de condições e recursos que permitem a uma espécie sobreviver no ambiente.2. Estames: estruturas reprodutivas masculinas das flores, compostos por filete e anteras.
3. Espécime: um exemplar coletado de uma espécie.4. Ciência de base: modalidade da ciência em que são produzidos conhecimentos novos, sem necessária aplicação direta em produtos para a sociedade.
Referências BERRY, P. E.; RIBEIRO, J. E. L. S. Flora da Reserva Ducke: guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na Amazônia Central. INPA, Manaus, 1999. BFG (The Brazilian Flora Group). Growing knowledge: an overview of seed plant diversity in Brazil. Rodriguésia 66: 1085-1113, 2015.CARDOSO, D. et al. Amazon plant diversity revealed by a taxonomically verified species list. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 114, n. 40, p. 10695-10700, 2017.COELHO, M. A. N. et al. Expedições às montanhas da Amazônia. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio, 2015.COHEN, J. C. P. et al. Influência do desmatamento sobre o ciclo hidrológico na Amazônia. Ciência e Cultura, v. 59, n. 3, p. 36-39, 2007.HUBBELL, S. P. et al. How many tree species and how many of them are there in the Amazon will go extinct? Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 105, p. 11498-11504, 2008. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. [s.l: s.n.]., 2012.INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS. Bioma Mata Atlântica. 2019. Disponível em: https://www.ibflorestas.org.br/bioma-mata-atlantica. Acessado em: 12/11/2019.JUDD, Walter S. et al. Sistemática Vegetal-: Um Enfoque Filogenético. Artmed Editora, 2009.KISCHLAT, E. Os conceitos de espécie: uma abordagem prática. Métodos de Estudo em Biologia, v. 2, n. 1, p. 11–35, 2005. PEIXOTO, A. L.; MAIA, L. C. Manual de procedimentos para Herbários. [s.l: s.n.]. v. 1, 2013.VIANA, P. L. et al. Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: História, área de estudos e metodologia. Rodriguésia, v. 67, n. 5SPE, p. 1107-1124, 2016. VON MARTIUS, K. F. P. Flora Brasiliensis. Leipzig: Ed. Frid. Fleischer, 1859. Disponível em: http://florabrasiliensis.cria.org.br/. Acessado em: 8 mai 2020.
Imag
em: e
ncry
pted











































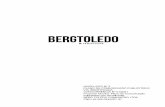




![Crítica à Execução Penal [2a edição]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ae641d43f4e176304a750/critica-a-execucao-penal-2a-edicao.jpg)