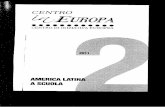Os trópicos brasileiros no século XIX: a construção de um paradigma tropical
Transcript of Os trópicos brasileiros no século XIX: a construção de um paradigma tropical
229
OS TRÓPICOS BRASILEIROS
NO SÉCULO XIX: A CONSTRUÇÃO
DE UM PARADIGMA TROPICAL
Luis Fernando Tosta Barbato1
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo
entender como a noção de clima tropical,
tão importante na construção da
identidade nacional brasileira no século
XIX, foi construída. Através da análise de
textos de cronistas que visitaram o Brasil
em seus tempos de colônia, de filósofos
da Ilustração, e da historiografia
dedicada ao tema, entenderemos como o
clima tropical foi visto durante a história,
e assim entender quais foram as imagens
sobre os trópicos que ajudaram a formar
a nossa própria noção de país tropical,
iniciada no século XIX.
Palavras-chave: História dos conceitos;
Historiografia do século XIX; História
Cultural.
ABSTRACT
This study aims to understand how the
notion of tropical climate, so important in
the construction of Brazilian national
identity in the nineteenth century, was
built. By the analysis of chroniclers that
visited Brazil in their colony times,
philosophers of Illustration, and
historiography dedicated to the theme,
we will understand how the tropical
climate was seen throughout history, and
thus to understand what were the images
of the tropics who cooperated to form our
own notion of tropical country, which
began in the nineteenth century.
Keywords: History of concepts;
Historiography of the nineteenth century;
Cultural history.
Introdução
O clima tropical é elemento
marcante da identidade nacional
brasileira, como grande parte da
historiografia dedicada aos estudos
do século XIX aponta, foi sobre essa
singularidade do Brasil – aqui em
referência à Europa de clima
temperado – que se formou uma das
principais bases para as
representações que marcariam o
Brasil, tanto dentro do país, quanto
no exterior (SÜSSEKIND, 1990;
VENTURA, 1991; NAXARA, 2001;
BARBATO, 2011).
Dessa forma, a presença do
clima tropical, ou os trópicos, se
estendermos a análise a tudo aquilo
que do clima decorria, como as
próprias características morais dos
brasileiros é elemento marcante
dentro da historiografia brasileira,
como pode ser visto, por exemplo, ao
encontrarmos termos como
“medicina tropical”, “civilização
tropical”, ou “tropicalismo” para fazer
referência aquilo que é brasileiro,
servido, dessa maneira, como
elemento distintivo e identificador.
E é no século XIX que
podemos encontrar o embrião dessa
associação entre a identidade
nacional brasileira e o clima tropical,
afinal, ele bem atendia aos anseios
do Governo Imperial e dos
intelectuais ligados a ele de produzir
e promover uma identidade para o
Brasil, afinal, concentrava aquilo que
uma identidade nacional necessitava,
pois, ao mesmo tempo que marcava
a singularidade, também servia como
elemento capaz de promover o
orgulho do pertencimento, algo
deveras importante para um povo
distribuído parcamente por um
território de proporções enormes e
muito mal comunicado, como era o
Brasil nesses idos dos oitocentos
(BARBATO, 2011).
1 Doutorando em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)
230
No entanto, a construção
desse ideal nacional tropical no
século XIX, não foi simples como as
palavras acima podem dar a
entender. Os trópicos há muito
vinham sendo visitados, estudados e
debatidos na Europa, e no decorrer
de séculos, desde que pela primeira
vez os europeus aqui pisaram, um
turbilhão de informações detratoras e
exaltantes percorreu o Velho e o
Novo Mundo. Imagens essas que se
fariam refletir nas opiniões dos
próprios brasileiros no século XIX,
ajudando a construir trópicos
ambivalentes, às vezes sufocantes,
perigosos e avessos ao almejado
progresso europeu, outras calcadas
em suas imagens paradisíacas, em
suas florestas virgens, e em sua terra
fértil, detentora de um futuro de boas
esperanças. Assim, chegamos aos
oitocentos com uma visão tropical já
marcada pelas experiências
europeias, e que não deixariam de
deixar suas marcas na construção do
próprio ideário tropical brasileiro.
Desta maneira, o que
buscamos aqui é trazer toda uma
história do clima tropical, e mostrar
como ele foi trabalhado no decorrer
dos tempos, e quais foram as
representações e conceitualizações
que chegaram até o século XIX e
acabaram servindo de base para a
construção de um paradigma
tropical, tão importante dentro do
processo de construção da identidade
nacional brasileira no período.
O clima tropical na história
Sobre essa rede de opiniões,
estudos e experiências europeias,
que ajudaram a construir nossas
próprias noções e visões de trópicos
no século XIX, e que acabaram por
se estender, inclusive para tempos
posteriores, podemos começar a
tratar dos primeiros europeus que cá
pisaram e que deixaram suas
impressões. Viajantes e
colonizadores que pela primeira vez
aproximaram os trópicos e sua
natureza exuberante de um paraíso
terreal, e que, através dessas boas
impressões, ajudariam, séculos
depois, a construir uma identidade
tropical brasileira, que muito
guardava do paraíso – não isento de
problemas, vale frisar – descrito por
esses estrangeiros.
Para ilustrar isso, temos os
textos de Pero Vaz de Caminha e
Américo Vespúcio, que podem ser
considerados pioneiros na
empreitada marítimo-comercial que
atingiu as terras situadas do outro
lado do Atlântico. Caminha disse
sobre a terra encontrada que ela em
“si é de muitos bons ares, assim frios
e temperados... As águas são muitas,
infindas”. Vespúcio afirmou sobre o
Brasil: “E, em verdade, se o paraíso
terrestre está localizado em alguma
parte da terra, julgo que não dista
muito daquelas regiões [referindo-se
ao Brasil]” (PARKER, 1991: p. 25-
28).
Com Cristóvão Colombo não
foi diferente, assim, como Caminha e
Vespúcio, suas impressões sobre as
terras tropicais encontradas no Novo
Mundo foram muito positivas,
chegando ele a afirmar que “esta
terra [referindo-se a uma ilha que
visitava no mar do Caribe] é a
melhor e mais fértil, temperada,
plana e boa que tem no mundo”
(COLOMBO, 1984: p. 51).
As imagens edênicas
aparecem em várias oportunidades
nos relatos de Colombo acerca da
231
América, no entanto, em algumas
passagens, é possível notar que o
clima tropical, apesar de salutar a
princípio, poderia também mostrar
aspectos negativos:
Nunca vi céu mais aterrador: um dia
ardeu feito forno até de noite, a ponto
de eu olhar para ver ser não me havia
levado os mastros e a velas. A
tripulação estava tão alquebrada que
sonhava até com a morte para se
livrar de tantos padecimentos
(COLOMBO, 1984, p. 153).
Colombo também deixa
transparecer em seus relatos que o
clima tropical não era tão salutar
como acreditava:
Eu [Colombo], muito só, do lado de
fora, numa costa tão bravia, com
febre alta e tanto cansaço”
(COLOMBO, 1984: p. 155).
Nos séculos XVI e XVII temos
uma farta gama de relatos de
europeus que - desembarcando como
religiosos, militares, comerciantes,
exploradores, ou apenas curiosos -
passaram pelas regiões tropicais e
deixaram suas impressões, sendo o
Brasil um local privilegiado no que
toca a essa questão.
Em relação aos viajantes
europeus que passaram pelo Brasil,
as visões positivas sobre o clima e a
natureza do país também são
bastante significativas. Segundo
Sant’anna Neto, esses viajantes
percorriam um território natural e
selvagem, muito diferente da Europa
com a qual estavam acostumados.
Repletos de simbologia, e envoltos
em mitos e fábulas, seus relatos
apresentam descrições que
evidenciam muito mais visões do que
fatos (SANT´ANNA NETO, 1999: p.
14).
Lilia Schwarcz corrobora os
dizeres de Sant’anna Neto, ao
afirmar que a literatura de viagem
produzida nos séculos XVI e XVII
aliava a fantasia com a realidade e
buscava no mundo natural americano
aquilo que os europeus já
imaginavam previamente, o que,
segundo a autora, seria justamente o
mito do Paraíso Terrestre. Para esses
cronistas do Velho Mundo, em meio
àquelas maravilhosas terras
americanas, poderia estar o Paraíso
Terrestre, como sua primavera
eterna, seus campos férteis, suas
fontes da juventude... Mas essas
terras também poderiam ser
inóspitas, habitadas por monstros
disformes2.
Desta maneira, podemos aqui
elencar os numerosos relatos de
viajantes, alguns estabelecidos na
colônia, que trata da questão do
clima no Brasil, e suas ambivalências.
Podemos começar pelos relatos dos
missionários jesuítas que aportaram
no Brasil logo no início da
colonização, os quais enaltecem a
natureza e o clima brasileiro.
Exemplo disso é a carta de Pe.
Manuel da Nóbrega, enviada em
1549, que descreve a Bahia como
uma terra agradável, “muito
temperada. De tal maneira que o
inverno não é nem frio nem quente,
e o verão, ainda que seja mais
quente, bem se pode sofrer3 (...)”
(HUE, 2006: p.32).
Fernão Cardim, por exemplo,
que esteve no Brasil entre os anos de
1583 e 1599, é outro desses
exemplos de cronistas que deixaram
relatos positivos sobre o clima e as
terras brasileiras. Afinal, o viajante
de seus Tratados da Terra e Gente do
Brasil, compara o clima brasileiro
2 A verdade é que os verdadeiros “monstros disformes” que mostrariam o outro lado das presumíveis paradisíacas terras tropicais se apresentariam na forma humana. Eram os indígenas, que com sua nudez, seu canibalismo, poligamia, e outras atitudes condenáveis aos olhos europeus, seriam os formadores do antiparaíso, e até do inferno. 3 Para esses missionários da Companhia de Jesus, como ressalta Ronaldo Vainfas, os males das terras tropicais não estavam em seu clima e natureza, que viam com bons olhos, mas sim em suas gentes, tanto as nativas, como as de origem lusitana que aqui aportavam, prontas a desobedecer as ordens de Deus. Não vamos nos alongar agora sobre essa questão, porque ela será retomada mais afundo no decorrer do
trabalho (VAINFAS, 1989: p. 18-31).
232
com o clima de Portugal, e constata
que os climas do Rio de Janeiro e de
São Paulo são bastante agradáveis4,
enfatizando ainda a fertilidade do
solo paulista (SANT´ANNA NETO,
1999: p. 16-17).
Entre os portugueses que por
aqui estiveram e deixaram suas
impressões, vale citar os tratados de
Pero de Magalhães Gândavo, que
escreveu as obras História da
Província de Santa Cruz, de 1576, e
Tratado de Terra & História do Brasil,
e também a obra de Ambrósio
Fernandes Brandão, Diálogo das
grandezas do Brasil, de 1618.
Ambos os autores enfatizaram
expoentes da vertente edenizadora
das terras brasílicas, no entanto,
como ressalta Laura de Mello e
Souza, há uma matização dessa
edenização nesses cronistas,
reiterando a ideia que de que o
caráter edênico se reelabora,
transmutando-se, com o processo de
colonização. A natureza tropical da
colônia portuguesa era reafirmada
como pródiga e generosa, mas desde
que transformada pelo homem
(MELLO E SOUZA, 1986: p. 40).
Gândavo escreve, como diz
Schwarcz, “em tom de eterna
propaganda”5 a respeito das terras
brasileiras, uma vez que não se
cansa de elogiar suas qualidades.
Suas obras fazem referência ao clima
ameno, ao solo fértil e viçoso, à
luminosidade do sol, às boas águas,
que são sadias para beber,
finalmente sintetizando: “Esta terra é
tão deleitosa e temperada que nunca
nela se sente frio nem quentura
sobeja” (SCHWARCZ, 2008: p. 26).
Sobre Gândavo, Laura de
Mello e Souza observou que as
imagens empregadas para qualificar
a Província de Santa Cruz são as
normalmente empregadas nas
descrições europeias dos Paraísos
Terrestres, como nas passagens: a
terra é “mui deliciosa e fresca (...)
onde permanece sempre a verdura
com aquela temperança da
primavera que cá [Europa] nos
oferece abril e maio”. No, entanto,
para Gândavo, segundo Mello e
Souza, essas potencialidades do
trabalho humano se revertem em
favor do trabalho humano,
facilitando-o (MELLO E SOUZA, 1986:
p. 40). O trecho abaixo mostra como
a fertilidade da terra, unida ao
esforço humano pode ser fonte
geradora de grandes riquezas, como
o açúcar e o algodão:
Além das plantas que produzem essas
frutas e mantimentos que na terra se
comem, há outras de que os
moradores fazem suas fazendas,
convém a saber, muitas canas-de-
açúcar e algodões, que são a principal
riqueza que há nestas partes, de que
todos se ajudam e fazem muito
proveito em todas as capitanias,
especialmente na de Pernambuco,
onde foram feitos perto e trinta
engenhos, e na Bahia do Salvador
quase outros tantos, donde se tira a
cada ano grande quantidade de
açúcares, e se dá infinito algodão (...)
(GÂNDAVO, 2004: p. 84).
Brandônio também ressalta as
qualidades climáticas das terras
brasileiras, com seus ventos frescos,
a simetria na duração de dias e
noites, o que faz com que também se
atrele à vertente edênica das terras
tropicais do Novo Mundo, como
podemos observar na seguinte
passagem: “Não faltam autores que
querem afirmar estar nessa parte
situado o paraíso terreal” (BRANDÃO,
s.d.: p. 44).
4 Se ao descrever as terras brasileiras com ares que as aproximam do Paraíso, sobre os homens nativos destas terras suas descrições não foram tão positivas, chegando a comparar a oca indígena a um labirinto infernal, onde o fogo acesso dia e noite, verão e inverno fazia as vezes de única roupa que conheciam, além de ali serem praticados atos de promiscuidade, em ambientes sem divisórias nos quais viviam cem ou duzentas pessoas, tudo isso às vistas uns dos outros, e como testemunha o fogo que ardia sem parar (VAINFAS, 1989: p. 152). 5 O que é plenamente justificável, a notar que Gândavo desfere palavras alentadoras acerca da colônia portuguesa na América, a fim de incentivar a
imigração de portugueses para o Brasil, como pode observar no trecho: “(...) achei que não se podia dum fraco homem esperar maior serviço (ainda que não pareça) que lançar mão desta informação da terra do Brasil (cousa que ategora não empreendeu pessoa alguma) pera que nestes Reinos se divulgue sua fertilidade e provoque a muitas pessoas pobres que se vão viver a esta província, que nisso consiste a felicidade e augmento della” (GÂNDAVO, 1980: p. 21).
233
Segundo Mello e Souza,
Brandônio incorpora a edenização,
um elemento importante do
imaginário europeu, mas dela faz
uma leitura nova, pois o Éden é
formado a partir da união da
natureza pródiga e generosa, ao
trabalho humano.
Mello e Souza mostra isso ao
defender que, de todas as riquezas
fundamentais do Brasil, arroladas por
Brandônio, com exceção da madeira
e do pau-brasil, todas as demais -
lavoura do açúcar, mercancia,
algodões, lavouras de mantimentos e
criação de gado - pressupõem
atividade colonizadora (MELLO E
SOUZA, 1986: p. 41).
Podemos ainda citar aqui,
como exemplo da vertente
edenizadora das terras brasílicas
entre os portugueses, Rocha Pita,
que em sua História da América
Portuguesa, de 1730, dá a seguinte
opinião sobre nossas terras:
Em nenhuma outra Região se mostra
o Ceu mais sereno, nem madruga
mais bella a Aurora: o Sol em
nenhum outro Hemisferio tem os
rayos tão dourados, nem os reflexos
nocturnos tão brilhantes: as Estrellas
são as mais benignas, e se mostrarão
sempre alegres: os horisontes, ou
nasça o Sol, ou se sepulte, estão
sempre claros: as aguas ou se tomem
nas fontes pelos campos, ou dentro
das povoações no aqueductos, são as
mais puras: é enfim o Brasil Terreal
Paraíso descoberto, onde têm
nascimento e curso os mayores rios:
domina salutifero clima; influem
benignos Astros e respirão auras
suavissimas, que o fazem fértil, e
povoado de innumeráveis
habitadores, posto que por ficar
debaixo da Torrida Zona, o
desacreditassem, e dessem por
inabitavel Aristoteles, Plinio e
Cicero(...) (PITA, 1950: p. 23).
Como podemos notar, entre
os portugueses que aqui vieram nos
séculos XVI e XVII, as imagens do
clima e das terras brasílicas foram
positivas. Em relação aos primeiros
franceses que passaram pelo Brasil6,
tais imagens também foram
levantadas, pois da mesma forma
relataram uma terra de belezas,
fertilidade e alegria. Em todos estes
relatos, é quase unânime a boa
impressão da flora, fauna e
habitantes. Léry, Abbeville e Evreux,
Barré7, entre outros defendiam a
existência de um quadro natural
puro, sadio e paradisíaco.
Como, a esse respeito,
ressaltou Leyla Perrone-Moisés:
O Brasil desses primeiros viajantes
franceses é uma terra de beleza,
fertilidade e alegria. A opinião sobre
os bons ares, a riqueza e o colorido
da flora e fauna, assim como a boa
impressão sobre os habitantes é
unânime (PERRONE-MOISÉS, 1989:
p.90)8.
Isso vem a ser corroborado
nos diversos trechos retirados dos
relatos desses viajantes franceses,
que veem certa aproximação entre as
terras brasileiras e o Éden. Nicolas
Barré, por exemplo, entusiasmado
com a abundância de peixes, plantas
e metais à disposição humana,
mostra seu aspecto positivo em
relação ao clima e terras que
encontrou na colônia portuguesa na
América: “A terra é irrigada e tem
belos rios de água doce, a mais
saudável que jamais bebi. O ar é
temperado, tendendo mais ao calor
que ao frio (...) a terra é fértil e
salubre” (SCHWARCZ, 2008: p. 32).
André Thevet9 a princípio
descreveu o Rio de Janeiro como um
lugar inóspito, de chuvas incessantes
6 É importante lembrar que até a chegada da Corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, a entrada de estrangeiros era basicamente impedida ou limitada no Brasil. No entanto, essa proibição não evitou a vinda de religiosos, soldados, comandantes, corsários ou meros curiosos, como ressaltou Lilia Schwarcz, pessoas que deixaram uma série de relatos sobre nossas terras, passados avidamente de mão em mão (SCHWARCZ, 2008: p. 23). 7 Os quatro eram membros das missões francesas que tentaram colonizar áreas do Brasil. Jean de Lery visitou o Brasil em 1557, na chamada França Antártica, situada no Rio de Janeiro. Já Claude d´Abbeville e o capuchinho Yves d´Evreux participaram da missão francesa na chamada França Equinocial, o primeiro
em 1612, permanecendo por 4 meses, e o segundo durante os anos de 1613 e 1614. Já Nicolas Barre foi um dos calvinistas enviados ao Brasil a fim de participar dos empreendimentos de Villegagnon no Brasil, em 1555. 8 Aqui, vale ressaltar, as boas impressões acerca dos habitantes é referente aos seus quadros de saúde, ressaltando o clima do Brasil como benéfico aos corpos, em relação aos seus hábitos, as opiniões também apontam para os sentidos negativos, como trouxemos anteriormente.
234
e calor insuportável, acreditando ser
a natureza brasileira perigosa e
corrompida. No entanto, após sua
estadia no Brasil, Thevet mudou sua
postura em relação ao clima do país,
acreditando que os antigos falavam
mais por conjecturas do que por
experiências sobre a vida nos
trópicos, e que, depois de morar nos
trópicos, constatou que não lhe
restavam dúvidas a respeito da
superioridade dos trópicos para a
sobrevivência e habitabilidade
humanas (SANT´ANNA NETO, 1999:
p. 19-20). O Brasil acabaria sendo
apresentada por Thevet como um
lugar “tropical e fértil”.
Jean de Léry publicou seu
relato referente à sua estada na
França Antártica, em 1578, segundo
o autor, com o objetivo principal de
desmentir “mentiras e erros”
contidos no livro de Thevet10. Léry,
nessa sua empreitada, como diz
Schwarcz, “faz o leitor seguir viagem
ao seu lado e logo se refere ao
impacto que sentiu diante da
natureza brasileira (...)”
(SCHWARCZ, 2008: p. 34). Como
podemos ver no trecho abaixo:
Por isso, quando a imagem desse
novo mundo, que Deus me permitiu
ver, se apresenta aos meus olhos,
quando revejo assim a bondade do ar,
a abundância de animais, a variedade
de aves, a formosura das árvores e
das plantas, a excelência das frutas e
em geral, as riquezas que embelezam
essa terra o Brasil, logo me acode a
exaltação do profeta no salmo 104:
Ó seigneur Dieu, que tes oevres
divers
Sont merveilleux par Le monde
univers:
Ó que tu as tout fait par grande
sagesse!
Bref, La terre est pleine de ta
largesse11.
O trecho acima, ainda nos
serve de exemplo para a divinização
da natureza brasileira, entre
viajantes que percorreram nossas
terras nos séculos XVI e XVII,
atrelando a sua magnitude à prova
da obra de Deus na Terra, como nos
mostra Laura de Mello e Souza:
associar a fertilidade, a vegetação
luxuriante, a amenidade do clima às
descrições tradicionais do Paraíso
Terrestre tornava mais fácil e familiar
para os europeus a terra tão distante
e desconhecida. A presença divina
fazia-se sentir também na natureza;
esta, elevada à esfera divina, mais
uma vez reiterava a presença de Deus
no universo (MELLO E SOUZA, 1986:
p. 35).
Nesse rol de viajantes que
valorizaram e elogiaram a natureza
brasileira, vendo em seu clima,
terras, rios, águas, fauna e flora
componentes de uma imagem
edênica, poderíamos ainda enquadrar
as Memoires de M. Du Gué-Trouim
(1730), de Duguay Trouim; Relation
historique et geographique de la
grande rivière dês Amazones (1655),
de Blaise-François Pagan e Historie
du Nouveau Monde ou Description de
Indes Occidentales (1640), de
Joannes de Laet12. Há ainda uma
gama diversa de outros autores que
poderiam ser citados como exemplos
desse vertente edênica da natureza
tropical brasileira, o que ressalta esse
caráter primordialmente positivo de
nossa condição tropical propagado
por esses primeiros visitantes
estrangeiros que aqui estiveram.
Schwarcz, em seu O Sol do
Brasil, afirma que “a mística da terra
do mel surge por toda a parte”,
referindo-se às terras brasileiras
nesses idos dos séculos XVI e XVII, o
9 O franciscano Thevet permaneceu por 3 meses na chamada França Antártica durante o ano de 1555, em companhia de Villegaignon. 10 Em seu relato, Thevet demonstrou deveras repulsa a hábitos indígenas como a poligamia e o canibalismo, afirmando assim a certeza da ausência de regras entre eles. Já Léry vem justamente em defesa dos nativos, mostrando que entre eles também haveria regras e valores como entre os colonizadores (SCHWARCZ, 2008: p. 34). 11 “Senhor Deus, como
tuas obras diversas são
maravilhosas em todo o
universo! Como tudo
fizeste com grande
sabedoria! Em suma, a
terra está cheia de tua
magnificência.” ( LÉRY,
1980: p. 181).
12 Todos esses exemplos
foram retirados da obra
de Schwarcz
(SCHWARCZ, 2008:
pp.39-40).
235
que não deixa de ser verdade. No
entanto, cabe aqui frisar que nesses
relatos, apesar de haver um maior
número de imagens positivas a
respeito do clima e terras do Brasil,
há também o aparecimento de
imagens negativas, por isso, o
correto é afirmar que nesse período
da História, o clima tropical
apresentava uma visão globalmente
positiva, como afirma Perrone-Moisés
(PERRONE-MOISÉS, 1989: p. 90).
Nesse sentido, Gândavo,
apesar de relatar um Brasil de
maravilhas e salubridade, mostra que
aqui também havia perigos: “Este
vento da terra é mui perigoso e
doentio e se acerta de permanecer
alguns dias, morre muita gente,
assim portugueses, como índios da
terra” (MELLO E SOUZA, 1986: p.
45).
Em outra passagem, Gândavo
culpa o clima do Brasil pela grande
quantidade de animais peçonhentos
que possui:
Dos climas que a senhoreiam [a
Terra], não pode deixar de os haver
[os animais peçonhentos]. Porque
como os ventos que procedem da
mesma terra se tornem infeccionados
das podridões das ervas, matos e
alagadiços geram-se com a influência
do sol que muito concorre, muitos e
mui peçonhentos, que por toda a
terra estão esparzidos, e esta causa
se criam e acham nas partes
marítimas, e pelo sertão dentro
infinitos da maneira que digo
(GÂNDAVO, 2004: p.106).
Ainda sobre a questão da
abundância de animais peçonhentos
no Brasil, Cardim nos dá o seguinte
relato:
Parece que este clima influi peçonha,
assim pelas infinitas cobras que há,
como pelos muitos Alacrás, aranhas e
outros animais imundos, e as
lagartixas são tantas que cobrem as
paredes das casas (CARDIM, 1978: p.
33-34).
Esses dois trechos servem
para exemplificar o que afirma Mello
e Souza, segundo o qual não houve
uma sequência ordenada entre os
movimentos de edenização e
detração do clima tropical, assim,
como da natureza do Novo Mundo.
Mesmo os maiores edenizadores das
terras tropicais não pouparam
observações negativas, em maior ou
menor grau, sobre as terras que
visitaram no Novo Mundo. Como a
historiadora afirma: “Houve,
portanto, tendência à edenização da
natureza, predomínio dela, mas não
exclusividade” (MELLO E SOUZA,
1986: p. 43).
A fim de entender esse outro
aspecto da edenização, “detratora e
mesmo infernalizante”, Mello e Souza
vai até o Renascimento, e o traz
como inspiração dessa dualidade. “O
Renascimento teria sido enigmático e
contraditório. Seus contemporâneos
tiveram consciência disso” (MELLO E
SOUZA, 1986: p. 44). Para
corroborar seus dizeres, a
historiadora apresenta a seguinte
sentença, de Delumeau: “Tudo [no
Renascimento] foi misturado, o mais
alto com o mais baixo, o inferno com
o céu, o melhor com o pior”
(DELUMEAU Apud. MELLO E SOUZA,
1986: p. 44).
Mello e Souza, conclui então,
que “sendo assim, não é de admirar
que o céu e inferno se misturassem
também nas crônicas sobre a
América, e que o mais edenizador
dos autores se visse também às
voltas com a detração” (MELLO E
SOUZA, 1986: p. 44).
236
Vale ainda ressaltar que até
agora, não tocamos no assunto que
entre esses autores mais aproximava
o Brasil, agradável de se viver, e
divino em sua natureza, em uma
espécie de antiparaíso, que são suas
gentes nativas, com seus hábitos que
para alguns eram a evidência de que
o diabo havia se instalado na América
(MELLO E SOUZA, 1993: p. 30).
Tocamos apenas no ponto referente à
natureza e ao clima do Novo Mundo,
que mesmo apresentando uma nítida
tendência à edenização, ainda
contava com elementos de detração.
Em relação aos seus homens, esses
fatores de detração pesam bem mais
na sua balança com a edenização,
como veremos no decorrer do
trabalho.
Esses são apenas alguns
exemplos de europeus que
aprovaram a vida nos trópicos, que
foram cantados em suas maravilhas
por muitos outros que aqui
estiveram, e que assim, contribuíram
para a construção de um paradigma
sobre os trópicos que marcariam o
século XIX no Brasil, no qual essa
mítica do paraíso terreal seria
recuperada a todo momento, como
veremos mais a frente.
No entanto, como foi dito, a
visão europeia sobre os trópicos era
ambivalente, se os aspectos positivos
eram exaltados, os negativos
também o eram, em alguns
momentos mais, em outros menos,
mas a verdade é que os trópicos
nunca foram uma unanimidade. E
algumas dessas teorias que
difamavam os trópicos e os que
estavam sob sua influência tiveram
longa vida no pensamento social
brasileiro, sendo frequentes no
século XIX.
Por mais que o ideal e a
vontade de mostrar um país tropical
belo e simultaneamente apto ao
progresso fizessem parte de uma
missão patriótica e de uma agenda
oficial, questão que marcou a
formação dessa identidade tropical
no século XIX, a verdade é que
certas incredulidades acerca dos
trópicos e de seu potencial
assombravam aqueles intelectuais e
políticos oitocentistas, que
acostumados a ver e analisar o Brasil
através de um “jogo de espelhos
deformantes”, ou seja, através do
olhar estrangeiro, e nesse caso, não
conseguiam se desvincular das
teorias do Velho Mundo que
inferiorizavam os trópicos e o
condenavam, juntamente com seus
habitantes, a ocupar um lugar
secundário no rol das grandes
nações.
Referências negativas ao clima
tropical existem há séculos, um dos
motivos das vivas de Sérgio Buarque
de Holanda ao português foi
justamente a sua habilidade de se
trasladar às zonas tórridas e de
habitá-las, desafiando o conceito
quinhentista que os homens nela se
degeneravam. Isso, para não
citarmos as teorias hipocráticas, que
ainda na Grécia antiga, já viam a
chamada “zona tórrida” como um
lugar de inferioridade frente às
consideradas zonas médias
(ARNOLD, 2000: p. 22; GLACKEN,
1967: p. 87). Todavia, esse debate
sobre a interferência do clima e da
natureza em geral na vida e
desenvolvimento das pessoas e povo
se intensificou no século XVIII,
principalmente na parte que toca a
América. Tanto que Antonello Gerbi
batizou essas discussões acerca da
237
natureza americana de “A Disputa do
Novo Mundo” (GERBI, 1996).
Inclusive, os filósofos
pertencentes ao movimento da
Ilustração europeia discutiram as
relações entre a natureza, o corpo
social e a política, como é o caso de
Montesquieu em seu O Espírito das
Leis (1748), no qual defende que os
homens não são guiados apenas por
suas fantasias, mas haveria
princípios que governariam as leis e
os costumes, válidos em todo o
mundo. Ao contrário de Hobbes,
Locke e Rousseau, Montesquieu não
se interessa pelo contrato social. Sua
reflexão se volta para os tipos de
sociedade, buscando nelas suas
regras objetivas. Constrói assim uma
teoria geral do clima, que ajuda a
explicar a pluralidade dos costumes e
das leis: “o império do clima é o
primeiro de todos os impérios”,
afirma ele (VENTURA, 1991: p. 19).
Essa teoria tem como centro a
natureza e as instituições da Europa,
produzindo uma hierarquia do espaço
natural e social, no qual o clima
temperado e a monarquia
constitucional são considerados os
modelos ideais, tendo como opostos
os climas tórridos e glaciais, e seus
respectivos padrões de governo,
segundo Montesquieu: a república e
o despotismo oriental.
O trecho de Ventura abaixo
relata bem o pensamento de
Montesquieu:
A escravidão, a poligamia e o
despotismo resultam, na sua visão
[de Montesquieu], da apatia geral dos
habitantes dos climas quentes, em
que o calor traria o ”relaxamento” das
fibras nervosas. Com isso o indivíduo
perderia toda sua força e vitalidade,
seu espírito ficaria abatido, entregue
à preguiça e à ausência de
curiosidade, enervando o corpo e
enfraquecendo a coragem. O clima
quente favorece a aceitação da
servitude: “não surpreende que a
covardia dos povos dos climas
quentes os tenha tornado quase
sempre escravos, e que, a coragem
dos povos dos climas frios os tenha
mantido livres. É um efeito que deriva
de sua causa natural [aqui citando
Montesquieu] (VENTURA, 1991: p.
12).
Notamos por esse trecho que
a visão do filósofo francês a respeito
dos ambientes de clima quente é
extremamente negativa. O mesmo
valia para os climas extremamente
frios. A liberdade predominante na
Europa poderia então ser explicada
em virtude de estar posicionada na
zona temperada ideal do globo13.
Nos demais continentes, as
condições naturais teriam trazido o
despotismo e a escravidão. Assim
sendo, a Ásia seria um continente
cuja predisposição à tirania seria
explicada devido ao clima muito frio,
que se altera com áreas
excessivamente quentes; já a África
teria como características a
escravidão e a debilidade de seus
governos, por causa precisamente do
clima tórrido. Sobre a América, que
ele divide em duas áreas, a posição
de Montesquieu é ambígua.
Havia a América próxima ao
Equador, terra dos “impérios
despóticos do México e do Peru”, e
uma outra fora dos trópicos, povoada
por “pequenos povos livres”.
Montesquieu apontava que a
existência dessas populações no
continente poderia ser atribuída à
fertilidade do solo americano, que
produzia por si só frutos,
independentemente da ação do
homem.
13 Nesse ponto, é interessante ressaltar que Montesquieu simplesmente não toca
na escravidão presente nas sociedades gregas e romana, consideradas os berços da civilização europeia.
238
Portanto, notamos que na
teoria de Montesquieu o futuro do
Novo Mundo está aberto, já que
havia áreas dentro da “zona climática
ideal”, compatíveis com o modelo
europeu. Ou seja, apesar das
facilidades que a natureza oferecia, o
que era visto de forma negativa, pois
não levava seus habitantes a pensar
e evoluir para sobreviver, ainda havia
uma chance de a América se civilizar
(VENTURA, 1991: p. 20-21).
Sobre o pensamento e
Montesquieu em relação à
interferência do clima no caráter do
ser humano, podemos observar um
retornos das ideias hipocráticas, que
pregam, por exemplo, a ação
benéfica do clima frio sobre os
corpos, retesando-os, e aumentando
assim sua força, e da mesma forma,
o efeito maléfico dos climas quentes
sobre esses mesmos corpos,
alongando-os, diminuindo-os, o que
explica o maior vigor dos povos do
Norte, de clima frio, e em
contraposição, a frouxidão os povos
tropicais. Podemos encontrar ainda
nessas teorias hipocráticas,
revisitadas por Montesquieu, e
muitos outros depois – uma vez que
se já não era, viriam a se tornar um
lugar-comum, segundo Bresciani -, a
gradação da sensibilidade em relação
aos prazeres e à dor, da menor nos
climas frios, à maior nos climas
quentes (BRESCIANI, 2007: p.75).
No entanto, vale aqui frisar,
que assim como Hipócrates,
Montesquieu não era de todo
determinista, apesar de crer na
intensa participação das condições
ambientais na determinação de
comportamentos e caráter dos
povos, o iluminista francês, não via
essa relação de maneira peremptória
e incontornável. Como mencionou
Bresciani, “ele se recusaria
expressamente a isso, considerando
mesmo um grande absurdo pensar
que um fatalismo cego pudesse ter
produzido seres inteligentes”
(BRESCIANI, 2007: p.75). Tanto que
Montesquieu via como tarefa dos
legisladores e bons governantes,
sobrepor-se a esses percalços
impostos pelo clima e outros fatores
ambientais, quanto mais estes
tentassem se impor sobre suas
sociedades (ARNOLD, 2000: p.27).
Vale ainda ressaltar que
Montesquieu, não foi original ao
elaborar essas ideias, na Europa
Moderna, Jean Bodin, por exemplo,
um século e meio antes já antecipara
alguns dos paradigmas que
Montesquieu abordaria em seu O
Espírito das Leis. No entanto, como
ressalta David Arnold, a importância
de Montesquieu está na sua
capacidade de absorver e sintetizar
essas ideias sobre a influência do
meio no homem, que circulavam pela
Europa, para apresentá-las de uma
forma atrativa e relativamente
coerente. Tanto que podemos
encontrar vestígios dessas teorias de
Montesquieu em obras como A
Riqueza das Nações, de Adam Smith,
A Filosofia da História, de Hegel,
além das questões referentes à
discussão do “despotismo oriental”, e
do “modo de produção asiático”,
presentes em Marx e Engels.
Essas ideias expressas por
Montesquieu, nas quais o clima e o
meio em geral atuavam na
modelagem do homem voltaram a
entrar bastante em voga já em finais
do século XVII, sendo muito
importantes nos séculos XVIII e XIX.
A Medicina, as ciências, a filosofia, a
239
poesia, a pintura, e até mesmo a
jardinagem, nos dão provas da
profunda penetração dessas ideias
nas sociedades europeias – e depois
de outros lugares do globo – nesse
período (ARNOLD, 2000: p. 28-29).
Como observa Glacken, em
nenhuma das épocas anteriores, os
pensadores se haviam posto a
examinar as questões relativas à
cultura e ao ambiente com tanta
minúcia, curiosidade e dedicação
como fizeram no século XVIII
(GLACKEN, 1967: p. 501).
Arnold aponta algumas causas
para esse súbito interesse pela
natureza, no século XVIII: 1) Graças
aos avanços da física, astronomia e
botânica, ocorridos desde o século
XVI, as formas e efeitos do mundo
natural podiam ser melhor
compreendidos, e motivaram um
desejo – e uma capacidade – sem
precedentes de controlar as forças da
natureza. 2) A segurança e
opulência, recém-adquiridas de
governantes e aristocratas,
promoveram, através do mecenato,
um incentivo às artes e ciências. 3) A
urbanização e os inícios da
industrialização avivaram a reação
romântica, o que alimentou o apetite
para as paisagens naturais. Assim,
podemos dizer que no século XVIII, a
natureza, através dos filósofos,
cientistas e artistas, se converteu
também em uma das metáforas
principais da época, o prisma através
do qual se refratavam com inusitado
brilho toda classe de ideias e ideais
(ARNOLD, 2000: p. 24-25).
Desta maneira, outro francês,
também relacionado à Ilustração, o
naturalista Georges-Louis Leclerc,
Conde de Buffon, em sua obra
História Natural do Homem (1749),
adota a teoria do clima de
Montesquieu, inserindo o homem em
um modelo hierárquico e
eurocêntrico de climas temperados.
O clima temperado se localiza do 40°
a 50° grau de latitude; é também
nessa zona que se encontram os
homens mais belos e bem feitos (...)
é daí que se devem tomar o modelo e
a unidade a que se devem referir
todas as outras nuances de cor e
beleza (BUFFON Apud. VENTURA,
1991: p. 21-22).
Além disso, Buffon avançou
em relação a Montesquieu no
momento em que detratou a
natureza americana, acusando-a de
ser menos “ativa” do que a do Velho
Mundo. Ele acreditava que a umidade
e o calor, característicos das “zonas
tórridas” da América, eram
responsáveis pelos animais menos
numerosos e de menor porte
(VENTURA, 1991: p. 22). No Novo
Mundo não havia leões, girafas ou
elefantes, o lhama não passava de
um camelo mirrado, o continente era
dominado por répteis e insetos,
portadores e sangue frio, e os
animais europeus, aqui não se
adaptavam ou diminuíam de
tamanho. Tudo isso, segundo Buffon,
vinha a corroborar sua tese da
hostilidade ao desenvolvimento que a
natureza americana proporcionava,
através do seu calor e da sua
umidade generalizada, que tudo
corroia e deteriorava, “enchendo o ar
de miasmas perigosos”, como nos diz
Maria Ligia Prado (PRADO, 1999: p.
181-182)14.
Munido de relatos de viajantes
que percorreram a América, Buffon
saiu em defesa da teoria
monogenista, e da condição racional
de toda a espécie humana, sem, no
14 Maria Ligia Prado nos lembra que no século XVIII eram comuns teorias sobre a geração espontânea de vermes e víboras a partir de corpos putrefatos, e sobre terras encharcadas e insalubres, o que justificava, aos olhos de Buffon, a presença e tantas moléstias no Novo Mundo..
240
entanto, deixar de estabelecer uma
classificação dos tipos humanos em
função dos graus de sociabilidade
observados e avaliados pelo
esclarecimento, polidez, submissão
às leis e à ordem estabelecida.
Podemos notar que para Buffon, o
modelo de civilização a ser seguido
era o europeu, inclusive no seu
aspecto físico, e o que se distanciava
dele ganhava uma conotação
negativa, sendo os europeus do
Norte os ocupantes do topo de sua
escala, seguidos pelos outros
europeus, depois pelos asiáticos e
certos africanos, cabendo aos
selvagens americanos, australianos e
africanos o mais baixo grau, próximo
ao dos animais (BRESCIANI, 1997:
p.76).
Buffon acreditava que, assim
como os animais, os homens das
regiões tropicais eram vítimas da
natureza, já que esta seria tão
poderosa a ponto de impedir seu
crescimento e evolução. Portanto,
notamos a continuação da visão
negativa sobre a América de
Montesquieu na obra de Buffon.
Buffon detratou a natureza
americana, acusando-a de ser
“imatura”, inferior à natureza do
Velho Mundo, ao contrário dos
viajantes do século anterior, não via
no calor dos trópicos, na fertilidade
das terras e nas florestas
exuberantes, motivos para
comemorações, pois proporcionavam
um continente infantilizado em seu
desenvolvimento.
No entanto, as ideias
detratoras e Buffon a respeito da
América foram muito bem
recepcionadas no meio letrado
europeu, não só sendo aceitas como
verdadeiras, como tendo uma grande
e duradoura persuasão. Exemplo
disso foi que pensadores de renome,
como Auguste Comte e Domingo
Sarmiento teceram elogios ao filósofo
francês e suas teorias, muitas
décadas depois de sua publicação.
Além disso, Prado realça a
importância da obra e Buffon, pois ao
tratar a natureza americana, um
tema aparentemente neutro, ele
contribuiu para a gestação de uma
identidade, a princípio continental e
de inferioridade em relação à Europa
(PRADO, 1999: p. 182-183).
Se Buffon detratou a natureza
da América ao proclamar sua suposta
“imaturidade”, Cornelius De Pauw,
em seu Investigações filosóficas
sobre os Americanos (1768),
radicalizou ainda mais essa
deturpação, pois afirmou que os
animais, as plantas e mesmo os
homens (incluindo os descendente de
europeus) que habitavam o Novo
Mundo passavam por um processo de
degeneração.
Segundo ele, antes de serem
vítimas dos conquistadores europeus,
os nativos da América foram vítimas
do clima, do solo, da natureza em
geral do seu continente, que impedia
qualquer tipo de indústria humana
(VENTURA, 1991: p. 23).
Provavelmente conhecedor de
algumas elaborações de finais do
século XVII, produzidas pela escola
dos chamados diluvians, que
atribuíam ao dilúvio as causas para a
debilitação dos solos, e a diminuição
da longevidade dos seres humanos e
animais, De Pauw acreditava que
essa catástrofe era a mais provável
causa para os vícios que encontrou
nos habitantes das Américas
(PRADO, 1999: p. 183).
241
Citar todos os autores que
depreciaram a imagem da natureza
da América no século XVIII
demandaria um tempo e um espaço
que não temos aqui, e nem esse é o
objetivo do trabalho, mas é preciso
destacar que além desses aqui
citados, o abade Raynal, Thomas
Buckle, Hegel, além de outros, são
responsáveis por atacar e difamar a
imagem do Novo Mundo, na disputa
a que Gerbi se referiu.
O que notamos então é que,
apesar de diversas discordâncias
entre os autores acima, em geral se
propagava a tese de inferioridade
americana, tanto em termos
naturais, quanto em termos
populacionais. Mas se Gerbi chamou
esse período de disputa, quem são os
que defendem a América no embate?
Segundo Márcia Naxara, havia
na Europa do período a noção de que
o homem civilizado já não era mais
capaz de viver de maneira feliz, pois
fora acometido por outro tipo de
barbárie, e perdera a sua
humanidade (NAXARA, 1999: p. 25).
O principal representante
dessa concepção foi o filósofo
iluminista Jean Jacques Rousseau,
que via no homem selvagem, a
alternativa para a “degeneração” que
acometera o homem civilizado,
levando-o a perder a bondade
original. Nesse contexto, a Europa
civilizada tinha muito que (re)
aprender15 com a América selvagem
(SCHWARCZ, 2008: p. 45).
No entanto, não foi Rousseau
o principal responsável pela mudança
da imagem negativa do Novo Mundo
nos círculos acadêmicos. O
naturalista e viajante alemão
Alexander von Humboldt reverteu
essa visão, ao mostrar seu
entusiasmo pela natureza e clima da
América tropical e do Caribe, tidos
então como insalubres para o
desenvolvimento humano.
Humboldt conseguiu essa
mudança de pensamento ao dar à
América um passado próprio,
específico, sem comparações com a
Europa. Ao tratar a natureza
americana dessa maneira, como
nunca havia sido feito antes de
maneira científica, os estudos de
Humboldt subverteram a noção de
fragilidade e juventude da natureza e
clima do Novo Mundo. Ele conseguiu
esse feito ao localizar na natureza
desse continente uma série de
“ruínas” que atestavam a
grandiosidade e a idade avançada da
América. Exemplo dessas ruínas são
os monumentos deixados por povos
pré-colombianos, que atestam que
aqui também houve grandes e
avançadas civilizações, capazes de
obras arquitetônicas invejáveis e que
nada se assemelhavam ao padrão
europeu (SCHIAVINATTO, 2003:
615-616).
Além disso, para refutar as
opiniões a respeito da degeneração
do homem americano, Humboldt
tomou como exemplo os
trabalhadores indígenas e mestiços
das minas no México, que chamavam
a atenção pela robustez e resistência,
nada parecidos com o estereótipo de
físico frágil em virtude da ação do
meio, propagados na Europa.
Humboldt também negou a
ideia de juventude geológica do
continente americano ao encontrar
fósseis pré-históricos que atestavam
a idade avançada do Novo Mundo.
Assim, através dessas “ruínas”,
Humboldt inverteu a imagem
negativa da natureza da América
15 Sobre essa questão da valorização do meio natural, em especial do selvagem que nele habita, Todorov nos faz uma ressalva importante, ao mostrar-nos que a imagem do “bom selvagem” (e por oposição, à do “mal selvagem”) constitui uma construção mental, uma ficção, realizada com a finalidade de facilitar a compreensão dos argumentos dos autores. Para Rousseau, em seu Discurso sobre a origem da Desigualdade, prossegue Todorov, o homem da natureza se apresentaria como uma elaboração literária, com o objetivo de “conhecer um estado que não mais existe, que provavelmente nunca terá existido, que não existirá jamais, e do qual é entretanto necessário ter noções precisas para bem compreender a situação
presente” (TODOROV Apud. BRESCIANI, 1997: p. 90).
242
dentro dos círculos intelectuais
europeus. Ventura traz uma frase de
Humboldt na qual sua opinião acerca
desse debate fica bastante clara:
“Essas ideias se propagaram
facilmente, porque lisonjeavam a
vaidade dos europeus, ligando-se a
hipóteses brilhantes sobre o antigo
estado de nosso planeta” (VENTURA,
1991: p.27).
A verdade é que a
Humboldt fascinava a tensão
existente entre as forças da
natureza, que ele podia observar com
maior intensidade nos trópicos. Para
o naturalista germânico, a natureza
tropical “aparece mais ativa, mais
fecunda, pode-se, inclusive, dizer que
é mais pródiga de vida”. Segundo
Arnold, foi a fecundidade e a
diversidade dos trópicos que
alimentou seus pensamentos de
como uma só e indissolúvel cadeia
mantém unida toda a natureza,
formando um único todo ordenado
harmoniosamente, o qual chamou de
Cosmos (ARNOLD, 2000: 134).
Com as teses de Humboldt,
que derrubaram as imagens
negativas do Novo Mundo nos
debates intelectuais16, e a retificação
de Buffon em relação à sua própria
teoria, ao negar a ação degenerativa
da natureza sobre homem
americano, sendo esta atuante
somente os animais domésticos, a
chamada “Disputa do Novo Mundo”
chega ao fim, e essa discussão perde
forças no pensamento europeu
(VENTURA, 1991: p. 26).
Vale aqui ressaltar, que,
apesar de o século XVIII ser mais
conhecido na historiografia como um
período de detração da natureza
americana, observou-se uma
tendência a ela principalmente na
Europa, pois se observarmos, é farta
a produção de imagens positivas
sobre o meio-ambiente tropical no
século XVIII.
Histoire génerale dês voyages
ou Novelle collection de toutes lês
relations de voyages par mer et par
terre, de Prevóst, que começou a
escreveu em 1746; Abregé de
l´histoire (1780), de La Harpe;
Voyage autour du Monde (1771), de
Antoine Bouganville, entre outros,
são exemplos de obras na qual a
natureza que aparecia nos escritos
era edenizada (SCHWARCZ, 2008: p.
45-48), e é interessante que
lembremos que apesar de Humboldt
ser preconizado como o responsável
pela inversão da imagem dos trópicos
entre os europeus, já havia (ou ainda
havia) homens que acreditavam nos
benefícios dos trópicos, antes mesmo
da visita do naturalista germânico à
América.
No entanto, apesar de a visão
positiva da América, simbolizada por
Humboldt, ganhar espaço de maneira
gradativa nos círculos intelectuais, a
maneira negativa de se enxergar
esse continente ainda permaneceu
bastante latente, como ressalta
Márcia Naxara (NAXARA, 1999: p.
37). Um exemplo disso é o debate a
respeito das teorias raciais que
tomam contam do Brasil a partir da
década de 1870.
No entanto, sobre o século
XIX, sabemos que a partir da
revalorização da natureza promovida
por Humboldt, e também com a
abertura dos portos às nações
amigas, em 1808 - como diz
Schwarcz, “a maravilhosa natureza
brasileira ganhava novas
representações, clichês e
banalidades, sobretudo na França”.
16 Não podemos deixar de citar as “defesas” do continente americano realizadas por jesuítas exilados pela Coroa Espanhola, como é o caso de Clavijero e Molina, que ao lado de Humboldt, integraram o outro lado da “disputa” de Gerbi.
243
Além disso, há todo um
redescobrimento de nosso mundo
natural, promovidos por uma
multidão de geógrafos, botânicos, e
outros cientistas que aqui
desembarcam, em busca de conhecer
e descrever aquele famigerado
desconhecido que era o Brasil
(SCHWARCZ, 2008: p.48).
Maria Liga Prado nos conta
que no século XIX, os cientistas
desejavam observar a natureza,
medi-la, descrevê-la e rotulá-la. Já
os artistas românticos viam na
atravessada por qualidades e defeitos
semelhantes aos dos humanos,
projetando nela sentimentos,
despertando em si a admiração ou o
temor. “Os primeiros usavam a
linguagem supostamente objetiva e
fria da ciência, enquanto o segundo
fazia descrições que carregavam nas
cores e nas tintas e que respiravam
emoções” (PRADO, 1999: p.180).
No entanto, se cientistas e
artistas se debruçavam sobre a
natureza buscando conhecimento ou
inspiração, o clima tropical
continuava a ser tratado de maneira
ambivalente no debate letrado.
Desta maneira, podemos
notar que os intelectuais do século
XIX, escreviam sob uma rede de
tensões que trazia os trópicos ora
vistos como motivo de orgulho, ora
vistos como motivo de preocupação,
em um movimento que dividia
claramente o globo em uma zona
temperada, lugar do trabalho e do
progresso, e outra negativa, lugar do
deleite e do atraso, o que presumia
de estratégias que fossem capazes
de contornar tais sentenças nada
alentadoras. Montesquieu, Humboldt,
Buffon, Caminha, Lery... todos eles
contribuiriam para a formação de
uma identidade tropical brasileira
forjada sob o signo da ambivalência.
É importante ainda citar que
essa identidade nacional brasileira,
baseada nesse viés tropical do país,
principalmente a partir da segunda
metade do século XIX, muitas vezes
se confunde, ou se mescla a um
outro elemento que, como dissemos,
também serviu com base para a
construção da identidade nacional
brasileira: a raça. Que queira ou não,
era elemento constituinte desses
trópicos, afinal, elas eram frutos de
sua ação, e suas características, tão
importantes para o desenvolvimento
civilizacional das nações, estavam
diretamente ligadas ao clima.
Segundo Arnold, os motivos
para a ascensão dessa nova maneira
de classificação dos homens seriam:
1) O problema da escravidão e da
abolição promoveu intensos debates
sobre a questão racial em ambos os
lados do Atlântico, no que concernia
sobre a questão de os africanos
pertencerem ou não a uma
subespécie humana distinta,
presumidamente inferior. 2) A
crescente ascensão militar e
econômica da Europa se tornava
como um sinal de que os europeus
eram uma raça superior,
principalmente quando sua chegada
a muitas partes do mundo foi seguida
pelo decréscimo populacional, ou
mesmo extinção dos povos nativos
conquistados. 3) Os séculos XVIII e
XIX assistiram a um rápido
crescimento dos estudos das ciências
biológicas, o que fomentou o debate
acerca das diferenças entre os seres-
humanos (ARNOLD, 2000: p.30).
Além da combinação desses
fatores, não podemos nos esquecer
da publicação de A Origem das
244
Espécies, em 1859, por Charles
Darwin. Com sua luta entre as
espécies e a “sobrevivência do mais
apto”, parecia que Darwin havia
quebrado a ideia de natureza como
algo fixo e harmonioso concebido por
Deus. Logo essas ideias evolutivas
passaram a ser usadas também na
análise das sociedades humanas, e
serviram de apoio para concepções
de que as diferentes raças
representavam estados diferentes do
processo evolutivo, e que as
diferentes condições ambientais
haviam sido fator significativo de
diversificação (ARNOLD, 2000: p.
31).
Nesse contexto, as civilizações
não eram espécies imutáveis, mas
sim evoluíam e caíam em resposta a
certas condições ambientais,
batalhavam com seus concorrentes
pela supremacia no ambiente e
sobrevivência.
Podemos encontrar um
exemplo do uso dessa teoria
podemos encontrar nos dizeres do
naturalista Alfred Russel Wallace, que
em 1864, que acreditava que na luta
pela vida, as populações menos
desenvolvidas mentalmente seriam
extintas ao entrar em contato com os
europeus:
¿No es un hecho que en todas las
épocas y en cada rincón del globo, los
habitantes de las regiones templadas
han sido superiores a los de las
regiones tropicales? Todas las
grandes invasiones y todos los
grandes desplaziamentos han sido de
norte a sur, pero no al revés; y no
tenemos registro de que alguna vez
haya existido, como tanpoco hoy
existe, un solo caso de civilización
intertropical (WALLACE Apud.
ARNOLD, 2000: p. 32).
Ainda no século XIX,
naturalistas, antropólogos,
historiadores e geógrafos,
reformularam as ideias da influência
do meio ambiente sobre o homem,
de maneira a satisfazer os
imperativos de uma nova era
imperial. Esse novo imperialismo,
combinado às ideias de darwinismo
racial, evolucionismo, positivismo,
naturalismo, entre outras teorias,
que segundo Schwarcz (SCHWARCZ,
1993: p. 28), foram popularizadas
nessa época justamente para
fomentar as práticas imperialistas,
empurraram as ideias do papel do
meio na conformação do homem em
proeminências excepcionais, como
diz Arnold, entre os anos 90 do
século XIX e o início do século XX
(ARNOLD, 2000: p. 34).
Tudo isso também pulula e
perturba nossos homens de letras e
ciências preocupados com os futuros
da nação, afinal, estaria o Brasil
condenado devido ao seu clima
tropical e sua população, formada
por parcela expressiva de negros,
índios e mestiços, povo que,
respeitados cânones vigentes da
ciência oitocentista, estariam fadados
a desaparecer perante raças
superiores, notadamente europeias?
E nesse ponto, clima e raça
convergem para um mesmo ponto,
afinal, como dissemos, eram as raças
inferiores, menos capazes,
justamente aquelas oriundas dos
trópicos, que, segundo a tradição
europeia, foram forjadas sob o signo
da preguiça, do sensualismo e da
debilidade moral que os trópicos
proporcionavam. Mesmo quando o
centro da análise estava calcado na
raça, e não no clima, esse último
elemento não deixava de atuar, pois,
245
se as consideradas raças inferiores
poderiam ser culpadas como
responsáveis pelas mazelas do Brasil,
os trópicos podiam ser culpados
pelas mazelas dessas raças.
Assim, ao analisar ao analisar
a presença do clima ou da natura
tropical no contexto da identidade
nacional brasileira no século XIX,
elemento tão recorrente na
historiografia, devemos ter como
ponto de partida esse paradigma que
norteou o pensamento de nossos
pensadores oitocentistas, no qual o
bem e o mal andariam lado a lado,
no qual o progresso era um sonho
possível, e o fracasso era uma
realidade palpável, no qual os
trópicos reais poderiam ser muitos
mais feios e tenebrosos que aqueles
difundidos pelos primeiros viajantes e
colonizadores que aqui estiveram,
mas que também poderiam ser muito
mais promissores que aqueles
trópicos pregados pelos teóricos
setecentistas da Ilustração.
No entanto, vale ainda
ressaltar que o conceito de clima no
século XIX, apesar de guardar
semelhanças com o conceito de clima
dos dias de hoje, não era exatamente
o mesmo. Se buscarmos nos atuais
manuais de geografia o que significa
clima, encontraremos uma definição
que diz que o clima é o conjunto de
condições meteorológicas
(temperatura, pressão atmosférica,
umidade, regime de ventos e chuvas,
insolação, entre outros fatores) que
caracterizam o estado médio da
atmosfera em um determinado ponto
da superfície terrestre (OLIVEIRA,
1980: p. 73; GEORGE, 1991: p. 118;
DANNI-OLIVEIRA, 2007: p. 14-15).
No entanto, até o início do
século XIX, podemos dizer que a
definição de clima era menos ampla,
ficando restrita às diferenças de
temperaturas nas diferentes regiões.
Entretanto, a partir dos estudos de
Humboldt, percebemos que o
conceito de clima ganhou
semelhanças com o que conhecemos
hoje, pois passou a considerar outros
fatores como seus componentes.
Como nos traz Sandra Caponi,
segundo o conceito de Humboldt, “o
clima é a reunião de condições
atmosféricas e meteorológicas que
tem uma ação geral e constante
sobre os seres organizados”
(CAPONI, 2007: p. 18).
Assim, falar de clima, segundo
Humboldt, era falar das variações
atmosféricas como a temperatura, a
umidade, a pressão atmosférica, a
pureza do ar, os miasmas, entre
outros fatores, existindo uma série
de elementos que exerciam influência
direta sobre as variações climáticas,
tais como a proximidade com os
astros e satélites, o magnetismo
terrestre, e a ação de vulcões, além
dos acidentes geográficos, tais como
a presença de golfos, pântanos e
montanhas, que como assinala Jean
Boudin - naturalista francês que se
utilizava dos conceitos de Humboldt -
, também atuavam sobre o clima
(CAPONI, 2007: p. 18).
A noção de Humboldt então,
que ampliava o conceito de clima,
ganhou força nos oitocentos (SAINT-
HILAIRE, 1835: p. 116; BOUDIN,
1857: p. 217), e também entre os
intelectuais brasileiros do século XIX
- signatários fiéis dos ensinamentos
do naturalista germânico, que fazia
parte, inclusive, dos quadros do
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, uma dos mais destacados
lugares de produção da história e da
246
identidade nacional nesse Brasil
oitocentista -, e foi se sobrepondo às
conceitualizações que pregavam o
clima unicamente como mudanças de
temperatura.
Conclusão
Dessa maneira, podemos
concluir que o clima tropical serviu
como elemento no qual se calcou
uma identidade nacional para o
Brasil, no entanto, ao analisarmos
esses trópicos, devemos levar em
consideração que havia toda uma
história do clima tropical a ser levada
em conta, que invariavelmente,
percorriam as mentes e os escritos
daqueles que se engajavam na
construção de uma identidade
nacional para o Brasil, no século XIX.
Assim, havia todo um
paradigma tropical em questão, que
ora era marcado pela exaltação dos
trópicos, e ora por sua detratação, e
que acabaram por estar na base da
formação da própria identidade
nacional brasileira, que marcou o
Brasil como um lugar belo, quente e
lindo, mas cheio de problemas, e
habitado, em grande parte, por
pessoas mais dadas aos prazeres da
vida fácil do que propensas a inserir
o Brasil em um mundo realmente
civilizado.
Bibliografia
BOUDIN, Jean. Traité de geographie et de statistique médicale. Paris: Baillières,
1857.
BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. Diálogo das Grandezas do Brasil. Rio de Janeiro:
Dois Mundos Editora, s.d.
BRESCIANI, Maria Stella Martins. O Charme da Ciência e a Sedução da
Objetividade: Oliveira Vianna entre Intérpretes do Brasil. São Paulo: Editora
UNESP, 2007.
CAPONI, Sandra. “Sobre la aclimatación: Boudin y la geografia médica”. In.
História, Ciência, Saúde: Manguinhos. V.1. n.1 (jul-out. 1994) - Rio de Janeiro:
Fundação Oswaldo Cruz, Casa de Oswaldo Cruz, 2007.
CARDIM, Fernão. Tratado da Terra e gente do Brasil. São Paulo: Cia. Editora
Nacional-MEC, 1978.
COLOMBO, Cristóvão. Diários da Descoberta da América: as quatro viagens e o
testamento. L&PM: Porto Alegre, 1984.
GÂNDAVO, Pero de Magalhães. A Primeira história o Brasil: história da Província
Santa Cruz a que vulgarmente chamamos de Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2004.
GÂNDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil – História a Província
Santa Cruz. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1980.
GEORGE, Pierre. Diccionario de Geografia. Madrid: Akal Ediciones, 1991.
GERBI, Antonello. O Novo Mundo – História de uma polêmica 1750 -1900. São
Paulo: Cia das Letras, 1996.
GLACKEN, Clarance. Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture Western
Thought from Ancient Times to the End of the Eighteenth Century. Berkeley,
1967.
HUE, Sheila Moura. Primeiras Cartas do Brasil (1551 – 1555). Rio de Janeiro:
Jorge Zaluar, 2006.
247
LÉRY, Jean de. Viagem à terra do Brasil. São Paulo: Ed. da Universidade de São
Paulo, 1980.
MELLO E SOUZA, Laura de. Inferno Atlântico: demonologia e colonização: séculos
XVI-VXIII. São Paulo: Cia. Das Letras, 1993.
MELLO E SOUZA, Laura de. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e
religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Cia. Das Letras, 1986.
MENDONÇA, Francisco & DANNI-OLIVEIRA, Inês Moresco. Climatologia: Noções
Básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.
NAXARA, Márcia Regina Capelari. Sobre o Campo e a Cidade - olhar, sensibilidade
e imaginário: em busca de um sentido explicativo para o Brasil no século XIX.
Campinas: [s.n.], 1999.
OLIVEIRA, Cêurio de. Dicionário Cartográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1980.
PARKER, Richard. Corpos, prazeres e paixões: A cultura sexual no Brasil
contemporâneo. São Paulo: Editora Best Seller, 1991.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. “Alegres trópicos: Gonneville, Thevet e Lery” In.
Revista USP. São Paulo: USP,CCS, 1989.
PITA, Sebastião da Rocha. História da América Portuguesa. Salvador: Livraria
Progresso Editora, 1950.
PRADO, Maria Ligia Coelho. América Latina no Século XIX: Tramas, Telas e
Textos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
SAINT-HILAIRE, Isidore Geoffroy. Acclimatation et domestication dês animaux
utiles. Paris: Libraire Agricole de la Maison Rustique, 1834.
SANT´ANNA NETO, João Lima. “História da climatologia no Brasil: Gênese e
Paradigmas do clima como fenômeno geográfico”, In. Cadernos
Geográficos/Universidade Federal de Santa Catarina. Nº 1. Florianópolis:
Imprensa Universitária, 1999.
SCHIAVINATTO, Iara Lis. “Imagens do Brasil: Entre a natureza e a História” In
JANCSÓ, Istvan. Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: HUCITEC;
Ed. Unijuí; Fapesp, 2003.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e
questão racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Cia. Das Letras, 1993.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras
dos artistas franceses na corte de D. João. São Paulo: Cia. Das Letras, 2008.
VAINFAS, Ronaldo. Trópicos dos Pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no
Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: História Cultural e Polêmicas literárias no
Brasil 1870 – 1914. São Paulo: Cia. Das Letras, 1991.