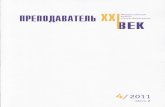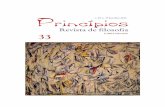Resenha A Universidade no Século XXI 2
-
Upload
unigranrio -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Resenha A Universidade no Século XXI 2
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO – Prof. José de Souza Herdy
Reconhecida pela Portaria MEC 940/94 D.O.U. de 16 de Junho de 1994PRÓ - REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PROPEP
RESENHA DO LIVRO:
A Universidade no Século XXI: Para uma UniversidadeNova
Boaventura de Sousa Santos & Naomar de Almeida FilhoCoimbra, Outubro 2008.
FILOSOFIA DA CIÊNCIA E EPISTEMOLOGIA EMADMINISTRAÇÃOProfessor: MICHEL JEAN MARIE THIOLLENT
Doutorado PPGA / 2013-1Doutoranda: MARIA MADALENA COLETTE
A Universidade no Século XXI: Para uma Universidade NovaBoaventura de Sousa Santos & Naomar de Almeida Filho
Coimbra, Outubro 2008
O livro “A universidade no século XXI: para uma nova
universidade” é composto de textos que buscam contribuir com o
debate da reforma da universidade em contexto mundial, inclusive
textos parcialmente apresentados no âmbito do debate oficial sobre
a Reforma Universitária no Brasil, em 2004, período em que teve
início a parceria sobre o tema entre os autores Boaventura de
Sousa Santos e Naomar de Almeida Filho, este então Reitor da
Universidade Federal da Bahia – UFBA que propunha o projeto
Universidade Nova.
No capítulo 1, o texto de Boaventura A Universidade no Século XXI:
Para uma Reforma Democrática e Emancipatória da Universidade, já publicado em
diversos países1, com foco inicial no contexto latino-americano e
brasileiro em especial, nesta edição ganha novos matizes, após
investigações sobre o contexto africano e o contexto europeu onde
o processo de Bolonha estava em curso. O autor analisa as
transformações recentes no sistema de ensino superior e o impacto
destas na universidade pública, identifica e justifica os
1 Texto publicado anteriormente em diversos países latino americanos e como capítulo do livro The University, State, and Market, The political economy of globalization in the Americas. Stanford: Stanford University Press, 2005.
princípios básicos de uma reforma democrática e emancipatória da
instituição.
No capítulo 2, Universidade Nova no Brasil, Naomar apresenta seu
projeto para a UFB, segundo ele, referenciado em três obras
fundamentais: The Future of the City of Intellect, de Clark Kerr2, seus
conceitos de ‘cidade do intelecto’ e de ‘multiversidade’; A
Universidade e a Vida Atual, de Renato Janine Ribeiro3, com argumentos em
favor das humanidades como eixo da cultura universitária e da
necessidade de abertura da instituição acadêmica para a sociedade
que a abriga e sustenta, indo além do Estado e do mercado,
incluindo família e movimentos sociais; e Pela Mão de Alice, de
Boaventura, lido por Naomar como um manual para reitores.
Em seu conjunto, os textos possibilitam ao leitor um rico
contato com uma visão histórica da universidade no mundo ocidental
e no Brasil, apresentam uma visão crítica do contexto de crise da
universidade no que diz respeito às pressões da globalização
neoliberal das últimas décadas e, também, em relação à suas
origens e atuação. Além de apontar caminhos para uma atualização
que permita à universidade pública respostas criativas e eficazes
aos desafios com que se defronta no limiar do século XXI.
Esta resenha pauta-se no modo de construção do volume,
abordando os dois capítulos separadamente, numa espécie de resumo
dos textos que não lhes sendo fiel deixa de abordar tópicos de um
que já tenham sido abordados de forma similar pelo outro, e que
pretendeu focalizar os principais tópicos e referências
relacionados ao nosso interesse de pesquisa de ambos os textos.
Ressaltamos que se trata de um livro fundamental para se pensar a2 KERR, Clark. Os usos da universidade. Universidade em questão. Brasília: Editora UnB, 2005. Kerr foi reitor da Universidade da Califórnia em Berkeley durante a fase da contracultura.3 RIBEIRO, R. Janine. A Universidade e a Vida Atual. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
universidade e para nela se atuar, rico em referências valiosas
que poderão nortear um aprofundamento sobre o assunto.
Capítulo 1 - A Universidade no Século XXI: Para uma reforma
democrática e emancipatória da Universidade
Sobre a universidade e os desafios que lhe eram feitos no
final do século XX, em texto anterior4, Boaventura identificava
três crises com que se defrontava a universidade: a crise de
hegemonia resultante das contradições entre as funções
tradicionais da universidade - de produção de alta cultura e
formação das elites - e as funções que ao longo do século XX lhe
seriam atribuídas - produção de padrões culturais médios e de
conhecimentos instrumentais e formação de mão de obra qualificada
voltada ao desenvolvimento capitalista. A incapacidade da
universidade para desempenhar funções contraditórias abre espaço
para meios alternativos, perdendo esta o domínio do ensino
superior e da produção de pesquisa; crise de legitimidade gerada
pela contraposição entre hierarquização de saberes especializados
e pressões sociais e políticas por democratização da universidade
e igualdade de oportunidades para as classes populares; e a crise
institucional resultava da contradição entre a busca de manutenção
da autonomia da universidade e crescente pressão por enquadrá-la
em critérios de eficácia e de produtividade de natureza
empresarial ou de responsabilidade social.
O autor analisa que visando superar a crise institucional a
universidade sofre uma descaracterização intelectual - a crise de
hegemonia, através de segmentação do sistema universitário e
4 SANTOS, Boaventura Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade: “Da ideia da universidade a universidade de ideias”. São Paulo: Cortez, 1995.
desvalorização dos diplomas universitários – a crise de
legitimidade. Especificamente sobre a crise da universidade
brasileira e suas especificidades no contexto da crise da
universidade latino-americana, ele sugere a análise de Leonardo
Avritzer 5.
Boaventura diz que nos últimos trinta anos a crise
institucional da universidade na grande maioria dos países foi
induzida pela perda de prioridade do bem público universitário nas
políticas públicas e pela consequente redução dos recursos
financeiros das universidades públicas, abrindo ao setor privado a
produção do bem público da universidade, especialmente a partir da
década de 1980, quando o neoliberalismo se impôs como modelo
global do capitalismo. Até meados da década de 1990, expande-se e
consolida-se o mercado nacional universitário e depois emerge o
mercado transnacional da educação superior e universitária, visto
como solução aos problemas da educação no mundo por organismos
internacionais - Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio,
fenômeno que Boaventura chama de globalização neoliberal da
universidade. Neste contexto a atuação das universidades públicas
se dava de forma reativa, incorporando as pressões de forma
acrítica e imediatista. Enquanto que emergia com força o mercado
transnacional da educação superior e universitária.
Mas, o autor alerta-nos que para se enfrentar a crise e
pensar a universidade no século XXI, além do “desinvestimento” do
Estado na universidade pública, um fenômeno global, e da
consequente “globalização mercantil” da universidade, há que serem
considerados fatores internos, relativos à sua administração, à
sua função e à própria origem da instituição, pautada numa
perspectiva elitista de conhecimento e de educação. E, ainda, que5 AVRITZER, Leonardo. A crise da universidade. Mimeo. Belo Horizonte, 2002.
uma solução nacional não pode prescindir de uma articulação
global, uma “globalização alternativa”, contra hegemônica da
universidade que, como bem público, reflita um projeto de país e
que qualifique a inserção do país no contexto transnacional de
produção e de distribuição do conhecimento, e que seja capaz de
responder às demandas por democratização do ensino superior e de
incluir não só as pessoas, mas, também seus saberes
tradicionalmente excluídos da universidade.
Otimista, Boaventura considera que mesmo no contexto de
globalização neoliberal há espaço para articulações baseadas na
reciprocidade e no benefício mútuo, renovadas e, portanto,
diferentes das articulações interuniversitárias do período
colonial, que serviam como veículo de dominação. A articulação
cooperativa, segundo ele, pode ser inclusive praticada quando
estão envolvidos aspectos de mercado.
Propõe rever o papel da universidade pública em relação aos
problemas sociais locais e nacionais considerando o contexto
global, inclusive buscando compreender que parte da crise deve-se
a cooptação da universidade pela globalização hegemônica. Para ele
a reforma deve centrar-se na busca da legitimidade. Seu projeto
delega à sociedade politicamente organizada - organizações
sociais, organizações não governamentais e governos locais – papel
protagonista na reforma universitária e legitimador da instituição
como caminho para o aprofundamento da responsabilidade social da
universidade pela via do “conhecimento pluriversitário” solidário.
Outros dois protagonistas são: a própria universidade pública
e o estado nacional nesta “globalização alternativa” que deverão
fazer a opção política pela “globalização alternativa”, uma
globalização solidária da universidade. E quanto ao “capital
nacional”, que depende da produção de conhecimento, este poderá
integrar o “contrato social” em torno da reforma da universidade
pública.
As mudanças globais das últimas décadas levaram a uma
transformação da educação superior em mercadoria, mas também a
“transformações no processo de conhecimento e na contextualização
social do conhecimento”. A irreversibilidade destas mudanças
requerem respostas novas, diz Boaventura, a resistência estará em
promover alternativas de pesquisa, de formação, de extensão e de
organização da universidade como bem público, de forma que em sua
especificidade esta contribua na identificação e na solução de
problemas nacionais e globais.
Boaventura traz como pressuposto que no século XXI considere-
se como universidade a instituição que atua de forma articulada no
ensino de graduação e pós-graduação; na pesquisa e na extensão.
Sem alguns destes componentes pode-se falar em ensino superior,
mas não em universidade. Ele apresenta cinco fatores em que se
deve pautar a busca por legitimidade da universidade: i) o acesso
sem discriminação e a garantia da permanência; ii) a extensão como
prestação de serviço à sociedade atendendo diferentes segmentos,
que não sejam pautados por sua rentabilidade mas num apoio
solidário à solução dos problemas, da exclusão e da discriminação
sociais; iii) pesquisa-ação como articulação dos interesses sociais
e dos interesses de pesquisa, para além das demandas de mercado,
numa atuação integrada de ensino, pesquisa e extensão, para
definição e elaboração dos projetos de pesquisa, envolvendo a
participação da comunidade e seu beneficiamento com os resultados
da pesquisa; iv) a ecologia dos saberes é “uma forma de extensão ao
contrário”, de fora para dentro da universidade, trata do diálogo
entre saber popular e conhecimento científico, de perceber a
validade de outros conhecimento, de reverter uma “injustiça
cognitiva”6; v) universidade e escola pública refere-se à relação entre a
produção e a difusão do saber pedagógico, da pesquisa educacional
e da formação de docentes para a escola pública, espaço é ocupado
pela progressiva privatização da formação docente.
Boaventura destaca que a ecologia do saber e a pesquisa ação
colocam-se como estratégias de reorientação solidária da relação
universidade-sociedade. E sinaliza a existência de iniciativas de
pesquisa-ação e ecologias dos saberes na Europa - as “oficinas da
ciência”7, algo próximo nos EUA - a “pesquisa comunitária”, e cita
a rede internacional “living knowledge” que busca de uma reorientação
solidária da universidade confrontada com o tema da “injustiça
cognitiva”.
Mas, a ecologias do saberes é ideia que ele prevê sofrerá
muita resistência no interior da universidade, pois consiste na
promoção da convivência, do diálogo entre diferentes modos de
conhecimento, dentre os quais o conhecimento é um e não o
conhecimento. Volta-se à conversão da universidade em espaço
público de fato, “de interconhecimento onde os grupos sociais
podem intervir sem ser exclusivamente na posição de aprendizes” em
prol de benefícios mútuos. Trata da valorização de conhecimentos
científicos e não científicos cuja “partilha por pesquisadores,
estudantes e grupos de cidadãos possibilitam a criação de
comunidades epistêmicas mais amplas”.
6 Boaventura diz que a injustiça cognitiva está no âmago da injustiça social, contribui para a desqualificação dos saberes locais e para a marginalização social dos grupos que destes dispõem. E que tal injustiça se manifesta inclusive na escala global, onde os paísesperiféricos ricos em saberes não científicos, destituídos de valor e até dizimados em nome de um conhecimento científico considerado como único válido, sofrem os impactos negativos ambientais, sociais e culturais do desenvolvimento científico.7 Uma análise das oficinas de ciência pode ler-se em WACHELDER, Joseph (2003), “Democratizing Science: Various routes and visions of Dutch Science Shops”, Science, Technology & Human Values, 28(2), 244-273.
Neste sentido, a nova universidade precisa sair de sua
posição superior e estabelecer tal diálogo, abrir suas portas aos
diferentes saberes. A pesquisa-ação é instrumento de diálogo e de
construção de novas práticas acadêmicas, de práticas que
pressupõem a concepção de universidade como espaço social, voltado
à construção de conhecimentos que possam alavancar transformações
em prol da sociedade como um todo, quer no campo social,
ambiental, econômico, tecnológico, científico, educacional e
cultural. Inclusive no que tange à relação universidade - escola
pública.
O autor diz que maioria das universidades públicas se
restringe a críticas em relação ao ensino público, sem criar
alternativas, num contra senso que torna mais aguda sua
dissociação com os demais espaços sociais. Mas são comentadas
experiências inovadoras no Brasil8, de universidades federais que
responderam criativamente às novas exigências estabelecidas pela
LDB de 1996 - que estabelece que os professores da educação básica
devem ter nível superior, criando licenciaturas especialmente
desenhadas para atender professores das redes estaduais e
municipais de ensino que não possuem formação profissional
acadêmica.
O autor aborda ainda a relação entre universidade e o setor
privado enquanto consumidor dos “serviços” universitários, como
campo de legitimação e de responsabilização social da
universidade. E analisa:
“A popularidade com que circulam hoje, sobretudo nos países
centrais, os conceitos de “sociedade de conhecimento” e de “economia
baseada no conhecimento” é reveladora da pressão que tem sido exercida
sobre a universidade para produzir o conhecimento necessário ao
8 Uma experiência bem sucedida citada é a da Universidade Federal de Pelotas (comunicação pessoal de Paulino Motter ao autor).
desenvolvimento tecnológico que torne possível os ganhos de produtividade
e de competitividade das empresas. A pressão é tão forte que vai muito
para além das áreas de extensão, já que procura definir à imagem dos seus
interesses, o que conta como pesquisa relevante, o modo como deve ser
conduzida e apropriada. Nesta redefinição colapsa não só a distinção entre
extensão e produção de conhecimento, como a distinção entre pesquisa
fundamental e pesquisa aplicada.” (p.77)
As políticas de pesquisa têm privilegiado áreas de interesse
das empresas e o comércio de resultados de pesquisa, sendo os
cortes de financiamento público visto como incentivo a busca por
financiamento privado. A universidade, neste quadro, se distancia
de outros interesses sociais, inclusive sendo tomada como
mercadoria e até marca a serviço do mercado. Uma reforma da
universidade deve assegurar à comunidade científica o controle
sobre a agenda de pesquisa científica; uma atuação com
intervenções que assegurem múltiplos interesses da sociedade,
equilibrando pesquisa aplicada e pesquisa fundamental;
desenvolvimento livre e criativo de novas áreas de pesquisa pela
garantia de financiamento público.
No âmbito institucional, desenhada para funcionar como
unidade autônoma e independente e, então, marcada pela segmentação
interna da rede de universidades, a instituição deverá passar por
uma mudança de mentalidade, diz o autor. Ele destaca a necessidade
de uma mudança nas relações interuniversitárias e aponta para a
necessidade de articulações nacionais, em redes públicas que
partilham recursos, equipamentos, planos de cursos minimamente
padronizados, mobilidade de docentes e discentes no interior da
rede, sem eliminar as especificidades locais e regionais de cada
integrante da rede universitária pública.
“A passagem, como vimos, é de conhecimento disciplinar para
conhecimento transdisciplinar; de circuitos fechados de produção para
circuitos abertos; de homogeneidade dos lugares e actores para a
heterogeneidade; da descontextualização social para a contextualização; da
aplicação técnica à disjunção entre aplicação comercial e aplicação
edificante ou solidária. [...] Na fase de transição em que nos encontramos
os dois tipos de conhecimento coexistem e o desenho institucional tem de
ser suficientemente dúctil para os albergar a ambos e para possibilitar
que o conhecimento pluriversitário não seja contextualizado apenas pelo
mercado e, pelo contrário, seja posto ao serviço do interesse público, da
cidadania activa e da construção de alternativas solidárias e de longo
prazo.” (p. 88)
Boaventura esclarece que na graduação predomina o modelo
universitário, mas em pós-graduação e pesquisa já há forte
interferência do modelo pluriuniversitário.
A proposta coloca ainda a necessidade de um aprofundamento
democrático interno e externo da instituição. A democracia externa
consiste na abertura da universidade à sociedade, para além da
democratização do acesso, buscando a criação de vínculos políticos
orgânicos entre universidade e sociedade. Não da democracia
externa para uma relação com o mundo dos negócios, negociando a
própria universidade, mas como resposta à pressão dos grupos
historicamente excluídos, por participação como usuários e co-
produtores de conhecimento. A democracia externa potencializa e é
potencializada pela democracia interna entre docentes,
pesquisadores e toda a comunidade acadêmica.
O proposto por Boaventura de Sousa Santos é coerente com uma
perspectiva humanista e transformadora da universidade e da
sociedade. Mas, trata-se de uma teoria que a depender do contexto
nacional histórico, político e cultural pode ter sua viabilização
dificultada, não apenas pela cultura dominante da instituição
universitária, como também pela cronicidade do distanciamento
entre a universidade e a sociedade e pela cultura do imediatismo,
de respostas prontas, acomodação e distanciamento entre a
população e as instituições em geral.
Concluindo, o autor reafirma a universidade como um bem
público, a serviço de um projeto de país, que no século XXI deve
incorporar a perspectiva de uma globalização contra hegemônica,
solidária e cooperativa:
“A universidade pública é, pois, um bem público permanentemente ameaçado,
mas não se pense que a ameaça provém apenas do exterior; provém também do interior.
A razão desta inflexão de ênfase deve-se ao facto de os factores da ameaça interna,
antes identificados, estarem hoje a ser potenciados através de uma perversa
interacção, que escapa a muitos, com os factores da ameaça externa. [...] A
conjunção entre factores de ameaça interna e factores de ameaça externa está bem
patente na avaliação da capacidade da universidade pensar o longo prazo, talvez a
sua característica mais distintiva. [...] A universidade é um bem público
intimamente ligado ao projecto de país. O sentido político e cultural deste projecto
e a sua viabilidade dependem da capacidade nacional para negociar de forma
qualificada a inserção da universidade nos contextos de transnacionalização. No caso
da universidade e da educação em geral, essa qualificação é a condição necessária
para não transformar a negociação em acto de rendição e, com ele, o fim da
universidade tal como a conhecemos. Só não haverá rendição se houver condições para
uma globalização solidária e cooperativa da universidade. [...] a universidade
enquanto bem público é hoje um campo de enorme disputa. Mas o mesmo sucede com o
Estado. A direcção em que for a reforma da universidade é a direcção em que está a
ir a reforma do Estado. De facto, a disputa é uma só, algo que os universitários e
os responsáveis políticos devem ter sempre presente.” (p. 102-104)
Capítulo 2 - Universidade Nova no Brasil
Naomar Almeida nos brinda em seu texto com um pouco da
história da Universidade e de suas reformas, passando pelas raízes
históricas da Universidade na era medieval, cuja inauguração no
século XI representou, em si mesma, uma reforma radical.
“Substituíram os monastérios como principal lócus de produção de
conhecimento para uma sociedade feudal em transição,” [...] “como
alternativa da nascente sociedade civil (burgueses, artesãos etc.)
aos centros de formação clerical, que tinham como missão educar a
elite pensante da época.” Além disso, “... toda a educação
universitária nessa fase inicial compreendia formação teológica
avançada, com base na filosofia escolástica. A universidade
escolástica era geradora e guardiã da doxa, ou doutrina, aquela
modalidade de conhecimento que se define pelo completo respeito às
fontes sagradas da autoridade.” (p.112-113)
A arquitetura curricular da universidade medieval era
bastante simples, escreve o autor. Diversos cursos criados até o
século XIII se tornaram faculdades e passaram a integrar
universidades. “A universidade medieval chegava à era moderna com
uma estrutura curricular rígida, composta por duas Faculdades
(Teologia e Direito), a depender da maior ou menor influência da
religião sobre o Estado.” (p.115) Na Europa pós-renascimento com a
emergência do novo modo de produção, hoje conhecido como
capitalismo, um paradigma universitário pós-escolástico surge - a
universidade da arte-cultura, influenciada pela “descoberta” da
diversidade artística e cultural da África e da Ásia, e com base
no enciclopedismo, dotava a nova elite burguesa de habilidades
literárias e artísticas próprias do Iluminismo. (p. 115)
Assim, a produção científica perde terreno para a organização
e sistematização do conhecimento humanístico, artístico ou
tecnológico. E quando explode o mercado editorial, como
consequência da mecanização das tipografias, a publicação em massa
do conhecimento enciclopédico de que a universidade se ocupava,
revigora as tradicionais bibliotecas, que passam a ser vistas como
concorrentes da universidade. “Bastaria o domínio da leitura e o
acesso às bibliotecas para que os cidadãos pudessem se instruir.”
(p.116) O museu também passa a ser valorizado em relação à
universidade na difusão do conhecimento, face aos avanços das
ciências naturais e exatas que além de dados acumulariam acervos.
“Na segunda metade do Século XVIII, a Universidade parecia
superada e dispensável...” (p.117), numa virada que podemos
comparar à que vive a universidade nos tempos atuais, face ao
desenvolvimento tecnológico e científico, em especial às mídias
digitais.
O autor considera que Immanuel Kant, em 1795, ao escrever O
Conflito das Faculdades9 propõe a primeira reforma universitária
moderna. Dirigindo-se ao rei da Prússia, Kant analisa criticamente
a estrutura do ensino superior e os ensinamentos. Vislumbra uma
universidade autônoma, na qual a atividade não precisa de atestado
externo (do magistrado, do soberano, do pontífice), e comprometida
com a criatividade, com o novo, com a experimentação de novas
formas de agir e de pensar.
Em 1810, com o Relatório Humboldt10 a pesquisa científica
ganha relevância como base da verdade e o sistema de cátedra é
instituído na Universidade de Berlim, primeira universidade alemã
moderna, cujo modelo se difundiu por toda a Europa do Norte no
século XIX. “A pesquisa se afirma como eixo de integração do
ensino superior e o credenciamento do que pode ou não ser ensinado
nas universidades se define pela investigação científica.” (p.121)
Nos estados Unidos e na Inglaterra outros modelos surgiram.
Cem anos depois da Reforma Humboldt, outra importante reforma
universitária ocorreu nos EUA, orquestrada e articulada não pelo
9 KANT, Immanuel. Les Conflits des Facultés. In: _____.Opuscules sur l’histoire. Paris: Flammarion, 1990, p. 203-226.
10 O “Estado germânico, ao reestruturar a Alemanha após as guerras napoleônicas, pretendendo reformar o sistema de formação superior integrando-o ao desenvolvimento nacional, encomendou projetos de universidade aos mais renomados filósofos da época. Filósofos da estatura de Fichte, Schelling e Schleiermacher, apresentaram suas contribuições a essa primeira reforma universitária, porém foram os irmãos von Humboldt os vencedores desta espécie de “edital filosófico” da primeira reforma universitária.”(p.120)
Estado, mas pela sociedade civil, representada pelo grande capital
– barões do petróleo e das ferrovias. A universidade norte-
americana resultante desta reforma desenhada por Abraham Flexner
fomentava a organização de institutos e centros de pesquisa
autônomos dos departamentos, propiciando grande flexibilidade e
autonomia aos pesquisadores individuais ou em grupos. Modelo que
persiste em toda a América do Norte com poucas modificações, sendo
ainda compatível com os modelos de graduação das universidades de
países de língua inglesa. Com os movimentos dos direitos civis dos
anos 1960, multiplicaram-se community colleges por todo o território
norte-americano, massificando o acesso à universidade de segmentos
sociais anteriormente excluídos do ensino superior. “A magistral
obra de Clark Kerr (2005) registra e analisa desdobramentos
recentes e tendências atuais do modelo universitário norte-
americano, tornado cada vez mais dependente de agências de
financiamento de pesquisa e referenciado pelo mercado de
trabalho”. (p.126)
Na Europa conviveram múltiplos modelos de formação superior
até a metade do século XX. Diferentes versões geradas da
universidade elitizada do século XVIII, sem compatibilidade entre
si. A consolidação da União Europeia, levou à necessidade da
padronização dos sistemas de formação profissional entre os países
signatários. Em 1999, ministros de educação dos países da UE
assinaram a Declaração de Bolonha, se comprometendo com a
implantação, até 2010, da compatibilidade plena entre os sistemas
universitários europeus. Deste acordo decorre o chamado Processo
de Bolonha, que desencadeia a reforma universitária em 46 países
signatários, para adoção de princípios e critérios comuns e
compartilhados de creditação, avaliação, estruturas curriculares e
mobilidade estudantil, na esfera da educação superior. (p.127)
Na América Latina, em 1800 existiam 20 universidades ibero-
americanas do México ao Chile. No século XIX, generalizou-se no
continente o padrão francês de “universidade napoleônica”, voltada
para a formação de quadros profissionais, organizadas num complexo
de unidades autárquicas. Na América espanhola a universidade
chegou ao final do século XVI. Em 1918, em Córdoba, num movimento
bem sucedido, estudantes marcam a história da educação no
continente, reivindicando autonomia plena da universidade,
participação discente na sua gestão, adoção de concursos públicos
para ingresso docente, entre outros pontos. (p.128) Já aos países
colonizados por Portugal não era permitido o ensino superior,
aristocratas e a alta hierarquia eram enviados a Coimbra.
A primeira instituição de ensino superior do Brasil foi a
Escola de Cirurgia do Hospital Real Militar, fundada na Bahia em
1808. E cem anos depois os barões da borracha criaram a
Universidade do Amazonas, em 1909, em condições semelhantes à
Universidade do Paraná, criada em 1912, mediante a união de
faculdades isoladas. (p.128 - 129) A Universidade de São Paulo,
instituída em 1934, foi organizada e consolidada com base na
matriz européia, com ajuda de uma missão de jovens acadêmicos
franceses formados pela Sorbonne que incluiu Fernand Braudel,
Claude Lévi-Strauss e Roger Bastide. No mesmo ano Anísio Teixeira
convocou os maiores nomes da cultura nacional da época para montar
a Universidade do Distrito Federal. Em 1946, foram inauguradas
instituições semelhantes em todo o país, notadamente a
Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade da Bahia e a
Universidade de Recife (Santos, 1999). (p.132 – 133)
Mas, só os anos de 1960 o modelo de universidade de pesquisa
científico-tecnológica chegou ao Brasil. Anísio Teixeira e Darcy
Ribeiro conceberam a Universidade de Brasília como o primeiro
centro acadêmico de um novo modelo civilizatório para o Brasil
(Ribeiro, 1986). A UnB foi teve influência forte do modelo
flexneriano de universidade (Teixeira, 2005), criada sem a cátedra
vitalícia, com programas de ensino baseados em ciclos de formação
geral, organizada em centros por grandes áreas do conhecimento.
Com o golpe em 1964, sob intervenção militar a Universidade de
Brasília terminou por acomodar-se à estrutura administrativa e
curricular vigente no país. Um acordo entre o Ministério da
Educação e a USAID foi firmado em 1967, com a finalidade de
introduzir uma “reforma universitária” em nossa estrutura
acadêmica, financiada por empréstimos do FMI e do BID. Houve
resistência por parte da universidade, e reação dos movimentos
estudantis, reprimidos pelo AI-511.
“... a Reforma Universitária de 1968 foi nociva em suaresultante final, pois conseguiu manter o que de pior havia novelho regime e trouxe o que de menos interessante havia no játestado modelo flexneriano estadunidense. O fato de ter sido ummovimento gerado pela ditadura militar, imposto de cima,provavelmente fez com que os pontos positivos da proposta dereforma se perdessem no volume da reação. Assim, a única reformasistêmica que a universidade brasileira experimentou em sua curtahistória criou uma espécie de salada, ou talvez um pequenomonstro, um Frankenstein acadêmico, tanto em termos de modelo deformação quanto de estrutura institucional.” (p. 138)
Contudo, na década de 1970, uma rede institucional de pós-
graduação foi implementada, credenciando programas de treinamento
e pesquisa. O Ministério da Educação estabeleceu um comitê
nacional para credenciamento de programas de pós-graduação
vinculados a CAPES12 e, paralelamente, algumas agências federais de
11 Ato Institucional n. 5, ou AI-5, foi o último de uma série de decretos editados pelo regime militar no Brasil. Assinado pelo General Costa e Silva, em 1968, teve como consequência imediata o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano. (nota p. 136)12 A CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior), vinculada ao Ministério da Educação, foi criada por Anísio Teixeira em 1956 com a finalidade de formar docentes para o sistema universitário público. Atualmente desempenha o importante papel de agência de avaliação e credenciamento de programas de pós-graduação, além de ser a principal concessora de bolsas de estudo para formação de docentes universitários no País. (Nota 66, p. 138)
apoio à rede universitária de laboratórios de pesquisa foram
criadas, dentre elas o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).
Durante a redemocratização do Brasil (1981-1988), o sistema
universitário público do país sofreu muito com a crise econômica
na América Latina. Em 1985, o governo Sarney instituiu a Comissão
Nacional para Reformulação da Educação Superior, incorporando segmentos
outrora excluídos do debate político- institucional. Mas a única
consequência prática da iniciativa foi uma modificação substancial
da composição do Conselho Federal de Educação, realizada no
governo de Itamar Franco. Nos anos 1990, a rede de ensino superior
é aberta a investimentos privados locais, surge um grande número
de instituições de ensino superior privadas. Com a nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, lei n° 9394/96, só organizações
que oferecem programas de pós-graduação credenciados e desenvolvem
atividades de pesquisa institucionalizadas são classificadas como
universidades. Em 2008 apenas 10% dos jovens entre 18 e 24 anos
cursavam ensino superior. O setor privado é responsável por mais
de 80% da oferta de vagas, mas com altas taxas de ociosidade e
inadimplência. A política do governo FHC, de aumento de vagas em
instituições privadas, não aproximou o Brasil dos níveis de
educação superior dos países industrializados. (p. 141-142)
Após traçar um panorama histórico do ensino superior no
Brasil e no mundo ocidental, o autor trata dos modelos hegemônicos
do ensino superior contemporâneo. Focaliza o modelo norte-
americano de college mais graduate schools suas origens e expansão,
referência importante para a “arquitetura curricular” de sua
Universidade Nova; e o modelo europeu unificado pelo Processo de
Bolonha, em fase de implantação, voltado à mobilidade acadêmica
internacional e adoção de “arquitetura curricular” comum.
Apresenta de forma sintética a estrutura do sistema universitário
do Brasil, que segundo ele resulta de “... concepção linear e
fragmentadora do conhecimento, alienada da complexidade dos
problemas da natureza, da sociedade, da história e da
subjetividade humanas” que, do ponto de vista curricular, ainda
pratica modelos superados de formação das universidades europeias
do século XIX. (p. 150)
Na sequência Naomar identifica problemas a serem superados
nesta matriz do ensino universitário brasileiro: i) precocidade na
escolha de carreira profissional; ii) seleção limitada, pontual e
“traumática” para ingresso na graduação; iii) currículos estreitos
e bitolados na graduação; iv) separação entre graduação e pós-
graduação; v) submissão ao mercado, perda de autonomia; vi)
incompatibilidade quase completa com modelos de outras realidades
universitárias; vii) formação tecnológico-profissional
culturalmente empobrecida; viii) dissonância da formação
universitária com a conjuntura contemporânea. (p. 157)
Reflete que os paradigmas da informação e do conhecimento
estão mudando, mas que nós continuamos na formação da graduação
especializada, mantendo tudo o que é velho, desatualizado. E
contrapõe ao emergente “internacionalismo acadêmico de base
mercantil” um novo modelo de universidade internacionalizada “...
a emergir do intercâmbio entre a rede universitária brasileira e a
matriz intelectual e cultural do continente europeu.”
Na mesma lógica de Boaventura, ele analisa questões críticas
relativas ao internacionalismo acadêmico e à onda de privatização
dos sistemas universitários de muitos países, acalentando a
esperança de que pela internacionalização do ensino superior haja
um caminho para o desenvolvimento social justo em vez de
instrumento político e ideológico para abrir novos mercados
econômicos. (p. 175) Retoma o tema da reforma Universitária e seu
significado necessário “... de transformação profunda, radical,
geral e completa, a fim de dotá-la de plena sustentabilidade
pedagógica e operacional, capacitando-a a cumprir sua missão
intelectual, cultural e social (Santos, 1995, 2005).”13
Destaca aspectos centrais desta revisão e atualização da
instituição: i) arquitetura acadêmica; ii) estrutura
organizacional; iii) modelo de política institucional
(governança); iv) modelo de gestão. (P.187) E ressalta boas
alternativas que têm sido propostas, nos planos locais, como o
projeto do Bacharelado em Humanidades, apresentado por Renato
Janine Ribeiro à Universidade de São Paulo, instituição
universitária de maior prestígio nacional, que rechaça a ideia
(RIBEIRO, 2003)14; a experiência do Curso de Administração de
Empresas da Faculdade Pitágoras, do setor privado, composto de um
ciclo básico, concentrado em estudos clássicos inspirados no liberal
arts colleges dos EUA, com um núcleo propedêutico antecedendo o ciclo
profissional (MOURA CASTRO, 2002); e no setor público, a inovadora
arquitetura curricular da Universidade Federal do ABC, inaugurada
em 2005, uma universidade tecnológica, com um programa inicial de
Bacharelado em Ciência e Tecnologia, pré-requisito que antecede a
formação de Licenciatura em áreas básicas (Biologia, Física,
Matemática, Química e Computação) e Engenharias.
Mas, afirma a necessidade de maior abrangência e radicalidade
na transformação de todo o sistema de educação universitária no
Brasil e apresenta seu modelo da Universidade Nova. Segundo
Boaventura (2008), uma proposta de reforma inovadora enraizada em
experiências e ideias universitárias brasileiras de ponta,
comprometida com a sociedade local, também, atenta às experiências
13 O autor também referencia o geógrafo Milton Santos, ao sustentar a necessidade de contribuição da universidade para uma globalização alternativa.14 RIBEIRO, Renato Janine. A Universidade e a Vida Atual. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
internacionais e a uma perspectiva de “globalização solidária do
saber universitário”.
Na Reitoria da UFBA, em 2006, a proposta da UFBA Nova15 voltava-se para:
Abertura de programas de cursos experimentais einterdisciplinares de graduação, que poderiam ser nãoprofissionalizantes ou não temáticos, com projetospedagógicos inovadores, em grandes áreas do conhecimento:Humanidades, Ciências Moleculares, Tecnologias, Saúde,Meio Ambiente, Artes;
Renovação do ensino de graduação, por meio de projetosacadêmico-pedagógicos criativos e consistentes, reduzindoas barreiras entre os níveis de ensino como, por exemplo,oferta de currículos integrados de graduação e pós-graduação;
Incentivo a reformas curriculares naqueles cursos queainda não apresentaram propostas de atualização do ensinode graduação. (p.197)
A partir de 2009, uma nova opção de formação universitária de
graduação, com base em regime de ciclos e módulos, é oferecida na
UFBA, apontando para uma transformação radical da atual
arquitetura acadêmica da universidade brasileira, visando
introduzir na educação superior temas relevantes da cultura
contemporânea, considerando a diversidade multicultural e maiormobilidade, flexibilidade, eficiência e qualidade, visando
compatibilidade com demandas e modelos de educação superior do mundo
contemporâneo. (p.200)
A estrutura curricular do projeto implanta um regime de três ciclos
de educação universitária: O Primeiro Ciclo propicia formação
universitária geral em uma nova modalidade de cursos chamada Bacharelado
Interdisciplinar (BI), que se caracteriza por agregar formação geral
humanística, científica e artística a um aprofundamento num dado campo do
saber, constituindo etapa inicial dos estudos superiores como pré-15 A proposta foi apresentada na ANDIFES e à Secretaria de Ensino Superiordo MEC com boa acolhida, tendo sido introduzida na discussão da Universidade do Mercosul e tendo influenciando a proposta de governo que veio a se chamar REUNI – Programa de Apoio a Planos de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais.
requisito para progressão aos ciclos de formação profissional naqueles
cursos que evoluírem para o regime de ciclos. O Segundo Ciclo contempla
formação específica (FE), encurtando a duração dos atuais cursos e
focalizando as etapas curriculares de aprofundamento num dado campo do
saber teórico ou teórico-prático, profissional disciplinar,
multidisciplinar ou interdisciplinar. E o terceiro ciclo contempla a pós-
graduação, numa arquitetura curricular interdisciplinar, flexível e
progressiva, com garantia de mobilidade intra e interinstitucional,
conforme exposto por Naomar.
Interessante notar que na proposta da nova UFBA, além de considerar
a diversidade social e distintas possibilidades e necessidades para
democratizar o acesso e a permanência de egressos do ensino público a
cursos superiores de qualidade, a visão social também é verificada no que
tange à articulação entre ensino, pesquisa e ações voltadas para o
desenvolvimento social. Nas atividades curriculares em comunidade (ACC) é
promovido o diálogo entre universidade e a sociedade, gerando campo de
produção compartilhada de conhecimento sobre a realidade, bem como
soluções para os problemas estudados de forma interdisciplinar e
envolvendo discentes e docentes.
Segundo o autor, os Bacharelados Interdisciplinares representam
alternativa avançada de estudos superiores16, ao reunir em uma única
modalidade de curso de graduação um conjunto de características
requeridas para uma formação universitária profissional e cidadã:
alargamento da base dos estudos superiores, ampliação de conhecimentos e
competências cognitivas; flexibilização curricular, aumento de
componentes optativos, escolha pelo estudante de seus próprios percursos
de aprendizagem; dispositivos curriculares integradores de conteúdos
disciplinares; adiamento de escolhas profissionais precoces; redução das
altas taxas de evasão do ensino público superior. O BI tem terminalidade
própria e pode constituir etapa preliminar aos cursos profissionais ou de
pós-graduação.
16 A Universidade Federal do ABC já adota o Bacharelado Interdisciplinar.
Os princípios do Modelo Universidade Nova tomam como referência
pedagógica competências desenvolvidas no Projeto Tuning - América Latina,
consórcio de 62 universidades latino-americanas, iniciativa que procurou
iniciar um diálogo para melhorar a colaboração entre essas instituições
de educação superior, favorecendo o desenvolvimento da qualidade, da
efetividade e da transparência para identificar competências genéricas
proporcionadas pela educação superior e competências específicas
relacionadas às profissões. A identificação de pontos comuns visava
alargar os canais destinados ao reconhecimento das titulações na região e
com outras regiões do planeta.
Visando oferecer uma formação capaz de atender a este complexo de competências e
habilidades, os currículos dos cursos no Modelo Universidade Nova serão construídos com base
nos seguintes princípios norteadores:
Flexibilidade – Conteúdos de natureza optativa, possibilitando ao aluno definir, em parte,
o seu percurso de aprendizagem.
Autonomia - Autonomia do sujeito quanto ao próprio processo de
aprendizagem, como condição básica para a consolidação da sua
competência.
Articulação – Diálogo interdisciplinar entre os campos de saber que
compõem os cursos e se concretizam em componentes curriculares,
para superação da visão fragmentada do conhecimento.
Atualização – Oferta de componentes curriculares que contemplem os
avanços científicos, tecnológicos, as inovações artísticas e
novidades no campo do conhecimento.
O Autor ressalta que sistema de ciclos é adotado nas
universidades norte-americanas desde 1910 e também na Europa, o
Processo de Bolonha (iniciado em 1999), em que o regime de ciclos
prioriza estudos gerais no primeiro ciclo. No Sudeste Asiático e
na Oceania modelos convergentes também são adotados. Países
latino-americanos com reformas universitárias recentes, como
México e Cuba, começam a implantar cursos de pre-grado como
requisito às carreiras profissionais. (p.222 – 223)
O texto aborda ainda que para além da “...desconstrução de
práticas pedagógicas redutoras, passivas, de baixo impacto e
ineficientes, ainda vigentes na educação superior” e práticas
pedagógicas como “...instrumentos de mobilização e participação
dos sujeitos no seu próprio processo emancipatório e de formação
profissional, política, cultural e acadêmica, as ações afirmativas
devem ser incorporadas à nova universidade. Contudo, ressalta que]
o Modelo Universidade Nova amplia o acesso à universidade e,
modulando a formação profissional e acadêmica com matrizes
culturais artísticas e humanísticas, constitui-se em exemplo de
“ação afirmativa estruturante”, pelo aumento substancial da oferta
de vagas, pela expectativa de redução das taxas de evasão, e pela
seleção para o BI através de exame geral que dilui a enorme
competição concentrada em alguns cursos, em relação aos quais o
vestibular tem sido instrumento de exclusão social.
A seleção para BIs, prioriza “...criatividade e talento,
qualidades intelectuais e humanas mais bem distribuídas
socialmente e menos ligadas à influência da história
socioeconômica das famílias e das pessoas.” (p. 225) Mas, o modelo
proposto não visa tornar a universidade “máquina de inclusão
social pela educação superior”, alerta o autor, citando Anísio
Teixeira, para quem a escola pública seria “a máquina que prepara
as democracias”.
Nem Harvard, nem Bolonha, diz Naomar, a intenção é construir
“... um modelo de educação superior compatível, no que for
pertinente para o contexto nacional, com o Modelo Norte-Americano
(de origem flexneriana) e com o Modelo Unificado Europeu (Processo
de Bolonha) sem, no entanto, significar submissão a qualquer um
desses regimes de educação universitária.” E ele não deixa de
citar as resistências previsíveis, por parte do setor privado de
ensino superior e dos próprios docentes das universidades.
Ressalta que o impacto de sua proposta não se destaca por aspectos
financeiros, mas “... nos aspectos filosóficos e conceituais das
funções culturais e sociais da Universidade.” Como “...casa do
talento e da criatividade, o lugar da competência radical (Almeida
Filho, 2007).”17
“O que acontece quando, submissos e enredados nas tramas dasociedade competitiva e do pensamento conservador, deixamossobreviver a universidade da mediocridade e do conformismo? Quantasinteligências sensíveis têm sido rejeitadas, fagocitadas oudesviadas de promissoras carreiras científicas ou artísticas poresta velha universidade? Cada pessoa, rica, negra, índia, de baixarenda, branca, imigrante, classe média, oriental, ou não, tem algumdiferencial de talento e capacidade criativa, que cabe à sociedade,por meio dessa “maravilhosa invenção chamada universidade”, comoescreveu Kant, descobrir e cultivar, para o desenvolvimentoeconômico, social e cultural da própria sociedade.” (p. 235 –236)
Suas maiores referências, são nacionais, encontram-se nas
obras de Anísio Teixeira18 e Milton Santos19 dos quais o projeto de
17 ALMEIDA FILHO, Naomar. Universidade Nova: Textos Críticos e Esperançosos. Brasília: Editora UnB; Salvador: EDUFBA, 2007.
18 Propõe-se uma estrutura nova da formação universitária, para dar-lhe unidade orgânica eeficiência maior. O aluno que vem do curso médio não ingressará diretamente nos cursossuperiores profissionais. Prosseguirá sua preparação científica e cultural em Institutos depesquisa e de ensino, dedicados às ciências fundamentais. Nesses órgãos universitários, quenão pertencem a nenhuma Faculdade, mas servem a todas elas, o aluno buscará, medianteopção, conhecimentos básicos indispensáveis ao curso profissional que tiver em vistaprosseguir. (Exposição de Motivos, Projeto de Lei que institui a Universidade de Brasília,enviado ao Congresso Nacional em 21 de abril de 1960). (p.240) (TEIXEIRA, Anísio. Ensinosuperior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969. Rio de Janeiro: EDUFRJ,2005.)19 Tocando nos temas globalização e sociedade do conhecimento, o autor nos diz que para“...Milton Santos (2002a), a conjuntura conceitual da sociedade do conhecimento implica umarelação dialética entre os seguintes elementos: Primeiro, a emergência de um novo espaço-tempo, mediada pelo aperfeiçoamento e disponibilização dos meios de transporte; segundo,nesse caso mediada pela ampliação da telemática, estabelece-se uma hiperconectividadeinédita na história humana; terceiro, surgem condições de possibilidade concreta para ahegemonia de um pensamento complexo, em lugar do referencial simplificador cartesiano, paradar conta da complexidade crescente da sociedade contemporânea. (SANTOS, Milton. A natureza doespaço: técnica e tempo; razão e emoção. São Paulo: Edusp, 2002a[1996].)
a Universidade Nova incorpora valores filosóficos, metodológicos e
pedagógicos como: o sistema de três ciclos de formação; estrutura
modular; articulação entre bacharelados curtos, carreiras de média
duração e carreiras longas; articulação de saberes; novo espaço-
tempo, hiperconectividade; pensamento complexo; multi-inter-
transdisciplinaridade; paradigmas alternativos de formação.
Referindo-se a necessidade de uma teoria crítica da sociedade e da
cultura recorre à “sociologia das emergências”, proposta por
Boaventura Santos (2002), que reflete sobre o fenômeno do
multiculturalismo e os desafios em articular globalidade e
especificidade cultural. Cita ainda a “epistemologia dos
conhecimentos ausentes” de Boaventura Santos (1989), como marco
referencial para se construir uma nova universidade e sua
“ecologia dos saberes”.
Cita Janine, Paulo Freire e Coulon, refletindo sobre a
necessidade de práticas pedagógicas inovadores, “...abordagem
integradora que confira
sentido e significado ao conjunto de informações que se apresentamem fragmentos desconexos (Ribeiro, 2003).” [...] “Uma teoria dosprocessos ensino-aprendizagem consistente com projetos de renovação radical como a Universidade Nova poderá certamente articular a Pedagogia da Autonomia (cf. Paulo Freire, 2007) auma Pedagogia da Afiliação (conforme proposta de Alain Coulon, 2008). 20
20 COULON, Alain. A Condição de Estudante. A entrada na vida universitária. Salvador: EDUFBA, 2008.FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2007[1996].
Enfim, o texto de Naomar21 nos enriquece com reflexões e
referências22 marcantes sobre a história, a teoria e a
prática universitária e nos coloca a proposta de uma nova
universidade, inclusiva e integradora, incitando-nos a
conhecer seus desdobramentos na experiência da UFBA, como lá
se desenvolveu, sua situação atual e sua relação com o
contexto universitário nacional. Acompanhar a proposta no que
tange à integração entre universidade e sociedade, em termos
de inclusão social e cultural e da revisão do papel da
instituição universitária, como facilitadora nos processos e
construção e de difusão do conhecimento.
21 Apesar do tom, quase ufanista e um tanto nostálgico, dado pelo autor ao papel dauniversidade, que agora recobro nos trechos seguintes:“ Nesta oportunidade, apresento um ensaio crítico sobre modelos de ensino superior quehistoricamente forjaram a universidade como instituição política e social, fundadora dacultura ocidental.” (p.143)“... cumprimento do mandato humboldtiano da universidade como lugar de concepção construçãoda identidade nacional.” (p.238)22 Outras referências: MOURA CASTRO, Cláudio de. Os dilemas do ensino superior e a resposta da FaculdadePitágoras. Belo Horizonte: Universidade, 2002. OLIVE, Arabela Campos. Histórico da EducaçãoSuperior no Brasil. In: SOARES, Maria Susana (Org.). Educação Superior no Brasil. Brasília:CAPES/Unesco, 2002, p. 31-42.